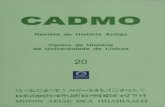No ar, na água e na terra - UNAMA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of No ar, na água e na terra - UNAMA
1
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COM. LINGUAGENS E CULTURA
JERÔNIMO DA SILVA E SILVA
“No Ar, na Água e na Terra”: Uma Cartografia das Identidades nas Encantarias da
“Amazônia Bragantina” (Capanema-PA)
Belém-Pará 2011
2
JERÔNIMO DA SILVA E SILVA
“No Ar, na Água e na Terra”: Uma Cartografia das Identidades nas Encantarias da
“Amazônia Bragantina” (Capanema-PA)
UNAMA - PA 2011
3
JERÔNIMO DA SILVA E SILVA
“No Ar, na Água e na Terra”: Uma Cartografia das Identidades nas Encantarias da
“Amazônia Bragantina” (Capanema-PA)
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da
Amazônia, como pré-requisito para obtenção do título de
Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura, sob a
orientação do Prof. Dr. Agenor Sarraf Pacheco
Belém- Pará
2011
4
BANCA EXAMINADORA
______________________________________________________________ PROF. DR. AGENOR SARRAF PACHECO (UNAMA/UFPA)
(Orientador)
______________________________________________________________
PROF. DRª. IVÂNIA DOS SANTOS NEVES (UNAMA) (Examinadora)
______________________________________________________________ PROF. DR. RAYMUNDO HERALDO MAUÉS (UFPA)
(Examinador)
_______________________________________________________________________
PROF. DRª. FRANCIANE GAMA LACERDA (UFPA)
(Examinadora)
6
Agradecimentos
“De que valeria o empenho do saber se assegurasse apenas a aquisição de conhecimentos, e não, de certo modo, e na medida do possível, o descaminho daquele que conhece”.
Michel Foucault
“Prefácio - O uso dos Prazeres”
O saber, como condição para o exercício do pensamento livre, tem a capacidade de
desbravar caminhos e expectativas. Seduzido pelo descaminho das letras, ideias e oralidade
mergulhei na pesquisa de campo e na disciplina da reflexão teórica. Felizmente, não posso
registrar esses momentos como fruto de sacrifício e força de vontade... A academia sempre foi o
meu paraíso particular.
No entanto, devo mencionar as pessoas que propiciaram de várias maneiras possíveis a
oportunidade de retomar o “descaminho” da pesquisa acadêmica. Sou grato à minha esposa,
Maria Ildenice, que soube entender as ausências entre Belém – Capanema e as horas de
isolamento na tela do computador. Esposa, companheira e mãe. Não canso de mencionar a
influência livresca de minha Mãe, Maria Creuza, responsável por tudo de produtivo que sou
capaz. Agradeço aos demais familiares e amigos que direta ou indiretamente compartilhei as
angústias e reflexões da escrita acadêmica, pelos momentos de descontração e apoio: “com a
roupa do corpo!”.
Agradeço a direção da Escola São Pio X que soube entender as faltas, atrasos, intempéries
da vida. Aos demais coordenadores do São Pio X Vestibulares, sempre “cobrindo” o meu
horário de coordenação. Devo mencionar a cortesia e carinho das rezadeiras, dona Ângela,
Fátima, Maria das Dores, Deuza Rabêlo e Esther, por terem aberto a porta da memória.
Obrigado a todas!
A disponibilidade para o crédito das disciplinas e a bolsa de pesquisa foi fundamental para
a realização desse sonho. O governo do Estado, representado pela Secretaria de Educação –
SEDUC, é o responsável pela minha qualificação profissional, espero retornar e alimentar a
esperança de muitos jovens na busca pelo conhecimento.
O ingresso no Programa de Pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da
Universidade da Amazônia abriu as portas para pensar a realidade em sua pluralidade, dialogando
com saberes, textos e pesquisas na esfera da interdisciplinaridade.
Tenho uma dívida com o corpo docente da instituição citada, pois me ajudaram a dar
passos importantes para o amadurecimento das reflexões do Mestrado: Amarílis Tupiassú pela
7
generosidade e clareza nas discussões sobre hermenêutica; Erasmo Borges que apresentou ao
“marinheiro de primeira viagem” o oceano da semiótica; José Guilherme e Larissa Latif que
apontaram o caminho da poética de Bachelard; Marisa Mokarzel, os labirintos da arte na pós-
modernidade; Paulo Nunes e as críticas certeiras ao pré-projeto de pesquisa; Marise Morbach pela
exigência espartana na aplicação metodológica do tema dissertativo e a Paulo Watrin, que se
dispôs a ler e pontuar criticamente a fragilidade dos exercícios iniciais da escrita.
Estendo esses agradecimentos à professora Ivânia Neves pelas considerações durante o
processo de qualificação, apontando questões cruciais para o fechamento e formatação do tópico
relativo à apresentação de Capanema através da voz das benzedeiras. Pela vasta experiência
acadêmica e textos de alto quilate, agradeço a Heraldo Maués pelas sugestões e comentários na
banca de qualificação. Foi uma honra ouví-lo oralmente, depois de alguns mergulhos em suas
produções acadêmicas. O olhar historiográfico de uma autoridade versada na temática de
migração e cidade foi coroado com a presença da professora Franciane Lacerda, que se propôs,
criticamente, no papel de examinadora. Minhas gratidões! Menciono, ainda, o historiador das
religiões André Chevitarese, que por conta do Encontro de História realizado na região
Bragantina em Novembro de 2010, apontou questões e leituras de grande valia na confecção do
texto final.
Finalmente registro aqui um agradecimento especial ao meu orientador Agenor Sarraf
Pacheco. Primeiramente, pela generosidade e disposição em orientar-me quando ainda não tinha
encontrado as referências do texto dissertativo. Depois pelo entusiasmo, reflexão acadêmica e
estímulo ao pensamento livre que acompanham o texto aqui apresentado, uma lição para o resto
da vida. Sou grato pela forma, paciente, com que soube lidar com minhas limitações no exercício
da escrita e nas dificuldades da pesquisa de campo.
Toda e qualquer fragilidade presente na dissertação é fruto da escrita de um aprendiz do
ofício ou “miopia” teórica, o que há de consistente e louvável deve ser compartilhado com o
orientador. Espero ter sido digno dessa condição. Muito obrigado professor!
8
RESUMO
No alvorecer da década de 1950, singrando a paisagem Amazônica, migrantes nordestinos romperam caminhos, estradas, encruzilhadas e ramais para colocarem-se, entre formas de vida e de luta, em mesclas culturais na região bragantina paraense. Embrenhando-se na vida da floresta, esses homens e mulheres em travessias deixaram cicatrizes em árvores, rios, açudes, rochas e igapós, bem como contribuíram para alinhavar inúmeras vilas e cidades, adensando a história sociocultural regional. Nesta Dissertação de Mestrado, ancorando-nos na metodologia da História Oral interagimos com as histórias de vida de cinco mulheres rezadeiras, as quais tiveram suas vidas marcadas por aquele processo de migração nordestina para a Amazônia Bragantina. Essas mulheres, exímias na arte da narrar e curar, portadoras da vocação xamãnica e de uma rica bagagem cultural, oriunda de diálogos interculturais, teceram suas identidades à luz de experiências compartilhadas. Trata-se de trajetórias de mulheres que desenvolveram ofícios de cura em mediações com a cosmologia das encantarias e o catolicismo popular. No ato da rememoração, acionaram sabedorias de tradições orais para sanar doenças e criar códigos de proteção a favor dos habitantes de sua comunidade, que recorreram aos seus poderes mágico-terapêuticos. Nas “entre-vistas”, atentamos não apenas em ouvir e registrar vozes e silêncios dessas mulheres rezadeiras, procuramos também mapear seus ambientes, valorizando cenários, climas, transeuntes e, especialmente, tonalidades e performances em suas narrativas. Norteados pelas produções intelectuais dos Estudos Culturais, acessando contribuições da Antropologia da Religião e da História Social da Amazônia, mergulhamos no imaginário das rezas, benzeduras, partos, massagens e “bruxagens”. No campo destas representações, emergem deuses, santos, encantarias naturais e seus locais de manifestação – Ar, Terra, Água – são entrelaçados a seres incorpóreos, almas e demônios que, em movimento metamorfósico perene, adquirem novas feições, revelando cosmovisões da comunidade local. Diante desses quadros, a dissertação alinhava por meio das narrativas orais das benzedeiras em seus trânsitos culturais, uma cartografia das identidades locais, suas paisagens históricas e mudanças, formas de vida e de luta, expressas em sociabilidades e resistências, negações, aceitabilidades e estratégias para reafirmar identidades culturais e saberes locais na Amazônia Bragantina (Capanema-PA).
Palavras-Chave: Identidades; Encantarias; Xamanismo; Mediações; Rezadeiras; Narrativas Orais; Amazônia Bragantina.
9
ABSTRACT At the dawn of the 1950s, riding the Amazon landscape, northeastern migrants broken paths, roads, crossings and turnouts to put themselves between forms of life and struggle in the region blends cultural bragantina Para. Penetrated into the life of the forest, these men and women in crossings left scars on trees, rivers, ponds, rocks and flooded areas, and contributed to numerous towns and cities tack, densifying the regional sociocultural history. In this Thesis, anchoring ourselves in the Oral History methodology interact with the life stories of five women mourners, who had their lives marked by that process of migration to the northeastern Amazon Bragantina. These women, relieve the art of narration and heal, bearing the shamanic vocation and a rich cultural background, coming from intercultural dialogue, and weaving their identities in light of shared experiences. It is about the trajectories of women who developed crafts healing mediations in the cosmology of the charming and popular Catholicism. In the act of remembrance, triggered wisdoms of oral traditions to heal diseases and create codes of protection to the inhabitants of their community, which used its magical powers-therapeutic. In the "inter-views," we look not only to listen and record voices and silences those women mourners, we also map their environment, valuing scenarios, weather, pedestrians, and especially tone and performances in their narratives. Guided by the intellectual productions of Cultural Studies, accessing contributions of Anthropology of Religion and Social History of the Amazon, plunged into the imagery of prayers, blessings, births, massages and "bruxagens. In the field these representations emerge gods, saints, beautiful nature and its local manifestation - Air, Land, Water - are woven into incorporeal beings, demons and souls in motion metamorfosis perennial acquire new features, revealing worldviews of the local community. Given these tables, the dissertation aligned through oral narratives of women healers in their cultural passer, a mapping of local identity, historic landscapes and their changes, ways of life and struggle, expressed in sociability and resistance, denial, acceptance and strategies for reaffirm cultural identities and local knowledge in the Amazon Bragantina (Capanema-PA).
Keywords: Identity, Enchanted, Shamanism, Mediations; Mourners oral narratives; Bragantina
Amazon.
10
Lista de Figuras
01- Mapa geral do Estado do Pará 28
02- Mapa da microrregião Bragantina 28
03-Frente da Igreja Matriz 31
04-Fábrica de Cimento 32
05-Antigo centro comercial 33
06-Atual centro comercial 33
07-Missa na residência do Sr. Obdon Holanda 35
08-Rio Garrafão 37
09-Rio Ouricuri 38
10-Mapa polivisual de Capanema 39
11-Antiga Praça dos Lions 40
12-Atual Praça dos Lions 40
13-Abertura da Av. Presidente Médici 41
14-Av. João Paulo II (antiga Presidente Médici) 41
15-Arraial da Igreja Matriz 42
16- Imagem aérea da Igreja Matriz 42
17-Antigo mercado – Praça Raimundo Neves 44
18-Monumento ao Barão de Capanema 45
19-Praça Magalhães Barata 47
20-Atual Praça Magalhães Barata 47
21-Frei Hermes Recanati 49
22-Memorial Frei Hermes 50
23-Memórias de dona Rosinha 01 53
24-Memórias de dona Rosinha 02 53
25-Imaginário das Irmãs Preciosinas 58
26-Av. Barão de Capanema: trilhos 59
27-Posto de Saúde 61
28-Cemitério Municipal 78
29-Antigo Hospital 89
30-Maria das Dores: o cenário das Almas 94
31-Rio garrafão e o encantado das cobras 95
11
32-Praça Tece Fátima 105
33-Dona Esther 107
34-Estação da Estrada de Ferro 118
35-Estrada da 7ª Travessa 123
36-Dona Fátima e o vôo xamãnico 128
37-Entre ruas e florestas 134
38-Dona Ângela 148
39-O rio que corta a cidade – Ouricuri 154
40-Mãe d’água e o garrafão 159
41-Maria das Dores: nos braços da Sucuri 168
42-Casa de dona Esther 173
43-Quintal de dona Esther: os bichos do mato 183
44-Enxergada pelos vizinhos 189
12
SUMÁRIO
“A viagem dos Encantados”..........................................................................................................13 I PARTE- Identidades em construção: A benzedura e o lugar...........................................26 1. A cidade na ótica das Rezadeiras: “Capanema ainda não foi descoberta”..............................27 1.1. Narradoras de sentidos, intérpretes da Amazônia...................................................................50 1.2. Dona Fátima: “Doença que doutor não cura”........................................................................51 1.3. Dona Ângela: “Falando a língua dos Matos”..........................................................................65 1.4. Deuza Rabêlo: “Parteira das Almas”........................................................................................78 1.5. Maria das Dores: “Tudo era no Rio”........................................................................................90 1.6. Dona Esther: “Quando eu enxergava, eu era enxergada”...................................................101 II PARTE- Encantarias na “Amazônia Bragantina”...........................................................117 2. “Os Encantados do Ar”................................................................................................................118 2.1. “Os ventos falavam comigo”: caminhos da Iniciação...........................................................119 2.2 “Os Encantados das Águas”......................................................................................................134 2.2.1 “A Norma das Águas”.............................................................................................................136 2.2.2 “No Reino da Mãe Água”.......................................................................................................149 2.2.3 “O Rio das Cobras”..................................................................................................................160 2.3. “Os Encantados da Terra”........................................................................................................170 2.3.1- “No calcanhar... Os Encantados”.........................................................................................172 Viagens Contínuas..........................................................................................................................191 REFERÊNCIAS..............................................................................................................................202
13
“A viagem dos Encantados”
O ato de socializar com outros seus sofrimentos e empenhos, como que construindo avaliações de vidas, desvenda o que ainda podem conseguir fazer. Ou seja, compartilhar memórias pode significar reavivar sonhos e esperanças. Prosseguir sem deixarem-se perder pelo desespero ou mesmo mortes antecipadas. O fogo das emoções revividas reacende esperanças de vida.
Maria Antonieta Antonacci “O passado presente em memórias de Melgaço”
Captar e registrar na escrita acadêmica, as práticas culturais de populações oriundas de
matrizes orais, historicamente marginalizadas do direito de escuta de suas vozes, sabedorias e
cosmologias, tem se tornado cada vez mais um desafio colossal por parte das chamadas Ciências
Humanas. Entender como hábitos, crenças, tradições, costumes, relações do homem com o meio
(social) e com o transcendental (sagrado) se perpassam naquilo que provisoriamente chamamos
de realidade, representa o enigma que exige do pesquisador captar sua existência.
Digo que, atualmente, este desafio é colossal, pela forma como os homens, nas mais
variadas formas de existir, se movem, pensam e podem construir não apenas a sua vida local, mas
ainda, incorporar, diluir, absorver, negar, suprassumir as experiências e as formas simbólicas de
outras culturas. O paradigma da cultura original, pura, aquém da historicidade, há muito está
redefinido1.
Falar em rezadeira é adentrar num universo cultural rico em detalhes e singularidades,
sobretudo por dizer respeito a grupos sociais diversificados, e que, ao mesmo tempo, parecem
fazer circular entre si abrindo espaços para pensarmos em matrizes culturais em contínuas
conexões e adaptados em gestos, tradições, valores. As rezadeiras possuem diversos elementos
em comum, sobretudo em função das experiências compartilhadas e todo o arsenal religioso que
as envolvem. Entretanto, ao mencionar suas práticas culturais, não se deve pensar sua identidade
como permanente e unificada. Essa afirmativa sustenta-se no pensamento de Stuart Hall, para
quem o paradigma do sujeito moderno, cartesiano, fundado no modelo científico iluminista,
tornou-se incapaz de acompanhar o ritmo e as novas apreensões na dinâmica espaço-tempo que
a história apresenta2.
1 “No pensamento moderno, tal origem não é mais concebível: viu-se como o trabalho, a vida, a linguagem adquiriram sua historicidade própria, na qual estavam entranhadas: não podiam, portanto, jamais enunciar verdadeiramente sua origem, ainda que toda a sua história esteja inteiramente como que apontada em direção a ela. Não é mais a origem que dá lugar à historicidade; é a historicidade que, na sua própria trama, deixa perfilar-se a necessidade de uma origem que lhe seria ao mesmo tempo interna e estranha.” FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo Editora Martins Fontes, 1987, pp. 345-346. 2 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade; Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guaraci Lopes Louro. 3. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, pp. 10-13.
14
No inicio de 2009, quando ingressei no Programa de Mestrado em Comunicação,
Linguagens e Cultura, o projeto de pesquisa apresentado versava sobre a temática “Identidade
cultural das rezadeiras na Região Bragantina”. A expectativa era elaborar uma dissertação capaz
de pensar as relações e os intercâmbios construídos e vividos por essas mulheres. Planejei ainda
discutir os conceitos de pós-modernidade e identidade, ancoradas nas suas narrativas, isto é,
pensei os resultados e as conclusões do trabalho, ignorando a pesquisa. Formulei hipóteses sem
apoio em leituras e convivências preliminares com os sujeitos sociais. Acreditava poder mapear
todas as rezadeiras da microrregião Bragantina e analisar as relações identitárias delas com suas
respectivas comunidades e, posteriormente, a possível relação que poderiam estabelecer entre si.
No desenvolvimento do projeto de pesquisa, percorri municípios da região Bragantina,
realizei entrevistas com rezadeiras, conversei com pessoas que foram curadas ou frequentavam a
casa dessas mulheres. E, conforme a pesquisa ia caminhando, fui percebendo o surgimento de
novos elementos e problemáticas. O primeiro desafio era a necessidade de estudar o contexto de
suas localidades, o que me levou a restringir o lócus da pesquisa da microrregião Bragantina para
a cidade de Capanema.
Conforme ia realizando as entrevistas, os sujeitos que pretendia estudar agigantavam-se
diante de mim. A riqueza captada no “corpo a corpo” com as descrições das fontes fizeram-me
perceber que realizar um estudo sobre rezas e curas em Capanema, por si só, já seria uma tarefa
árdua. Dois motivos justificam a escolha da cidade como campo de pesquisa. Em primeiro lugar,
a minha história de vida, em grande parte, está associada à história de Capanema. Mesmo tendo
realizado alguns deslocamentos, no final, sempre retornei para junto de “meus iguais”.
Dessa forma, tive a oportunidade de ouvir várias narrativas sobre “fantasmas”,
“visagens”, pessoas que no passado transformavam-se em animais, com poderes de cura ou
capacidade de falar com os mortos; desaparecimentos misteriosos, aparições noturnas e sinais
sobrenaturais no céu (chupa-chupa, chupa-cabra) 3.
Em segundo motivo, essas narrativas produziram grande impacto na infância e, de
certo, ainda hoje perturbam minha memória. Quando fiz o curso de História na Universidade
Federal do Pará, notei que não havia pesquisa ou debate discutindo aspectos e representações
desse fazer religioso em Capanema, pelo menos no que diz respeito às manifestações ou crenças
mencionadas. Esse fato foi fundamental para a escolha da temática.
3 As narrativas locais descrevem sinais e seres noturnos que sequestram os habitantes desprevenidos com o objetivo de “sugarem” suas energias, relatos que mesclam entidades incorpóreas sobrenaturais e aparições alienígenas.
15
Permiti, então, que a pesquisa ditasse os caminhos; primeiro, a reza em si não significava
uma vivência fragmentada. Comecei a verificar que a vida, o local, as relações de trabalho eram
experiências compartilhadas que, inscrita na memória dos moradores, não eram apenas suporte
identitário, e sim a própria identidade em contínua luta e reconstrução, dessa forma as múltiplas
identidades são, na verdade. Os diversos papéis assumidos pelas mulheres rezadeiras em situações
distintas nos rituais de cura. Essas formas de viverem o cotidiano coletivamente constituem o
palco das representações culturais. No entanto, lembramos que “A cultura popular não é, num
sentido ‘puro’, nem as tradições de resistência a esses processos, nem as formas que as sobrepõe.
É o terreno sobre o qual as transformações são operadas”4.
Passei a concentrar o trabalho de campo na cidade de Capanema, buscando ouvir e
registrar aquilo que as benzedeiras falavam. A particularidade das narrativas, suas histórias de vida
e como suas experiências religiosas eram compostas, foram eixos temáticos que procurei explorar
nas entrevistas.
A primeira problemática enfrentada foi à utilização do termo “rezadeira”. Nas primeiras
entrevistas adotei o termo, acreditando que havia de fato uma hierarquia nas atribuições dessas
mulheres. Conforme ia ouvindo relatos de várias pessoas, percebi que falar em rezadeira,
curandeira, benzedeira ou adivinho não tinha o mesmo significado ou impressão na linguagem
local. Tornou-se comum acompanhar experiências de mulheres que eram parteiras e,
posteriormente, praticavam rezas e benzeções.
Nesses meandros, deparei-me com rezadeiras que rezam, adivinham e mulheres que
agregavam várias dessas práticas e eram chamadas de “espíritas”. Ao assumirem uma destas
identidades, algumas diziam ser rezadeiras e outras curadoras e, ainda, havia aquelas que não
denotavam interesse ou preocupação com a forma com que eram chamadas. Ao perguntar para
uma entrevistada se era rezadeira, respondeu: “é, né? O povo ai é que diz, eu só rezo de acordo
com o dom que Deus deu, né?”5. Identidades atribuídas ou reforçadas, foram estratégias adotadas
em muitos locais. Ao perguntar em alguma vila ou bairro se havia rezadeira ou benzedeira, a
reação notadamente era arredia, mas se falasse em “rezadoras de criança”, expressão ali
recorrente, a aceitabilidade era maior. Mesmo entre a população, estas eram formas de
identificação extremamente fugidias e fluidas.
4 HALL, Stuart. Notas sobre a desconstrução do “popular”. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações. Tradução Adelaine La Guardia Resende... [et al.]. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 232. 5 Entrevista com dona Deuzanira Rabêlo, em 04 de outubro de 2009.
16
Devemos pensar as práticas da cultura, como um constante devir, e não, como um
processo cristalizado no tempo. É preciso sempre problematizar e historicizar as experiências
sociais. Avançando nesse debate, De Certeau indica a multiplicidade dos vínculos entre cultura e
identidade:
Onde colocar, pois, o “autenticamente popular”? Uns verão nele o tesouro oculto de uma tradição oral, fonte “primitiva’ e ‘natural”, que deságua na literatura escrita. Outros postulam uma unidade da cultura, mas prolongada no curso de um movimento que faria na literatura de elite enunciadora das evoluções globais. Há, portanto, vários sistemas de explicação6
A enunciação das identidades atribuídas são estratégias de enfrentamento, negociação e
continuidades desses sujeitos sociais. Essas construções epistemológicas foram pensadas a partir
de locais onde a cultura foi interpretada como conjunto de saberes inertes e inflexíveis7.
O conceito de identidade, explorado por Hall, é extraído da experiência do homem no
solo da cultura, vivenciada na historicidade do cotidiano, dos ideais e representações construídas
em campos sociais complexos. Ali, há sempre
Pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é a dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtêm vitórias definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas8.
Observar a religiosidade dessas mulheres, nas rotinas diárias, clarifica os embates e
estratégias que, essas identidades, adotam na defesa de suas múltiplas funções. Trabalhadoras,
mulheres e mães estão entrelaçadas no exercício da reza. Não percebemos uma identidade de “ser
rezadeira” especifica e única. Isso, contudo, não significa a inexistência de identificação por parte
dessas mulheres com o ato de rezar. Assim, ressalto que, a utilização de termos como rezadeira,
curandeira, ou benzedeira, para denominar as mulheres que, possuidoras de um “dom ou
destino” 9, exerciam práticas religiosas sobre doentes, necessitados ou requerentes diversos,
foram comuns nas entrevistas com moradores de Capanema.
Outro aspecto importante é a escolha das narrativas. Por quase um ano e seis meses
realizei doze entrevistas com rezadeiras/rezadores e treze com pessoas que foram curadas,
testemunhas de milagres ou “causos” e familiares. Mas, para o desenvolvimento da dissertação,
escolhi apenas cinco entrevistas, todas com mulheres rezadeiras. Justifico essa opção por alguns
6 Ver DE CERTEAU, M. A cultura no Plural. Tradução Enid A. Dobránszky. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 66. 7 Ver perspectiva de HALL, 2009, Op. Cit., p. 74, seguimos esse raciocínio nas trilhas de GARCIA CANCLINI, Néstor. A globalização imaginada. Tradução de Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003, pp. 100-110. 8 HALL, 2009, Op. Cit., p. 239. 9 Esses eram termos utilizados pelas entrevistadas com o objetivo de explicar a origem e desenvolvimento da capacidade de executar as rezas. A discussão pormenorizada desses termos está no primeiro capítulo.
17
motivos: algumas entrevistadas estavam com idade muito avançada, com pouca ou nenhuma
capacidade de articular, em suas linguagens orais e corporais, lembranças e convivências com a
prática de benzeções; outras, com estado de saúde precário deram entrevistas e não puderam
concluir em virtude de seus internamentos, cirurgias marcadas e, ainda, uma entrevista onde
vários trechos não tiveram autorização da depoente, o que comprometia o entendimento da
estrutura da narração10.
A seleção das entrevistas foi resultado de uma escolha estritamente pessoal. Resolvi
estudar as narrativas das mulheres rezadeiras, gênero majoritário na prática da cura, no cenário de
Capanema. Ao dialogar com essas experiências religiosas, tornou-se possível adentrar na história
local e acenar para o cotidiano das relações familiares, do trabalho agrícola, doméstico e,
especialmente, do universo das sabedorias populares. O resultado foi a realização de entrevistas
com dona Ângela 73 anos, natural do Piauí; dona Fátima 67 anos filha de paraibanos nascida em
Capanema; dona Deuza Rabêlo 77 anos, maranhense parteira e filha de pescadores; Maria das
Dores 89 anos, filha de capanemenses; dona Esther 89 anos, cearense “rezadeira de romanço”. A
memória desses sujeitos percorre a datação cronológica de “fatos” e experiências entre de os anos
de 1950 e 1990.
Inicialmente, focalizei-me nas falas que envolviam a relação das rezadeiras entre si e com
a população, acreditando serem estas as enunciações capazes de ajudar a pensar as questões
identitárias. Durante as entrevistas, no entanto, deparei-me com um novo elemento: a construção
de uma narrativa sobre o universo das encantarias. Sobre esse campo temático, Prandi torna
esclarecedor:
Penso no conceito de encantaria enunciado sob o vértice das práticas mágico-religiosas, tendo inúmeras particularidades e que estão sob constante transformação, formando a religião brasileira ou religião dos encantados11.
As entrevistadas explicavam suas histórias de vida e as práticas de reza, mediante o
contato com as entidades ou encantados da floresta, que através de possessões, “atuações”,
visões, desmaios e diversas outras formas de sofrimento adquiriram a capacidade para rezar,
curar, benzer ou partejar12.
10 Sigo aqui a compreensão de que o processo de coleta de depoimentos, classificação e transcrição, não resultam no fechamento das fontes. Deve-se problematizar a consideração da escolha dos discursos, o contexto da enunciação, as formas de apresentação. A construção da narrativa histórica está interligada na relação entre os discursos orais e as escolhas e metodologias do historiador, um diálogo mediado nas duas linguagens. Ver THOMPSON, Paul. A voz do Passado. Tradução Célio Lourenço de Oliveira. Ed. Paz e Terra, 1992, p. 299. 11 Cf. PRANDI, R. Encantaria Brasileira: O livro dos mestres, caboclos e encantados. RJ: Pallas, 2004, pp. 7-9. 12 No decorrer do trabalho pretendo explicitar os ofícios e conceitos de xamanismo, encantaria, possessões e “bichos da floresta” entre outros.
18
Dessa forma, percebi aos poucos ter encontrado “o fio de Ariadne” que iria percorrer
todo o texto dissertativo. As encantarias eram o suporte identitário, os agenciadores, modus
operanti do fazer-se das mulheres rezadeiras. Thompson demonstra que as experiências sociais são
importantes na medida em que afirmam, negam ou mediam as formas de identificação e
diferenciação em determinados grupos sociais13.
As encantarias manifestam-se no dia-a-dia, no ir e vir do trabalho, nas noites clareadas
pelas sombras, penumbras, sinais e visões, nos trânsitos entre saúde e doença, lembranças e
esquecimentos. Assim, as mudanças de ritmos, significados e costumes das tradições populares
estão impregnadas nos processos de formação dessas mulheres, mantendo a aderência entre
experiências passadas e presentes14.
Não abandonei o propósito de desenvolver um estudo sobre as narrativas orais das
rezadeiras, mas percebi que não poderia realizar tal intento, apenas retirando frases e períodos de
suas falas, o dialogo com todo o contexto da narrativa demonstrou-se tarefa necessária. Assim, ao
explorar passagens desses depoimentos procurei ambientar percepções sobre o lugar, suas vidas e
os poderes mágico-terapêuticos.
Nesse contexto, pensei no conceito de “mediações culturais”, como locais de negociação,
pontos de tensão e acordos no cenário das representações e sensibilidades, tal qual foi
operacionalizado por Richard Hoggart e Raymond Williams, vozes representativas dos Estudos
Culturais Britânicos, a partir de suas inflexões no campo da cultura, para Hoggart o conceito de
cultura é apresentado como um processo que medeia as experiências sociais, envolvendo as
novas e velhas formas de representação que resulta em camadas de sentidos superpostas e
suprassumidas:
Quando se pensa nos choques culturais pelos quais passaram em algumas gerações as classes populares, fica-se atônito pelas faculdades de resistência e de adaptação da qual elas deram prova. O mais impressionante não é tanto o que cada geração tem podido em uma larga medida conservar das tradições dos mais velhos, mas sobretudo que ela tenha sido capaz de criar coisas novas15.
Esses saberes são, portanto, produzidos pelas mediações e multiplicidades da experiência
histórica. Sob essa rública, Williams torna-se esclarecedor:
13 A problematização do conceito de liberdade e sua história na tessitura da classe operária inglesa está em “O inglês livre de nascimento”. Cf. THOMPSON, Edward P. A formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 3 vol. pp. 84-85. 14 THOMPSON, Edward P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, pp. 13-24. 15 HOGGART, Richard. La culture du pauvre. Paris: Les Éditions de minuit, 1970. Longman: dictionary of contemporary English. Ed. Barecelona: Cayfosa, p. 386.
19
O que o sociólogo cultural ou o historiador cultural estudam são as práticas sociais e as relações culturais que produzem não só “uma cultura” ou “uma ideologia” mas, coisa muito mais significativa, aqueles modos de ser e aquelas obras dinâmicas e concretas em cujo interior não há apenas continuidades e determinações constantes, mas também tensões, conflitos, resoluções e irresoluções, inovações e mudanças reais16.
A narrativa deve, então, ser contextualizada pelo tempo da memória, obedecendo a
contingência das experiências particulares, o que não significa abrir mão das confrontações
sociais, relações de poder, estratégias de resistências e reafirmação de valores e identidades
expressas pelas entrevistadas17. Na proporção do diálogo e nas assertivas elencadas pelas
mediações entre as possibilidades abertas pelos Estudos Culturais e a História Cultural, vale
acompanhar reflexões de Coelho, quando assinala:
A História na sua dimensão hermenêutica é um exercício de permanente compreensão, de prática dialógica entre tempos e sujeitos diferenciados, entre o ontem-outro e o eu-hoje, sempre entendida a partir do pressuposto de que compreender não equivale a explicar, ainda que a explicação histórica resulte da compreensão histórica18.
Buscamos problematizar a singularidade das experiências, acompanhando a virulência das
ressignificações: quais experiências e representações nortearam o fazer-se das rezadeiras na cidade
de Capanema? Como essas identidades emergem no diálogo com as cosmologias dos encantados?
De que forma os saberes e signos culturais são negociados nas fronteiras identitárias entre suas
memórias do passado e a voracidade do tempo presente?
Outro elemento importante que pretendo discutir entre os sujeitos entrevistados, no
contexto das mediações culturais, é o fato de que apenas uma rezadeira entrevistada é nascida no
Pará, as outras vieram na infância ou na vida adulta de vários estados do nordeste, em especial,
Maranhão, Ceará e Paraíba. São pessoas que tiveram as primeiras manifestações do dom ou da
“dona do incante” em outros territórios culturais, mas passaram para o ofício da cura, vivendo no
estado do Pará. Tal dimensão levou-me a explorar nos capítulos seguintes o fenômeno da
“Viagem dos Encantados”19.
Há, portanto, uma história das religiões e religiosidades nas práticas da sociedade colonial
brasileira, que perpassam esses hiatos: as “mesclas interculturais”20 eram características singulares
16 WILLIAMS, Raymond. Cultura. Tradução de Lólio L. de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 29. 17 A narrativa histórica não significa o ato de descrever, narrar, mas aponta para os “feixes” dinâmicos que perpassam a linguagem da cultura, sobre o diálogo entre análise de histórias locais nas interfaces com conhecimentos e ferramentas do mundo global. Ver BURKE, Peter. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: novas perspectivas. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora da UNESP 1992, pp. 327-348. 18 COELHO, Geraldo Mártires. O violino de ingres: leituras de história cultural. Belém: Paka-Tatu, 2005, p. 44. 19 Pretendo contextualizar essas informações ao longo processo migratório existente entre alguns estados do nordeste e a região Bragantina. 20 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 2000, p. 19. O conceito de hibridismo utilizado por Canclini não deve ser associado ao determinismo
20
nos processos formadores desses sujeitos. O ato de rezar, por exemplo, está associado a uma
petição ritualística. No caso das rezadeiras ocorre uma reza onde elementos da pajelança indígena
e da cultura afro (dança de tunda, candomblés e xangôs) estão interligados às orações e santos,
daí a presença constante do termo santidade21. A necessidade de solucionar os problemas da vida
material e a busca para os alívios do cotidiano transformou as rezadeiras em presença constante,
necessária e poderosa na história do Brasil.
As rezadeiras ou benzedeiras são mulheres que realizam benzeduras. Para executar essa
prática elas também acionam elementos do catolicismo popular, súplicas ou rezas com o objetivo
de restabelecer o equilíbrio físico, material ou espiritual das pessoas que buscam sua ajuda. Para
compor o ritual de cura, utilizam ramos verdes, gestos em forma de cruz com a mão direita,
agulha, linha, pano e reza, entre outros elementos e símbolos culturais.
As narrativas orais, nesta dissertação, foram exploradas levando em consideração a
capacidade gestual, as formas de toque, manuseio das folhas e massagens. Esta é executada na
presença do cliente ou à distância. Neste caso, pode ser usada uma fotografia, uma peça de
vestuário, ou pode-se apenas rezar pela intenção de alguém que está distante.
A tradição22das rezadeiras, durante séculos, persistiu diante dos olhares institucionais
(Autoridades Portuguesas, Igreja Católica, Medicina Europeia) sob o aspecto do ocultismo e da
ignorância. Num cenário em que doença e culpa se misturavam, os corpos, em especial o
feminino, eram vistos tanto por pregadores da Igreja Católica quanto por médicos, como um
palco nebuloso e obscuro no qual Deus e o Diabo se digladiavam.
biológico, embora a acepção inicial do termo seja oriunda de outros saberes científicos; determinadas terminologias científicas são passíveis de (re) significação, tendo em vista a contingência social da linguagem. Agradeço as críticas do professor Heraldo Maués a respeito desse debate. 21 Inicialmente as santidades eram movimentos messiânicos de diversas sociedades indígenas, ligadas aos deuses e a promessa de cura e felicidade. Na cultura popular católica estavam associadas aos santos e as rezas de cura dos males materiais e espirituais. MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História da Vida Privada. Vol. 1 São Paulo: Companhia das Letras, pp. 155-220. 22 Há várias implicações no uso desta categoria. Neste trabalho tradição é pensada no sentido dinâmico, não de algo ‘congelado’ no tempo, “folclorizado”. WILLIAMS, 1992, Op. Cit., p.184-185. Evidentemente em alguns casos, pode tratar de um termo de significado político, vinculado a relações de força e luta social, como por exemplo, as tradições inventadas: “O termo tradição inventada é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo – ás vezes coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez”. HOBSBAWN & RANGER. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, pp. 9-23. Outra perspectiva inovadora é a compreensão das tradições como “representação reportada”. Sobre a história do imaginário amazônico temos um local inventado na ótica das (re) elaborações “contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia não foi descoberta, sequer foi construída. Na realidade, a invenção da Amazônia se dá a partir da construção da Índia, fabricada pela historiografia Greco-romana, pelo relato dos peregrinos, missionários, viajantes e comerciante [...] Nesse bojo inclui-se, ainda, a mitologia indiana que, a par de uma natureza variada, delicia e apavora os homens medievais”. GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. Manaus: Editora Valer, 2007, p. 13. Postura crítica diante de visões tradicionais, fixas e “grosseiramente generalizadas” da Amazônia pode ser pensada ainda na obra de MENDES, Armando Dias. A invenção da Amazônia. 2ª. Ed. rev. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 1997, pp. 71-80.
21
Qualquer doença, mazela que atacasse uma mulher era interpretada como um sinal da ira
divina, contra pecados cometidos e/ou feitiço diabólico. Essa percepção do corpo como um local
de tensão espiritual orientava a medicina e supria, em algumas ocasiões, as lacunas racionalizantes
dos seus conhecimentos23.
Essa ponte com o sobrenatural significou mais do que simples processo de cura na
ausência de médicos e doutores; foi também oportunidade para mulheres se solidarizarem,
trocando, entre si, saberes relativos aos seus próprios corpos trazidos de áreas geográficas tão
diferentes quanto à África e a península Ibérica. Foi uma oportunidade de entrelaçamentos
múltiplos, pois negras, mulatas, índias e brancas, tratavam-se mutuamente, com gestos, palavras e
práticas características de cada cultura 24.
Da mesma forma, o imaginário europeu sobre a Ásia e África, os monstros, o mundo
remoto, caótico, pagão, criado pelas múltiplas lendas europeia, migram para o Brasil. O diabo e
suas hostes, as bestas e a natureza irrefreável tem na América um espaço novo, uma cartografia
do imaginário25.
As relações de convivência entre nativos e colonizadores promoveram diversas trocas
culturais entre essas populações: vestuário, alimentação, linguagem, crenças e visões de mundo
em geral, possibilitaram a presença de uma cultura múltipla e diversificada, tornando-se ainda
mais intensa com a inserção das populações africanas na Amazônia nos fins do século XVII26.
No aspecto cultural, o governo português em conjunto com a Igreja Católica empreendeu vários
esforços visando à domesticação, o controle e a própria extinção do trânsito de signos culturais.
Exemplo significativo nessa tarefa foram as visitações do tribunal do Santo Ofício para a
província do Grão-Pará27.
23 DEL PRIORE, Mary. Magia e Medicina na Colônia: O corpo feminino. In: DEL PRIORE, Mary & BASSANEZI. (Orgs.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007, pp. 88-96. Deve-se levar em consideração que a tradição médica portuguesa, no período colonial, estava ancorada ainda na justificativa de ordem metafísica pertinentes ao medievo. 24 Idem, pp. 112-113. 25 “Em relação ao Brasil, o imaginário das raízes europeias se reestruturou ante a constatação da diferença americana. No tocante aos homens, a constatação foi, quase sempre, depreciativa. Fundidos ao homem selvagem, os quase simpáticos monstros europeus se animalizaram e se diabolizaram na colônia muito mais do que nos centros hegemônicos”. SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 79. Outra referência fundamental a esse respeito é a consagrada reflexão entre as práticas mágicas e o cristianismo na Inglaterra no contexto inglês de THOMAS, Keith. Religião e o declínio da magia: crenças populares na Inglaterra, séculos XVI e XVII. Tradução de Denise Bottmann e Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, pp. 183-225. 26 Ver a influência da cultura negra, por exemplo, nas populações marajoaras e o processo de trocas culturais com os filhos da terra no agenciamento das lutas contra a dominação colonialista. Cf. PACHECO, 2009, Op. Cit., pp. 332-335. 27 Assim como na Europa a Igreja católica promoveu o tribunal da Santa Inquisição com objetivo de combater os desvios e erros da fé (heresias), na América Portuguesa veio o Santo Ofício, um braço institucional da Inquisição,
22
A presença do Santo Ofício significava uma forma de controlar a fusão e a proliferação
das práticas “afroindígenas”28, bem como a punição para os cristãos em desvio – colonos que
passavam a compartilhar desses hábitos. A demonização dessas culturas foi a interpretação e a
justificativa que legitimava a perseguição e punição dos acusados.
Os rituais de cura e rezas foram perseguidos, com certa rigidez, e eram vistos como
perigosas para o clero, que acreditava piamente no discurso eclesiástico como meio de obter esses
favores (cura). O uso dos rituais cristãos por pessoas do povo em geral e sua mistura com as
práticas mágicas eram tidas como blasfêmia sem igual. Na busca para impedir a multiplicação
dessas manifestações culturais, a Igreja intervinha com rapidez, atribuindo aos remédios e as
curas das enfermidades o poder miraculoso dos santos, santas, Nossa Senhora e Deus. O
Tambor de Mina (populações afro), a pajelança (sociedades indígenas) e as diversas formas de
curandeirismo, rezadeiras e benzedeiras passaram a ser sistematicamente perseguidas. Esses
trânsitos/lutas culturais são descritos por Prandi em várias regiões do País:
Para enfatizar a especificidade de cada uma dessas culturas, talvez seja suficiente lembrar que duas das cidade iorubas ocupam papel especial na memória da cultura religiosa que se reproduziu no Brasil: Oió, a cidade de Xangô; e Queto, a cidade de Oxóssi; alem de Abeocutá, centro de culto a Iemanjá; e Ilexá, a capital da subetnia Ijexá, de onde são provenientes os cultos de Oxum e Logum Edé. O Candomblé jeje-nagô da Bahia, o batuque do Rio Grande do Sul, o Tambor de Mina do Maranhão e o xangô de Pernambuco são heranças brasileiras desses povos 29
Durante os primeiros séculos de nossa história, observo nos rituais mágico-religiosos a
profusão de discursos e a multiplicidade de aspectos culturais. O binômio, cultura
popular/erudita, oficial/marginal ou outras formas de compartimentação do mundo da cultura
não cabem nas realidades supracitadas30. No tempo presente, as atividades das rezadeiras ainda
existem em várias regiões do Brasil, com suas respectivas historicidades e particularidades, por
que buscava, em prática semelhante, corrigir os “vícios” e “desleixos” das populações coloniais. Entre os estudos históricos que se debruçaram sobre essa temática, ver: SOUZA, 2007, Op. Cit., pp. 137-158; Para o caso Amazônico, conferir: ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. Trabalho escravo e trabalho feminino no Pará. In: Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Belém, nº 12, abril/jun.1987, pp. 53-84. 28 O termo afroindígena dialoga com as práticas, crenças e linguagens da influência indígena e africana na Amazônia. Nesse sentido navegamos em um universo múltiplo e diverso conjugado sob os trânsitos culturais das camadas identitárias das populações amazônicas, mesclados e reinterpretados nas estratégias e percursos locais. A esse respeito seguimos as reflexões sobre a Amazônia Marajoara de PACHECO, Agenor Sarraf. Encantarias Afroindígenas na Amazônia Marajoara: Narrativas Práticas de cura e (in) tolerâncias religiosas In: Horizonte, Belo Horizonte, v. 8, n. 17, pp. 88-92, abr./jun. 2010. 29 PRANDI, Reginaldo. A dança dos caboclos: uma síntese do Brasil segundo os terreiros afrobrasileiros. In: MAUÈS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, p. 32. Sobre a utilização de modelos pré-determinados e explicativos que tentam moldar os mundos da cultura, e não vice-versa, importante é o diálogo das categorias teórico-metodológicas entre História e Antropologia. Ver THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001, pp. 227-229. 30 Sobre pesquisas que discutem as relações e trânsitos entre a cultura erudita e a cultura popular, vale conferir: GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. 3ª Ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.
23
isso o ato de rezar está longe de uma reflexão padronizada e única. Sendo, portanto recortado por
elementos de continuidades e mudanças. Em algumas cidades ou vilas, dessa região, existem
grupos específicos de rezadeiras, em outras estas trabalham isoladamente, sem contato aparente,
mas em geral possuem maneira de atuação definida: o alívio da dor e do sofrimento em seus
semelhantes.
Eu e meu orientador, pensamos em dividir o texto em capítulos, fragmentando as
narrativas coletadas em temáticas, no entanto, a riqueza dos depoimentos ficaria comprometida.
Planejamos a sistematização da pesquisa através das formas de aquisição do dom. Geralmente, as
entrevistadas atribuíam o recebimento do dom ou destino a Deus, mas no transcorrer de suas
falas, acentuavam a ação ou papel dos encantados ou espíritos, reportando a estes uma infinidade
de sensações: medo, vigilância, proteção, castigo e favorecimentos materiais.
Decidimos, então, dividir o texto de acordo com a “morada natural” dos encantados e, a
partir daí, pensar as relações pessoais, suas histórias de vida, com as especificidades de um
universo, onde se imiscuem a cosmologia divina e o universo das encantarias. Pretendemos
recompor, inicialmente, a identidade das mulheres rezadeiras, benzedeiras e as passagens e
mudanças culturais do lugar de onde falam e operam suas sabedorias.
Na primeira parte da dissertação, “Identidades em construção: A benzedura e o lugar”
apresentamos facetas e imaginários de Capanema. O passado da cidade é (re) escrito sob a ótica
de mulheres humildes, trabalhadoras, arregimentadas no solo das tradições orais. Dialogando
com a memória das mulheres benzedeiras, revisitamos a história da cidade, acompanhando a
distribuição dos espaços, conflitos e continuidades. Vozes que rompem silêncios e desvelam, aos
nossos olhos, facetas e dimensões de locais obscurecidos pela “memória oficial”. O manuseio de
fotos, imagens e mapas antigos provocam gestos, esboçam sensibilidades e performances,
fermentando teias e tramas das narradoras.
No cenário da Amazônia Bragantina31, cidades e povoados são compostos de ribeirinhos,
índios, afroindígenas, afrodescendentes... Refletindo as identificações dos lugares de origem,
soma-se a estes, piauienses, cearense, paraibanos e maranhenses, originando identidades
intercambiantes, capazes de articular suas referências e memórias nas encruzilhadas do nordeste
paraense.
31 Veremos detalhadamente a localização da cidade de Capanema na microrregião Bragantina, no entanto, cunhei a expressão “Amazônia Bragantina” para enfatizar hábitos alimentares, linguagens, religiosidades, costumes, movimentos e dinâmica das populações que transitam em vilas, sítios, comunidades, “terrenos”, encruzilhadas e “beira de estrada” no entre - lugar do campo/cidade dessa área do nordeste do Pará.
24
Os fios da narrativa versam sobre famílias, locais, sentimentos, dores e lutas. No entanto,
o fiar dessas mulheres tem, como centro, o panteão das encantarias brasileiras, potências da
natureza, fonte de inspiração, saberes e identidades. A história de vida das rezadeiras, suas
memórias de infância, o cotidiano e suas experiências iniciais nos territórios das rezas, benzeduras
e partos. Adentramos na intensidade da tradição oral, onde o uso performático do corpo traduz a
vitalidade da memória como esforço de reconstrução contínua do passado.
Articulo diálogo entre os teóricos dos Estudos Culturais e as produções da História
Cultural, para desvelar a dinâmica entre os saberes da encantaria e a sedimentação dos costumes e
identidades sociais em curso. A partir dessas reflexões, as rezadeiras passam a atribuir seu “dom”
ou poder de rezar a cosmologia dos encantados, enfatizando em suas narrativas a ação dos
encantados do Ar, da Água e da Terra.
Essa “cartografia dos encantados”, no entanto, não pode soar mais sério que um exercício
de retórica e exposição didática, digo isso pensando que rituais, práticas, crenças e posturas da
cosmovisão dos encantados não constituem um mundo à parte, hierarquizado e hermético, longe
de serem representações religiosas fatiadas e dispersas. As memórias desses sujeitos históricos
estão dispostas conforme as particularidades de suas experiências, sempre pensando as teias das
narrações no horizonte das contextualizações e mediações culturais, isto é, são formuladas a
partir de entrelaçamentos e readaptações.
A segunda parte, “Encantarias na Amazônia Bragantina” é uma imersão nas narrativas das
encantarias do Ar, Água e Terra, para perceber como essas religiosidades sedimentam o fazer
identitário, ao mesmo tempo em que transbordam os espaços sociais, compondo um mosaico de
crenças e saberes no imaginário citadino.
O conhecimento sobre as encantarias do Ar transparece com intensidade nas narrativas
de dona Fátima, através de uma percepção onde o céu/ar traduz movimento de corpos e viagens,
o que não significa predomínio dessa forma de encantaria na memória de outras entrevistadas.
O significado social dos encantados associados ao vento tem relação com o ato de
acompanhar, proteger e vigiar. As lembranças construídas pelas benzedeiras apontavam para uma
relação mágica com o espaço aéreo: céu, lua, ventos e aves pertenciam a um tipo de encantaria
com notável mobilidade espacial, dotado de territorialidade diaspórica, as mulheres migrantes
rezadeiras faziam do vôo xamânico32 a porta de acesso a outros mundos, andanças no cemitério,
32 Lembrar das várias acepções que o termo desdobra. A possessão descontrolada, quedas, ataques, estado de inércia, sinalizam sintomas da experiência iniciática xamânica. No entanto, a identidade do xamã deve ser constituída na capacidade de controlar as entidades, espíritos ou forças que possuem o corpo do “escolhido”. Na possessão por um ou mais espíritos, a luta se dá no espaço corpóreo do candidato. Cf. LEWIS, I. O Êxtase religioso. Um estudo
25
falavam com os mortos, tendo como objetivo a busca de curas, poções e segredos diversos:
migrações contínuas, identidades em transe.
A referência aos encantados da Água é o mais denso em detalhes. A cosmologia aquática
amazônica é presente na memória de todas as rezadeiras. No curso dos rios, enchentes, pescas e
viagens, o elemento hídrico guarda entidades responsáveis pela multiplicidade de “dons”.
Rezas, benzeduras, curas, poções, massagens, partos, adivinhações e contra-feitiços são
práticas concedidas pela “dona do incante” – habitante do universo aquático. Dona Ângela,
Maria das Dores e Deuza Rabêlo mediavam a movência identitária do “ser rezadeira” através das
cheias, ciclos e margens dos rios. Suas narrativas reportam a uma época onde o “reino das águas
mudava o curso do mundo”, quando a mãe d’água – tão respeitada e temida quanto os santos –
atingia os homens com flechas mágicas e no sequestro das crianças para o “fundo”. Neste transe,
as rezadeiras assumem a identidade de representantes da cura e refúgio para as populações
necessitadas. A relação umbilical com as águas Amazônicas faz com que sejam representadas
como identidades marítimas.
No último elemento, as encantarias da terra espreitam, rastejam e caminham no solo da
linguagem, essas potências figuram entre o céu e a água; transitam/confundem-se nos espaços de
fronteira. Essas entidades são mencionadas direta ou indiretamente por todas as rezadeiras. No
entanto, Dona Esther descreve suas experiências tendo como eixo narrativo as possessões
geradas pelos “encantados do chão” e a luta pelo controle como condição afirmativa do poder
religioso reconhecido pela comunidade.
A partir da conjunção desses elementos, as mulheres rezadeiras são tradutoras do mundo
vegetal e mineral (árvores, folhas, frutos, semente, raízes, pedras, areias) intérpretes de pegadas,
toques, sons e imagens do mundo animal (insetos, aves, cães, gatos, cobras e anfíbios).
Sensibilidade e natureza aflorando na epiderme da memória, (re) atualizando saberes: terra, chão
e pedras reportam a um imaginário onde mãos, pés e corpo têm uma relação simbiótica com as
esferas da natureza, ar, água, terra.
antropológico da possessão por espírito e do xamanismo. São Paulo: Perspectiva, 1971. Outra compreensão é à saída do espírito do xamã a outros mundos: a viagem xamãnica é a capacidade de viajar ao céu ou de descer ao inferno, bem como travar lutas com espíritos, enfrentar outros xamãs, buscar ajuda, proteção e objetos nesses espaços espirituais. Ver ELIADE, Mircea. El Chamanismo y las técnicas arcaicas Del éxtasis. México/Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 1960, pp. 113-116.
26
PARTE I:
IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO:
As Benzeduras e o Lugar
“Identidade cultural é um ‘tornar-se’ e não apenas um ‘ser’. Pertence tanto ao futuro quanto ao passado. Não é algo que já exista e transcenda, tempo, história e cultura. As identidades culturais vêm de algures, tem histórias. Porém, tal como acontece com tudo o que é histórico, também elas sofrem transformações constantes. Longe de se fixarem eternamente num qualquer passado essencializado, estão sujeitas ao contínuo ‘jogo’ da história, da cultura e do poder. (...) As identidade são os nomes que damos às diferentes formas como somos posicionados pelas narrativas do passado e como nos posicionamos dentro delas”.
Stuart Hall Identidade Cultural e Diáspora
27
1. A cidade na ótica das Rezadeiras: “Capanema ainda não foi descoberta”
Muitos moradores de Capanema33 acreditam viver em uma cidade sem história, onde as
famílias foram reunidas pelo acaso, interessadas em vender produtos na margem da estrada de
ferro, espaço composto por estrangeiros e sem tradição cultural34. Essas narrativas são versões
“consagradas”, no imaginário de centenas de populares, generalizações, tentativas de
sintetizar/subordinar a dinâmica do local a determinadas atividades ou símbolos. No entanto,
estamos convencidos juntamente com Rios35 que a grande contribuição do texto oral não é
muitas vezes o que está sendo dito, mas principalmente, o significado desse falar. Lembramos
como a atividade comercial propiciou o enriquecimento das famílias locais, a prosperidade
alcançada por essas pessoas (re) significou o comércio como atividade benfeitora de toda
população.
Vista como um lugar sem tradição, repleta de estrangeiros, conforme Antônio Maria ao
narrar que “aqui era e é só passagem, eles (migrantes) faz a vida e se mandam”36. Tal afirmativa
reproduz jargões repetidos exaustivamente em bares, bancas de revista e barbearia, enfatizando a
importância de Capanema como fonte de lucro e local para se melhorar de vida. As perigosas
sutilezas as quais circulam nas vozes de pobres e ricos entram em desacordo quando pesquisamos
os dados relativos à produção agrícola37, antes e depois da construção da estrada de ferro. Esta
produção aparece como fonte de alimentos e geradora de trabalho e renda para o setor
majoritário da população, na época, residente em pequenas comunidades, vilas e roçados de
pequeno e médio porte.
33 A cidade de Capanema está localizada no nordeste Paraense, na microrregião Bragantina, têm relações limítrofes com Traquateua, Maracanã, Salinópolis, Bragança, Peixe-Boi e Ourém, tendo distância em linha reta de Belém o equivalente a 160 km pela rodovia BR 316. Abrange uma área de 614, 026 km², população de 63. 628 hab. Densidade de 103,62 hab./km², um clima equatorial úmido, atualmente uma vegetação voltada para a criação de gado e agricultura. IBGE. Enciclopédia dos municípios Brasileiros. Capanema-PA. 34 Informações adquiridas mediante depoimentos orais realizados com antigos moradores, Juscelino Paiva 87 anos, Tereza Silva 75 anos, Luís Ferreira 55 anos, Reginalva Moura 63 anos. Entrevistas realizadas entre Maio e Setembro de 2009. 35 “Os eixos narrativos constituem-se como fortes elementos da cultura do depoente. Ou seja, diante da oralidade, na forma como ela se constitui pelo narrador, é possível capturar o quanto essa linguagem é constituinte do sujeito”. RIOS, Kênia Souza. A seca nos atalhos da oralidade. In: Proj. História 22. São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 293. 36 Antônio Maria da Silva Domingues, 61 anos. Narrativa realizada em Agosto de 2009. 37 O plantio de feijão, milho e mandioca despontam como gêneros agrícolas constituintes para o bom andamento da economia agrícola, uacima, babaçu, junco e fibras de buriti são outros potenciais vegetais explorados. A cobertura vegetal de floresta densa dos baixos platôs Pará/Maranhão foi quase que totalmente substituída pela floresta secundária, ou de capoeira, pela ação dos desmatamentos para o plantio de espécies agrícolas de subsistência e por campos artificiais destinados à pecuária de leite e de corte. Estatística Municipal. In: Gerência de base de dados estatísticos do Estado, 2008, pp. 31-36, 20-24.
28
Fig. 01 - Índice das microrregiões do Estado do Pará: 01-Almeirim, 02-Altamira, 03-Arari, 04-Belém, 05-Bragantina, 06-Cametá, 07-Castanhal, 08- Conceição do Araguaia, 09- Furos de Breves, 10-Guamá, 11-Itaituba, 12-Marabá, 13-Óbidos, 14-Paragominas, 15-Parauapebas, 16-Portel, 17-Redenção, 18-Salgado, 19- Santarém, 20- São Félix do Xingu,21-Tomé-Açu, 22-Tucuruí. Fonte: IBGE.
Fig. 02 – Na microrregião Bragantina vemos a localização de Capanema (04): Na visão dos populares uma posição geográfica que justifica o “status” de cidade-pólo e centro comercial. Fonte: IBGE.
29
A narrativa de dona Maria das Dores38 é esclarecedora ao afirmar que “ali no comércio
não tinha quase trabalho não, a maioria do povo vivia era de roça, o comércio mesmo veio de
uns tempo pra cá”, minimiza a relevância da atividade comercial. Por outro lado, o antigo
comerciante Antônio Moraes argumenta em voz dissonante em outra lógica:
Comércio não é tudo não, mas foi os ponto (ponto comercial) que fizeram que as casas fossem feitas junta uma da outra [...] sem o plantio ninguém come, né? Mas prá fazê as rua da cidade mesmo fomos nós. Cê pode ver que as principal rua daqui são as perto do comércio, basta dizê que por isso chamam de “centro”, né?39.
A produção agrícola é vista como responsável pela existência da cidade, enquanto o
comércio simboliza a mola propulsora do desenvolvimento da estrutura física, polarizando uma
concentração de casas e bairros organizados e seguros. Através de seu depoimento percebemos
nitidamente o sentimento de pertencer a um grupo formado por homens ligados a um ofício tido
como respeitado. Por serem vistos como pioneiros na abertura de estradas e ramais, esses sujeitos
intitulam-se verdadeiros “construtores da cidade”.
O depoimento de Antônio Moraes denota uma percepção de cidade onde ruas, avenidas e
bairros representam a única forma de organização espacial possível. No sentido oposto, Maria das
Dores tem como referência em suas narrativas, o deslocamento das pessoas, e a luta pela
sobrevivência material.
Em certo sentido, parte da população constrói o cenário de Capanema como “pólo” 40
comercial a partir do crescimento atual da cidade. Essa elaboração modela significados do
passado a partir de movências e transformações vividas no tempo presente. Visibiliza-se, deste
38 Maria das Dores é rezadeira nascida em Capanema, filha de paraenses e tem 89 anos. Entrevista realizada em Maio de 2010. 39 Entrevista realizada com Antônio Moraes, comerciante aposentado de 83 anos, no dia 08 de Novembro de 2009. Depoimento citado. 40 Inicialmente essa ideia está associada à posição geográfica “central” da cidade. O município era constituído de distritos (povoados menores que subsistiam de caça, pesca e atividade agrícola reduzida), a luta pela sede municipal envolvia disputas pelo poder político, posse de terras e controle de verbas provenientes da esfera estadual. Entre 1908 e 1913 a sede do município funcionou na vila de cachoeira, posteriormente denominado de Mirasselvas, como resultado da necessidade do então governador, Augusto Montenegro de dar continuidade ao estabelecimento da estrada de ferro, ocupando as suas margens – tornando a localidade a primeira parada da estrada de ferro na região bragantina (Belém-Bragança). Em divisão administrativa temporária referente ao ano de 1911, o município aparece composto de 09 distritos: Quatipuru, Capanema, Curral Velho, Jaboraca, Japerica, Mirasselvas, Primavera, Taboleiro e Tauari. Atualmente o município de Capanema abrange dezoito comunidades em áreas rurais: Décima Travessa, Nona Travessa, Mata Sede, Sétima Travessa, São Bernardo, Anjinho, Abacateiro, Braço Grande, Quinta Travessa, Ucuúba, Terceira Travessa, Santa Rosa, Nova Assis, Travessa do Nove, Ananinteua, Sinézio, Travessa do Dois e Rufino. Além dos distritos de Mirasselvas e Tauari, com suas respectivas comunidades que juntos somam vinte e nove localidades. Cf. SIQUEIRA, José Leôncio Ferreira de. Trilhos: O Caminho dos Sonhos (Memorial da Estrada de Ferro de Bragança). Bragança, 2008, pp. 75-76. SOUSA, 2010, Op. Cit., pp. 55-58. IBGE – Capanema-PA.
30
modo, estratégias elaboradas por representantes do comercio local para sobrepor suas vozes e
memórias41.
A representação de Capanema como símbolo da modernidade, centro do
desenvolvimento capitalista na região era uma forma de afirmação identitária da vontade das
elites políticas imiscuídas ao setor comercial. Essas alianças políticas são visibilizadas na fala de
seu Zé Medeiros:
Capanema tinha tudo pra ser o comando de tudo por essas banda. No passado tinha concorrência com Bragança, mas lá, a pesca era sempre forte, sendo que o comércio era o fraco. Até hoje o senhor vê que o povo de lá é meio preguiçoso pra abrir as loja [...] aqui as coisa moderna sempre chegarô primeiro e não é de hoje não, hein? O senhor já viu os poste da Praça Magalhães Barata? Não, né? São da época da borracha [...] só aí dá pra ver a nossa vantagem, né? Bragança é mais das antiga. Lá só as casa da época das colônia, né? Aqui é mais pra frente42. Os barão daqui iam pra Belém prá trazer as verba pra cá, se não os bragantino iam saí na frente [...] Sem falar na Cibrasa, né? Ali é que não se fala mesmo, olhe só o tanto de emprego gerado pro povo, quem lucra com isso é o povo. Ainda tem gente que diz que a fábrica tem que ir embora, onde já se viu!43.
Localizada a 50 km de Capanema, a cidade de Bragança não foi capaz de desenvolver o
comércio graças à influência da pesca, agricultura e hábito nada propenso a disciplina do trabalho
moderno por parte do “caboclo”. Argumentos formulados, a partir de isolada explicação
econômica, ponderações culturais preconceituosas e generalizantes, denotam a necessidade
imediata de por Capanema na dianteira da economia local. Lembremos que as memórias de seu
Zé Medeiros dizem respeito não somente a uma opinião particularmente construída, mas ao
período de quase três décadas (1960-1980) ouvindo embates, acordos e disputas entre políticos
locais.
Na interpretação dos políticos capanemenses o passado colonial de Bragança comprova a
vocação para atividades produtivas tradicionais e ultrapassadas. O passado histórico de
Capanema, no entanto, dialoga com o período de intensa atividade gomífera na Amazônia, para
assegurar o seu vínculo com o progresso econômico. Discordâncias políticas produziram
interpretações da história local como forma de legitimar a prioridade pela obtenção de verbas
41 Sobre as formas de atuação e estratégicas de ocupação de espaço, construção de cenários de poder e demarcações urbanas nas relações das famílias ricas em Belém. É fundamental dialogar com o trabalho de CANCELA, Cristina Donza. “População e cidade”. In: Casamento e relações familiares na economia da borracha. Belém (1870-1929). Tese de Doutorado em História. USP, 2006, pp. 127-135. 42 A esse respeito verificamos que não há documentação local que comprove intensa atividade econômica proveniente da extração do látex. Seu Zé Medeiros é o único entrevistado a fazer alusão a esse tipo de extrativismo. 43 Entrevista realizada dia 14 de Janeiro de 2011. Zé Medeiros é funcionário público aposentado da prefeitura de Capanema.
31
estaduais. Notamos que, a representação de prosperidade e modernidade digerida pelas elites
locais tem ressonância no imaginário de alguns moradores capanemenses44.
No que tange a extração das riquezas minerais como argila e pedras calcárias, é para
fornecer matéria-prima para fábrica de cimento Nassau: CIBRASA45. Em cinquenta anos de
existência, a fábrica de Cimento Nassau mobilizou o comércio, atraiu divisas internas e promoveu
em parceria com empresários e governos locais investimento no setor de rodovias e construção.
Esse discurso, no entanto, não é partilhado por todos, alguns moradores vêem a empresa como
responsável pelo excesso de poeira, poluição ambiental e exploração dos mais pobres46.
Os conflitos e polêmicas
sobre a importância da fábrica
apontam a forma como os
moradores elaboram
representações das relações de
poder estabelecidas na vida
urbana: de um lado expõem a
exploração de sua força de
trabalho, de outro a riqueza e
poder auferidos por grupos
dominantes. Mesmo não se
tratando de um enfrentamento
entre dominantes e dominados nos moldes tradicionais, porque existem diferentes facetas que
exigem desmontar dicotomias, as percepções narradas por determinados moradores são posições
políticas do lugar assumido na luta cultura conformadora do espaço urbano em construção.
44 Essas construções são mais susceptíveis de apreensão nas reflexões historiográficas sobre a cidade de Belém na passagem dos séculos XIX-XX. “Desse modo, o conceito de modernidade está intimamente ligado ao de progresso expresso através do desenvolvimento da vida urbana, da construção de ferrovias, da intensificação das tran-sações comerciais e da internacionalização dos mercados”. A respeito das transformações urbanas, políticas e culturais ocorridas no inicio do século XX em Belém, temos a consagrada obra de SARGES, Maria de Nazaré. “Belém a urbe das riquezas”. In: Riquezas produzindo a Belle Époque. Belém: Paka-Tatu, 2002, p. 92. A respeito de representações urbanas que erigem o comércio como centro da atividade econômica, compartilhamos com Fontes perspectiva similar no sentido de que “na organização do espaço urbano de Belém percebe-se nos anos de 1950 uma área central, ‘o coração da cidade’, aonde ir ao comércio significava ir ao centro de Belém. O centro da cidade era onde se localizava o comércio de ruas estreitas e tortuosas”. Cf. FONTES, Edilza. “Belém revisitada”. In: O pão nosso de cada dia. Belém: Paka-Tatu, 2002, pp. 205-206. 45 Cimentos do Brasil S/A. Empresa de grande porte local trazida pelo grupo empresarial Pires Franco em 1961, com uma história que se confunde com a representação citadina, cristalizando no imaginário popular a expressão “A Terra do Cimento”. Para muitos, uma das referências de sustentação da economia local. 46 Depoimento citado de Raimundo Medeiros, 66 anos, operário aposentado com vasta experiência no campo sindical, assumindo particular destaque nos movimentos grevistas da cidade na década de 1980. Entrevista realizada no dia 14 de Janeiro de 2011.
Fig.03 – Fábrica de Cimento Nassau: Símbolo do “progresso” industrial e desenvolvimento comercial. Fonte: disponível em: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/original/2664351. Acessado no dia 22 de Janeiro de 2011.
32
Nessas tramas do
cotidiano, o discurso do poder
econômico local expõe sua
parcela de colaboração na
tessitura do espaço urbano: A
construção da Escola de
Educação Básica S. Pio X47;
ampliação do templo da Igreja
Matriz, bem como construção de
ruas e consórcios que durante
anos teriam beneficiado o poder
público e os moradores, são alguns feitos visíveis na paisagem de Capanema48. Na imagem
frontal da igreja, confeccionada pelo poder regular com apoio da elite econômica da fábrica
Nassau, é possível notar os acordos estabelecidos e o lugar concedido de ambos os grupos nesta
representação visual.
Paralelo a essas construções, as rezadeiras confeccionam em suas narrativas outras
maneiras de perceber a dinâmica do viver urbano e, nesse sentido, as suas vozes estão em grande
sintonia.
O depoimento de dona Maria das Dores tem ressonância na voz de dona Fátima49 no
sentido que “aquilo não tinha nada não (comércio), era só um miado de gato (pouca coisa).
Como é que tem no matagalzão?”. O que a elite local e alguns sujeitos classificavam como pólo
comercial, as benzedeiras viam pontos de venda onde se misturavam nas prateleiras, remédios,
querosene, carne, tabaco, tecido e cachaça em locais cercados de matos, cortados por ramais,
trilhas e caminhos. Na perspectiva dessas mulheres a “cidade, cidade mesmo não tinha não”50, ou
seja, a dinâmica da vida no campo ainda determinava parte considerável do ritmo, lógica e
movimento do cotidiano dessas pessoas.
Outra percepção, extremamente polêmica, é a crença de que a cidade não tem tradição
cultural ou referência histórica no sentido “factual” do termo, pois a cultura teria se perdido com
47 SILVA, Jerônimo da S. Congregação do Preciosíssimo Sangue: Um Estudo sobre a Memória das Irmãs em Capanema. Monografia de Especialização em História Social da Amazônia, UFPA, 2007, pp. 35-45. 48 Lembramos as visibilidades múltiplas que a presença fabril reproduz no imaginário citadino em PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Iconografia compulsiva da modernidade, mágicas mecânicas e urbanização”. In: Revista Amazonense de História. Manaus, v.I, nº 1, 2002, pp. 31-39. 49 Entrevista realizada com dona Fátima, 67 anos, em Maio de 2010. 50 Dona Fátima, depoimento citado.
Fig. 04 – Imagem frontal da igreja Matriz: A cidade (superior esquerdo), a devoção popular (inferior esquerdo), o sagrado (no centro), a fábrica (superior direito) e a Igreja católica (inferior direito). Notemos a proeminência de imagens que remetem a elites religiosas e econômicas. Fonte: foto da pesquisa, 2011.
33
a chegada de “culturas estrangeiras”. A professora aposentada Cristina Gaspar caminha na contra
mão dessas assertivas ao sustentar que:
Capanema teve e tem muita cultura sim! A meu ver isso é uma desculpa muito antiga e esfarrapada das dezena de prefeito que já passou aqui e que não tinham compromisso com as manifestações culturais do nosso povo. Você tira pela feira cultural em Capanema [...] Vixe! Chega fico é com vergonha só de lembrar [...] Então eles vem com essa conversa de povo que não valoriza cultura, alienado... Essas besteira que a gente ouve vez por outra51.
A tese de que, locais
formados a partir de sujeitos
diaspóricos anula formas de
enraizamento ou pertencimento,
são desconstruídas quando
observamos a atuação desses
migrantes no nordeste do Pará,
através da produção acadêmica de
Franciane Gama Lacerda52 ao
mencionar como as festas,
procissões e arraiais foram
práticas culturais somadas e
ampliadas ao cotidiano da
população Amazônica.
A descrição de leis, fatos,
datas comemorativas, monumentos
e relatos “oficiais” representam uma
das formas de compreender o
surgimento de povoados, vilas,
comunidades e cidades. Entretanto,
sabemos que a história de uma
51 Entrevista realizada com Cristina Gaspar de 77 anos, nos meses de julho e Setembro de 2010. 52 “Mesclando-se, assim, a um mundo de violências e de árduo trabalho, numa luta constante para produzir e fixar-se na terra como lavrador, existia também um mundo de festas e atividades lúdicas, que foram igualmente fundamentais na construção desses espaços dos núcleos coloniais. É possível encontrarmos indícios disso nos primeiros anos de chegada dos cearenses à zona Bragantina”. Cf. LACERDA, Franciane Gama. Migrantes cearense no Pará: Faces da Sobrevivência (1889-1916). Belém: Ed. Açaí, 2010, p. 363.
Fig. 05 – A capacidade de mobilizar serviços, produtos e pessoas em torno da atividade comercial faz com que Capanema seja representada pela população como centro comercial e símbolo do progresso a partir da década de 1950. Fonte: Arquivo pessoal de Deyviane Pinheiro.
Fig. 06 – Centro do comércio. O imaginário da prosperidade comercial ainda permanece na fala da população capanemense. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
34
comunidade pode ser pensada através de linguagens, cenários, formas de vestir, costumes e
tradições, assim, as experiências53 de identidades que se refazem gerando sentidos na cidade de
Capanema, ultrapassam formas de registros e documentações “convencionais”54.
Buscamos acompanhar o crescimento da cidade, através dos olhares das mulheres
rezadeiras, mestras em narrar no corpo e na voz, tecendo paisagens cotidianas de suas lutas, nos
trânsitos da casa e da rua. Construindo imagens através de odores, ouvindo sabores e
manuseando sonhos, a narrativa ultrapassa fronteiras do sensível.
As mulheres benzedeiras entrevistadas, não tinham relação de proximidade social, viviam
e narravam suas experiências em espaços diferenciados: enquanto algumas viviam em ruas
consideradas centrais (Rua 14 de Março, Av. Barão de Capanema), outras em áreas rurais do
município (Tauari, Vila do km 11). Assim, o conceito de cidade reinventado pelas narradoras não
acusa separação entre espaço urbano e agrário. Em suas reflexões de mestrado, Pacheco discute
como o viver citadino é (re) significado a partir das relações com o espaço da floresta, criando
uma lógica capaz de compor sentidos diversos em territorialidades Amazônicas55.
Quando vim pra cá ainda não era nem Capanema. Já morei nos interior tudinho quase, Tauarí, Mirasselvas, Onze Pará-Maranhão, na sétima, na Santa Cruz, passava naquela igreja de São Francisco. Me lembro que aqui era uma mata bruta ainda, os político mandou [...] Manoel Costa, Almir Martins tinha terra, aí eu comprei três lote aí. A primeira casa que fez foi aquela casa bem dalí, a primeira casa ,daquele lado. Primeira casa foi de um senhor, depois foi a minha, aí eu morei na Monte Castelo, era um terreirão grande. Aí não passava luz, eu tava estragando as minha coisa, geladeira, tudo, ai eu me mudei pra cá .Quando eu cheguei aqui a luz passou lá, agora quem mora lá é seu Saulo do Anexos56.
Dona Ângela chegou ao Pará em 1953, tendo morado inicialmente em diversas
localidades, em sua narrativa explica a história de Capanema a partir de sua chegada, contando o
tempo de existência da cidade a partir da década de sessenta, quando passa a viver no local,
denotando a referência pessoal para demarcação do tempo. Ao contrário dos relatórios, cartas e
documentos que indicam uma cidade em pleno crescimento econômico, a partir da década de
sessenta, vemos emergir nas lembranças de dona Ângela um cenário de poucas casas, ruas 53 Pensamos aqui na miopia dos paradigmas epistemológicos enclausurados em modelos estruturalistas aprioristicos, denunciados por Thompson e na importância da compreensão das particularidades da experiência histórica. Cf. THOMPSON, Edward Palmer. “O Termo Ausente: experiência” In: A Miséria da Teoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, pp. 180-185. 54 Sobre o desenvolvimento do debate historiográfico no século XX, a problematização das possibilidades do uso de “novas” fontes, documentos e paradigmas teórico-metodológicos, ver BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro In: A Escrita da História, 1992, Op. Cit., pp. 7-16. 55 “A expressão Cidade-Floresta remete a pensar noções de uma urbanidade singular que se elabora pelos saberes, linguagens e experiências sociais de populações formadas dentro de uma outra lógica de cidade, onde antigos caminhos de roças cedem lugar à construção de ruas de chão batido, depois asfaltadas, assim como a permanência de práticas de viveres ribeirinhos nesses novos espaços de moradia”. Cf. PACHECO, Agenor Sarraf. À Margem dos “Marajós”: cotidiano, memórias e imagens da “Cidade-Floresta” – Melgaço-PA. Belém: Paka-Tatu, 2006, p. 24. 56 Entrevista realizada com dona Ângela 73 anos, em Abril de 2010.
35
“tomadas pela mata” e ausência de energia elétrica. Ao mesmo tempo, enfatiza a facilidade com
que os políticos locais tinham de acumular propriedades e instalar suas residências e “pontos”
comerciais. A influência de Almir Martins e Manoel Costa são exemplos de famílias que
alcançaram privilégios na ocupação de cidade.
Falar de um passado agrícola, ruralizado não remete, necessariamente, a um cenário
harmônico, bem como as representações tecidas no meio urbano dialogam, intrinsecamente, com
os valores simbólicos campesinos. Assim, a elaboração de significados que fazemos dos espaços
– campo/cidade – escondem formas de conflito, desigualdades, tradições reforçadas, adaptações
inúmeras57. Dona Ângela oferece-nos outra perspectiva:
Capanema era uma cidade calma – de silêncio mermo, sabe? – uma cidade que, era muito difícil dizer assim: “Uma pessoa morreu de parto, uma pessoa morreu de infecção do pulmão”. Às vezes as pessoa morria e não sabia de quê, por que nunca chegou pra nós descobrir. Agora com muita inteligência os médico foi descobrindo [...] É doença de todo jeito aparece. Quando a gente sabia que morreu, ninguém num sabia. Agora devido aos médico, as inteligência do médico foi que descobriu. E Capanema num matava ninguém, agora uma pessoa faz num sei o quê, matavô logo era de tiro. Capanema era muito calmo58.
O silêncio é evocado na
cidade como ausência de ruído,
barulho, mas também como
ambiente pacífico, com baixo
índice de violência e mortalidade.
A medicina e o avanço
tecnológico estavam associados à
intensificação da perda e do
sofrimento, as pessoas adquiriam
consciência da origem das
enfermidades, a racionalização da
morte e do sofrimento engendrava
a busca de novas formas de precaução (profilaxia).
57 “Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas, cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e limitação”. WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 11, 269-313. 58 Dona Ângela, depoimento citado.
Fig. 07 – A residência de comerciantes, proprietários de terra e políticos eram espaços de manifestações religiosas, festividades e outras sociabilidades. Espaços privados metamorfoseavam-se em locais de afirmação do poder político. Fonte: Acervo particular de Deyviane Pinheiro.
36
A cidade tem o poder de fazer viver ou morrer, tornar feliz ou infeliz: “Capanema num
matava ninguém”. A ideia de que a sociedade pode ser sintetizada como organismo vivo e coeso,
sob a forma de nação, estado ou comunidade, evidencia uma postura que não se percebe
enquanto agente de transformação, capaz de potencializar seus projetos pessoais de vida. O
termo cidade impõe cadência própria: a linguagem que personifica a cidade é uma estratégia de
poder, que busca enfraquecer os sujeitos, negar-lhes o direito de reais agentes do mundo em que
vivem.
As narrativas passam a ser mais detalhadas quando relativas à vinda da população
nordestina entre as décadas de 1950 – 1970. Dona Ângela prossegue:
A viagem tinha muita gente, quando nós chegamos aqui era num navio super cheio de gente. Veio foi muito conhecido nosso, conheço muita gente daquelas banda do Ceará, padre Cícero, São João Batista, Juazeiro e tudo conheço. Naquela época era bom lá, só vim por causa do marido. Sim, senhor! No Piauí tinha muito trabalho, muita fartura, tinha água doce, água do mar [...] e eu tenho duas irmã e um irmão lá. Só que eu não procuro, que eu não gosto de gente que esses pessoal que só quer ser, eu caio fora. Tinha até um rio aqui que se parecia com os de lá, é sim... O rio Garrafão era rio fundo, lá morreu uma mulher afogada, parece que foi a cobra que mordeu, foi sucurijú59. Num achavô, mas procuram pra lá, [...] Mãe d’água tinha na beira do rio, jogava as roupa, as coisa tudo pra ela, ela era a mãe d’água. Ela ficava lá, ela é a dona do rio, do mar. Tem o peixe (inaudível), tem o tubarão, tem o pacu60, se cê olha pra ele parece uma cobra, tem os olhão deste tamanho e o rabão, aí se for peçonha (venenoso) cê morre. A gente pensa que não? [...] os encante vem prá nós, se tem rio, eles te segue61.
O fenômeno da migração nordestina no Pará criou formas peculiares de adaptação entre
as terras paraenses e as sensibilidades de outrora, construindo conexões indissociáveis nas
representações campo-cidade62. A terra deixada para trás poderia ser um local de tormenta,
sofrimento e violência, ao mesmo tempo em que era transfigurada pelo poder da narrativa em
ambiente farto, com caça, pesca e felicidade. Esse mesmo olhar também construía uma
Amazônia de oportunidade/sobrevivência que se transformava em saudade/doença.
Desmontando sentidos da migração, Franciane Gama Lacerda define os estudos de
migração na Amazônia como um processo que não pode ser enclausurado nas motivações
econômicas (período gomífero) e fatores climáticos (seca). O estudo sobre as experiências
migratórias devem ser pensados tendo em vista histórias de vida, narrativas e sensibilidades dos
59 “Sucurijú”, “sucuri gigante”, “gigante da boa”, “anaconda”: expressão popular para descrever tipo colossal de serpente, uma sub-espécie do comum verde Sucuri (Eunectes murinus), mas algumas especulações científicas propõem que fosse um descendente do “gigantophis”, uma grande serpente do Eoceno. Algumas tribos da Amazônia descrevem à Sucurijú como serpente de 40 metros e equivalente a cinco toneladas, tido ainda nas religiões indígenas como criador do rio Amazonas, controlador dos rios onde habita. 60 Pacu é o nome dado a várias espécies de peixes caracídeos da subfamília Serrasalminae, que também inclui as piranhas. Típico da região amazônica pode chegar a 25 kg. Fonte: disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Sucuriju_Gigante. Acessado em 28 de Fevereiro de 2011. 61 Dona Ângela. Depoimento citado. 62 Sigo na esteira de WILLIAMS, 1989, Op. Cit., pp. 21-26.
37
sujeitos viajantes, deixa ver,
portanto, distanciamentos
familiares, possíveis conflitos,
desavenças como elementos de
igual relevância:
Não se pode pensar o processo de migração de nordestinos para a Amazônia de forma homogênea, mas dentro de sua pluralidade, percebendo-se, por exemplo, que tipo de atividade foi desenvolvida por esse migrante, em função dos espaços que ele ia ocupando, seja nos seringais, na capital paraense, os núcleos coloniais63.
Na dimensão da memória a natureza é plasmada: Entre Capanema e Luzilândia (cidade
natal de dona Ângela), a imagem dos rios interligava não apenas a memória das cidades, mas
tornara possível uma interpenetração dos cenários urbanos na identidade religiosa, onde os
encantados responsáveis pelo dom da reza acompanham/protegem os seus escolhidos, em sinal
de gratidão, as benzedeiras realizam oferendas para a Mãe d’água.
A viagem marítima, de homens e mulheres nordestinos, era acompanhada pelos
encantados da água, transitavam mares, rios, açudes, cacimbas e riachos com seus poderes, sinais
e aparições. A preocupação em descrever o papel de peixes, anfíbios e cobras existentes na vida
marinha, traduz a importância desses animais como capazes de alterar a dinâmica do cotidiano. O
elemento da água surge como o elo entre culturas distintas, cenário natural de mediações culturais
e trânsitos espirituais.
A multiplicidade de experiências das entrevistas reportava, muitas vezes, às dificuldades
econômicas mais básicas:
No tempo de menina que era [...] ia me embora vendê açaí. Mãe botava o cesto na minha cabeça, botava pra trás e pra frente, e ia me embora até outro lado da cidade até a praça São Sebastião. Ia com uma meninazinha (irmã) puxando nas beira da saia. E tem mais, se demorasse ainda apanhava, no tempo de uma cobra engoli a gente! Mais nós era danado demais... Não tinha um dia que não ia no rio banhá, era um gapozão (igarapé) era bem dizê um mar dentro da cidade [...] eita riozão! Ei tempo bom que não volta... Só saudade, só saudade. Quando o trem passava a gente corria pra esguetar, se pendurava mermo. A bicha (locomotiva) vinha devagar matando tchá, tchá, tchá [...] quando vinha o rabo dela nós subia (risos) ia se embora. Hum! Se mamãe sonhasse era peia pra ficá estirado no chão64
63 LACERDA, 2010, Op. Cit., pp. 73-74. A respeito do processo de ocupação portuguesa na Amazônia Colonial, vale a pena conferir CHAMBOULEYRON, Rafael. Povoamento, Ocupação e Agricultura na Amazônia Colonial. Belém: Ed. Açaí, 2010. 64 Entrevista realizada com dona Fátima, Outubro de 2010. Depoimento citado.
Fig. 08 – Identidades aquáticas: as encantarias sobrevivem nas águas do Rio Garrafão. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
38
O trabalho penoso,
responsável pelo sustento da
família era conciliado com as
formas de diversão, a
disciplina familiar
contrastava com a
possibilidade de aproveitar o
rio (Ouricuri) e passear
clandestinamente na
locomotiva. Nas lembranças
de infância da rezadeira
havia brincadeiras e “aventuras” que inspiram nostalgia; entrego para dona Fátima uma fotografia
do atual estado do rio Ouricuri. Ela olha fixamente para a imagem, aponta com o indicador e
questiona, “é isso aqui? Ele tá assim, é?” Balança a cabeça negativamente, esboça um sorriso
melancólico, comenta serenamente: “tá todo aterrado”65.
65 Pensamos a relação entre história e imagem “Sob esse aspecto, a própria fotografia integra um sistema sígnico não-verbal que pode ser compreendido através de um duplo ponto de vista: enquanto artefato produzido pelo homem e que possui uma existência autônoma como relíquia, lembrança etc.; enquanto mensagem que transmite significados relativos à própria composição da mensagem fotográfica” como assinala. CARDOSO, Ciro Flamarion & MAUAD, Ana Maria. História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 408. No cenário Amazônico temos PACHECO, 2006, Op. Cit., pp. 116-192.
Fig. 09 – Rio Ouricuri: Nas memórias de dona Fátima era um “mar na cidade”. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
39
Fig.10 – Embora muitos rios e lagos estejam desaparecendo pelo avanço desordenado do homem, furos, riachos, igarapés e açudes deixam marcas na geografia local (ver aspecto hídrico). Fonte: Prefeitura Municipal de Capanema, 2010.
40
Contar a história de
Capanema, na perspectiva das
rezadeiras é viajar no mundo da
oralidade, onde cada palavra é
um recomeçar, novos fazeres
interpretativos da memória. No
sentido de aguçar a memória,
dilatar imagens, visualizar sons,
odores e sentimentos,
apresentamos a essas mulheres
algumas fotos e imagens da
cidade, contrastando imagens
antigas e recentes. As memórias
passadas são reinventadas pelas
representações da vida na cidade
do presente. Em torno das
relações entre imagens e
memórias, seguimos as pistas
ampliadas por Pacheco66.
A relação entre oralidade e
fotografia torna possível a (re)
criação de vivências perdidas nas
memórias pessoais entre silêncios duradouros, esforços de rememoração de locais e pessoas. À
luz das imagens, impõem-se no “corpo-a-corpo” da entrevista a sensação de participarmos de um
“quebra-cabeças”. Senti a necessidade de ajustar datas, “tempos”, fazer associações para
recompor os históricos tempos das experiências sobre a cidade do passado, nas vozes presentes
das rezadeiras.
Dona Fátima reconstrói momentos da cidade:
66 Seguimos a estratégia metodológica adotada por Pacheco ao discutir as representações da cidade de Melgaço através do diálogo entre memória e fotografia, ampliando a concepção de que as estruturas imagéticas são documentos elaborados a partir dos significados, abrem novas dimensões para se pensar à fotografia enquanto monumento calcado no interior da memória. O desvelar desse debate é aprofundado na pena de PACHECO, Agenor Sarraf. Visualidades na voz: memórias, patrimônios e conflitos na Amazônia Marajoara. In: Anais do VIII Colóquio de História da Arte. Belém: UFPA, 2011, pp. 11-14.
Fig. 11 – A Praça dos Lions: com cesto de açaí na cabeça, dona Fátima cruzava a cidade na luta pela manutenção de suas necessidades materiais. Fonte: Acervo pessoal de Deyviane Pinheiro.
Fig. 12 – Foto atual da Praça dos Lions, hoje centro da cidade. Fonte: foto de pesquisa, 2010.
41
Fig. 14 – Foto da Av. João Paulo II (antiga Av. Presidente Médici): paraenses ou nordestinos? Os espaços da cidade são campos de batalha de apropriação memorial. Fonte: foto de pesquisa, 2010.
Olhe, o que eu tenho pra te contar é que aqui foi sofrimento, isso aqui era os trabalhador dos ramal (silêncio) essa criatura aqui eu conheço, era o neto de Aribá. Isso aqui era pessoal da prefeitura que limpavô, manda limpá tudo [...] esse home sofrêro muito, se perdiam nesse igapó [...] acho que era do Ceará, Maranhão, sei lá. Era tanto que tinha muita pensão na época – lá onde era o posto do Bila67 tinha uma pensão pros de fora. Isso na época que eu tinha dez anos. Era muito nego necessitado da seca, dava era pena, se o senhô visse o tamanho do flagelo, as pessoa iam chegando e se virando, nós fomo assim também (silêncio) nós sofremo muito nos trecho da caatinga pra cá, até folha comia68.
As lembranças pessoais
revelam os dramas e as péssimas
condições de vida de homens que,
através da força de trabalho,
“cortaram” a floresta abrindo
estradas e ramais do local. A ausência
de alimentação adequada e
equipamentos fizeram com que
muitos homens viessem a óbito
mediante aquisição de infecções ou
vítimas de animais peçonhentos.
A maioria dos migrantes
nordestinos foi empregada pela
prefeitura municipal com o objetivo
de trabalharem na abertura de ramais
e ruas, proporcionando o
significativo crescimento da cidade.
Dona Fátima é uma rezadeira
descendente de paraibanos, mas
nascida em Capanema, o que nos
leva a compreender que suas
narrativas sobre a vinda de migrantes
e locais de origem são experiências
transmitidas pelos mais velhos e
familiares – memória reportada – quando narra detalhes sobre o sofrimento até o Pará, apropria-
se e reproduz como fatos vivenciados. 67 Posto de combustível Guajará, localizado na Av. Barão de Capanema, centro. 68 Depoimento citado, dona Fátima.
Fig. 13 – para dona Fátima os nordestinos foram os verdadeiros construtores de Capanema. Fonte: Acervo pessoal de Deyviane Pinheiro.
42
Fig. 15 – Antiga Igreja Matriz na década de 1960: imagens do sagrado, memórias que evocam cenas de violência e medo. Fonte: Acervo pessoal de Deyviane Pinheiro.
Fig. 16 – Imagem aérea da Igreja Matriz no centro da cidade. Símbolo da influência religiosa do catolicismo romano, palco das festividades religiosas e missas campais no retorno de procissões. Na parte superior da foto temos a “praça da matriz” com o monumento ao famoso sacerdote Frei Hermes Recannati. Fonte: álbum de Pedro Almeida, 2010.
O discurso que explora os
benefícios da migração nordestina
não é hegemônico. Tanto
rezadeiras migrantes como filhas
de famílias paraenses pontuam o
aumento da violência e
criminalidade como provenientes
de “brabos”69 nordestinos.
Dona Maria das Dores é
uma rezadeira filha de paraense
que lança olhar diferenciado sobre
a presença e as representações do
nordestino na cidade:
Naquele arraial de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Matriz, tinha época que era um inferno mermo, sabe? Que Deus me perdoe, mas os ceará70 inventavo de beber. Hum! Bebio né? Iam bebendo, bebendo... Quando dava fé a disgraça tava feita. Nessa época ainda era a matriz antiga, ainda era na peixeira, os cabra enrolavo os bigode mermo a gente via sangue mermo [...] – tempo sem lei – mas depois veio os gatilho (arma de fogo), foi o tempo dos pistoleiro [...] Se não fosse eles (nordestinos) não tinha morte matada aqui não71. Além de espaço de
manifestação do sagrado, a festa
religiosa desdobrava outras
facetas: consumo, entretenimento,
afirmação de status político e
outras formas de sociabilidade.
Ao mostrar a foto relativa ao
69 Expressão utilizada na cidade pelos mais idosos para designar as famílias nordestinas que migrando para Capanema, desenvolveram atividades criminosas, associadas à violência e pistolagem – uso ilícito de arma de fogo para transgredir leis e amedrontar populares. Durante muitos anos a cidade terá no imaginário bragantino a imagem de cidade “mafiosa” e “violenta”, felizmente nos últimos vinte anos a referência tem diminuído. 70 Forma para designar genericamente migrantes nordestinos. 71 Maria das Dores, depoimento citado.
43
arraial de Igreja Matriz, a benzedeira, olha para a foto, desvia olhar rapidamente e por várias vezes
franzi72 a testa, balança a cabeça, estica os lábios; os momentos de hesitação da narradora
bastavam para notar o clima de medo vivido. A narrativa de Maria das Dores encontra
ressonância nas memórias de dona Deuza Rabêlo, havia um tempo da violência das “peixeiras” e
“a época dos pistoleiros”:
Num viu! O pessoal que vem da baixa da égua, chovendo, chegar aqui nesse lugar, porque (inaudível) os cearense, os paraibano. Eles vem só fazer o mal, paraibano é uma praga, vêm fazer mal. Não, quando eu cheguei aqui num demorou chegou primeiro um, chegou um casal, depois veio chegando, chegando e chegou foi muito. Eles eram tudo pobrezinho73. Depois os homem enricaram, num sei nem como foi que eles enricaram tão rápido e teve outros que enterravo muita gente nos mato e nos rio. A gente só ficava trancado em casa, ouvindo os grito e brechando nas tauba (tábua) da porta, ninguém falava nada e até hoje não fala, os homem chegavô em casa e era só silêncio, mas nós sabia de qualquer jeito. Agora na época da bala de fogo é que era74.
Durante a madrugada, os ramais, estradas, botecos, cabarés e festas eram o cenário onde a
violência emergia, chegando até essas mulheres pelo ouvir da vizinhança, nos rumores da
mercearia e círculos de oração do fim de tarde. Apesar de excluídas, de parte, da vida noturna da
cidade, criavam formas de leituras baseadas em silêncios, climas e olhares, conseguindo registrar,
na memória, mensagens de sangue e lágrimas.
A prosperidade material de alguns migrantes desperta na população local um sentimento
de revolta, atribuíam genericamente práticas criminosas ao enriquecimento das famílias recém
chegadas. Há relatos que minimizam a relação entre migração nordestina e violência. Dona
Fátima partilha desse olhar:
Do começo mermo era mais nordestino, quase não tinha paraense, eles só começaram a vir pra cá depois que o negócio foi crescendo. Aqui era quase tudo nordestino, sabe? Maranhense, cearense, pernambucano, piauiense e por aí vai [...] as família brigavam, né? Mas era família daqui mermo, uma queria terra da outra, então era bala e faca, no sábado e domingo era sagrado! Toda vez tinha notícia de um furado no bucho, não tinha um que livrasse. Isso tudo no antigo mercado. Lá os colônio (colonos-proprietários de terra) vinha toma garapa (caldo de cana-de-açúcar), no correr das prosa era certo! Nordestino também mata e rouba como todo mundo debaixo do céu, mas tem muita lacoera75 quando falo de nós76.
A luta pela posse de terra, as rixas de família e o excesso de álcool são os responsáveis
pela violência, ao contrário de outras narrativas, a presença nordestina fez a prosperidade local,
desenvolvendo o comércio e demais serviços. Ao desfazer a relação de violência atribuída aos
72 Expressão facial. 73 A pedido da entrevistada retiramos trechos, referências a nome de locais e pessoas. 74 Dona Deuza, depoimento citado. 75 Grito, barulho desordenado, alarde desnecessário. 76 Dona Fátima, depoimento citado.
44
Fig. 17 – Dona Fátima vê o antigo mercado (década de 1960) como local de “acerto de contas” entre os comerciantes locais. Fonte: Acervo pessoal de Deyviane Pinheiro.
nordestinos, enfatiza o aumento
populacional como explicação
para o crescente enriquecimento
das famílias migrantes.
A pesquisa realizada por
Lacerda aponta que, em muitos
casos, os migrantes mantinham
correspondência com seus
familiares no nordeste,
descrevendo o modo de vida,
natureza, costumes e tradições,
fato que levou alguns migrantes bem sucedidos a estimularem a vinda de familiares e amigos para
a “nova terra”77 aumentando gradativamente a população nordestina.
Dona Fátima aponta, veementemente, para a foto do antigo mercado, eleva o tom de voz:
“Aqui ó, nessa rua era todo sábado um estirado ou de ferro ou fogo ou do Ceará ou daqui, é uma
coisa só”. A violência não seria manifestação de “brabeza” ou “gênio”, mas de conflitos sociais
tanto das famílias nativas quanto das nordestinas.
As benzedeiras constroem suas narrativas dialogando tematicamente com o surgimento
da cidade, os processos migratórios e as formas sangrentas e silenciadas de violência, impregnam
as vivências de infância, memórias familiares e sentidos religiosos diversos.
Temos a cidade construída através dos feixes narrativos e imagéticos78 das mulheres
rezadeiras, não um olhar sobre Capanema do passado, mas a rememoração/reinterpretação
presente, atual e inédita dos olhares79.
Dona Deuza Rabêlo assinala: Essa cidade é “azalada” mesmo, né? O nome já diz (risos), agora os índio do passado não conseguiam vivê direito, imagina nós, é por isso que o povo criou essa chacota daqui, ninguém deixa ninguém crescer. Agora eles (nordestinos) falam que aqui é do azar, mas eles não volto praquelas disgraça não, né? Uhum!
77 LACERDA, 2010, Op. Cit., pp. 183-189. 78 Sinalizamos a forma como as identidades produzem cenários imagéticos no viver urbano de Belém na pesquisa de SILVA, Marcos Alexandre Pimentel. A cidade vista através do porto: múltiplas identidades urbanas e imagem da cidade na orla fluvial de Belém-PA. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. UFPA. Belém, 2006, pp. 69-77. 79 “Há a impossibilidade de falar de um fato sem incluí-lo numa trama, que não é necessariamente apenas uma ordem cronológica, mas também uma ordem de níveis. É a trama que define a pertinência das inclusões e das exclusões: na realidade, poderíamos dizer que não existe discurso sobre os fatos e sim discursos sobre (das) tramas”. Cf. SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: intelectuais, arte e meios de comunicação. Trad. De Rúbia Prates e Sérgio Molina. São Paulo: EDUSP, 1997, p. 77.
45
Durante décadas, o
significado do nome da cidade
tem sido alvo de inúmeras
controvérsias. Com o passar do
tempo, a discussão simples e
despretensiosa adquiriu ares e
tonalidade política80.
Embora o monumento
mencione Guilherme Schuch
como fundador da cidade, não há
registros de passagem do Barão
no Estado do Pará. A inscrição que menciona o ano de 1904 não guarda relação alguma com
fatos ou documentos da história da cidade ou de seu pretenso fundador.
Monumentos, estátuas, coretos e ruas revelam uma tentativa de construir uma história
local diversa, criada na perspectiva do poder público, elites políticas e interesses particulares,
ignorando as pessoas “comuns” que povoaram e trabalharam no exercício do “fazer-se” citadino.
Esses homens e mulheres ao narrarem suas percepções e vivências quebram silêncios e teimam
em contar outras histórias da urbe. Estamos em harmonia com Mattos ao direcionar nosso olhar
para as tramas das experiências cotidianas, ampliando abordagem metodológica no sentido de
tentar compreender os múltiplos locais da construção histórica das imagens citadinas81.
80 Capanema significa mato imprestável. Sm. (Tupi, Kaá panéma) os indígenas utilizavam o termo para indicar o local onde a caça e a oferta da natureza era mágica ou encantada, isto é, dependia das divindades indígenas e/ou encantarias. Embora a terminologia indígena evoque locais semelhantes a caça, pesca e agricultura eram promissoras e não tinham designação local. Na verdade o nome da cidade é uma homenagem à Guilherme Schüch, posteriormente Guilherme Capanema, primeiro e único barão de Capanema, (Ouro Preto, 17 de janeiro de 1824 — Rio de Janeiro, 28 de julho de 1908) foi um naturalista, engenheiro e físico brasileiro, responsável pela instalação da primeira linha telegráfica do Brasil. Na passagem do século XIX para o XX um grupo de técnicos veio para a região instalar a rede telegráfica Maranhão-Pará, durante o período as pessoas se referiam ao local onde os trabalhadores estavam de Capanema. Com o passar dos anos a nomenclatura foi se firmando como topônimo da cidade. Oficialmente temos a Av. Barão de Capanema como homenagem a Guilherme Schuch. A palavra Capanema foi adotada no pelo Barão em homenagem a uma serra, nas proximidades de Ouro Preto onde havia nascido. Cf. SOUZA, 2010, Op. Cit., pp. 32,35. IBGE. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Sch%C3%BCch. Acessado em 04/02/2011. Algumas informações foram adquiridas com José Firmino, ex-morador de Capanema, atualmente em Bragança, entrevista realizada em 14-06-2010. 81 “A descoberta de temporalidades heterogêneas, ritmos desconexos, tempos fragmentados e descontinuidades, descortinando o tempo imutável e repetitivo ligado aos hábitos, mas também ao tempo criador, dinâmico e das inovações, focalizando o relativo, a multiplicidade de durações que convivem entre si urdidas na trama histórica. As nuanças, as tendências, os movimentos passaram a ocupar a atenção dos historiadores, em lugar da certeza de fatos cronológicos e periodizações especificas”. MATOS, Maria Izilda Santos. “Cotidiano e Cidade”. In: Cotidiano e cultura: história, cidade a trabalho. Bauru. SP: EDUSC, 2002, pp. 29-30.
Fig. 18 – Monumento ao personagem que dá nome à cidade, localizada na Av. Barão de Capanema, centro. Fonte: foto da pesquisa, 2011
46
Lembrar como palavras, imagens e cores são formas contínuas de (re) apropriação na
eterna ciranda da história e as lutas travadas no horizonte das sensibilidades, representam formas
de afirmação identitária, sobrevivência e direito à memória82.
Em conversa informal, algumas pessoas sugeriram que a associação ao termo “mato
azarado” deveu-se a insatisfação política da população na década de cinquenta, quando alguns
políticos instruídos descobriram o significado tupi da cidade, provocando a fúria dos poderes
instituídos locais. A propagação desse significado entre a população teria sido rápida, mas o uso
político da expressão alcançou debates ácidos em comícios nas eleições municipais, como nas
expressões “vamos acabar com a maldição do azar em nossa cidade”.
A professora aposentada Benedita Silva observa a foto do monumento ao Barão de
Capanema (fig. 18), esboça um sorriso prolongado, mas repleto de ironia e revolta, sugerindo os
“erros” da história local:
As coisas não mudam, o povo ainda é ensinado pelos políticos despreparados da cidade. Olhe meu filho, não é só o monumento que não diz nada, é tudo... Toda nossa história, pessoas importantes, grandes feitos. Eu digo em segredo por aí que Capanema ainda não foi descoberta (risos), ela não existe por que tudo isso é uma invenção (risos), coisa de quem não presta atenção na vida83.
O tom crítico e a insatisfação diante dos problemas sociais que afetam a cidade trazem, à
tona, a percepção de que o povo é uma massa de manobra, inerte, moldável e alienada, o que
reduz a perspectiva de mudança nas palavras da professora.
No entanto, as narrativas das rezadeiras são um exemplo de que pessoas de vários grupos
e segmentos sociais são capazes de não, apenas, perceberem as desigualdades e sofrimentos, mas
também de criarem formas de resistência, estratégias de negociação, burlando/invertendo
linguagens e práticas do poder instituído.
A rezadeira Maria das Dores desenvolve lógica semelhante quando se lembra das praças e
locais de diversão. De posse das fotos antigas passa a mão lentamente na fotografia da Praça
Magalhães Barata e conforme narra, aproxima a imagem da face.
É, tá vendo esse campo aí, pois é! O pobre brincavo muito nele, essa era festa de fim de tarde – essa zoeira doida não tinha de noite não! Não tinha luz, né? (risos) – os rapaz jogavo bola e nós ia andar, nesse tempo só tinha isso mesmo. Mas não durou muito não, o governo da cidade proibiu a pelada [...] era uma confusão só! Eles brincavo assim mesmo, aí dava polícia e era aquela correria. Sempre foi assim, né? Os barão (ricos) expulso os pobre84.
82 Na historiografia paraense temos o clássico trabalho do pesquisador Geraldo Coelho onde discute as implicações, contexto e idéias das visualidades urbanas no cenário do republicanismo paraense. Para saber mais. Cf. COELHO, Geraldo Mártires. No coração do povo: o monumento à república em Belém (1891-1897). Belém: Paka-Tatu, 2002. 83 Entrevista realizada com Benedita Silva em 06-03-2010. Atendendo ao pedido da entrevistada, utilizamos pseudônimo. Depoimento citado. 84 Maria das Dores. Depoimento citado.
47
Esta moradora guarda na memória como os conflitos e desigualdades sociais surgem nos
locais de diversão e sociabilidade, evidencia ainda a forma como o poder público (prefeitura,
polícia) estavam atrelados aos favores das elites locais.
O monumento ao Barão de
Capanema e os símbolos imposto
pelo poder público são
substituídos por outros sujeitos,
no imaginário construído pelas
rezadeiras. Um deles gira em
torno do sacerdote capuchinho
Frei Hermes Recanati85. No
primeiro momento, a memória
das benzedeiras versa sobre
episódios relativos à disciplina,
obediência e controle moral
defendida pelo padre capuchinho,
em seguida, vem, à tona, a
identidade de um homem
representado pelas curandeiras
como “padre rezador-curador”.
Não! Ele era assim, se você chegasse com decote e bainha alta na saia era melhor nem entrá na Igreja, era só passar vergonha. Namoro por trás da Igreja ele ralha (repreende) também (risos). Tinha época que andava com corda da batina só pra dá cipuada em quem tivesse com safadeza atrás da Igreja [...] se tivesse marido querendo casar de novo
85 Frei Hermes de Recanati (1915-1993) nasceu em Spirano, Itália. Chegou ao Brasil em 1946 destinado a função de desobrigante em Abaetetuba e Igarapé mirim, depois de idas e vindas entre o Pará e Maranhão retorna em 1964 como pároco interino de Capanema, assumindo no fim da década de 1960 papel representativo na liderança da Igreja Católica na cidade até sua morte no dia 15 de maio de 1993. Há vários relatos orais dos moradores de Capanema que descrevem atos heróicos, milagres, poderes sobrenaturais e controversos sobre o sacerdote. Nesse trabalho, no entanto, elencamos alguns depoimentos relacionados às vozes das mulheres rezadeiras, em particular. Fonte: Necrológico dos Frades menores capuchinhos da província do Maranhão – Pará – Amapá (1892-2001). Frei Dourival Ribeiro Miranda. Ministro provincial, OFM – cap.
Fig. 19 – Maria das Dores tem consciência de que qualquer espaço é local de conflito. À esquerda as traves do campo de futebol, a diversão estava cancelada. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
Fig. 20 – Atual Praça Magalhães Barata. Fonte: foto de pesquisa, 2010.
48
(divórcio) ele ia era lá resolvê tudo. Não tinha medo de nada não 86.
O controle moral, em especial, relativo à temática da sexualidade evidencia a autoridade
conferida ao sacerdote para intervir e punir vários sujeitos transgressores da postura cristã
ortodoxa. A imagem do religioso, com uma corda agredindo os jovens enamorados
publicamente, evoca a função/imagem paterna consolidada no imaginário católico. Exerce o
poder de intervir para além dos muros da Igreja sua influência nos espaços de domínio político,
empresarial e familiar. No cenário de medo, insegurança e violência narrado pelas entrevistadas,
emerge a figura de Frei Hermes como o único que teve coragem de enfrentar criminosos e
baderneiros locais.
Essa eu vi! Sim, senhor! Era lá na matriz no arraial de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro [...] tinha uns cabra fazendo arruaça lá que não tinha quem pudesse. Nem prefeito, vereador, delegado... Ninguém! Nesse dia, Frei Hermes chegou e mandou ele embora, eles bateram boca, e no final da briga o pistoleiro disse que não ia brigar com o frei porque não batia em homem de saia [...] o frei disse na hora: “é, né? Pois tome cuidado que pode ser a última vez que tá apontando esse dedo pra mim”. Assim que o frei calou o home foi pegá uma celveja no bar, pego o sopro da friagem teve um dirrame (derrame) e ficou torto a vida toda, justamente na parte do corpo que apontou pro Frei Hermes. Vê a Gaúcha! O senhor lembra? Foro quebrá a quaresma, ele bem que avisou “onde Deus não tá o diabo tá” [...] lugá que não abre até hoje. Depois que viram o diabão dançando. Aí foi aquela correria (risos) disque ele dançava era se arrastando no chão, parecia uma cobra e tinha os olhos de fogo avermelhado, num instante soubero ir pra casa [...]87.
A incapacidade do poder público no combate a violência denota como essas mulheres
não alimentavam expectativa de serem assistidas pelas autoridades locais (prefeito, vereador, juiz
e, delegado). Frei Hermes, na ótica das benzedeiras, é instituído como protetor da cidade, homem
revestido de poderes sobrenaturais para punir os violentos e descrentes. Dona Ângela narra um
episódio extremamente lembrado e revivido pela população. Em algumas cidades do interior a
suspensão de festas/eventos durante a quaresma era uma prática tradicional, no caso de
Capanema, Frei Hermes criticava publicamente, no altar da Igreja, os insistentes. Ao ser
contrariado, recorre ao discurso demonizador, lança maldições, profere blasfêmias como uma
forma de atemorizar os desobedientes.
No final da década de 1980, a danceteria “Gaúcha” representava o local predileto da
juventude na busca de entretenimento. O fato narrado por dona Ângela refere-se à realização de
uma festa, na quaresma. Na missa da tarde, o frei capuchinho sentencia a presença do diabo no
salão de dança e a falência comercial do proprietário. A memória da benzedeira tem conexão a
dezenas de versões, leituras confirmando o desfecho do acontecimento.
86 Dona Fátima, depoimento citado. 87 Dona Ângela, depoimento citado.
49
Notamos a importância da figura
do padre, no esforço e intensidade da
narrativa na voz de outra depoente. As
palavras de dona Maria das Dores
buscam, na entonação da voz, nas
exclamações sucessivas e no levantar dos
braços, exaltar o poder pastoral, daquela
autoridade religiosa, numa verdadeira
“dança” performática que atinge o auge
ao descrever sua capacidade de rezar e
dominar os espíritos:
Vou lhe dizer que Frei Hermes foi o maior rezador de Capanema, ninguém lembra disso mais eu sei. Quando tinha doença estranha podia levar que ele rezava e já era. Tinha um menino de seis ano que foi batizá e nesse dia ele ficou atuado na Igreja. Ele segurava as coluna parecia bicho preguiça em pé de pau [...] era bem uns três home prá segurá e não saía. As coisa não querio batizá ele não. Ele [Frei Hermes] veio de lá com raiva
mesmo, sabe? Zangado, falou umas rezas que eu nunca ouvi! Falava umas língua estranha [...] mas o menino foi folgando, folgando... Até sair de vez. Tem uma professora aqui perto que sofria com sapo de boca costurado que amanhecia no pátio [...] dizem que quando foi visitar a professora ele não contou conversa, entrou no quarto, pegou uma boneca recebida pela filha dela de natal e tocou fogo no terreiro e rezava [...] “o diabo morava na boneca”, ele disse. A última que ouvi foi de uma menina pras banda do campinho que se atuava e quebrava copo, colocava pedra nas panela de casa sem abrir a tampa [...] Frei Hermes foi lá, chamou a menina segurada pelo pai e haja a menina caí no chão, rolava e brigava com ele falando outras língua também [...] eles passaro foi hora falando nessas língua, até que foi se acalmando, acalmando até saire da menina88
O imaginário construído pelas rezadeiras evoca a figura de Frei Hermes como um padre
rezador-curador que tem o poder de, através da palavra oral, esconjurar, amaldiçoar, descobrir
segredos contra feitiços. O ato de controlar espíritos, “domar” possessões, falar na língua dos
espíritos ou mortos faz com que pensemos na representação de um padre com as características
de um xamã. A identificação das mulheres benzedeiras com Frei Hermes, pode ser entendida pela
forma surpreendente com que o padre vivenciava experiências que se aproximavam da
cosmologia dos encantados.
88 Maria das Dores, depoimento citado.
Fig. 21 – Frei Hermes Recanati. No imaginário das rezadeiras o poder pastoral (sacerdócio católico) e a mística xamãnica sintetizam o viver-fazer urbano múltiplo e complexo na urbe amazônica. Fonte: álbum de Jerônimo Silva.
50
No próximo tópico,
discutiremos as narradoras e suas
identidades para entender como
suas experiências identitárias são
articuladas no território da
movência campo-cidade. Essas
mulheres ao operarem mudanças
nos espaços afetam sentidos,
costumes e crenças da cidade,
assim como sofrem as influências
dos novos modos de vida ali em
expansão.
1.1 - Narradoras de sentidos, intérpretes da Amazônia. Percorrer as histórias de vida de dona Fátima, dona Ângela, dona Deuza, dona Maria das
Dores e dona Esther, significa recompor sentidos e fazeres do cotidiano dessas pessoas e, através
de suas narrativas, acompanhá-las nas lembranças de infância, experiências familiares, dores e
alegrias, expressas sob a ótica do tempo presente.
Verificaremos a construção de suas identidades em diálogo com as experiências parentais,
percorrendo as trocas nos espaços de sociabilidade, onde as representações das cartografias
imaginárias urbanas rurais ou em ruas, construções, festas, nas relações com animais e rios,
materializam significados e sentidos de suas experiências.
As suas narrativas orais externalizavam os caminhos das identidades tecidas pela memória
de lugares percorridos. Mulheres viajantes, que migraram do nordeste, motivadas pela busca de
melhores condições de vida, para fugir da seca ou por fatores diversos. Nessas andanças,
acumularam experiências, saberes e dores, forjando suas visões de mundo através de encontros
entre as crenças do catolicismo popular e o universo das encantarias.
Dessa forma, essas mulheres são sujeitos históricos, que no seu deslocamento para o
nordeste do Pará, fizeram parte de uma história de migração, sofrimento, violência e aventura.
Nas bagagens e experiências de sua odisséia, trouxeram os seus encantados, com suas linhas,
formas de atuação, manifestação e saberes de cura.
Fig. 22 – Monumento erguido em homenagem a frei Hermes Recanati. Assim como as rezadeiras, outros grupos sociais (re) significam o espaço em que vivem como tática de resistência e afirmação identitária. Fonte: foto da pesquisa, 2011.
51
Nessas viagens as entidades das encantarias metamorfoseiam-se, mesclam-se e dão novos
significados aos espaços e habitações da natureza e dos homens. A criação dessa nova linguagem,
expressa os sentidos que a vida apresenta diante dos dilemas da realidade citadina.
Os tópicos a seguir buscam contextualizar nas narrativas da benzedeira, o percurso até a
cidade de Capanema, bem como, as formas de adaptação que possibilitaram o acúmulo de
saberes baseados nas dinâmicas do ouvir e do falar.
Nos depoimentos, notamos o ambiente dessas mulheres, suas condições de vida, o estado
de espírito e as expressões corporais no momento da entrevista. Interpretamos o momento da
narração como territórios de ordenação das memórias, dos sentidos, percepções e justificativas
do agir.
1.2 - Dona Fátima: “Doença que Doutor não cura”.
No dia 25 de Fevereiro de 2010, por indicação de pessoas conhecidas, fui à residência de
Dona Fátima, na Avenida Barão de Capanema, espaço considerado privilegiado, próximo ao
Terminal Rodoviário Interno, o conhecido “Terminalzinho”. Sua casa é de alvenaria, de tamanho
médio, com três quartos, uma sala de estar e uma cozinha. Naquele mesmo cenário, funciona
uma borracharia, administrada pelos filhos, sob a presença constante de netos e bisnetos.
O local torna-se um pouco abafado, destoa das convenções de uma típica residência, pois
as relações de convivência mesclam o ambiente de trabalho com o local de moradia. Nessas
circunstâncias, o diálogo na parte interna da casa, às vezes confunde-se com a fala, as piadas dos
borracheiros e clientes, trata-se, portanto de espaço composto por múltiplas sociabilidades.
A primeira vez que ouvi falar sobre dona Fátima, foi na sala de professores da Escola S.
Pio X, local onde leciono. Lá, comentei sobre a perspectiva do meu projeto de dissertação, de
imediato alguns colegas falaram sobre a entrevistada. Disseram que no passado, era uma rezadeira
muito boa, mas que hoje em dia não rezava mais, sendo inclusive um pouco grosseira com os
insistentes. “Parou de rezar, por causa da língua do povo, que diziam que ela era macumbeira”,
argumentou uma professora. Anotei seu nome e endereço, depois de alguns dias, preparei-me
para conversar com dona Fátima.
Estacionei o carro próximo a sua casa, atraindo atenção dos borracheiros, que pensavam
que o meu veículo estava com problemas. Cumprimentei um dos funcionários, pedi para falar
com dona Fátima, fui conduzido à sala de estar, local, aproximadamente de três metros
quadrados, telhado baixo, dois sofás confortáveis, estante com televisão e muitos... Muitos
52
bibelôs, com calendários de santos e imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Esperei durante uns
quinze minutos, ouvi uma voz da cozinha, dizendo: “já vai... Só um minutinho seu moço!”. Sem
demora surge dona Fátima, uma senhora de 65 anos, branca, alta, forte e com fala firme.
Apresentou-se com um vestido longo, um pouco molhado e um cheiro de sabão em pó,
pediu desculpas, pois estava lavando roupa, sentou-se do meu lado e perguntou: “Pois não?! O
que, que o senhor quer comigo?”.
Expliquei que era professor e que estava fazendo um trabalho sobre mulheres que
rezavam. Interrompeu-me bruscamente: “Olhe professor, eu não tenho nada pra dizer não,
minha vida todo mundo sabe (silêncio), quem mandou o senhor aqui?”89. Após inúmeras
explicações os ânimos arrefeceram, manteve o olhar altivo dos pés à cabeça, parecendo julgar e
ler minhas posturas corporais.
Estávamos calados, mas a sala continuava com muito barulho, os equipamentos da
borracharia e as conversas do lado de fora contrastavam com o nosso silêncio. Ela me disse não ter
muito a contar, e estava com pouco tempo. Por isso, ia me responder algumas dúvidas, mas nada
de demorado. Perguntei se podia voltar depois, ela fez sinal negativo com a cabeça, disse:
“Melhor não...”. Resolvi então aproveitar a “meia horinha”, que tinha me oferecido. Inicialmente
a entrevista com dona Fátima estava um pouco tensa. Como é possível constatar acima,
alimentava receio diante da imagem negativa que teria a seu respeito.
Ameaçada, utilizou o silêncio e com relutância escapou para outros assuntos
aparentemente sem importância, como estratégia de defesa. Em contrapartida, mantive o
respeito, convertendo o silêncio como parte da narrativa. Portelli postula a entrevista como uma
relação, uma troca de experiências, onde o historiador não está apenas ouvindo, aprendendo a ouvir
através do ambiente causado pelas vozes silenciosas90.
Dona Fátima esperou apenas pelas primeiras perguntas, depois, começou a falar
aleatoriamente sobre vários assuntos. Tentei ordenar, sequenciar por meio de perguntas, mas
ignorando a maior parte das intervenções, narrou como se estivesse “descarregando” situações,
experiências. A partir do estreitamento dos laços de confiança e respeito o tear mnemônico fora
acionado.
A proximidade imediata de dona Fátima com o álbum de fotografia, favoreceu o
desenvolvimento da entrevista. Inicialmente, falava mecanicamente, apenas observando as fotos,
89 Dona Fátima acredita que tem sido vítima de calúnia e perseguição, atribui estes fatos a pessoas especificas, inimigos pessoais – como descrevera no decorrer da entrevista – indivíduos que teriam inveja e raiva do seu dom. 90 Ver PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na História Oral. In: Proj. História 15. São Paulo: EDUC, Abril/1997, p. 22.
53
mas a partir do instante em que as
narrativas eram entrelaçadas com
as imagens a conversa flui
espontaneamente.
Uma das fotos chama a
atenção da rezadeira pela
referência ao local onde a parteira
de sua família vivera.
Olha essa aqui! Eu sei onde é isso, aqui é a barão de Capanema, mas não o centro, isso aqui é pra lá do matadouro, no rumo de (município) Peixe-Boi. Olha [...] onde tem esse coqueiro era onde vivia dona Rosinha. Maranhense danada de parteira boa, fez a parição (parto) de nós tudo de casa. Gente novo é forte, né? Nós andava isso tudo, e nem sentia (risos), menino é bicho doido mermo, né?91
Importante o diálogo que a
História Oral estabelece com a
pessoalidade da narrativa, ao
mesmo tempo, em que o local, o
ambiente e as relações sociais do
tempo presente transitam pelos
elementos constitutivos da
memória. Pensamos não apenas
no conteúdo, mas no estilo, na
forma como a entrevistada narra,
extravasando os sentimentos
contidos, entendendo o diálogo
como a possibilidade de “direito de escuta”, ou, como mecanismo de liberação das lembranças
pessoais. Nesse sentido Thomson nos ajuda a entender a narrativa como o momento onde o
narrador é capaz de “expressar e lidar com suas lembranças dolorosas a até mesmo dar um novo
sentido às velhas histórias”92.
91 Dona Fátima, depoimento citado. 92 THOMSON, Alistair. Recompondo a Memória: questões sobre a relação entre a História Oral e as memórias. In: Proj. História 15. São Paulo. EDUC, Abril/1997, p. 63.
Fig. 23 – As parteiras foram responsáveis pela cena da cura na cidade: os coqueiros (superior esquerda) indicam a casa de uma das maiores parteiras de Capanema, dona Rosinha. Fonte: Arquivo de Deyviane Pinheiro.
Fig. 24 – O local onde a famosa parteira Rosinha morava não está mais associada aos trilhos da estrada de ferro. Hoje denominado de Areia Branca. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
54
Passei então a ouvir e, quando possível, perguntar, questionar ou reforçar algumas
questões. Espontaneamente, a rezadeira falou:
Professor, num acredito muito nessas reza que faço não, sabe!? Faço porque pedem, mas num levo muito a sério não (riso), sou católica, sirvo a Deus, acredito nos santos, principalmente Nossa Senhora de Nazaré. Acho que esse mundo é só ilusão, o mundo de verdade mermo é o espiritual, por isso me apego em Deus. Sabe, eu num curo, não faço nada, é Deus que faz. Eu falo pro povo que bate na minha porta: Vô rezá, se der certo bem, se não... Fazer o quê, né? Outra coisa, não incorporo espírito, nem caboco, e oiara, não tomo cachaça nem faço adivinhação93.
A relação entre a narrativa do passado e as angústias do presente é articulada pelo aspecto
social da memória, ou seja, mesmo que a memória seja originária do passado, pode ser modelada
tendo em vista a interação e os conflitos no horizonte social do presente:
Se considerarmos a memória um processo e não um depósito de dados, poderemos constatar que, à semelhança da linguagem, a memória é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas. A memória é um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas94.
Outro aspecto, é a atribuição da vontade dos pacientes95 que a procuram, alega ser o povo
que procura suas rezas, e por isso as realiza. Reporta essencialmente ao coletivo sua função ou
atividade pessoal e religiosa, assumindo uma posição que busca eximir as responsabilidades na
arte da cura, especialmente ao se tratar de seus possíveis fracassos.
Posteriormente, visibiliza com qual identidade opera no presente, atribuindo-se serva de
Deus, deposita sua fé nos Santos e, principalmente, em Nossa Senhora. De fato, olhando para o
interior da casa, não havia como negar: santos, imagens, quadros, terços, bíblias, enfim, o
ambiente por si só era uma afirmação imagética identitária, deixando ver como a sua vida está
ancorada no catolicismo.
Deste modo, dona Fátima assume a identidade de uma mulher que não leva muito a sério
o poder que dizem ter a sua reza, vivendo em um ambiente cercado pelas divindades do
catolicismo popular (Deus, Santos e Nossa Senhora de Nazaré). Tem uma compreensão do
mundo terreno cristã, ao afirma que: “Acho que esse mundo é só ilusão, o mundo de verdade
mermo é o espiritual, por isso me apego em Deus”. Quer dizer, além de atribuir ao mundo
material, físico, um tom de transitoriedade, algo passageiro e sem importância, pois a verdade, o
mundo da realidade é o espiritual, católico, também pretende demonstrar uma desqualificação do
93 Dona Esther, depoimento citado. 94 PORTELLI, 1997, Op. Cit., p.16. 95 Termo utilizado especificamente por dona Fátima, para designar as pessoas que buscavam suas rezas e remédios.
55
mundo das encantarias. Sempre temendo estar associada a essas práticas, adota a estratégia de ser
uma pessoa voltada para a espiritualidade cristã.
Vale lembrar, as contribuições de De Certeau, no que tange às estratégias e movências do
discurso identitário, em especial, à relação social entre a verdade e as formas como perpassam o
movimento das alteridades:
A atenção volta-se, hoje, para os movimentos populares que tentam instaurar ou restaurar uma rede de relações sociais necessárias à existência de uma comunidade e que reagem contra a perda do direito mais fundamental, o direito de um grupo social formular, ele próprio, seus quadros de referência e seus modelos de comportamento96.
Sabendo que a maioria dos moradores da cidade comenta sobre a fama de “macumbeira”,
adota uma postura defensiva, como parte da tática, isto é, constrói a perspectiva de que a sua
identidade é produto da vontade do povo, configurando toda sua condição ao elemento coletivo,
esvaziando – temporariamente – a persona do sujeito individual. Importante lembrar a reflexão
dos conceitos de indivíduo, coletivo e as nuances que podem ter nos debates histórico-
antropológicos97.
Além de relacionar a sua reza à presença do povo na porta de casa, sustenta que não pode
fazer nada, pois a cura vem de Deus. Trata-se de um papel social que recorre ao argumento da
vocação divina, portanto transcende suas possibilidades. Aparentemente, a rezadeira atribui certa
trivialidade, quando diz que fala para as pessoas, que vai rezar, mas se não der certo não pode
fazer nada. No decorrer do texto esclarecemos como esses elementos vão adquirir múltiplas
feições nas suas vozes.
A identidade é composta não apenas por aquilo que dizemos que somos, mas também
pelo que dizemos não ser – pela negação –, e pelo que os outros dizem que somos. Por isso, a
negação do que não somos ou não queremos ser, é uma afirmação identitária, é um consigo
mesmo. Entrelaçados nas reflexões de Thomson, vemos que o manuseio estratégico da memória,
depende do contexto presente do narrador.
96 A respeito das estratégias e movências do discurso identitário, e a relação social entre a verdade e alteridade, vale conferir. DE CERTEAU, Michel. A cultura no plural. Tradução Enid Abreu Dobránszky. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 39. 97 O fato de a entrevistada recorrer ao argumento da transitoriedade da vida material, não é novidade, pois entre as rezadeiras e, até mesmo, em outros entrevistados, a fala é repetitiva. Aqui, no entanto, ressaltamos a atenção para a repetição exaustiva dessas ideias, o que vale verificar como a crença na existência de um universo espiritual, composto por santos, almas, encantados, no qual transitam em vários mundos afetam o cotidiano da população. Questões apresentadas nesse contexto foi objeto de reflexão de. MAUÉS, R. Heraldo. Padres, Pajés, santos e festas: catolicismo popular e controle eclesiástico. Um estudo antropológico numa área do interior da Amazônia. Belém: CEJUP, 1995, pp. 251-258. Ou ainda GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
56
Ao narrar uma história, identificamos o que pensamos que éramos no passado, quem pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de ser. As histórias que relembramos não são representações exatas de nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e os moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações atuais98.
Na manifestação dialética da linguagem, dona Fátima, atribui sua função ao coletivo, ao
mesmo tempo em que, mediante uma concepção individual/subjetiva tenta preservar não apenas
o seu olhar, mas o olhar do outro. Nesse sentido Cuche torna-se esclarecedor:
A identidade social não diz respeito unicamente aos indivíduos. Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão99.
Para muitas pessoas, a relação entre as incorporações de espíritos, caboclos, caruanas ou
oiaras100 e o consumo de álcool em alguns rituais de pajelança são genericamente designadas
como bruxaria, macumba ou feitiçaria101. Pelo menos esse tem sido o discurso vinculado ao
catolicismo oficial, e às diversas formas de religiosidade protestante nos últimos séculos de
colonização amazônica.
Acrescenta-se a esses, tomar cachaça e fazer adivinhação. Muitas religiosidades
afroindígenas utilizam o consumo de bebidas alcoólicas nas práticas religiosas da Amazônia,
mesmo esta não sendo consumida em certas ocasiões102. No entanto, a apreciação de bebidas foi
98 THOMSON, 1997, Op. Cit., p. 57. 99 CUCHE, Denys. A noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 2002, p. 177. 100 Assim como existem os encantados do fundo (rios) existem aqueles da mata. Segundo a definição de Maués, o oiara pode se manifestar como animal aquático ou com forma humana, mediante vozes e ruídos, principalmente nos mangais. No caso dos caruanas, são aqueles (encantados) que se manifestam no trabalho dos pajés, denominados de “guias” ou “cavalheiros”. Durante o processo de incorporação nos rituais da pajelança, o oiara e/ou caruana abandonam sua forma animal e adquirem hábitos, nomes e costumes cristãos. O caboclo representa uma determinada linha de encantados, que seguem uma divisão racial, como Caiaiá, Iracema, Caboclo Flechador e outros. Ver MAUÉS, 1995, Op. Cit., pp. 189, 190, 200 e 201. 101. Não pretendo discutir as distinções e relações entre bruxaria e feitiçaria, uma vez que, além de serem utilizadas em situações restritas, as narrativas quando mencionadas não distinguiam uma da outra, o único aspecto comum percebido será a relação, pacto, petições com o diabo ou espíritos maus (demonização). De certo uma contribuição válida. Ver SOUZA, 2009, Op. Cit., pp. 207-208. 102 As práticas de pajelança, benzeduras ou reza, dependendo do local e dos saberes das populações amazônicas adquirem particularidades, um exemplo é o consumo de chás, caldos e em determinadas comunidades, bebidas álcoolicas nos rituais de cura. Ver TRINDADE, R. “Aqui, a cura é de verdade”: Reflexões em torno da Cura Xamânica em São Caetano de Odivelas-Pa. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Universidade Federal do Pará. Belém-PA, 2007, pp. 90-98. Em diversas religiões o consumo de bebidas (alcoólicas ou não) é um componente ritualístico poderoso “uma das principais características da barquinha é o uso da ayahuasca, denominada localmente de Daime, como um bebida típica de índios amazônicos que teve seu uso difundido entre seringueiros e hoje é consumida em mais duas religiões da Barquinha: o Santo Daime a União do Vegetal”. MERCANTE, Marcelo Simão. Ecletismo, caridade e cura na Barquinha da madrinha Chica em Rio Branco, Acre. In: Religiosidade e Cura, Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/Universidade Federal do Pará. – nº1 (dez, 1980) – v. 13, n.1/2 (jan./dez. 1994). Belém, p. 48. A esse respeito o antropólogo Heraldo Maués define que consumo de bebidas nos rituais religiosos pode ser conceituado como “Empeógenas” ou “Deus dentro”; a fim de percebermos que o uso do vinho na eucaristia católica e em determinadas religiões protestantes são componentes dessa definição.
57
adotado no imaginário popular como sinal dessas crenças. Assim como a adivinhação103,
amplamente divulgada e igualmente procurada por populares, porém, jamais assumida por essas
pessoas, bem como pela maioria dos próprios “adivinhos”.
Após essas informações iniciais a rezadeira parece relaxar, durante a fala apenas acena
com a cabeça positivamente, concordando com o que havia dito. Levantou-se, pediu licença e ao
voltar disse que tinha ido diminuir o fogo do fogão para não “queimar tudo”, o que denota
habilidade em coordenar múltiplas preocupações e prioridades. Mas a forma rápida com que
retornou da cozinha, retomando automaticamente o fio da narração, demonstra como a
benzedeira estava imersa nos domínios da memória, sendo capaz de transitar do presente ao
passado com certa propriedade.
Hoje eu quase num rezo mais, às vezes um e outro: “D. Fátima reza aqui, reza ali, tira um quebranto, uma crista de galo”, [...] mau olhado, bruxarias, essas coisas de espírito desgraçado... Do diabo mermo, né? Pelo amor de Deus! Por Nossa Senhora! Eu tinha sossego, não. Era dia e noite, até domingo era povo nas minha calçada querendo reza. Muitos ano de aperreio... Esses município tudinho, tudinho era afobação104.
A entrevistada não reza como antes, hoje em dia é mais difícil, raramente um ou outro
vem em busca de suas intercessões. Lembra, que às vezes, passava aproximadamente sessenta
dias sem rezar em alguém, mas há determinadas épocas que aparece muito “trabalho”. Quase
sempre, as pessoas vêm com os mesmos problemas, quebranto, crista de galo, mau-olhado e
bruxarias. Todas são enfermidades atribuídas às coisas de espíritos negativos e ao diabo105.
Nas suas narrativas temos uma aproximação de males aceitos como normais no
imaginário da população local (quebranto, crista, mau-olhado), com as bruxarias associadas ao
diabo, expressão bastante empregada por dona Fátima. O que chamou a atenção nesse momento
foi o tempo prolongado para falar do quebranto, principalmente de um caso desencadeado por
uma freira da cidade.
A bichinha (criança) era bem bonitinha, uma bonequinha. Depois do batismo a mãe e a família foram com ela pra casa, no caminho, saindo da igreja aparece uma irmã (freira) que pede pra ver, pôr ela no colo, ela põe, né?! Pois bem, depois essa menina haja febre
103 Conforme veremos, a adivinhação não representa a visualização total do futuro, ou de algo oculto na vida de uma pessoa, mas no reconhecimento de problemas, situações e dramas. A capacidade de adivinhar de uma rezadeira, benzedeira, parteira ou curandeira garante-lhe o status de uma capacidade sobrenatural. Sobre a relação entre cura, adivinhação e magia. Ver SOUZA, 2009, Op. Cit. pp. 210-215. 104 Depoimento citado. 105 De acordo com estudos e classificações realizados por Maués. “O mau-olhado de bicho (provocado por encantados, do fundo e da mata), de sol (pelo sol), de lua (pela lua) e de gente (por seres humanos). Os sintomas de mau-olhado de gente e de bicho são os mesmos: dor de cabeça constante, enjôo e vômito [...] O quebranto às vezes é confundido com o mau-olhado, apresenta sintomas que são os mesmo do mau-olhado de lua. Como no caso deste último, é concebido como capaz de atingir somente as crianças pequenas; provoca vômitos, diarréia, choro frequente, inapetência, febre e abatimento. Além dessa semelhança do quebranto com mau-olhado, existe ainda, uma outra: ambos pode atingir não somente as pessoas, mas também plantas e animais [...] mas a causa instrumental do quebranto é a admiração, isto é, a manifestação de elogios à beleza da criança”. MAUÉS, 1995, Op. Cit., pp. 218-219.
58
e choro, isso era onze horas, hum! Quando deu tardinha levarô pra mim. Ela ia morrê! Passei uns chá e rezei uma semana, mas disse pra mãe: “Foi a irmã que botou quebranto nessa pequena!” Ficaro assim, né?... Será? Com isso de dúvida [...] vixe Maria! Isso tá com muitos ano, mas nunca esqueci, esse menina tá é moça mulher de filho já106.
Apesar de aproximar quebranto e mau-olhado com o que chama de bruxaria107, define o
quebranto como uma “força ruim”, uma “sombra”, que alguém põe no outro. Mas afirma que
algumas vezes não é intenção da pessoa pôr quebranto. Diz que é “quebranto de inocência”.
Ficou surpresa, no entanto, pelo fato da freira ter colocado o quebranto. A memória de dona
Fátima foi marcada, não pelo fato em si, mas por uma lembrança atravessada pela força do
imaginário. Aqui pesa a forma como as freiras eram representadas pela população local, na época,
o olhar santificador, carregado de respeito, reverência, daí muitos populares, até hoje quando
passam por uma freira dizem “Bom
dia, Santa Irmã”, “O que a senhora
quer, Santa irmã?”108.
As identidades vivem trocas
complexas de papéis sociais, onde
as doenças e forças das encantarias
mobilizam suas ações em
identidades que supostamente
pertencem ao simbolismo cristão.
Para dona Fátima, as religiosidades
estão imbricadas, independente de
onde ocorram, as doenças criam
experiências sociais.
106 Depoimento citado. 107 Para a entrevistada Bruxaria ou “Bruxagem” seria toda manifestação ou força que não viesse de Deus e dos Santos. 108 Essa marca na memória da entrevistada pode ser interpretada como os populares da cidade atribuíam um papel significativo no imaginário relativo às irmãs Preciosinas, existentes no local desde 1957. Além de exercerem o papel de religiosas no auxílio da paróquia, mantinham uma ação efetiva no auxílio aos necessitados e, principalmente, consolidaram sua importância na cidade através da Educação, mediante a criação da Escola S. Pio X, existente ainda hoje. Sobre a memória das preciosinas. Ver SILVA, Jerônimo da S. Congregação do Preciosíssimo Sangue: Um Estudo sobre a Memória das Irmãs em Capanema. Monografia de Especialização, UFPA, 2007, pp. 43-50. ROSENDO, Irmã Maria José. S. Pio X. Monografia em homenagem aos quarenta anos da Escola, 1996. Arquivo da Sede Regional. SOUSA. Maria José de. Congregação do Preciosíssimo Sangue: Bragança – Capanema. Monografia de Conclusão de Curso em História, UFPA, 2002.
Fig. 25 – Desde o fim da década de 1950, as irmãs Preciosinas têm papel significativo no imaginário da comunidade capanemense. Fonte: álbum de fotos da Escola S. Pio X, inauguração da quadra de esportes, 1982.
59
Na narrativa de dona Fátima, a bruxaria tem a ver com espíritos e atuação do diabo, mas
nos exemplos citados na entrevista, não há como fazer delimitações sobre quando é bruxaria ou
não. Parece, conforme veremos mais adiante, que o entendimento de bruxaria e do diabo no
imaginário dessa mulher, tem certas particularidades.
Sobre o período em que rezou
bastante, afirma ter sido há uns
trinta anos, “um pouco depois que
a estrada de ferro sumiu”. Recorda
o sofrimento ao atender tantas
pessoas, realça a vinda de
populares de vários municípios, o
aglomerado nas calçadas, onde
não havia nem dia e hora de
repouso, sintetiza como uma
“época de aperreio”. O
reconhecimento social e a
conversão de olhares e interesses
em suas rezas agregam, portanto, relações identitárias que dissolvem a compartimentação entre
individual e coletivo. Isso pode explicar em parte a construção do argumento de que ela só reza
por causa do povo, que durante muito tempo juntavam-se na porta de sua casa.
Ainda falando sobre o período em que rezava com frequência, acrescentou
espontaneamente:
Agora só tinha uma coisa, se tiver indo em médico eu num atendo não. Doença de médico é uma coisa, e tem doença que não é pra médico não! Digo logo: deixe esses píula, essas caixa de xarope de mão... Você não toma uma aspirina sem minha ordi. É assim comigo [...] os médico ajuda muita gente, mas as doença dele são outra mermo. Na minha época aqui não tinha nada era só mato, mato mermo, sabe? Não tinha uma píula, uma aspirina (pausa – aparecem alguns netos e vizinhos pra tomar benção) Sim! [...] tinha um posto só bem ali, com um enfermeiro só; e vacina pra mordida de cachorro doido (riso – acenando negativamente com a cabeça) então as cura era com reza, planta pisada, e por aí vai. Tem gente que mata os parente, os filho, os neto entupindo com remédio de médico, não dá certo!109
Autoridade, poder e hierarquia no campo das práticas de cura delimitam espaços
distintos. Nesse jogo de diferenças, estabelece uma definição de males ou enfermidades,
hierarquiza o papel e a função do curador. As especificidades das doenças têm relação com as
diversas formas de aquisição e desenvolvimento dos saberes. 109 Depoimento citado.
Fig. 26 – Avenida Barão de Capanema, no detalhe (direita) os trilhos da estrada de ferro. Segundo dona Fátima, seria uma época de “muita reza e muito aperreio”, década de 1950. Fonte: Arquivo pessoal de Deyviane Pinheiro.
60
O fato de, não apenas dona Fátima, mas de toda uma literatura existente classificar
doenças “naturais” e “não naturais”110, não representa novidade alguma, porém, a posição de que
só poderia rezar ou tratar pessoas que não tivessem ido ao médico, sinaliza como a ação da
medicina, reconhecida como científica, pode interferir e, até mesmo, agravar a condição do
enfermo. Deste modo, não transparece a rivalidade entre o saber do médico e o da rezadeira, vê-
se apenas a diferença e ineficácia do mecanismo terapêutico médico diante de certas doenças do
mundo da encantaria.
Para dona Fátima, de nada adiantaria tratar pessoas que fossem ao médico,
principalmente devido à utilização de remédios. Define que o alcance da cura exige um
tratamento adequado, conforme a experiência do curador, “você não toma uma aspirina sem
minha ordi”, diz, reproduzindo a autoridade exercida sobre as pessoas que buscam sua ajuda.
Não demonstra confiança alguma no uso de medicamentos farmacêuticos, vistos, por ela, como
causadores de diversos males, em escala maior, a morte. Nestes quadros, focaliza a limitação da
medicina institucional, não muito na pessoa do médico, mas sim, na manipulação e uso dos
medicamentos. Por isso, critica as famílias que vivem “entupindo” os filhos de remédio, podendo
agravar o estado da doença.
O rigor e a disciplina expressos no discurso de dona Fátima, em muitos aspectos, são
semelhantes à forma como os agentes da medicina institucionalizada impõe a sua autoridade
sobre o paciente. Menciona casos em que determinou não apenas as rezas e o uso de ervas, mas
dia, hora e retorno, seguidos de repreensões para aqueles que não cumprissem o tratamento à
risca. Os saberes das rezadeiras sustentam a autoridade e as relações de poder na afirmação
identitária.
Assim, não podemos pensar o discurso da autoridade sobre o corpo do “paciente” como
algo inerente à medicina do século XIX. As práticas de cura são transpassadas pelas relações de
poder e atravessam diferentes tempos históricos. Para as batalhas travadas entre concepções de
poderes políticos e populares em torno de regulamentação dos saberes médicos, Rodrigues
aponta as dificuldades enfrentadas pela medicina científica paraense em firmar-se como detentora
do poder da cura, e como nas práticas da população belenense o saber das culturas afroindígenas
gozavam do respaldo popular.
110 A ação das doenças não naturais – onde os médicos não podem curar – origina-se no mundo espiritual, onde o papel de espíritos, homens ou astros são a sua causa principal. Sobre a compreensão do conceito de doença na Amazônia. Cf. MAUÉS, Raymundo H. A ilha encantada: medicina e xamanismo numa Comunidade de Pescadores. Belém: Universidade Federal do Pará, 1990. (Col. Igarapé).
61
O articulista não conseguiu esconder a sua frustração diante de um cenário que se configurava no sentido oposto aquilo que se havia imaginado no início. Parecia que a tão sonhada “civilização” nos rincões amazônicos descia ladeira abaixo, empurrada pela presença dos pajés que, em pleno século XX, eram encontrados por todos os bairros e ruas da cidade, desfrutando de uma vasta clientela. A perseguição a esses sujeitos não havia conseguido barrar a sua presença no cotidiano da cura dos mais diferentes grupos sociais111.
Na Amazônia Bragantina,
em particular Capanema, a
regularização do posto de saúde,
cujo fornecimento de remédios e
a presença médica eram apenas
duas vezes por semana, só foi
possível no fim da década de
setenta. A afirmação do saber
médico no imaginário dos sujeitos
adquire proeminência entre o fim
dos anos oitenta e década de
noventa, o que não exclui a
extinção, das práticas de cura “popular” oriunda de outros saberes.
As narrativas de dona Fátima, portanto, remetem à existência de posto de saúde com
apenas um enfermeiro e apenas vacina contra “mordida de cachorro doido”. Ora, se durante
tantos anos as pessoas conseguiam manter a saúde através do uso de matos e rezas, qual a
justificativa para utilizar os remédios de farmácia? Dona Fátima tem clara percepção de como as
pessoas passaram a recorrer ao tratamento médico, e que, no passado, essa medicina não ofertava
o atendimento necessário, criando uma lógica de que “os médico não matam, mas também não
acabo as doenças”.
Isso resulta diretamente na diminuição das pessoas que buscam as rezas, no entanto, trata
dessas mudanças com certa aceitação. Repentinamente reforça a voz, e diz ser algo comum, e que
ela mesma já fizera vários tratamentos com “doutores”. Comenta que, apesar de rezar e curar
muita gente, sempre foi muito doente, já tendo feito várias cirurgias, cita uma em particular, que
diz ter sido a pior de todas:
Sempre fui doente, espie isso aqui (pressionando região abdominal e bexiga), vê? Agora não dói nada, mas uns vinte ano, quase morro. Do nada senti dor, muita dor por aqui mesmo, foi uns 12 dia assim, depois começou a sangrar, eu fiquei inchada parecia um
111 Cf. RODRIGUES, Silvio Ferreira. Esculápios Tropicais: a institucionalização da medicina no Pará, 1889-1919, Dissertação de Mestrado em História. UFPA, 2008, p. 83.
Fig. 27 – Antigo Posto de Saúde, década de 1950: “não servia pra nada, tinha muita era vacina pra cachorro doido”. Fonte: Arquivo pessoal de Deyviane Pinheiro.
62
bicho, sangrava por baixo todo santo dia (referência a um possível sangramento vaginal). Cansei as vezes de que ia pra dotor e nada – pense num inferno! – tinha um cesto de remédio em casa, e era mermo que nada, fazia curativo todo dia, vixe Maria! Diziam que o meu útero tava podre, que tava saindo os pedaço, tinha dia que as minha filha me tiravo da cama... Era sangue pra todo lado, ensopava tudo. Em Belém, me tratava com Drº Jorge Mendonça, fiz quatro cirurgia até que um dia ele me disse: “o seu útero não tem jeito, não tem como a senhora viver muito tempo”. Professor, eu fui pra casa e chorei muito112.
A resistência crítica a medicamentos farmacêuticos tem origem nessas experiências em
hospitais e consultórios. Uma mulher muito doente, com sangramento vaginal constante, uma
situação vivida diariamente nas filas de postos de saúde, o constrangimento diante da família e de
pessoas desconhecidas nos hospitais, tudo reforçado pela exposição de um problema que
tangencia para a intimidade, em especial, a intimidade do corpo da mulher113.
A frustração ao se deslocar em busca de médico especializado em Belém intensificava sua
angústia. Por isso, definia a sua situação como um “inferno”, via diariamente os pedaços de pele,
ensopados de sangue, saírem pelo canal vaginal. A mulher que hoje condena a utilização excessiva
de remédios tinha um “cesto de remédio em casa, e era mermo que nada”. Havia conhecido de
perto a “ineficácia” destes produtos industrializados. Depois de quatro cirurgias, veio a sentença:
além da perda do útero, dona Fátima não teria muito tempo de vida, a infecção, disse o médico,
ia atingir outros órgãos, causando-lhe a perda da vida em alguns meses. Não havia possibilidade
de cura para a benzedeira.
Restando-lhes poucos fios de esperança e diante de uma sentença de morte, dona Fátima
recorre a Nossa Senhora de Nazaré. Acompanhemos a narrativa:
Passou-se uns dias, não tinha mais esperança de nada... Aí me lembrei de Nossa Senhora de Nazaré. Nessa época ela tava chorando em Belém, ai meu Deus! Vô me apegá a mãe de Deus. Fiz promessa e tudo. Um dia sonhei com remédio caseiro, sonhei com planta pisada com tabaco. Acordei e disse pra Nossa Senhora: “se Maria mãe de Deus quer que eu viva, deixe essas erva me cura”. Passei três meses tomando essa poção, o sangramento parou, mas continuava saindo umas pele parecida com casca de ferida. Depois me indicaram um tempão pra consultar com Drº Jorge Amílcar – o maior ginecologista de Belém! – fiquei dias na fila de espera mais consegui. Contei tudinho pra ele, falei das operações, aí fez logo uma chapa, disse que tinha que ver o que tava acontecendo. Fiquei internada esperando, lá vem ele com a chapa e uma enfermeira, calado ficô me olhando assim, meio calado [...] “Dona Fátima! A senhora não tem nada, aqui no seu exame não deu nada, nem marca dessa tal de ferida (silêncio)” Falei pro Drº que foi obra do sonho e de Senhora de Nazaré, a enfermeira ficô me olhando, ele também, depois me deu alta e nunca mais senti nada nas parte de baixo114.
112 Depoimento citado. 113 Apesar de ter sido operada de tireóide, ter feito tratamento para os rins a entrevistada realça o “desconhecido” sangramento vaginal como a pior das enfermidades que já lhe acometeram. Importante pensar como certas enfermidades tem impacto no imaginário feminino. Ver PRIORE, 2007, Op. Cit., pp. 78-82. 114 Depoimento citado.
63
Notemos, inicialmente, a mistura de saberes e crenças sob o poder e consentimento de
Nossa Senhora de Nazaré. Embora não saiba exatamente o período dos fatos, lembra-se que foi
na época em que “a Santa” estava chorando em Belém115.
Aspecto interessante na espiritualidade de dona Fátima, são as relações com os sonhos
como veremos em outro momento, uma forma latente de espiritualidade, meio de manifestação,
relação com o segredo e mistério. Fala dos sonhos como algo corriqueiro, sempre presente no
seu cotidiano116.
Ao sonhar com remédio caseiro, recorre à santa para reforçar, legitimar a ação da cura,
assim, fez três meses de tratamento usando erva pisada e tabaco, e depois retornou a outro
médico, uma vez que, o sangramento havia parado. Nesse instante, a rezadeira não consegue
disfarçar o sorriso, demonstra uma postura relaxada no sofá, baixa a cabeça e acena fazendo um
sinal de positivo. Relata, então, como foi atendida pelo Drº Jorge Amílcar, os exames solicitados
e, principalmente, a cena em que ele entra no quarto interno com o resultado dos exames.
A ênfase no silêncio era visível neste trecho da entrevista, a forma como dona Fátima narra
o episódio, gesticulando, com olhar firme, tentando repassar exatamente como viu e sentiu aquele
momento, denotam várias leituras. A reconstituição da entrada do médico e enfermeira seguida
do silêncio e do olhar de ambos é uma tentativa de, na narrativa, enfatizar a surpresa do médico
com os resultados dos exames. O silêncio é rompido bruscamente pela voz do médico: “Dona
Fátima! A senhora não tem nada, aqui no seu exame não deu nada, nem marca dessa tal de
ferida”.
Além da felicidade, por saber que já não corria risco de vida, há um regozijo pela
circunstância da cura, pois fora sabedora do prodígio através da voz de um representante do
saber instituído, tido como oficial117. Logo ele (o médico e/ou saber médico), que nunca havia
115 O tempo social da memória, em especial o estudo de relatos e lapsos de lembranças de idosos, não pode ser interpretado como discurso fragmentado ou embaçado, pelo contrário, é um olhar distanciado, diferenciado do passado, a visão do passado pelo presente. É possível verificar uma história social bem desenvolvida, pois “elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; elas já tiveram quadros de referência familiar e culturais igualmente reconhecíveis, tendo nos marcos e cronologias próprias de suas experiências memoriais a teia de seu universo identitário”. BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembrança de velhos. 3ª edição. Companhia das Letras, 1994, pp. 84-90. 116As reflexões sobre a estrutura do sonho, suas imbricações na cultura ocidental e inúmeras tentativas de diálogo entre o onirismo e o imaginário religioso. Para outras formas de compreensão do conceito de indivíduo ou subjetividade é essencial a consulta de BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. Tradução de Antônio Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 144. 117 A religiosidade e/ou a palavra mágica não existe como um saber à parte, marginalizado, inerte no tempo, mesmo com o surgimento do saber médico institucionalizado, aquela não existe como ilhas do saber, sempre em um processo de trocas, relações marcadamente dialógicas, mesmo em outros contextos históricos. Nesse entendimento é bom consultar: FIGUEIREDO, Aldrin de Moura. Pajés, Médicos & Alquimistas: uma discussão em torno de ciência e magia no Pará Oitocentista. Cadernos do CFCH. Belém 12 (1-2): 41-54, 1993. Sobre ampliação desse debate no contexto do Pará Republicano, do mesmo autor. Cf. FIGUEIREDO, Aldrin de Moura. Quem eram os pajés
64
conseguido conservar-lhe a saúde e, pelo contrário, havia sentenciado um juízo negativo, uma
escrita de morte. O laudo médico, que ainda guarda no armário e fez questão de mostrar na
entrevista, simboliza o troféu da vitória sobre a impossibilidade de cura.
O papel-memória é o suporte material do milagre divino, a cada toque e olhar sobre o
documento (laudo), lembranças passadas são reanimadas. A narradora reporta sua experiência
com a medicina “oficial” para os seus pacientes, interpreta como universal os malefícios dos
medicamentos utilizados pelos doutores, chega à conclusão de que a cura verdadeira, feita de
forma natural é a única que não produz outras doenças118.
Esse tipo de narrativa possui um caráter artesanal119, pois não objetiva transmitir o “em
si” do acontecido, ela o tece para atingir um sempre transformado, uma elaboração de
circunstâncias, uma reação contra a morte (esquecimento) e a favor da vida (lembrança).
Entendendo, dessa forma, o processo narrativo de rememoração, passa a ser evidenciado
no aspecto mítico, que não é a reconstrução do tempo, nem tampouco a cisão entre presente e
passado, mas sim, um vínculo fronteiriço entre o aquém e o além – o encerramento do passado e a
tradução das possibilidades de uma explicação do presente – um sentido de evocação, uma
necessidade da consciência narradora120.
Nesses termos, entre o passado (aquém) e o futuro (além), o tempo presente - que é o
tempo da narrativa - sintetiza o que a rezadeira foi ou poderia ter sido, e o que teme, ou aceita
ser. O sofrimento causado pelas enfermidades, o reconhecimento de, no passado, rezar e curar
pessoas acometidas de inúmeras doenças, e o medo atual de ser vista negativamente pela
comunidade que vive, insere a entrevistada no conflito social da memória, buscando afirmação
identitária, uma relação de equilíbrio com as experiências sociais.
As experiências de dona Fátima encontram semelhanças com os depoimentos orais de
dona Ângela, com história familiar circunscrita entre o nordeste e a Amazônia, torna-se rezadeira,
contra feiticeira, firmando sua identidade cultural no circuito das encantarias através das tradições
orais
científicos? Trocas simbólicas e confrontos culturais na Amazônia, 1880-1930. In: FONTES, Edilza (org.), Contando a história do Pará: diálogos entre história e antropologia. Belém: E. Motion, 2002, pp. 53-86. 118 Aqui não se refere ao argumento de doenças “naturais e não naturais”, mas sim ao fato de que qualquer tipo de cura, se feita com remédios “errados ou de farmácia”, não resolvem, e quando curam uma doença geram outras, podendo até danificar outros órgãos, uma compreensão sistêmica do corpo humano – efeito colateral. 119 No sentido de não ter uma função de reprodução mecânica, comercializável. 120 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin. 7º. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
65
1.3 - Dona Ângela: “Falando as línguas do Mato”
Quando pensei em escrever um trabalho sobre as práticas de reza e cura em Capanema,
no inicio de 2009, fui motivado, entre outras coisas, pela forma como as narrativas de
“assombrações” e “visagens” chegaram até mim. Quando criança, tinha fascínio pelas histórias
narradas por adultos, principalmente quando eram contadas na frente das casas, no início da
noite. Por várias vezes, ouvi falar de uma mulher considerada feiticeira, capaz de muitos feitos.
Os anos passaram e quando iniciei a pesquisa de campo, a expectativa de encontrá-la foi
renovada.
A rezadeira em questão era conhecida popularmente por “Dona Maria Espírita”. Em
conversas com familiares, vizinhos e contadores de “causos”, procurei saber de seu paradeiro.
Alguns me disseram que a referida senhora havia falecido, outros acreditavam ainda estar viva.
Demorei vários dias para encontrá-la. Ela mudou de endereço pelo menos três vezes, mas depois
de séria persistência, consegui localizá-la.
No dia quinze de Fevereiro de 2010, cheguei a sua residência, fui atendido pela sua filha,
dona Joana – filha mais nova, solteira, que aparenta ter entre quarenta e cinquenta anos, a única
que vive na mesma casa e cuida da entrevistada. Dona Joana pediu para que viesse no outro dia,
pela parte da tarde, alegando dores de cabeça em dona “Maria Espírita”.
No dia seguinte, como determinado, fui apresentado à entrevistada pela sua filha.
Residente na Rua Apinagés, hoje centro da cidade, vive em uma casa de alvenaria, bastante
espaçosa, com poucos móveis e, restrita iluminação interna. Dona “Maria Espírita” é uma mulher
baixa, de setenta e três anos, com andar lento e vacilante, com fortes traços indígenas e negros.
Quando se aproximou, perguntou sobre minhas intenções. Falei sobre a minha pesquisa, ela fez
apenas alguns gestos, como que não entendendo o que lhe havia dito, mas assinalou: “tá, vou
contar a minha história pro senhor, então”. A filha interrompe e diz que sua mãe está doente,
toma muitos remédios e, que às vezes, não reconhece ninguém, que não está mais falando com
lucidez “coisa com coisa”.
Vale lembrar como Alessandro Portelli discute a importância da História Oral, para este, a
oralidade não assegura o encontro com a verdade, com a literalidade de um fato, versão universal.
Um informante, não deve ser visto como um “objeto”, que ao não servir ao propósito
estabelecido, de ser descartado. Mesmo não ignorando que em muitas pessoas a idade avançada
ou doenças com gravidades específicas “comprometem” a memória dos sujeitos, estivemos
atentos a conteúdos, performances e sentimentos de dona Ângela. Assim, nas entrevistas
66
procurei dar atenção a todos os detalhes, mesmo àqueles ditos imprecisos ou desarticulados, por
isso, mesmo desencorajado pela filha de dona Ângela acerca da lucidez da voz materna,
convenci-me da importância da narrativa de dona Maria Espírita.
Embarcando nas acepções de Portelli, temos a narrativa como a transmissão de uma
experiência, que no decorrer da fala, é (re) experimentada pelo narrador, fazendo-o rever, revisitar
o ambiente da memória, dinamizado pela relação entre lembrança e esquecimento. Ressaltamos a
importância do sentido do esquecimento, não como sinônimo de morte, separação, mas ausência,
sentido de falta e estímulo projetivo da tarefa do lembrar. Os esquecimentos “estratégicos”,
“repentinos”, “ (in) voluntários”, esquecimentos que retém o vazio da morte, mas preconizam a
sua própria morte, “morte do esquecimento como esquecimento da morte” são regiões que
precisam ser exploradas pelo pesquisador121.
A aparente debilidade física não impediu que me atendesse com cortesia, sentamos no
pátio da casa, ela em uma cadeira de balanço, e eu do seu lado, depois de pedir para ficar
próximo, pois iria gravar entrevista. Como de praxe, adotei a estratégia de iniciar o diálogo com
perguntas simples e objetivas, tais como nome, idade, local de nascimento, origem paterna e
materna, e só depois tematizar com as suas memórias.
A entrevista realizada com “dona Maria Espírita” foi uma das mais difíceis. A voz da
entrevistada estava comprometida por inflamação na garganta, e apresentava dificuldade em
iniciar um raciocínio ou uma narrativa e permanecer na lógica das trajetórias narradas. Muitas
vezes demonstrou não entender ou ignorar as perguntas, “saltando” de um assunto a outro com
freqüência.
Deixei claro aos entrevistados que teriam liberdade para falar sobre suas histórias
pessoais. As perguntas realizadas tinham a finalidade de estimular ou ampliar as possibilidades de
fala e não de delimitar a linguagem dos interlocutores. Meu interesse, então, era observar as
referências das memórias elencadas como fundamento do fazer identitário: Quais experiências
balizam a identidade que pretendem que eu compreenda? Que aspectos do cotidiano norteiam
suas histórias de vida? São questões que atravessaram as diferentes narrativas coletadas.
Outro problema era a passagem de vizinhos na calçada, que paravam para cumprimentar
e “puxar assunto”, o que demandava certa paciência. Muitos paravam e perguntavam o que
estava acontecendo, e dona “Maria Espírita” pedia para que falasse de minha pesquisa. A
121 Cf. PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na História Oral. In: Proj. História 15. São Paulo: EDUC, Abril/1997, pp. 22-23. Nesses trilhos seguimos ainda a letra de BENJAMIN, 1994, Op. Cit., pp. 114-119.
67
vizinhança da entrevistada era muito agitada. Nas casas próximas, muitos homens se reuniam
para jogar dominó, entre uma partida e outra, falavam alto, intercalando muitas risadas, tudo
acompanhado de forró no volume máximo.
Pensei em adiar a entrevista, mas a interlocutora estava sempre indisposta, no mês
seguinte ia fazer um tratamento em Belém, então tive receio de não conseguir outra
oportunidade. Diante dessas condições, dona Ângela, seu nome de batismo, compartilhou um
pouco de suas experiências.
Nascida em Luzilândia, uma pequena cidade no Estado do Piauí, mais exatamente no ano
de 1937, teve uma infância difícil. Seu pai trabalhava com vendas de ferramentas e querosene e
sua mãe foi lavradora, depois de casada ajudava o marido nas vendas. Não guarda muitas
lembranças do seu pai. A única coisa que soube dizer sobre ele foi o fato de ter sido assassinado
quando ainda era criança, mas não lembrava a época e como aconteceu sua morte. A entrevistada
tinha duas irmãs mais velhas, já falecidas, que se recusavam a explicar esses acontecimentos.
Depois da morte do pai, sua mãe enlouqueceu, não soube notícia dela.
As lembranças dos pais são narrativas dadas por relatos de parentes. De acordo com
informações dos familiares, sua mãe enlouqueceu com “desgosto” pelo destino do marido. E
suas irmãs foram criadas por uma tia até 1953. Depois partiram e viveram em Parnaíba, onde
com dezesseis anos, foi trabalhar em um restaurante local.
No caso de dona Ângela, vemos a demarcação da memória familiar como associada a
uma tragédia pessoal, este fato não foi vivido enquanto presença, e sim como memória, como
algo repassado. A memória reportada é um esforço para presentificar a narrativa do passado, de
incorporá-la pela força do testemunho da fala do outro122.
Durante a entrevista, dona Ângela não dissocia a história da família das experiências
religiosas. Por exemplo, quando perguntei quantos anos tinha, respondeu narrando esses fatos:
Eu?! Tenho setenta e três anos de idade, eu fui sequestrada seis horas da tarde [...] olha! São Sebastião, ele é soldado, ele entrou no meio dos soldados tudinho, mas pegaram ele e então amarraram São Sebastião com os braços tudo amarrado pra trás e falaram: “tá amarrado e dali não sai”. Só Lázaro desatou ele e disse: “eu sou Lázaro rogai pelas pessoas que lhe dizem para sempre’ com os corações que habita nossa alma, essas pessoas que são maldoso, que vivem fazendo inveja, se elas forem não serão perdoado, e só perdoado depois que sofrer, que pagar, e disser ‘Deus perdoai meus pecado e me conduzi pra vida eterna”.[...] Tinha dois anos quando fui sequestrada, foi em Luzilândia no Estado do Piauí. Quando assassinaram meu pai, a minha mãe ficou maluca e a mulher que tava tomando conta de mim não ligou, quando foi seis horas que a mamãe chegou não tinha me encontrado e passei dezoito dias na mata vendo tudo quanto é
122 Extensão do estudo em BOSI, 1994, Op. Cit., p. 84.
68
coisa, aí eu pisei numa lagoa assim e doeu meu pé e abaixei assim e era uma pedra e nessa pedra eu via tudo [...]123.
Dona Ângela parece priorizar na sua narrativa o sequestro em Luzilândia no Piauí,
associando este acontecimento, na perspectiva do tempo memorial, ao assassinato do pai e a
consequente loucura de sua mãe. Na sua fala, continuou por um tempo vivendo com a mãe, esta
saiu para trabalhar e uma moça que ajudava na casa não percebeu quando ela foi sequestrada.
Este termo é muito utilizado pela entrevistada para designar quando os bichos do fundo, bichos
da mata, ou encantados levam ou “mundiam” uma pessoa, principalmente crianças, para o fundo,
para a cidade dos encantados, com o objetivo de ensinarem os encantamentos e os poderes do
dom124.
A narrativa da ausência paterna e materna está entrelaçada ao desaparecimento místico na
floresta. O aprendizado com os encantados funda uma identidade que preenche as reticências do
passado familiar, no sentido de substituir as ausências impostas pela tragédia pessoal.
A convicção de ter sido escolhida pelas potências da encantaria, institui um forte
substituto para uma vida repleta de traumas, criando um sentimento compensatório, a sua
identidade é estruturada no chamamento de um destino forjado pelos encantados. Falar da
infância, do passado familiar na narrativa de dona Ângela, significa discorrer sobre uma
experiência única e misteriosa, um referencial de lugar e tempo.
123 Dona Angêla, conhecida como “Maria espírita”, “Maria pajé” tem 73 anos. Entrevista realizada em 15 de fevereiro de 2010. 124 Algumas entrevistadas usam os termos “incante”, “incantamento”, outras falam de “coisa ruim” ou “bruxaria”, “feitiço”. Para alguns estudiosos os encantados podem ser: “seres que normalmente permanecem invisíveis aos nossos olhos, mas não se confundem com espíritos, manifestando-se de modo visível sob forma humana ou de animais e fazendo sentir sua presença através de vozes e outros sinais (como o apito do curupira, por exemplo). Além disso, incorporam-se nos pajés e nas pessoas que tem o dom para pajelança. Entre os encantados, os do fundo são muito mais significativos para os habitantes da região. Habitam nos rios e Igarapés, nos lugares encantados onde existem pedras, águas profundas (fundões) e praias de areia, em cidades subterrâneas e subaquáticas, sendo chamado de encante o seu lugar de morada”. MAUÉS, 1990, Op. Cit., p. 196. O universo da encantaria tem sido estudado através das narrativas orais, estas são amplamente diversificadas. A categoria e as relações entre seres humanos e encantados são hierarquizadas como “seres humanos”, depois os encantados, que podem ser divididos em encantados da mata (curupira, anhanga, caruana) e encantados do fundo (caruana, oiara, oiara preta, oiara branca). Idem. 1990, pp. 82-89. O desaparecimento de pessoas (sequestro) seria uma ação dos encantados. Existem casos de pessoas que podem ser “mundiadas” ou levadas definitivamente para aprenderem os poderes do fundo, ou mesmo, tornarem-se encantados. No caso de crianças, o temor é recorrente, pois os relatos indicam serem as prediletas dos “seres do fundo”. A respeito da ambigüidade e relação dos encantados, seria válido ver. MAUÈS, Raymundo H. Malineza: um conceito da cultura Amazônica. In: BIRMAN, P. NOVAES, R & CRESPO, S. (orgs). O mal à brasileira. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1997. A existência de uma cidade dos encantados extrapolou o universo da narrativa oral, muitos literatos e “folcloristas” tematizaram o local onde as encantarias vivem, no caso da Amazônia a existência de uma cosmologia eminentemente aquática representada sob vários olhares, produziu também formas de europeização da Urbe amazônica. Cf. FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. A cidade dos Encantados: pajelança, feitiçaria e religiões afro-brasileiras na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, pp. 53-77.
69
Uma pedra com o poder de revelar coisas secretas reforça o imaginário sobre o mundo
natural. Este, seria a porta, o meio de ação, manifestação do mundo religioso, no caso de dona
Ângela, o porte da pedra mágica reitera o seu papel social. Símbolo de um status que resultaria
numa relação sobrenatural com os encantados. Importa lembrar como determinadas sociedades
e/ou experiências religiosas constroem seus imaginários ancorados em elementos da natureza.
Mas a pedra não revela apenas o futuro, é capaz de revelar coisas secretas. Apesar de ter
sido agraciada pelos encantados com um objeto tão poderoso, contraditoriamente, tem uma
história de vida obscura, imprecisa de informações com diversas lacunas. O estilo de narrar da
rezadeira é permeado pelo ambiente do segredo, a narração cadenciada, reticente, olhar cauteloso,
criando expectativa de que tem sempre algo a dizer. Fala seduzindo, cativando a atenção do
ouvinte.
Dona Ângela insere no seu discurso, um elemento “mágico” - para utilizar suas palavras -
possibilitando que ela tenha a capacidade de ver o futuro, de conhecer as coisas que ocorrem no
outro mundo. A aquisição do dom de rezar e curar, não foram às únicas experiências dela, a
inserção de objetos mágicos, como pedras e amuletos apresentam uma singularidade na
religiosidade da entrevistada, deixando claro como seus saberes transcendem a contingência
histórica125.
No decorrer de sua fala, suas rezas, curas ou benzeções tinham finalidade diversa. E que,
assumidamente, não ocultava esse caráter em sua narrativa: adivinhações, proteção, “poções
mágicas”, punições a desafetos pessoais, aquisição financeira, status e poder político.
Os saberes acumulados reconhecem a reza como forma de solucionar diversos problemas
do cotidiano, que vão desde o alívio de uma dor de dente, até a busca de vingança nas lutas
políticas locais. Temos então uma afirmação identitária que se consolida não apenas no
atendimento aos desfavorecidos, mas dialoga com autoridades políticas e comerciantes, estando
imersa no cotidiano, interagindo em diversos contextos das identidades citadinas.
125 Pedras mágicas, que revelam o mundo dos encantados, que descrevem segredos e revelam o futuro estão presentes no universo simbólico amazônico. Podemos citar o caso da Pedra do Rei Sabá, na ilha de Fortaleza, no município de São João de Pirábas, que segundo os populares seria o centro de uma cidade submersa que sustentaria toda a paisagem física naquela região. A remoção da pedra afundaria todo aquele litoral. Para verificação detalhada VERGOLINO-HENRY, Anaíza. Um encontro na encantaria: notas sobre a inauguração do “Monumental Místico Rei Sabá”. In: MAUÉS & VILLACORTA, pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008. Sobre o papel da encantaria e sua extensão do litoral paraense até os lençóis maranhenses, é relevante a reflexão de PEREIRA, Madian de Jesus Frazão. O imaginário fantástico de Ilha dos lençóis: um estudo sobre a construção da identidade albina numa ilha maranhense. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Belém: UFPA, 2000. Ou ainda, ELIADE, Mircea, Imagens e Símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradução de Sônia Cristina Tamer. São Paulo: Martins Fontes, 1991, pp. 151-175.
70
Em alguns momentos da entrevista, a filha interrompe a fala da mãe e lembra que
roubaram a pedra mágica há alguns anos. A entrevistada confirmou a informação da filha. Será
comum, durante toda a narrativa, o papel que dona Joana – filha da entrevistada – terá na fala da
rezadeira. Sempre interrompendo, acrescentando, discordando, confirmando, em uma espécie de
monitoração, de acompanhamento de suas narrativas.
As narrativas compartilhadas têm inúmeros objetivos e contextos. No entanto, no caso de
dona Ângela, sua filha tem a função de “suporte” de suas lembranças. O precário estado de saúde
e idade avançada exigiu a presença interventora da filha, mesclando as mudanças e revisitações
memoriais, imbricando identidade de mãe e filha.
Outra leitura desse processo é a possibilidade de que muitos fatos sejam tão traumáticos
para a rezadeira, que esta simplesmente recuse a lembrá-los. O esquecimento pode existir
associado à fuga de uma determinada experiência temporal, e sendo uma fuga, representa uma
necessidade de outras situações que intervenha e substitua o incômodo gerado pelas lembranças
primordiais126.
O silêncio da narradora, muitas vezes, é intercalado por frases e rimas semelhantes a uma
oração, algo que havia decorado há muito tempo. Por exemplo, quando começou a falar de sua
idade e de como desapareceu na floresta, inseriu na narrativa, a história de São Sebastião,
explicou como foi preso e o auxílio milagroso de São Lázaro em seu favor.
Embora não tenha o objetivo de discutir a memória e o papel dos santos e milagres na
fértil oralidade dos trânsitos entre a cultura popular e as expressões do catolicismo devocional na
Amazônia Bragantina, é de extrema necessidade perceber como as rezadeiras articulavam suas
religiosidades em narrativas que envolviam a ação de santos e encantados:
[...] Só Lázaro desatou ele, e disse: “eu sou lázaro rogai pelas pessoas que lhe dizem [o mal] para sempre” com os corações que habita nossa alma, essas pessoas que são maldoso, que vivem fazendo inveja, se elas forem não serão perdoado, e só perdoado depois que sofrer, que pagar, e disser “Deus perdoai meus pecado e me conduzi pra vida eterna”127.
Um aspecto interessante é a forma como a interlocutora insere um discurso no outro, não
faz pausa demorada, não para pensando no que vai falar. Simplesmente mistura sua história de
vida com a libertação de São Sebastião dos soldados inimigos, mediante o poder de Lázaro, e de
como este castiga os invejosos e maldosos. Aqui discorre longamente sobre a relação entre
castigo e pecado, associa o sofrimento a algum pecado cometido no passado e que o perdão só
126 Ver GAGNEBIN, Jeanne Marie. Sete Aulas sobre Linguagem, memória e história. 2ª ed. Rio de janeiro: Imago, 2005, pp. 15-25. 127 Depoimento citado.
71
poderia ocorrer através dos castigos, o sentimento de culpa emerge como componente que
reforça sua visão de mundo.
Dona Ângela fala como se estivesse lendo, em alguns momentos fecha os olhos; depois
retorna à sua história de vida. Devemos levar em consideração que uma parte da história pessoal
de dona Ângela, foi elaborada mediante outras narrativas, o que nos compele a pensar na
fundamentação de uma história oral, calcada na memória reportada128.
A vida eterna, “perto dos santos e das almas caridosas”, só seria possível com o perdão de
Deus. As relações entre pecado e culpa no ocidente cristão é marcada pelo processo de
institucionalização do pecado, sua taxonomia, discursos culpabilizadores, produziram sanções,
penitências e os rituais de exercícios e exames de consciência na história europeia, sendo
postergada à história da América Portuguesa. Segundo Delumeau:
Nessa concepção, a pena do pecado não é a reparação (que pertence à penitência), mas a contrapartida da falta cometida. Ela restabelece o triunfo da ordem perturbada pela desordem. A justiça de Deus quer que haja uma sanção do pecado, onde esta é para a vida culpada aquilo que o mérito é para a vida virtuosa [...] o pecado está assim em débito para com Deus e todo pecado acarreta a obrigação da pena129.
O sofrimento e as angústias da vida são oportunidades de pagarmos pelos pecados. No
imaginário da rezadeira, o perdão é dado por Deus, mas o castigo pelos erros abrange a todos,
tanto na vida como na morte:
Nossa Senhora... Rezo pra Nossa Senhora do Carmo que ela é a protetora do fogo do purgatório. Ela também tem o poder do perdão. É, Nossa Senhora do Carmo me livre do fogo do purgatório, num deixe eu perder minha alma [...] de Deus, até chegar no dia que nosso senhor ressuscitou [...]130
A história de vida da entrevistada é a história de sua redenção, as dores e tragédias da vida
são formas de purificação. Por isso Nossa Senhora do Carmo protege o fogo do purgatório, ao
mesmo tempo em que tem o poder do perdão, ou seja, de purificação. Essa é uma interpretação
pertinente, se considerarmos suas formas de explicar, dá sentido às desgraças que se abateram, no
sentido de aplacar memórias tão dolorosas:
Lá é o inferno! Lá queima, queima, esse fogo daqui num queima agente não, de lá queima, arde e quando as pessoas fica, num é fogo da terra. E até um fio de cabelo ela tem que dá conta, aí quando aquela pessoa faz o bem, depois de pagar, aquela pessoa sai [...] Quando é ruim, aquele corpo, sai fedendo desconjurado. Por isso que é bom levar pra Nossa Senhora do Carmo131.
128 Sobre a confluência de experiências e discursos na oralidade como metodologia, ver PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na História Oral: A pesquisa como um experimento em igualdade. In: Proj. HISTÓRIA 15. São Paulo: EDUC, Abril/1997ª, pp. 8-10. 129 DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo: a culpabilização no ocidente (séculos 13-18). Tradução de Álvaro Lorencini. Bauru, SP: EDUSC, 2003, pp. 367-368. 130Depoimento citado. 131 Idem.
72
O sofrimento adquire dimensão universal, suas dores não são únicas. Todas as pessoas
passarão pelos mesmos martírios: ricos e pobres, poderosos e humildes, homens e mulheres,
sábios e ignorantes. O depoimento da benzedeira é estratégico, pois da mesma forma que
legitima sua história de exclusão, propõe um “acerto de contas”, alimenta uma expectativa
redentora no porvir, onde a justiça e as desigualdades terão fim. A visão do purgatório como um
local onde as almas podem redimir-se através do sofrimento e, posteriormente, gozarem
plenamente da glória e bondade de Deus. A ideia do purgatório como uma penitência
purificadora associada ao fogo tem sido reproduzida pelo imaginário cristão com diversas (re)
elaborações132.
Assim como seu passado pessoal foi construído para si mediante as lembranças de seus
familiares e conhecidos, entende que as lendas e narrativas de santos que ouvira nas missas e
rezas também fazem parte de sua individualidade. O que ouviu de outros é o que viveu, e de certa
forma, é a experiência vivida.
Apesar de Joana (filha), ter dito que a entrevistada não tinha condições de conversar, esta
demonstrava ser atenta e observadora, perguntava sobre quem eram os meus pais, minha
profissão, situava certos acontecimentos no tempo e no espaço, com aparente facilidade133.
Explica que havia guardado a pedra mágica, para usá-la quando necessário, e que só a partir de
1953, começou a ver os segredos da pedra.
A respeito das lembranças sobre o início das rezas e curas, assim que chegou a Parnaíba,
começou a ser perturbada pelos ‘bichos da mata’. Quando ia varrer o quintal, era atingida
repentinamente por uma tristeza, depois sentia apenas algo vindo derrubá-la, uma pancada sem
dor, acordou depois na cama, cercada de pessoas, uma ou duas horas depois:
Às vezes não lembrava de nada, só sentia cair assim (faz barulho de queda, gesticula tentando descrever, como o corpo se contorcia no chão) fiquei foi meses desse jeito. Perdi até o trabalho no restaurante, não tinha como fazer nada professor. Uns diziam que era o diabo, outros diziam que tava me atuando [...] Olhe! Eu não sei de nada não. As pessoa falavam que eu rezava em ingrês (inglês), que falava as língua do mato, que quando eles (os encante do mato) vinham, rezava reza nova, diferente dos outro134.
132Sobre as formas de representação do purgatório e sua relação com o imaginário da morte na Europa ocidental, é válido ler VOVELLE, Michel. As Almas do purgatório. Tradução de Aline Mayer e Roberto Cattani. São Paulo: Editora UNESP, 2010, pp. 48-61. 133 As relações de igualdade e diferença no desenvolvimento da entrevista são discutidas, entre outros pesquisadores da História Oral, por PORTELLI, 1997, Op. Cit., pp. 23-24. 134 Depoimento citado.
73
Boa parte dessas experiências, não era lembrada de forma consciente, tudo o que sabia,
era na verdade, narrado por familiares e amigos, as convulsões não permitiam que tivesse uma
compreensão consciente do que aconteceu.
Para narrar o ritual de iniciação precisou recorrer às experiências e memórias externas.
Muitas vezes duvidava do que diziam a seu respeito: “será que isso não é invenção desse povo?”,
“será que foi assim mesmo que aconteceu?...”. Suas memórias e experiências de vida tinham
lacunas que eram preenchidas por testemunhas, depoimentos, eram completados por
experiências de outros sujeitos históricos. Talvez seja por isso, que as intervenções de sua filha
(Joana), durante toda a entrevista corrigindo, lembrando e censurando algumas de suas falas, não
a irritava – mesmo que para mim (entrevistador), gerasse certa irritação, vendo, inicialmente,
como uma violência, uma invasão da identidade – ao contrário de minha constatação, passou a
incorporar a fala da filha como um suporte da memória. Agia como se a narrativa da filha fosse
invisível, plasmando suas identidades. Quando esta falava algo que discordava, apenas balançava
a cabeça, às vezes, levantava a mão pedindo silêncio, ou então, dizia: “ele tá falando é comigo
viu?”.
Em tom brando e conciliador sem aparentar irritabilidade, recorria à filha algumas vezes:
“como foi mermo Joana?”. Percebi que o sofrimento gerado pelas perturbações e atuações135 era
intensificado pela sensação de não saber o que acontecia, isto é, de não estar consciente diante
dessas experiências, uma dor gerada pela força do esquecimento, da falta de domínio de sua
história de vida. A busca da cumplicidade compõe o jogo identitário da rezadeira com a filha.
Assim, a memória se metamorfoseia na tentativa de deter o tempo e, ao tentar detê-lo,
torna-se sua evidência. Em outras palavras, o real precisaria ter morrido para poder ressuscitar na
memória, adquirir outra vida que o salve do esquecimento (morte). Nessa perspectiva, a
experiência do real nos depoimentos de dona Ângela, carece de facticidade, construindo
diferenciadamente a solidez do tecido identitário136.
A transfiguração do cotidiano através da memória e da imaginação expressa toda uma
possibilidade de dizer o tempo do outro. Fazendo isso estaria certa de salvar a sua memória na
memória do outro; burlar a dinâmica do esquecimento, ou quem sabe, conquistar lugar na
memória do outro, como uma herança (passado), um testemunho (presente) ou apólice (porvir).
135 Atuação ou ficar atuado significava estar incorporada por espíritos ou encantados. 136 GAGNEBIN, Jeanne-Marie, 2005, Op. Cit., pp. 137-140.
74
Outro sentimento paralelo em suas narrativas era o medo, principalmente, o medo da
loucura e o temor de que fosse algo associado ao diabo. A expectativa de que os ataques pudessem
ocorrer a qualquer instante, era motivo de desespero.
[...] É porque pensava que ele vinha atrás de mim, diziam que ele tava em mim mermo, os padre falavam mermo. Mas não acredito não. Olha pra frente e não olha pra trás, que atrás é mau elemento, espírito mal vem querendo matar a gente, tomar o que é da gente, é isso. Você anda por aí, você não olha pra trás, olhe só pra frente, que a frente é o caminho de Deus, pra trás é o caminho do demônio. O demônio tem uma filha, se ela vestir roupa comprida hoje, se você for vestir ela muda,veste uma curta137.
As manifestações das encantarias foram demonizadas pelos padres e católicos da
localidade. Entre a crença na possessão, referente à força do imaginário diabólico forjado pelos
cristãos e a perspectiva de um processo guiado pelos mestres da encantaria que levaria à formação
xamânica, há uma clara mediação entre as experiências individuais e os interesses/conflitos
religiosos existentes no jogo social.
O fazer-se das identidades, reforça ou enfraquece as crenças, hábitos e tradições das
sociedades, configurando sentidos e definições identitárias assumidas por esses sujeitos
históricos.
Depois de vários meses, suas tias resolveram levá-la a Igreja Católica no Juazeiro do
Norte. Dona Ângela já tinha ido a várias igrejas em Parnaíba, mas os padres da região eram fracos
e dizia que tinham medo dela quando os encantados atacavam o seu corpo. Tem fortes
lembranças de um padre de Juazeiro do Norte:
Vixe! Esse sim era padre forte, todo mundo respeitava ele, não era como os outros que corriam com medo. Quando era tempo de festa, ele é que dava ás orde pra começa e acaba o furdunço. Diziam que as alma da cidade iam se confessa com ele depois de sete dia de finado. Quando soube que me levaro pra ele hum... Até que fiquei animada. O senhor sabe, né? Era um padre parecido com frei Hermes138.
Afirmava que era um padre que “domava os encantados”. Recorda quando a levaram para
o padre no final de uma novena. Quando a igreja esvaziou, os parentes falaram o que acontecia,
ouvindo em silêncio o sacerdote utilizou água benta. Quando o padre fez o sinal da cruz com
água benta e falou algumas palavras em latim, sentiu que era como se estivesse brigando com ela.
Dona Ângela sentia remorso e culpa pela presença das encantarias, tinha a convicção de que
estava em pecado. A sensação de medo, remorso e culpa dilapidava a compreensão de si na
comunidade.
O padre se dirigiu a tia e disse que não tinha acabado, sendo necessário que assistisse oito
novenas e que na última fosse procurá-lo no confessionário. Dona Ângela confessou que depois
137 Depoimento citado. 138 Idem.
75
desse encontro espiritual sob orientação do padre nunca mais sentiu convulsão, nem mal estar.
Porém, teve uma grande surpresa, quando retornou com o padre na oitava novena, no
confessionário, lhe disse que aquilo era um dom de Deus. No prosseguir da narrativa, contou:
Quando era em cinquenta e três (1953) me falaram que era pedra da mata e a voz dizia pra mim não dá essa pedra pra ninguém, pra não me separar dela porque era as minha ajuda dos seres do mar. Aí depois de muitos ano me roubaram essa pedra, ela tinha poder de ver as coisa, dava pra ver se alguém fazia bem ou mal pros outro, via a cara dentro da pedra [...] só me acharam na mata porque foi um senhor atrás de uma gado, num cavalo atrás do gado, aí me viu, aí eu não tava molhada, tava chovendo mas não tava molhada de nada.[...] Depois disso resolveram me levar no Juazeiro do Norte, lá quando eu fui chegando ao Vale, um padre da Igreja me disse: “tu nasceste com dom que Deus te deu, mas esse Dom não terás ninguém da tua família que tenha condição de fica no teu lugar , usa esse dom porque ele te levará e as pessoas que vai encontrar na vida eterna” – e quando eu morrer, antes de eu morrer, vai entrar um monte de mulher tudo branca como cera e os passarinho vão entrar junto comigo também. E quando eu morrer, quem for no cemitério vai ver também aqueles pássaro tudo lá voando pra mim139.
Aqui a rezadeira interpõe vários acontecimentos. No primeiro momento acrescenta
lembranças sobre a “pedra da mata”, de como ouviu a voz das águas, da orientação que recebeu
de nunca se separar da pedra, pois era uma ajuda dos “seres do mar”. Nesta, poderia ver quem
estava fazendo o bem ou mal, via qualquer pessoa dentro da pedra, lamenta constantemente
como roubaram a pedra de casa. Tem certeza de quem roubou, já está morto, sendo castigado
por Deus.
A perda da pedra mágica não significou a diminuição de suas rezas. Parou de rezar por
causa do cansaço físico. Afirma que a pedra era outra coisa, um segredo de encante que não tinha
mais utilidade para ela140. Acredita que o poder dos “seres da mata”, pode fazer qualquer coisa;
seria um sinal, uma forma de dizer que estava protegida do mundo pelos poderes dessas
entidades141.
Dona Ângela reproduz as palavras do padre no confessionário, destacando como foi
surpreendente a mensagem que ouviu. Ficou surpresa principalmente por que outros padres,
diziam que era loucura ou era perturbação do mal! O tom de desabafo descreve a gratidão pela
atenção do sacerdote.
O padre em questão dialogava com as tradições dos saberes locais, auxiliando
abertamente pessoas afligidas pelos encantados. Diversos estudos apontam as formas de cura
139 Idem. Ibidem. 140 A respeito de alguns casos de adivinhação na Amazônia colonial, observar a utilização de pedras, folhas, galhos de plantas e ruídos de animais sinalizam a ação de entidades mágicas no mundo natural. SOUZA, 2009, Op. Cit., pp. 213-218. 141 O poder de ir a outros mundos, de viajar com os espíritos, de andar sobre o mar e de não sofrer as vicissitudes do mundo natural conhecido, estão presentes em várias religiosidades de matrizes afroindígenas. Para exemplo, temos as encantarias do nordeste. PRANDI, 2004, Op. Cit., pp. 146-159.
76
como uma busca heterodoxa, sendo costurados por saberes de matizes diferenciados, sujeitos do
saber médico institucional “flertando” com os rituais de cura pautados na religiosidade. Membros
do clero, recorrendo e absorvendo os recursos de cura das encantarias locais142.
Dona Ângela reteve na memória o fato de que apenas ela poderia rezar, não sendo
possível transmitir a nenhum ente familiar. Para uma pessoa com a sua história de vida, repleta de
sofrimento e abandono, o sentimento de ter uma missão, de ser especial e de estar nos planos de
Deus, significa uma recompensa, um sentimento de auto-estima, que busca preservar como uma
“couraça” identitária. A identidade busca uma referência ancorada na experiência religiosa,
tornando-se uma proteção, uma resistência a favor da própria vida.
O fato de ter um chamamento, um destino, faz com que dona Ângela, emergindo da
multidão ou do anonimato, construa um sentido particular na comunidade.
A afirmação identitária da interlocutora faz com que narre a mensagem do padre, com
apreço, não apenas na reprodução das palavras, mas no tom da voz, imitando a voz rouca, baixa e
ressonante do sacerdote no confessionário, na performance de quem revela um segredo, na
postura de uma mensagem repleta de sacralidade.
Se em certos locais a aquisição dos dons de reza, cura, benzeção, partos, pajelanças ou
xamanismo dependem da iniciação do mestre, do aprendizado pela tradição familiar, de herança
da família, do rezador forte, ou das simpatias da floresta, aqui, a narradora foi “iniciada” pelos
“mestres da floresta”, conseguindo controlar e entender o dom pelos poderes de um padre do
juazeiro do Norte!143 O dom não era apenas uma forma de fazer o bem e ajudar os necessitados,
142 A realidade espiritual é tecida pela manutenção das identidades no jogo das relações multifacetadas dos atores sociais. No mosaico religioso brasileiro, a relação entre as crenças e saberes é múltipla e diversa. Nos caminhos da cura, identidades encruzilhadas. Mencionamos casos onde a medicina moderna dialoga com a dita medicina popular, bem como, líderes religiosos adotam códigos e posturas de outras religiosidades. Para uma compreensão da complexidade das praticas de cura nesses casos, indicamos a leitura de MEDEIROS, Bartolomeu Tito Figueirôa. Dona Rosinha do Massapê: A cura espiritual pelo Toré In: Religiosidade e Cura. Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/Universidade Federal do Pará. – nº1 (dez. 1980) – v. 13, n. 1/2 (jan. /dez. 1994). – Belém: O centro, 1980-1994, pp. 43-44. De forma análoga, a mística cristã dialoga com experiências de êxtase. Santa Tereza d’Ávila é o exemplo, no contexto europeu do séc. XVI, do encontro interior com Cristo descrevendo suas experiências como um “transporte” ou arrebatamento junto ao Esposo universal e as “locuções”, capacidade de ouvir por horas as palavras de Jesus Cristo. No sentido de pensar o contexto tangenciado, ler: TERESA, d’Ávila, Santa. Livro da Vida. Tradução de Marcelo M. Cavallari. São Paulo: Penguin Classics, Companhia das Letras, 2010. 143 O conceito de pajelança era definido como categoria fixa: ritual de cura e incorporação dos caruanas e caboclos, sendo moldado como manifestação afroindígena. Atualmente temos novas formas de conceituar a dita pajelança cabocla na Amazônia. Do ponto de vista das relações de gênero, a pesquisa realizada por Gisela Macambira Villacorta na ilha de Colares, no nordeste do Pará, aponta a pajelança realizada por mulheres, bem como a inserção de elementos do kardecismo, Umbanda e um forte discurso “ecológico”. Maués, insere a pajelança, ou pajelança cabocla/rural como uma prática existente num modelo de cura mais amplo, a cura xamânica. Atribui certas características à pajelança, mas nega uma identidade fixa para o pajé, dada elasticidade das vivências religiosas na Amazônia. Embora haja a especificidade ritualística, que tende a dissociar o pajé, do experiente, benzedor e da parteira, a experiência xamânica tem singularidades. A esse respeito ver VILLACORTA, Gisela Macambira. Novas concepções de pajelança cabocla na Amazônia (nordeste do Pará). MAUÉS, Raymundo Heraldo. A pajelança cabocla
77
ele seria capaz de ajudá-la a alcançar a salvação. Segundo a recomendação do padre, o bom uso
do dom poderia levá-la a encontrar sua família e as pessoas boas na vida eterna.
As rezas e novenas realizadas visavam pôr fim ao sofrimento causado pelas atuações de
dona Ângela, indicando uma tentativa de “purificação” do dom, pois na visão do sacerdote, as
entidades eram maléficas, mas o dom vinha de Deus; há na sua perspectiva uma tentativa de
cristianizar, de resignificar o sentido das rezas e curas da depoente. Uma clara demonstração é o
fato de a vocação xamãnica estar associada a um plano de salvação, a uma promessa teleológica,
podendo levá-la a vida eterna.
A presença do imaginário da vida eterna ou de um paraíso nas recordações remete a uma
pessoa que teve um passado repleto de lacunas, de ausências, dependendo das narrativas dos
outros para compor sua narrativa de vida, sofreu com a ausência paterna ainda na infância e
depois com a loucura materna. A expectativa de uma vida além morte, a possibilidade de
reencontrar, refazer, recompor, de alguma forma, aquilo que o tempo havia lhe tirado. Esse
sentimento parece emergir como grande recompensa para uma pessoa que se dedicou à cura.
Acredita que a morte pode reconciliá-la com o seu passado e reencontrar a vida, construindo suas
convicções identitárias na esperança futura, no ideal de felicidade plena144.
Ao narrar sua morte, dona Ângela detalha a presença de muitas mulheres vestidas de
branco como se fossem de cera. Estas mulheres estão acompanhadas de muitos pássaros que
voam em sua direção, durante o seu enterro, no cemitério.
Estas representações de transição da vida terrena para a vida celestial contrariam a
tradição corrente, pois geralmente nos velórios as pessoas trajam vestes de cores fechadas,
como ritual de cura xamãmica. In: MAUÈS & VILLACORTA, 2008, Op. Cit., pp. 103-108; 121-125. Não vou problematizar o conceito de xamanismo, mas gostaria de acrescentar que as atribuições do xamã, podem ser o estado de transe, a capacidade de sair do corpo e de buscar a cura em outros mundos, de ir ao céu e inferno. O domínio das forças da natureza, como água, fogo, ventos. Representa a aquisição de um status social, elemento presente nas narrativas das rezadeiras em Capanema. O xamanismo com suas especificidades (sudeste da Ásia, Sibéria e Sul Americano) e rituais de iniciação. Cf. ELIADE, 1960, Op. Cit. Mesmo que a presente pesquisa não verse diretamente sobre a pajelança e sim sobre as experiências e narrativas das rezadeiras, o uso de certos termos e as reconhecidas descrições das formas de iniciação para as rezas e curas dessas mulheres, dialogam com as encantarias. Para um olhar enriquecedor sobre o desempenho, hierarquia especificidades das experiências xamânicas na Amazônia. Interessante a consulta de CAVALCANTE, Patrícia Carvalho. De “nascença” ou de “simpatia”: Iniciação, hierarquia e atribuições dos Mestres na Pajelança Marajoara. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Belém- PA, UFPA, 2008. 144 A vida eterna seria o lugar com Deus e os santos, podendo ser denominada na cultura cristã de paraíso. O paraíso cristão tem um lugar e uma historicidade no imaginário daquilo que convencionalmente denominamos de civilização ocidental. A promessa de felicidade plena, satisfação completa, perfeição espiritual e o sentimento de união com Deus e o próximo alimentam esperanças e servem de alento para os angustiados e sofredores. Aqui busco realçar como a promessa de reconciliação com os mortos, a crença cristã dos reencontros tornou-se uma imagem vivificadora no discurso da depoente. Uma contribuição monumental para pensar as crenças dos lugares paradisíacos. Ver DELUMEAU, Jean. O que sobrou do Paraíso? Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
78
indicando o luto, o pesar da morte. O branco está mais associado à pureza e a libertação. Bem,
não sabemos de fato, qual o significado preciso das cores e dos símbolos na narrativa da
rezadeira, mas podemos aqui pensar na possibilidade de que a morte não representa algo
desesperador, pela expectativa e forma como descreve o prazer da salvação e, principalmente,
pela esperança do reencontro com os seus entes queridos. Talvez pense em rever o pai, a mãe,
algo possível, se concebemos a vida eterna à promessa da felicidade plena. Um dos fundamentos
da crença no paraíso cristão, que argumenta por Jean Delumeau, é o de que este seria um lugar
onde o reatamento dos vínculos com os mortos seria permitido por Deus.
À esperança de uma perfeita comunicação entre os habitantes da cidade celeste acrescenta-se hoje, entre os que recusam o niilismo escatológico, a convicção – ou o desejo? – de que aqueles que amamos permanecem próximo de nós depois da morte. [...] mas as relações com os mortos foram durante muito tempo ambíguas. Todas as civilizações tradicionais, inclusive, em certa medida, a da Europa cristã, comportaram-se como se acreditassem na “sobrevivência do duplo”. Os mortos, corpo e alma, continuavam, ao que se pensava, a viver ainda de uma outra maneira e mesmo a voltar aos lugares aonde havia vivido145. Os pássaros têm
referências com a ideia de
liberdade. Reforço aqui a libertação que dona Ângela tanto almeja diante de tudo o que sofreu,
não apenas durante a juventude no nordeste, mas também quando veio para o Pará anos depois.
As rezadeiras migrantes criam suas narrativas em processo contínuo de adaptação, os
fatos e experiências no nordeste são reencenados como tentativa de expressar coesão no eixo
narrativo. Dona Ângela não é única rezadeira que opera nessa perspectiva. No tópico seguinte a
maranhense Deuza Rabêlo sobrepõe o seu passado familiar no Estado do Maranhão às vivências
em Capanema, de forma que inexiste demarcação de fronteiras no território da memória.
1.4 - Dona Deuzanira Rabêlo: “A Parteira das Almas” Durante realização de pesquisa de campo com as benzedeiras tivemos o privilégio de
conhecer não apenas as narrativas e as memórias das pessoas entrevistadas, mas também o
impacto que o ambiente natural produz na formulação desse imaginário. Nessa perspectiva
145 Idem. p. 490.
Fig. 28 – Foto do Cemitério Municipal “Campo São José”. Se para muitos o cemitério é visto como perda e saudade, para dona Ângela, seria a porta do reencontro. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
79
conversamos com sujeitos sociais que praticavam elementos do xamanismo, tanto na área urbana
como nas aldeias/comunidades próximas da cidade.
No dia quatro de outubro de 2009, ocorreu em Capanema a “procissão do onze”, trata-se
de uma manifestação do catolicismo devocional, em homenagem a São Francisco de Assis. Essa
procissão consiste em realizar um trajeto saindo da Igreja Matriz de Capanema, localizada no
centro da cidade, em que os populares caminham até a Igreja de São Francisco de Assis,
localizada no Km 11.
Um percurso de exatos onze quilômetros. Lá os católicos participam da missa campal,
comem os pratos regionais (pato no tucupi, galinha caipira, maniçoba, caruru e outros) e depois
retornam para a cidade, alguns andando, outros em caminhões e outras formas de locomoção. A
manifestação religiosa é tão intensa e contagiante que sujeitos de outras crenças ou céticos são
envolvidos pelo cenário festivo.
A mobilização noturna na cidade aumenta. Famílias se reúnem, os movimentos católicos
de jovens e adolescentes intensificam-se. Carros, motos, bicicletas, vendedores ambulantes vão
compondo o cenário da romaria. A busca de bares, restaurantes, festas de aparelhagens em alguns
locais mais afastados, compõe uma profusão de elementos e representações da cultura popular146.
Foi justamente na noite que antecede à procissão de São Francisco de Assis, que pude,
conversando com algumas senhoras, ouvir um relato sobre uma conhecida “curandeira-parteira”
que vivia na vila do Km11. Estava em um restaurante com amigos dialogando sobre as várias
motivações e interesses que envolviam os participantes da procissão. Entre os assuntos tratados,
doenças, problemas familiares, superstição, misticismo, exageros, era uma típica conversa de
barzinho.
Durante a conversa chega uma senhora vendendo amendoim e castanha. Enquanto
alguns amigos na mesa compram, a senhora escuta parte do diálogo, depois de dar o troco,
interrompe dizendo que vai à procissão desde que uma parteira da vila do onze ajudou sua filha.
Tal fato me surpreendeu, pois desde que iniciei minha pesquisa, ainda não ouvira nada sobre a
existência de parteiras em Capanema, apesar de ter ouvido relatos sobre parteiras que
“trabalhavam” há vinte e cinco anos. Guardei a narrativa da vendedora de amendoins e depois de
vários dias estive no km 11 para conversar com a parteira mencionada.
Na primeira vez que estive lá, não me deram muitas informações, cheguei sozinho e indo
em direção a uma mercearia, perguntei ao dono se ele conhecia alguém que rezava ou fazia 146 A respeito do termo “cultura popular” e as formas de construção e desconstrução histórica, apontamos as ponderações de BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp.26-65.
80
partos, ele disse secamente “Não, não conheço ninguém não”, e continuou limpando as
mercadorias. Percebi que tinha adotado estratégia equivocada147.
Lembrei que durante os anos que lecionei nas escolas estaduais, sempre tive muitos
alunos das vilas e áreas rurais diversas, especialmente no turno da noite. Fui à Escola D. João
VI148 e pedi a um estudante, que vivia no local, para que me ajudasse a entrevistar a parteira. O
estudante em questão era João Anselmo, filho de pessoas da localidade, estudava à noite e
durante o dia ficava em casa com a família, tinha 21 anos, e gentilmente ajudou-me.
Andamos cerca de dois quilômetros e meio em direção a um tipo de vilarejo com seis
casas, quatro eram de alvenaria duas de barro, mas todas eram cobertas com telhas de barro. O
local era, de um lado, próximo a uma fazenda de grande porte, com cercas de arame farpado à
esquerda, do outro, parecia área aberta, de “mata fechada”, com muitos animais soltos,
principalmente, cães, galinhas e patos. A terceira casa de alvenaria era de dona Deuza. Anselmo
foi embora ajudar sua mãe. Senti certo desconforto por tê-lo ocupado, agradeci pela ajuda e logo
em seguida retornou.
Quando cheguei à casa que havia indicado, estava uma senhora varrendo próximo à
porta, perguntei se dona Deuzarina149 estava. Ela olhou-me dos pés à cabeça - um olhar rápido e
desinteressado - apoiou-se na vassoura, e disse: “Tá falando com ela”, esbocei um sorriso,
embora ela não tenha correspondido, pedi para conversar, falei sobre a pesquisa que estava
realizando, contei-lhe como era difícil falar com uma parteira, que em toda a região era a primeira
que tive conhecimento. Com minha entrada autorizada, sentei no sofá. A sala era pequena, além
de uma televisão, havia uma estante com taças e um bibelô de São Jorge e São Benedito. Na
parede da sala calendários de Nossa Senhora e São Judas, havia, também, duas crianças entre
quatro e seis anos assistindo televisão. Dona Deuza desligou a televisão e pediu que saíssem. No
entanto, agiram como se não entendessem e permaneceram durante toda a entrevista.
A entrevistada é uma senhora morena, de cabelos lisos negros, de setenta e sete anos, de
estatura mediana e de aproximadamente setenta quilos, com fortes traços indígenas. Perguntei
sobre o local de nascimento, sua idade e a origem de sua família.
147 Lembramos a advertência de Portelli a respeito da relação entre o entrevistador e os sujeitos entrevistados. Estes constroem suas representações sobre o que a nossa pesquisa representa nas suas histórias locais, e qual o significado político - digo as relações de poder – que um texto acadêmico pode vir a ter não apenas entre os sujeitos da localidade, mas suas implicações com uma parte mais abrangente da sociedade. Por isso entendi o recuo como importante, para, justamente, não ser rejeitado “definitivamente” no lócus da pesquisa de campo. PORTELLI, 1997, Op. Cit., p. 14. 148 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio D. João VI, localizada na Rua Duque de Caxias. 149 Deuzarina Rabêlo, conhecida popularmente como “Deuza”. Durante realização da entrevista a rezadeira fala de si alternando nome e apelido, sem demonstrar preferência alguma.
81
Hum pêra ai (silêncio prolongado), “hum”: Fui no posto (posto de saúde) pegá remédio: “ah Creuza eu tô quase é voando”, “porque muié?” – reproduz diálogo com funcionária – hum tô ficando muito velha (risos), mas não tô muito velha não, eu acho... Acho que vô fazer uns, uns setenta e sete anos, em novembro150.
Dona Deuza fala alternando o olhar, algumas vezes fita diretamente nos meus olhos,
outras vezes para cima, como que procurando algo no telhado da casa, também tem uma
linguagem bastante introspectiva, parecendo falar consigo mesma. No decorrer da entrevista será
comum discursar falando por si e falando por outro personagem da narrativa, sempre
reproduzindo diálogos, o que inicialmente dificultou a compreensão da dinâmica do depoimento.
Lembra que sua avó dizia que “as mulher que ficavo velha e não morriam, viravo matinta [...] os
antigo dizem, né?”151, afirma em tom de diversão. Questiono seguidamente sobre a origem de
seus pais:
Não senhor, sou do Maranhão, morei muito tempo lá, me criei lá, vim pra cá faz uns trinta e poucos anos. Vim de lá pra cá casada com filho e tudo. Lá tenho minha família todinha, irmã, tio, sobrinho, só não pai e mãe. Sabe o marido é daqui, né? Aí vim com ele mesmo, mas morava em beira de praia, meu pai era pescador, minha mãe era da marisqueira da pura, que arrastava camarão, até tarrafiava, ela tarrafiava152, ela tinha suas própria tarrafinha, pegava pelos canto, pulava de margem pra outra, às vezes diziam: “ah! hoje não tem mais janta” aí dizia “hum! eu tenho porque vou já buscar”, ah, sabia mesmo, chegava com peixinho enchendo a lata... Camarão só desses (gesto com as mãos demonstrando tamanho) pulando era muito, ai olha o jantazinho pra nós153.
150 Entrevista realizada com Deuza Rabêlo de 77 anos, maranhense e filha de pescadores, em Outubro de 2010. Depoimento citado. 151 A matinta perera é uma personagem da encantaria amazônica, definida por uma série de características, todas elas abrangentes e de difícil definição, pois varia de acordo com as narrativas locais. A respeito das formas de representação dessa entidade no Imaginário Amazônico, Fares comenta: “A personagem mítica é multifacetada e segue num crescente que caminha da invisibilidade à materialidade. Têm-se as matintas invisíveis, as matintas pássaros e as matintas terrestres. As primeiras compreendem seres voejantes, terrenos, e outros que não se consegue definir; caracterizam-se pela invisibilidade. As seguintes configuram-se em seres aéreos, na maioria das vezes pássaros. Finalmente, as que têm as feições diversas, entre elas a das bruxas construídas pelo imaginário popular medieval, que se pontificam até os dias de hoje [...] a personagem humanizada, ou seja, desvirada, pode constituir-se de uma pessoa jovem ou idosa, homem ou mulher, branca ou negra; no entanto, a maior ocorrência é de mulheres idosas”. FARES, Josebel Akel. A matinta perera no imaginário Amazônico. In: MAUÉS & VILLACORTA, 2008, Op. Cit., p. 311. Outra elaboração desse personagem vemos em diversas regiões do Brasil: “O mito do Saci assume diversas denominações, podendo ser SACI PERERÊ no Sul do país, KAIPORA no Centro e MATINTAPERERA ou MATY-TAPERÊ ao Norte. No Pará e Amazonas sua imagem é a de um curumi que anda numa perna única e tem os cabelos cor de fogo. Parece que através do sincretismo luso-africano, ele ganhou o barrete vermelho – comum em Portugal- e os traços negróides, mais o cachimbo. Dizem que o Saci tem por companheira uma velha índia – ou uma preta velha maltrapilha, cujo assobio arremeda seu nome: Mati-Taperê. Crêem alguns que ele é filho do curupira; outros identificam-no como um pequeno pássaro que pula numa perna só; há também aqueles que dizem ser as mãos deles furadas no centro. Existem os que estudam para ‘virar Matinta’, segundo uns; outros afirmam que Matin (ta) é uma maldição que a pessoa carrega para a vida toda, como a licantropia”. Cf. PEREIRA, Franz Kreuther. Painel de Lendas & Mitos Amazônicos. Academia Paraense de Letras, 2001, p. 51. 152 Tarrafa,[tar.ra.fa] s. f.Rede circular de pesca, orlada de chumbadas e que se lança à mão. Minidicionário Luft, editora Ática, 2001, p. 630. 153 Depoimento citado.
82
Conta que toda sua família, exceto marido, era maranhense de praia, e que só veio para o
Pará porque o seu marido era daqui e precisava trabalhar. Recorda que o seu pai era pescador e a
mãe era marisqueira. Na memória dos pais, as imagens da mãe são as mais fortes, enfatiza como
sabia tarrafiar, tendo suas próprias tarrafas e, muitas vezes, diante da escassez e da fome,
conseguia suprir as necessidades da família, pescando peixes pequenos e camarões.
Morava em casa de barro e palha com o apoio da maioria dos parentes, o pai apesar de
ser pescador e trabalhar regularmente, pouco aparecia em casa, lembra-se de como ouvira sua
mãe reclamar do marido ser um “homem sumido”, alguém que mesmo não estando no barco de
pesca, também não aparecia em casa. Isso justifica talvez, a predominância das virtudes maternas
na memória de dona Deuza em detrimento da paterna.
As relações familiares das mulheres benzedeiras fogem do padrão tradicional e patriarcal
herdado nos idos da colonização. Na memória de algumas entrevistadas a presença materna é a
referência de força e valores. Pinto realça a construção dos símbolos do poder feminino:
Tal poder pode transformar-se e solidificar-se na medida em que os filhos crescem. Sob a égide da gratidão tornam-se dependentes das “mágicas da mulher”, que passou a maior parte de sua vida servindo e repentinamente pode dar a volta e até dominar154.
Depois de conhecer o marido, precisou vir para o Pará, pois trabalhava em empresa
pesqueira. Ao se referir ao esposo, a entrevistada acena para o retrato na parede. Vejo um homem
branco, de cabelos curtos que mesmo depois de aposentado, vivia na rua “inventando serviço”.
Ela diz que é como se ainda trabalhasse, pois sai de casa bem cedo e só chega de noite, ajuda em
casa e tudo, mas “não dá as caras”, narra em tom de reclamação.
Eu sou aposentada pelo posto de saúde do município. Na minha época não tinha isso de estudo, eu entendia de doença e parto e ajudava quem chegava lá. Médico era coisa difícil, hoje em dia as facilidade são outra. Ixi! até hoje bate gente nessa porta (aponta para porta de sua casa) pedindo parto, ‘hum’ só posso olhar, passar um chazinho, porque tô cansada, não aguento isso mais não. Já chega, reza ainda vá lá, mas parto uhum... Quero não155.
Quando chegou ao Pará, tinha pouco mais de trinta anos, passou seis meses em Bragança,
depois veio para Capanema em 1967, só mudaram para o quilômetro onze em 1997 depois de
aposentados. Conseguiu o emprego no posto de saúde porque as pessoas sabiam na época que
era uma parteira muito boa, por isso foi indicada a ficar de plantão para atender às mulheres
grávidas e assim procedeu até se aposentar. Lembra como naquele período quase não havia
154 PINTO, Benedita Celeste de Moraes. O fazer-se das mulheres rurais: A construção da memória e de símbolos de poder feminino em comunidades rurais negras do Tocantins. In: ÁLVARES, Maria Luiza de Miranda & SANTOS, Eunice Ferreira dos. (Orgs.). Desafios de Identidade: espaço – tempo de mulher. Belém: Cejup: Gepem: Redor, 1997, p. 12. 155 Depoimento citado.
83
médicos, mesmo assim, ainda hoje muitas gestantes vêm à sua casa. “Só não sei como esse povo
me acha”, fala brincando. Apesar de procurada, não faz mais parto, diz que apenas olha a posição
do feto, passa algum chá ou erva, mas devido à idade não aguenta mais partejar.
A perspectiva de uma construção polarizada, antitética e conflituosa entre os saberes
medicinais na Amazônia e o saber médico institucional aparece no discurso da rezadeira como
relacionais, pois estando as identidades em movimento, transitam em diálogo perene nos meios,
espaços e mediações156.
A entrevista é interrompida pelas crianças, que correm, falam, prejudicando o
encadeamento da narrativa. Então, assim que terminou de falar sobre o seu trabalho de parteira
no posto de saúde, contou como aprendeu a fazer parto, novamente retruca sobre o meu
interesse “nessas conversa toda” demonstra não ver algum sentido no que lhe perguntei. Sobre as
experiências iniciais, explica:
Tem (silêncio, olhar perdido, distante, pausa demorada)... Mãe era parteira também[...]. E eu da idade de catorze ano já fazia parto, parto mermo de verdade. Não é essas carniça de hospital que tem hoje não, sabe?! Foi assim, a nossa casa era perto, mas separada de nós (irmãs e pais) e do pai da mamãe que era outras parentada. Mãe foi pra roça mais o velho e aí nós saia pra brinca todo mundo – o senhor sabe que moleque só que vive agarrado uns com outro (riso) – fomo pra lá e lá nós tinha arrancado uma mandioca pra fazer um tal de beju...(baixa tom de voz como que falando em segredo) tava discascando e vi D. Zeneide (vizinha) chorando e andando e perguntei o que tinha. Aí me dissero que era sexta-feira e era dia de ter nenê. Pois bem, continuei descascando mandioca... Passou-se, passou-se e nada de mãe chegar. O bucho tava grande e o posto era longe; hum [...] peguei aquele com menino e mandei pega balde de água na cacimba – nesse tempo não era balde, era lata de querosene, daquelas, sabe?! – enchemo uma bacia pra ir logo preparando pra mãe faze o selviço (parto). Hum... Nada de mãe chegá e essa muié chorava e chamava um e outro pra ajuda: Chamava minha tia e elas viam o negócio e voltava, quantas chamava, quantas voltava, ai me chamou e fui e fiquei, fiz tudinho lá... Terminou mandei chamá mãe porque não sabia como corta o buchinho (cordão umbilical), mas o resto fiz mesmo. Daí em diante fui ficando mocinha e fui fazendo parto de tudo quanto é jeito. Quando vim pra esse Pará fiz muito, muito de verdade. Era carro de muié buchuda era muito. Tinha era medo do povo daqui da rua me chama de macumbeira (risos) porque era muita gente157.
Durante quase dois minutos a entrevistada ficou olhando para as telhas, como que
procurando algo, tentando lembrar de que forma expressar as informações reservadas na
memória. A identidade da parteira emerge na ausência materna, em situação-limite da vida.
Depois de tudo que falou, parecia que o véu da memória havia sido desvelado. Falou
sobre suas experiências de parteira quase que ininterruptamente, dando a entender que a ligação
156 “Mediação significa que entre estímulo e resposta há um espesso espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura cotidiana (...). Eu escrevi, posteriormente, por entender e para explicar que os meios influem, mas conforme o que as pessoas esperam deles, conforme o que pedem aos meios”. MARTÌN-BARBERO, Jesús. Comunicação e mediações culturais In: Diálogos Midiológicos – 6 Vol. XXIII, nº 1, 2000, p.154. 157 Depoimento citado.
84
com sua mãe não se justificava apenas pela ausência paterna, nem pelo fato de ser “marisqueira
pura” e, portanto, provedora do lar, mas também pela relação de aprendizado que manteve
enquanto parteira, pelo vínculo da transmissão do saber.
Ao mesmo tempo em que enfatiza o papel e a importância da mãe, tenta justificar a
distância paterna, não somente pela causa material (excesso de trabalho no barco de pesca), mas
pela distância afetiva. Tem um sentimento de tristeza, que sinaliza para o elemento da culpa.
Fazê parto é que nem pescar, é assim que digo que aprendi [...] Tem que ter calma, usá as experiência do rio prá não perdê peixe, têm de ser arisco todo [...] Já papai pescava, mas não era assim não, eram pesca diferente, mamãe sim era danada, papai era meio aluado, mas a culpa não era minha, cada qual colhe o que planta, né?158
A cosmovisão desses sujeitos é indivisível, suas sabedorias forjam identidades culturais na
atribuição de sentidos, nas formas de significação da casa, pesca, crenças, partos e valores morais,
na materialidade da cultura. Para Williams, o conceito de cultura passou a incluir o fazer
significativo presente em todo modo de vida e suas estruturas de sentimentos159.
Dona Deuza ressente-se de muitas coisas que vivenciou na família e não detalhava certos
questionamentos que eu fazia. Apesar de passarem-se vários anos após a morte dos pais, tem na
memória uma duplicidade, fala da mãe como algo resolvido, definido há anos, mas em relação ao
pai, fala como se ainda não tivesse falecido, denota um acerto de contas inconcluso. Mesmo a
interlocutora não estabelecendo nexo entre o pai distante dos tempos de infância e o marido “que
não dá as caras, mesmo depois de aposentado”, registrei o tom e o ar de desencanto que se refere
a ambos. Não sabemos se nutre o mesmo sentimento ou ressentimento, mas pode-se pensar
sobre a importância dessas supostas “ausências” na sua vida, ou ainda, se esses sentimentos se
retroalimentam, se a memória do pai remete à memória do marido ou vice-versa.
O objetivo aqui não é entender ou traçar um perfil psicológico com todas as nuances
afetivas na narrativa da entrevistada, mas propor uma comunicação com aquilo que exterioriza,
ou seja, não a busca de uma causa final nas relações da interlocutora com o pai e sim como, no
tempo presente, reelabora essas sensibilidades, que obviamente contribuem para a sedimentação
da experiência identitária.
Lembramos a necessidade do pesquisador de reconhecer esses entrelaçamentos no bojo
da memória. Nesse sentido há de se reconhecer as conexões entre historiografia, antropologia,
psicologia e outros saberes. Ansart aponta como pensar essas questões:
O historiador tem também a obrigação de estudar as linguagens, os modos de comunicação e transformá-los em sintomas: as distâncias alimentadas pela
158 Idem. 159 WILLIAMS, 1992, Op. Cit.
85
incompreensão recíproca das línguas, pelas imagens depreciativas nos contos ou nas brincadeiras familiares, nas representações agressivas veiculadas pelas religiões. E, no final de todo este trabalho, será preciso ainda mostrar como estes costumes, estas atitudes, estas linguagens articularam-se para embasar ressentimentos e, eventualmente, permitir que se atravessasse a distância entre ressentimento e a violência aprovada e encorajada160.
Dona Deuza lembra-se de quando fez um parto pela primeira vez, com apenas catorze
anos, reforça ser uma parteira reconhecida, que nem se compara com a forma e a violência com
que os hospitais fazem partos atualmente.
Faço menção aqui à forma como a depoente busca marcar o tempo, fala sobre os
momentos longos em que esperavam a chegada de sua mãe, realça a rapidez com que encheu as
latas de água. Na lógica da narrativa a forma e o estilo de narrar alternavam-se, falou de fatos
aparentemente simples e rápidos numa descrição lenta, pausada e detalhista. Por outro lado,
situações elencadas como cruciais e, temporalmente, longas – a espera da gestante de quase cinco
horas, por exemplo – descritas com brevidade, com tanta rapidez, que se não estivesse
acompanhando o contexto da narrativa, poderia pensar num episódio com duração cronológica
de quinze minutos. O tempo é engendrado pela dinâmica e marcação da memória, sua dilatação
e/ou abreviamento depende da interpretação que se faz dele, quando os eventos do tempo são
plasmados na subjetividade das experiências, adquirem contornos e traçados imanentes da voz
narradora161.
Dona Deuza narra com extrema riqueza gestual, sentada, simula como raspava mandioca
para fazer beju, depois olha para o lado, como que ouvindo os gritos de Zeneide, põe as mãos na
costa imitando os gestos e os gritos da gestante, fala o que pensava na hora, depois comenta
quando pediu que pegassem um balde com água para fazer o parto, corrige o termo “balde”,
lembra-se de como usavam latas antigas de querosene para carregar água.
Lembra de dona Zeneide na cadeira, sentada, mas com as pernas erguidas, seu marido e
suas cunhadas seguravam os braços e pediam que ela forçasse o ventre, simulando com os braços
erguidos, a posição em que a grávida estava. Completou dizendo como segurou na parte superior
do ventre com as duas mãos e forçou a saída da criança. O parto durou vinte minutos, mas
precisou esperar sua mãe para cortar o cordão umbilical, pois não sabia fazê-lo.
160 ANSART, Pierre. História e Memória dos Ressentimentos In: BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia. Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004, p. 29. 161 A discussão sobre o tempo instituído pela memória, sua dilatação/abreviamento e a interpretação que dele instituímos quando plasmado nas experiências subjetivas, está presente em PORTELLI. Proj. História 15, 1997, Op. Cit., p. 25.
86
No inicio da entrevista, dona Deuza considera essas informações sem importância. No
entanto, pela forma, desempenho e detalhe com que narra, demonstra como esses
acontecimentos estão vivos na memória, ao ponto de representá-los em narrativa completa. Isto
é, extrapolando a dinâmica da voz o corpo da narradora emerge como mais uma linguagem que
possa dar conta da riqueza de suas experiências. No episódio narrativo a performance das
identidades entre corpo, letra e voz estão imbricadas. Nestes termos Zumthor é esclarecedor:
Para ouvir a voz que pronunciou nossos textos, basta que nos situemos no lugar que seu eco possa talvez ainda vibrar: captar uma performance, no instante e na perspectiva em que ela importa, mais como ação do que ela possibilita comunicar. Trata-se de tentar perceber o texto concretamente realizado por ela, numa produção sonora: expressão e fala, juntas no bojo de uma situação transitória e única162.
Perguntei sobre a reação de sua mãe quando chegou e soube que o parto já havia sido
feito. Explicou que não teve nada demais, disse que perguntou: “Quem tinha feito o parto?” Com
naturalidade e sem demonstrar surpresa recebe da mãe a tarefa de começar a fazer partos na
localidade, passando a ajudá-la em várias ocasiões.
No começo, a entrevistada sentiu muito orgulho, mas depois quando o trabalho
aumentou, quando queria brincar e não podia, reclamava bastante. Dona Deuza pontua os
conflitos entre a sua visão e o universo infantil com as brincadeiras, jogos e travessuras e o seu
precoce envolvimento com as preocupações da vida adulta. Demonstra pesar pelo abreviamento
dos primeiros anos de vida:
É... As coisa pra mim foram cedo, né? Deixei de comê muita banana pela estrada prá ajuda a mãe. Tava bem boa, aí vinha o recado: “Mãe ta te chamando, as buchuda véia preciso de ti”. Tinha hora que me dava um enfezamento, mas era assim. Vixe! O senhor sabe, né? Menino não é o cão, mas bem que parece (risos). Peguei sina de pipira! Tinho medo de falar curupira, aí só me apelidavam de pipira, mas penava na mão da molecada [...] Mas sabia que era diferente mermo. Deus tinha me escolhido e aí vinha os sacrifício, né? Mas tudo traz coisa boa e ruim. Naquele tempo os adulto acreditavam em mim. Quando tinha confusão dos menino, a minha palavra era a valida, e tinha até fama de sabida163.
A entrevistada sentiu da pior forma possível o preconceito, as zombarias e as maldades
que envolvia a forma de vida que escolhera. As crianças, sem dúvida, externalizavam sem
moderação alguma os chistes e chacotas nas rodas de diversão e na ausência dos adultos. Seus
papéis e atuações sociais interpenetravam o horizonte, alternando o “ser-criança” e as vivências
emergentes do “ser-parteira”. O “fazer-se” identitário de dona Deuza despertava reações,
sentimentos e tensões multifacetadas nos espaços de sociabilidade de adultos e crianças. Acha 162 O conceito de performance é utilizado como categoria analítica dos saberes e literaturas medievais, mas perfeitamente cabível na circunstância das histórias narradas em Capanema. Ver ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz: A “Literatura” Medieval. Tradução de Amálio Pinheiro (parte 1), Jerusa Pires Ferreira (parte 2). São Paulo: Cia. das Letras, 1993, p. 219. 163 Depoimento citado.
87
que aprendeu a fazer parto vendo sua mãe “trabalhar”, mas suas irmãs também viram, contudo,
não se tornaram parteiras, então conclui que essa prática é um dom de Deus.
Tendo uma missão a cumprir, distingue-se do restante da família, fato que gerou, anos
mais tarde, sérios conflitos com os demais parentes, pois o dom concedia-lhe prestígio social, e
permitia que tivesse, com o passar do tempo, certa autoridade em relação às suas irmãs mais
velhas. Lembra-se inclusive que quando veio para o norte, notou a felicidade no rosto de alguns
parentes, o sentimento de afastamento em relação ao pai, não é o único fato desconfortável no
resíduo da memória. Guarda sentimentos de mágoa e desprezo pelos seus irmãos, que não
entenderam o seu destino de parteira. A forma como as sensibilidades afetam e são afetadas na
nervura da alteridade, moldam o agir identitário. Há verdadeiras erupções e conflitos nas relações
familiares das rezadeiras, que exploradas à luz da compreensão de Ansart, questiona como a
memória da benzedeira lida com o (res) sentimento diante da humilhação, exclusão sofrida na
época da infância, ou ainda, quais sensibilidades revanchistas alimenta os adultos da comunidade,
que extirparam parte da sua condição identitária de criança164.
As narrativas de dona Deuza expressavam incompletude, a postura corporal enrijecida
com pernas e braços cruzados, fisionomia repulsiva ou repreensiva é ritmada pela cadência vocal
de quem parecia que estava revivendo momentos de discussão com as irmãs. Inicialmente
pensamos que a agressividade era uma rejeição a nossa presença, no entanto, com o decorrer das
horas notamos que a narradora reproduzia os conflitos com muita vivacidade.
Tu acha que vô morrê por causa disso, é? Pode ficá com tudo! No Pará Deus há de me amparar sua lazarenta, porque pelo menos eu sei fazê alguma coisa, já tu tá é em boca. Agora ficou com tudinho da mãe, mas não adiantou de nada [...] deu fim em tudo e agora tá véia lavando roupa mulambuda. Às vezes falo com ela. Dá vontade de jogá tudinho na cara, mas Deus já me vingou, então deixa pra lá165.
Temos a rememoração de uma briga entre irmãs pelo dinheiro de um terreno e uma
canoa de pesca levada até as últimas conseqüências no seio familiar. O rancor de ter vindo morar
no Pará sem auxílio dos parentes transforma-se em regozijo quando se lembra das atuais
dificuldades enfrentadas pela irmã. O fato de sua irmã passar por dificuldades não diminui o
ressentimento, a tentação de extravasar, desabafar as ofensas sofridas no passado fazem da
narrativa uma prática essencial para afirmação das funções parentais. A capacidade de partejar
que era vista como um fardo em alguns momentos da narrativa, emerge no enfrentamento
fraterno como “cavalo de batalha”, instrumento para estabelecer autoridade e superioridade no
âmbito familiar.
164 ANSART, 2004, Op. Cit., p. 30. 165 Depoimento citado.
88
Quando veio para o Pará, nunca passou mais de três meses sem fazer parto. Depois que
fez os primeiros em Capanema, as pessoas se aglomeravam na sua residência em busca, não
apenas do parto, mas de remédios e massagens. Descreve que, na época, precisou mandar fazer
um banquinho na frente de casa para acomodar as “buchudas”.
Repentinamente assinalou ser essa vivência passada, e que contaria como trabalhava166,
chamando a atenção para fatos interessantes, a serem considerados importantes para mim, e
evidentemente menos dolorosos para ela:
Não, não... Eu via, mas minha irmã e tia também viam e não sabia nem ajeitá menino na barriga, e porque é um dom, né?! Olhe, veio uma mulher aqui na minha casa com o menino atravessado de um jeito, hum, pois o danado ia pra faca mermo (cirurgia cesariana) peguei essa muié, ela sentou-se na cadeira, passei álcool na barriga dela, nas minha mão e comecei... Mexe pra lá, mexe pra cá, sentí mão, pé, cabeça até que ajeitei. Passou-se uns doze dia ela veio aqui com o nenê, veio agradecer e dize que o médico fico impressionado de como eu consegui ajeitá esse nenê (risos). Disse que o hospital dele precisava era de gente como eu. Olhe nunca fiz parto pra nenê nascê com doença, morrê nem nada, podia sentá na cadeira segura bem segurado a muié, só passava álcool e colocava as luvas, era só isso e pronto. Mas é assim, eu ficava sem as força, quando fazia parto ou ajeitava nenê passava noite sem dormir, as vez eram semana sem dormir, não sei como esses doutor faz parto e não senti nada. Era uma força, energia... Acho que do dom mesmo; também depois do parto o nenê vinha pra cá, pra gente fazê acompanha por doze dia167.
A narrativa indica como resolvia “casos” de mulheres gestantes desenganadas dos
médicos e a capacidade de descobrir doenças que as crianças tinham, ainda no útero materno,
gloriava-se de nunca ter feito parto para um bebê morrer ou nascer doente. Nesse momento a
interlocutora ri, pois se lembra de um médico que trabalhou com ela a alguns anos, que sempre
perguntava como é que sabia fazer parto desse jeito: “porque que o Doutor não percura nos seus
livro? O senhor não é tão sabido?”. Recorda que saía da sala, rindo e balançando a cabeça. No
exercício dos rituais de cura ocupava função do sujeito médico institucional, dona Deuza sentia-
se a vontade para arvorar seu conhecimento com liberdade.
O reconhecimento da população fez com que na época conseguisse o emprego no posto
de saúde, em particular depois que ficou conhecida pela realização dos partos. Foi procurada pela
secretaria de saúde do município, para exercer a função de enfermeira. No entanto, na ausência
de médicos, atendia e indicava medicamentos pela sua sabedoria. Os saberes da floresta estavam
inseridos no mecanismo de atendimento médico institucional; quando o médico chegava ao
166 Dona Deuza se identificou como parteira e, inicialmente, descreveu o parto como prática mais antiga. No entanto, como veremos na segunda parte, a realização de rezas e benzeduras ocorre com frequência na vida adulta. 167 Depoimento citado.
89
posto, pedia para que contasse o que havia passado para os pacientes, fazendo uma descrição do
que ocorrera na sua ausência168.
Um aspecto interessante na revelação de dona Deuza foi, notadamente, a percepção do
trabalho de parto. Não conseguia entender como nos hospitais, os médicos faziam vários partos e
cirurgias em um único dia e não sentiam nada, achava estranho, pois no seu caso, além de
acompanhar a gestante com tratamentos e massagens os dias antecedentes, a realização do parto
era muito cansativa e sua principal queixa era a forma como se sentia esgotada, sem energias,
como que “sugada”. Às vezes, lembra que um único parto de uma ou duas horas, lhe deixava
com insônia de dias, mal estar e dores no corpo. Após o parto, geralmente acompanhavam o
recém-nascido por quase doze dias. Observando, passando massagens e banhos de ervas169.
Dona Deuza acredita que
todo o cansaço e desgaste sentidos,
são oriundos do aspecto espiritual
que envolve o parto. Sobre o
significado espiritual e a oposição
entre o ato de partejar natural (feito
com parteira e ervas da mata) e o
hospitalar, assinalou:
Olhe [...] é como prepará uma vida pra esse mundo, o senhô pensa que é só corpo, é?
Não é não! O espírito tem que ser vigilhado, tem de ser zelado, tem doença de outros local – mundos do espírito. Nessa época a criança ainda tá desprotegida, então pode até nascer
doente com coisas do lado de lá, né? [...] 170.
Temos aqui uma compreensão de parto, que expressa não apenas uma técnica fisiológica
e anatômica, mas um ofício concebido como parte de um esforço físico e espiritual para o 168 Lembremos de como a relação entre os saberes e os locais são dinâmicas. Sobre as preferências do olhar historiográfico e as relações entre discurso e poder, observemos como exemplo a existência de uma tenda de pajé nas proximidades de um dos símbolos da modernidade na Paris dos trópicos: “Essa passagem corriqueira serviu para que pudesse pensar o quão político é essa ‘opção’ da historiografia que se debruçou sobre a virada do século. Existem muitos trabalhos sobre a Estrada de Ferro de Bragança, mas nenhum deles teve olhos para algum pajé que, porventura, tivesse sua tenda armada nas proximidades. Pajelança, feitiçarias, práticas mágicas, são temas que não combinam com esses símbolos de modernidade, por isso não cabem na lista dos Best-sellers consagrados pela historiografia que estuda o fin-de-siècle”. Cf. FIGUEIREDO, 2008, Op. Cit., p. 23. 169 Alguns dias após a entrevista fui à secretaria de saúde, fazer um levantamento dos relatórios médicos entre 1950 e 1970. Os funcionários alegaram que não há registro, descrição ou relatório desse período, que só há documentação datada de 1982. Em entrevista informal com pessoas que trabalharam na mesma época que dona Deuza, todas foram unânimes em relação à ausência de médicos, precariedade de remédios e equipamentos adequados; são enfáticas em relação à presença de parteiras e rezadeiras que trabalhavam como enfermeiras atendendo a população. 170 Depoimento citado.
Fig. 29– Para dona Deuza, o antigo hospital consistia em “meia dúzia de sala com cesto de remédio, as mulhé mais sabida e as vez um médico”. Fonte: Arquivo de Deyviane Pinheiro.
90
nascimento de uma criança. A supervisão espiritual com rezas, benzeções, ervas, massagens e
outros, são fundamentais para um bom nascimento, não somente da saúde material, como da
saúde espiritual. Vemos então que realça a relação simbiótica entre a mãe, o feto e a parteira, esta
última escolhida com a dádiva da vida, sempre na relação fronteiriça entre vida e morte171.
Conforme enuncia, existem doenças que não estão na natureza, são doenças que vem de
uma realidade espiritual – “outros mundos” – por isso, o parto mesmo de verdade, afirma a
interlocutora, “tem que fazer naiscer o corpo e o espírito, aí acontece o pior, pois quando nasce
sem um dos dois (corporal ou espiritual) ficar pronto! Aí um desses adoece”.
A concepção do parto no imaginário das mulheres parteiras estava atrelada ao nascimento
do espírito, por isso em muitos locais a relação entre o parto natural – considerado assim pela
utilização dos “remédios da floresta” e mediado pela religiosidade – e o parto médico era
historicamente conflituoso172.
O sofrimento, desprezo e abandono familiar vivido por Deuza Rabêlo têm ressonância na
narrativa de Dona Maria das Dores. Com esse nome sugestivo, vamos viajar nas lembranças da
única rezadeira capanemense entrevistada, conhecer a luta na esfera familiar para vencer o
machismo do seu tempo e a batalha espiritual travada com as encantarias das águas na difícil
confecção da identidade xamãnica.
1.5 – Maria das Dores: “Tudo era no Rio” Nascida em 1931, Maria das Dores é uma das poucas entrevistadas que diz ter nascido na
região. Filha de lavradores, em uma família de seis irmãos, nunca saiu da cidade. Seus pais são
paraenses, o pai natural de Quatipuru e a mãe “capanemense pura”.
Entre os dias quinze e dezoito de março de 2010, estive na residência de Maria das Dores
para realização das entrevistas. A benzedeira é uma conhecida de muitos populares, em especial,
daqueles que vivem no centro da cidade. Reside na Rua 14 de março, sendo conhecida e bastante
procurada. Durante o mapeamento inicial do meu projeto de pesquisa, recolhi algumas
referências dela, mas só fui recebido por uma tia que, além de vizinha e amiga da sua família,
171 Sobre o “status”, prática de partos e alguns discursos envolvendo médicos, pajés e parteiras na perspectiva do jornalismo e literaturas da Amazônia. Cf. FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Anfiteatro da cura: pajelança e medicina na Amazônia no limiar do século XX. In: CHALHOUB, Sidney. Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, pp. 273-278. 172 Para compreender o papel das mulheres em partos e rezas e o diálogo desses sujeitos com as representações do feminino, do espiritual e do corpo da mulher. Ver PRIORE & BASSANEZI, 2007, Op. Cit., pp. 106-113. Outra significativa contribuição foi elaborada por PINTO, Benedita Celeste de Moraes. Parteiras, “Experientes” e Poções: o dom que se apura pelo encanto da floresta. (Tese de Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004.
91
conduziu-me e intercedeu para a realização da entrevista. Foram dois dias de entrevista, todas
com duração de aproximadamente uma hora e meia, pois ainda praticava rezas e benzeções
diariamente, e para não atrapalhar suas atividades resolvi realizar as entrevistas entre três e quatro
horas da tarde, horário indicado pela entrevistada como sendo mais propício.
Cheguei à casa de Dona Maria das Dores conforme o combinado, ela estava sentada no
pátio, em uma cadeira de plástico, e ao cumprimentá-la, vai à sala e pega outra cadeira para mim,
fala que é melhor ficarmos no pátio, porque sempre chegam pessoas atrás de rezas, então não
teria o incômodo de caminhar da sala ao pátio constantemente. Sua residência é de alvenaria, de
tamanho reduzido, noto que no pátio há uma variedade de plantas, algumas para enfeites, como
rosas, outras desconhecidas por mim, reveladas no decorrer da entrevista.
Questiona se não sou de emissora televisiva, se não estou ali só para falar de política173.
Diante da negativa, permanece calada, informando posteriormente seu nome e histórico familiar:
[...] Maria das Dores. Meus pais não tinham recurso pra me dar, aí estudei e vivi pelos meus tio, sendo babá, aquela coisa toda, aí me formei, cresci como moça, aí só trabalhava, trabalhava com meu pai, trabalhava no roçado, pra tudo quanto era coisa... Sim, nasci em Capanema. Meus pais eram de lavra, sabe?! Roça mermo. Foi uma pessoa que nunca foi assim, uma pessoa inteligente, sabe? Pra possuir alguma coisa, possuía assim as coisa de casa, convivência de casa. Minha mãe era doméstica também. Hoje em dia já se foram, (faleceram). Dos cinco irmãos só tem eu e um homem. Eu vivo com marido – ta muito doente – mas a gente só tem o que Deus quer, né? [...]174
Tem presente na memória a ausência de recursos de sua família, as experiências, muitas
vezes humilhante, que passou na casa dos tios, trabalhando como “babá” e doméstica durante a
juventude. Depois retorna ao roçado para trabalhar com os pais, destacando o excesso de
trabalho físico na agricultura. A respeito do pai, indica que apesar de ser muito trabalhador e de
ter conseguido os meio básicos de sobrevivência, não havia sido uma pessoa inteligente, fazendo
referência ao nível de escolaridade paterna. No caso da mãe – assim como a entrevistada – era
uma mulher doméstica, ocupando-se durante boa parte da vida das atividades do lar.
As lembranças que tem na memória familiar são referentes aos problemas financeiros,
lembra, por exemplo, como passavam dias se alimentando de bejú pela manhã e de chibé pela
tarde, no inverno ficavam marcados pelas ferradas de mosquitos, denotando a ausência de
assistência médico hospitalar e precariedade farmacêutica, no caso do sofrimento infligido diante
de várias doenças, como catapora e sarampo.
173 Havia preocupação dos populares em relações aos conflitos políticos na cidade, em alguns momentos as relações entre o governo municipal e a oposição intensificam-se, ocupam quadros de informação rádio-televisiva, propiciando clima de temor e receio nos habitantes. Uma evidência de como essas mulheres são conhecedores e intérpretes de informações ligadas ao mundo da política, sociedade e não desconectadas da realidade social que transitam. 174 Entrevista realizada em Março de 2010 com Maria das Dores, rezadeira de 89 anos. Depoimento citado.
92
Dona Maria das Dores recorda que só conseguiu melhorar de vida depois que conheceu
seu Sebastião, aos dezenove anos, tendo sua própria família. Aponta para o interior da casa,
enquanto fala que hoje seu marido está muito doente, vivendo na rede e tomando remédio, mas
no passado havia sido um homem trabalhador, que soube utilizar a agricultura e a criação de
animais para comprar muitos terrenos. Demonstra como a posse da terra é um importante meio
de distinção social.
Levanta-se da cadeira, aponta para várias casas na rua: “aqui to cercada de parente, aqui é
só família. Essas casa da frente e mais adiante ali. Depois que casei tive..., possuí uma melhora
muito grande”, indicando assim que além de viver cercada pelos filhos – teve dezoito filhos,
sendo que sete morreram – conseguiu amparar todos com trabalho ou ajuda. As narrativas
pertinentes a possibilidade de trabalhar fora de casa são reticentes e silenciosas. O silêncio talvez
indique uma frustração, por nunca ter tido a experiência de outras formas de trabalho, mas pode
significar simplesmente a surpresa de uma pergunta inesperada:
Não, não [...] meus trabalho eram em casa. Aí sim, eu tocava a sustância (sustentação/alimento) da casa! Trabalho pra mulher fora era bem dizer escravidão. Na época que fazia de comê na casa dos outro era uma exploração que não quero nem lembrar [...] liberdade a gente só tem mesmo quando compra nosso chão, nosso barraco. Hum! E mulher é que é [...] essas pobre não tem vez. Eu tive sorte! Deus deu marido bom e assim somo feliz [...] somo o que somo pelas peleja (trabalho) dele175.
A narrativa das precárias condições de vida no passado, as humilhações e dificuldades,
contrastam com a noção de que atualmente vive certa prosperidade. Os terrenos e “criação”176
sinalizam a mudança no seu padrão de vida.
A entrevistada realça o papel desempenhado no seio da família, tendo como fundamental
a presença na gestão do lar. Seguidamente busca desfazer-se das mulheres que trabalham fora de
casa. A perspectiva da narradora aponta para uma forte relação de submissão e exploração que a
maioria das mulheres vivenciou na localidade, tendo como característica a exclusão de atividades
consideradas importantes no mercado de trabalho. Os silêncios quando traduzidos, evocam
circunstancialmente violências e cicatrizes no horizonte da memória177.
175 Depoimento citado. 176 Expressão para designar criação de animais em pequena escala: porco, pato, galinha, cabras e outros. 177 Mesmo que a presente pesquisa não tenha o objetivo em discutir as relações de gênero, não posso deixar de mencionar que a condição, sofrimento e exploração das mulheres rezadeiras, extrapolam os limites teórico-metodológicos de qualquer pesquisa, uma vez que não é possível descolar da realidade aqui apresentada. Sobre o papel e o processo de interpretação da categoria de gênero e o debate acerca da construção das relações entre o masculino e feminino vale a pena acompanhar Mattos “Na vivência do dia-a-dia, gênero nunca se reduz a caracteres sexuais, mas sim a um conjunto de categorizações morais, a um conjunto de comportamentos socialmente sancionados e constantemente reavaliados, negociados, lembrados”. Cf. MATTOS, Sônia Missagia de. Gênero, uma possibilidade de interpretação In: Caderno Espaço Feminino. Universidade Federal de Uberlândia V. 10, N. 12/13, Jan/Dez. 2003, p. 82.
93
Se a vida de muitas mulheres estava associada à escravidão, a representação da liberdade,
muitas vezes, era vinculada à posse de terras ou casas. Quer dizer, desde o inicio a entrevistada
refere-se a um processo de submissão/exclusão/posse de bens como fundamento de ser livre e,
em momento algum pensa a liberdade no sentido jurídico do termo. Nesse sentido, a
prosperidade fundamenta na genuína liberdade, e esta reforça o seu papel identitário.
Pensando os significados da liberdade e a forma como os grupos sociais passam a tecer o
seu modo de vida no cotidiano do trabalho e na dinâmica do “fazer-se”, vemos em determinados
contextos históricos como discursos de liberdade e afirmação social dependem variavelmente do
significado jurídico que uma sociedade incorpora como marca identitária. Dependendo por vezes
dos signos, sentidos e perspectivas que os sujeitos históricos se incluem nessas construções e de
como esses sentidos são apreendidos no cotidiano dos conflitos sociais, a rezadeira constrói uma
postura emancipada ao dialogar com símbolos (res) significados na cultura da narrativa 178. Além
dessas atividades, também rezava e curava as pessoas necessitadas, mas que não era uma fonte de
lucro e sim uma sina de Deus179.
Eu não soube e ninguém me ensinou, foi dom que Deus me deu. Desde criança, mas eu não queria, não queria de jeito nenhum – baixa cabeça, postura entristecida – [...] mas comecei a ficar doente... Não percebi mermo, fui perceber foi depois de grande, porque eu adoecia... Eu via, sentia tanta coisa. Aparecia muita coisa, muita gente finada vinha comigo, eu tenho esse dom dado pela água, pela água... Pelo encante. Mas foi depois dos finado, lá pelos sete ano é que foi. Aí eu comecei a ver coisa, tanta coisa, aí aparecia cobra quando ia tomar banho, vivia aguniada [...] aparecia em rio mesmo (Rio garrafão), tudo era no rio, tudo era no rio, às vezes não podia fazer nada, ia lavar roupa e não podia fazer nada, ela se trepava (a cobra) em cima da tábua (de lavar roupa) e eu voltava pra casa toda aguniada era aquele alvoroço. Aí marido ia comigo, ia se embora e chegava lá não tinha nada, aí eu lavava tudo e ia pra casa. Eu via grito atrás de mim, me chamava e eu tinha um acompanhe que me dizia que eu tinha que ser assim, que se eu não conseguisse, eu ia morrê. Justamente uma tia minha também era e morreu180.
Dona Maria das Dores descreve como vivenciou a experiência de ter um dom que, ao
mesmo tempo em que havia sido dado por Deus, também era dado pelas águas181. Não deixava
178 Reportamos à vasta contribuição de THOMPSON, 1987, Op. Cit., p. 89. 179 O Fado, Sina, Destino, Fardo ou Dom, pode ser entendido como o recebimento de um dom ou maldição. Em alguns casos, pode ser hereditário, um castigo de Deus, o recebimento de um encantamento, por aprendizado ou feitiço. Na Amazônia temos o fado associado à vocação xamânica, à metamorfose de matintas, animais voadores e rastejantes (cobras, ratos), “lobisonho” (licantropia ou adaptação de homem-cachorro na Amazônia), entidades vampirescas ou Mula-sem-Cabeça. Ver FARES in MAUÈS & VILLACORTA, 2008, Op. Cit. pp. 322-324. 180 Maria das Dores, depoimento citado. 181 A maioria das entrevistadas faz referência aos encantados da água. Em suas narrativas eles possuem o poder de atraí-los. Há em Capanema uma série de narrativas que evocam imagens, sinais, aparições de seres que vivem nas águas. Ouvindo a narrativa dos mais antigos, há informações sobre a existência de uma cobra gigante no balneário da Jazida – esta viveria em um antigo trator afundado, com dentes gigantes – relatos numerosos de pessoas desaparecidas que foram engolidas por cobras e bichos da água. Os rios mencionados eram o Ouricuri, o rio Capanema e Garrafão, todos eles na época, eram considerados grandes, com correntezas perigosas e no inverno alagavam várias casas, mas também era o lugar predileto das lavadeiras, lugar de trabalho e sociabilidade, a população masculina frequentava esses locais após o serviço, muitos pescavam e lavavam a caça. Era também um ambiente para
94
muito clara a diferença e/ou relação entre o porquê de afirmar a origem múltipla do dom de
curar. Sempre alternando o uso dos termos “Deus” e “Água” nas suas narrativas.
Durante certo tempo acreditei haver um sentido lógico para a alternância desses termos
na narração da interlocutora, depois vi que para ela não havia contradição alguma, “Deus” e
“Água” representavam justamente as ferramentas do seu imaginário. O catolicismo dito popular
dialogava com as demais formas de religiosidade amazônica, não que essas expressões fossem
idênticas, mas que ambas fundamentavam modelos explicativos para compreensão das práticas
religiosas.
Contrastando a
diversidade de termos e
expressões utilizadas pela
entrevistada, o sentimento que
transparece durante o tempo
que fala sobre essas
experiências, é o de tristeza, o
dom de rezar e curar representa
um fardo, uma obrigação182, pois
desde criança via e sentia muitas
coisas. Lembrou que começou a
ver muitas pessoas mortas
depois que foi aos sete anos para o cemitério, no dia de finados, e que desse período em diante,
via pessoas dentro de casa, sentia arrepios, sentia muita tristeza, vontade de morrer183. Às vezes
recorda quando contava para sua mãe, mas ela fingia que não era nada, os seus irmãos também
zombavam dela. As péssimas condições de vida e moradia eram somadas ao ambiente de
humilhação que dizia ter quando era babá na casa dos tios – motivo que a fez retornar para o
aliviar o calor, tomando cachaça depois das peladas, local também de encontros sexuais noturnos. As narrativas permanecem, mas os rios não. O lançamento de dejetos, o avanço das habitações e aterros transformou esses locais em poças de lama e lixões fluviais. O discurso de uma cosmologia aquática é riquíssimo no imaginário religioso Amazônico. Importa considerar o registro de algumas narrativas cosmogônicas. OLIVEIRA, José Coutinho. Imaginário Amazônico. Organização de Ana Paula Rebelo Silva, Maria Madalena de Oliveira Rebelo, Paulo Maués Corrêa. Belém: Paka-Tatu, 2007, pp. 37-53. 182 A descoberta, negação e afirmação do dom fazem parte da formação do Xamã. Ver CAVALCANTE, 2008, Op. Cit., pp. 63-80. 183 Em alguns locais da Amazônia, Maués define os espíritos como: espírito (Deus), Anjo (Anjo de Deus, Anjo da Guarda e Satanás), espírito desencarnado (espírito de luz), anjinho (crianças desencarnadas), espírito mau, espírito penitente. MAUÈS, 1990, Op. Cit., pp. 66-75. Sobre a ação, sofrimento (material-emocional-espiritual) e significados das doenças nas populações Amazônicas são válidos conferir. FIGUEIREDO, Napoleão. Rezadores, pajés & puçangas, 1ª Ed., UFPA – BOITEMPO, 1979, pp. 10-11.
Fig. 30 – Cemitério campo São José: “foi no dia de Finado, com cemitério cheio e tudo, a partir dali acabou-se [...] pra morrê não precisa tá debaixo da terra não, sabe?”. Entre almas e encantados Maria das Dores cumpre a sina. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
95
roçado com os pais – e finalmente com a desatenção da própria mãe e irmãos para com o estado
de saúde.
A sua família só começou a se preocupar depois que adoeceu. Tinha febre, dores no
corpo, não se alimentava e, principalmente, a partir da adolescência passou a sofrer “ataques”,
que caia no chão, debatendo-se e rasgando a roupa do corpo. “Parecia que gostavam de me fazer
sofrer...” procurando um motivo para o desinteresse da família.
O sentimento de exclusão familiar, a consciência das limitações das mulheres nas relações
de trabalho e um dom que é encarado em certas ocasiões como uma maldição, suscita a formação
de identidades no discurso excludente, no “cabo de guerra” dos conflitos e preferências pessoais.
A esse respeito, o discurso residual que nasce da memória não consiste necessariamente
em um processo objetivo, ou seja, na relação entre memória e conhecimento, é pertinente o
diálogo entre memória voluntária e memória involuntária.
Precisamos ficar atentos para a função criativa da memória, suas estratégias de
enunciação, negação e atualização do passado. Assim as finalidades da dinâmica no tempo
presente, projetam uma noção de futuro, isto é, de expectativa-esperança. Maria das Dores
alterna o seu relato entre as angústias do passado e a prosperidade alcançada184, permite que
visualizemos a contundência desses sentimentos– mesmo quando não diretamente explicitados –
para pensarmos nos motivos, indícios, ou no sentido de ser das narrativas construídas. Os ataques não eram
constantes, mas continuaram
mesmo depois de casada,
conforme ela descreve,
gradualmente iam tornando-se
intensos. O encantamento da água
era tão forte, que não podia se
aproximar do Rio Garrafão, pois
sentia um tremor no corpo, a vista
ficava nublada e depois as visões
começavam, “parecia uma energia
do rio [...]” explica, lembrando
184 Cf. TRONCA, Ítalo. Foucault, A doença e a linguagem delirante da Memória In: BRESCIANI & NAXARA. Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão sensível, 2004, Op. Cit., pp. 129-130.
Fig. 31 – Rio Garrafão. Maria das Dores: “a dona do incante mandava nas cobras”. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
96
essas experiências185. Acrescenta que o encantado mostrava muitas cobras, e que apenas ela era
capaz de vê-las, perdeu as contas de quantas vezes voltou com as roupas sujas, pois indo lavá-las
no rio não conseguia se aproximar com medo das cobras que ficavam sobre a tábua de lavar186.
Muitas vezes, não conseguia dormir, ouvindo vozes, temia estar enlouquecendo, elas
(vozes) chamavam seu nome, gritavam de dor, davam risadas. Com o tempo percebeu que uma
sombra a acompanhava: “era um acompanhe”, segundo ela, um mensageiro das águas, e dizia
muitas coisas, sempre a alertando para que nunca abandonasse o seu dom, do contrario, poderia
morrer. Comenta rapidamente sobre o caso de uma tia que preferiu morrer a cumprir a “sina do
encante”:
Era irmã de mamãe. Quando começou isso nela, ela não tinha nem vinte anos, mas aí ela foi dessas pessoas que ficô alvoroçada, correu sete quilômetros sem ninguém pegar, e levaram ela pra Bragança pro homem curador, e ele falou que se ela não trabalhasse ela ia morre. Ela nem pensava, quando pensava corria, aí de uma hora pra outra morreu. Não quis rezar de jeito nenhum e morreu mesmo. Morreu nova (silêncio), aí eu tinha uma acompanha que dizia pra mim - não era que eu visse, não! Era que nem um sonho, um sonho, sonhava com aquilo, aí ia atrás no outro dia e era positivo. Quando foi um dia eu sonhei com ele e disse que se eu continuasse assim ele ia me matar, você tem que seguir o dom que Deus lhe deu, toda vida nos tem que seguir o signo que Deus deu pra gente. Um dom... Um é de ser rico, outro de ser pobre, outro de certas coisas e seguir o dom que Deus deu187.
Maria das Dores revela que sua família só passou a se preocupar depois da morte da tia e,
principalmente, quando ela tinha os ataques e corriam vários quilômetros, passando dois ou mais
dias fora de casa. Conforme narrativa de familiares, nem os médicos e nem a Igreja resolvia o seu
problema, só foram descobrir quando mandaram Antonilda para Bragança. Lá um curador avisou
que tinha um dom e que se não fosse iniciada, morreria. Assim, após a morte de Antonilda, sua
família procurou o mesmo curador de Bragança, quando chegou a casa dele – descreve Maria das
Dores – não aconteceu absolutamente nada. Ele apenas disse que: “ocê não precisa de nada, vai
aprender sozinha”, pediu que quando chegasse a hora, não ficasse com receio.
Os desmaios e ataques foram acabando, mas reitera que isso só foi possível depois que
começou a aceitar a voz do “acompanha”, “aí foi ficando manso comigo”, diz completando o
raciocínio. Um aspecto importante na narrativa da entrevistada é a ênfase dada ao “acompanha”, 185 FERRETI, 1995, Op.Cit., p. 4. Nos estudos sobre a encantaria maranhense, tanto na região litorânea quanto no interior, existem rios, lagos, poços e nascentes conhecidos como moradas de Mães d´Água e de encantados que já apareceram a alguém transformados em animais, como, por exemplo, cobras, peixes, botos e outros animais. É fundamental lembrar o brilhante texto do professor Aldrin, quando descreve a forma como os literatos, “folcloristas” e viajantes construíram representações sobre a ilha de Maiandeua. Em especial, para efeito de referência - no trabalho aqui produzido - penso na existência do lago encantado, provável morada das encantarias, ou na mágica cidade encantada, com sua magnífica geografia marítima. Cf. FIGUEIREDO, 2008, Op. Cit., pp. 53-65. 186 Discursos, representações e sonhos envolvendo certos animais, remetem ao significado religioso que podem ter, ou pelo menos, a indagação sobre o uso e as formas em várias culturas. ELIADE, 1996, Op. Cit., pp. 30-31. Na perspectiva regional temos. OLIVEIRA, 2007, Op.Cit., pp. 107-113. 187 Dona Maria das Dores, depoimento citado.
97
não sendo, portanto, um espírito que apenas atormentava fazendo ameaças, mas agia também
como agente de revelação, indicar, demonstrar e auxiliar no exercício do dom. Longe de ser um
espírito que aparecia visivelmente, manifestava-se em sonhos e premonições. A aparição das
cobras era algo visível, mas as vozes e vultos manifestavam-se num estado de transe semelhante ao
sono, digo semelhante, pois não deixa claro se estava acordada ou dormindo, na verdade descreve
como uma situação intermediária.
Essas experiências remetem as narrativas que descrevem a formação das identidades
xamânicas, conforme os estudos de Mircea Eliade:
El candidato se trueca em um hombre meditativo, busca La soledad, duerme mucho, parece ausente, tiene sueños proféticos y, a veces, ataques. Todos estos sintomas no son más que el prelúdio de la nueva vida que espera, sin saberlo, al candidato [...] Pero se dan también “enfermedades”, ataques, sueños y alucinaciones que deciden em poço tiemplo. La Carrera de um chamán. No nos importa gran cosa saber si estos éxtasis patógenos se produjeron efectivamente, o si fueron imaginados o, por lo menos, enriquecidos ulteriormente com recuerdos folklóricos para terminar por ser integrados em la mitologia chamánica tradicional188.
Tanto o transe iniciático como o controle dos ataques e visões foi reforçado pela
constante presença do “acompanha”, que com o passar do tempo passou a ter vários significados
na vida da entrevistada:
[...] olhe, essa acompanha que eu tinha ele me trazia muitas coisa boa, mas o meu marido nunca procurou [...] querer fazer, né? Ele era um lavrador forte, trabalhador, diz que não precisava. Às vezes ele me dava (acompanha), mas ele (marido) não queria, dizia: “eu lá vou atrás disso”, aquela coisa toda, eu perdi. Era pra mim ser uma pessoa bem de vida, bem mesmo (silêncio prolongado, olha para as mãos serenamente). Mas com o tempo ele foi me deixando, com o tempo, mas sempre quando não queria fazer, ele me dizia que se eu não fizer, ele ia me matar. Aí tudo que me pedia eu fazia mesmo, às vezes não gostava não, mas era o jeito. Aí passou-se uns anos desapareceu-se... Até hoje, nunca mais. Andava perto de morrer, primeira doença que ele me deu foi um pé – espécie de tumor na parte lateral do tornozelo – inchou, inchou... Passou foi tempo andando de pé só. Eu já sabia que era assim mesmo189.
Segundo a narrativa de Maria das Dores, “o acompanha” também providenciava muitas
coisas boas ou “agrados”, aquilo que o acompanha lhe dava, não poderia aceitar aquilo que o
dava para o marido, apenas ele poderia pegar, e assim eles deixaram de ganhar muitas coisas boas.
O caráter ambíguo do acompanha em sua vida é reforçado seguidamente.
A rezadora deu exemplo de ajuda do acompanha. Olhando para a rua, deu um sorriso
discreto e disse que ia contar a história de como conseguiu comprar os terrenos que ficam na Rua
14 de Março:
Aqui nessa rua tinha a família do seu Moura, que era um povo de Bragança, que tinha dinheiro de pesca. Na época meu marido tinha uns réis guardado, né? E sempre passava aqui e dizia comigo: “se eu tivesse essa terra ia plantar cada horta!”. Aí o “acompanha”
188 Sobre as particularidades das práticas xamânicas na América central e do sul, Ver ELIADE, 1960, Op. Cit., p. 45. 189 Maria das Dores, depoimento citado.
98
disse que ia valer-se de mim. Passou-se uns seis meses quando botou uma placa de venda, ai quando meu marido foi comprar, compramo foi três ( risos) de tão barato que tava. O seu Moura disse que ia se desfazer de tudo porque sua mulher gestante não parava de chorar com saudade da família em Bragança, tava quase botando ele doido [...]190.
O aspecto ambíguo do “acompanha” de Maria das Dores é latente, ora como ameaça,
origem do tormento, ora como fonte de prosperidade, como ajuda e companhia nas rezas.
Afirmou que há mais de onze anos que não fala com ele, acha que o motivo é o enfraquecimento
do dom, pois “está perdendo as forças”, rezando apenas em doença de criança, e “doenças
comuns”. Além de rezar e passar chá para doenças teria poderes de descobrir se alguém tivesse
feito alguma maldade ou encomendado encante para outros. Mas perdeu muitas coisas mesmo
por causa do marido, que nunca se interessou ou acreditou no que ela dizia.
O “acompanha” é um personagem da narrativa que emerge como causa explicativa,
dando sustentabilidade e lógica para o fio condutor de sua história pessoal; o desempenho da
rezadeira enquanto interprete de papéis sociais é compartilhado nas atribuições de uma
companhia espiritual191.
Mas não pode pensar em parar de rezar, pois tem medo de que apareça novamente. A
interlocutora explica como foi à última vez que com ele conversou: “comecei a pensar em parar
de rezar, comecei a me sentir cansada, então ele apareceu fazendo ameaças”. Nunca pode rejeitar
ninguém que bata na sua porta atrás de ajuda, independente de quem seja, agora não pode
garantir “trabalhar” para tudo, algumas coisas só faz se “o acompanha” autorizar, mesmo se não
quiser fazer, se ele ordenar, não pode negar.
As rezas, remédios e “serviços”, são mistérios que Maria das Dores não pode informar.
Esclarece que os encantados poderiam “se voltar pra mim” ocasionando doenças e até morte. O
argumento do mistério sustenta o eixo narrativo, ficamos impossibilitados de conhecer os
segredos estabelecidos entre ela e o “acompanha”. O segredo não é uma determinação da
benzedeira e sim uma limitação do pesquisador “você não pode ouvir senão passa mal”. O medo
é articulado na narrativa como estímulo, castigo e obediência, com o objetivo de articular a
relação e proteção do Mistério dos encantados192.
190 Idem. 191 Algumas rezadeiras entrevistadas argumentam a idade avançada e as doenças como empecilho para o contínuo exercício das rezas e curas, outras estão em franca atividade; no caso de dona Maria das Dores, ocorre gradual diminuição dos seus poderes. O afastamento do “acompanha” é um sinal de que as rezas ditas “fortes” e difíceis não podem ser realizadas, embora não tenha convicção disso, tem receio de que ele retorne. Sobre o desencantamento por idade e o cumprimento definitivo da missão ou fado, importante referência é a pesquisa de PINTO, 2004, Op. Cit., p. 220. 192 Cf. DELUMEAU, 1989, Op. Cit., pp. 157-164.
99
Os medos produzem tensões e impactos, mas de uma forma ou de outra sedimentam as
resistências e projeções das identidades. Deste modo, Delumeau argumenta:
Distinguir entre medo e angústia não significa, porém, ignorar seus laços nos comportamentos humanos. Medos repetidos podem criar uma inadaptação profunda em um sujeito e conduzi-lo a um estado de inquietação profunda gerador de crises e angústia. Reciprocamente, um temperamento ansioso corre o risco de estar mais sujeito aos medos do que outro. Além disso, o homem dispõe de uma experiência tão rica e de uma memória tão grande que sem dúvida só raramente experimenta medos que não estejam em algum grau penetrados de angústia193.
No inicio, quando tinha os ataques e que estava doente, as pessoas sentiam pena, depois
que começou a fazer rezas e curas foi bastante criticada, às vezes, lembra que passava semanas
sem sair de casa, passou vários anos sem ir à missa, com a rejeição da sociedade local, viveu um
exílio espiritual. No entanto, explica que muitas pessoas que falavam mal, sempre apareciam para
pedir algo, uma reza, ou mesmo “uma adivinha” (adivinhação). Recorda que apesar da Igreja
condenar, muitas pessoas importantes nas funções ou movimentos religiosos sempre iam à sua
casa. No passado pediu para o pároco da cidade ir à sua casa para conversar. Falaram durante
quase uma hora, a entrevistada narrou tudo o que fazia e o padre então lhe disse que, se tenha fé
em Deus e nos santos, poderia continuar curando.
Hoje em dia não sofre mais preconceito, muitas pessoas vão à sua casa de dia, pedem
remédios, orações e, praticamente, não ouve nenhum comentário. Lembrando o diálogo com o
padre, afirma que na época se sentiu surpresa e muito feliz, mas hoje – acrescenta – entende que
ele só quis diminuir o seu sofrimento e que, na verdade, a Igreja nunca vai aceitar! Por isso a
interlocutora tem um discurso que compreende a fé como algo a ser vivido na individualidade e
não no coletivo. Exalta o papel da caridade e das boas obras em detrimento do exercício da fé na
religião institucionalizada, desenvolvendo uma visão de mundo instituída muito mais pelas
experiências particulares do que pela ortodoxia religiosa.
Sofri muito, muito, muito [...] Isso é uma coisa que é muito rejeitado. A igreja rejeita tudo isso rejeita. Até porque tem a parte de que não pertence a Deus e tem a parte, eu acredito que tem a parte que pertence a Deus. Sabe por quê?! Porque o primeiro rezador, o primeiro curador que veio no mundo foi Jesus. Não tô dizendo que eu quero me comparar com ele... Mais que se um rezador é condenado. E por que Jesus foi curando cego, aleijado tudo? Porque eu vou ser sincera com você!Eu tenho certeza do que vou dizer a minha palavra é verdadeira. Eu nunca andei fazendo mal a ninguém. Se eu puder ajudar eu ajudo, se eu não puder. Quem sou eu para julgar?! Mais fazendo, fazer mal pros outros eu não faço mesmo. Toda vida, minha vida foi essa de sofrimento pelos outro. Não tenho coragem de fazer mal a ninguém por que pra mim, fazer um mal pro meu próximo é ofender a Deus. Porque se você vai todo dia na igreja, mas se você não faz uma ação de nada.Você tem salvação?Eu acho que é meio difícil. Porque eu acredito que religião não salva nós. O que nos salva é nós fazer a caridade, fazer o bem. E é nisso que eu me pego, é nesse que eu vivo. E graças a Deus eu sou feliz, né?! Por eu não, eu olhar o meu próximo, olhar o meu irmão. Eu durante 79 anos, 79
193 Idem, pp. 25-26.
100
anos!Eu sempre lutei para ajudar as pessoas. Até hoje mesmo já ajudo quando eu posso... Quando eu posso ajudo, que nunca me senti mal. Por que isso é da vida, isso faz parte da nossa fé. Porque é como eu tava dizendo pro sinhô, se você ta hoje, ainda agora eu tava dizendo... Se eu tenho dinheiro, se eu tenho tudo de bom na minha vida, por que eu vô pensa em Deus?! Deus é o meu dinheiro, é a minha riqueza. Então eu tenho que passa coisas que eu acredito que Deus existe pra mim me apega a Ele e pra Ele, pra mim sabê, é, recebê aquela bênça, aquela graça, pra mim sabê que Ele existe194.
A crença nas obras e no poder da caridade é um elemento constante no discurso de Maria
das Dores. Critica as pessoas que frequentam Igrejas, mas não demonstram proximidade com
Deus, não fazem o bem ao próximo. Confessa que existem muitos curadores e benzedores que
fazem o mal aos outros, mas diz que seria incapaz de fazer algo assim. Sustenta, no entanto, que
muitos curadores e rezadores praticam o bem, busca fundamentar o seu discurso no argumento
de que Jesus Cristo teria sido um grande rezador, tendo feito a bondade a muitos necessitados e
que se as pessoas atentassem para isso, não teriam tanto preconceito.
O enfrentamento produz uma tentativa de constituição identitária desvinculada do
catolicismo ortodoxo. Jesus Cristo é concebido por Maria das Dores como xamã, um homem
capaz de operar milagres, controlar seres do mundo espiritual, falar coisas enigmáticas e
interceder pelos pobres. A imagem de Cristo é dissociada das ordenanças institucionais da Igreja
Católica.
Interessa-nos perceber como as rezadeiras têm postura distanciada da ortodoxia católica,
contrastando com percepção de que Jesus e os santos aproximam-se do ofício de rezar. A relação
identitária que perpassa cristianismo e encantaria na narrativa das mulheres benzedeiras tem o
intuito de solidificar a autoridade e sacralidade na comunidade.
Desenvolve o raciocínio de que sempre sofreu e viveu para o conforto e a saúde dos
outros, e que as pessoas que só buscam o dinheiro terminam se afastando de Deus, acabam
achando que o dinheiro pode dar-lhes tudo, depositando suas esperanças no mundo terreno e
nos bens materiais.
Contrariamente ao que havia dito em outros momentos da entrevista sobre as
recompensas materiais que recebeu mediante o uso do dom e do “acompanha”, nega usufruir de
qualquer benefício, demonstrando na narração outro ponto de vista, sendo aqui uma pessoa
totalmente desapegada de qualquer interesse ou favorecimento material.
A visão de mundo de Maria das Dores tem características de práticas religiosas distintas,
do ponto de vista do saber institucional ou oficial; mas sobrepostas, se atentamos para a dinâmica
dos atores sociais em ebulição.
194 Maria das Dores, depoimento citado.
101
Na perspectiva do discurso cristão, o dom era dado por Deus, por isso ela deveria usá-lo
para beneficiar o próximo, nunca tirando proveito do carisma dado por ele. Temos ainda outra
leitura sobre sua vocação. O dom era dado pelo encante das águas, que agia na sua vida pedindo
total obediência. Em troca ela receberia muitas oportunidades de melhorar de vida; aqui então há
uma relação que envolve obediência-recompensa mais perceptível.
A ajuda dos encantados da água representa um auxílio para a sobrevivência familiar, logo,
a prosperidade em que vive não denota ambição ou ganância195. Dessa forma, o caráter ambíguo
dos encantados denota entidades capazes de proteger ou atacar os homens, não estando
arraigados em valores dicotômicos (bem/mal) universais.
Atentando para a multiplicidade e a aparente “contradição” nos depoimentos de Maria
das Dores, vemos sentenças morais relativas a valores, crenças e práticas da vida social, não
atribuindo o pensar da interlocutora como um sujeito imóvel, pois não vive crenças definitivas,
mas sim como um sujeito perpassado por experiências variáveis e híbridas, tal como aquelas que
narram as relações mediadoras entre Deus e o encantado das águas.
No tópico seguinte vamos conhecer a rica sabedoria oral de dona Esther, uma rezadeira
que elabora sua identidade associada à arte de fazer “romanços” e rezas. Proveniente do Ceará
segue a sina paterna de “contadora de romanços”, no percorrer das aldeias e vilas absorve
cadência e ritmo dos repentes populares. Na Amazônia, dona Esther consolida a fama de
benzedeira mediante experiência xamãnica de cura e possessão.
1.6 - Dona Esther: “Quando eu enxergava, eu era enxergada” No dia 22 de junho de 2010, fui informado sobre a existência de uma rezadeira no Bairro
Almir Gabriel. Tive essa informação graças a alunos do Ensino Médio que moram no local, – “é
uma senhora bem velinha, mas minha mãe disse que já foi muito boa”, revela uma estudante –, e
a uma senhora que era rezadeira, que me orientou falar com dona Esther, tendo em vista se tratar
de uma rezadeira que gosta muito de conversar. Já havia andado em vários bairros da cidade, mas
ainda não conhecia o Almir Gabriel, esse aspecto despertou o meu interesse, sendo uma
oportunidade de pelo menos, ir ao local. E por ser um bairro afastado das ruas principais, com
precário sistema de iluminação pública em certas ruas, e quase nenhum policiamento ou
assistência pública municipal, só encontrei a casa de dona Esther através de informações
195 Não excluo em hipótese alguma a existência desses elementos na religião cristã. Indico, porém, que nas narrativas citadas, esses aspectos têm mais visibilidade.
102
fornecidas por moradores, ela vive em uma das ruas mais distantes “no fim do Bairro”, confirma
o informante.
Quando cheguei à sua residência fiquei um tanto confuso, pois havia duas casas no
mesmo quintal, esse era protegido por uma cerca de madeira. Uma casa era de alvenaria e
pequena, a outra era de barro, mas o quintal era imenso, especialmente no comprimento, dando a
impressão de que havia cacimba ou açude com criação de animais. Vejo um senhor idoso
amolando um terçado entre as casas, pergunto sobre a rezadeira, ele chama uma moça, que sai da
casa de barro, digo que quero falar com dona Esther, ela me conduz ao quarto.
A casa é bastante simples, com poucos móveis, o que denotava precariedade nas
condições de vida. O quarto tinha uma estante de madeira, com as roupas dobradas, em cima
desta um rádio pequeno que era manuseado por uma jovem chamada Izabel, responsável pelo
trato diário da entrevistada – fazendo as refeições, providenciando o banho e os cuidados gerais
da casa – que estando em uma rede coberta por um mosqueteiro, apenas sentou-se.
Apesar de demonstrar idade avançada, achei estranho a depoente estar em uma rede no
horário de 10h30min da manhã, só quando Izabel abriu a janela percebi que a entrevistada era
cega. Puxei um banco de madeira, fiquei encostado na rede para que a gravação não fosse
comprometida, pois aqui havia dois problemas: a voz baixa da rezadeira e o som do rádio.
Nascida no Ceará, no dia 17 de agosto de 1931, Esther Gomes Batista era filha de
agricultores, sendo criada com mais nove irmãos. Afirmava que na sua época o Ceará era o pior
lugar para se viver, sempre sonhando em sair de lá, apontava a seca e a violência como a causa do
sofrimento do povo cearense. Saiu de lá depois que casou aos vinte e quatro anos, quando seu
marido, que tinha parentes no Pará, resolveu buscar melhores condições de vida:
É! Eu vim do Ceará, vim de navio, né?! É sufrimento muito grande vim de navio. Nesse tempo num tinha ônibus como a gente tem agora, né?! Pois bem. Aí foi em 1958 e fez inté bem [...] foi à seca pra banda de lá. A seca foi três ano de seca, não ouviu fala, não?! [...] era muito bicho morto, chão rachado, uma disgraçeira só. Diziam por lá que era o fim dos tempo196.
Mesmo tendo sofrido bastante no Ceará, enfatiza os momentos difíceis que passou na
viagem, e a saudade que sentiu da sua terra natal por anos a fio. Chegou ao Pará em 1958,
desembarcando em Belém, vindo para Quatipuru e depois direto para Capanema, onde seu
marido passou a trabalhar como vendedor em um ponto comercial que pertencia a um tio.
As narrativas do Ceará e da viagem para a Amazônia eram pontuadas como se fosse algo
recente. O tempo circunscrito pela memória arregimenta as suas lembranças para o tempo
196 Entrevista realizada com dona Esther, 81 anos, entre os dias 22 e 25 de Junho de 2010. Depoimento citado.
103
demarcado como presente, por exemplo, quando pergunta com espanto se eu não lembro
quando houve a seca de três anos na sua terra natal! Polariza essas informações como relevantes
não apenas para sua história de vida, mas para a vida da comunidade. Não sabe a minha idade e
talvez não tenha a exata noção do tempo cronológico, o que realmente não importa.
Vemos na relação entre passado e presente que as experiências construídas na atualidade
atribuem um lugar, um olhar, um juízo sobre nossas vivências. Não partilhar com a perspectiva
de uma história fatalista, permite que aventemos uma relação mediadora compreensiva entre
passado e presente e vice-versa. Somos imbricados pela visão do passado, mas o olhar do
passado na perspectiva da facticidade do agora. Nas narrativas registradas discutimos a fluidez e
plasticidade do presente, passado e futuro no tempo da memória 197.
Pois bem, foi três ano de seca. Aí eu não queria vim não. Aí eu tinha um cunhado criminoso, animô nós pra vim. Eu digo: “Meu velho, não vamo pras terra aléia, terra que ninguém cunhece, num vamo!”, “Não mulhé! Nós vamo passa só um ano pra lá, que ele vai mais nós, num sabia que ele era criminoso, que ele morava distante de nós”. E tinha morrido um capitão polícia e era tanta gente preso por causa da morte desse capitão e matavam muita gente, por causa da morte desse capitão. Ele se danou pra querer vim, ai nós viemo quando chegemo nós na hospedaria foi um sofrimento mais medônho do mundo, pensavô que nós tinha fugido do crime. Eu me lembro daqui mesmo é só da Tecefátima198 e das cinza queimando as roupa tudo [...] Do trem que passava pô, pô, pô, pô... Até hoje quando tinha filme de trem eu só pensava naquela época. Só essas rapaz199.
Dona Esther lamenta a forma como seu marido conseguiu o dinheiro da passagem,
arrumando dinheiro emprestado com um cunhado criminoso que vivia em Belém, pois teve de
pagar quase três vezes o valor devido aos juros200.
Sobre a vida familiar, explica que não teve filhos, mas criou uma filha adotiva que trouxe
do Ceará desde os dois anos e que no fim da década de oitenta faleceu aos 38 anos. Anterior à
morte da filha adotiva, lamenta profundamente a morte do marido, que “morreu do coração” em
1971, quando retornava para casa depois de um dia de trabalho.
Narra que ficou cega um pouco antes de sua filha morrer, graças a ela conseguiu se
aposentar por invalidez, ficando de “benefício”201 desde aquela época. Enfatiza que o que garante
o sustento da casa e o pagamento da empregada é o seu benefício.
197 Estou em sintonia com compreensões de memória formuladas por LE GOFF, Jacques, História e Memória. Tradução Bernardo Leitão... [et al.]. 5ª Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, pp. 207-229. 198 Local de passagem da estrada de ferro, entre Barão de Capanema e Av. João Paulo II. Segundo narrativas de populares esse nome era uma referência à fábrica de tecelagem, que tinha no seu interior uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. 199 Dona Esther, depoimento citado. 200 Sobre a exploração da população nordestina na Amazônia, seus símbolos e representações, importante a consulta de FONTES, Edilza. A Batalha da Borracha, a Imigração Nordestina e o Seringueiro: a relação entre História e Natureza In: NEVES, Fernando Arthur de Freitas & LIMA, Maria Rosane Pinto (org.) Faces da História da Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2006, pp. 227-251.
104
Sentada na rede, gesticulando bastante, dona Esther lembra como muitas pessoas eram
enganadas quando vinham do Ceará para o “norte”, das humilhações que sofriam durante a
viagem e de como eram ameaçados de serem mandados de volta.
Na narrativa da entrevistada os sentimentos em relação ao Pará são intensos e
contraditórios. Ao mencionar as dificuldades e a seca no Ceará, alimenta o forte desejo de buscar
uma vida melhor, modificando esse discurso quando enfatiza a distância dos familiares que
permaneceram lá, a saudade da comida regional e da vida social que deixou para trás.
As sensibilidades são produzidas nas estruturações das experiências históricas, estando
inseridas na cultura como afirmações, de formas específicas que os atores sociais estão imersos.
As estruturas de sentimentos estão tangenciadas nas relações, nas alterações contidas da
prática cultural, moldando as suas tradições e a disposição das identidades no espaço coletivo.
Isto significa perceber que as alterações na produção da realidade, são sempre sociais. Não
pensamos experiências isoladas e descontextualizadas, mas práticas sociais oriundas, efetivadas
nos contatos de um determinado grupo. Williams postula a inseparabilidade entre o social e o
material, conectando a experiência no fazer compartilhado. Os sujeitos nascem em grupos com
formas de significar o mundo vitalizado pela tônica do local que pertence, estrutura de sentimento é a
percepção do tempo elaborado202.
À luz das memórias de dona Esther e reflexões de Williams, a viagem de navio é
intercalada com o percurso da locomotiva, imagens e sonoridades elencadas; a forma como a
interlocutora desenvolve a sua fala, é singular, não no estilo de encadeamento sob a estrutura da
linguagem formal, mas à corporeidade: fala sentada na rede, com a cabeça erguida, como que
procurando às imagens, os sons, as impressões despertadas do mundo memorial. Seu modo de
narrar é gestual, narra “com as mãos”, tecendo o mundo elaborado no esforço performático, o
vai e vêm no cruzamento dos braços, no passar e perpassar os dedos e as mãos umas sobre as
outras não deixaram de produzir em mim as imbricações que envolvem o ato de narrar e tecer.
Nessa perspectiva, é válido relembrar quando Zumthor afirma que se houvesse uma
ciência da voz, ela não estaria centralizada em uma única forma de conhecimento, pois deveria
abranger em princípio, a fonética e a fonologia, além da antropologia, história e psicologia em
geral. Em seu estudo, refere-se à voz do ser humano real, e não à do discurso, uma vez que o
201 Atingindo a idade prevista em lei, conseguiu obter recebimento de aposentadoria. 202 WILLIAMS, 1992, Op. Cit.
105
texto literário é uma voz que está dentro de um suporte escrito, portanto, mediado, ele já é uma
representação203.
Quando a narradora fala sobre a seca e o sofrimento da viagem, baixa a cabeça, aperta as
mãos, denotando a humilhação e angústia ainda viva na memória. Ao descrever como, depois de
anos, conseguiram comprar um terreno e fazer sua casa, tem uma postura relaxada, mãos abertas,
braços abertos, sinalizando o recebimento de um presente.
Desenvolveu a capacidade para falar de sua história de vida, (re) viver experiências pela
linguagem do corpo. Dessa forma, linguagem, performance e contexto remetem a significados
oriundos das memórias sociais. Sobre os gêneros e conexões no horizonte da cultura, assinala
Pelen:
Não há verdadeira solução de continuidade entre o texto e a palavra ou o contexto, nem mesmo entre a palavra e o silêncio, o instante e a história, o individual, o particular e o coletivo... Ao invés de se falar em ausência de continuidade, seria mais apropriado falar de solidariedade discursiva entre todos os termos supracitados204.
Dona Esther não sabe ler
nem escrever, seu ato
comunicativo transborda em
gestos e oralidade ao contar que
sempre admirou as histórias e
milagres de santos. Na infância, na época dos arraiais, quando circulavam no interior do nordeste,
sempre admirou os contadores de histórias, denominados por ela de “romanceiros”, homens e
mulheres que “contavam causos musicados”. Disse que sempre teve vontade de fazer o mesmo e
que depois de adolescente passou a criar os seus “romanços”. Tendo absorvido as influências da
literatura de cordel, mergulhou sua identidade no ouvir, lembrar e contar da vasta cultura oral dos
203 Ao pesquisar algumas vozes para analisar a poesia oral e a vocal, Zumthor escolhe a Idade Média, pelo fato de esse período apresentar uma fronteira muito tênue com a voz, haja vista a literatura medieval ser contada e oralizada antes de escrita. ZUMTHOR, 1993, Op. Cit., pp. 105-107. 204 PELEN, Jean-Noël. Memória da Literatura Oral, a dinâmica discursiva da literatura oral: reflexões sobre a noção de etnotexto In: Projeto História 22. São Paulo: EDUC, 2001, pp. 71-72.
Fig. 32 – Visão parcial da outrora Praça Tece Fátima, na parte inferior, os trilhos da estrada de ferro. A memória da viagem de trem é (re) vivida através das imagens de filmes antigos. Fonte: Acervo pessoal Deyviane Pinheiro.
106
saberes populares nordestinos. A realidade descrita por Vasconcelos é de grande auxílio para
elaborarmos um painel das imagens e representações de locais conhecidos na memória da
rezadeira quando percebe que:
O que se valoriza nessa prática de “contação” de histórias, o que penetra nos lares? O que aparece nas preces, quais os ícones que decoram as paredes? Quais as formas das perspectivas de vida de cada um? Para além da coletânea dos “causos”, é necessário compreender os significados sociais, os tempos e os lugares produzidos, modificados, mantidos por essas narrativas205.
Lembra por exemplo como criou um quando chegou ao Pará em 1958. Perguntou-me se
gostaria de ouvir; respondi afirmativamente. Vez ou outra a jovem responsável por Dona Esther,
aparecia no quarto, observava, sem intenção de vigilância, demonstrava simples curiosidade,
Izabel interrompeu o diálogo rindo, dizendo que ela (rezadeira) sabia “milhares de romanços”, e
que esse é um dos seus prediletos:
Em 1958 saindo do nosso lugá iludido por um criminoso saindo do Ceará. Cheguemo em Fortaleza na hospedaria fumo esperá abri passage do navio para Belém do Pará . Cum vinte dia o navio nu cais chego, nós saímo da hospedaria, no cais fomo esperá o navio encostá para nos embarcá. As seis hora da tarde, nós todos embarquemos, o navio saiu apitando nas água de mar à fora e eu também vinha chorando logo sem demora cum a minha filha no braço eu não tinha consolo não, minha filha vai. Mãe por que chora assim? Minha filha porque vô no navio, nas onda do mar sem fim, o pai foi e respondeu: Mulher deixe de besteira, isso tudo é ilusão, pior se tu fosse avoando de avião. O navio saiu navegando e eu dentro dele chorando. Quando foi no outro dia em Maranhão fumo chegando, aí fumo demorá, o navio descarregá para poder viajar, o navio discarregô continuemo a viajá pelas onda do mar, com três dia, com três noite chegemo em Belém do Pará . Quando chegemo em Belém nós todo desembarquemo. Aí fiquemo no cais, um carro esperá, para viajá para as colônia do Pará. Quando o carro chego nós todos embarquemos. O carro saiu rodando o dia todo sem parar, quando foi ao anoitecê em Ourém fumo chegá. Ai nós três noitemo até o dia clariá. Quando o dia amanheceu, nós fumo atravessá o rio pro outro lado de lá. Quando chegô no outro lado de lá tinha outro carro esperá. Aí nós embarquemo, continuemo a viajá. Num deu meia hora chegemo em Capitão Poço lá no Miguel Aguiá. Ele mandou fazê almoço para nós todo almoçá, nós todos almocemo e fumo demorá, descansamo um pouquinho para poder viajá. Ele mandô buscá dois burro para nossas coisa nós levá, nós butemo os burro na frente e atrás a caminhá. Dentro duma mata chovendo sem parar, pulemo pau, pulemo barreira, mais até que chegemo lá, de Santa Luzia do Pará206. Quando chegemo lá foi todo mundo de admirá de tanto cearense naquele dia chegá. Chegava paraense de todo lado a chegar, para vê o cearense que chegaram do Ceará207. Uns trazia pupunha208, outros trazia tacacá209, uns trazia caranã210, outros trazia
205 VASCONCELOS, Regina Ilka Vieira. Oralidade e Tradição oral na Caatinga: experiências do sertanejo cearense com assombrações In: Proj. História. São Paulo n.22, 2001, pp. 303-305. 206 Dona Esther, depoimento citado. 207 Para uma visualização quantitativa dos fluxos migratórios. Cf. BRASIL, Marília Carvalho. Os fluxos migratórios na Região Norte nas décadas de 70 e 80: uma análise exploratória. In: Disponível em: http://www.fundaj.gov.br/docs/text/mabrasil.doc. Acesso em 04/09/2010. 208 Palmácea da Amazônia, fruto comestível.
107
piquiá211.Todas essas fruta eu vô exprumentar, eu comia pupunha, tomei o tacacá, chupei a caranã e o piquiá. Nenhuma fruta dessa tem lá no Ceará. Aí truxeram banana e laranja pra eu chupá Essa fruta eu gosto é a fruta que tem lá no Ceará212.
A oralidade não constitui apenas a existência da voz como elemento constitutivo de
comunicação. Versos, rimas, performances, entonações e criatividade – voz poética –
enriquecem, não somente a vitalidade imaginativa da palavra, mas demonstram toda uma
trajetória de vida marcada pela importância da oralidade como fundamental para a transmissão
das experiências de vida e saberes praticados no espaço da cultura.
Além de descrever os passos, a ansiedade, os problemas e as esperas de uma história de
imigração, a narrativa de dona Esther apresenta como uma determinada identidade se relaciona
com as mudanças. Diretamente vinculada à voz poética, a performance é uma ação oral - auditiva
pela qual a mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida no tempo presente, em
que o locutor assume voz, expressão e presença corporal (física), enquanto o destinatário, que
não é passivo, também se inclui como presença corporal dentro da performance213.
Os laços sociais, hábitos e
relações de trabalho são
elementos formadores de uma
identidade, esta por sua vez é (re)
elaborada de acordo com a forma
com a qual os sujeitos históricos
experimentam os ambientes dos
locais da cultura214.
No caso da entrevistada,
além de produzir uma narrativa
209 Comida típica paraense: caldo de tucupi, goma, jambú, camarão. 210 “maurittiela armata” ou “palmeira azul da Amazônia”. 211 Fruto da árvore do mesmo nome (Caryocar villosum) tem forma esférica do tamanho de uma laranja, casca marrom e polpa amarela carnuda de 3 a 10 mm, bastante apreciada no espaço amazônico. 212 Dona Esther, depoimento citado. 213 Tais relações promovem uma importante compreensão sobre a escrita poética, considerada como linguagem secundária, pois como signo gráfico representa as palavras em ação e voz, que, ao utilizar a linguagem, não fala apenas sobre algo, mas se inclui naquilo que diz, dispondo-se como presença e performance. ZUMTHOR, 1993, Op. Cit., pp. 219-223. 214 Grande contribuição é a perspectiva dialógica que os sujeitos sociais assumem, diante dos símbolos de satisfação, revolta e felicidade. DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. 2. Ed., Rio de Janeiro, Graal, 1996. Nesse mesmo olhar temos a circularidade ou comércio dos signos, nos trânsitos culturais, no caso de GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. Companhia das Letras, São Paulo, 1989.
Fig. 33 – Dona Esther, abandono e solidão após a perda do dom. “Quando eu enxergava, eu era enxergada”. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
108
que, de forma geral, traduziu em várias circunstancias os sentimentos e aflições dos imigrantes
nordestinos no decorrer da história, discorre sobre um ponto de tensão mediado pela experiência
humana, que é a experiência do aqui e do ali215.
O eixo fundamental da narrativa é o sentimento de “estar deixando o aqui” em
oposição/complementação com o “estar chegando ali”, o luto, a perda, em diálogo com o novo,
a promessa, a esperança. Daí a referência quando insere no discurso o caminhar na mata, o estar
debaixo de chuva, principalmente ao considerar o fato de ter vivido três anos de ausência de
chuva. Elabora um novo tipo de visualização sobre o mundo natural, onde contrasta suas
experiências de vida em locais diferentes, opondo, por exemplo, a existência de sabores entre as
frutas do Pará e Ceará.
Após experimentar piquiá, pupunha, caranã e tacacá, lembra-se das comidas do Ceará e
reforça o prazer de comer laranja e banana. Estas últimas, por existirem lá, são vistas como
originárias de sua terra, se não, pelo menos acionam sentidos de localidade.
Devemos atentar para a elaboração mnemônica relativa à natureza, a importância desta no
relato da entrevistada. O significado que terra, plantas e frutas estão inseridas; não apenas como
demarcações de sua história de vida, laços sociais e saudosismo, mas como relações de
pertencimento desta com o seu mundo natural. Mencionamos como as sensibilidades locais são
ancoradas nos vínculos com as plantas, animais e paisagens.
Evocamos produção historiográfica que discute justamente a relação do homem com a
natureza, isto é, como a noção de consumo, exploração, admiração ou negação do mundo
natural, que passa por constantes (re) dimensionamentos. Como, por exemplo, quando interpreta
os elementos do mundo natural como sobrecarregado de marcas identitárias, sentimentos de
pertencimento, continuidade e mesmo uma forma conjugada de hábitos e visões de mundo.
Reportando-se ao exemplo inglês, Thomas demonstra como as sensibilidades sociais interpõem-
se na natureza:
As Árvores na Inglaterra eram cada vez mais amadas, não só por sua utilidade, ou apenas por sua beleza, mas por seu significado humano, pelo que simbolizavam para a comunidade em termos de continuidade e associação [...] parte desse sentimento quase pode ser chamado de religioso216
215 Sobre as experiências e adaptações da população nordestina nas políticas de imigração no Pará, no inicio do século XX. Cf. LACERDA, Franciane Gama. Infância e imigração do Pará (final do século XIX, inicio do século XX). In: BEZERRA NETO, José Maia & GÚZMAN, Décio Marco Antônio (orgs.). Terra Matura: historiografia e história social na Amazônia. Belém. Paka-Tatu, 2002, pp. 395-406. 216Cf. THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). Tradução João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp. 18-19. Idem, p. 305.
109
Quando fala sobre a criação de seus “romanços”, afirma rindo que sempre perguntam
isso, e que na juventude já aprendera muitos, e às vezes quando faziam novenas ou missas era
chamada para falar. Amigos, parentes, padres eram surpreendidos não apenas pela rima, mas pelo
tamanho de seus romances. Surpresas, as pessoas falavam: “como à senhora sabe do sofrimento
de Jesus, não é?! Se a senhora nunca tem ido em porta de aula, não saber lê, nem escrever, nem
coisa nenhuma. Eu digo: Sei não”.
Dona Esther recorda de um caderno em que estavam, mais de cem romances, todos
escritos por uma garota de treze anos, que era sua vizinha desde recém nascida. Disse que sua
amizade com a garota começou mesmo depois que ela passou a frequentar a sua casa. A garota
que se chamava Maria, sempre pedia para pegar manga e outras frutas no quintal de sua casa.
Com o tempo passou a ouvir as narrativas da rezadeira, e depois a escrever algumas.
No decorrer dos anos começou a chamar-lhe de avó, sempre preenchendo as folhas do
caderno. Questionei se era dona Esther que pedia que escrevesse ou se a jovem Maria era quem o
fazia. A interlocutora afirmou que isso dependia da ocasião, pois algumas vezes ela dava manga,
bejú, pamonha para que Maria escrevesse dois ou três romances, em outros momentos era Maria
que se interessava: “quando tinha (na narrativa) coisa engraçada ela ria muito e escrevia de bom
grado... Ou então quando era assombração, coisa d’outro mundo, também escrevia com gosto”.
Lembra de que faz muitos anos que não vê Maria, e que as pessoas da rua comentam que
ela casou e foi morar em Castanhal, mas que antes de ir embora deixou o livro com a rezadeira e
que esta não sabe mais onde está, e o tendo como perdido. Mas o que é realmente enfatizado no
discurso de dona Esther, é o fato de que Maria sempre levava o caderno de histórias para escola,
e muitos alunos aprendiam os seus “romanços”. Com muito orgulho, conta sobre o dia que um
escritor foi assistir a feira cultural na Escola de Maria, e que após ouvir algumas narrativas escritas
no caderno, pediu para conhecer a autora.
A entrevistada comenta com vaidade e muita alegria que conheceu o escritor:
Ah! Seu menino, sempre vinha gente que Maria trazia da escola pra ouvir a minha prosa – assim como o senhor – quase todo mês. Veio até escritor de fora, homem bonito, educado que ia gravar os romanço. Nunca que pensei na vida de ter minhas mensagem espalhada pelo mundo em letra, né? (risos)217
Dona Esther parece ter admiração pela escrita, atribui um valor singular ao conhecimento
e saber letrado, considera um privilégio o fato das suas experiências estarem sendo registradas.
Pergunta se está falando muito rápido, eu peço que não se preocupe, lembro que estou gravando
e não escrevendo, esboça um sorriso e pede para ouvir, diz que “tem que saber se tá falando
217 Dona Esther, depoimento citado.
110
direitinho”. Nesse momento interrompo a gravação e deixo que escute por quase dois minutos
sua voz, novamente ri e comenta surpresa como a sua voz havia ficado bonita no “som”, a
intimidade da voz218.
Verifico como ficou com a face fixa, sem movimentos bruscos, com a boca aberta e com
o mais “profundo olhar”... O olhar introspectivo! Assim como se sentiu feliz ao saber que os seus
hinos eram lidos na escola, agora o sentimento de ouvir a própria voz, e digo não a voz em si,
mas o “eco”: A possibilidade da propagação de suas memórias de vida, a experiência de ser ouvida,
a potência de ter uma voz, de ser o sujeito de suas significações219.
Afirma que as suas narrativas contam as histórias de milagres e louvores aos santos, mas
também falam bastante sobre o seu sofrimento e a vinda para o Pará, estes últimos, denominados
de “Hino de Sofrimento”.
Podemos perceber que as narrativas aqui não podem ser consideradas meras repetições e
exercícios da fala decorativa, e sim uma manifestação de suas experiências de vida. A relação
entre a riqueza da oralidade e a dinâmica das representações da memória tem um diálogo
intrínseco na textura da identidade, uma vez que, a descrição do passado pode ser entendida
como uma (re) significação não apenas da experiência vivida, mas das experiências do tempo
presente enquanto elementos constitutivos dos imaginários sociais.
Lembro aqui a análise de Geertz, para quem a cultura não deve ser compreendida como
algo institucionalizado, fechado, preso a um modelo universal. As culturas seriam os elementos,
os vínculos, os significados que os homens mantêm entre si. A compreensão da cultura por esse
viés se afasta de um conceito de ciência regido por leis fixas e se aproxima de uma compreensão
interpretativa da cultura220. Se as culturas, isto é, as linguagens e os códigos existentes entre os
homens devem ser traduzidos ou interpretados. A forma de descrevê-los, diz Geertz, é a
“descrição densa”:
O ponto a enfocar agora é somente que a etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato (...) é uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma
218 “Em razão de um antigo preconceito em nossos espíritos e que performa nossos gostos, todo produto das artes da linguagem se identifica com uma escrita, donde a dificuldade que encontramos em reconhecer a validade que não o é. Nós, de algum modo, refinamos tanto as técnicas dessas artes que nossa sensibilidade estética recusa espontaneamente a aparente imediatez do aparelho vocal”. Sobre as fronteiras entre linguagem oral e escrita, pertinente a problematização de ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. São Paulo: HUCITEC, 1997, p. 11. 219 THOMPSON, Paul. “A voz do Passado”. Tradução Célio L. de Oliveira, Ed. PAZ E TERRA, 1992, p. 309. 220 “Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como sendo uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado”. Cf. GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 15.
111
forma, apreender depois apresentar (...) fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado221.
O autor diferencia, assim, uma compreensão da cultura estruturada em descrição
superficial e uma descrição densa. O simples descrever e narrar, que não leve em consideração as
relações entre os diversos sujeitos, seus interesses e os aspectos particulares de sua vida social,
seria uma descrição superficial, rasa, carente de profundidade hermenêutica. Enquanto que a
descrição densa busca criar leituras dos discursos já construídos culturalmente, envereda por uma
operacionalização semiótica, da contingência das significações.
Um exemplo, nessas narrativas orais, pode ser demonstrado quando pedi que a
entrevistada escolhesse um “hino” em particular. De frente para a janela, iluminada pela claridade
do sol da manhã, com os braços erguidos e postura altiva, antes de falar, iria explicar. “Tem é
muita meu filho, tem, quando eu vivi aí, nesse lugar - diz apontando para o chão- que eu tava
enxergando, que eu curava muita gente, que a minha casa só vivia cheia de gente, aí eu fui e gravei
uma assim [...]”:
Quando eu enxergava, eu era enxergada. E era mais quem me procurava. O povo todo gostava de mim, e num faltava gente dentro da minha casa. O povo todo gostava de mim, e num faltava gente dentro da minha casa. Hoje eu num enxergo, não sou enxergada, e nem também tão pouco procurada. Para o povo a minha casa está fechada, mais para Deus a minha casa é destrancada. Para o povo a minha casa está fechada, mais para Deus a minha casa é destrancada. Como foi meu Deus pra eu ficar assim? E hoje eu não enxergar e ninguém ligar pra mim. Como foi meu Deus pra eu ficar assim? E hoje eu não enxergar e ninguém ligar pra mim222.
Há uma necessidade de explicar a mensagem, diferentemente de sua fala em outros
momentos da entrevista, aqui pretende ser entendida, faz menção ao contexto do discurso,
apontando para o chão, mostra o lugar da cura e como esse lugar era cheio de pessoas,
recorrendo a um tempo, que seria o de “casa lotada”, paralela ao tempo que enxergava.
A cegueira fez com que parasse de rezar, pois além da cegueira, havia ficado fraca, não
podendo mais ver as mensagens que eram reveladas pelas almas, a cegueira determinaria (em
parte) assim, a diminuição da força do seu dom, esvaziando, por conseguinte, o número de
pessoas na sua casa.
O ato de rezar e a prática da cura são componentes das relações de sociabilidade, bem
como as formas em que saúde e doença são significadas no imaginário social. Por isso, no caso da
interlocutora, o fato de enxergar, isto é, de poder exercer a ação da cura, de “ver” as doenças seria
221 Idem, p. 20. 222 Dona Esther, depoimento citado.
112
o pressuposto, ou pré-condição para ser enxergada, para ter o reconhecimento de um grupo ou
comunidade, de ter função de destaque no papel social.
O sofrimento representado no canto diz respeito, não apenas a perda da força da cura,
mas enuncia uma condição de lamento. O sentimento de abandono, não um abandono vivido no
passado ou um ressentimento produzido pela dinâmica social, mas um sofrimento relativo à
memória presente, a atualização e interpretação da experiência passada, do que foi, e do que é –
da dor gerada pelo sentimento de ser esquecida223.
Nos escombros da lamentação, restou o apego a Deus e a resignação à sua vontade.
Ressalto aqui a ideia de “sina” ou destino, um termo corrente na narrativa das benzedeiras. Em
muitos casos remete o sujeito da fala a justificar sua condição, vida e sofrimento, diante das
contingências do tempo vivido, por isso que, ao mesmo tempo questiona a ausência de pessoas
na sua casa, mas realça a constante presença de Deus.
As histórias de vida são descritas mediadas pelas formas da cultura, assim os sujeitos
sociais elaboram suas mediações e traduzem os sentidos e hábitos que tem como palco as suas
estruturas de sentimentos. Desvelando as múltiplas dimensões da cultura224.
Quando terminou a narrativa, Izabel e eu estávamos admirados com a riqueza dos gestos
e da oralidade. E talvez, muito mais fascinados pela forma como dona Esther consegue
transmutar o peso de suas experiências de vida para a palavra, uma rica capacidade de reportar o
ouvinte ao mundo constituído da narrativa. A rezadeira espontaneamente falou que havia outro
“romanço” semelhante e que sempre lembrara. Daí não perdeu tempo e emendou para
evocações que procuram pôr em relevo o fazer-se de suas identidades.
Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Quando eu tinha minha vista, tinha muita sastifação, cuidava em minha casa e toda as obrigação. Agora vivo numa rede cumprindo a missão. Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Hoje eu num enxergo, num escuridão, pedindo um favor, que eu num posso fazer não. Vivo numa rede cumprindo a missão. Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Quem era eu e quem sou agora? Quem era eu num sou eu não. Quando a noite vem chegando, com meu joelho no chão, rogando a Jesus Cristo que me dê conformação. Porque vivo numa rede cumprindo a missão. Porque vivo numa rede cumprindo a missão.
223 Interessante notar os entrelaçamentos que envolvem o saudosismo, o esquecimento em confronto com as estratégias de rememoração, de revitalização nos sujeitos históricos, mediados na dinâmica narrativa. Um exemplo de condição semelhante está em PACHECO, 2006, Op. Cit., pp. 57-65. 224 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura, Rio de Janeiro. Zahar, 1979, pp. 20-26.
113
Assim mesmo com tudo isso, até num passo mal não, num falta pra mim nem a água nem o pão. Porque eu tem Deus no céu, que tem de mim compaixão. Porque eu tem Deus no céu, que tem de mim compaixão225.
Observamos como a interlocutora desenvolve um repertório que objetiva questionar a
condição atual, tem consciência de como as experiências alteram a visão de si. Sabe que a forma
como se reconhecia e era reconhecida – identidade individual e coletiva – está ancorada em parte,
na sua experiência com o sagrado, e principalmente, na forma como elabora essa percepção no
bojo social da alteridade. No ato de narrar, vê-se então a pergunta pelo sentido e imutabilidade da
identidade, pois, ao pensar na sua condição atual, lança um olhar crítico sobre quem era no
passado memorial! A busca de uma compreensão do tempo significado como o presente produz
o questionamento da historicidade das experiências, que estão, por sua vez, arraigadas no vértice
da memória, isto é, do diálogo entre passado memorial e sua relação com o instante/atualidade.
Segundo Boaventura, o movimento e a historicidade dos sujeitos em transformação estão
associados infinitamente ao momento de sua existência nas relações de tempo e espaço. A tensão
entre a memória do momento e à superposição de outro momento posterior
(descontextualização), no caso do mundo das identidades culturais, estabelece-se um confronto
de linguagens, pois a desconstrução pressupõe um longo processo de (re) significação discursiva-
identitária (recontextualização) 226.
A visão é representada no discurso como a função capacitadora, que permite o
cumprimento das obrigações domésticas, podendo ser interpretada como um elemento distintivo
da identidade de “ser mulher”, pelo menos percebida na singularidade da enunciação da
entrevistada, que se lembra com saudade da época que lavava sua própria roupa, ou quando
podia tratar uma galinha caipira, dando “sustância”227 ao seu marido na labuta diária. Tanto o
trabalho realizado nas tarefas de casa, como as rezas, benzeções e curas são encarados como
opostas a sua vida atual, no fundo de uma rede, na escuridão imposta pelos olhos. Se no passado,
quando começou a fazer rezas e curas, sentia-se sobrecarregada com fardo do dom, presente em
reflexões posteriores, agora sofre com o vazio deixado por sua perda228.
225 Dona Esther, depoimento citado. 226 “O clima geral das revisões é que o processo histórico de descontextualização das identidades e de universalização das práticas sociais é muito menos homogêneo e inequívoco do que antes se pensou, já que com ele concorrem velhos e novos processos de recontextualização e de particularização das identidades e das práticas”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2000, pp. 138 e 144. 227 Vigor, força física. 228 Sobre a construção das identidades nas relações de gênero, trabalho e religiosidade. Ver PINTO, Benedita Celeste de Moraes. O fazer-se das mulheres rurais In: Desafios de Identidade: espaço – tempo de mulher, 1997, Op. Cit., pp. 11-23.
114
No entanto, compreende todos esses momentos de sua existência como constituintes de
um trajeto único: a “missão” que Deus lhe deu nessa vida. Recorre a Jesus Cristo de joelhos
buscando aceitar seu destino, apesar do seu estado de infelicidade e tristeza. Reforça consolo no
fato de ainda ter sua casa na velhice e, principalmente, em ter condições de se alimentar
diariamente e que muitas pessoas idosas são abandonadas, passando a viver nas ruas, esmolando,
colhendo lixo ou deixadas em asilos.
A rezadeira busca amparo na compaixão de Deus, para evitar que sofra o abandono e a
miséria, tão temida entre muitos idosos. A cegueira, a perda do dom, conjugados ao avanço da
idade, afastam dona Ester de sua especialidade mágico-religiosa, inserindo-a no mundo do
homem comum229, restando-lhe apenas a ajuda de Deus no fim de sua vida, como uma
retribuição pelos anos em que rezou aos necessitados em seu nome.
Pergunto se não se sente sozinha, se não tem vontade de viver com outras pessoas, pelo
menos com pessoas de sua idade. Diz que sente saudade de conversar com outras pessoas, mas
não de viver longe de sua casa, de seus móveis. Sente saudade dos amigos, que na maioria já
haviam morrido. Lembra que tem muito medo quando anoitece, quando ela e sua ajudante
(Izabel) ficam na casa, pois já tentaram invadi-la várias vezes, principalmente nos fins de semana,
quando a malandragem resolve roubar qualquer coisa para comprar drogas. Questiono se já
procuraram a polícia, se buscaram alguma ajuda, ela ri, olha para Izabel, que também ri e
resmunga, “aqui! Ajuda mesmo só Deus, porque ninguém se importa com nós”. E para continuar
em defesa de suas concepções de vida, envolve-nos em outro “romanço”.
O meu vigia me vigia noite e dia. Que é Jesus filho de Deus, filho da virgem Maria. E o anjo que me acompanha que me guarda noite e dia. E o divino Esprito Santo e muito amor e garantia. E o divino Esprito Santo e muito amor e garantia. O meu vigia me vigia noite e dia. Que é Jesus filho de Deus, filho da virgem Maria. E o anjo que me acompanha que me guarda noite e dia. E o divino Esprito Santo e muito amor e garantia. E o divino Esprito Santo e muito amor e garantia230.
Os hinos de sofrimento tematizam louvores, preces e conforto, simbolizam, portanto,
formas de resistir ao abandono, insegurança e esquecimento. Há em dona Esther um sentimento
de perda irreparável, deixa visível a percepção de que carrega um fardo de culpa ou pecado
cometido no passado.
229 Pessoas sem o dom ou experiências xamânicas. 230 Dona Esther, depoimento citado.
115
Elabora uma interpretação que tem como fundamento a necessidade do sofrimento no
fim da vida associado à busca pela redenção, e ao mesmo tempo, apresenta “os romanços” como
sensibilidades voltadas para a elaboração do conforto. A entrevista com dona Esther revela a
relação entre hinos, rimas e experiências vividas na infância:
Eu vim pra cá meu bichinho deixa eu ver, tá com 29, uns 30 ano, mas aonde eu vivia quando eu cheguei do Ceará foi pra Santa Luzia de Capitão Poço, nós fumo pra lá, de lá pra cá viemo vindo até que cheguemo em Capanema. Eu trabalhava, eu trabalhava , ia pra [...] quebração de milho, tiração de malva, era o meu serviço. Hoje em dia não faço nada rapaz, que não faz mais coisa nehuma. Nesse tempo eu só lembrava dos dia feliz no Ceará, quando ia pras romaria com papai: ele era um rezador muito forte, não era que nem eu não [...] as reza eram tudo “romanceada”, ia de casa em casa, nós andava de seis quilômetro pra frente no dia. Era quase um padre lá em Pedregulho, nas colônia, bem no interiozinho de São Luís [...] Olhe é porque nosso senhor já levou ele, mas pra cada santo tinha “romanço” (risos) era tanto que tinha gente que vinha de outros campo231.
As atividades no roçado, nos primeiros anos no Pará, foram os mais sofridos, recorrer às
lembranças da juventude no Ceará garante consolo e renovação de forças para seguir em frente.
A benzedeira aprendeu “os romanços” através da figura paterna... Segundo as narrativas era um
homem responsável pelas novenas, procissões, romarias e vigílias no interior do estado.
O papel de liderança religiosa na localidade emerge através da capacidade de realizar
“rezas cantadas” ou “cantorias”232. As palavras, repertórios e saberes paternos ecoam na memória
de dona Esther como fonte de inspiração: as rezas executadas pelo pai (Jorge)233 faziam parte do
cotidiano religioso, não tinha o objetivo de somente curar e proteger, eram acompanhadas
coletivamente no interior, atraindo populares de outras localidades do Ceará.
Revivendo a história familiar pelas narrativas, algumas cantorias aprendidas por seu Jorge
são rememoradas pela entrevistada:
Natal é o cravo que o anjo anuncia, é o cravo e a rosa que é a virgem Maria. Vamo respeitar todo esse dia, pois é o cravo e a rosa que é a virgem Maria. Ano Novo vem aí com paz e alegria, tome respeitar todo esse dia, que traga muita paz e muita harmonia, menino Jesus e a virgem Maria. Maria e José saiu caminhar com filho no braço pra todo lugar, eles caminharam e foi muito alengo, menino Jesus que nasceu em Belém. Cumpri a missão que Deus pai mandou, até chegar o dia que ele marcou do filho único de nosso senhor, que morrer na cruz por nós pecador234
A realização da segunda entrevista deu-se no fim do mês de dezembro. O clima de natal
provocou um clima emotivo e cordial na rezadeira, a pedido do pesquisador recita “cantoria”
relativa ao nascimento de cristo (hino de Natal). Os elementos primordiais do cristianismo são
231 Idem. 232 Termos utilizados pela entrevistada para referir-se aos “romanços” do pai. 233 Nome do pai de dona Esther. 234 Dona Esther, depoimento citado.
116
significados no horizonte da cultura popular nordestina: o nascimento, sofrimento e crucificação
são descritos não somente como ritualização do passado cristão, mas como promessa de
salvação, atrelada à esperança de um ano novo melhor.
Natal raiou, é estrela do oriente, raiou nasceu é a luz por ordem e graça do divino espírito santo. Nasceu de Maria é verdade foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, é verdade, é Jesus. Ele é o caminho, verdade, vida e luz, é Jesus. Quem seguir esse caminho, essa verdade e essa luz têm a vida eterna para sempre com Jesus, com Jesus, com Jesus, tem a vida eterna para sempre com Jesus235.
Diante do universo narrativo costurado pelas rezadeiras temos o entrelaçamento de suas
identidades nos espaços urbanos, múltiplas relações familiares, contatos sociais variados, origens,
trajetórias. As imagens produzidas e (re) interpretadas na memória são componentes projetivos
do “fazer-se” identitário.
Na segunda parte vamos seguir as narrativas das benzedeiras para traçar uma cartografia
dos encantados e compreender as formas de vocação xamãnica, especificidades, dores e conflitos
pessoais numa relação fantástica entre o mundo natural do ar, terra e água no território espiritual
das mulheres Amazônicas.
235 Idem.
117
PARTE II:
NO AR, NA ÁGUA E NA TERRA:
Encantaria na “Amazônia Bragantina”
“Os cultos dos encantados não estão isolados, havendo trocas e influências recíprocas entre eles. Espalham-se por diferentes regiões do país, levados por ondas migratórias, pela mídia e pela moda, ganham novos adeptos, fundem-se em outros cultos. Também as entidades migram, são incorporadas a diferentes denominações afrobrasileiras, sofrem mudanças, enriquecendo a cada momento o complexo quadro da diversidade cultural afrobrasileira”.
Reginaldo Prandi Encantaria Brasileira
118
2. - OS ENCANTADOS DO AR
Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está à casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso?
Isaías 66:1
Você acha que o mundo é só isso? Não é não [...] Hum! Se o professor visse mesmo como o céu tá cheio de alma, de bruxagem, a gente nem abria os olho [...] eles vem de toda parte do mundo, pra bem ou pra mal.
Dona Fátima
A crença em seres,
espíritos incorpóreos e forças
noturnas que povoam os ares e
ventos, habitam a imaginação e as
crenças de incontáveis narrativas
religiosas. A experiência dos
homens com as potências que
vivem nos ares entre o céu e a
terra remonta o fascínio pelo céu,
algo bastante presente na história
das religiões, indo das citações do
profeta Isaías à visão de mundo de dona Fátima.
Um deus é a personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e para o universo – os poderes do próprio corpo e da natureza. Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmo poderes que animam nossa vida animam a vida do mundo. Mas há também mitos e deuses que tem a ver com as sociedades específicas ou com as deidades tutelares da sociedade236
O sentido que a natureza adquire nas formas de representação religiosa, são incorporadas
nas crenças e rituais, produzindo vários efeitos na história social da cultura. As esculturas que
representam as divindades aladas na Índia pré-dinástica, as águias nos postes totêmicos erguidos
na casa de um chefe indígena da América do Norte, as pinturas de anjos, demônios, bestas ou
seres voadores noturnos, são os sinais de uma relação, de uma história antiga e sempre atual do
homem com o céu237.
No primeiro tópico dessa segunda parte da dissertação pretendemos discutir as narrativas
das rezadeiras que versam episódios, crenças, e referências às encantarias do ar. O termo 236 CAMPBELL, Joseph. O poder do Mito. Org. Betty Sue Flowers. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990, p. 24. 237 Idem, pp. 219-231.
Fig. 34 – Estação da Estrada de Ferro. “Nos trem, as pessoas, no ar, os encantados”. Álbum pessoal de Deyviane Pinheiro.
119
encantaria não se mantêm fixo: em muitas ocasiões a denominação encantado é alternada com
espíritos, almas e “aves do ar”. Durante a realização da pesquisa os encantados do ar não estavam
entre os mais citados, sendo recorrente nas memórias de dona Fátima, e esporadicamente,
mencionados nas demais entrevistadas.
Apesar de escassas narrativas, a importância desses encantados não deve ser generalizada
como um processo de registro ou “catalogação”. Não queremos propor uma estrutura
hierárquica das encantarias amazônicas, mas observar a relevância que os sujeitos históricos
atribuem a eles na particularidade do cotidiano. Lanço um olhar, que considera o contexto de
seus papéis no bojo da cultura, para questionar o significado das narrativas, e em especial, como
estas se entrelaçam com os conflitos, negociações e continuidades nas experiências identitárias.
As mediações entre encantaria e identidade são paralelamente esforços de uma proposta
de estudo que integra as formas de religiosidade locais e a busca de um lugar, de uma afirmação
de vozes, presenças e formas de existência. Acompanhando as reflexões de Hall, o estudo das
identidades está na ordem do dia na medida em que as relações de força e permanência devem
ser vistas no dia-a-dia da experiência humana238.
2.1 “Os Ventos falavam comigo”: caminhos da Iniciação Neste momento dona Fátima narra às experiências que evidenciaram o seu papel de
rezadeira. Encaminha sua narrativa inicial para os tempos de infância e juventude, sinalizando a
presença dos encantados desde então. Recorda ter nascido em Capanema, mas seus pais eram
nordestinos – paraibanos –, falou sobre a infância, na Rua Sebastião de Freitas, no passado era
uma área alagada, no meio do mato e distante do centro da cidade.
Tá... Olhe, minha família morava pras banda da Sebastião de Freitas (Rua localizada no centro da cidade) naquela época era só mato, mato mesmo. As casa eru tudo longe uma doutra. Mas tinha uma vizinha que tinha muita dor de cabeça, era filha do Manoelzinho, ela chorava, gritava (fala apreensiva, com muitos gestos) aí um dia – eu tinha sete anos – peguei umas planta, uns mato que ficavô perto de casa, assim bem colado nas parede (risos) eu não entendia de nada de cura não. Era na INTUIÇÃO (risos), mas deu certo. Passou-se, depois seu Manelzinho ia em casa pegar quase todo dia, aí minha mãe perguntava: “que doidice é essa menina?” o senhor sabe, né? Nessa época o tabefe comia logo, vixe... Apanhei muito por causa disso. Minha mãe era paraibana braba e não entendia de nada. Mas com tempo foi aceitando, aceitando, aceitando até chegar um tempo que aparecia umas amiga dela pra mim rezar, passar remédio e tudo, foram acostumando. Eu num impressionava não, vinha na cabeça e eu haja pegá mato pisado (risos) dava certo, né?! Ai eu continuava239.
238 “A hegemonia cultural nunca é uma questão de vitória ou dominação pura (não é isso que o termo significa); nunca é um jogo cultural de perde-ganha; sempre tem a ver com a mudança no equilíbrio de poder nas relações da cultura; trata-se sempre de mudar as disposições e configurações do poder cultural e não se retirar dele”. HALL, 2009. Op. Cit., pp. 320-321. 239 Dona Fátima, depoimento citado.
120
A narradora demonstrava grande ansiedade para falar sobre essas recordações,
recompondo paisagens, personagem e situações vividas quando despertava para o poder da reza.
O sofrimento de uma das primeiras pessoas que curou, assinala a sensibilidade do fazer-se de sua
identidade de rezadeira. Dialogando com as reflexões de Antonacci, temos a revitalização das
identidades mediadas pelo ato de narrar, palco da efetivação da história social da cultura,
sedimentando a vivência de sociedades que mantêm como meio de conservação de seus saberes
as tradições orais240.
Sobre o despertar desse “dom” assinalou: “veio um impulso, uma força ‘vindo de dentro’,
e então rezei e deu certo”. Notei que dona Fátima se esforçava para expressar o que sentiu, mas
não encontrava palavras, percebia uma preocupação em transmitir e compartilhar comigo as
experiências e a felicidade sentida. Quando fala “eu não entendia de nada de cura não! Era na
INTUIÇÃO (risos), mas deu certo”, parece passar a ideia de algo feito gratuitamente, carregado
de espontaneidade. A tonalidade, entonação e rítmica da linguagem devem ser percebidas pelo
pesquisador quando se coloca a escuta das vozes das culturas orais. Nessa perspectiva Portelli
enfatiza a relação entre o narrar e o compartilhar as vivências, um elo de comunicação e
interatuação são efetivados241.
Apesar de demonstrar simpatia nesse momento da entrevista, não deixa de falar sobre o
quanto sofreu por causa do “dom”. Depois da cura da filha do seu Manoelzinho, confessou que
outras pessoas doentes passaram a procurá-la, não apenas para rezar, mas também para passar
remédio com ervas e “mato”, como costuma dizer. Para ela não havia nenhuma surpresa em
realizar a cura, não se impressionava com o que fazia, era como se sempre fizesse isso.
Simplesmente as palavras vinham à mente, tanto para rezar, quanto para composição dos
“remédios do mato”, e como as pessoas iam ficando boas, continuava com essas práticas. A
resistência materna emerge com grande destaque na recomposição da experiência. A mãe não
aceitava o que fazia e assim, cansou de levar “tabefe”. Somente com o passar do tempo, superou
as dificuldades de aceitação da nova identidade em construção242.
240 ANTONACCI, Maria Antonieta. Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de folhetos: nordeste do Brasil, 1890/1940. In: Projeto História 21. São Paulo: EDUC, 2001, p. 116. 241 PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na História Oral. A pesquisa como um experimento em igualdade. In: Projeto História 14. São Paulo: EDUC, 1997, p. 9. 242 Sobre as formas de designação dos sujeitos da cura e a verificação das experiências singulares desses homens e mulheres no decorrer da história do Brasil, Interessa ler PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do século XIX In: CHALHOUB Sidney. Artes e Ofícios de curar no Brasil. Op. Cit. pp. 307- 325.
121
O ar de naturalidade como descreve a experiência das rezas e da cura, não pode ser
estendido para toda a narrativa, pois o processo que a tornaria realmente uma rezadeira, ainda
teria vários desdobramentos.
Mas o brabo mermo na minha vida começô lá pelos vinte dois, vinte três anos. Era casada nova – meu marido era um home muito bom, Deus me deu presente, paciente aguentô muita coisa, muita doidice minha – tinha dois filho (Barulho das bombas da borracharia) aí eu vi o inferno. De um dia pro ôtro comecei a ter pesadelo, desmaiava todo dia, parecia o cão! De dia só dava tempo de dá de comê pros meu fi (filhos), depois cai mesmo, minha mãe me acudiu muito. Tinha moleza no corpo, preguiça braba, fartio, tava seca em vida, tava morrendo viva... Os filho perambulando pela casa tudo sujo, mal tratado ficava no fundo do quintal de coca olhando pro tempo. Marido chegava... Hum... Não tinha nada feito pra ele, comida, rôpa, nada... Nem sossêgo pro pobe243.
A preocupação com a família é constante. Em suas narrativas o ser rezadeira é um
desdobramento do “ser mãe” e “ser esposa”. Os papéis sociais se imiscuem, sobrecarregam e,
por vezes, desequilibram o desempenho das vivências sociais, causando as angústias e
preocupações do vir a ser identitário.
Sob o curso das narrativas familiares, retoma as experiências religiosas, deixando claro as
conexões entre as falas. Nos primeiros anos de vida conjugal, quando ainda tinha vinte e três
anos, as visões e pesadelos passaram a fazer parte de seu cotidiano de vida.
Não sabe precisar exatamente como ocorreu, apenas lembra-se que começou a ter
desmaios diários, pesadelos e visões. Ela parou um instante, olhou-me seriamente, hesitou um
pouco na voz, um pouco trêmula e gaguejante, respondeu que era tudo muito confuso, mas era
sonho com os mortos, bichos da floresta, espírito “perseguidor do vento”. Além dos pesadelos,
havia as visões: “Via mermo sabe, não é isso de ver sombrinha não! Era como tivesse vendo o
senhor aqui (entrevistador)”. Ela reforça a literalidade da visão, afugenta a possibilidade de ter
tido uma ilusão, um devaneio. Ouvia vozes pedindo reza, falando maldades, dizendo que iam
matá-la.
D. Fátima é uma rezadeira que tem experiências com visões, presságios, experiências com
espíritos de noite, andanças nos cemitérios e idas a outros mundos244. Segundo ela: “Eu não
entendo disso não, só acontece... Aí fica por isso mesmo”. Como não conseguia desempenhar as
243 Dona Fátima, depoimento citado. 244. “Além dessas convergências referentes à crença na feitiçaria e na possibilidade de uma pessoa poder ser perturbada pelos espíritos do mundo invisível, o índio Tupi, o caboclo e o africano Bantu apresentavam convergência numa pluralidade de outras crenças, como por exemplo, a crença na reencarnação, no olho grande, na possibilidade do espírito humano poder incorporar-se em animais ou viajar fora do corpo durante o sonho, ou na atribuição de um valor sagrado a certos espaços naturais considerados moradia de espíritos”. NICOLAU PARES, Luís. Apropriações e transformações crioulas da pajelança cabocla no Maranhão. In: CARVALHO, Maria Rosário (Org.) Índios e Negros: Imagens, Reflexos e alteridade. Salvador/Rio de Janeiro: Projeto Cor da Bahia/Relume-Dumará, 1999, p. 12.
122
atividades domésticas, não cuidava dos filhos, tendo tempo apenas de cuidar do café da manhã, e
já sem forças, tinha vertigens e dores no corpo.
Posteriormente os desmaios e as perturbações não cessavam. O fundo do quintal era o
único lugar que buscava. Afirma que ficava lá, olhando para a mata, observando o movimento
dos ventos nas folhas, de costas para a família, não conseguindo nem pensar direito. Aqui
pretende enfatizar o distanciamento da casa, o isolamento da família, estando absorta pelo
movimento das folhas nas árvores. Um elemento indiciário de solidão, pois nas suas memórias de
infância, descreve como brincava sozinha com as folhas que caiam das árvores e de como – na
ausência de amigos – era sua principal diversão. Pensar que as viagens a outros mundos
afastavam dona Fátima do seu mundo245, deixando-a imersa no diálogo com os espíritos e
almas246.
A moleza no corpo, fartio e preguiça eram as sensações físicas que atingiam a rezadeira. A
forma como descreve esses fatos denota certo pesar diante do confronto com essas experiências
passadas. Mas também, há um detalhamento na fala, na descrição dessas experiências vividas, o
que prolonga a narrativa e o tempo da narração. Não quer dizer de qualquer forma, “passando
por cima”, busca uma descrição pormenorizada. Mergulhemos em uma destas recriações:
De noite, bem na boca da noite (madrugada) hum... O senhor não vai acreditar; um cavalo grande passava a noite toda se esfergando na parede roçando ao redor da casa a noite toda, comendo capim, sabe?! Dava pra ouvir o barulho dele puxando capim com a boca (imita o som com a boca). E se eu lhe disser que não tinha e nunca teve um só pé de capim no meu quintal! Quase fico doida. Se não fosse um homem bom tinha me deixado, vixe! Eu via coisas, vulto... Os vento falavam comigo [...] eram vento mesmo, estavam lá, e depois “zip” iam embora247.
No trecho acima relembra o encontro com os espíritos do ar e a consciência do impacto
que suas visões causavam para a interpretação materialista da realidade social. Presa dentro de
casa, aterrorizada, sem conseguir dormir, olhava pela fresta das janelas e sem acreditar, via o
cavalo. Mas pela manhã não havia marca de nada pelo quintal, nem sequer capim no local. Há
inúmeros relatos que descrevem os encantados como seres capazes de transformarem-se em
árvores, animais ou elementos da natureza, no intuito de aparecerem junto aos homens248.
245 Experiências religiosas envolvendo sonhos, transes, visões e sentimentos de isolamento, indicam no caso das experiências xamânicas, a possibilidades que essas forças – os encantados, no contexto Amazônico – têm ao transportar de forma definitiva, certas pessoas, para o seu mundo. Ver TRINDADE, 2007, Op. Cit. pp. 127-137. 246 A interlocutora não diferencia essas categorias religiosas, atribui especificidade e funções alternadas. 247 Dona Fátima, depoimento citado. 248 Para as pessoas que tem o dom de viajar a outros mundos, abre-se a possibilidade de manifestação dos encantados no mundo físico. Fundamental consultar as assertivas elaboradas por MAUÉS, Raymundo H. & VILLACORTA, Gisela Macambira. Pajelança e Encantaria Amazônica In: PRANDI, R. Encantaria Brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de janeiro: Pallas, 2004, p. 21; LIMA, Zeneida. O mundo místico dos caruanas da ilha do Marajó. 6. Ed. Belém, Cejup, 2002; CAVALCANTE, 2008, Op. Cit., pp. 63-81.
123
Duvidava do que via e ouvia, tinha certeza de que iria enlouquecer. Dona Fátima conviveu com
estas visões por quase um ano e que só veio a melhorar graças a uma amiga de sua mãe.
Um dia uma conhecida da mãe disse pra eu procurá um rezador muito famoso aqui em Capanema – ele já morreu faz uns anos – um neguinho bem velho mermo, mas disque tinha muito poder, fazia e desfazia bruxagem. Olhe (silêncio), foi uma luta pra mim ir com esse homem, fugia, me escondia, mentia. Até que um dia me levaro e era longe, era pra banda da quinta...sexta travessa (ruas/travessas que ficam localizadas na estrada Capanema-Salinas). Andei quase onze quilômetros, parava, corria, desistia. Quando cheguei lá era uma casinha simples, bem no matagal, era chamado Zé de Deus, vivia com a irmã, dentro da casa tinha uns cestão assim de vidro de ervas, remédio de perdê conta249.
Um poderoso rezador negro, avançado em idade, denotando experiência e
reconhecimento na cidade poderia ser a libertação de suas dores. A possibilidade de acabar com o
sofrimento, deveria causar uma sensação de felicidade e esperança, mas ocorreu justamente o
contrário. Os ataques pioravam, “parece que eles sabiam professor”, fala olhando para as telhas
da casa. Quando era marcado para que fosse à casa do Zé de Deus, dona Fátima vivia um
tormento, adoecia, acontecia alguma coisa com os filhos (baque, queda, doença), era como se
uma força agisse para impedir o seu encontro com o rezador. Ás vezes, ela mesma, que não
queria ir. O sentimento de mal estar era inexplicável, “um negócio ruim”, associação de medo e
fraqueza muito forte.
Finalmente a família
conseguiu tirá-la de casa, para
tanto tiveram de mentir,
disseram que iria a rua comprar
tecido para fazer roupa. Mas
quando desviaram da direção do
mercado para a Avenida
Presidente Médici, os ataques
começaram. Dona Fátima
afirma que eram três pessoas
segurando, o marido, uma de
suas irmãs, uma vizinha e a mãe só acompanhando. A entrevistada, nessa parte da narrativa, tem
alterações frequentes no modo de narrar: às vezes fala melancolicamente, depois de forma
repentina, ri bastante, conta como se fosse uma piada, ri da situação, de como corria e fugia. O
percurso até o rezador era longo, seguiram toda a Avenida Presidente Médici, depois a estrada em
249 Dona Fátima, depoimento citado.
Fig. 35 – Foto que retrata a construção da 7ª Travessa, na década de 1950. Fonte: Arquivo pessoal Deyviane Pinheiro1.
124
direção à cidade de Salinas, para só então, chegarem à localidade da sexta travessa, uma vila ligada
à Capanema. Ao todo andaram realmente onze quilômetros. Criava estratégias de fuga: corria
muito, ou então prometia que estava bem e que já tinha passado, mas quando a soltavam, ela
corria de novo, não sabia de onde tirava força pra correr tanto, deixando, diversas vezes, o
marido sem condições para sustentá-la, acompanhá-la.
Quando chegaram à vila, perguntaram pelo rezador, as pessoas se olhavam, depois
olhavam para ela toda suja, cansada e todo tempo com o marido e a irmã segurando nos seus
braços, então indicaram um ramal de uns cento e vinte metros e lá no fim estava a casa do
rezador. Era uma casa pequena, com as paredes de barro, coberta de palha e com muitas imagens
de santos. Na rememoração da moradia, a entrevistada ficou impressionada com um cesto
imenso de remédios, vidros de ervas, unguento, remédio de massagem e chá.
Após baterem palma, uma mulher idosa, que mais tarde veio saber que era irmã do
rezador, pediu que entrassem... Foi quando apareceu o seu Zé de Deus.
Ele ficô me olhando um tempo, disse pra me soltarem que eu num ia corre não, ia ficar sentada de qualquer jeito. Aí falô pro meu marido que me acompanhava: “A doença dela não é pra doutor não, é doença pros santo curar, com a ajuda de S. Benedito vou tirar esse espírito de bruxage que fizeram pra ti menina” – disse ele. Fiz quarenta dias reza, tomei erva e nunca, NUNCA saía de casa meio dia (12 horas) e fim de tarde (18 horas), pois senão os espírito fico forte de novo. No último dia ele falou assim: “Deus te curou e S. Benedito também, não quero nada, mas você é médium, recebe mensagem e vai de agora em diante ajudá os outro”. Não sabia dizer nada, fiquei olhando assim, égua! Não sei rezar direito, não intendo de remédio, não sei de nada disso. Ele só riu e disse que eu ia aprendê, que minhas força ia aumentar com tempo. Fez eu comprá baralho e tudo, não sabia nem dobrá carta, ele teimava que ia aprende, pois bem... Assim foi250.
Na presença de dona Fátima, o rezador não perguntou nada para os seus parentes, ficou
apenas olhando pra ela, pediu para que a sentasse na cadeira e que depois de tomarem um café
com bejú251, levantou-se e disse que não iam mais precisar segurá-la e que nunca mais iria correr.
Diante desta cena, Zé de Deus representa a influência das encantarias maranhenses no nordeste
paraense, reforçado pelo catolicismo devocional à S. Benedito, santidade associada as
religiosidades afroindígenas. Aparentemente o ritual de cura de dona Fátima era simples, mas de
grande significação para deixá-la preparada a executar sua missão na terra.
Tem a imagem de seu Zé como um grande rezador, mas, ao mesmo tempo, não viu nada
de mágico ou maravilhoso nos seus feitos. Os dias em que ia à casa de seu iniciador estão fortes
em sua memória. Lembra as conversas, o cotidiano e os trabalhos realizados. Dona Fátima foi
250 Dona Fátima, depoimento citado. 251 Bolinho achatado, de massa de tapioca ou de mandioca, do qual há muitas variedades.
125
retirada, parcialmente, do seu contexto familiar, mudou ainda a rotina de trabalho, trocando as
atividades domésticas e o cuidado das crianças por uma atividade diferenciada.
O relato da depoente denota um sentimento que recupera essa “época de aprendizado”,
nesse período aprendeu lições para a vida toda... Assim, o pisar tabaco, o fazer farinha, fizeram
com que não se sentisse fora deste mundo, afugentando o sentimento de isolamento. O processo
“terapêutico” de reconhecimento do dom e autocontrole deste implica no reconhecimento de sua
identidade, que passa não apenas pela iniciação nas rezas ou na aquisição dos saberes da floresta,
mas também pelos mínimos aspectos do cotidiano, dos múltiplos signos que transitam na
tessitura do “eu”. A esse respeito Castells assinala a multiplicidade dos atores sociais, onde novos
signos culturais elaboram novas sensibilidades e vivências múltiplas de um determinado sujeito.
No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na auto-representação quanto na ação social 252.
A assunção do dom e, por conseguinte, de uma concepção própria de destino e
identidade, forjou pelas suas experiências de vida uma relação singular com os “seus” encantados,
somente possíveis pela diluição do pólo “homem-natureza”253. A principal recomendação era
“nunca sair de casa no horário de meio-dia, nem às seis da tarde”, pois, se saísse, os espíritos
ficariam fortes novamente e ela voltaria a sofrer os ataques254.
Apesar de considerar o tratamento simples, reconhece que nunca mais sentiu perturbação.
As visões, os sonhos e as sensações estranhas continuaram, mas o sofrimento, os desmaios e o
fartio foram cessando. Dona Fátima aprendeu a conviver com essas experiências, passando a
“dominar” as antigas sensações que tanto a atormentavam. No último dia de tratamento seu Zé
252 Ver CASTELLS, Manuel. O poder da Identidade. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. SP: ed. Paz e Terra, 1999, p. 22. A respeito da relação das identidades com os hábitos e a estrutura do cotidiano nomeada de realidade, importante indicação. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 2. Morar, cozinhar. Tradução de Ephraim F. Alves e Lúcia Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996, pp. 189-202. 253 “A principal questão, na verdade, diz respeito a como, a partir de quê, por quem, e para que isso acontece. A construção das identidades vale-se da matéria prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais (...) quem constrói essa identidade coletiva, e para quê essa identidade é construída, são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem”. Cf. CASTELLS, 1999, Op. Cit., pp. 23-24. 254 Sobre as possessões, ou causa de doenças não naturais é importante lembrar que dependem da fraqueza ou fortalecimento da vítima, se esta tiver com o espírito fortalecido, o espírito estranho não conseguirá possuí-la. Temos ainda a crença de que o horário de meio dia e do fim de tarde é a hora de descanso dos encantados, que se incomodados podem provocar a malineza, bem como a exposição ao sol e à lua podem ser a causa do mau-olhado de lua e mau-olhado de sol. Detalhes importantes a esse respeito. MAUÈS, 1990, Op. Cit., pp. 100, 116, 119, 120.
126
perguntou se ela ainda sentia ataques, diante da negativa, tomou um gole de “tatuzinho”255, disse
que não ia cobrar nada, pois Deus e S. Benedito haviam realizado a cura, mas deveria saber que
era médium e por isso o dom jamais a abandonaria. A forma de agradecer a Deus era “repassar” a
mensagem, isto é, rezar e ajudar outras pessoas igualmente necessitadas.
As práticas culturais mediadas pelos saberes da floresta são dissociadas da lógica da
economia capitalista, portanto o pagamento e a cobrança pelos “serviços” são interpretados em
outra dinâmica. Zé de Deus ensinou dona Fátima a controlar o dom, usá-lo com equilíbrio, de
forma que não prejudicasse os seus múltiplos papéis sociais. O preço pela consolidação da
identidade, de ser rezadeira, não era a perda do contato com os encantados, mas sua afirmação.
As primeira que fez, levô criança pra mim benzê foi um desespero, eu dizia: “eu num faço nada, isso é Deus, viu? Tem que tê fé de vocês” conversa minha (risos) eu tava era com medo de rezar! Mas dava certo, ia dando as carta e ia vendo o que elas diziam e tudo dava bem certinho... As carta é que dize eu não sei nada. Vinha ideia na cabeça e falava... Ah! Isso é doença tal, isso é bruxagem... Isso é quebranto, costela, osso torto a por ai vai. Era verdade o que rezador falô, fui curando e rezando tudo. Tinha semana que vinha gente até de Belém, domingo o povo na minha porta, feriado, dia santo, Vixe meu Deus! Nem quero lembrá256.
Dona Fátima é uma mulher que demonstra muita expansividade em alguns momentos,
falando dos seus medos e angústias, não disfarça certos sentimentos, mesmo que estes gerem
desconforto. O medo de começar a rezar, errar, não conseguir curar, passar “mato errado”,
justifica e integra os saberes da encantaria com a crença em Deus e nos santos. Medo e receio são
sentimentos que atravessam as experiências de vida de dona Fátima com as práticas de cura.
Em relação ao uso de cartas, a tradução dos sinais é espontânea, não dependendo de
segredo algum, atribui, portanto a influência direta dos espíritos257. Atualmente não faz mais isso.
Uma vez seus filhos pegaram no baralho escondido e estavam brincando com ele no quintal,
quando percebeu, correu, tomou o baralho, deu surra nos dois e jogou fora. Quando alguém
pega no baralho ele desencanta. E por isso nunca mais comprou outro.
A rezadeira apresenta uma justificativa para o fato de não mais usar o baralho, a
traquinagem dos filhos emerge como algo perigoso. Ela poderia adquirir outro baralho e desta
vez, escondê-lo longe das crianças, mas preferiu abandonar a prática. Dona Fátima ainda hoje
255 Uma marca de cachaça, na época, bastante consumida na cidade. 256 Dona Fátima, depoimento citado. 257 “Largamente difundida por todo o Ocidente cristão, a prática de adivinhar foi, entretanto, freqüentemente associada ao diabo. Como em tantos outros campos, coube a São Tomás de Aquino papel de destaque nessa demonização: para ele, insistir em adivinhar o futuro e ir além das potencialidades da razão humana ou das revelações divinas era pecado grave, que via como pacto demoníaco (...). A partir de então, até as leis civis veriam a adivinhação como um crime insuflado por Satã”. O uso de cartas de baralho seria apenas uma das várias formas de adivinhação. Sobre o discurso construído no ocidente cristão em torno das adivinhações, importante considerar. SOUZA, 2009, Op. Cit., p. 210.
127
sofre com a fama de ser “macumbeira, feiticeira, de uma mulher que mexe com coisa do diabo”.
Isso pode nos dar o indício de que estivesse com receio dessa imagem negativa, talvez se
desfizesse do baralho para não ser incomodada, para tentar mudar a imagem que tinha diante de
opinião de alguns populares258.
Mais uma vez a identidade atribuída é remontada. A construção da identidade como um
campo de tensão entre a visão dos populares e a forma como a depoente pretende ser vista.
Portelli menciona o fazer-se identitário nas narrativas orais nas metamorfoses de papéis, posturas
e status, alternando-se no fluir das narrações. No partilhar das experiências, há eventualmente o
jogo de espelho de partilhas fragmentadas e estratégias na coordenação de situações e sentidos259.
Nos tempos de muita reza todos os dias as pessoas se aglomeravam na frente de sua casa,
buscando cura, pedidos de todos os tipos. Não havia fim de semana, feriado, dia santo, pois eram
pessoas não apenas de Capanema, havia ainda aqueles oriundos dos municípios vizinhos e Belém.
Nesse período já estava rezando bem, mas sempre havia situações que não podia resolver, pois
certos pedidos estavam além da sua reza. Cita por exemplo, o caso de um político doente:
Faz muitos anos o prefeito de Mãe do Rio... (pensativa, esforço para lembrar) ou era do Piriá, não sei?!...humm..sim, sim eu tinha poucos anos que tava rezando há bem pouquinho tempo. Pois bem... Esse prefeito tava com mal de epilepsia, se debatendo todo, vomitando sangue demais. Foi pra Belém corrido, hum! – doze dotor na cabeceira da cama! Nada desse homem fica bom, veja bem! A irmã dele era minha vizinha, dona Lindalva foi em casa e disse: “[...], quero lhe pedir um favor, faça uma reza pro meu irmão. Tá mal em Belém, morre num morre, parece que não tem dois dia de vida não.” Aí eu disse: “nunca rezei pra ninguém assim não! A minha reza era muito fraca ainda” [...] pois bem ai de noitinha comecei a rezar e falava com Deus e o santos. Olhe eu sonhei a noite toda saia pros cemitério no sonho falava com pessoa em outro mundo... – tem os incanti do vento, né? – Hum... Sonhei com uma muié toda de branco que me dizia pra mandar o tal prefeito com Zé Neguinho no Maranhão – Pense num rezador conhecido e poderoso-rezador popular que vivia na fronteira do Gurupi e que desfazia qualquer mal dizer! - Porque o poblema do prefeito era bruxaria braba. Notro dia falei pra Lindalva o sonho e cedinho os parente tiraro ele de Belém e levaram pro Maranhão (pausa ar pensativo). Depois de uns dia a irmã dele veio em casa e disse que o home ficô bonzinho. Falô que foi só Zé neguinho bater o olho pra fala: “O sinhô pode tê vinte médico... Isso é bruxaria se o sinhô quizer viver vai passar cinco dia na cidade comigo, tire essas roupa porque vô lhe limpa” disque ele tirou a roupa e o pretinho fez oração de desencanto e entregô pros bicho do mar260.
A entrevistada desvela mais um aspecto visível nas narrativas de pessoas que curam pela
reza. A relação que estes têm uns com os outros – apesar de não se identificarem como grupo,
comunidade ou associados – há uma rede de “habilidade” ou “especialidade” que possuem para
com um determinado tipo de enfermidade ou problema. Há, portanto, a construção de uma rede
258 No desenvolvimento do projeto de dissertação, foram realizadas entrevistas com dez rezadeiras, (apenas cinco mencionadas) sendo que destas, apenas duas declararam a utilização do baralho como forma de adivinhação. No entanto, todas mencionaram outras formas de adivinhação, que estão citadas no decorrer do trabalho. 259 PORTELLI, Proj. História 14, Op. Cit., p. 19. 260 Dona Fátima, depoimento citado.
128
de cumplicidade, solidariedade e disputa nas práticas das religiões afroindígenas. Na cosmologia
dos encantados não há separação entre os reinos. Aqui temos um exemplo de como as histórias
do ar, costuram-se com as da água.
A noção de que o processo que leva à cura depende não apenas da reza especifica, mas de
todo um trajeto, um caminho, fornece indícios de que o ato de rezar depende não exclusivamente
de um saber religioso ou dom, mas ainda de como um rezador transita nas experiências e
representações sociais. Ao reconhecer (em si) suas limitações, projeta/constrói no outro o
complemento ou reforço (para si), forjando uma identidade coletiva.
A interlocutora começa a
fazer sucessivas pausas, faz um
ar pensativo, parece que procura
ordenar os fatos narrados. Fala
consigo, mas em tom audível,
“deixa eu ver... É, parece que foi
assim mesmo, é isso, tô me
lembrando”, demonstra esforço
para dar continuidade na
exposição dos fatos, distância
mnemônica em relação a esses
acontecimentos. Roupas,
lugares, amuletos e pertences pessoais podem atrair a força dos encantados, assim o
desencantamento muitas vezes está associado não apenas ao ritual espiritual, mas ao afastamento
de objetos que potencializam a ação dessas entidades.
As rezadeiras acionam elementos do catolicismo popular e do universo das encantarias.
Os encantados não têm uma cosmologia hierárquica fixa. Há um trânsito de ação onde na
multiplicidade dessas potências, recorrem àqueles que possibilitam a cura ou o favor esperado.
A mensagem recebida para enviar ao prefeito traduz sua experiência noturno-onírica. Não
sabia se estava rezando com Deus e os santos ou se era uma revelação através de sonhos, seguido
de viagens em cemitérios e aparições diversas. Lembremos que no decorrer da narrativa, ela
menciona os “incantes do vento”, interrompe a lógica do seu raciocínio para inserir um fato
aparentemente “desconexo”. Somente após a transcrição da entrevista, dias depois, comecei a
interrogar o significado, não do termo em si, mas o porquê dele estar inserido nessa situação
Fig. 36 – Cemitério Municipal. Cenário de revelações entre dona Fátima e os encantados na calada da noite. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
129
especifica?261 Ao fazer o questionamento para a entrevistada, ela sorriu e disse em tom de
despedida: “tem os encante meu do vento, seu menino! Sai voando, né?”
Após reler várias vezes a entrevista e as anotações, percebi que uma das interpretações
possíveis, seria, no contexto da narrativa, uma forma de justificar as suas viagens para outros
mundos, a ida aos cemitérios, a conversa com os espíritos mortos, um dom que adquiriu com os
seus encantados, os encantados do vento, que podem sair voando de um lugar para outro, sem
restrição espacial alguma. Podemos relembrar dois episódios: a) quando narra sobre as
brincadeiras solitárias na infância debaixo das árvores, observando o vento e como este espalhava
as folhas e, principalmente, sobre a época em que era atormentada pelos espíritos; b) quando
ficava no fundo do quintal, isolada, apenas ouvindo as palavras do vento. “Os ventos falavam
comigo”262.
Na sua concepção, a forma como intermediou a cura do prefeito de Mãe do Rio, só foi
possível pela capacidade de transitar no reino dos encantados e, justamente, por isso, reiterou no
curso da narrativa, a existência dos encantados do vento, estava na realidade reforçando a lógica
da fala, descrevendo o eixo central dos fatos, encadeando a relação entre ela, as forças
mediadoras (encantados do vento) e o sucesso da cura. A riqueza das informações e experiências
religiosas superpostas revela elementos de um rico imaginário local263: a prática de um catolicismo
popular (o diálogo com Deus e os santos) mesclado com elementos da religiosidade afroindígena.
As divindades do catolicismo convivem com os seres, com as forças dos encantados. As
narrativas cruzam encantados das três dimensões: ar, água, terra, sem que na maioria dos casos
haja conflito entre essas visões de mundo.
Tanto na pajelança como nas práticas das rezadeiras, os encantados não reinavam
sozinhos, como referência religiosa, os santos católicos ocupam locais importantes na estrutura
261 Depois de quase vinte dias, após a data da primeira entrevista, retornei com dona Fátima e pedi que me falasse sobre os encantados do vento. 262 A forma como os homens experimentam e constroem os símbolos e as representações no imaginário social, está ancorada na particularidade de suas experiências. Embora não esteja discutindo as implicações e influências que o conceito de imaginário vai sofrer pelo pensamento estruturalista, é importante atentar para a riqueza e dimensão poética -Imaginação produtora- das formas, impressões e sensibilidades, notadamente realçadas na linguagem da cultura. BACHELARD, Gaston. A poética do Devaneio. Op. Cit. Ler preferencialmente o capítulo V: “Devaneio e cosmos”. 263 “Às definições negativas dadas pela tradição filosófica ocidental – imaginário como algo inexistente, falso, mentiroso ou irracional – a corrente da antropologia do imaginário, iniciada com Jung, Eliade, Bachelard, Durant, opõe uma definição positiva, ‘plena’: o imaginário é o produto do pensamento mítico. O pensamento mítico é um pensamento concreto que, funcionando sob o principio da analogia, se exprime por imagens simbólicas organizadas de maneira dinâmica. A analogia determina as percepções do tempo e espaço, as construções materiais e institucionais, as mitologias e as ideologias, os saberes e os comportamentos coletivos”. Ver sobre o conceito de imaginário. LEGROS, Patrick et al. Sociologia do Imaginário.Tradução de Eduardo Portanova Barros. Porto Alegre: Sulina, 2007, p. 10.
130
identitária religiosa, de forma que no imaginário das rezadeiras, santos e encantados estão
umbilicalmente vivos em um só tipo de reino, nas diferenças mantêm uma relação de
complementaridade. Na medida em que são evocados na prática da cura, encarnam o tempo da
realidade histórica, são contextualizados nas práticas e significações sociais, transmutando-se em
“Verbo”, sendo, portanto, decifrados e (re) significados.
Nessa condição, mesclam-se com outras divindades, tornando-se híbridos,
multifacetados, ambíguos e voláteis. Nos sonhos, nas rezas, nas revelações noturnas, na dinâmica
dos trânsitos culturais, a fronteira entre santos e encantados, torna-se transponível. A voz de
dona Fátima não correlaciona as experiências de reza e cura na infância com os ataques que teve
depois de casada, parece ignorar a memória infantil ao fraturar sua história de vida. Situação
semelhante ao narrar como aprendera a rezar “por conta própria”. As reticências da vida de
solteira indicam experiências soterradas, disfarces, artimanhas da memória.
Sabemos que todo discurso constituído na relação entre memória e oralidade, não pode
ser opaco, fechado em si. As ditas “lacunas”, “esquecimentos” e “incoerências” não representam
defeitos, inverdades de um discurso, mas são sinais, indicativos de escolhas, daquilo que foi
selecionado pela sua relevância para com o sujeito do enunciado.
A construção da identidade está intimamente ligada ao conteúdo da narrativa das
experiências passadas e dos fatos que tem significação maior, visando à sustentação identitária no
tempo presente264. Aqui o ato de rezar, com suas especificidades, são elaborados no decorrer da
vida da rezadeira. Não se trata de algo adquirido instantaneamente enquanto poder mágico
constituído, pelo contrário, a aquisição, pode ser verificada em alguns desde o nascimento e, em
outros, por transmissão de pais ou parentes, ou simplesmente pela escolha de Deus265.
Alguns estudos sobre pajelança e curandeirismo popular no Estado do Maranhão,
classificam os encantados como seres que dificilmente se manifestam materialmente, podendo se
tornar visíveis somente a determinadas pessoas ou locais, que na maioria dos casos não andam
errantes, tem lugar próprio, espécie de ambiente intermediário entre céu e terra, chamado de
incante, abaixo da terra ou fundo do mar. Algumas dessas entidades chegaram a viver
264 “Todavia, nessas manifestações de descompasso, com que recolheu e analisou estas formas de expressão cultural, deixou significativos indícios da recriação e reutilização dessas linguagens, que, reformuladas no contexto das relações vivenciadas por grupos populares nordestinos, são indissociáveis de suas experiências e carências diárias, entrosando lazer e trabalho, festas e lutas, natureza e cultura, ciclos de vida e de morte”. Apesar de referir-se ao contexto da cultura nordestina e ao diálogo entre literatura oral e escrita, a noção de que o registro memorial obedece à dinâmica das “prioridades” da realidade dos homens, faz considerar relevante na narrativa de dona Fátima. Cf. ANTONACCI. Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de folhetos: nordeste do Brasil, 1890/1949. In: Projeto História 22, 1997, Op. Cit., p. 119. 265 CAVALCANTE, 2008, Op. Cit., pp. 77-83.
131
materialmente na terra e sumiram subitamente, outros sempre foram desprovidos de matéria266.
Elas têm uma relação de contato constante com os homens, através de sonhos, presságios, em
locais isolados como a mata ou o mar, rituais mediúnicos, salões de cura, pajelança, umbanda
entre outros267:
Quando vim do Ceará, sabia que tinha uma coisa comigo, que me acompanhava desde aquele tempo. Essas coisa do vento vem junto [...] não é que seja vento, é que pra andar por aí eles viro bicho do ar [...] coruja, carniça, essas coisa. Hum! Se fosse só nos lugar que nóis vive era só se mudar, né? (risos) [...] Se nóis viaja eles também viajo268.
Dona Esther é uma rezadeira que vivencia o contato com os encantados do ar, atribui a
essas forças o poder de mobilização espacial incrível. Como migrante nordestina que chegou ao
Pará em 1958, fugindo da seca e sem perspectiva de retorno, tem na memória o significado
trágico do termo “viagem”.
Acompanhada pelos encantados, no Pará vai desenvolver o dom de rezar. Embora as
identidades passem por transformações, incorporem outros valores, códigos morais e elaborem
novas sensibilidades, as encantarias estão na bagagem cultural do “seu povo”, denotando o
vínculo de pertencimento e continuidade na manutenção dos saberes acumulados na terra natal.
Na compreensão de Williams, as mudanças culturais são realizadas nas mediações a
particularidades dos sujeitos históricos, não como “blocos” sociais uniformes e estruturais, que
sobrepõe o indivíduo às determinações do pensamento metafísico e dialético, mas como atores
que refazem seus papéis e leituras no cenário da vida social269.
As identidades criam eixos de resistência, no sentido de preservar a memória das
experiências de vida, tidas como basilares para a afirmação social: distante dos lugares originários,
paisagens naturais, sabores, calor familiar e das teias simbólicas de sua cultura nativa tentam (re)
adaptar o repertório cultural. Os “encantados das aves do ar”270 são as forças mediadoras que
amortizam o impacto da cultura alienígena e lentamente metamorfoseiam-se, infiltrando-se nos
símbolos das paisagens identitárias emergentes, efetivando a ruminação das vivências culturais271.
266 NICOLAU, 1999, Op. Cit., p. 13 267 FERRETI, Mundicarmo. Encantados e encantarias no Folclore Brasileiro. Artigo apresentado no VI Seminário de Ações Integradas em Folclore. São Paulo, 2008, p. 01. 268 Dona Fátima, depoimento citado. 269 “A noção original do ‘homem que faz a sua própria história’ recebeu um novo conteúdo radical com ênfase no ‘homem que faz a si mesmo’, pela produção de seus próprios meios de vida. Com todas as suas dificuldades de demonstração detalhada, esse foi o mais importante avanço intelectual em todo o moderno pensamento social”. Seguimos as assertivas de WILLIAMS, 1979, Op. Cit., p. 25. 270 Designação criada por dona Fátima para nomear os encantados do ar. 271 Não buscamos problematizar o conceito de circularidade cultural, indicamos aqui as varias adaptações e leituras que a cultura é capaz de transitar. Dentre elas a estreita relação de proximidade e transformação que os homens mantêm com a natureza, como é o caso das mulheres estudadas no ritual do Sabá. GINZBURG, Carlo. História Noturna: decifrando o Sabá, São Paulo, Companhia das Letras, 1991.
132
A Amazônia, em especial, o nordeste paraense constitui um dos locais onde ocorrem
encontros das encantarias, refletindo justamente as diversas identidades humanas que no decorrer
da história povoaram a região272. Fato que explica a presença majoritária de rezadeiras,
benzedeiras e parteiras nascidas ou descendentes de nordestinos, principalmente maranhenses e
cearenses.
O curso que essas identidades assumem é intercambiável, pois sendo de origem
nordestina, desenvolveram o “dom” e consolidaram sua existência relativa à cosmologia dos
encantados no cenário do mundo cultural amazônico. As mulheres rezadeiras emergem como
sujeitos na comunidade de sentidos amazônica. Essa comunidade segundo Loureiro, tem uma
dinâmica original e criativa que refaz sua existência através do imaginário, poetizando o mundo
natural, travestindo os sujeitos sociais273.
As memórias de dona Esther têm ressonância nas narrativas de dona Maria das Dores, a
qual em certos momentos narra à ação das almas que transitam entre os mundos. A construção
da cartografia desses encantados pode ser acompanhada na narrativa:
[...] desses tem de todo tipo, né? Não dá pra saber di certo qual é o incante [...] o meu é da Água, mas o “acompanha” não é de lá não. Ele é uma alma, mora no céu então [...] não é com Deus... é como o povo invisível que anda por aí. Ele só cumpre ordi do encante do mar. [...] de mais forte acho que o primeiro lugar é o céu, não tem que ser sabido demais! O céu não veio primeiro nas palavras de Deus! Olhe foi assim: veio o céu, a terra e as água. Se for assim o céu é que tem a maioria. [...] é que aqui tem muita água perto, aí tem mais d’água, né?274
Lembremos que Maria das Dores é nascida em Capanema, e passou a rezar depois de ter
experiências com visões, vozes e manifestações religiosas. Atribui o seu dom ao encanto das
águas, mas tem a companhia espiritual de uma entidade que habita no céu. Os saberes relativos às
religiões da encantaria brasileira manifestam-se segundo as feições adquiridas pelos sujeitos de
coletividades específicas. As formas de transmissão das sabedorias amazônicas são pautadas nas
tradições orais275.
O poder da invisibilidade é uma forma de existência que se manifesta na maioria dos
encantados, sendo, no entanto, atribuído aos espíritos e almas errantes. Se dona Esther
272 Menciono a migração em Capanema como um processo variável e disforme, tendo períodos de intensidade, relativo, por exemplo, a construção da estrada de ferro e fluxos migratórios anteriores à locomotiva. Alguns apontamentos que norteiam essa questão são consultados na obra de SOUSA, Terezinha de Jesus. Capanema: minha terra, nossa gente e sua história. Capanema: Gráfica Vale, 2010, p. 31. 273 “Uma cultura dinâmica, original e criativa, que revela, interpreta e cria sua própria realidade. Uma cultura que, através do imaginário, situa o homem numa grandeza proporcional e ultrapassadora da natureza que o circunda”. LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. Belém: Cejup, 1995, p. 30. 274 Dona Fátima, depoimento citado. 275 Sobre a existência de múltiplas cosmologias das encantarias nas regiões brasileiras, suas diversidades, gênese e trânsitos culturais, conduzidos pela costura da oralidade e ancestralidade, interessante ler PRANDI, 2004, Op. Cit., pp. 7-8.
133
compreende os encantados do ar pela sua capacidade de movimentação espacial, Maria das Dores
caracteriza esses seres como pertencentes a um lugar. “São do céu porque vivem no céu”, nos
ambientes da natureza invisível.
A ideia de que há um céu (lugar) que representa a morada de Deus e o céu das almas e
encantados são formas de construir territorialidades, demarcar fronteiras entre elementos do
cristianismo e das encantarias. Deus não poderia conviver com os encantados, pois a ele é
atribuído um centro de poder e sacralidade, com camadas que dispõem a relação entre lugar e
poder. A divisão dos locais de existência, o traçado de qualquer cartografia, é uma definição
política276.
O mesmo raciocínio é instrumentalizado para explicar a ordem de hierarquia entre os
encantados. Se nas narrativas cosmogônicas Bíblicas a ordem dos elementos criadores,
aparentemente, indica os céus, a terra e na sequência às demais formas de existência277,
igualmente os encantados e espíritos que habitam o céu devem ter mais relevância, afinal, estão
próximos do céu; pousada do trono de Deus.
Algumas encantarias Amazônicas são identidades marítimas, que vivem em reinos e
cidades aquáticas, transitando nas matas, árvores e animais278. A relevância da água como fonte de
pesca, condição do desenvolvimento agrícola e transporte, justifica a existência do predomínio
desse imaginário.
Os encantados do ar não dependem de um ambiente propício a manifestações, localizam-
se em vários mundos ou diversas localidades. Em sua dissertação de Mestrado apresentada à
UFPA, Trindade investigou a cura xamânica em São Caetano de Odivelas no Pará, onde
encontrou alguns pajés que dividiam os seus caruanas ou encantados em, “Povo ou caboco do Ar
e de Rua, da Mata e do Fundo”. Nesse caso “os cabocos da linha do Ar ou Pensamento” são
portadores dos segredos da cura, por isso, raras são as informações dadas pelos curadores279.
276 O céu como morada de Deus, lugar de reinos espirituais e ambientes das almas dignas do paraíso no decorrer da modernidade europeia por uma “revolução geográfica”. As religiões cristão passam por um constante processo de explicação e (re) interpretação de suas crenças e doutrinas basilares. “A nova astronomia provocou, por uma série de reações em cadeia, um sismo cultural porque dessacralizava o céu. Se não com o próprio Copérnico ao menos com seus sucessores, ela suprimiu toda noção de alto e de baixo na escala do universo, extinguiu a localização do paraíso e inferno, retirou toda incorruptibilidade do mundo supralunar, eliminou as esferas diáfanas e os anjos que supostamente as faziam girar, banalizou a terra, tirando-lhe a um só tempo sua miséria e grandeza”. DELUMEAU, 2003, Op.Cit., p. 454. Sem dúvida o poder institucional imposto pelos séculos de colonização e catequese feroz na Amazônia possibilitou a construção de uma geografia política, que no horizonte da religiosidade elevou o lugar de Deus no imaginário social da região. As relações entre espaço, território e poder são valiosas na perspectiva de SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. Ed HUCITEC, São Paulo, 1994, pp. 61-74. 277 Ver as narrativas de criação do Mundo no livro de Gênesis 1:1-25 na Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. Ed. Vida, Flórida, 1995. 278 Falaremos sobre essas identidades e suas características quando abordarmos “Os Encantados da Água”. 279 TRINDADE, 2007, Op. Cit., pp. 95-142.
134
De acordo com o encadeamento da narrativa de Maria das Dores, os encantados do ar
são seres de passagem, não pertencendo ao ambiente de habitação humana. Suas identidades
metamorfoseiam-se nas camuflagens da vivência cultural. O seu pertencimento está na cartografia
dos ventos, espaço não habitado pelo homem. Mas sem dúvida representada no mapa da escrita
cultural.
A cosmovisão de dona
Fátima associada ao ar, cede lugar
nos próximos tópicos às
narrativas das mulheres
benzedeiras que articulam suas
identidades com
símbolos/imagens do mundo
aquático Amazônico. O contexto
dessa visualidade desvela a fértil
dinâmica de uma cidade regida
pela vontade das águas, sendo ao
mesmo tempo, porta de acesso a
reinos, palácios e cidades
encantadas.
2.2 - “Os Encantados da Água”
Dependendo do rio e da floresta para quase tudo, o caboclo usufrui desses bens, mas também os transfigura. Essa mesma dimensão transfiguradora preside as trocas e traduções simbólicas da cultura, sob a estimulação de um imaginário impregnado pela viscosidade espermática e fecunda da dimensão estética.
João de Jesus Paes Loureiro Cultura Amazônica
A cidade de Capanema tem vários rios, que no passado eram fundamentais para a caça e
pesca. Para muitas pessoas sem condição de adquirir alimento, a existência de rios como Garrafão
e Ouricuri era fundamental. Além de ser uma fonte de alimentação, esses rios inspiraram medos e
diversas outras sensações. Segundo relatos, durante o inverno, esses rios enchiam, alagavam
casas, pequenas plantações e atrapalhavam o movimento do comércio. Muitos populares
alegavam que nessas “cheias”, as cobras se multiplicavam, aumentando consideravelmente o
número de pessoas vítimas de picada. Aqueles desavisados poderiam ser levados pela correnteza,
Fig. 37 – Av. Barão de Capanema sob olhar de dona Fátima: “Olha o chão de areia e as árvores, naquela época era muita ventania, né?”. Fonte: Arquivo pessoal de Deyviane Pinheiro.
135
ficarem presos em cipós, ou se machucarem nas pedras submersas. São várias as narrativas sobre
pessoas que morreram afogadas nesses locais.
Nesse eixo temático busco analisar a narrativa de três rezadeiras: dona Ângela, dona
Deuza Rabêlo e Maria das Dores. As duas primeiras vieram para a cidade depois de casadas, a
primeira veio do Piauí e a outra do Maranhão. Foram motivadas pela busca de emprego de seus
maridos, que acreditavam poder melhorar de vida “no norte”. Dona Maria das Dores nasceu em
Capanema, onde passou parte de sua vida ajudando os pais como doméstica e no roçado, em
pequena propriedade por eles cultivada.
Apesar da narrativa dessas mulheres estarem em única parte, não pretendo estabelecer
relação ou diferenciação nos seus modos de reconstituir histórias e trajetórias de vida, embora em
alguns momentos sejam possível essas conexões. Penso as experiências dessas mulheres no
contexto de suas próprias vivências, isto é, apesar da origem humilde, dos conflitos familiares e
do doloroso e semelhante processo de aceitação do dom - com exceção de dona Deuza – não
podemos acreditar que são iguais. A forma como cada uma encara a pobreza, as disparidades
familiares e a prática religiosa, é específica e singular.
Um bom exemplo dessa singularidade é a relação que mantêm com os encantados280.
Todas reconhecem que o seu dom vem dos encantados das águas, dos seres que vivem nesses
locais e que controlam o mundo natural associado a esse espaço. A forma como elaboram a
percepção com as encantarias é notável.
Dona Ângela foi sequestrada pela encantada das águas, recebeu uma pedra mágica, que
permitiria ver o futuro, no entanto, estava proibida de rezar em pessoas da família, dependendo
nesse sentido da sabedoria de outras rezadeiras.
Dona Deuza era parteira e passou a rezar depois dos trinta anos. Seu dom é originário das
águas por ser capaz de ver, ouvir e sentir a ação desses encantados. Sua reza era forte em
crianças, acreditava ter a missão de expulsar as mães d’água que viviam nos rios e escondiam-se
nas matas com o intuito de sequestrar ou maltratar crianças. De acordo com seu depoimento, a
reza não se aplica a todas as doenças. O cobreiro e a flecha da mãe d’água preta são
manifestações das encantarias que as benzeduras não tem efeito.
Dona Maria das Dores viveu tempos difíceis para ser iniciada. A experiência de
sofrimento para aceitação do dom ainda são fortes nas suas lembranças, relutou bastante até
ceder à força do encantado. Só reconheceu o dom depois que uma tia morreu, justamente por se
280. MAUÉS, 1995, Op. Cit., pp. 269-270.
136
recusar a rezar. A dona do seu “incante” se manifestava em forma de cobra. Depois de aprender
a reza das águas, tinha a companhia de uma “sombra”, um “acompanha”, guia e tutor mandado
pela encantada das águas, para que a vigiasse; um fazer identitário reforçado pela inspiração,
presença e orientação espiritual. A desobediência poderia ser punida com a morte. Ainda hoje
reza por obrigação, apesar do “acompanha” não aparecer há mais de dez anos.
O processo de “fazer-se” das identidades xamânicas nas rezadeiras de Capanema tem
como característica as mediações culturais entre os saberes locais, e aqueles adquiridos no
decorrer de suas experiências sociais, oriundas em particular do nordeste brasileiro.
2.2.1 - “A Norma das Águas”
A gente falando, nem parece que é verdade, mas era muita disgraça! Acordava cedo e às vezes só comia quando achava uma besteira pendurada num pé de pau. Quando não era de dia (vários dias) só no feijão e farinha. Nós não tinha chinela não, os pé não precisavo [...] parecia uma lixa de tão duro (risos). Uma coisa eu sei, as minhas desgraças (pecados) eu já paguei, não é possível que venha coisa pior.
Dona Ângela
O sofrimento no nordeste é inesquecível, não há dia que não se lembre das dificuldades
que passou naquela região. A narrativa parece não dar conta de dar sustentação de expressar dias
ruins enfrentados.
Sobre a sua vinda para o Pará, falava sobre locais, datas, pessoas... Lembrou que depois
de 1953 ficou boa dos encantamentos, casou e logo depois do casamento veio para o Pará,
porque seu marido tenha muitos parentes aqui, resolveu trazer a família toda. Nesse instante
percebi certo desinteresse nas perguntas, dona Ângela fica desatenta e parece não se importar
com esses questionamentos. Enfatiza que foram dias de muito trabalho, mas que era melhor do
que em Parnaíba. A única lembrança negativa refere-se à morte do marido em 1963.
[...] meu marido faleceu no Hospital das Clínicas de Capanema, não pensei que ia morre, passou um dia em casa e aplicaram uma injeção errada nele, era pra pressão alta, sei lá, sei que morreu, os médico ficaro aguniado, mas deixei pra lá, era o dia dele mesmo281.
O marido vinha sentindo dores na barriga, no peito há vários dias, tomou um pouco de
chá pisado com alho, mas não deu sinais de melhoras. Com o aumento do mal estar foi internado
no Hospital das Clínicas de Capanema. Durante o período que ficou internado, os médicos
disseram que era doença passageira e que iam cuidar dele.
281 Dona Ângela, depoimento citado.
137
A rezadeira não soube explicar muito bem o que aconteceu, acredita que aplicaram
medicamento errado no seu marido – João Antônio –, ela percebeu o erro dos médicos porque
eles ficaram muito nervosos, “com medo de como minha família ia reagir”, lembra. Na fala da
entrevistada, em nenhum momento transparece revolta, indignação ou melancolia. Fala
naturalmente como se não tivesse mágoa pelo incidente no Hospital, como se houvesse superado
todos aqueles acontecimentos... “Era o dia dele mesmo”, conclui.
A narrativa consolida a visão de que a vida na Amazônia Bragantina representou a
melhora em suas condições de vida, tendo uma relação de pertencimento e cumplicidade com o
local em que vive, sendo fácil comprar terras. “naquela época era tudo mais fácil, era fácil
começar os negócio aqui”, distribuiu vários terrenos entre os filhos.
Dona Joana (a filha) interrompe e diz que a mãe não cansa de repetir que eles nunca
souberam o que era a verdadeira miséria, que a vida deles nem se compara como ela viveu no
passado. Até hoje fala rindo que os filhos já decoraram até o jeito da mãe narrar o sofrimento no
nordeste. A paisagem nordestina, suas carências e vicissitudes não descolam da memória:
O senhor pensa que nós tem vontade de conhecer o Piauí? Hum... Tem nada! Valha-me Deus de conhecer um lugar de tanta disgraça, com tanta gente sofrida, aqui é o paraíso né? As nossa sina não deixa isso não [...] dos parente dá saudade né mãe, mas faze o que? Não temo é sorte de num ta mais lá282.
A narrativa oral de dona Ângela é plasmada pela experiência do ouvir de sua filha. Joana
falava do Piauí como se o conhecesse na medida em que assume a identidade materna, falando
dos parentes, que nunca chegou a ver, com o sentimento de saudade. A memória da rezadeira
tornou-se referência no refazer de lugares, tempos e origens nas identidades familiares em curso.
Ribeiro destaca a capacidade de manter os vínculos sociais em sujeitos imersos nos cenários de
imigração constante.
Nessa perspectiva, a memória dos imigrantes e de seus descendentes aparece como um campo de afirmação de sua presença, por meio da qual esses grupos mais antigos reafirmam a ideia de pertencimento ao lugar, forma pela qual procuram legitimar seu espaço na cidade. Assim a perpetuação de que fala o entrevistado e a luta pela manutenção do nome e da maneira de fazer realizam-se recorrendo a uma memória e a um passado comum do grupo que, reelaborando constantemente, dá significado e legitima essa territorialidade283.
Durante um momento de descontração, dona Joana me oferece um café, digo que prefiro
um copo d’ água e enquanto bebo, perguntam pelo meu trabalho na escola e família. No interior
é muito comum as pessoas perguntarem pelos seus pais e irmãos, é uma forma de estabelecer
282 Dona Joana tem 42 anos, filha de dona Ângela. Depoimento citado. 283 RIBEIRO, Paula. A oralidade marcando território: Um estudo sobre o Saara, na cidade do Rio de Janeiro In: Proj. História 21. SP: EDUC, 2001, Op. Cit., p. 347.
138
proximidade. “ah! O teu pai é o fulano que trabalhou no comércio tal? Hum... eu tenho um tio
que também tava lá naquela época, sabia?! Acho que ele te conhece, hum, depois vou falar com
ele, quem sabe, né?!”.
Em muitas cidades de população reduzida, a vida e o contato social são mais freqüentes e,
por isso, certas relações de confiança são mais presentes. Um exemplo disso é que de fato dona
Joana, recorda da minha avó, lembra de onde minha família morou e da época em que minha
mãe se aposentou pela SEDUC, nos anos noventa. As estratégias e o envolvimento dos atores
sociais durante a entrevista exigem o fortalecimento dos laços de confiança demonstrando mais
intimidade e cumplicidade na partilha das experiências. Passado este momento em que o
pesquisador passa a ser sujeito da investigação, pede que eu continue o “trabalho”.
Os temas das rezas e curas passaram a ser mencionados como um reforço do seu
prestígio na localidade.
Já trabalhava, desde nova mesmo, o que eu dizia o senhor podia ir atrás que o senhor encontrava, porque a verdade Deus amou e a mentira não, olha (silêncio) a única coisa que fiz aqui e depois me arrependi, por que entrou duas mulher, aí eu disse “eu só vou conversar com essas duas e não é pra entrar outra pessoa” aí ela disse que tinha uma outra amiga que tinha que entra e que quase irmã e não tinha poblema não, era só as três...aí eu disse “me admiro de ser sua amiga e vive com seu marido” (risos) falei na cara dela. Outra era o caso do Dr. Raimundo Góes que tava no quarto lá no hospital dele e tava namorando com a mulher lá, aí entro a Drª Marta que era a noiva dele, quando foi entrando viu e foi puxando revólver pra tirar nele ai chamei e disse pra ela não fazer isso, rezei pra amansar a noiva, rezei fechando o corpo dele também. Ele consultou todo mundo aqui de graça. Já até morreu284.
Dona Ângela não sabe precisar, quando começou a rezar do ponto de vista cronológico.
Mas parece mesmo não estar preocupada com o “quando” e “como”, ignora os questionamentos
inicias e tem realmente a preocupação de legitimar a sua prática, para tal, evocando testemunhas.
A legitimidade de suas práticas está fundamentada na eficiência de suas rezas e não nas formas e
rituais das benzeduras.
“Trabalhava” desde cedo e se eu perguntasse aos populares iriam confirmar tudo o que
ela já havia feito. Age como se eu já soubesse de tudo o que fez – peço que fale com calma, para
que entenda melhor – escolhe alguns acontecimentos que considera importante e resolve detalhá-
los.
A entrevistada relata uma das poucas vezes em que disse algo e depois se arrependeu. Diz
que sempre atendia as pessoas na sua casa, aponta para uma sala vazia em frente ao pátio e fala
que havia uma mesa com algumas cadeiras, algumas velas – brancas ou roxas – onde atendia as
pessoas por ordem de chegada e, geralmente, pedia que entrassem desacompanhadas. As brigas,
284 Dona Ângela, depoimento citado.
139
confusões muitas vezes começavam dentro de casa, contribuindo para que fosse mal vista, não
apenas no bairro, mas na cidade.
Percebemos que as rezas e as curas, não eram buscadas isoladamente. Desde o inicio da
entrevista, dona Ângela falou sobre uma pedra mágica com poderes de revelar segredos:
descobrir amantes, realizar adivinhações, resolver dificuldades econômicas, curar doenças de
vários tipos e interceder por interesses pessoais.
Outro episódio narrado pela rezadeira foi quando um conhecido médico na cidade foi
descoberto pela noiva - que também era médica – namorando outra mulher no ambulatório,
gerando confusão no hospital, após a noiva traída pegar um revólver no carro, indo em direção
ao ambulatório para matar o noivo. A rezadeira chamou a médica, fez o sinal da cruz na testa,
acalmando o seu ímpeto, utilizou um fio, uma linha e deu vários nós, fazendo uma reza
amansadora285�. Depois foi ao consultório onde estava o noivo e fez uma reza de proteção, puxou
um terço, de reza, católico e, fazendo o sinal da cruz várias vezes, fechou o seu corpo do médico.
A noção de corpo fechado e corpo aberto estão presentes em diversas localidades e formas
de culto Afro brasileiro. O fechamento do corpo é uma proteção mágica, um encantamento,
alguns associam a um escudo ou couraça que protege o agraciado contra balas, maus-olhados,
feitiçarias e alguma armadilha ou sedução no destino da vida da pessoa. Oliveira atribui
inicialmente essas práticas ao candomblé nordestino, originário das nações Ketu, Ijexá e Jeje:
Nas diversas nações do candomblé as cerimônias do fechamento de corpo na Sexta-feira Santa são muito parecidas, à exceção das casas de Angola. Nestas, a obrigação é denominada cura [...] as folhas utilizadas na cura têm seus nomes guardados sob forte sigilo: elas fazem parte do Axé (força da casa) e se reveladas enfraquecem o poder286.
Gostaria de chamar a atenção aqui, não para o aspecto “fantástico” da narrativa, mas sim
para as escolhas. Elabora uma identidade com poder de intervir, não somente no discurso
médico, mas de controlar e proteger o ímpeto de pessoas consideradas respeitadas e reconhecidas
na cidade.
Encadeia a narração com ar de superioridade, enfatizando a força e eficiência das
benzeduras na cidade, os feitos miraculosos do passado ecoam estrategicamente na manutenção
da imagem de rezadeira “forte”.
285 Segundo a entrevistada a reza possui uma variedade de funções, a reza amansadora tem o objetivo de acalmar, aplacar a fúria, paixão ou forte violência. Era utilizada principalmente em homens e mulheres vítimas de traição. Seria, no entanto, uma reza secreta, não podendo jamais ser revelada a outrem, salvo dom ou revelação. 286 Não atribuo origem particular das práticas religiosas em questão, apenas indico leitura que direcione para a complexidade da religiosidade nordestina. OLIVEIRA, Eduardo César S. F. de.. O Misticismo no Brasil. São Paulo: Otto Pierre Editores, 1982, p. 155.
140
Deixa claro que atualmente já não tem mais força para rezar ou curar por causa da idade,
mas há muitos anos as coisas eram diferentes:
Ah! É pra criança, gente grande, pra dor de cabeça, dor nos ouvidos, é pra dor na costa, dor na coluna, massagem, vixe... Chega ficava com os braço mole dolmente (dormente). Só as veze dez horas da noite, alguns vem de Belém e viajo tardinha também. Vem de lá pra cá de carro fretado. Tenho muitos amigo médico, a minha amiga a Drª Anabela, que trabalha em Belém, eu quero que o senhor veja. Quando passa por aqui toma café comigo e tudo; ninguém da família dela sabe dos negócio dela, só eu [...] Conta tudinho, tudinho pra mim. Os segredo vão morrer comigo, aquilo que você não conta ninguém sabe, se abri a boca os outros escutam. E a mesma coisa que quando você sair pra uma viaje você não olha pra trás (...) vá embora não pode ver pra trás nada não (pausa, silêncio, toma medicamento) tô. Agora to meio doente, sabe? Tô com a memória confusa tem hora que eu não sei onde eu tô, isso é remédio antigo, ta com trinta e cinco anos que eu tomo esse remédio. Olha se não fosse doente o senhor ia ver... Vinha gente de Belém, Castanhal, Capitão Poço, Quatipuru, Primavera, Km 47, aqui ficava fila de carro, e eu sentada na mesa só preparando, preparando, preparando... Ai chega eu ficava cansada, o dia todo sem toma nada287.
A interlocutora lembra uma época em que o dom era exercido com bastante frequência.
Rezava em crianças, adultos, “passava” remédios com ervas, rezas, óleos. Fazia massagem
durante o dia todo. O ato de rezar estava associado ao contato físico, desde o pôr a mão na
cabeça do requerente, até longas sessões de massagem. Nobre aponta como os sujeitos imersos
nas práticas de cura tradicional realizam as puxações e benzeduras na ação terapêutica da cura
como práticas conectadas288.
Transitando em hospitais, dialogando com médicos no espaço da cura Institucional,
reitera a facilidade com que ganha remédios e a cordialidade com que é recebida nos hospitais.
Na relação da entrevistada com esses sujeitos, tonaliza veementemente sua posição de
superioridade e a condição devedora daqueles agraciados pela reza.
A importância de não olhar para trás desvela relação tensa e limítrofe com o passado, pois
na medida em que estrutura a narração para sedimentar os saberes identitários, nega lembranças
dolorosas, selecionando a ação do esquecimento voluntário289. As identidades interditam,
nomeiam, simulam a forma como emergem no corredor da cultura. O negar voluntário não é um
simples afastar, abolir, mas ação temporária que, na negação, reforça o elemento negado,
forçando este a buscar e negociar outros caminhos.
Faz questão de enfatizar o grau de proximidade e confiança entre ela e muitos dos seus
“clientes”. Pessoas de várias cidades ou municípios vizinhos, como Belém, Castanhal, Quatipuru,
287 Dona Ângela, depoimento citado. 288 Em alguns locais, as massagens aplicadas por dona Ângela são denominadas de “couro rasgado”, “peito aberto”, “puxação”. Cf. NOBRE, Angélica Homobono. Atravessando fronteiras: viagem rumo à saúde tradicional. Tese Doutorado em Antropologia, UFPA. Belém, 2009, pp. 116-132. 289 Sobre a relação entre memória e esquecimento é fundamental a consulta de, BENJAMIN Walter. Magia e Técnica, arte e política, 1994, Op. Cit.
141
Capitão Poço, Primavera e Km 47, vinham atrás de sua força espiritual. Durante vários dias,
entrevistei vizinhos, conhecidos, e até pessoas que já tinham sido rezados pela entrevistada. Pude
constatar como dona Ângela havia se tornada reconhecida pela comunidade.
Ela era procurada por pessoas de outras cidades, era boa para adivinhar, rezar, curar e até fazer parto. Na minha época era chamada de “Maria Pajé”. Sabia o que acontecia com qualquer pessoa, sabia se era doença natural, se era feitiço, o povo dizia, que era encantada, dizia que virava bicho de noite. Saia voando pra ver as coisas; o senhor sabe, né? De tudo se fala, mas o que sei é que ela me curou de uma doença, que até hoje nunca vi ninguém com isso na vida290.
O depoimento acima é de um comerciante que vive em Capanema desde a infância,
durante a pesquisa, muitas pessoas indicaram que procurasse o senhor João Marcos, diziam que
sabia muito sobre a rezadeira, pois havia feito um tratamento de vários anos com ela e que até
hoje lhe envia presente no dia das mães. Fui ao ponto comercial dele, disse que queria que me
falasse sobre dona Ângela e de como ele havia sido curado. Tive sorte, pois era um dia de pouco
movimento no local, ele pegou um banco de madeira, pediu que eu sentasse, ficamos na frente
do comércio, falou que não sabia muita coisa, mas que o que soubesse me contaria. Seu João
Marcos era uma pessoa de hábito simples, aparentava muita calma no falar e principalmente,
falava sem “arrodeio”, dizia as coisas diretamente, o que não sabia, apenas acenava a cabeça
negativamente. A conversa com ele foi rápida, me atendeu por uns cinquenta minutos, depois
disse que precisava fechar o estoque no armazém.
Contou-me que, desde os sete anos era doente, sentia dor de cabeça, e sempre nascia
tumores no corpo, não havendo um mês que não sofresse simultaneamente desses sintomas.
Esse sofrimento foi prolongado até os vinte e oito anos. Falou que conheceu a “Maria Pajé”
(dona Ângela), quando na época, sua noiva foi aconselhada por uma tia a levá-lo com ela. Apesar
de dizer não acreditar em “feitiço”, resolveu fazer o agrado para a noiva.
Quando chegou à casa de dona Ângela, a rezadeira disse que ele não precisava de reza,
mas sim, livrar-se das sombras que estavam em sua casa. Explicou que durante três anos, ele
tinha que tomar banho com água de cacimba291 e sempre dormir com dente de alho preto
debaixo da cama. De seis em seis meses, tinha que cavar no quintal da sua casa, precisava
desenterrar sapo morto com boca costurada. Perguntei ao entrevistado se ele encontrava esses
sapos no seu quintal, ele respondeu afirmativamente. Não sabia explicar como, mas chegou a
encontrar cinco sapos, todos com costura de linha na boca. Chegou a perguntar o que eram esses
sapos. A rezadeira afirma que “eram os tumores que saiam mim, e que estava ficando limpo”.
290 João Marcos, comerciante, 61 anos, 27/02/2010. Depoimento citado. 291 Poço cavado ou natural até um lençol de água, em alguns locais a única fonte de consumo de água.
142
A aparição de objetos mágicos enterrados, a relação entre certas doenças e animais
considerados “imundos” ou de “peçonha” como vermes, cupins, sapos, besouros, baratas e ratos
sinalizam a existência de feitiços, contra feitiços, mandingas ou “serviços” no plano das
religiosidades afroindígenas292.
Para o senhor João Marcos, dona Ângela é como se fosse sua “segunda mãe”. Nunca
soube que tenha feito mal para alguém, por essa gratidão presenteia e ajuda sempre que pode,
mas ela nunca pediu nada, nem uma colher de sal. Lamenta que muitas pessoas falem que ela é
“macumbeira”, que se transforma em bicho da noite293. Que houve uma época em que ela não
podia nem sair de casa sozinha, pois tinha medo de alguém lhe fazer mal.
Eu mesmo já levei ela pra comprar coisa na rua (comércio), ela tinha medo de sair sozinha e sofrer alguma agressão, isso quando Capanema era, bem dizer, um matagal né?! Aí na mata o senhor sabe que tem de tudo, e aí a coitada pegava a fama de matinta, de Maria cahorra294 de um bocado de imundície. É a sina da pobre295.
A fama de curandeira, rezadeira, lhe rendia muitos “clientes” e elogios, mas também trazia
desconforto. Vista por alguns como benfeitora, caridosa, mulher de Deus, e por outros como
macumbeira, feiticeira, matinta e outras designações. No discurso do senhor João Marcos, havia
possibilidade, de que realmente existissem os bichos da floresta, mas que estes não poderiam ser
“Maria Pajé”. Na visão do depoente, toda essa perseguição era injusta, mas normal, acredita na
“sina” que alguns têm, isto é, nascem já predeterminados para uma doença ou uma missão nessa
vida, e que somente Deus pode interferir nessa condição.
Recorri ao testemunho do senhor João Marcos, primeiro, por considerar que muitos
outros entrevistados, citaram o seu caso de forma quase unânime, depois, por se tratar de uma
testemunha que se dispôs a falar abertamente sobre as representações que vários sujeitos
elaboraram sobre a rezadeira. Vale ressaltar, que apesar de ser denominada de “Maria Pajé” ou
“Maria espírita” por alguns populares, dona Ângela não assume ou demonstra característica
ritualística da pajelança, seu saber-fazer estão mais associados às identidades de curadora ou
rezadeira. O termo “pajé”, que acompanha o seu codinome, é muito mais resultado da forma
292 Alguns documentos relativos a essas religiosidades na Amazônia ver. SOUZA, 2009, Op.Cit., pp. 230-236 293 Acerca do imaginário, transformações e metamorfoses de mulheres em alguns locais da Amazônia. Cf. MOTTA-MAUÉS, Maria Angélica & VILLACORTA, Gisela Macambira. Matintapereras e pajés: gênero, corpo e cura na pajelança Amazônica. In: MAUÉS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia, 2008, Op. Cit., pp. 337-346. 294 Para a população mais antiga, Capanema era no passado a morada de “Maria Cachorra”: uma mulher negra, alta que saia de casa à noite transformada em um cachorro de grandes proporções, atacando, sangrando e matando quem encontrasse ou falasse mal dela nas ruas. Outra versão contada por alguns boêmios da época, que na verdade “Maria Cachorra” era uma mulher casada, que se disfarçava de preto, imitava o uivo de um lobo, com o intuito de sair à noite para encontros extraconjugais e nunca ser descoberta. Existem outras narrativas que buscam explicar a história de “Maria Cachorra”. Adotei essas duas versões por considerá-las predominantes no imaginário local. 295 João Marcos, depoimento citado.
143
como o imaginário popular entende a pajelança e as suas experiências religiosas. Ao perguntar a
João Marcos, por que a chama de Maria Pajé, responde que é por causa dos “seus poder de
adivinha”. O narrador institui, nesse aspecto, a adivinhação como principal elemento constitutivo
da pajelança na perspectiva local.
Dona Ângela, demonstra durante as narrativas um repertório riquíssimo de casos de
espíritos, aparições e manifestações, como costuma dizer, “do outro mundo”, em alguns
momentos da entrevista, fala rapidamente, como que não tendo muita importância, em outras,
narra como se, ainda, estivesse presenciando o fato, fica de pé (com dificuldade), gesticula
bastante, reforça entonação de voz. Em uma das narrativas, ocorrida na época que sua reza era
mais forte, reconstitui a história de uma mulher possuída por um espírito:
Se o senhor sonhasse o que eu já vi, o senhor não ia acreditá. Salvei uma mulher de espírito que hum!... Ele virou a cara dela pras costa, assim, parecia filha do diabo. A prima dela mora por essas banda, ela prova, só fiz reza pus a mão na cabeça dela e disse “sai miséria, sai espírito mau” mandei ir embora, mandei procurá o lugar de quem condenou tua vida. Sempre via uma mulher no fundo do quintal da casa dela toda de branco... Chorava muitas vez, aí um dia perguntei “que é que tu queres?”aí ela disse “vai na minha casa debaixo da cama, na minha casa” quando falei com marido dela, ele deixou entrar no quarto e debaixo da cama no colchão tinha um retrato de um homem que não era o marido, era “causo” dela. Daí em diante não apareceu mais296.
A mulher que tinha convulsões diárias que mudava de voz e conseguia ter força de vários
homens, fora conduzida à sua residência e na primeira vez, se arrepiou toda. Seguraram a moça
em uma cadeira de madeira, enquanto – Ângela – rezava e pedia para o espírito sair, nesse exato
momento da narrativa fica de pé e explica como o rosto da mulher virou para trás, o que deixou
todos no local perplexos. Dona Ângela considera que a causa do espírito estar atormentando
aquela mulher era o fato dela ter um amante. “O diabo foi atraído pela mentira da esposa, ai veio
o castigo, né?” 297.
Os valores morais fluem na narração, pois estão imbricados no cotidiano dos homens e
mulheres intercalando pecado, culpa e castigo. Sexualidade e infidelidade são preteridas em sua
memória, refletindo as múltiplas facetas do rezar, ou seja, circunstancialmente o dom que essas
mulheres desenvolviam, exteriorizam aspectos da intimidade, falavam do corpo da mulher e da
força culpabilizadora que cicatrizava na memória desses sujeitos.
296 Dona Ângela, depoimento citado. 297 A existência de um universo intrincado pela existência física dos homens, e sua relação simultânea com os fantasmas e mortos-vivos passou a ser reconhecido institucionalmente na cultura europeia no principio do período denominado de Idade Moderna. Sobre as particularidades da elaboração dessa forma de medo, contribuição pertinente alcança-se com a leitura de DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lúcia Machado, tradução de notas Heloísa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 84-96.
144
O pecado, o castigo e as forças do diabo são evocados, não como elementos que agiam
contra os bons e contra as coisas de Deus, mas sim, interpretados como seres e forças que agiam
pelo consequente afastamento. Em suas narrativas enfatiza constante o papel que o diabo e seus
agentes potencializam nos homens e na natureza. Durante alguns momentos, notei que ela falava
de santos e encantados para designar os agentes da cura divina, os “bichos do mato” e o diabo
eram os provocadores do sofrimento. Pedi que falasse sobre santos e encantados suas diferenças
em relação ao diabo e ao demônio. Fica em silêncio, pensa e parece tentar ordenar as explicações
para o meu questionamento:
[...] Não! Os diabos são do mal, né? O senhor sabe... Agora na floresta tem os bicho que são da serventia deles, são coisa imunda, bicho de peçonha. Ah! Também tem os espírito que vago por aí, são aqueles da noite, que ficam sem descanso depois da morte, tudo isso é das natureza ruim [...] assim é a merma coisa dos do bem. Os santos tão intercedendo por nós [...] agora os encanto da terra e da água não, alguns ajudam os homem, outros não, depende do gênio dele, né?298
Embora percebendo o esforço da entrevistada para responder as indagações, pude notar a
rapidez e o caráter sintético das explicações, demonstrando não ter muito interesse em
permanecer falando sobre essas definições. Os demônios – o diabo – pertencem ao espaço da
maldade, enquanto os bichos da floresta – aqui não apenas espíritos, mas animais considerados
peçonhentos ou imundos, tais como sapos, cobras, baratas, escorpiões - podem ser utilizados
pelo mal, como são “peçonhentos e imundos”, estão inclinados a servirem como agentes e
expressões do diabo, sem necessariamente ter uma existência voltada para o mal.
Dona Ângela cita o diabo poucas vezes, mas com intensidade, ora apresenta-o na
perspectiva de agente da punição e castigo divino, para aqueles que não se refugiam em Deus, ora
como capaz de agir através dos encantados, e da própria natureza – no caso dos animais
peçonhentos citados. Delumeau define a consolidação do diabo no imaginário cristão através do
medo luciferiano que se tornou dominante na emergência da modernidade europeia, outrora
visto numa relação servil diante de Deus, teve uma rápida ascensão, tornando-se não apenas a
origem do mal, mas o deus desse mundo299.
Satã, os diabos: o discurso demonológico emprega indiferentemente o singular ou plural. A ubiqüidade da ação diabólica leva a postular não só o extraordinário poder de Lúcifer, mas também a existência de um exército de anjos do mal que obedecem docilmente a seu chefe como os anjos executam as ordens de Deus. Mesmo que o próprio Satã, como acreditam certos teólogos, resida no inferno, seus agentes habitam nosso universo (ai de nós!) ou pelo menos circulam – e circularão até o Juizo Final – entre terra e inferno. Daí uma multiplicação da obra diabólica e uma especialização das competências criminais300.
298 Dona Ângela, depoimento citado. 299 DELUMEAU, 1989, Op. Cit., p. 230. 300 Idem, p. 257.
145
Outra definição é a dos espíritos que morrem e continuam na terra, tendo que vir para a
vida eterna – o que designa de paraíso - mas alguns precisam ser castigados pelos seus pecados, e
assim ficam vagando e atormentando os vivo. Difere três tipos de espíritos que pagam “sina”
(destino/carma) na terra: os de misericórdia, que são os arrependidos de verdade, estes vivem nas
igrejas e cemitérios fazendo contrição, por isso passam pouco tempo na terra, e depois vão para o
paraíso. Depois existem os espíritos melancólicos, que vivem chorando, se apegando ao passado,
não aceitando a morte, passando “mais de cem anos no choro” e por último aqueles que “se
bandearam pro lado de lá”, não aceitando o castigo de Deus, vivem atormentando os homens na
terra, gerando os maus pensamentos, sendo condenados301.
Os santos intercediam pelos homens e os encantados não. Existem os encantados mansos
e aqueles geniosos, os que fazem mal são os de gênio (personalidade/índole) forte. Apesar da
tentativa de definir as forças religiosas, a prática da cura e da reza, são experiências longe de
serem vividas de forma compartimentada, às vezes reza em nome de santos e encantados
simultaneamente, em situação diversa, associa o diabo com a manifestação dos bichos da floresta,
ou dos espíritos que vagam302.
A dificuldade em ordenar e explicar as forças do mundo religioso que acredita, dentre
outras coisas, pode estar associada à forma como incorpora na narrativa, aspectos do catolicismo
romano, de entidades dos rituais afroindígenas e de explicações correntes do kardecismo,
erigindo não apenas a síntese dessas religiosidades, mas uma maneira bem particular de
estabelecer um diálogo, uma intersecção, tentando configurar para si uma cosmologia que
possibilite um diálogo entre o mundo da natureza e o espiritual.
A presença do diabo e a ênfase dada na sua oposição a Deus pode ter sido influenciada,
pela importância que o padre teve na cura e na “conscientização" de sua missão estabelecida por
Deus, reforçando uma percepção maniqueísta. Assim, a guerra de Deus contra o diabo seria a sua
guerra. Na relação entre os encantados e os seres espirituais da religião cristã, os primeiros podem
ser submetidos ao controle tanto das forças de Deus como do diabo, fazendo-nos crer na
condição intermediária e fronteiriça das encantarias no seu imaginário.
Isto está em relação com a ideia que se tem sobre o caráter de santos e encantados, pois, se aqueles são pensados como entidades benfazejas, que só fazem o mal como castigo em razão de algum abuso ou desrespeito, os encantados são ambíguos, ao mesmo tempo bons e maus, praticando ações benéficas e maléficas, muitas vezes sem nenhum propósito303.
301 Idem, Ibidem, p. 96-98. 302 Para efeito de comparação, lembremos a relação entre santos e encantados na obra de MAUÉS, 1995, Op. Cit., pp. 210-215. 303 Outras concepções a esse respeito, ver. MAUÉS, 1995, Op. Cit., pp. 206-207.
146
Quando Dona Ângela termina de falar sobre os santos e encantados, dona Joana – a filha
– começa a reclamar dos pés inchados, ‘olhe professor, não sei mais o que fazer com isso’,
reclama. A mãe manda que procure um hospital. Em tom de desdém pede para mãe rezar,
acenando negativamente não pode fazer nada, pois o dom não é para os seus familiares:
Minha reza não serve mesmo, não posso faze nada por você, os outros fazem por mim e eu faço pelos outros, mas pelos meus não posso fazer isso... por que se eu fizer pelos meus ninguém adoece, não é assim não. Ai tem os outros que vão fazer pelos meu, é regra das água, não posso fazer nada por ninguém daqui de casa, nada, nada... [...]304
Posteriormente, chega o neto de D. Ângela, doente, com febre e acompanhado de
parentes, que insistem na benzedura – a entrevistada tem quatro filhos que moram na vizinhança.
Em tom irritadiço a rezadeira avisa que vai rezar, mas não vai dar certo, que primeiro tem que
pedir “licença” pra fazer isso e que não garante nada, reclama que eles não entendem, mas
mesmo assim pega uma planta (vassourinha) e ali mesmo na calçada realiza a benzedura, rezando
o Pai Nosso, passa os galhos no corpo, reza em voz ininteligível, vez ou outra entende-se
“quebranto mau olhado ninguém segura, com a água da fonte se envolve, três ave-maria [...] Jesus
que anda manda quebrante, mau olhado (inaudível) valei meu Santo Antonio, valei-me Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Maria de Nazaré”.
Durante a reza, passa o galho de planta pelo corpo da criança, em movimento horizontal
e vertical, como se estivesse dando um banho, mais especificamente, era como se passasse um
sabonete para limpar o jovem doente, especialmente pela garganta, a reza dura de onze a quinze
minutos. A criança inicialmente ri, depois entristece, chora um pouco, mas no fim termina
brincando com o galho na mão da rezadeira. Em tom de desconforto, termina rapidamente, diz
que é garganta, entrega aos pais, estes dão às costas e saem brincando com o neném.
Thompson põe em relevo a importância de pensar os laços sociais no ambiente das
experiências, de forma que, no caso das rezadeiras em Capanema, as cumplicidades do rezar e ser
rezado possibilita o surgimento de relações sociais próprias, com mobilizações e fisionomias
específicas, mantendo o “fazer-se” contextualizado305.
Quando os pais da criança vão embora, pergunto o que são as “regras das Águas”, afirma
que são as regras da dona do “incante”, da encantada que lhe deu o dom e que este vem das
águas e não da mata.
Os meus incante são os forte, né? Sempre os da água ajuda mais. Tem os da mata também [...] mas esses não são bom não, sei lá! Tudo que vem d’água é bom, pode vê os peixe. Já no chão tem as coisa podi (podre) das carniça [...] mas a sina do incante
304 Dona Ângela, depoimento citado. 305 Cf. THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária Inglesa v.1. Tradução Denise Bootmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 23.
147
quem dá é Deus, não pode achar ruim não. [...] agora quando tava meio fraca e as reza não “pegava” (tinha efeito) ia pros mato longe, na capoeira, na cabana de uns conhecido. Passava o dia rezando e haja tomar banho nos rio afastado [...] hum! Quando voltava era reza tinino. No Piauí era ruim de chuva, aqui é terra d’água (riso) e haja reza!306
Os locais de encantaria são descritos pelos ‘médiuns’ como lugares de muita energia, de
muito poder, de uma força inexplicável ou como lugares de muito mistério e segredo. Afirma-se
que nos principais passam muitas correntes espirituais. Em vários deles existem encontros de
águas (do mar com água doce), de rios e matas, e em muitos deles existem pedreiras. Os lugares
mais isolados, intocados, virgens concentram mais força307.
Dona Ângela constrói argumentos que diferenciam as atribuições dos encantados da
água, opondo-se às encantarias da terra. Essa elaboração origina-se na perspectiva do papel
purificador da água, elemento associado à limpeza e vida saudável. As representações de animais
e hábitos alimentares e a superioridade nutritiva do peixe integram um imaginário aquático tecido
no cotidiano do trabalho e cultura alimentar308. Por outro lado, a terra aparece como o lugar de
decomposição dos corpos, simbolizando o último estado da existência material, o território da
morte.
O contato com as águas “virgens” isoladas revitaliza o poder da reza, o isolamento
temporário da comunidade e a aproximação da natureza significam rituais de renovação. A água
tem um simbolismo associado à fonte de energia, regeneração que não finda, transita entre morte
e renascimento309. A quantidade de chuvas e rios na região Bragantina amplia a sensibilidade da
rezadeira na experiência com os encantados, mais uma vez a representação do mundo natural
provoca a sedimentação da identidade.
D. Ângela não sabe explicar como ou porque de certas regras “Isso é coisa deles, dos
encante, só tenho é que obedecer”, os segredos, os sinais dos encantados devem ser respeitados.
Apesar de nunca ter ido ou enviado alguém a outra rezadeira, a exceção se aplica aos parentes,
afirma com ar despreocupado: “não adianta rezar neles, não dá certo mesmo [...] a única coisa
que faz é o encante fica zangado a aí tenho dor de cabeça a noite toda [...]”.
306 Dona Ângela, depoimento citado. 307 FERRETI, 2008, Op. Cit., p. 4. 308 Determinados alimentos são retratados como “reimosos” e maléficos, outros nutritivos e revigorantes do corpo e alma. Na Amazônia inúmeros são os casos de tabus alimentares. Para aprofundamento dessas questões indicamos ler MAUÈS, 1990, Op. Cit., pp. 49-53. 309 ‘Tanto no plano cosmológico como no plano antropológico, a imersão nas águas equivale não a uma extinção definitiva, mas a uma reintegração passageira no indistinto, seguida de uma nova criação, de uma nova vida ou de um novo homem, segundo se trate de um momento cósmico, biológico ou soteriológico. Do ponto de vista da estrutura, o “dilúvio é comparável ao batismo, e a libação fúnebre às ilustrações dos recé-nascidos ou aos banhos rituais primaveris que buscam saúde e fertilidade”. Cf. ELIADE, 1996, Op. Cit., p. 152.
148
A filha (Joana) diz que dona Ângela era uma mulher muito forte e muito bonita, pergunta:
“O senhor quer ver uma foto dela nova? Vou pegar! O senhor não vai acreditar!”. Levanta-se
rapidamente, sem esperar qualquer resposta, dona Ângela fica em silêncio, dona Joana vem com
um retrato, eu observo, respondo que realmente era uma mulher muito bonita. A filha sente-se
feliz, como se o elogio fosse para ela, a mãe balança a cabeça afirmativamente, “É... Mais a vida é
assim mesmo, Deus quis que fosse do jeito que é? Então, tá bom, né?”. Fala de forma seca e
conformada.
D. Joana aparenta ter grande admiração pela figura materna, sendo a única das filhas, que
vive com a mãe, auxiliando nos afazeres domésticos e no trato da saúde. Noto, sobretudo, esse
vínculo durante as narrativas: Enquanto dona Ângela tece a narrativa, a filha acompanha com os
olhos o movimento das mãos, o entrelaçar dos dedos, e às vezes antecipa a fala da narradora em
voz baixa, no movimento discreto dos lábios. Tem o seu fazer identitário ancorado na memória
da rezadeira.
Percebi que estava anoitecendo, resolvi encerrar a entrevista, mas antes pedi que dona
Ângela, respondesse uma última pergunta. Se “já havia negado reza para alguém”, excluindo os
seus parentes, ela responde:
Não, não, nunca. Não posso, pois foi Deus que deu (...) se eu não puder, tiver doente seja o que for pelo menos tenho que pôr a mão no coração e faze ao menos um sinal da cruz. Eu num gosto é de crente, às vezes vem uns aqui, pedi pra mim reza, mas é pouco. Eles querem é reza com mão na minha cabeça... Só isso [...] Jesus é um só310.
Mesmo estando doente ou
muito ocupada, ela explica que
não pode negar reza para
ninguém, alguns ainda procuram
sua reza, mas são poucos, reclama
que a maioria vai lá com a
intenção de levá-la à Igreja
Assembléia de Deus, ou então de
rezar em sua cabeça, diz não
aceitar isso por que Jesus é um só,
e a salvação é para todos os
homens, completa.
310 Dona Ângela, depoimento citado.
Fig. 38 – Dona Ângela: “No tempo em que cumpria a norma das águas e a missão dada por Deus”. Fonte: Álbum de dona Ângela.
149
A intensidade das experiências xamãnicas na formação identitária de dona Ângela e a
imbricada relação com os encantados da água são partilhadas através do narrar da rezadeira do
“incante da cobra do fundo”. Dona Deuza Rabêlo é uma parteira-rezadeira que assume o dom
através do aprendizado materno e não de “possessões”, “atuações” das encantarias. Constrói um
imaginário extremamente fértil na relação entre água e terra como espaço de expressão do
encantado.
2.2.2 - “No Reino da Mãe d’água”
Deus acabava o mundo com água! Hoje não precisa, não [...] os homem faz isso de todo jeito. Pra vê, né? A água tem muito de bom e muito de ruim, mas vai de quem usa né? A minha vida é vida de peixe (risos). Mas olhe bem: parto e pesca é tirar vida d’água, tem que ter ordi do encanti
Dona Deuza
Algumas rezadeiras passaram a exercer o dom depois de adultas, não sofrendo com a
ação dos encantados, sendo iniciadas através de outras experiências. A benzedeira, dona Deuza,
tem, como veremos, uma relação de enfrentamento com muitas encantarias aquáticas. Até o
momento havia falado apenas dos partos que realizara, mas de repente um componente novo
aparece. Ao falar do aspecto espiritual do parto, ela indica a relevância de rezas e benzeções, quer
dizer, além de ser conhecida como parteira, também sabia rezar. Diante desse fato, perguntei se
também rezava desde os catorze anos, e ainda, se a experiência com reza era diferente da prática
de parto.
Com quase trinta, mãe e pai já tinha falecido. É tinha uns trinta mermo, comecei assim por acauso, tava no Maranhão e passou uma mãe com menino doente e pediu pra mim rezá do nada, sem vê nem pra quê disse: “dona Maria eu não rezo não, sou parteira só” mas não teve disso, pediu mermo assim, eu rezei e curô. Nunca que pensei que tinha isso de reza... Aí começou hum (olha pra cima, balança cabeça) era muié buchuda e neném doente, minha casa parecia hospital. Minha mãe rezava, mas eu não entendia nada, achava as fala muito difícil, isso era dela, mas de repente aprendi minha própria reza, vem de dentro de mim (aponta com dedo pra cabeça)311.
A interlocutora havia começado a rezar com quase trinta anos, diz quase não ter rezado
no Maranhão, pois veio para o Pará um pouco depois dos trinta. A demarcação temporal dessa
experiência foi ancorada na memória em relação à morte de seus pais, isto é, começou a rezar
quando veio para Capanema. Argumenta que o hábito de rezar surgiu de forma espontânea, sem
que ao menos percebesse. Conta que uma senhora pede para que reze no seu filho, e mesmo
explicando que não sabia rezar, é vencida pela insistência da mãe, termina rezando, e para espanto
311 Dona Deuza, depoimento citado.
150
seu, dias depois a senhora veio agradecer-lhe pela cura do filho. Diz não saber se isso era bom ou
ruim, o número de pessoas em sua casa havia dobrado.
Sua mãe também rezava, mas não entendia o que ela falava, nem nunca se interessou para
saber como rezar, porém depois de rezar na primeira pessoa, começou a fazer sua própria reza.
As rezas vinham na cabeça, como se estivessem lá há muito tempo. Não sabe explicar como ao
certo ocorria, mas estranhara o fato de começar a rezar depois que sua mãe morreu, chegando a
comentar, um pouco desconfiada: “será que esse dom ela passou pra mim depois da morte?”.
Penso se tratar de uma pergunta retórica, depois, percebo que a pergunta é diretamente para
mim. Ao insistir em saber se eu achava isso possível, deixou-me sem saber o que dizer, mudei
minha postura no sofá, denotei corporalmente uma preocupação -, pus uma das mãos na cabeça,
expressando certo constrangimento. Respondi que pessoalmente não tinha conhecimento se era
possível, mas já havia lido em alguns livros que falavam de dons que eram passados de pais para
filhos. Ela emite um som, semelhante a quem tem sinusite, depois diz que posso continuar
minhas perguntas.
O laço materno é reforçado na memória, assim como atribuía à genitora o papel mestre
na técnica de tarrafiar e nos partos, reitera um vínculo baseado na transmissão de saberes
mágicos, mesmo que involuntário.
Tive dificuldades em retomar as perguntas, dado o clima de constrangimento, em especial
de minha parte. Achava que não deveria emitir juízo, somente com o passar do tempo é que fui
me sentir à vontade com um diálogo mais espontâneo e aberto por parte das entrevistadas312. Por
alguns segundos lembrei-me que o constrangimento, a ocultação voluntária e involuntária de
informações e experiências são sensações que se refletem no jogo de espelho de qualquer
entrevista. Diante dessa situação, improvisei uma pergunta: “A senhora reza para todas as
doenças? Quais as pessoas que procuram à senhora?”
Rezo pra quebranti, espinhela caída, febre, dor de cabeça, encantamento. Mas não posso rezá pra tudo. A minha reza tem as doença própria, por exemplo: COBREIRO, o cobreiro é uma doença que só resolve com um tipo de reza, uma reza especial, essa não faço. Aqui em Capanema só tem duas pessoa que rezam isso. Não tem remédio e doutor que dê jeito, e mais, ele nasce por sobre a pele e por debaixo, doença desgraçada, quando vem gente com isso eu mando logo com outro, digo mermo que não sei. Cobreiro é doença de cobra do fundo encantado, outra vez, era uma crente, VEJA SÓ, nasceu um na barriga da pobre, olhe tava quase dando a volta, parecia um cinturão, essa muié chorava no fundo da cama! Aí os vizinho me disseram: “A Luzia ta quase morrendo com cobreiro”, fiz uma paçoca – eita crente véia que gostava dessa farinha moída, risos – mas tava feio demais, ai disse: “sei que a senhora nem seu marido
312 Lembrei-me das lições de Portelli, que enfatiza uma relação dialógica, uma troca de experiências na prática da História Oral. Nesses encontros necessariamente o historiador não estuda os habitantes de uma região, e sim aprende algo a seu respeito, aprende ouvindo, e aprende do outro, falando de si. PORTELLI. Proj. História 14, 1997, Op. Cit., p. 24.
151
não acredito nisso, mas se esse cobreiro der a volta na sua cinta a senhora não levanta nunca mais, isso eu lhe garanto, mas se manda fazê reza eu não dô quinze dias pra tu fica boa”. Foi dito e feito, rezador antigo daqui rezô três dias só. O cobreiro foi murchando, murchando até foi-se. Mas as reza que faço é mermo com criança, até hoje, parto não faço mais, reza eu rezo é muito ainda hoje, toda semana seis, sete menino, de tudo quanto é idade, moléstia de menino, coisa comum. Tripa rascada (umbigo dilatado), vento no peito, carne rasgada, peito aberto é só entrar e rezar313.
Dona Deuza afirma rezar para muitos tipos de doenças, cita dor de cabeça, dor de
barriga, verme, tripa rasgada (umbigo dilatado), peito aberto, todas as doenças de corpo ou
naturais. Mas também diz rezar para doenças de despacho e doenças de encantamento, que são
doenças feitas pelos outros com inveja ou que vem mesmo dos bichos das águas e das matas314.
Porém sua reza não serve para curar todas as doenças, dá como exemplo o cobreiro, que não é
uma doença comum, só pode ser curado com reza especial, fala sem cerimônia alguma, que se
alguém aparece com cobreiro, manda de imediato com outro rezador, pois não pode fazer
nada315.
Por se tratar de “doença de cobra do fundo encantado”, a cura só acontece se a reza for
daquelas rezas antigas. As rezas antigas eram aprendidas por aqueles que tinham vivido com
“encantados no fundo”. Faz alusão a uma época onde muitas pessoas poderiam falar com os
encantados, e que hoje as rezas poderosas estão se perdendo por falta de rezadores especiais:
Hoje em dia é muito difícil achar a pessoa que é rezador do fundo mermo [hoje] é mais daquele que vê e aprende dos antigo [...] a reza presta ainda, né?! Mas tá é muito longe da reza dos antigo [...] hum! Daqui a uns anos capaz até de não ter mais [rezadores] pode escrever, mas enquanto tamo aqui a coisa vai, né?316
Os rezadores que aprenderam com os encantados, por meio de possessões, sonhos,
desmaios ou viagens a outros mundos, como sujeitos com reza especial, capaz de curar com
maior eficácia, enquanto que benzedores que foram iniciados pela tradição familiar, ou 313 Dona Deuza, depoimento citado. 314 Popularmente, vários termos preconceituosos foram interpretados para designar relação com o diabo, em algumas manifestações religiosas como o candomblé, a palavra “oferendas”, traduz ofertas, agradecimentos e petições às entidades do panteão brasileiro. Ver PEREIRA, 2000, Op. Cit., p. 199. 315 “O cobreiro vem sendo desde tempos remotos descrito, segundo opinião popular, como sendo uma doença que se contrai através do contato direto com roupas por onde tenham passado certos insetos ou animais peçonhentos. Caracteriza-se por erupção cutânea, acrescida de vesículas, geralmente acompanhadas de dor que, devido à sua configuração é conhecida no meio popular por cobreiro. Foi observada, por meio das pesquisas, uma quase uniformidade nas formas de tratamento. (...) Elas consistem primeiramente de rezas, por julgarem, no meio popular, tratar-se de doença que só benzedores podem curar. (...) Do ponto de vista médico, trata-se de uma dermatose, cientificamente denominada herpes zoster ou zona. O cobreiro é uma virose de evolução cíclica que desaparece espontaneamente, pois não há medicação específica, até o momento, contra o vírus”. CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda. Estudos de Etnofarmacobotânica. In: PELLEGRINI FILHO, Américo (org.). Antologia de Folclore Brasileiro. São Paulo, EDART/Universidade Federal da Paraíba/Universidade Federal do Pará, 1982, pp. 1-3. Um estudo salutar sobre a importância dos significados, termos e dinâmicas sociais que determinadas doenças podem representar, ver FIGUEIREDO, Aldrin Moura. Assim como eram os gafanhotos: pajelança e confrontos culturais na Amazônia do inicio do século XX. In: MAUÈS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia, 2008, Op. Cit., pp. 53-94. 316 Dona Deuza, depoimento citado.
152
aprenderam observando os parentes ou conhecidos tem limitações na prática de benzeduras. Ao
mesmo tempo em que lamenta a ausência de grandes rezadores, reforça o papel da tradição que
persiste. Assim apenas determinados tipos de rezadeiras, curandeiras, benzedeiras e/ou formas
de pajelança podem promover a cura:
São vários os caminhos que levam uma pessoa a se tratar com um pajé. O princípio de tudo é uma perturbação: problemas físicos (dores, febres, partes do corpo inchadas, feridas que não saram, perda de peso, gravidez complicada ou qualquer tipo de disfunção orgânica), problemas comportamentais (inquietações, visões, depressão, insônia, alcoolismo ou qualquer tipo de comportamento considerado anômalo), problemas afetivos e emocionais (relacionamentos em crise, falta de parceiros, brigas de família), problemas de trabalho (desemprego, problemas na roça ou na pesca, comércio com poucos clientes), falta de sorte crônica (também conhecida como panema ou panemice), objetos perdidos ou roubados, ou simplesmente o desejo de se precaver contra possíveis perturbações vindouras317.
A referência sobre a pajelança no Maranhão serve de suporte para, guardadas as diferenças
locais e culturais entre a figura do pajé e a da rezadeira, observarmos que para além de uma
bagagem cultural herdada por esses sujeitos históricos, é preciso verificar como a classificação das
doenças, seus significados e medos contribuem para o posicionamento das identidades. O que
apenas alguns rezadores podem ou não fazer, o que somente esse ou aquele pajé defuma, impõe
uma colocação desses atores nos vínculos sociais.
Mas atualmente as pessoas que procuram dona Deuza para receberem suas rezas, são
crianças, pois essas são fáceis, como por exemplo: O Credo, Ave-Maria, Pai Nosso, oração de
São Francisco, Santa Luzia e São Benedito. As rezas mais difíceis são para as doenças graves,
essas (rezas) não pode dizer para ninguém, pois são rezas e remédios que teriam o segredo da
cura318.
Pego mato de quintal, folha de planta boa, quebro e rezo as reza dos santo, ave-maria, pai-nosso, creio em Deus pai, oração de s. Francisco, Santa Luzia, São Benedito... (silêncio) mas... Olhe, tem reza que é só minha, essas não posso dizer pra ninguém viu?! Essas são o segredo da cura. Mas as reza de menino que mais dão trabalho são as de mãe d´água, hum bicha desgraçada, impezinho as pobre das criança, são uma disgraça. Preste atenção nisso (se ajeita na cadeira, eleva o tom de voz) eu juro pelos meus neto que tão no quintal! Quando cheguei aqui nessa cidade, na época que lá era matagal era cheio delas, são bicho do mato, encante do mato, um dia fui no quintal a noite e passou uma perto de mim, primeiro é o assoviu bem fininho fiiiiu!319 Depois elas passo. Dei de frente com
317 PACHECO, Gustavo de Britto Freire. Brinquedo de Cura: um estudo sobre a pajelança maranhense. Tese de doutorado em Antropologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004, p. 151. 318 Leitura que discute a relação entre magia e mistério nas práticas de cura no interior do Brasil. Cf. MARQUES,Vera Regina Beltrão. Medicinas secretas: Magia e Ciência no Brasil Setecentista. In: CHALHOUB, Sidney et al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, pp. 165-177. 319 Há vários relatos e produções literárias que atribuem o assobio ou apito a matintaperera, por exemplo. FARES, Josebel Akel. O matintaperera no imaginário Amazônico. In: MAUÈS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia, 2008, Op. Cit. As experiências religiosas de dona Deuza, no entanto, demonstram que na intersecção das representações e imaginários, as encantarias tornam-se ricamente polissêmicas.
153
uma disse: “tu pensa que vô correr de ti é disgraça?!” ai se correu pro mato, mas era muito. E haja flechá criança, era um monte aqui em casa todo santo dia, tudo flechada320.
A relação de ajuda e proteção com as crianças é um fio condutor em sua narrativa: no
papel de parteira auxiliava no nascimento, com a diminuição dos partos e o avançar da idade,
dedicou-se a rezar em crianças, prezando pela saúde.
As dificuldades de rezar em criança flechada pela mãe d’água eram atribuídas á quantidade
destas. Ouviu falar em mãe d’água desde a infância no Maranhão, mais nada semelhante à
Amazônia:
Ai meu Deus! [risos] quando cheguei aqui e deu o primeiro toró, com reboada “bororó” [tempestade com relâmpagos e trovões] pensei que o céu ia cair, nunca tinha visto tanta água na vida. Aí, né? Os bicho do mar desentoco tudo pra terra, vem ver o que acontece no chão. Nós não somo curioso pra saber do céu e do mar? Assim são eles também, né? [...] Essa Amazônia de vocês é bem dizer a casa da mãe’dágua321.
Lembra que Capanema tinha muita mata no passado, durante o inverno tanto o rio
Ouricuri como o Garrafão enchiam muito, e quando transbordavam, alagava muitas ruas, o que
terminava “desentocando elas tudo”, diz referindo-se as mães d’água. Após tempestades e
alagamentos, as crianças tomavam banho nos rios, corriam na chuva facilitando às “doenças de
flecha” no fim da tarde ouvia a partir das dezoito horas o assovio bem fino, já se preparava, pois
no outro dia atendia criança doente desde cedo até o entardecer322.
Assim como a pessoa nasce, e tem um bocado de doença que se pegar nessa época, morre. Assim é o espírito: “o corpo e o espírito tão fraquinho ainda, eles não consegue entender esse mundo não”. As flecha quase não pego as pessoa grande, mas os pequeno é um mal danado. A gente fala assim, mas nós somo um só – corpo e alma [...] mas o bem e o mal entram nas duas porta, e o que malina com um mexe com outro323.
320 Dona Deuza, depoimento citado. 321 Idem. 322 Iara, Uiara, Oiara, Eiara, Igpuiara, Hipipiara. Mito inspirado nas sereias da cultura clássica grega (escritos Homéricos). Esta se apresenta como loira ou ruiva, de beleza considerável, pode, através do canto, arrastar/seduzir os homens até o fundo dos rios. Na Amazônia este fato é chamado de “mundiar”, ou ficar “mundiado”. Muitas crianças podem ficar mundiadas e serem levadas pela Iara. A Iara seria vista também como uma deidade fluvial, que se fundiu com as sereias europeias e deuses africanos (Iemanjá). PEREIRA, Franz Kreuther. Painel de Lendas & Mitos Amazônicos, 2001, Op. Cit., 2001, p. 36. As cartas e crônicas dos viajantes europeus indicam a história do imaginário marítimo Amazônico, onde inicialmente, as formas das divindades fluviais teriam aspecto pavoroso: escamas, garras de gaviões, cabeça de cachorro. Em outros relatos, porém, são identificadas como fêmeas ruivas e violentas. Cf. PRIORE, Mary Del. Esquecidos por Deus - monstros no mundo europeu e ibero-americano: uma história dos monstros do Velho e do Novo Mundo (séculos XVI-XVIII). São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 91-96. O termo “Oiara” poucas vezes é dito pelas rezadeiras, preferindo a denominação Mãe d’água. Percebi que não faziam distinção entre uma e outra, e que preferiam citar Mãe d’água, esta com poder para atrair e punir os incautos, aqueles que não respeitam os rios e florestas, com o objetivo de preservar o seu reino. As pessoas atingidas por essas divindades poderiam ser levadas para o “fundo”, atingidos pelas “flechadas – de – bicho”, ou “mau – olhado”. Ver MAUÉS, R. Heraldo. Malineza: um conceito da cultura Amazônica. In: BIRMAN, P. NOVAES, R & CRESPO, S. (orgs.). O mal à brasileira. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1997, p. 35. 323 Dona Deuza, depoimento citado.
154
A rezadeira interpreta a
ação da mãe d’água pela fraqueza
espiritual da criança, compara a
fragilidade imunológica da criança,
vê, portanto similaridade entre
corpo e espírito. Os encantados
afetam a formação física e
espiritual das identidades
amazônicas, tendo rezadeiras e
benzedores, nessa perspectiva, o
papel de guardiões desses sujeitos
Que elas fazem? Hum! elas passo a noite dando susto, batendo na cabeça, beliscando, assoprando nos ouvido, mas o pior é as flecha, joga feitiço e haja dor de cabeça, febre, diarréia, sem sono, inflamação, se não reza morre mermo. Era tanta que elas flechava até gente grande, cansei de ta nessa cadeira e elas passare por mim, assopra no ouvido, um dia uma flechou em mim bem na testa, parecia espinho de pupunhal –pupunheira- ficô vermelho que não dava jeito, fui com um senhor que era pajé, ele rezou defumou cigarro no rosto, depois deu um escarro e boto pela boca um monte de cupim e depois um espinho bem fininho e disse: “olha ta aqui a flecha dela, era uma mãe d´água preta! A senhora já viu uma assim? (Risos) vá pra casa que já pus fim no encante”. Fiquei meio desconfiada, nunca tinha visto essas preta, já umas imunda comum, ele riu e disse que as bicha são negona preta, grande e braba, que se eu vise ia corre com medo, hum onde se viu? Eu corrê com medo desses traste, mas fiquei na dúvida : “hum será que esse veio não boto o espinho na boca pra me enganar (risos)”. Mas uma coisa eu sei, a dor passô na hora, passou, passou. Não senti mais nada324.
Além de atormentar as crianças, causando-lhes várias enfermidades, o número de mães d
água era tanto, que flechavam até adultos. Um dia chegou a ser flechada passando vários dias
com dor de cabeça, nascendo um tipo de espinho na parte lateral da testa, apesar de ter rezado e
passado erva pisada com álcool, nada aliviou a dor.
A rezadeira só conseguiu ficar boa depois que foi pedir ajuda a um pajé, explicou o
ocorrido: ele rezou durante aproximadamente trinta minutos, defumou um cigarro quase todo no
seu rosto, pôs a boca na inflamação, chupando e cuspindo várias porções de cupim e por último
um espinho longo e fino, semelhante ao de uma pupunheira. A narradora age como se estivesse
lá, diante do pajé, mantém na face um aspecto de espanto, como que ainda não acreditando no
que vira.
324 Dona Deuza, depoimento citado.
Fig. 39 – Rio Ouricuri. Segundo dona Deuza: “No passado um rio que cortava a cidade de uma ponta à outra, morada de mães d água”. Fonte: foto da pesquisa, 2010
155
A afirmação do pajé de que o espinho era a flecha da mãe d’água preta, causara surpresa.
Nunca havia visto esse tipo de mãe d água, enfatiza que ficou irritada quando o pajé lhe disse que
ela é uma negona grande, e que se ela visse iria correr com medo. Ressalta que ficou duvidando
inicialmente da conversa do pajé, mas que depois reconheceu, principalmente, pelo fato da
inflamação desaparecer quase por completo no dia seguinte325.
As crianças que estavam na sala durante a entrevista, ficam atentas, acompanhando a
narrativa, era como se nunca tivessem presenciando a forma e o conteúdo da narração da
entrevistada. Dona Deuza revezava o olhar entre eu e as crianças. Percebemos assim o momento
de transmissão de saberes e experiências, onde, o processo do conhecimento é repassado
(compartilhado) no cotidiano da família e do convívio social, longe dos parâmetros
convencionais/institucionais escolares.
Não há especificidades de ações terapêuticas para cada modalidade de agente da cura. O
caso acima não significa, em hipótese alguma, a superioridade de pajés, sobre rezadeiras,
curandeiras ou benzedeiras, determinadas doenças possuem significados e podem indicar
“quadros espirituais” variáveis, mas não são indicadores sistemáticos e rigidamente classificáveis.
Os sujeitos da cura realizam aquilo que a sua experiência, dons, ou forças proporcionam326. A
prática das rezadeiras e outras modalidades de cura, não comportam rituais, regras e posturas
definitivas e dogmáticas, estas são moldadas de acordo com a cultura local, com as misturas
religiosas e a própria forma de ocupação destas na natureza.
Verificamos uma rezadeira que cogitou o medo de perder a sua “força”, de não conseguir
mais rezar, logo uma profunda alteração no seu modo de viver, e de ser vista na comunidade em
que vive. A incerteza diante do desconhecido, algo desconfortável para uma pessoa, que sempre
foi vista como portadora do dom, da palavra religiosa, principalmente em se tratando da mãe
d’água. E por último e não menos importante, a fala aparentemente desdenhosa do pajé,
tratando-a como alguém que correria, e que possivelmente não poderia curar as “flechas” desse
tipo de mãe d’água.
As experiências com a mãe d’água era algo particular, um conflito de motivações pessoais,
atribuindo a elas o excesso de rezas que fazia em crianças, mostrou-se irritada com o fato de não
ter conseguido retirar a flecha da mãe d’água preta. Em várias ocasiões, denomina-as de
325 PACHECO, 2004, Op. Cit., pp. 240-250. Alguns casos onde a cura é realizada pelo pajé vêm precedidos pela sucção, ou retirada da porcaria, imundície ou feitiço. Esse processo ocorre geralmente pela utilização da boca do agente da cura, visando “chupar” e cuspir o mal do corpo do enfermo. Sobre as transformações no xamanismo ameríndio nas mesclas com outras religiosidades. GALVÃO, Eduardo. Santos e Visagens: um estudo da vida religiosa em Itá, Amazonas. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1975 [1951], pp. 97-98. 326 Idem, p. 153.
156
“imundas” e “nojentas”, tendo acabado com todas no Bairro do Inussum, depois de quase dois
meses de reza.
Desde esse dia coloquei um propósito no meu quengo (cabeça), “vou expulsar esses bicho dessa rua”, peguei uma garrafa de cachaça, coloquei no pé de São Benedito por duas lua cheia, coloque doze cabeça de alho preta dentro da cachaça e passei seis horas da tarde em todo quintal joguei toda cachaça lá, era quintal grande com dezesseis pé de açaí. Se eu lhe disser que com oito dia começou a cair os açaizeiro um por um, sozinho – juro pela vida dos meu neto – depois que caiu o último - isso ninguém podia sai pro quintal, tudo fechado - fomo, limpa né? Hum!... só o senhor vendo, os açaí não tinho raiz não, era tudo limpo, o chão parecia o piso dessa casa, bem lisinho, sem raiz, parecia que eles tavo colado no chão (silêncio). Pois não era a casa delas! Elas vive nesses esconderijo de planta. Desse dia em diante nunca mais. Às vezes, até hoje quando chove muito que alaga, elas fico forte e ainda aparece, e assovia de novo. Mas pode escrever, quando aparece, chove de nenê doente flechado. Passa o inverno e elas vão sim bora.[...] Mas quando elas levo e seqüestro aí não tem jeito, nessa época tinha sequestro de muito nenê era um tormento as mãe com medo, se bestava já era. O neto do seu João Carlos (vizinho) quase ia levado, a mãe deixou pequeno de três meses na rede e foi conversá, despois quem disse que tava lá. Foi aquela correria os homem da rua atrás com arma, mas eu sabia “hum! isso é mãe d’água” quando foi na boca da noite a uns três km mais ou menos acharo o menino, enrolado no pano no pé de bacuri, bem na raiz, bem pertinho do lago, se elas tivesse chego no lago, NUNCA MAIS! Ia vira encante no fundo, depois os homem derrubaro o pé de bacuri, por que era casa delas, né? Elas vive escanchada por ai. Aqui em Capanema sei de caso na época que elas levaro mermo, levaro três pro fundo, nunca mais encontrarô os anjinho. Mas foi só desse tempo327.
A descrição dos acontecimentos é seguida de inúmeros gestos e expressões faciais:
descreve o tamanho da ‘”cabeça de alho” com as mãos, aponta para os pés de São Benedito com
os lábios, fazendo um “bico prolongado”, e mesmo não morando mais no Bairro do Inussum,
aponta para a casa, o quintal e a vizinhança como ainda vivesse na localidade. Quando relata o
desaparecimento do neto do seu João Carlos, narra em voz baixa, olhando para os lados, em tom
de sigilo.
O encantamento utilizado pode ser dito, mas não pode dizer como aprendeu, é o
“mandamento do encantado que aparece na noite, como se viesse na cabeça, mas o segredo tem
que ser guardado”. Parece que a entrevistada recorre não apenas a um santo do catolicismo, mas
também buscou em um encantado a força para enfrentar outras potências da encantaria.
Dona Deuza fica surpresa pela forma como as plantas começam a cair, pois os açaizeiros
caiam de noite, causando estrondo, sendo que no outro dia não era permitido aproximação do
quintal até que as dezesseis árvores estivessem no chão. A ação do encantamento era noturna,
remetendo justamente ao mistério do encantado, o som da queda das árvores à noite era
amplificada pelo silêncio noturno: chuva, trovões, sons e ruídos diversos aguçavam o imaginário
dos moradores, criando uma profusão de seres, espíritos, almas e forças sobrenaturais.
327 Dona Deuza, depoimento citado.
157
Enquanto os açaizeiros caíam, o quintal era intocado, lembrando a sacralização do
território e da natureza, existente em diversas culturas indígenas328. Somente após os dias
determinados, a família e os vizinhos foram autorizados a limparem o quintal, sendo frequente a
reza do terço e benzeções durante o recolhimento das árvores mortas. A família e a comunidade
representam o vínculo identitário da religião dos encantados com a legitimidade social atribuída e
estes. Os moradores do Bairro compartilhavam a idéia de proteção e sobrevivência existente na
perspectiva da rezadeira.
A narradora lembra-se dos cupins que o pajé havia cuspido depois de defumar a sua
testa!... “agora faz sentido [hum] elas são da água, mas quando saem dos rios precisam ficar em
áreas alagadas, e buscam moradia nas plantas da mata, daí os cupim, né?”. No ato de narrar
recorda o fato e interpreta que os cupins cuspidos pelo pajé poderiam estar associados ao fato da
mãe d’ água preta viver nas árvores. As estações do ano (cheias tempestades), plantas (açaizeiros,
espinhos de pupunheira) e animais (cupins) são objetos de controle da comunidade, que
disputam o seu lugar com as encantarias.
Na estrutura da narrativa, ao mesmo tempo em que encadeia suas experiências passadas,
acrescenta outras no instante da fala, faz associação entre a habitação da mãe d’água (os
açaizeiros) e os cupins que o pajé havia cuspido! Essa construção ainda não era um elemento
discursivo da entrevistada, mas acabara de ser incorporado para reforçar o argumento dos fatos
acontecidos. Portelli indica a infinita (re) atualização da memória no decorrer da narração:
As narrativas históricas, poéticas e míticas, sempre se tornam inextricavelmente misturadas. O resultado são narrativas nas quais a fronteira entre o que toma o lugar fora do narrador e o que acontece dentro [...] Mas o único e precioso elemento que as fontes orais tem sobre o historiador, e que nenhuma outra fonte possui em igual medida, é a subjetividade do expositor. Se a aproximação para a busca é suficientemente ampla e articulada, uma secção contrariada subjetividade de um grupo ou classe pode emergir [...]329.
A expulsão das encantarias da água não foi definitiva, mas desapareceram por seis meses.
No entanto, durante o inverno, quando chove muito, vez ou outra reza em criança com flechada.
A forma de ação dos encantados é quantificada pela existência de crianças doentes, assim, as
forças sobrenaturais da floresta são mais conhecidas pela ação negativa do que pelos benefícios
produzidos330. Por outro lado, cabe lembrar que o aumento do cuidado materno à noite, a
328 ELIADE, 1960, Op. Cit., pp. 258-259. 329 PORTELLI. Proj. História 14, 1997. Op. cit., pp. 30-31. 330 Sabemos que as encantarias produzem doenças e males, mas também são responsáveis pela cura, pelo sucesso na pesca, caça e agricultura. No entanto, na narrativa de dona Deuza estes seres emergem com ênfase na capacidade de produzirem danos aos homens.
158
diminuição dos banhos nos rios também representam fatores que diminuem a incidência de
males físicos.
“A força delas está nas águas, então elas nunca vão sumir de verdade”. Dona Deuza
buscava o controle das encantarias, não o seu desaparecimento, denotando a relação de equilíbrio
com a religiosidade vivida, fonte do seu status e poder na comunidade, fundamento da identidade
do ato de rezar. O seqüestro das crianças surge como forte atribuição dos encantados, na citação
descreve o caso do neto do seu João Carlos (vizinho), que foi seqüestrado, sendo encontrado há
três quilômetros, perto do lago, debaixo de uma árvore: ‘por pouco ia virar encante do fundo’.
O motivo do sequestro de crianças pelas encantarias é interpretado como uma forma de
transformá-las em encantados no “reino do fundo”, ensinar seus poderes, produzir malineza e
causar sofrimento nos pais, realizar o rapto sob ordem de outro encantado. As potências das
encantarias podem exercer autoridade umas sobre as outras, de forma que possuem atribuições e
poderes específicos.
A rezadeira esclarece que as explicações que vai dar aprendeu dos mais velhos, que
ouviram dos curandeiros do passado, que por sua vez, aprenderam diretamente dos encantados
do fundo:
Tem os incanti que não saem do mundo deles, que não tem ordi de vim pra cá, então depende desses que viajo nos dois mundo. [Hum] acho que é porque são muito brabo né? (forte, genioso, valente) sei como é isso não! Sei que tem muito disso mermo, isso é coisa d’ outro mundo [...] Esses que tá com a gente nesse mundo são acostumado com nós e aí consegue mandá mensagem e fazer ruindade. Os anjinho (crianças) que levam pro fundo aprende o segredo com os incate debaixo mesmo, lá do fundão. Esses sim têm os segredo peligoso (perigoso), por isso são curador que receberam doutrina deles [...] agora se o senhor perguntá se tenho certeza de verdade mesmo... Ah! Isso tenho não, e se soubesse, não ia arriscar recebê uma sova (surra) deles, né? 331.
A crença na existência de dois mundos, um material e outro espiritual não é específico do
pensamento grego – platonismo – nem tão pouco do pensamento cristão, estando presente em
diversas culturas antigas, dispersas ao longo das experiências religiosas332. A capacidade de
algumas encantarias viajarem em vários mundos é justificada por uma natureza “adaptável” ao
331 Dona Deuza, depoimento citado. Para efeito de informação, devo mencionar a existência de muitos trabalhos que classificam os deuses ou entidades das encantarias e/ou religiões afro brasileiras, de acordo com uma hierarquia, poder e influências. Um tipo de hierarquia na cosmologia religiosa brasileira. “Essas entidades contraem casamentos entre si – monogâmicos e poligâmicos – (poliândricos e poligínicos) ou simplesmente se ‘amigam’, dando origem a uma prole numerosa e estabelecendo um intrincado sistema de parentesco, com diversos ‘arranjos organizatórios’, onde é estabelecido um relacionamento formal ou informal entre as diversas entidades”. Para obter leitura mais sólida ler FIGUEIREDO, Napoleão. Todas as divindades se encontram nas “encantarias” de Belém. In: PELLEGRINI FILHO, Américo (org.). Antologia do Folclore Brasileiro. São Paulo: EDART, 1982, pp. 109-111. 332 ELIADE, Mircea. História das crenças e das idéias religiosas: da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis. Vol. 1. Tradução de Roberto Cordes de Lacerda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010, pp. 42-65.
159
mundo dos homens. Encantarias brabas333 não podem transitar entre os homens, a interpretação
é outra: a existência de tais encantarias causaria o desequilíbrio na natureza, comprometendo a
existência humana.
Estranhamente, o mesmo encantado que é poderoso demais para conviver com os
homens, ensina as suas doutrinas para as crianças raptadas, estas, depois de adultas, podem
retornar como rezadoras ou curadoras e utilizar o segredo aprendido para realizar benfeitorias aos
homens. Nesse sentido a capacidade que esses seres espirituais têm de se comunicar, criar
significados a desejos e ordenanças do cotidiano, desvela justamente os anseios, medos e
esperanças forjados na comunidade, onde todos buscam na relação no entre lugar do local e
social a cartografia de si - identidade cultural334.
Nesse período verificamos relatos de cinco crianças que foram levadas para o fundo e que
não apareceram, gerando preocupação em famílias com crianças de até sete anos. O neto do seu
João Carlos é o exemplo de uma tragédia evitada, mas alguns não tiveram a mesma felicidade,
como descreve a narradora:
Não tiro da cabeça o sumiço de uma moçinha que veio com os pais visitá uns parentes [coitada!]. Na época o rio Garrafão era um baita rio e todo visitante queria porque queria ir pra lá, era lugá animado de verdade. E assim foi, os parente foram tomar banho, mas a menina afoita correu na frente, e pulou logo – com três minuto o povo dela chegou... E não achou mais nada! Não encontraro corpo nenhum, veio até soldado de Castanhal e nada. Eu falo porque esse eu vi, era ano de setenta e três (1973). Quando ela pulou quem tava no barranco ouviu assoviu das bicha [fiiiti!] e assim foi335.
A narrativa é interrompida
com o aparecimento da filha da
entrevistada, questionando sobre o
horário da missa, dona Deuza esboçou ar de surpresa “já é pra ir”. A beleza das narrativas e a
capacidade de criar conexões entre uma fala e outra adormeceram a noção do tempo, havíamos
333 Expressão cunhada pela rezadeira para designar encantarias que habitavam o mundo encantado, sendo poderosas demais para viverem no mundo natural. Vale ressaltar que o termo “brabo” é muito utilizado entre os nordestinos e seus descendentes para designar valentia ou impetuosidade nos adágios populares em Capanema, internalizando, portanto, a influência nordestina no imaginário social. 334 VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. Tradução Maria Júlia Cottvasser. São Paulo: Brasiliense, 2004, pp. 198-202. 335 Dona Deuza, depoimento citado.
Fig. 40 – Rio Garrafão: “Lá tem muita gente presa com o povo do fundo”. Dona Deuza acredita que muitas árvores são sustentadas pelo encanto da mãe d água. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
160
avançado quase uma hora além do previsto! Agradeço pela atenção enquanto me conduz à porta
da frente com passos vagaroso e olhar distraído, observando a paisagem do fim de tarde.
De uma forma geral, as narrativas orais das rezadeiras expressam uma relação envolvente
e complexa no que tange ao processo de aceitação e negação do dom de comunicar-se com
“alma”, “incante”, “visagem”. Vamos conhecer a narrativa de dona Maria das Dores, uma mulher
que expressa com extrema tenacidade à resistência do dom da cura dado por “Deus e pelas
águas”. O ritual da cura tem em sua narrativa a função de mantê-la conectada no circuito da
experiência e sociabilidade.
2.2.3 - “O Rio das Cobras”
Os caçadores primitivos consideram que os animais são semelhantes aos homens, embora possuam poderes sobrenaturais; crêem que o homem pode transformar-se em animal e vice-versa; que as almas dos mortos podem penetrar nos animais, e, finalmente, que existem relações misteriosas entre uma pessoa e um animal determinado.
Mircea Eliade
História das crenças e das ideias religiosas
Depois de ter sido um homem deformado, Satã se apresentava a partir de então como uma potência inumana, um rei tirânico, mas também como um ser inapreensível, capaz de encarnar-se em um envoltório animal ou híbrido, apto a introduzir-se em todo e qualquer corpo vivo. Depois de ter-se transformado em fera, será que não lhe era possível ser capaz de invadir igualmente o homem?
Robert Muchembled
Uma História do Diabo
O corpo é só o casco, sabe? Essas pele e osso não é nada... A alma é que diz o que nós somo, é isso sim, assim como tem gente que o corpo é de gente, de homem. Mas a alma, aqui, o juízo ó é de bicho, de animal bruto [...] esses criminoso e gente ruim que passa na televisão, né? Assim é os animal, uns recebe as coisa encantada, deixa de agir como bicho e age como gente, como espríto, né? O nosso “eu” mesmo tá dentro de nós.
Maria das Dores
Durante a pesquisa de campo, muitos entrevistados sentiam-se arredios, pelo menos no
inicio das entrevistas, sempre que lhes batia à porta, pedia um pouco da atenção e explicava sobre
o projeto de pesquisa. Ficavam com uma postura de desconfiança, preocupados principalmente
com o que o pesquisador pudesse falar ou escrever sobre a sua vida. Esse temor é justificável, a
preocupação com a imagem, com a visão que a sociedade pode ter a seu respeito, na maioria das
vezes atingiu de forma negativa homens e mulheres que praticavam rezas, curas, benzeções e
partos.
161
A esse respeito lembro-me das primeiras investidas nos locais de pesquisa, quando
perguntava por rezadores e benzedores, as pessoas da localidade agiam, geralmente, com certo
desconforto. Durante duas ou três entrevistas, fiquei pensando em um termo que não pudesse
gerar um distanciamento entre eu e os entrevistados. Foi durante a entrevista com dona Maria das
Dores, que encontrei um termo capaz de auxiliar no contato com os sujeitos históricos
pesquisados.
No segundo dia de entrevista, cheguei a sua casa por volta das quatro horas da tarde, de
dentro do automóvel percebi que estava rezando em uma criança no pátio, a criança deveria ter
seis anos e estava acompanhada de uma adolescente, pensei em ligar a câmera e filmar, mas temi
pela reação da entrevistada. Cheguei ao portão, fiz sinal para entrar, ela cumprimentou com a
cabeça enquanto rezava, eu sentei, observei tudo com normalidade, a criança e a adolescente
também não esboçaram nenhum constrangimento. Quando terminou a reza, perguntei se poderia
gravar as suas rezas, a depoente disse que se não fosse para televisão, e se as pessoas (que
recebiam reza) deixassem, estaria tudo bem.
Não pude esconder a satisfação, dando um sorriso discreto, que não tardou a desfazer-se,
pelos seguidos “não” de efeitos desencorajados ao pesquisador. Com exceção de duas
permissões, às demais (ao todo atendeu nove) pude acompanhar apenas como ouvinte, o caso é
que as duas pessoas que permitiram gravar o ritual de cura, na verdade eram os pais de crianças
doentes, assim não pude deixar de perceber o grau de naturalidade e aceitabilidade quando a reza
era em criança (outras cinco pessoas eram adultos). Também percebi que, após terminar de rezar
em uma criança, a mãe desta agradeceu, dando-lhe uma nota de cinco reais e disse olhando para
mim: “essa ai seu menino, é a melhor rezadeira de criança daqui”. A rezadeira esboçou um ar de
satisfação; no momento não vi importância nessa fala, mas depois, durante as transcrições notei
que este era um termo local que soava como um elogio, algo virtuoso.
Mesmo tendo consciência que a dissertação tem como temática as experiências religiosas
de rezas, curas, partos, benzeções e/ou outras formas de xamanismo, a expressão “pessoas que
rezam em crianças”, tornava mais tênue a busca de informação junto a populares e constituía
uma forma de aproximação positiva. Quando fui, por exemplo, no bairro do Campinho,
perguntei em uma mercearia se eles conheciam alguma pessoa que rezava em criança, e o que
pude perceber foi à disposição das pessoas em informar, não apenas a residência destes, mas qual
o melhor ou mais forte na cura.
Na relação dialética entre linguagem e cultura, observamos que a composição de uma
memória coletiva e individual respira as mudanças e permanências subjacentes ao processo
162
identitário. Assim, o surgimento de termos, nomes e expressões socialmente elaboradas servem
de instrumentos de nomeação (na maioria das vezes, sempre voláteis) 336. A aceitabilidade do
termo “rezadores de criança” pode esconder a tentativa de eliminar o discurso demonizador,
remete ainda a todo um universo de doenças simples, doenças vistas como males “pacíficos”, o
que realmente quero indicar não é o significado “real” do termo, mas notar a aceitabilidade e a
harmonia constituída pela linguagem oral.
Pelos poucos dias em que estive acompanhando as narrativas de Maria das Dores, notei
que realmente o público que buscava suas rezas e remédios, eram crianças. Uma imagem que
marcou minha memória nesses dias foi presenciar algumas mães com seus filhos, no colo, no
carrinho, ou na cela de bicicletas e, no retorno da missa, uma ou outra parava para pedir uma
reza, benção (benzedura) ou mesmo um “remédio de folha”. De forma que a depoente afirmava
se identificar no atendimento de crianças. Apontou vários motivos que justificavam sua
preferência, entre eles considera que a reza em criança é reza “fraca”, não gerando cansaço e que
normalmente elas não precisavam receber massagem. Sintetizava sua ideia alegando, na verdade,
só gostar de rezar em crianças.
Perguntei se sempre atendeu muitas pessoas, a interlocutora ri e diz que não, que nos
últimos seis, sete anos, tem atendido poucas pessoas por dia, fala em riso prolongado que foi a
minha presença que começou a atrair mais pessoas, aumentando o seu trabalho, de forma
descontraída, comenta que há trinta anos, tinha trabalho de verdade.
Atendia gente todo dia, dia em noite, tem noites que janto e almoço fora do horário, às vezes nem isso faço. Faço um café com leite, pão e como [...] e era quase todo dia, mas [...] eu faço não cobro nada, a pessoa me dá de modo como a natureza der, não cobro nada mesmo. E faço remédio, se eu fizer remédio ai eu cobro sim. Remédio que digo é remédio caseiro, pra febre, espinhela caída, unha de gato, verônica, timbão, esses remédio pra inflamação, remédio pra izipa, faço remédio pra tudo que der no meu conhecimento337. Nunca veio alguém aqui na minha casa pra dizer assim: “D. Maria o seu remédio não me selviu!”. Eu trato de gente que vem de Belém! Eu já tratei de gente que vem do hospital. Pelo menos criança é principal... Adulto quando tem coisa pra beber, verdeira na perna (ferimento/dor). Muitas vêz eu faço a janta de noite já, na boca da noite (tarde da noite) almoço... Vixe! Já perdi foi as conta de comer três hora da tarde. Mas é a sina (destino) de cada um. Mas olhe eu nuca pisei num hospital, nada, nada. Tive meus filho tudo em casa, trato dos meu e trato dos outro, graças a Deus. Os que vierem com meu signo dou um jeito. O meu encante é assim pra vida toda, tem uma que é a dona do encante, diz que foi dado por Deus e ninguém tirava. E não deixasse ninguém reza nas minha costa, niguem rezasse nimim (em mim). Veja eu comecei a rezar sozinha, reza mesmo sozinha, porque é assim: Tem reza que Deus mesmo ensina pra todos (terço), Ave-Maria [...]. Agora tem reza que eu não posso
336 THOMSON, Alistair. Recompondo a Memória: questões sobre a relação entre História Oral e as memórias. In: Proj. História 15. São Paulo: EDUC, Abril/1997, p. 57. 337 Para uma visão abrangente sobre as doenças naturais e não-naturais (flechadas, mau-olhado, maldade dos espíritos) ver MAUÉS, 1990, Op. Cit; NOBRE, 2009, Op.Cit. pp. 116-134; FIGUEIREDO, 1970, Op. Cit., pp. 57-67.
163
ensinar pra ninguém, se eu quiser uma cura, umas promessa, com qualquer um santo, ai eu sou valida (ouvida), ainda agora mesmo passava por uma conseqüência muito grande e fiz promessa a Nossa Senhora de Nazaré. Sabe, eu tenho minha devoção com Deus, com os santos. Mas é assim [...] tem muita gente que vem aqui com quebrante, coisa d’água; mas tem uma reza que eu não gosto, eu digo (faço), mas não gosto de rezar esse pessoal que tem espritro (espírito), que tem isso, tem aquilo, não. Eu não faço batuque, eu não bebo cachaça, eu não faço essas coisa. Esse negócio de pajé não é comigo não, pode voltar e ir como quiser, quero só o que é meu338.
A forma como atendia aqueles que procuravam os seus “serviços” não era algo ordenado,
começava a receber pessoas no inicio da manhã e, muitas vezes, prosseguia até o inicio da noite,
reclamava até da irregularidade no horário de almoço, jantar, e também, das massagens que fazia,
causando dores no braço e nas articulações. Mesmo há trinta anos, a depoente alega nunca ter
cobrado para atender os “clientes”, a única coisa que afirma realmente cobrar é quando o doente
precisa de massagem por vários dias consecutivos e, principalmente – realçado pelo tom de voz–,
quando precisava fazer remédio; esclarece que o remédio que fazia é “remédio caseiro”, ervas
pisadas, chás, óleo de planta, que curavam todo tipo de doença339.
Legitima o poder de suas orações e ervas, argumentando que já havia curado pessoas de
outras cidades, que muitos doentes que vinham desenganados de hospital recuperaram a saúde ao
procurá-la. Notamos que o saber médico institucionalizado, apesar de desacreditado nos
discursos das depoentes, é utilizado como suporte e prestígio das práticas de cura não
institucionais, quer dizer, no diálogo permanente entre os saberes de cura, a existência e
historicidade de um, realça o significado discursivo de outro.
Maria das Dores sente orgulho de nunca ter ido a um hospital, de sempre recorrer aos
seus remédios – aponta para as plantas na lateral do pátio340 – inclusive no momento do parto,
quando todos os seus filhos nasceram em casa. A única coisa que não pode permitir é que rezem
nela. Quando recebeu o dom das águas, a dona do encante colocou essa condição. Questionei as
razões para a determinação do encantado (a dona do encante). Balançando a cabeça, levanta-se
para cuspir e diz em tom de reclamação: “o senhor pergunta, hein seu menino?”, mas
desconversando, explica logicamente que se já tem o dom do encante, porque que iria pedir ajuda
para outro? Não tendo sentido para tal. 338 Maria das Dores, depoimento citado. 339 No contexto das práticas de cura plantas e matos obedecem a certas especificidades “1- plantas que servem para enfeite, 1.1- plantas que servem para comer. 2- plantas de usança, 2.1- usadas para fazer casa, 2.2 usadas para fazer canoa, 2.3 usadas para fazer objetos. 3- plantas que servem para curar, 3.1 não ofensivas, 3.2 potencialmente ofensivas, 3.3 usadas devidamente curam 3.4 usadas indevidamente ofendem”. FIGUEIREDO, 1970, Op. Cit., pp. 13-15. 340 “os rezadores, que utilizam as plantas como elemento complementar exteriorizante de suas ‘rezas’ (orações ou preces), de origem católica, através de conhecimentos adquiridos por transmissão oral. Exemplo típico é a ‘benzição’ contra o quebranto com ramos de arruda, acompanhando as orações”. Idem, pp. 25-26.
164
A forma como essas mulheres rezam, benzem ou curam, depende do dom e da relação
que elas têm com os seus encantados, então existem restrições, regras, hábitos e peculiaridades
que mantêm a preservação da “força” de suas rezas. Por isso, algumas não podem rezar nos seus
familiares, outras não têm a permissão dos encantados para rezar para determinadas doenças,
como é o caso do cobreiro ou das flechas da mãe d’água preta, ou ainda, simplesmente não
podem permitir que ninguém reze no seu corpo “rezem nas suas costas”, conforme verificamos
em várias narrativas, aqui registradas.
Elemento constante no discurso das mulheres observadas é a forma como evitam tratar
de pessoas com espírito, ataques ou possessões, rejeitando qualquer associação ou comparação
com rituais mais nítidos da pajelança, afastando qualquer possibilidade de associação, enfatizando
que o dom não tem ligação com práticas de batuque, danças e consumo de cachaça341.
Não podemos deixar de mencionar que outras entrevistadas, buscaram negar qualquer
forma de aproximação, e isso pode ter origem na maneira como os rituais designados como
originários da pajelança foram incorporados no imaginário social, isto é, ao discurso
demonizador, sendo vulgarmente acompanhados de termos como “macumba”, “feitiçaria” e
outros. Apesar da pajelança não ser parte da temática do projeto de pesquisa aqui desenvolvido,
pude perceber que na cidade de Capanema, apenas uma rezadeira mencionou a existência de um
pajé vivo e outra de um que já morrera na década de oitenta.
No levantamento nos bairros e vilas vinculadas ao município, tive a mesma verificação.
Não dediquei tempo a essas interrogações, mas para efeito de reflexão, questiono a necessidade
de rejeição a alguns elementos da pajelança, levando em consideração que na cidade, não
encontrei de fato a comprovação da existência de um único pajé! Devemos atentar, no entanto
que muitas das entrevistadas, não nasceram em Capanema, e possivelmente viram ou tiveram
contato com sujeitos praticantes da pajelança nos seus locais de origem, quando não, ao menos
absorveram discursos preconcebidos a esse respeito na mentalidade social de suas comunidades.
Durante o momento em que acompanhei a entrevistada no ritual da cura, em especial nas
rezas e benzeções, notei não apenas a naturalidade de dona Maria das Dores durante o
atendimento, mas dos transeuntes na rua, o que me surpreendeu bastante, pois imaginava um
tom mais cerimonioso e ritualístico e o que vi foi uma senhora que entre uma reza/benzedura e
outra, olhava para o lado, via o movimento nas calçadas e conversava espontaneamente.
A depoente atende uma criança de três anos, acompanhada da mãe, pergunta o que ela
tem, pergunta o sexo, a mãe – que tinha vinte e dois anos – afirma que a criança passa a noite
341 Em muitos locais as entrevistadas viam o termo “pajelança” nitidamente reduzidos a essas práticas.
165
chorando reclamando sem nenhum motivo específico, “do nada”. A rezadeira olha pra mim e
exclama uma queixa sobre isso, afirmando que todos os dias, inúmeras crianças, jovens, homens,
mulheres batem na porta de sua casa, sofrendo sempre de muita de febre, vômito ou diarréia.
Interrompendo nosso diálogo, a mãe afirma que o remédio não deu jeito, dona Maria das
Dores levanta lentamente da cadeira procura umas peças de galho, quebra novamente na mão se
aproxima da criança e enquanto reza, fala da seguinte forma: “Eu não queria mais isso não, sabe?
Eu já tinha terminado, ai eu mandei fazer uma placa avisando que não rezava mais”, quase que
simultaneamente à queixa, faz uma oração de cura ininteligível, em alguns momentos escutava
menção a São Lázaro, passava os galhos na costa e na garganta da criança, esta no colo da
depoente, apenas observava com poucos movimentos, enquanto a sua mãe alternava o olhar
entre o movimento da rua e o filho, posteriormente dobra os galhos que realizou a reza e joga na
calçada342. Inicialmente pensei que a mãe poderia estar preocupada com o olhar das pessoas que
passavam, mas observando melhor, vi que os populares que circulavam não olhavam para o pátio
da casa, e quando olhavam não detinham a visão, passando ligeiramente sem esboçar sentimento
de surpresa ou curiosidade.
A rezadeira interrompe a reza, pergunta onde a mãe mora, de quem é filha, depois a reza
prossegue em silêncio; realiza movimentos em forma de cruz pelo corpo da criança, nenhuma
palavra audível. Após a reza afirma que não tem quebrante e aconselha a passar um chá, diz que
chá não faz mal, pergunta se conhece determinada planta – dizia o nome da planta, quase que
impronunciável - pergunta novamente se conhece mesmo, diz que se não conhecer que pergunte
para alguém mais velho da família ou vizinho, com a afirmativa, diz pra fazer um pisado da planta
com três pezinhos e pedaços de hortelã com pouca água. Ao mesmo tempo em que rezava e
explicava de que forma o chá deveria ser feito, também falava da enfermidade do marido da
forma milagrosa que escapara da morte tomando chá de Amapá. Mostrava marcas de doenças
passada e se queixava da idade. Falava pra mãe da criança do estado físico do marido magro na
rede e ainda também sobre coisas simples como o tempo, chuva, calor e dia da semana.
342 Algumas narrativas indicam o poder mágico das plantas, atraindo as doenças, absorvendo as forças negativas que atingiam o corpo humano. Daí a necessidade de após a reza, quebrar os galhos e lançá-los fora. Podemos notar a crença, desenvolvida em muitos lugares de que as plantas podem ser habitação dos encantados, justificando a forte influência dos cultos fitoterápicos. “Tabocal – Bambu Amarelo (balbusa vulgaria, var.villata), grande touceira de bambu, morada do Caboclo Flexeiro Gentil da Aruanda; Mangueira (Mangífera indica lin) onde sob seu tronco estão colocados os assentos de Oxossi; Jucá (Caesal pinea férrea Mart.) habitada pelo ‘Mestre’ Jucá; Dendê (Elaesis guianeensis Jacq.), morada do povo da Bahia, de todos os Orixás, exceto Oxalá, estando incluídos igualmente, uma categoria de Caboclos, como ‘Seu’ Boiadeiro, Zé Baiano, Chapéu de Couro, Corre-Campo e ‘Mestre’ Gererê; Jurema Preta (Minosa schemburgkii Benth), morada da Cabocla Jurema e de todos os seus capangueiros”. FIGUEIREDO, 1970, Op. Cit., p. 71.
166
Dois elementos chamaram a atenção, primeiro o fato de a rezadeira insistir se a mãe
realmente conheceria e saberia utilizar a planta para o chá da criança, denotando claramente a
perspectiva de que, no seu entendimento, a maioria dos jovens não teria posse do conhecimento
das plantas e remédios da floresta. Estes adquiridos pela transmissão do saber oral passado pelos
mais velhos e experientes aos mais novos, chegando a reforçar que se a mãe não soubesse,
poderia buscar esse conhecimento nos seus parentes ou conhecidos mais idosos.
O segundo aspecto percebido, não apenas nessa situação, mas na maioria dos rituais que
presenciei é o estabelecimento dos laços de sociabilidade, as pessoas que buscavam rezas e curas
não eram atendidas mecanicamente e depois dispensadas. O atendimento era composto de
perguntas sobre a vida da pessoa, a quantidade de filhos, o local de residência, perguntavam quem
eram os pais, caso conhecesse, sucedia uma série de perguntas e lembranças sobre os conhecidos.
Era uma forma, não apenas de manter os vínculos e as memórias dos amigos e conhecidos
distantes, mas também de constituir novos vínculos sociais, um meio de comunicação com a vida
social da cidade, pois mesmo sendo uma senhora idosa, que pouco sai de casa, recebe muitas
informações dos clientes e por isso alega não precisar sair de casa para saber o que acontece na
cidade.
A perspectiva a ser pensada seria observar uma relação de troca, não apenas a troca de
informação, vinculada à cidade, mas assim como a rezadeira estabelece um tratamento, uma
terapia para as enfermidades do seu paciente, este por sua vez, enquanto companhia estabelece
um diálogo que em alguns momentos de atenção, alivia muitas vezes o sofrimento do rezador ou
curador relativo à solidão. Há uma citação da depoente, onde afirma que o seu único trabalho é
ficar sentada no pátio, esperando os necessitados chegarem, não tendo nenhuma outra ocupação
ou atividade, com exceção de preparar o almoço. Talvez esse seja um dos motivos que tenha
levado dona Maria das Dores, a pensar em parar de rezar e não conseguir! Para além do medo de
ser levada pela dona do encante, ou de ser castigada pelo “acompanha” podemos pensar nestes
como justificadores de um medo e sofrimento ainda maior: o da solidão! Observemos como
essas narrativas, são construídas e significadas na lembrança do passado e (re) atualizadas em
sentidos e necessidades do tempo presente 343.
Às vezes escuto cada marmota (estórias extravagantes), sabe? Que passo de dia rindo pro vento, se gostasse de televisão inda ia, mas a valência é prosa com os outro. Tem dia que até massagê faço, num gosto, mas faço. Não tenho gosto em batê porta na cara
343 “fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se ainda a vida social. Esta varia em função da presença ou ausência da escrita e é objeto da atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado, produz diversos tipos de documento/monumento (...) trata-se da aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens e textos que falam de um passado, em suma, de certo modo de apropriação do tempo”. Cf. LE GOFF, 2003, Op. Cit., p. 419.
167
dos necessitado não. Aquele home que tá passando ali (aponta com o indicador). Ele tava com peito aberto, peito aberto e arca caída. Arca caída é essa medida que dá aqui que é pra dá aqui, ela vem pra dá bem aqui (extremidade entre umbigo e garganta), aí já tá sentindo dor na costa. Aí é pra dá bem aqui, já deu no queixo (explica fazendo a medição com fita métrica), quando ela dá bem aqui o senhor já tá com tórax seco escarrando sangue, já aconteceu dele chega lá em casa e mandar ele diretamente no posto de Saúde [inaudível], quando chegou em casa deitou sangue, dava muita criança aqui em casa [...] quando eu mando levar é imediatamente pro médico. E às vezes já leva a criança pro médico já fora de tempo, depois leva pro rezador já fora de tempo, né? Aí não pode atender344.
Os meios de comunicação da modernidade ficam em segundo plano diante da
possibilidade da interação na comunidade, a tal ponto que a troca de experiências faz com que a
prática de massagens – algo que a idade não mais lhe permitira – retorne ao cotidiano da cura.
Entre as rezadeiras de Capanema as rezas eram seguidas do exercício de partos, benzeduras e
massagens, assim, apenas duas entrevistadas não mencionavam a realização de “puxações”345.
Essas práticas eram atribuídas a mulheres mais jovens, com disposição física para tal, Dona Maria
das Dores aparenta ser uma exceção.
Todo bicho tem um dito (mensagem/significado), uma bom outros mal, aí os meus encanti já é dos rio, né? Da parte das cobra [...] tem veneno que mata e cura, ela come rato que passa doença, aí já vê os dois lado. Se o senhô vê as massagen minha, vai vê são arrochada que nem (aperto) cobra [...] “esfergo”, “alisso”, “puxo”, faço de tudo. Veio com as facilidade (dom/poderes) do povo d’água. Quando o encante me “apossuía” eu caía no chão e os vizinho diziô que ficava que nem cobra no chão: envergadinha! O chão ficava todo mascado [...] até a caatinga (fedor) parecia346.
A associação das encantarias com cobras é perceptível em várias narrativas, lembremos de
dona Ângela, que era protegida contra picada de cobra, de dona Deuza, que comparava o
cobreiro aos filhotes de “cobra do fundo”, ou dona Fátima, que tinha rezas específicas para
espantar mucuras e cobras dos galinheiros347.
No entanto, dona Maria das Dores é o caso mais surpreendente, pois associa diretamente
a dona do “incante” à aparição de cobras no leito dos rios, de forma que as características do
animal se confundem com a encantaria. Elabora uma cosmologia onde animais e plantas
reportam representações e símbolos ao epicentro das cosmogonias amazônicas348.
344 Maria das Dores, depoimento citado. 345 A relação entre benzeduras e massagens ou “puxações” pode ser verificada em outras localidades Amazônicas. Abordagem relevante e detalhada encontramos em NOBRE, 2009, Op. Cit., pp. 142-145. 346 Maria das Dores, depoimento citado. 347 Ver primeira parte da dissertação: “Identidades em Construção”. 348 Há inúmeros relatos mitológicos, narrativas poéticas e crônicas que mencionam o poder mágico e atribuições exóticas da serpente, algumas pertinentes ao seu poder de regeneração, sintetizando a vida e a morte, leitura interessante: “o poder da vida leva a serpente a se desfazer de sua pele, exatamente como a lua se desfaz da própria sombra. A serpente se desfaz da pele para renascer, assim como a luz se desfaz da sombra para renascer. São símbolos equivalentes. Ás vezes a serpente é apresentada como círculo, comendo a própria cauda. É uma imagem da vida. A vida se desfaz de uma geração após outra, para renascer. A serpente representa a energia e a consciência
168
A mobilidade, elasticidade e viscosidade anatômica da serpente remetem ao movimento
exercido nas massagens, mesclando as formas de massageio ao desempenho físico das cobras. Os
primeiros ataques da “dona do encante” traziam a performance xamânica das cobras: o momento
do transe era perpassado pelo jogo de espelhos, polarizados na relação homem (rezadeira) –
animal (cobra) – encantado; identidades deslizantes, camuflagens que se esgueiram, serpenteando
no teatro das religiosidades349.
A compreensão de mundo da entrevistada creditava à floresta, animais, rios, plantas e
elementos diversos da natureza, a possibilidade de tornarem-se avisos, ameaças e ação dos
encantados.
[...] Não, eu já benzi assim, às vezes na caça com cachorro vai benzer, né? [...] a pessoa pra entrar no mato tem que rezar [...] eu rezei já pra curupira, ele (tem) levar o cigarro, acender, abrir um ganchinho de pau e colocar, deixar aceso pra ir caçar, né? A noite que ele não levava o cachorro pega pêia (surra). É, e ele se arreia todo (queda, desfalecimento). Às vezes melhor também é passar o leite de raiz em cruz na testa do cachorro e ele passar também. A esse aí é um menino meu, que quando ia caçá, benzia ele e o cachorro: matou uns dois tatu na noite que pegou nele [...] mas curupira enganou ele, roubou tudo na panema (momento de distração, sonolência, fraqueza) .Enganou. Já caçei muito, tinha um cachorro, tinha um cachorrinho pequeno que ele (inaudível) no terreno que eu tinha, tinha um cipual350, era cheio de tatu, mas vigiado pelo cachorro351.
A benzedura em animais
seria uma forma de protegê-los da
ação dos encantados, evitando
desorientação, doenças e surtos de
violência. No entanto, não
descartamos as estratégias de
dominação e controle, bem como
diversas explicações para
comportamentos adversos dos
animais, utilizadas em
profundidade nas crenças e rituais
mágicos, sem dúvida, resultado de
imortais, engajadas na esfera do tempo, constantemente atirando fora a morte e renascendo”. Cf. CAMPBELL, 1990, Op. Cit., p. 47. 349 Danças e gestos performáticos relativos a animais e seres espirituais, são correntes em vários rituais de “possessão” ou “transe” xamânico. No contexto dos povoados amazônicos, interessa consultar PINTO, Benedita Celeste de Moraes. Nas Veredas da sobrevivência: memória, gênero e símbolos de poder feminino em povoados amazônicos. Belém: Paka-Tatu, 2004, pp. 207-209. 350 Cipoal. 1. Mato abundante de cipós tão enredados que dificultam o trânsito. 351 Maria das dores, depoimento citado.
Fig. 41 – Medidas e preparo para “puxação”. No primeiro plano o marido de Maria das Dores faz a medição para “Arcada caída”, ao fundo a rezadeira observa: nos braços da Sucuri. Fonte: foto da pesquisa, 2010
169
uma relação indissoluta com as demais espécies352.
Durante o período da realização das entrevistas, a maioria das pessoas que buscavam
massagens eram homens entre 17 e 40 anos, reclamando de excesso de atividade física ou
distensão muscular – “mau-jeito”. O registro de seis sessões de massagens eram acompanhados
de muita reclamação da rezadeira, alternando falas diversas e, principalmente, muitos conselhos
de “resguardo” alimentar. O consumo de alimentos remosos deveria ser evitado, diminuição de
consumo de bebidas alcoólicas, suspensão temporária de tabaco (cachimbo, cigarro de palha,
cigarro industrial) e “furunfagem”353.
Após medição do corpo, realizado frequentemente pelo marido, a reza iniciava primeiro
com a imposição de mãos na cabeça, posteriormente o abdômen era pressionado com as duas
mãos, em alguns casos, as massagens prosseguiam na costa com intensidade, tornando visível o
desconforto do “paciente”. Ervas, chás e pomadas eram usados em concordância do enfermo;
mesmo tendo conseguido a gravação de seis rezas, a permissão para divulgá-las foi restrita,
limitando-se a apenas uma:
Em nome do pai, do filho e do espírito santo; Em nome do pai, do filho e do espírito santo; Em nome do pai, do filho e do espírito santo; Livra esse homem da dor no peito, arca caída, peito aberto, dor na coluna, desvio na coluna e mãe-do-corpo354 Em nome do pai, do filho e do espírito santo; Pai nosso que estais nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia, Perdoais os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação mais livrai-nos do mal Livra-o da dor nas costas, dor na coluna, arca caída, do fogo selvagem355 Em nome do pai, do filho e do espírito santo356.
A oração cristã do Pai Nosso foi adaptada às necessidades e enfermidades da realidade
amazônica, inclui em seus versos expressões locais. Independente das preces e variações de
massagens, a benzedeira exige que os doentes cuspam com bastante força com o objetivo de
examinar a aparência da substância escarrada.
352 THOMAS, 2010, Op. Cit., pp. 219-229. 353 Termo utilizado para designar ato sexual. O esclarecimento sobre a expressão foi dado imediatamente pela rezadeira, sem qualquer indagação do pesquisador. 354 Maria das Dores define como doença associada a mulheres de vida sexual descontrolada, caracterizada pela formação de coagulo no umbigo, causando corrimento, “coração saindo pela boca” (palpitação), desânimo. 355Enfermidade caracterizada pelo avermelhamento da pele da costa e depois barriga, causando sensação de queimadura e desprendimento da epiderme. 356 Maria das Dores, depoimento citado.
170
Vimos que Dona Maria das Dores é um rezadeira que realiza “massagens” e manuseia
com frequencia a propriedade mágica de plantas, ervas numa clara demonstração de que sua
cosmovisão religiosa é representada com o entrelaçamento entre os encantados da água e terra.
Comungando do viver cosmológico de Maria das Dores, dona Esther narra sua experiência
espiritual interligada aos encantados da terra, sem abrir mão de perceber como a síntese desses
espaços – terra e água – coagulam densidades culturais.
2.3 - OS ENCANTADOS DA TERRA
O primeiro mundo Deus levou para o céu. Os que ficaram, os “encantados”, Sucuris, Jibóias – resolveram fazer um mundo para eles. Então fizeram o mundo do corpo da própria irmã – Unhã-mangaru. Se ela ficasse com a face voltada para o céu, nunca eles morreriam. Como ficou com a face para terra, ela nos está chamando sempre para sua companhia. Ela disse aos irmãos: - Vocês me fizeram terra: está bem. Eu vos chamarei, pois, sempre para mim.
Índios Maué
Descrevemos a temática introdutória da dissertação de “A viagem dos encantados”, pois
as formas de curas, rezas, benzeções e o discurso relativo às encantarias, tem origem nas
experiências vividas em épocas e lugares diferenciados, portanto uma viagem, um transcorrer...
Uma relação de pertencimento com o ambiente das experiências.
Convém lembrarmos que a vila de Capanema expandiu-se nas décadas de trinta e
quarenta, onde o número de imigrantes aumentou perceptivelmente graças a ativação da estrada
de ferro ligando Belém-Bragança.
Estamos convencidos que o processo migratório foi importante para elaboração de um
discurso religioso tão heterogêneo, mas não podemos ignorar ou supor que não existissem
discursos e práticas religiosas entre os moradores nativos. Os viajantes trouxeram na mala suas
saudades, esperanças e medos. Uma infinidade desses encantados mesclou-se com deuses e
saberes locais, produzindo “trocas” e “mediações” culturais357.
Lembro aqui o processo de fazer-se da cultura, não dicotomizando as encantarias e as
identidades, mas imaginando como a bagagem dessas mulheres-rezadeiras-viajantes, transitam
entre o imaginário espacial e as relações de sociabilidade, fazendo-se mulheres, tornando-se
rezadeiras.
Essas identidades não passaram a ser tecidas apenas nas mediações culturais do passado,
estão em um contínuo processo de transformação, pois mesmo em narrativas que apontam para
uma época mais distante, essa é um olhar sobre o passado, uma reformulação, uma reinvenção de
357 HALL, 2009, Op. Cit., pp. 123-135.
171
sentidos que sedimenta a existência, exaurindo a dinâmica das linguagens, sua geografia e
movimento358.
Neste tópico vamos acompanhar a narrativa de dona Esther, uma mulher que fez de seus
versos uma forma de expressar todos os seus sofrimentos e satisfações. Uma mulher que deixa
transparecer o sentimento de saudade em relação ao passado, não em especial há um tempo
cronológico, específico, mas ao passado verdadeiro, isto é, ao passado preservado pelos traços da
memória. Mantém uma relação profunda com as lembranças de sua terra natal – Ceará- desde o
percurso ao Estado do Pará até o seu retorno na década de setenta.
Dona Esther perdeu o marido ainda jovem, posteriormente sua única filha – adotiva-
também falece, passando a viver com a memória dessas perdas. Na década de oitenta tem um
sério problema de visão e fica cega.
Sobrevive com aposentadoria de um salário mínimo e depende da ajuda de uma auxiliar
doméstica e dos vizinhos para realizar suas necessidades básicas. Enquanto rezadeira lembra-se
das visões de almas e espíritos na infância. Acredita ter o dom desde criança, mas o sofrimento
era causado pelos encantados “geniosos”, forças associadas a “feitiços” e “serviço” com o
objetivo de tirar-lhe à vida. Têm na memória os dias de reza e cura, as benfeitorias que realizou
em casa, mas ressalta o seu estado de esquecimento atual, a forma como as pessoas esqueceram
tudo que fez. Especialmente depois que ficou cega, quando as rezas deixaram de curar os
enfermos.
No decorrer das narrativas, não fala detalhadamente sobre os encantados, mais se refere a
eles como “bichos da mata” ou “bichos da floresta”, atribuindo-lhes uma origem associada á
terra, ao ato de rastejar, de aparecerem através de animais e aves. Estradas, matas, ramais, vilas,
cidades e encruzilhadas são elementos constitutivos de identidades errantes, sujeitos enraizados
na experiência do ato de viajar.
O sofrimento de dona Esther no presente, e a forma como esta dialoga ao passado, pode
ser uma tentativa de “criar um passado com o qual pudessem conviver” 359, e mais, criar um
passado que alivie as dores e a falta de esperança em relação as suas experiências de vida atual.
358 “Não o acontecimento de falar, mas o que foi ‘dito’, onde compreendemos, pelo que foi ‘dito’ no falar, essa exteriorização intencional constitutiva do objeto do discurso graças ao qual o sagen – o dito – torna-se Aus-sage – a enunciação, o enunciado. Resumindo, o que escrevemos é o noema ‘pensamento’, ‘conteúdo’, ‘substancia’do falar. É o significado do acontecimento de falar, não o acontecimento como acontecimento”. GERRTZ, 1989, Op. Cit., p. 29. 359 Lembramos das experiências de ex-combatentes de guerra, ou pessoas que sobreviveram à experiências trágicas. Onde o passado tende a se minimizado ou maximizado, em oposição ou complementação ao tempo presente. Ver THOMSON. Proj. História 15, 1997, Op. Cit., p. 67.
172
2.3.1 - “No calcanhar... Os Encantados”
Eu fui pro Ceará tá com uns ano [...] mas num me acostumo mais não. É que nem passarinho preso quando se acostuma na gaiola. Um tempo desse eu fui sem enxergar, eu tive muito desgosto que eu não enxerguei a terra aonde nós morava e minha família. [...] Vixe! Tava muito mudado lá, já não era do jeito quando vi-me pra cá. Eu fui, mais eu tava com um homem, este homem (marido) foi [...] coitado, chorava todo dia pra vim se embora prá esse Pará. Hum! Ele chorava, eu dizia: “Meu velho num chore, quem podia tá chorando é eu que não enxergo e você não, você enxerga. Tá certo você não é conhecido aqui não, você enxerga mais acha ruim, mas ruim é eu que não enxergo”.
Dona Esther
No ano de 1987, vinte e nove anos após a vinda ao Pará, dona Esther tem a oportunidade
de voltar ao Ceará com o objetivo de rever os familiares. A expectativa alimentada por quase três
décadas de saudade foi exaurida pela percepção das mudanças. O Ceará deixado pela rezadeira
existia apenas na memória.
O retorno ao Ceará é lembrado pela visita aos familiares e tratamento médico: seus
irmãos e irmãs haviam se mobilizado com objetivo de custear uma cirurgia nos olhos. Na época
suportou as queixas do segundo marido, que insistia no retorno ao Pará.
Não, tenha fé em Deus que nós vamo se embora pro Pará di novo, nós vimo morar pra cá não! Ah! - Ele me chamava mãezinha: “Ê mãezinha nós não vamo mais não que cadê o dinheiro? Você num têm, eu não tenho, já gastô todo dinheiro, como é que nós vamo embora? O povo não dão prá nós ir se embora pra Belém, num querem que nós vai mais, e nós vamo morrer aqui”. Eu digo: “Não, pois eu não vou morrer aqui não, pois eu vou”. Como é que nós vamo mãezinha? Eu digo: “Indo... Que ele só vivia chorando, ele era padeiro, né? Ele era padeiro, vivia chorando, aí eu pra conformar ele tirei uma musica dele, pra dizer pra ele que tava cantando a musica”, eu fui, tirei pra ele e ele ficou alegre, se alegrou mais e disse: “Como é que você vai tirar essa musica mãezinha?” Eu digo: “Tirando, aí eu fui e cantei, né?”360
Muitas pessoas que passam pela experiência da migração criam um imaginário nostálgico
da terra natal, o que não significa que deliberadamente pretendem retornar para tal. As
construções imagéticas de locais, terras e pessoas são referências identitárias elaboradas no
cotidiano do migrante. Há inúmeros casos onde identidades migratórias vêem a terra de origem
como espaço estrangeiro, desfazendo os laços de pertencimento, outrora tão sólido na
memória361.
A função social do “romanço” ou “cantoria” é expressar a religiosidade, aplacar dores e
perdas da população de Pedregulho. A capacidade de criar “reza encarrilhada” é uma petição,
vinculada à forma de diversão nos arraiais no interior do Ceará. Dona Esther faz um “romanço”
para aliviar a saudade de seu Jorge. 360 Dona Esther, depoimento citado. 361 LACERDA, 2010, Op. Cit., pp. 296-300.
173
Era padeiro, trabalhava em padaria, trabalhava noite e dia com prazer e alegria. De manhã cedo saia despachando o pão prá toda população dentro daquele lugar. Aí saí e embarquei pro Ceará, quando eu cheguei levei o tempo a pensar. Arrependido pra querer voltar, mais não houve ocasião, fiquei no mesmo lugar. E este lugar se chama é Pedregulho, só tem é cascabui362 de tanto pelejar. Peguei a enxada, saí e fui capinar, o mosquito me atentava, com as cobra por lá me levei o tempo a fumar. Eu vou embora pro Pará que é meu lugar, que aqui eu num faço nada, vivo o tempo é imaginar. Chegando lá a coisa vai melhorar, continua a trabalhar dentro do meu Pará. Chegando lá a coisa vai melhorar, continua a trabalhar dentro do meu Pará363.
A identidade de seu Zé
(marido) é transfigurada na
narração da rezadeira, o Pará é
representado como lugar de
trabalho, fartura – ênfase no ofício
de padeiro – onde as pessoas vivem
clima de harmonia e felicidade. Por
outro lado, Pedregulho no Ceará
têm cascas de árvores, trabalho
pesado, animais incômodos e
peçonhentos.
A percepção de que o Pará é o local onde as coisas podem melhorar, continuam
prevalecendo em seus relatos. As rimas mesclam pessoas e lugares, ou seja, contêm temas e
personagens bíblicos associados ou contextualizados na esfera local. Seguindo a perspectiva de
dona Esther:
OH! Meu São João tenha de mim compaixão, quero ir pra minha casa e meu quarto de oração, fazer minhas penitência e dar louvor a São João. Jesus lhe batizou e deu toda consagração, foi batizou Jesus lá no rio de Jordão, quero ir pra minha casa meu senhor São João. Também lá tem o rio que é o Garrafão. Tomara que chegue o dia de nós viajar de num ter trabalho na nossa viagem não, com os poder de Jesus e meu senhor eu vou fazer massa é pro meu povão. Com os poder de Jesus e meu senhor São João364.
Com o objetivo de reavivar as esperanças de seu Zé, evoca lembranças relativas a casa
(posse/proteção), natureza (rio Garrafão) e meio social (povão). Representações articuladas na
narração coagulam-se no discurso identitário como elementos imbricados.
362 Quantidade de cascas de árvores secas ou mortas. 363 Dona Esther, depoimento citado. 364 Idem.
Fig. 42 – Residência de dona Esther. “Terra boa e chuva bonita é só no Pará mesmo, sabe?”. Fonte: Foto da pesquisa, 2010.
174
Interrompemos a entrevista por quase vinte minutos, Izabel prepara a vitamina de dona
Esther, põe um banco na frente da rede auxiliando em sua alimentação. Enquanto isso, falamos
de vários assuntos, Izabel participa também, comenta que trabalha na casa da entrevistada, mas
estuda de noite. Não deixo de expressar admiração com o tamanho do quintal, digo que sempre
gostei de casa com quintal extenso, com árvores, plantas.
Após ter se alimentado, fica quase que deitada na rede, tem uma postura mais relaxada e
pergunta em seguida o que mais eu gostaria de saber. Nesse instante receio de que esteja
incomodando, digo que se quiser descansar posso voltar outra hora; ela ri e diz que “fica na rede
o dia todo, já descansa demais”.
Eu, eu num rezei de criança, só depois de grande, depois que eu cheguei aqui no Pará, meu filho! Que no Ceará eu [...] eu sofria tanto mais eu num sabia o que era, né? Num sabia o que era não. Eu sentia as coisa tudinho, via tudo, puxava nos meu cabelo, puxava nos meus pés, agente acorda e num dorme. E eu dizia pro meu pai, eu dizia assim: “Papai! Chega me acuda que tá grossinho de alma”. E o papai: “Que alma menina? Num tô vendo nada não”. Aí eu digo: “Reze em mim pras alma ir simbora”. E rezava e era mesmo que nada. Desde pequenininha [...] Eu tinha, quando eu me intindin (entendi) já foi, nessas coisa, sabe?! Mais num sabia o que era não, sabe?! Lá ninguém ia falar nessas coisa e no Ceará ninguém ia falar, né?! Nessas coisa não, e eu tava sofrendo e vinha descobri aqui no Pará. Desde o navio quando nós vinha no navio que eu senti um remorso perigoso. Ai quando chego aqui no Pará foi descoberto o que era365.
Recorda que sofre desde criança com a perseguição das almas, que puxavam seus cabelos,
pés e sussurravam no ouvido, ficando visíveis durante várias horas. Narra para sua família, mas
estes não sabiam o que fazer. Mesmo sendo considerado um homem religioso, sempre presente
nas missas católicas, seu pai não tinha meios para acabar com a perturbação infligida pelas
almas366.
Durante os anos em que viveu no Ceará ninguém conseguiu descobrir a causa das
perturbações. Lembra que no interior era levada para receber rezas, banhos de capim e que no
máximo davam-lhe sossego por uma semana. Menciona ainda uma vez que foi levada por um tio
a Fortaleza, quando tinha 12 anos, com o objetivo de “espantar as almas com os tambor”, reitera
como seu pai resistiu em relação a essa viajem, somente após muita insistência do tio e de toda a
família foi que, a contra gosto, autorizou.
Seus parentes acreditavam que as suas visões eram do diabo, justifica a afirmação,
explicando a influência de dois padres que viviam na localidade. Igualmente, muitos evangélicos
aventavam as mesmas ideias.
365 Idem, Ibid. 366 Lembrar relatos e estudos sobre os sofrimentos relacionados às almas ou espíritos, remete a estudos desenvolvidos por MAUÉS, 1990, Op. Cit.; TRINDADE, 2007, Op. Cit.; CAVALCANTE, 2008, Op. Cit.
175
Até então não havia pensado que fossem demônios, mas indica que, estranhamente, as
visões aumentaram: “Parece que eles – padres/pastores – deixaram as coisa ruim mais forte”,
sentencia. A forma como muitas sociedades, em especial, as ditas ocidentais, representavam o
diabo e os seus agentes (demônios) oscila entre níveis de importância e atribuições, especialmente
na elaboração de uma mentalidade vinculada ao medo367. No caso do discurso religioso cristão à
ênfase na existência de um mundo controlado por Lúcifer, tem algumas vezes a intenção de fazer
com que as pessoas se aproximem de Deus, do seu Reino e da sua Igreja. Em outros casos, o
efeito é diverso, gerando um desgaste do discurso ameaçador – demonizador – levando muitas
pessoas a conviverem com esses temas no horizonte da aceitação ou normalidade368.
No relato da entrevistada, está claro a associação que alguns parentes faziam entre a
aproximação com as entidades diabólicas e as práticas religiosas existentes nos terreiros,
associadas à pajelança, tambor de Mina e candomblé.
Ao perpassar as narrativas da depoente suas idas “ao terreiro de orações”369, não lhe
causaram impacto negativo. Na verdade apenas queixava-se de ter passado sono algumas noites.
Dessas experiências não guardou muitos detalhes, tem na memória o fato de ter passado duas
noites sem dormir, no meio das danças e das fumaças do cigarro. Relativo às orações que faziam
em sua cabeça, ouvia referências a Exu e Oxóssi370, mas acrescenta que, nem os tambores, nem
esses caboclos, atenderam as preces do tio.
Dona Esther lembra que com o passar do tempo se acostumou a conviver com as almas,
vendo-as em todo lugar, o medo havia diminuído. Diferentemente de dona Fátima e dona
Ângela, Esther não teve interrupção de suas visões “mediúnicas”. Passou a ter uma vida comum,
367 As imagens construídas sobre o imaginário Luciferiano – acepções elitistas e populares - entre os séculos XIV-XVIII, na Europa ocidental. Cf. DELUMEAU, 1989, Op. Cit., pp. 248-254. Sobre as metamorfoses operadas nos temas relativos ao inferno, diabo e demônios, situados na geografia cultural da religiosidade Lusa, Ameríndia e Africana, verificamos na surpreendente obra de SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 177. 368 Devemos lembrar que a imagem do diabo, inicialmente esteve associada, a um estado de decadência, não necessariamente de oposição a Deus, visto no medievo, por exemplo, como um servo de Deus, instrumento para punir os maus e incrédulos. MUCHEMBLED, Robert. Uma história do diabo: séculos XII-XX. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001, pp. 17-49, 251-259. 369 Expressão usada por Dona Esther. 370 Não temos definição mais específica sobre o ritual frequentado pela entrevistada na cidade de Fortaleza. As mitologias africanas descrevem Exu, como o mensageiro, o elo de comunicação entre os oráculos e os homens, algumas vezes era mui privilegiado entre os Orixás, Oxóssi estava associado à caça e a pesca, podendo ser cultuado pela sua coragem e pela forma como desafiava as feiticeiras e defendia os homens. Referência riquíssima sobre o estudo dos orixás. Cf. PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 38-48, 110-114. Sobre os processos híbridos que esses deuses passaram no Brasil, podemos conferir ainda: SHAPANAM, Francelino. O Tambor de Mina de encantaria em São Paulo e suas relações com a Umbanda e o Candomblé. In: MAUÈS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia, 2008, Op. Cit., pp. 247-258. FIGUEIREDO, 1979, Op. Cit., pp. 72,84. Idem, 1982, pp. 109-110. PEREIRA, 2008, Op. Cit., pp. 62-70. PACHECO, 2004, Op. Cit., pp. 221-230.
176
trabalhando e contraindo posteriormente casamento. O aprendizado com ervas, banhos e chás
estavam relacionados ao cotidiano familiar.
A narrativa rememora o cotidiano da vila onde as mulheres mais velhas e experientes
eram chamadas de “sabidas da mata” e que depois que veio ao Pará continuava a fazer remédios
para os doentes. No entanto, a benzedeira parece não enfatizar a capacidade de fazer remédios,
nem tão pouco o “status” que desfrutava junto com sua mãe e irmãs vendo essas práticas com
naturalidade.
O que parece interessar à narradora são os relatos das visões das coisas “do lado de lá”,
prioriza como realmente passou a ter contato com as potências dos locais de encantaria. Tonaliza,
por exemplo, como vai desenvolver o seu dom mediante a ação dos “encanti” (encantados).
Os tempos de juventude são reconstituídos para explicar como as perturbações ficaram
fortes após o tratamento de uma mulher gestante. Na transcrição detalha o caminho do
tratamento e como suscitou a fúria das almas:
Descobriam porque eu fui tratar de uma munhé, uma vizinha minha que morava bem encostadinho da minha casa. Ela teve um neném morto, sabe? Morto. Aí ela ficou, deu logo febre nela, (barriga) cheia [...] chorava com dor nos peito e na barriga ia [...] lá se vendo com dor dentro dela. E aí eu disse: “Ô Jandira tu tá aí, e teu marido?” “Ele saiu para trabalhar”, respondi. Eu disse: “Eu tô aqui sem saber o que é que faça”. Aí eu ia mama nos peito dela, eu mamava nos peito para desgotar (esgotar) pra vê se ela sossegava. Aí mamava mais num engolia não. Botava aquelas gopada (golfadas) pra fora n’era? [...] sentia tanto. Aí eu fui fiz remédio para ela que ela ficou com uns negócio, uns negócio por dentro dela, né?! Que ela teve a menina ficou com os negócio tudo, mais a menina nasceu morta, ela tava largando coro (couro), né? Ficou toda coisa por dentro, era o que tava matando ela. Aí eu fui agarrar um bocado de caroço de algodão preto, gergilim e soquei no pilão bem socadinho. Aí peguei um bocado de guerga371 morta e hortelãzinha, fiz aquele chá e botei dentro daquela coisa que eu soquei no pilão. Quando acabá mexi bem, aí botei num pano, coei e tirei bem no leite e mexi. E dei pra ela beber e passei assim aquele bagaço na barriga dela. Aí num demorou, pegou e saiu pedaço de coro, aí saiu as imundiça tudinho de dentro podi, podi [...] é podre que num tem quem aguentasse, tudo podrezinho. Aí bem ficou boa graças a Deus. Ela mesmo diz: “Ô Ester que bença, fazê um remédio tão maravilhoso desse, eu fiquei boa”. Digo, Pois é372.
A narrativa cita o sofrimento de dona Jandira, uma vizinha que estava gestante e que no
parto descobriu que o seu filho havia nascido morto – segundo os médicos – algumas horas antes
do parto. O sofrimento da vizinha não estava restrito à dor do falecimento da criança, dona
Jandira estava com os seios inflamados, doloridos e tinha febre intensa. Dona Esther diariamente
mamava nos seios de sua vizinha como forma de evitar que o leite ficasse “pedrado” e a
inflamação agravasse. Também percebeu que a febre e a inflamação poderiam ser causadas por
resíduos do feto que permaneceram no útero.
371 Termo inaudível. 372 Dona Esther, depoimento citado.
177
Sementes de algodão preto, gergilim, guerga morta e hortelãzinha depois de pisadas e
fervidas, seriam a salvação de dona Jandira373. Após a cura imediata, o “coro” (couro) podre foi
expelido, fazendo com que a inflamação cessasse. Com o restabelecimento da saúde de dona
Jandira, esta passou à frequentar sua residência como forma de agradecimento, levando sempre
um “agrado”.
Mas para dona Esther as coisas não iam tão bem assim. No mesmo dia que Jandira ficou
saudável começou a ter um mal estar, na época, lembra que antes de vir para Capanema, passou
quase dois anos em Quatipuru e que lá seu marido plantava malva. Naqueles dias sentiu mal estar
a tarde toda, quando terminou a maioria dos serviços resolveu descansar. Para surpresa sua,
dormiu quase oito horas da noite – fato inusitado, na medida em que nega ter hábito de dormir
no horário em questão – um sono profundo, tão profundo que não teve tempo nem de colocar
as pernas pra dentro da rede, dormiu com os pés tocando o chão e sem ter feito oração alguma,
algo que considerava perigoso, pois era fim de tarde, bem próximo das seis horas374.
A rezadeira lembra que depois de ter acordado, não era mais a mesma, ao sair da rede
sente febre, calafrios e sensação de que algo está no seu corpo “algo correndo dentro de mim”.
Esse fato preocupa a narradora, pois até então sofria com as visões, vozes e arrepios das almas.
No entanto, o sentimento da incorporação tornaria essa época um dos momentos mais
traumáticos de sua vida. Diante desses eventos, acompanhemos a descrição de dona Esther:
No dia que ela terminou o resguarde que ela fez (não entendi) pra mim. Pagou com isso, né? Aí eu fiquei assim. Meu marido botava muito trabalhador prá cortar malva e tudo. E tinha duas muihé (mulheres) que me ajudava em casa pra fazer comida para os trabalhador. Quando foi as cinco hora, eu digo: “Eu num vou lavar essa louça não, me deu agora um sono, uma coisa tão ruim, agora eu vou é me deitar”. Aí meu marido disse assim: “te deita”. Não, não vou dormir não, só me deitá um pedaço. Já caí foi no sono. Aí dormi que minhas perna assim pro lado de fora, sem fazer coisa nenhuma, oração nenhuma [silêncio]que foi a minha derrota. Eu pensei que não ia dormir e agarrei no sono e ele me acordou. Quando eu me acordei umas hora, né? Já foi me vendo aquela febre tão medonha, que um negócio correndo por dentro de mim, e tudo aquilo [...] fazendo assim, aquelas coisa ruim. (diz, passando as mãos no abdômen e na costa) Eu digo: “Que é isso? Raimundo eu tô tão doente, uma coisa tão ruim, um negócio andando dentro de mim, umas coisa andando dentro de mim valame (valha-me) Deus”. Aí me deu assim, foi crescendo o medo, né? Daquilo [...] E foi, ficou tão perigoso, ficou, né? Gente falava lá, fazia assim: “Esther! Eu caia no chão, eu caia e quando eu dava conta de mim a casa tava cheinha de gente”, e ela chegava e vinha e eu dizia: Oh, Jandira! Me acode Jandira. Ela dizia assim: “Num é nada não mulher”. Eu não tava sabendo o que existia [...]375
373 “Gergelim: Seasmun indicum L. O óleo das sementes é usado para facilitar o parto. Hortelã: Mentha piperita L. A infusão das folhas e das sumidades floridas é usada contra cálculos biliares, icterícia, vômitos, cólicas uterinas, vermes. É usado pelas parturientes para aumentar a secreção de leite”. Ver a ação das ervas e chás com base nas propriedades mágicas dessas plantas em FIGUEIREDO, 1979, Op. Cit., p. 45. 374 Interessante a ação das encantarias em determinadas horas do dia, em especial de meio-dia e fim de tarde. Cf. MAUÈS, 1990, Op. Cit., pp. 118-119. 375 Dona Esther, depoimento citado.
178
Quando começa a descrever o seu estado de saúde, deita na rede, com as pernas para
fora, os braços abertos e a fisionomia de desespero, faz um esforço para reproduzir nos mínimos
detalhes a sua condição.
Não era apenas um esforço de reprodução literal, mas como se estivesse vivendo tudo
novamente. As lembranças das visões na infância misturam-se com as novas experiências,
estabelece uma relação de continuidade, para dar sentido ao que acontecia376.
O medo das almas atormentou o imaginário de dona Esther. Gradativamente as dores,
desmaios e a perda do controle do corpo fizeram-na experimentar um sentimento até então
desconhecido.
A moleza no corpo era seguida de desmaios. Não podia fazer os trabalhos domésticos e a
cada desmaio acordava com a casa cheia de pessoas. Parentes, amigos e curiosos olhavam e
comentavam o seu estado. A paciência em relação a conselhos e intromissões de pessoas que iam
à sua casa estava chegando ao fim: “alguns diziam que era epilepsia, outros que estava ficando
louca, uns atribuíam ao diabo/demônios, mas a maioria achava mesmo que era doença natural
(anemia, verme, falta de vitaminas)”.
Em outro momento da narrativa insere novamente a sua vizinha, dona Jandira, que
estando doente (Esther) sempre ia visitá-la. O comportamento estranho de Jandira passou a ser
questionado. O fato de não se comover com o seu sofrimento, aumentou a suspeita por parte da
rezadeira.
Certa vez ficou surpresa com a forma como disse para o seu marido (primeiro) –
Raimundo – que não precisava de remédio bastando que seu Raimundo pegasse um cipó verde e
desse uma surra que ficaria boa.
A história de dona Esther adquire novos contornos quando uma senhora que vivia na
cidade de Salinópolis, filha de pescadores vem passar uns dias em Quatipuru. Nessa época
trabalhava colhendo malva e assim conheceu o problema da narradora, que sem nunca tê-la visto
sentenciou o seu sofrimento como causado pelas encantarias da floresta.
Ela dizia (Jandira): “Não! Deixa só seu Raimundo agarrar; seu Raimundo agarra um cipó verde e dê uma surra nela, ela fica boazinha”. Ai ele disse assim: “Eu num sou doido não, criatura. Como é que tu gosta tanto da minha velha dizendo uma coisa dessa? É porque isso é nervoso [inaudível] nervoso”. E eu sofrendo, sofrendo, sofrendo até que um dia chegou uma mulher das praia que ajuda a tirar malva. E ela conhece essas coisa, né? Disse assim: “Ah! Seu Raimundo a sua mulher [...] a doença dela é encanto dos mato!” [...] Eu num acreditava, nem ele também. Ah! Que isso num é nada não, num é nada não. Isso é doença, é doença mesmo. “Num é dona menina, num é doença não. Seu
376 PACHECO, 2006, Op. Cit., pp. 81-83.
179
Raimundo num é não, num é doença não, isso é coisa que fizeram”, reafirma. “Leva ela para Capanema, lá tem um rezador muito bom” ai me trouxeram para Capanema. Eu comia, mais nem dormia, nem de noite, nem de dia. Que se eu fosse, quando eu fosse fechando os ôlho pra dormir, tapava [inaudível] eu pulava bem acolá, quando eu pulava bem aculá tava boazinha. Foi três meses enrabichada desse jeito, eu sofrendo, aí trouxeram aqui pra Capanema. E chegou aqui em Capanema e eu morrendo e vivendo, ainda tava duvidando. Será que tem um homem bom e num sei o que? Aí meu marido me trouxe essa mulher que disse aí quando chegou lá eu disse: “Vocês num vão dizer que eu tô doente não! A que vinha comigo era magrinha e descorada, ele vai pensá que é essa mulher”. Quando chegou ele, fui passando, será que ele tá tirando os leite da vaca ai no quintal? Aí ele foi, perguntou e o meu marido disse: “O senhor sabe onde é que mora o Benedito jardineiro?”. Ele disse: “Ta falando com ele”. É porque eu vim pra fala com o senhor. “Pois é! Pois chegue aí na porta que a mulher abre a porta pra vocês entrarem”, e nos sentêmo lá na sala, esperamo ele [...]377
Apesar da resistência do marido, não tinham mais o que fazer, ninguém na localidade
colocara fim ao sofrimento. A ida à Capanema poderia não resultar em nada, mas a convicção da
“mulher da praia” venceu o desânimo da rezadeira.
Durante realização da pesquisa de campo as rezadeiras construíram relações não apenas
entre a comunidade, mas laços de solidariedade, vínculos afetivos, confrontos e mediações entre
curadores de outras localidades. Os trânsitos culturais circunscrevem-se no vai e vêm entre
aldeias, caminhos e cruzamentos. Dona Fátima, Ângela, Maria das Dores, Deuza e Esther
compõe um quadro geral de maturação do “dom” de rezar associado à ajuda, causa ou
provocação de pessoas acionadas pela ação das encantarias. “Mestres”, “guias” e “domadores”
são algumas expressões utilizadas pelos populares para designar graus e níveis de ação das
pessoas sobre os encantados locais.
Sob a tutela das narrativas orais, dois sentimentos aqui se confundem: primeiro é a busca
da cura, a narradora não esconde o desejo de ficar boa se livrando das almas que lhe afligiam
tormentos. Outro aspecto é a dúvida: não tinha confiança nas rezas, tambores, orações e formas
de exorcismo, sua experiência em busca da cura nas várias crenças injetou-lhe doses poderosas de
ceticismo.
Olhe eu fui muito humilhada, o povo se reunia não era prá acudi não, sabe? Falavô só de mangofa378 de mim [...] não tinha coragê nem de saí de casa. Às veze eu pedia prá Deus me levá logo. Sabe o que é você senti que tão gostando?! Tem muita gente com ruindade nessa vida meu filho379.
A performance da narradora transparece uma sensação de raiva e revolta: enquanto fala,
aperta as mãos, a voz ecoa com a boca semi-aberta, dentes serrados, braços colados no corpo. As
377 Dona Esther, depoimento citado. 378 Ato de rir, humilhar, desprezar. 379 Dona Esther, depoimento citado.
180
possessões eram presenciadas como um espetáculo de humilhação na comunidade; o ritual de
formação xamânica é interpretado pela rezadeira como um ato de execração pública.
O cenário da cura era a casa do senhor Benedito Jardineiro, uma residência pequena de
madeira com um quintal espaçoso, com criação de vacas, galinhas, patos e muitas plantas. Os
poderes do velho rezador eram reconhecidos pela população, Benedito não era Jardineiro de
verdade, esse nome era associado ao poder exercido sobre o mundo natural. Os testemunhos
orais confirmam a fama do rezador como “guia” das encantarias que viviam nas plantas e nas
matas380. A narradora enfatiza a dominação sobre matintas e curupiras na região.
Aí quando ele chegou e disse: “Bom dia! Bom dia”. Ai meu marido disse: “Eu trouxe aqui uma mulher para o senhor, só olhá! Vê o que é que tá acontecendo com essa mulher que tá aí”. Ele olhou, eu pensei dele olhá pra menina que vinha comigo... Não! Ele olhou logo pra mim e achou graça e disse: “É verdade, o senhor trouxe uma mulher, o senhor trouxe só o espríto. Essa sua mulher só tava o espríto, ela tá acabada de tanta judiação”. E [eu] disse: Será possível? Então ele falou: “É! Eu vou ali dentro do [inaudível] depois eu chamo pra dá uma olhada nela, pra fazer uma oração”, ajeitou lá, altarzinho dele era bem pequenininho. Aí ele mandou eu me sentar e botou a mão na minha cabeça, aí dibulhou tudinho que nem milho e feijão, né? Disse: “A senhora se lembra duma mulher que a senhora foi fazer uma caridade pra ela, ainda mamou até nos peito dela, fez remédio pra ficar boa? No dia que ela terminou o resguardo ela lhe pegou, deu uma soneira na senhora e a senhora foi se deitar, num se lembrou de fazer oração nenhuma e então com os pés no chão eles entraram e lhe pegou! Quando a senhora se acordou já tava enjoada. Foi ou num foi?” Eu digo: “Quem foi que disse pro senhor? Porque eu num lhe conhecia, ninguém da banda de lá lhe conhecia”. Ele disse: “Não, eu que sei”. Eu digo: “Foi. E foi aquela mulher? Foi?” E só ensinou a mim uns remédio, a boca da noite eu vou fazer uma cura. E a boca da noite ele chamou lá pra dentro, chamou a mulher dele, um cunhado que tinha. O marido disse: “Senta ela ai nessa cadeira, tira o vestido dela, deixa ela só de camisão e bota assim uma toalha no ombro[inaudível]”. Eu me sentei e ele por trás, ai meu marido segurando e o outro rapaz. Aí ele passou num sei o quê nas minha cadeira, eu senti assim aquele arder. Aí ele disse assim: “O que, que quer que faça seu menino desse negócio aqui? É, é voltar pra lá, o que é que é para fazer?”. Aí meu marido disse assim: “É pra voltar e lascar, quem fez”. Eu disse: “Não faço isso!” Eu tive, mais num jogo nada de mal pra ninguém. É o senhor leva lá pro quintal, leva álcool e lasca fogo. Eu digo: “Mais o que é isso? Que eles num deixaram eu vê, olhá não”. Ele dixe que aqui no chão isso era marmota da matinta e pipira (curupira). Elas que tinho força de mexe com os bicho da mata e botá banalheira no corpo dos outro. Pode vê! Se têm numa casa muito bicho seboso – rato, imbuá, sapo, cobra – pode ir atrás que é elas (matinta) que solto no rumo das moradia381.
Dona Esther tinha certeza de que seu Benedito seria confundido, fez questão de sentar o
mais próximo possível de sua amiga, este não se fez de rogado, pediu que entrassem,
cumprimentou a todos e deu o primeiro sinal de que poderia acabar com os seus problemas:
dirigindo-se diretamente a ela, nem sequer olhando para sua amiga, pediu que se afastasse um
380 Há todo um sistema simbólico que permite o estabelecimento de relações entre a comunidade e o mundo natural. “A integração no sistema de cura sem possessão ou com possessões, feitos pelos especialistas ou conhecedores através de plantas, para curar o sofrimento produzido pelas doenças naturais”, é um exemplo desse campo simbólico de crenças. Para maiores aprofundamentos ver FIGUEIREDO, 1979, Op. Cit., p. 86-87 381 Dona Esther, depoimento citado.
181
pouco, para que pudesse observá-la melhor. Descreve o sofrimento de dona Esther como uma
mulher sem corpo, uma pessoa que estava só com o espírito, pois o corpo estava quase destruído
pelos maus tratos infligidos.
A narradora descreve o acontecido como se ele estivesse “dibulhando” (debulhando) toda
a sua vida, isto é, não apenas descrevendo, mas explicando. O ato de debulhar tem um significado
bastante peculiar no vocabulário das pessoas com experiência nas práticas agrícolas ou rurais.
Para além de ter o sentido de extrair grãos ou sementes, devemos atentar para o contexto social
da palavra: na região Bragantina, nas áreas localizadas entre Quatipuru e Capanema, debulhava-se
milho e feijão, isto é, retirava o sabugo do milho, ocorrendo um desvelamento, desocultando o
alimento para ter certeza de sua adequação ao consumo. No caso do feijão, precisa retirá-lo da
vagem382, onde pode ser visto detalhadamente, semente por semente.
Estamos falando de um processo de separação e adequação para o consumo. Mas dona
Esther também se refere ao rezador como aquele que debulha, que separa, descreve, escrutina a
confusão, obscuridade e angústia que entremeava sua vida. Recorremos nesse caso à flexibilidade
do jogo da identidade, pois envolvem não apenas discursos escolhidos direta ou indiretamente,
mas a própria condição humana, na perspectiva de um intérprete.
No momento do tempo passado, há uma relação entre seu Benedito, o intérprete,
decifrador, e concomitantemente dona Esther, que interpretava as interpretações enunciadas por
ele. Atualmente ela (re) constrói o episódio traduzindo não apenas as palavras, mas a relação
entre ela e o rezador naquele instante. E finalmente, a forma e o tempo como sua memória e
narrativa chegam até mim produzem outros significados.
Se estivéssemos na empresa de uma verdade objetiva ou na busca de uma “verdade
arqueológica”, “originária”, estaríamos, nesse sentido, tal qual o feijão e o milho antes de ser
debulhados. Não é o caso, mas desvelemos o sentido desse ato de significação.
A reflexão sobre a condição do homem enquanto leitor do mundo envolve, obviamente,
a consciência não apenas do existir, mas das relações de contingência presentes na temporalidade-
espacialidade. Para o filósofo Hans-Georg Gadamer, a forma como o tempo e o passado se
apresenta ao homem moderno, muda drasticamente em relação a outras épocas. A consciência
histórica vivida modernamente percebe a fugacidade do presente e da relativização dos valores e
visões de mundo383.
382 Fruto ou gérmen seco, e um tanto lenhoso, que se abre de ambos os lados em duas valvas separadas. 383 “A consciência que hoje temos da história difere fundamentalmente do modo pelo qual anteriormente o passado se apresentava a um povo ou uma época. Entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno de ter plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda opinião”. GADAMER, Hans-Georg,
182
Para surpresa da entrevistada, a maior revelação do rezador viria a seguir: dona Jandira era
a responsável pelo seu estado de saúde! A mulher havia lançado uma “soneira” em dona Esther,
ou seja, havia feito um encanto do mato384.
Seu Benedito enfatiza o descuido da entrevistada, que no final da tarde foi dormir sem
fazer oração e ainda por cima ficou com os pés pra fora da rede, tocando no chão. Os “bichos da
terra” arrastam-se pelo quintal e entram no seu corpo385.
A retirada dos encantados exige massagem e reza, descreve o aspecto de surpresa do
marido, alternando olhar entre o rosto e a costa. Depois de alguns segundos escuta a voz do
rezador falando com seu marido, queria saber se manda o encanto embora ou devolve para quem
o enviou. Dona Esther intervém e pede para não ver o mal de ninguém. Dito isso, seu Benedito
recomenda que seu Raimundo leve para o quintal e toque fogo com álcool.
Pergunto se realmente não viu nada: a rezadeira hesita um pouco, tenta controlar o
ímpeto, põe uma das mãos na cabeça, esboça certa desconfiança olhando para o lado, mas no fim
menciona um animal com aparência de um sapo, por isso a sensação de que algo se movia pelo
corpo, completa o raciocínio.
A narradora reforça a capacidade de Benedito Jardineiro para livrá-la, pois os bichos do
mato tinham medo dele, assim a fama de que tudo que vinha da terra, como árvores, plantas,
animais e pedras eram controlados pelo rezador se perpetuaria no imaginário de muitos citadinos.
Vejamos como descreve:
Disse que tinha sido um sapo que a sem vergonha da mulher tinha botado em mim, ERA BICHO DE TERRA! Mais ele tirou graças a Deus, ele tirou. Disse: “Pronto! A doença da mulher tá acabado, tem mais doença nenhuma”. Eu num volto pra cima de quem botou não. Ele disse: “Quando a senhora chegar lá, a senhora vai saber quem é. Ela vai perguntar o que, aonde foi que a senhora andou. A senhora diga assim: Eu fui num doutor. O que eles disseram que era? Era figo! [fígado] Passou um remédio pra tomar para fígado, atacada do fígado e num sei o quê. Porque ela vai dize assim: Num procure pajé! Curador. Porque se tiver algum feitiço e tirarem e jogarem pra cima de quem fez você vai pro inferno”. Ai meu marido disse assim: “Quem vai pro inferno é quem fez, fez isso pra minha mulher quem vai pro inferno, quem fez”. Não, não faça isso não, senão você vai pro inferno. Aí, mais graças a Deus ele num mandou, num fez não [...] eles tiraram mais não jogaram pra ninguém não, ele tocava fogo. Ai bem meu irmãozinho, fiquei boa. Ai ele disse assim: “Agora a senhora [...] e outra coisa que a senhora sofreu muito também, porque a senhora num dormia nem de dia, nem de noite, quando era meio dia a senhora dizia assim: Meu velho eu vou me deitar prá vê se eu durmo. Ai a senhora ia pro quarto se deitar, ai tinha uma travessa [olha parece que ele andava lá em casa]. Tinha uma travessa assim, era cheinho de passarinho cantando em cima da senhora”.
1900-2002. O problema da consciência histórica. Org. Pierre Fruchon. Tradução de Paulo César Duque Estrada. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV 2003, p. 16. 384 Sobre encantos e feitiços que geram doenças. MAUÈS, 1990, Op. Cit., pp. 112-113. 385 Em conversa posterior, a entrevistada esclarece que existem os “encantados da terra”, ou seja, aqueles que vivem nas plantas, animais, ou que vivem “intocados na terra, dibaixo de pau, pedra e buraco”. Para ela, alguns desses encantados eram bons, mas estes que entraram no seu corpo causavam apenas sofrimento.
183
Eu digo: “Tinha um bocado de passarinho inté um monte de gato e pinto olhando pra dentro da minha rede e eu deitada assim. Ai a mim me levantava pra pegar uma sola e saia jogando prá passarinho prá todo canto e tudo”. Ele disse assim: “Pois é! Era o seu povo que tava lhe ajudando é porque a senhora quando caia eles ficavam com disgosto deles tarem lhe defendendo cada vez mais e a senhora pensava que era passarinho mesmo e lascava o pau pra riba. E num era passarinho não, era seu povo que quando você nasceu já com ele”. Eu digo: “Pois tire seu bichinho, tire tudinho, eu não quero nenhum não”. Ele disse assim: “Num posso, se você num veio foi pra escapar? Se eu tirar você morre na hora”. Tirou não386.
A retirada do encanto aconteceu definitivamente, nunca mais dona Esther sofreria com as
incorporações, o rezador reiterou que não “botaria em cima de quem fez”, mas disse que ela teria
certeza de que tinha sido sua vizinha, por que assim que chegasse de volta, ela iria perguntar por
onde esteve e o que fazia. Pediu a ela que falasse que tinha ido se tratar com um “doutor”, e que
o seu problema era de fígado e que já estava com saúde.
Nesse trecho, o argumento de que tinha ido ao médico pode soar como uma desculpa
para envergonhar dona Jandira ainda mais! Porém, há a possibilidade de pensarmos que da parte
de seu Benedito há o interesse real de se criar analogia entre ele e o médico, ou de pelo menos
que os populares incorporem no seu imaginário a associação simbólica entre o saber médico e o
saber da floresta. Ao mesmo tempo, pede para que não mencione ter ido a um pajé ou curador,
revela que apesar de não querer ser conhecido como tal (pajé/curador), sabe que a maioria das
pessoas na localidade o conhecem dessa forma.
Dada a complexa teia das
estratégias de poder e cultura,
constatamos como o processo de
construção da credibilidade e
autoridade é forjada em
experiências amplamente diversa387.
O diálogo continua com a previsão
de que dona Jandira irá pedir que
(Esther) não procure um Pajé ou
Curador! Pois se for ter com eles e
mandar o feitiço de volta para
quem fez, poderá ser punida e ir
para o inferno. A entrevistada diz que realmente tudo isso aconteceu e que ao ouvir dona Jandira,
dias depois, parecia que estava ouvindo tudo que o rezador havia dito. 386 Dona Esther, depoimento citado. 387 CERTEAU, 1995, Op. Cit., pp. 23-24.
Fig. 43 – Quintal de dona Esther. “É porque ninguém vê, eles se arrasto pela mata que quase ninguém vê”. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
184
A última recomendação do rezador e a mais chocante para dona Esther foi quando soube
que sua reza havia retirado o feitiço dos “bichos do mato”, mas não daqueles encantados que a
acompanhavam desde o nascimento. Em outras palavras teria que continuar convivendo com as
aparições e premonições até o fim de sua vida. Ao negar o auxílio dos seus encantados – “seu
povo”, possibilita o reforço do feitiço.
As lembranças reescrevem a forma como ficava deitada na rede a observar passarinhos,
gatos, galinhas e pintos ao redor e a maneira como tangia os animais com sandálias e cabo de
vassoura. Para seu Benedito estes eram os seus protetores que, ao serem expulsos, sentiam-se
ofendidos e não lutavam para protegê-la.
A interlocutora pede que Benedito tire todos os encantados, ele nega, explicando que se
retirasse, não iria suportar; acrescenta que ainda não era a hora e que tem uma missão dada por
eles (os encantados) a cumprir. Vejamos alguns aspectos da linguagem como condição do signo
identitário:
“Tiro o mal! O mal que veio acompanhando você eu tiro tudinho, mais que veio de nascimento, a parte de Deus eu deixo, não tiro não”. Aí veio, aí ele disse assim: “E você ainda vai rezar em muita gente, curar muita gente”. Eu digo: “Eu num vou não, eu num curo ninguém não, que eu nunca curei ninguém”. “E cuma (como) a senhora quando era pequenininha, bem novinha, menina só ia na mão, quando chegava uma pessoa com a ferida na perna, era em cima rezando? Que seu pai até raiar (repreender), minha filha deixe isso ai” [...] Eu digo: Eu me lembro. “Pois é, desde esse tempo a senhora já tinha e a senhora vai rezar em muita gente ainda”. Vou não, eu num quero não, de jeito nenhum, e outra que eu num sei rezar não, [seu Benedito responde]: “Mais eles vão lhe ensinar tudinho... Me ensinaram”. Tá certo. Ai eu comecei rezar em criança, né? Rezando em criança, em criança, ai de criança quando foi dois ano, três que eu tava rezando em criança, ai fui pra rua e passei reza em gente grande. Ai eu rezava, fazia oração, né?388
A entrevistada não descobre somente a cura para os males do corpo. Adquire a
consciência do dom pelo mistério da palavra mágica do xamã. Os encantados que a
acompanhavam desde criança, eram da parte de Deus, e estavam lá com o objetivo de ajudá-la
nas rezas, remédios e “adivinhas”. Embora recusasse veementemente, o rezador insiste que a
única forma de ter uma vida saudável seria agradando os seus protetores. Notemos que as
mesmas almas, encantados ou protetores que eram bons e vinham da parte de Deus, poderiam se
irritar, abandonar ou mesmo causar-lhe a morte.
Seu Benedito a fez lembrar muitos acontecimentos que havia esquecido na infância, como
por exemplo, às vezes em que chegava pessoas doentes na casa de seu pai, e como ela pegava
galhos no quintal e rezava durante horas na perna ou em qualquer parte afetada, dando a
388 Dona Esther, depoimento citado.
185
entender que sempre possuíra o dom, mas que na época ainda não estava preparada. Os dias de
dúvida haviam acabado!
Mesmo sem saber explicar como aprendeu tantas rezas e remédios começou a rezar em
crianças e somente dois ou três anos depois, passou a rezar em pessoas adultas. Insere nas
narrativas a facilidade de rezar em crianças. Pergunto quais as doenças que mais rezava em
crianças:
Mais de doença era doença intestinal, animia (anemia) falta de sustância, na maioria coisa natural. Às vezes eu rezava, podia ser quebrante ou vento caído eu ia e rezava se fosse vento caído eu sabia. Se fosse quebrante também. Pois o vento caído é você ter um meninozinho ai chega uma pessoa [...] chama ele se espanta! Ou se não ele caí da sua mão no chão ou da cama, ai ele fica doente, dá desmancho, é fazendo cocô verde. Pois isso ai é que é o tal de vento caído. Ai pode butá o bichin (criança) assim no seu braço, assim com os peitinho pra cima assim que é fundo. E o que num dá vento caído faz aquele calanguinho aqui – diz tocando no abdômen - Pois é389.
As crianças sofriam geralmente de doenças intestinais, fraqueza e anemia, males
considerados naturais, bastando fazer um chá ou fazer um mascado. Mas havia também algumas
doenças que se originavam dos “bichos encantados”, como o quebranto e o vento caído, o
primeiro era “uma força ruim que os bicho ou os homem jogo nos anjinho (crianças)”. O vento
caído seria resultado um susto ou uma queda sofrida pela criança, às vezes causado pelo homens,
às vezes pelas aparições da mata.
Não há possibilidade de escapar dos bichos da floresta, o contato dos homens com a
natureza através da terra e das águas é condição da “sina” humana. Ressalta que embora nem
todos vejam, as encantarias estão em vários lugares:
Porque existe coisas das águas e o poço também têm, porque ali tem a senhora já de idade, né? Antão existe coisa nas água e na terra, existe coisa que prejudica as pessoa, saúde da vida da pessoa[...] vejo gente prejudicado, espírita (espírito) sair das águas, das águas, flechado das água. Então a criança olhar pra dentro da água pra mijar pra dentro da água, as vezes acha graça sozinha, ela ta vendo alguma coisa. Essa – refere-se ao caso de uma antiga conhecida – é uma senhora de idade, já tá com 60 anos, ela não podia chegar perto do poço e lá perto do poço começava olhar pra dentro da água e conversar e achar graça, aí moça perguntar: “Mamãe o que a senhora ta vendo?”, “Nada não, num é nada não”. Só vivia doente, aí nós benzemo390 ela, pronto tá boazinha [...] ou então fala com bicho, com passarinho, gato, hum... Por (pode) ir atrás que acha as flecha seca391.
De acordo com a narrativa, dona Esther acredita que os elementos do mundo físico ou
natural guardam a morada dos encantados, assim, justifica o poder de interferência destes no
mundo dos homens. No desenvolvimento da pesquisa de campo, notei em suas narrativas, que
389 Dona Esther, depoimento citado. 390 Como foi dito, no discurso das entrevistadas, rezas, benzeduras e remédios de plantas, não são se distinguem no trato diário. São termos usados com recorrência nas suas memórias. 391 Dona Esther, depoimento citado.
186
tanto os encantados como as pessoas, fundamentam sua existência nas relações materiais,
simbólicas e imaginárias com suas experiências relativas ao tempo e natureza (Ar, Água e Terra).
Lembremos dos encantados descritos por Dona Fátima, que vivem entre o céu e a terra, viajavam
a “outros mundos” e esta ia ter com eles; ou então o relato de dona Deuza que era orientada por
um “acompanha”, mandado pela dona do encanto das águas.
Na maioria dos casos, quebrantos, vento caído, flechadas da água e terra são em crianças.
A ida para rios, poços e florestas expunha os populares à influência dos locais encantados.
As adivinhações que fazia visavam o bem dos outros e que só parou de adivinhar depois
que se desfez do segredo. Pergunto se pode falar sobre o segredo... Responde de forma
descontraída que sim, que esse era um segredo quando rezava “coisa do incante”, mas que hoje
em dia não tem mais importância:
Pois é porque às vezes sabe é assim, fazia oração em muita gente, rezava, quando terminava eu dizia assim: “Olha ta acontecendo assim, assim com o senhor, com a senhora, isso assim, assim com fulano”. “Ai! Eu não acredito não”diziam. [...] “Não! Eu não acredito não dona Ester”. Eu digo: “Ai não? Você num acredita no que eu to dizendo?”, “não! To acreditando não, que eu acho tão difícil”. Pois olhe! Olhe nessa garrafa d’água que ai no altarzinho, repare dentro dela o que é que ta passando. Ai ele ou ela olhava e dizia assim: “Valame Deus! Pois olha, pois é verdade mesmo olha! Uma tá falando fazendo isso, aquilo, aquilo”. Era que passava na garrafa. Que a garrafa tinha água, ela era água do mar, do oceano. Eu butava lá no altar porque qualquer coisinha que o povo num acreditasse eu amostrava a garrafa, repara ai dentro o que tá passando. Coisa dada pela encantada do mar salgado [...] fiz oferta pra ela na virada de um ano aí passado e achei ela (garrafa) 392.
Enfatiza ainda que todas as suas rezas, benzeduras ou remédios eram feitos de forma
consciente, demonstra total rejeição a todo tipo de cura ou reza feita inconscientemente,
argumenta que só pode ter certeza de que está fazendo o bem diante de Deus e dos homens se
agir com a consciência.
Vem gente grande, vem é pra saber coma é o que, que tá acontecendo na vida dele. Aquilo, aquilo outro, se tem gente fazendo “banalheira”, coisa. Ai a gente é saber como é que tá a vida e tal. Eu, mais eu curava consciente, eu fui neste homem e tudo, muita gente que tratava lá, fazia tudo inconsciente né? É... Inconsciente, eu não. Tudo que eu faço é conscientemente, num é inconsciente não, que, outra que Deus me livre deu fazer coisa inconsciente, e mim num é serviço não393.
392 Dona Esther, depoimento citado. Em muitos locais as encantarias são divididas em linhas e outras sub-hierarquias, existindo a linha dos encantados da água doce e a linha dos encantados da água salgada, ambas com suas especificidades. Alguns autores, no entanto, aventam a existência de contato entre essas linhas e a possibilidade de certos encantados transitarem tanto na água doce como na água salgada, resultado dos trânsitos e mesclas culturais nesses espaços. Ver PACHECO, 2004, Op. Cit., pp. 53-54. FERRETI, Mundicarmo. A Representação de Entidades Espirituais Não-Africanas na Religião Afro-Brasileira: o Índio em Terreiros de São Luís - MA. In: Anais da 47a. Reunião Anual da SBPC. São Luís: UFMA. MAUÈS, 1995, Op. Cit., p. 201. Existem inúmeras narrativas sobre a rainha dos mares, princesas, encantadas, mãe d’água do mar, Iemanjá e deusas da água salgada. Referência salutar está presente em PRANDI, 2001, Op. Cit., pp. 378-399. 393 Dona Esther, depoimento citado.
187
O argumento da interlocutora tem várias origens ou sentidos. Por ter frequentado muitos
centros de cura e orações na época em que esteve doente (terreiros, tendas de pajés, tambores,
igrejas evangélicas, sessões espíritas e cultos católicos), pode ter criado resistência às formas de
cura baseadas em possessões, incorporações ou “atuações”. Podemos ainda levar em
consideração o sofrimento pessoal: para uma mulher que desde criança era atormentada e depois
de adulta passou a ter convulsões, desmaios, delírios diversos, acrescenta-se o traumático
episódio de ter um animal encantado no corpo (sapo), a sensação de invasão, de movimento e
descontrole. A identidade xamânica de dona Esther é auxiliada pelos “bichos da floresta” que
agiam por aparição, sinais, premonições e sonhos. Nunca por qualquer modalidade de
incorporação.
As memórias reportam a uma época em que tinha condição de rezar em pessoas oriundas
das localidades de Capitão Poço, Quatro Bocas, Peixe-Boi e Belém. A casa era o cenário da cura:
Chegavam em minha casa, minha casa era gente meu filho! Era noite e dia. De noite chegava gente doído, amarrado de corda, me chamavam: Dona Ester? Ei! Quem é? Sou eu [lugar] fulano que vim trazer uma pessoa que tá muito mal, nós trouxemo amarrado e tudo. Tá certo! Eu ia abrir a porta, entre! “Cuidado ele tá demais”. Eu digo: “Não, ele chegando aqui dentro da minha salinha num tem nada de mais pra ele não. Ai eu botava a mãozinha na cabeça dele, pode desatar ele”. Não! Ele vai lhe matar. Mata não desate! [...] Deixe seu Alexandre que morava bem ali, ele ainda viu. Que ele ainda dizia assim: “Dona Ester isso é que é (não entendi) um doido que a senhora mandou desatar ele e o doido bonzinho quando viu a senhora”. Digo: “É porque quem tava com ele era o inimigo. E na hora que Deus chega o inimigo não fica ai não, ele vai embora”. E disse: É verdade. Cansei de acontecer isso e num faltava gente na minha casa não meu filinho, era gente de todo jeito, era de feitiço, era de tanta da coisa que vinha394.
Dona Esther havia se tornado conhecida pelo dom de saber o futuro, desfazer feitiço e
controlar espíritos ruins, denominados por ela de “espíritos do inimigo”. A ênfase na quantidade
de pessoas denota a importância do reconhecimento social para afirmação da identidade
individual.
Nesse momento da entrevista, a depoente pede para contar uma “prosa” de cura realizada
e que até hoje não esquece. Sinto que a rezadeira já está mais confiante em relação à minha
presença, os movimentos e a postura estão mais relaxados, particularmente senti-me aliviado. A
entrevista estava se prolongando – durava quase três horas – e temia estar sendo inconveniente,
por isso, peço que conte a história de cura, ela se ajeita na rede, a essa altura – Izabel já havia
terminado o almoço e sentada no banco, na porta do quarto, acompanhava a narrativa de sua
“patroa”, às vezes demonstrando apatia, esboçando um sorriso discreto e outras vezes ouvindo e
balançando a cabeça positivamente, como que confirmando suas histórias. O esforço para ficar
394 Dona Esther, depoimento citado.
188
ereta na rede sinaliza a relevância do acontecimento: emite um ruído na garganta, dá a entender
que prepara ou “aquece” a voz, esmerando-se nas palavras e nitidez da fala.
Conta a história de um homem chamado Diego, este era seu vizinho e tinha muitos
terrenos espalhados na cidade, quase não falava com ele, sabia que era um homem ocupado e que
não acreditava nas rezas. Depois de algum tempo, vê o rapaz com mais frequência na rua,
percebe que havia ficado muito caseiro.
Posteriormente soube pelos vizinhos que estava muito doente, pois os vizinhos
reclamavam dos seus gritos de madrugada. Revela que pensou em ir visitá-lo, mas temia ser
maltratada. Assim o sofrimento de Diego continuava, soube que ele vivia em hospitais, ora em
Bragança e Castanhal. Interrompo e pergunto – como entrevistador “afoito” – o que ele tinha.
Descreve como uma inflamação no braço direito todo, parece que o braço estava secando e
estava nascendo um tumor – comparado a uma laranja – sobre a mão. Depois de desenganado
pelos médicos, pediu para a sua esposa chamar dona Esther. Rememora o episódio com o rosto
erguido e altivo:
Tu quer que eu te reze? Ele disse assim: “Eu quero, se for pra minha saúde dona Esther”. Pois venha pra cá, se levante sente aqui nessa cadeira que eu vou lhe rezar. Ai eu rezei e quando eu me rezei disse assim: “Ói bichin, num tem doutor, nem coisa nenhuma que dê jeito em tu não. Que quem fez isso contigo foi inté um tio teu, sabe por que foi que ele fez isso contigo? É porque tu deu um tapa nele e na mão que bateu nele, ele fez uma bandalheira pra [...] e tu gritar dia e noite. Mais vou fazer um remédio, vou preparar um remédio e mandar pela minha filha pra tua mulher passar em tu, é insfreguição, num é banho, é insfreguição um remédio já vem perparado e o bagaço, ela exprema bem o bagaço e guarde o bagaço, num jogue fora não e pode passar no corpo dele desde a coroazinha da cabeça e passa por todo canto. Que ela pode passar que ele pode ficar [...] e ela passar em tudo, entende?” Aí deixei as água rolar. Aí ela passou que quando foi [...] ele pegou a se agoniar, diga? Traz de lá o bacio, o negão tá de provocar nega, chega nega. Aí a nega levou, ele botava o puro palito e bagana de cigarro. Onde foi que ele comeu bagana de cigarro e palito, né? E botando, ele disse assim: “Olha! Eu num comi bagana de cigarro e nem comi palito e olha o horror”. E butando e butando, ai ele parou mais. Aí quando foi no outro dia eu mandei outro pra ele, pra ela fazer, aí botou outro bucado, ai no outro dia foi três dias, no outro dia de novo. Aí saiu o derradeirinha, ai pronto, o braço dele foi desenrolando, desenrolando e foi engrossando o braço dele e o calangão desapareceu, a laranjona, o calangão da costa desapareceu e pronto, ficou bom. Parou toda dor, até hoje tá aí feliz, vive bem na vida dele. Que inté domingo trazado eu fui lá, ele veio me buscar mais a mulher pra mim passar domingo lá com eles. Aí ele disse assim: “Dona Ester isso é que é. Aquele tempo a senhora foi morar perto de nós, porque ele perguntou quando ficou bom. Quanto custa dona Ester seu trabalho?” Eu digo: “Nada, o que custava era você ficar bom, já ficou bom? Ta bem”. Não é eu num quero pagamento não - eu disse assim. “A senhora quer esse terreno aqui perto da minha casa? [Que eu morava era em casa alugada]. Tu quer esse terreno aqui perto da minha casa, pra fazer uma casa pra senhora?” Eu digo: “Se for de gosto e coração eu quero”. Ele disse: “Dou de gosto e coração, ainda ajudo a fazer”. Aí que ele ajudou que aí foi que eu saí de casa alugada e vim morar na minha casinha mesmo, que ele me deu. A casinha dele era assim mais pra a estrada mais pra dentro, era casinha de taiba (tábua). Aí com pouco tempo, eu fui
189
ajudando, né? A minha oração foi ajudando, pedindo a Deus, rogando a Deus e aí ele queria tirar a carteira de motorista, ai eu fiz com que ele tirar, tirou395.
A primeira coisa que dona Esther quer saber é se Diego quer realmente que reze nele,
com a afirmativa pediu que sentasse para receber a reza. Após as primeiras rezas descobre que a
deformação no seu braço não é de origem comum, a doença foi uma “bandalheira” que fizeram
para ele, um serviço feito pelo tio da vítima. Toda a raiva era atribuída a uma briga de família,
onde Diego havia agredido seu tio e este resolvera se vingar. A entrevistada disse que faria uma
“insferguição”, isto é, um tipo de pasta para massagem, de composição não revelada, pois era
“segredo de encante”, mas que deveria ser passada diariamente no braço, o bagaço seria passado
no corpo todo, inclusive na “coroa” da cabeça.
Dona Esther não esconde a satisfação de ganhar um terreno, e depois construir sua casa,
livrando-se do aluguel definitivamente. Acrescenta que desde então reza por Diego e sempre vem
chamá-la para almoçar na sua casa.
Podemos pontuar alguns
aspectos interessantes na narrativa
de dona Esther. Há um interesse
nítido na transmissão desses
acontecimentos: 1. Um homem –
segundo ela – arrogante, bem
sucedido e respeitado; 2. Uma
pessoa descrente, ou seja, de
alguma forma a rezadeira sabia
que Diego não levava a sério as
suas rezas e curas – talvez ele
tivesse feito algum comentário ou
zombaria sobre dona Esther a terceiros, ou então, alimentava uma simples antipatia sem
determinação específica – sem ao menos olhar para ela quando se encontravam na rua; 3. Dona
Esther sabe do sofrimento de Diego, mas não demonstra preocupação, espera que ele perca as
esperanças e peça a ela que apareça na sua casa – percebemos que a entrevistada quer dar uma
lição no seu vizinho, indicando que todos os seus bens não poderiam proporcionar-lhe a cura; 4.
Ao chegar à casa do enfermo, faz questão de ouvir o pedido de cura do mesmo; apesar de ser
visita, ela é quem diz para ele sentar e determina o que deve ser feito: sua saúde agora estava em
395 Idem.
Fig. 44 – Entre a residência de dona Esther (direita) e o vizinho não há separação. “Esses aí não esquece de mim”. Fonte: foto da pesquisa, 2010.
190
suas mãos. E por último e não menos importante, a reconciliação; após a cura, o vínculo de afeto
e gratidão, aflora nos dois, a curadora recebe como “presente de coração”, um terreno e
posteriormente uma casa e ele passa a manter uma relação respeitosa e próxima com dona
Esther. Este episódio ocorreu há quase vinte e cinco anos atrás.
No crepúsculo da narrativa surge a recompensa. A aquisição da casa e apoio dos vizinhos
(re) estruturam o sentimento de gratidão na voz da rezadeira. No entre - lugar (Ceará/Pará) a
busca de um “pedaço de terra” para viver compõe uma das maiores realizações das identidades
migrantes.
A terra é o local das encantarias, espaço de sobrevivência composto por seres com
notável influência sobre os homens. A relação de proximidade entre dona Esther e o “seu povo”
é compreendida no contexto da integração com a natureza florestal.
Articular as experiências identitárias das rezadeiras através das narrativas orais não
significa fixar saberes e representações. Notamos na voz de dona Esther ressonâncias,
cruzamentos e circularidades com as palavras das benzedeiras registradas no texto dissertativo
enquanto dinâmica que medeia a relação dessas mulheres com o espaço natural. As encantarias,
nesse sentido, emergem como sustentáculo, espinha dorsal, referência simbólica na sedimentação
dos sujeitos Amazônicos.
191
“Viagens contínuas”
Há pessoas obrigadas a viajar: os exilados, os imigrantes. Mas estas são viagens das quais não se deve rir, pois são viagens sagradas, são forçadas. Mas os nômades viajam pouco. Ao pé da letra, os nômades ficam imóveis. Todos os especialistas concordam: eles não querem sair, eles se apegam a terra. Mas a terra deles vira deserto e eles se apegam a ele, só podem “nomadizar” em suas terras.
Gilles Deleuze Abecedário de Gilles Deleuze – “V” de viagem
As viagens são sagradas porque envolvem dramas, dúvidas, anseios, esperanças e dores,
mexem com o que deixamos e com o que podemos conhecer; viagens são moedas de troca...
Troca de olhares no solo das identidades. Dotadas dessa compreensão, as mulheres rezadeiras
irromperam no leito dos rios, no verde da mata e na poeira das estradas como produtoras de
trocas e sentidos. Suas vozes embrenharam-se nas florestas, dialogando nas margens e faces da
Amazônia, para lembrarmos cenas de paisagens culturais descritas e inscritas por Pacheco396.
Compartilhar as andanças e aventuras vividas em viagens, descrever cenários, pessoas,
impressões são formas de manter vínculos e criar pertencimentos. Nesse sentido, o ato de narrar
é uma atualização do tempo presente capaz de incorporar/sobrepor quantidades infindáveis de
experiências. A respeito da necessidade de registrar e pensar a relevância dos registros orais,
seguimos as orientações de Bédarida acerca da urgência de uma história do tempo presente397.
Quando lembramos o estilo das narrativas de dona Deuza, por exemplo, vemos como as
palavras são limitadas na tarefa de descrever sensibilidades de matrizes culturais, baseadas na
cadência de narrações corporais. No intuito de testemunhar como as encantarias sustentavam os
açaizeiros no quintal, a rezadeira levanta-se da cadeira e segue em direção ao terreiro com os
braços abertos, toca nas árvores: “ó esse aqui tem raiz, né? Mas os açaizeiros eram que nem esse
descampado aqui, bem lisinho”. A entrevistada passa os pés no chão, afasta as folhas com galho
de goiabeira; por alguns segundos as palavras foram emudecidas pela linguagem corporal.
Percebemos o clima de intimidade e liberdade no terreiro, parece que os fatos narrados durante o
tempo em que esteve sentada eram incompletos em detrimento da expansividade no cenário da
mata.
396 PACHECO, 2006, Op. Cit., pp. 38-39. 397 “Sabemos que a história do tempo presente, mais do que qualquer outra, é por natureza uma história inacabada: uma história em constante movimento, refletindo as comoções que se desenrolam diante de nós e sendo, portanto objeto de uma renovação sem fim”. Cf. BÉDARIDA, François. Tempo presente e presença da História In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 229.
192
Durante a escrita dessas “considerações finais”, evocamos comicamente a cena do
pesquisador com a câmera na mão a seguir dona Deuza no quintal. Por diversas vezes em total
desconforto, tentamos inutilmente não perder cenários, expressões, movimentos ínfimos.
Metodologias e teorias absorvidas no seio acadêmico são postas de ponta-cabeça quando
confrontadas com ambientes onde as identidades e culturas são (re)criadas diariamente. Marieta
Ferreira despertou nosso olhar para o “drama” metodológico enfrentado pelo pesquisador da
história oral que, ao conviver com as testemunhas vivas é confrontado com readaptações,
contestação e redimensionamentos das experiências desses sujeitos históricos. Esse exercício
sinaliza que o pesquisador precisa refazer-se continuamente, ruminar percepção e escrita398.
Aprendemos que existem viagens a serem feitas na própria terra, desveladas em
trajetórias/andanças no interior das casas, nas imagens de santos, nas plantas cultivadas em “pé
de muro”, na visibilidade de fotos, retratos e rastro de animais. Há ainda as viagens no tempo.
Imersos nas narrativas de Maria das Dores recordamos a angústia da benzedeira ao tentar
reconstituir o ambiente de suas “massagens”, utilizando a interação corpo/voz: “ó eu fazia assim,
tá vendo os braços? Parece movimento de cobra, né? [...] É justamente a do incante”, põe um dos
netos no colo e simula massagens. O menino ri, depois se sente incomodado, mas a rezadeira
ignora as queixas e prossegue durante quase cinco minutos intercalando sincronicamente gestos e
fala. Ao término da narrativa conclui: “quando chegá em casa passe andiroba e durma de bruço,
volte aqui daqui a dois dias!” é no massagear, no fazer prático da concretude da vida que a
entrevistada (re)encontra a definição de si.
Desnudar a textura, oleosidade, enrijecimento e odores do corpo do outro através das
massagens permite criar formas de narração polivalentes “quando vêm não precisa dizer nada
não. Basta olhá o jeito das costela, espinhaço, peito e quengo (cabeça) que já dá pra saber de
tudo, né?”, Maria das Dores mantêm viva na memória a relação entre as massagens e o “abraço
da Sucuri”399. Envolver, abraçar e digerir são figuras que ilustram o mover-se das identidades nos
entrelaçamentos dos encontros culturais, transcrevendo/reportando suas experiências a outros
sujeitos na ciranda da vida. É fundamental recorrermos às contribuições de Cruikshank no que
398 FERREIRA, Marieta Moraes. Desafios e dilemas da história oral nos anos 90: o caso do Brasil. In: História Oral. Revista da Associação Brasileira de História Oral. Número 1, Junho de 1998, pp. 9-11. 399 “É interessante que as sucuris, mesmo que não pensadas como seres sobrenaturais, também são fontes de muitas histórias. As conversas sobre sucuris, em geral, são as que servem de preâmbulo para os temas relativos ao sobrenatural. É quase como se a sucuri fosse um animal intermediário entre os da terra e as ‘almas do outro mundo’”. Vemos que mesmo em contextos culturais e paisagens naturais dissonantes, a sucuri alimenta imaginários religiosos múltiplos. Nesse sentido, seguimos os caminhos trilhados por SILVA, Joana Aparecida Fernandes. Relações ecológicas e seres fantásticos. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, p. 418.
193
tange a capacidade das narrativas orais de não serem meras reproduções da mente humana, mas
de terem o poder de articular simbolicamente mudanças históricas na sociedade400.
Estamos em concordância com Deleuze quando enuncia que os nômades “só podem
‘nomadizar’ em suas terras”, isto é, apegam-se não a um lugar específico, mas a uma
representação de lugar, um ambiente nativo401 que leva consigo, no resíduo memorial, e só passa
a ser construído na medida em que o sujeito se afasta do espaço originário. Ao recolher traços,
imagens, sentidos, a benzedeira costura a sua terra natal nos quadros da memória, cria locais a
partir do que espera que seja (expectativa). Como mulheres em diáspora, as rezadeiras na
Amazônia Bragantina acentuam as relações de identificação/pertencimento através das distâncias.
Em sintonia com as narrativas de dona Esther vemos que o sentimento de saudade em
relação ao Ceará não era traduzido na busca de um possível retorno, pois na oportunidade que
teve de voltar para a “terra do Crato”, limitou-se a comentar as mudanças percebidas: “tá tudo
mudado, muita coisa mudou de lugá”. O “Ceará” de dona Esther existe como um referencial
identitário burilado pela dinâmica da memória em sua capacidade de reter, perder e transformar
imagens. Na representação dessas terras reside o vívido tesouro das tradições orais, “rezas
carreadas”, “romanços”, “cordéis de bichos”, recordações do famoso “pai rezador que fazia as
missa na colônia do Pedregulho”: são experiências individuais legadas pela oralidade que
ultrapassam tempo e lugar.
A preservação desse saber justifica o esforço da memória na arte de narrar e, nesse
sentido, narrar é um grito contra o esquecimento... Naufrágio das identidades402. A história da
construção desse Ceará começou em 1958 ao migrar em direção ao Pará e continua ainda hoje na
regurgitação das lembranças, prova inconteste de que as construções da cultura são intermináveis.
A convivência com as mulheres benzedeiras propiciaram um longo processo de
aprendizado, primeiro, o aprendizado de reconhecer a aceitar saberes oriundos do universo
400 “Em vez de atuarem como reflexos de fato da sociedade, as narrativas orais podem inverter o comportamento social, porque o propósito de tais narrativas é resolver simbolicamente as questões que não podem necessariamente ser resolvidas na esfera da atividade humana”. CRUIKSHANK, Julie. Tradição oral e história oral: revendo algumas questões. In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 153. 401 Alertamos para uso negativo da palavra adotada na história de algumas sociedades, em especial, aqueles associados a formas de dominação, colonialismo e relação superioridade/inferioridade. Nesse aspecto, é fundamental a consulta aos trabalhos de WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. Tradução de Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 288. 402 “A rememoração também significa uma atenção preciosa ao presente, particularmente a estas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não esquecer o passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa à transformação do presente” Interpretação conduzida por GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, História, Testemunho In: BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (orgs). Memórias e (res) sentimentos: indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004, p. 91.
194
familiar firmado na dinâmica do falar e ouvir, longos caminhos até a (re) educação de sentidos e
sensibilidades. Outro aspecto são as lições do “estranhamento”. Perceber diferenças, sinuosidades
em ambientes considerados “conhecidos” exigiram um estado de vigilância constante sobre fatos
e imagens “batidos”. Esquecer os vícios do olhar “familiar” fora tão doloroso quanto aprender a
maravilhar-se com paisagens emergentes.
No período de quase dois anos as viagens de ida e volta entre Belém – Capanema duas ou
três vezes por semana em diferentes passagens, paisagens noturnas e ambientes diversos não
podem ser comparadas às viagens guiadas pelas narrativas das rezadeiras. Afirmamos com muita
propriedade a experiência de ser nômade/errante em terras nativas, caímos em si ao perceber que
conhecemos tão pouco sobre o lugar em que acreditamos pertencer. A esse respeito
testemunhamos sobre a primeira vez em que fomos à residência de dona Esther no bairro Almir
Gabriel. Ao cortar a rua principal e penetrar nas áreas mais afastadas, pensávamos sobre nosso
total desconhecimento a respeito dos sujeitos e locais visualizados. Na penúltima casa da rua
encontramos a residência de dona Esther, portadora do dom de realizar rezas e curas, agraciada
pelas encantarias da terra com um vasto repertório de “romanços” e “hinos de sofrimento”,
oriundos das tradições orais nordestinas. A riqueza das experiências narradas contrastava com as
precárias condições de vida da entrevistada.
Fomos tocados de tal forma pela maneira com que chegamos à dona Esther e pelo
fascínio gerado por suas narrativas que a partilha de experiências ultrapassou o cronograma das
entrevistas, assim, as visitas e conversas tornaram-se rotineiras. No dia 23 de Dezembro de 2010
levamos um “natal” para dona Esther, conversamos sobre assuntos relativos à família, comida
típica e, claro, compartilhamos experiências. O episódio narrado não diz respeito à caridade,
espírito natalino, mas denota como criamos vínculos e necessitamos (in)voluntariamente de
comungar afetos na continuidade dessas viagem de vida.
Gostaríamos de esclarecer aos leitores que o texto aqui apresentado não pretende
descrever “períodos” ou “épocas”. Apesar das narrativas das rezadeiras estarem situadas no
contexto de datação tradicional entre 1950 e 1990, incorporamos como eixo “cronológico” o
tempo talhado pela memória, assim, os acontecimentos foram tratados no contexto e significados
pertinentes à subjetividade das narradoras.
Nessa perspectiva, a pedra mágica dada pelas encantarias da água à dona Ângela, na
década de 1950, são extremamente atuais. A surpresa de dona Esther ao perceber que o
pesquisador não se lembrara dos cearenses que chegaram em 1958 “O senhor, né professor?
Como é que num sabe disso?” comungando nítida revolta diante da constatação de que
195
desconhecíamos fatos tão importantes e reconhecidos de sua história de vida. Experiências
recentes, do ponto de vista cronológico, são deslocadas para o tempo longínquo. Dona Deuza
refere-se à aposentadoria no fim dos anos noventa como algo vazio de sentido “Ah! Isso faz
muitos anos, foi em noventa, tá com quinze anos, eu acho. Mas esse tempo já era”.
A forma que essas mulheres selecionam imagens/lembranças para compor suas histórias
passadas está associada à afirmação identitária nos traços específicos de suas comunidades. Tal
aspecto faz lembrar o sofrimento de ex-combatentes, estudados por Thomson, quando percebe
como a pressão social é capaz de produzir silenciamento ou protuberâncias em determinadas
narrativas403.
Nos meandros dessa pesquisa, as benzedeiras teceram percepções sobre a cidade de
Capanema, através da oralidade tornam-se intérpretes e tradutoras de ruas e lugares. As vozes
ouvidas na pesquisa foram entrelaçadas, fiadas uma a uma, assim, através de múltiplos olhares a
cidade emerge como um local dominado por rios, riachos, açudes, jazidas e cacimbas, onde a
população dividia seus lares de acordo com o regime dos rios e do avanço das encantarias
aquáticas no inverno. Essas vozes trazem senhoras da cura que revitalizam suas identidades nos
ciclos das cheias dos rios404.
Antes da instalação do sistema de eletrificação, a cidade obedecia à energia que vinha dos
rios. Lá eram feitas rezas, banhos e os descuidados eram atraídos e “sequestrados” pelo “incante
de cobra”. Em outros momentos, as narradoras constroem Capanema como a cidade desbravada
por maranhenses, paraibanos, cearenses, esses sujeitos são representados como os fundadores do
local, responsáveis pelo crescimento comercial e desenvolvimento político. Dona Ângela não
receia em afirmar que “tudo começou mesmo quando chegamo aqui. Antes isso aqui era só
matagal, não tinha nada não [...] Se fosse pelos Pará (paraenses) tudo ainda era matão
(floresta/matagal)” enfim, histórias contadas sob a ótica daqueles que chegam.
No entanto, há vozes representativas de transformações narradas no horizonte das
rezadeiras nativas “hum! Aqui! Aqui era na peixeira, a peãozada se decidia era no bico da bicha
(lâmina) [...] mas quando os ceará vieram veio a época das bala [...] Aí Capanema não foi mais a
403 “Assim como as histórias baseadas em reminiscências revelam a maneira específica como uma pessoa compôs seu passado, esses significados ocultos podem revelar experiências e sentimentos que foram silenciados porque não se ajustavam às normas usuais ou à própria identidade da pessoa”. THOMSON, 1997, Op. Cit., p. 58. 404 “Os fatos vão sendo desfiados com a presença de uma mola propulsora – o espaço físico desenhado. O espaço é o responsável, então, pela rememoração, pelo não desaparecimento de rastros da memória”. Sobre a riqueza das narrativas orais dos contadores em duas sub-regiões do pantanal do Brasil e o vínculo umbilical com as representações da natureza, é válido pensar nas considerações de MARCHI, Maria das Dores Capitão Vigário & FERREIRA, Áurea Rita de Ávila Lima. Narrativas pantaneiras: história contada, histórias de vida In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, p. 403.
196
mesma”. A representação de uma “terra sem lei”, marcada pelo porte ilegal de arma de fogo e
presença de pistoleiros repercute no imaginário das famílias nativas como um legado negativo da
presença dos migrantes nordestinos. Conscientes da grandeza e complexidade de pensar o
processo migratório no nordeste paraense durante o século XX, Franciane Gama Lacerda clareia
nosso entendimento na perspectiva de acompanhar as mudanças de percepções, troca de olhares
e confluências entre cearenses e paraenses cultivadas em sua reflexão acadêmica405.
Formas distintas de interpretação de sentidos das narradoras não devem ser entendidas
como oposição entre nativos e migrantes, na verdade, essas informações transportadas e (re)
interpretadas através da oralidade são diluídas nos intercâmbios criados no dia-a-dia da cidade,
produzindo identidades simbióticas e intercambiantes. Guiados pela pena de Pacheco notamos
que a complexidade das posturas identitárias estão associadas não apenas ao esforço da
compreensão de si, mas como esse conceito fechado de indivíduo revela-se no espaço da
alteridade406.
Os “tempos de penúria” são relacionados às péssimas condições de vida, as casas de
palha umedecidas pelas chuvas, aguçam odores, multiplicam insetos, mosquitos e moscas. No
almoço, farinha com água, sal e charque – o famoso chibé – pouca roupa, muito trabalho no
roçado e a sensação de viver na esperança de que o dia seguinte seja melhor. Apresentamos o
testemunho de Dona Fátima que narra com olhar fixo para o chão e olhos marejados que
“quando era menina tinha vergonha de vivê perto dos outro barão, se pudesse eu me enterrava
de tão pobre que era [...] As vez dava era raiva de Deus, sabe?”. As contradições sociais eram
intensificadas quando tinham que conviver com famílias que gozavam de melhor condição
econômica, a humilhação é descrita pela rezadeira no momento em que aperta uma mão contra a
outra. O gesto traduz a origem humilde e a forma como se sentiam esmagados pela pobreza, mas
também expressa uma relação de confronto, a clara percepção de que o sofrimento material era
acentuado pelos excessos e ostentação das elites políticas locais.
Durante a realização das entrevistas, registramos cenários, hábitos alimentares, relatos de
família e em alguns casos foram possíveis estender o número de visitas, aumentar vínculos e
compartilhar opiniões. A pesquisa de campo tirou as ilusões dogmáticas da historiografia
405 LACERDA, 2010, Op. Cit., pp. 125-140. 406 O intrincado e polissêmico universo cultural Marajoara são discutidos na perspectiva da oralidade das populações ribeirinhas, sujeitos que transitam nos espaços naturais Amazônicos, (re) criando estratégias, trocas e contato entre o catolicismo ortodoxo e devocional e a cosmovisão dos saberes sedimentados nas diversas religiosidades locais. Essas assertivas podem ser apreciadas em PACHECO, Agenor Sarraf. Oralidades e letras em encontros nos “Marajós”. Ribeirinhos e religiosos urdindo identidades culturais. In: coletâneas do nosso tempo. Ano VII - v. 7. 2008, pp. 15-18.
197
tradicional, documental repleta de generalizações, teleologias, “neutralidades”407. Através das
orientações teórico-metodológicas dos Estudos Culturais e da História Oral, adotamos o respeito
irrestrito a todas as crenças e visões de mundo das narradoras e as formas como atribuíram
significados às suas experiências. Cuidadosamente fomos entrincheirando-nos entre as suas falas
e a penosa tarefa de interpretar as vozes no percurso da composição de sentidos. Nesses termos,
a escrita dissertativa é testemunha e cúmplice da oralidade aqui presente. Felizmente,
compartilhamos essa sentença com a escrita de Voldman a respeito da interpretação dada pelo
historiador no depoimento oral, na “comunhão” entre o pesquisador e as fontes408.
Apesar de o texto dissertativo mencionar temas e preocupações diversas das mulheres
rezadeiras em algumas circunstâncias, focalizamos nas narrativas orais experiências religiosas e
questionamos como crenças e valores erigem leituras identitárias de mundo. Através deste estudo
procuramos compreender os elementos constitutivos das identidades das rezadeiras em uma
cidade localizada na Amazônia Bragantina (Capanema-PA). Essas mulheres exercem forte
liderança espiritual na mente e corpo da população, criando formas de respeito e prestígio tão
antigos quanto os poderes institucionais religiosos. Há, sem dúvida, forças de silenciamento que
se erguem diariamente contra pessoas de baixa renda, portadoras de saberes orais e religiosidade
diversa da ortodoxia institucional cristã.
Olhares, tosses, cochichos, gestos, roupas e segredos são ampliados nas rezas, curas e
partos. Suas preces ecoam nas casas, ruas e campos traduzem o clamor dos pobres e
desassistidos. No entanto, os sujeitos em questão não são arautos ou sacerdotisas, elas mesmas
têm suas identidades feitas e refeitas nas imbricações entre discriminações e valorização de
saberes, pois a mesma população que reforça antigos estereótipos, busca os benefícios da cura,
batendo na porta de várias rezadeiras. Ali são revelados segredos para fazer chás, poções,
comportamentos e atitudes a serem adotadas.
Embora haja semelhanças no estilo de vida, forma de atuação e “conteúdo”, as
experiências desvelam singularidades, daí nossa preocupação em confeccionar uma narrativa
histórica, valorizando a memória individual e não a coletiva. Nessa escolha, algumas entrevistadas
destacam traços pessoais e específicos, marcando relações de proximidade com outras
407 O endosso da experiência histórica como pressuposto metodológico para a pesquisa historiográfica fora polemizada por Thompson e o marxismo estruturalista de Althusser. A esse respeito lembramos a escrita de THOMPSON, 1981, Op. Cit., pp. 189-190. 408 “Eis por que é preciso remontar no tempo e estudar o documento oral não somente como fonte, mas também do ponto de vista de sua construção pelo historiador que, ao solicitar uma testemunha, procede a uma ‘invenção’ de fontes”. Cf. VOLDMAN, Danièle. A invenção do depoimento oral. In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, pp. 250-251.
198
curandeiras; há ainda aquelas que agem como guardiãs da cidade, sequer mencionam o papel ou
existência de outras curandeiras. Essas mulheres vivem em um intrincado mecanismo de relação
simbólica. Na batuta de suas oralidades, verificamos “regras”, “interdições” que acompanham o
ritual de cura. As proibições variam entre não rezar em encantados do fundo, não receber rezas,
não rezar em ninguém da família, não rezar em mãe d’água preta, não rezar em peçonha de cobra
ou cobreiro. Um conjunto de expressões, na qual expõe formas de comunicação e tabus diluídas
nas tensões do cotidiano409.
Do ponto de vista da formação da identidade xamãnica todas as entrevistadas assumem o
ato de rezar como uma dádiva de Deus, preservada desde o nascimento. Após investigação
pormenorizada as explicações penetram em outros meandros. Transmissão de saberes familiares
com base na ancestralidade (aprendizado com ente familiar ou incorporação de espírito familiar
falecido), acontecimentos traumáticos e sequestros (velório não autorizado pela família,
comparecer ao cemitério no dia de finados sem vela, rapto de crianças para locais de encantaria).
Essas experiências não são fixas, em algumas situações esses elementos são simultâneos e não
hierarquizados, o que denota uma vocação religiosa ou mística distinta dos modos de vivência
espiritual existente na “lógica” do cristianismo ocidental.
Mergulhando nas memórias das rezadeiras, apreciamos o dom ou sina como um presente
imediato de Deus ou dos encantados, mas em ambos os casos, precisava ser dilapidado,
aperfeiçoado. Esse período de aprendizado era conduzido pelos “mestres”, “domadores”,
“guias”, “rezadores fortes” ou padres!410. Com o passar do tempo o controle das possessões,
viagens xamãnicas e “acompanhas” 411 sinalizavam a formação da identidade da rezadeira. Apenas
dona Deuza Rabêlo recebeu a formação de parteira da mãe e posteriormente passou a rezar sem
ter tido experiência xamãnica412 na perspectiva dos elementos aqui apresentados.
Alcançadas pela ressonância das narrativas orais, as rezadeiras configuram suas vozes
como demarcações territoriais. Com isso, elaboram redes de contato, representação,
deslocamento e tensão no sentido de criar circuitos culturais capazes de manter relação 409 “É no próprio exercício da pesquisa com história oral que vamos desenvolvendo habilidades para melhor captar, nos significados dos enredos, modos peculiares de ser e de viver, tensões e conflitos, resistências e transgressões, sujeições e acomodações, vividos e narrados pelos sujeitos como sonhos, expectativas e projetos, valores, costumes, tradições, fabulações”. KHOURY, Yara Aun. Narrativas Orais na investigação da História Social. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, p. 87. 410 “Rasmussen, o grande explorador do Ártico e etnógrafo dinamarquês, narra como um dos padres inspirados, ou xamãs esquimós, que encontrou, havia procurado em vão instruções para a sua vocação mística junto a outros xamãs. Finalmente, como Santo Antão, o fundador dos Anacoretas, esse neófito esquimó buscou inspiração no isolamento e partiu para uma vigília solitária no deserto”. LEWIS, 1971, Op. Cit., p. 39. 411 Guia espiritual encarregado de ensinar, vigiar, consolar e punir os portadores do Dom. Lembremos do “acompanha” sempre mencionado por dona Maria das Dores na I Parte da dissertação. 412 Ver possessão xamãnica por “intrusão” e “extrusão”. LEWIS, 1971, Op. Cit., pp. 41-77.
199
equilibrada com a natureza. Chamamos de cartografia dos encantados trajetórias e dinâmicas das
teias orais na capacidade de interpretar a morada dos encantarias no cenário natural Amazônico.
Aliás, Auxiliomar Ugarte não nos deixa esquecer a relevância da história Amazônica como uma
terra de encontros, “nascida” na troca de olhares entre estrangeiros e nativos com nomes e
lugares (re) significados à luz das sensibilidades/projetos de sujeitos oriundos de outra identidade
histórica continental413.
A forma surpreendente como as sabedorias oriundas de tradições orais podem, não
apenas explicar, mas elaborar, apropriar, preservar, dominar e subverter forças, atributos,
intempéries e potências do mundo natural, representam artimanhas de “sobrevivência”. A esse
respeito comungamos e estamos interconectados com as reflexões de Acioli sobre as
propriedades xamãnicas dos achadores de cacimba no Ceará414.
Temos como pressuposto a ideia de que toda cartografia é uma tentativa de hierarquizar e
ordenar espaços, portanto, é um mecanismo de localização onde vemos ambientes distantes a
partir de nossos referenciais identitários de lugar. Ar, água e terra são os elementos primordiais
que constituem o território das rezadeiras. Interpretados como nascedouro, porta de acesso, meio
de manifestação do panteão cosmológico de cidades e reinos encantados, a natureza é percebida
como penhor da sintonia entre pessoas e mistérios da floresta.
Guiados pelas benzedeiras viajamos pelas intrincadas redes locais e camadas da
cosmologia religiosa. Nessas vozes o universo das encantarias aparece como um mundo
organizado, territorializado, dividido em “Ar, Água e Terra” semelhante a um bolo fatiado
milimetricamente. Em outras circunstâncias, as encantarias emergem nas narrações como seres
múltiplos carregados de hibridismo, nomadismo com identidades costuradas por tecidos de várias
roupagens religiosas415.
413 A respeito da forma como o imaginário europeu (estrangeiro) se debruça sobre “o mundo Amazônico” e suas conexões, o desdobramento histórico dessas perspectivas observamos que “aos poucos, a região Amazônica começava a ser mais conhecida pelo europeu. Porém, conforme estamos mostrando, esse conhecimento empírico era acompanhado de expectativas, cujo conteúdo se encontrava permeado de mitos, de elementos fantásticos. Por isso nas imagens cartográficas apareciam tanto as informações objetivas quanto esses elementos do maravilhoso sobre a região”. Cf. UGARTE, Auxiliomar Silva. Margens míticas: A Amazônia no imaginário europeu do Século XVI. In: DEL PRIORE, Mary & GOMES, Flávio dos Santos. Os Senhores dos Rios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, pp. 16-17. 414 A importância dos saberes mágico-religiosos dos achadores de cacimba no Ceará como estratégias para a manutenção e abastecimento de água da população nordestina pode ser acompanhada no artigo de ACIOLI, Socorro. Achadores de cacimba. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 421-423. 415 A interpretação sobre a transformação de deuses, divindades, seres incorpóreos, sobrenaturais, monstros, assombrações, aparições noturnas, suas mesclas, adaptações, resistências e hibridismos seguimos o fio condutor da escrita de SILVA, Joana Aparecida Fernandes. Relações ecológicas e seres fantásticos. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 409-419.
200
Sob a lógica dos saberes religiosos orais essas cosmologias não comportam contradição
alguma, pois não pretendem alcançar o status de saber homogêneo, universal, logocêntrico. Elas
refletem, na verdade, os múltiplos papéis assumidos por esses sujeitos na particularidade das
experiências culturais e (re)inventam seus deuses, na medida em que tem suas identidades
forjadas por eles.
No jogo das identidades, ao mesmo tempo em que buscam regularidades, perfis, padrões,
fronteiras também concatenam mudanças, alterações, desvios e contradições. As facetas destas
identidades demonstram que os sujeitos Amazônidas operam na instabilidade do discurso
cartesiano e romanizador católico, conforme estudou Pacheco em suas incursões nas obras
literárias de Dalcídio Jurandir e Silvia Helena Tocantins416.
Ao longo do texto buscamos perceber como a identificação com o ato de rezar, benzer,
curar ou partejar surge nas narrativas orais como espinha dorsal do “fazer-se” identitário. Não
ignoramos as demais facetas da vida social, mas priorizamos a cartografia das experiências
xamânicas como um saber dotado de singularidade, revestido da aura sagrada na vocação e
realização de um propósito maior. O recebimento do Dom significa atender a uma missão
espiritual e religiosa carregada de sofrimento (sina/destino), o que implica ter sempre algo a
realizar, tarefas a desenvolver! A viagem das benzedeiras são andanças, êxodos na interioridade da
vida, sempre em direção aos propósitos estabelecidos por Deus, santos e encantados.
A viagem dos encantados também é a história de Capanema contada pelas mulheres
rezadeiras. Identidades diaspóricas que plasmaram sentidos, ritmos, dificuldades e superações no
entre lugar do campo/cidade, homem/natureza, deuses/homens. Temos certeza de que o esboço
da pesquisa aqui apresentada é apenas o ponto de partida para questões que devem ser levadas
adiante por novas investigações. Deixamos registrada a necessidade de se pensar as encantarias
conectadas às narrativas orais de outros sujeitos da região e a importância de se realizar vasta
pesquisa sobre a memória oral das famílias migrantes, aprofundando aspectos aqui
esquadrinhados.
Pessoalmente vivemos a angústia de transitar em teorias interpretativas oriundas de
diversas áreas de conhecimento tendo cuidado em abolir tendências reducionistas e
epistemologias sectaristas. Em nossa formação historiográfica inicial, fomos amparados nas
reflexões da historiografia Amazônica e nas contribuições, apontamentos e desafios lançados
tanto pelos Estudos Culturais Britânicos, Latino-Americano e pelo Pensamento Pós-Colonial
416 PACHECO, Agenor Sarraf. História e literatura no regime das águas: práticas culturais afroindígenas na Amazônia Marajoara. In: Amazônica 01. Belém: UFPA, 2009, pp. 406-441.
201
quanto pela Antropologia das Religiões, especialmente na temática da saúde. Não
compartilhamos a crença de que há uma única teoria interpretativa capaz de captar o fluxo e
riqueza das experiências humanas, assim, dialogamos com esses saberes conforme as
problematizações geradas pela pesquisa de campo. No entanto, tivemos o cuidado de respeitar o
contexto histórico/epistemológico dos conceitos, categorias e pensamentos desses intelectuais no
sentido de não desfigurar suas elaborações acadêmicas.
O estudo e as reflexões iniciais presentes nessa dissertação de Mestrado, pretende, de
algum modo, contribuir para pensar como estamos inseridos nas cartografias amazônicas. Ele
almeja abrir nossos horizontes sobre a importância de ouvir, aprender e respeitar as experiências
de nossas alteridades, no sentido de perpetuarmos narrativas e saberes orais e, principalmente,
sermos capazes de perceber colados em Primo Levi que, compartilhar experiências é uma
“necessidade de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes” 417 de nossa própria
história.
417 Lembramos o poder da narrativa como denúncia na terrível experiência de Primo Levi, judeu deportado para o campo de concentração de Auschwitz na Polônia em 1944. Após o holocausto alerta-nos não apenas para a violência do extermínio, mas para a urgência de testemunhar sobre a realidade morta. Narrar e compartilhar experiências representa sinal vital da cultura. Cf. LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 8.
202
REFERÊNCIAS ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. Trabalho escravo e trabalho feminino no Pará. In: Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Belém, nº 12, abril/jun.1987, pp. 53-84. ACIOLI, Socorro. Achadores de cacimba. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 421-423. ANTONACCI, Maria Antonieta. O passado presente em memórias de Melgaço. In: PACHECO, Agenor Sarraf. Á Margem dos “Marajós”: cotidiano, memórias e imagens da “Cidade-Floresta” – Melgaço-PA. Belém: Paka-Tatu, 2006, pp. 17-20. _________________________. Culturas da voz em circuitos África/Brasil/África. In: VIII Congresso Luso – Afro – Brasileiro de Ciências Sociais em Coimbra, 2004, pp. 1- 12. _________________________. Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de folhetos: nordeste do Brasil, 1890/1940. In: Projeto História 21. São Paulo: EDUC, 2001, pp. 105-138. _________________________. África/Brasil: corpos, tempos e histórias silenciadas. In: Tempo e Argumento. Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 46 – 67, jan./jun. 2009. ANSART, Pierre. História e Memória dos Ressentimentos In: BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (Orgs.). Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004. BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. __________________. A poética do Devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988. BÉDARIDA, François. Tempo presente e presença da História In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, pp. 219-229. BENJAMIN Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança dos velhos. 3ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BRASIL, Marília Carvalho. Os fluxos migratórios na Região Norte nas décadas de 70 e 80: uma análise exploratória. In: disponível em http://www.fundaj.gov.br/docs/text/mabrasil.doc. Acesso em 04/09/2010. BURKE, Peter. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: A Escrita da História. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora da Unesp, 1992, pp. 327-348.
203
___________. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda. Estudos de Etnofarmacobotânica. In: PELLEGRINI FILHO, Américo (org.). Antologia de Folclore Brasileiro. São Paulo, EDART/Universidade Federal da Paraíba/Universidade Federal do Pará, 1982. CAMPBELL, Joseph. O poder do Mito. Org. Betty Sue Flowers. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990. CANCELA, Cristina Donza. “População e cidade”. In: Casamento e relações familiares na economia da borracha. Belém (1870-1929). Tese de Doutorado em História. USP, 2006, pp. 127-135. CARDOSO, Ciro Flamarion & MAUAD, Ana Maria. História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. CASSIRER, Ernst. Antropologia Filosófica. Ensaio sobre o Homem. Trad. Dr. Vicente Fêlix de Queiroz. Ed. Mestre Jou, São Paulo, 1977. CASTELLS, Manuel. O poder da Identidade. Vol. II. 3. ed. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. SP: ed. Paz e Terra, 1999. CAVALCANTE, Patrícia Carvalho. De “nascença” ou de “simpatia”: iniciação, hierarquia a atribuições dos Mestres na Pajelança Marajoara. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Belém, UFPA, 2008. CHALHOUB, Sidney et. al. (orgs.). Artes e ofícios de curar no Brasil. Capítulos de História social. Campinas: Unicamp, 2003. CHAMBOULEYRON, Rafael. Povoamento, Ocupação e Agricultura na Amazônia Colonial. Belém: Ed. Açaí, 2010. COELHO, Geraldo Mártires. O violino de ingres: leituras de história cultural. Belém: Paka-Tatu, 2005. _______________________. No coração do povo: o monumento à república em Belém (1891-1897). Belém: Paka-Tatu, 2002. COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário. 3 ed. São Paulo: Iluminuras, 2004. CRUIKSHANK, Julie. Tradição oral e história oral: revendo algumas questões. In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, pp. 149-164. CUCHE, Denys. A noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 2002.
204
DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1996. DE CERTEAU, Michel. A cultura no Plural. Tradução de Enid Abreu Dobránszky. Campinas, SP: Papirus, 1995. ___________________ A invenção do cotidiano: Morar, cozinhar. Vol. 2. Tradução de Ephraim F. Alves e Lúcia Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. DEL PRIORE, Mary. Esquecidos por Deus – monstros no mundo europeu e ibero-americano: uma história dos monstros do Velho e do Novo Mundo (séculos XVI-XVIII). São Paulo: Companhia das Letras, 2000. _________________. (org.) & BASSANEZI. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007. _________________. Uma história da vida rural no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _________________.O pecado e o medo: a culpabilização no ocidente (séculos 13-18). Tradução de Álvaro Lorencini. Bauru, SP: Edusc, 2003. _________________. O que sobrou do Paraíso? Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. _________________. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. Prefácio de Georges Dumézil. Tradução Sônia Cristina Tamer. São Paulo: Martins Fontes, 1991. ______________El Chamanismo y Las técnicas arcaicas Del éxtasis. México/Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 1960. ______________História das crenças e das idéias religiosas: da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis. Vol. 1. Tradução de Roberto Cordes de Lacerda. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2010. FARES, Josebel Akel. O matintaperera no imaginário Amazônico. In: MAUÈS, Raymundo Heraldo & VILLACORTA, Gisela Macambira. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: Edufpa, 2008, pp. 311-326. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio Século XXI Escolar. 4ª Ed. rev. Ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
205
FERREIRA, Marieta Moraes. Desafios e dilemas da história oral nos anos 90: o caso do Brasil. In: História Oral. Revista da Associação Brasileira de História Oral. Número 1, Junho de 1998, pp. 9-11. FERRETI, Mundicarmo. A representação de entidades espirituais não-africanas na religião afro-brasileira: o índio em terreiros de São Luís - MA. In: Anais da 47a. Reunião Anual da SBPC. São Luís: UFMA, 1995. ___________________. Encantados e encantarias no Folclore Brasileiro. Artigo apresentado no VI Seminário de Ações Integradas em Folclore. São Paulo, 2008. FIGUEIREDO, Napoleão. Rezadores, pajés & puçangas. 1ª Ed. Belém: UFPA, 1979. ____________________. Todas as divindades se encontram nas “encantarias” de Belém. In: PELLEGRINI FILHO, Américo (org.). Antologia do Folclore Brasileiro. São Paulo: EDART, 1982. FIGUEIREDO, Aldrin de Moura. Pajés, Médicos & Alquimistas: uma discussão em torno de ciência e magia no Pará Oitocentista, Cadernos do CFCH. Belém 12 (1-2); 1993, pp. 41-54. __________________________. “Quem eram os pajés científicos? Trocas simbólicas e confrontos culturais na Amazônia, 1880-1930”. In: FONTES, Edilza (org.), Contando a história do Pará: diálogos entre história e antropologia. Belém: Ed. Motion, 2002. __________________________. A cidade dos Encantados: Pajelança, feitiçaria e religiões afro-brasileiras na Amazônia, Belém: Edufpa, 2008. __________________________. Assim como eram os gafanhotos: pajelança e confrontos culturais na Amazônia do inicio do século XX. In: MAUÈS, Raymundo Heraldo & VILLACORTA, Gisela Macambira. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: Edufpa, 2008, pp. 53-94. __________________________. Anfiteatro da cura: pajelança e medicina na Amazônia no limiar do século XX. In: CHALHOUB, Sidney. Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. FONTES, Edilza. O pão nosso de cada dia. Belém: Paka-Tatu, 2002. _____________. A Batalha da Borracha, a Imigração Nordestina e o Seringueiro: a relação entre História e Natureza In: NEVES, Fernando Arthur de Freitas & LIMA, Maria Rosane Pinto (org.) Faces da História da Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2006. FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: editora Martins Fontes 1987. _________________. História da Sexualidade 2; o uso dos prazeres. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: editora Graal, 1984.
206
GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Org.: Pierre Fruchon; Tradução Paulo César Duque Estrada. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. GAGNEBIN, Jeanne Marie. Sete Aulas sobre Linguagem, memória e história. 2ª ed. Rio de janeiro: Imago, 2005. _____________________. Memória, História, Testemunho In: BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (orgs). Memórias e (res) sentimentos: indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004. GALVÃO, Eduardo. Santos e Visagens: um estudo da vida religiosa em Itá, Amazonas. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1975. GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4ª Ed. Tradução de Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. São Paulo: Edusp, 2008. _______________________. A globalização imaginada. Tradução de Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003. ________________________ Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Tradução de Maurício Santana Dias. Rio de Janeiro: Ed. URFJ, 2006. Gerência de base de dados estatísticos do Estado, 2008, pp. 31-36, 20-24. GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. ______________. Nova luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Tradução de Maria Amoroso Betânia. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. _______________. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. Companhia das Letras, São Paulo, 1989. _______________. História Noturna: decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. Manaus: Editora Valer, 2007. GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. ___________. Identidade cultural e diáspora. In: Comunicação & Cultura, nº 01, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa: Quimera, primavera-verão, 2006, pp. 21-35. ___________. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Tradução Adelaine La Guardia Resende... [et al.]. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
207
HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. HOGGART, Richard. La culture du pauvre. Paris: Les Éditions de minuit, 1970. Longman: dictionary of contemporary English. Ed. Barcelona: Cayfosa, p. 386. IBGE, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, vol. XIV, 1957, pp. 334-335-337-339. LACERDA, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). Belém: Ed. Açai, 2010. _______________________. Infância e imigração do Pará (final do século XIX, inicio do século XX). In: BEZERRA NETO, José Maia & GÚZMAN, Décio Marco Antônio (orgs.). Terra Matura: historiografia e história social na Amazônia. Belém. Paka-Tatu, 2002, pp. 395-406. LAPA, José Roberto do Amaral. A Visita oculta. In: Livro da visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará (1763-1768). Petrópolis: Vozes, 1978. LE GOFF, Jacques, História e Memória. Tradução de Bernardo Leitão... [et al.] Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp, 2003. _______________ O imaginário Medieval. Tradução de Manuel Ruas. Ed. Estampa, 1994. LEGROS, Patrick et al. Sociologia do Imaginário. Tradução de Eduardo Portanova Barros. Porto Alegre: Sulina, 2007. LEWIS, I. O Êxtase religioso. Um estudo antropológico da possessão por espírito e do xamanismo. São Paulo: Perspectiva, 1971. LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. LIMA, Zeneida. O mundo místico dos caruanas da ilha do Marajó. Belém: Cejup, 2002. LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. Belém: Cejup, 1995. MARCHI, Maria das Dores Capitão Vigário & FERREIRA, Áurea Rita de Ávila Lima. Narrativas pantaneiras: História contada, Histórias de vida In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, p. 403. MARTÌN-BARBERO, Jesús. Comunicação e mediações culturais In: Diálogos Midiológicos. 6 Vol. XXIII, nº 1, 2000. MARQUES,Vera Regina Beltrão. Medicinas secretas: Magia e Ciência no Brasil Setecentista. In: CHALHOUB, Sidney et al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.
208
MATTOS, Sônia Missagia de. Gênero, uma possibilidade de interpretação In: Caderno Espaço Feminino, V. 10, N. 12/13, Jan/Dez. 2003. MATOS, Maria Izilda Santos. “Cotidiano e Cidade”. In: Cotidiano e cultura: história, cidade a trabalho. Bauru. SP: EDUSC, 2002, pp. 29-30. MAUÉS, Raymundo H. A ilha encantada: medicina e xamanismo. Belém, Universidade Federal do Pará, 1990. __________________. Padres, Pajés, santos e festas: catolicismo popular e controle eclesiático. Um estudo antropológico numa área do interior da Amazônia. Belém: Cejup, 1995. _________________& VILLACORTA, Gisela Macambira. Pajelança e Encantaria Amazônica. In: PRANDI, Reginaldo. Encantaria Brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2004, p. 21. __________________. A pajelança cabocla como ritual de cura xamânica In: MAUÉS, Raymundo Heraldo & VILLACORTA, Gisela Macambira. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: Edufpa, 2008, pp. 121-125. __________________. Malineza: um conceito da cultura Amazônica. In: BIRMAN, P. NOVAES, R & CRESPO, S. (orgs). O mal à brasileira. Rio de Janeiro: Eduerj, 1997. MEDEIROS, Bartolomeu Tito Figueirôa. Doma Rosinha do Massapê: A cura espiritual pelo Toré In: Religiosidade e Cura. Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/Universidade Federal do Pará, Belém, nº 1, dez. 1980. MENDES, Armando Dias. A invenção da Amazônia. 2ª. Ed. rev. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 1997. MERCANTE, Marcelo Simão. Ecletismo, caridade e cura na Barquinha da madrinha Chica em Rio Branco, Acre. In: Religiosidade e Cura, Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/Universidade Federal do Pará, Belém, nº 1, dez, 1980. MIRANDA, Frei Dourival Ribeiro. Necrológico dos Frades menores capuchinhos da província do Maranhão – Pará – Amapá (1892-2001). Ministro provincial, OFM – cap. MOTTA-MAUÉS, Maria Angélica & VILLACORTA, Gisela Macambira. Matintapereras e pajés: gênero, corpo e cura na pajelança amazônica. In: MAUÉS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, pp. 337-346. MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu In: DEL PRIORE, Mary. História da vida privada. Vol. 1 São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 155-220. MUCHEMBLED, Robert. Uma história do diabo: séculos XII-XX. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001. NICOLAU, Luís Pares. Apropriações e transformações crioulas da pajelança cabocla no Maranhão. In: CARVALHO, Maria Rosário (org.) Índios e Negros: Imagens, Reflexos e alteridade. Salvador/Rio de Janeiro: Projeto Cor da Bahia/Relume-Dumará, 1999.
209
NOBRE, Angélica Homobono. Atravessando fronteiras: viagem rumo à saúde tradicional. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. Belém: UFPA, 2009. OLIVEIRA, José Coutinho et al. Imaginário Amazônico. Belém: Paka-Tatu, 2007. OLIVEIRA, Ana Karina R. et al. Perspectivas Latino-americanas sobre a mundialização da cultura – Anotações. Universidade de São Paulo – USP. OLIVEIRA, Eduardo César S. F. de. 1982. O Misticismo no Brasil. São Paulo: Otto Pierre Editores. PACHECO, Agenor Sarraf. Á Margem dos “Marajós”: cotidiano, memórias e imagens da “Cidade-Floresta” – Melgaço-PA. Belém: Paka-Tatu, 2006. _____________________. Oralidades e letras em encontros nos “Marajós”. Ribeirinhos e religiosos urdindo identidades culturais. In: Coletâneas do Nosso Tempo, UFMT, Ano VII - v. 7. 2008, pp. 15-18. _______________________. En el Corazón de la Amazonía: Identidades, Saberes e Religiosidades no Regime das Águas Marajoaras. Tese de Doutorado em História Social, PUC-SP, 2009. _______________________. História e literatura no regime das Águas: práticas culturais afroindígenas na Amazônia Marajoara. In: Amazônica 01, Belém: UFPA, 2009, pp. 406-441. _______________________. Encantarias Afroindígenas na Amazônia Marajoara: Narrativas Práticas de cura e (in) tolerâncias religiosas In: Horizonte, Belo Horizonte, v. 8, n. 17, pp. 88-92, abr./jun. 2010. _______________________. Visualidades na voz: memórias, patrimônios e conflitos na Amazônia Marajoara. In: Anais do VIII Colóquio de História da Arte. Belém: UFPA, 2011. PACHECO, Gustavo de Britto Freire. Brinquedo de Cura: um estudo sobre a pajelança maranhense. Tese de Doutorado em Antropologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. PELEN, Jean-Noël. Memória da Literatura Oral, a dinâmica discursiva da literatura oral: reflexões sobre a noção de etnotexto In: Projeto História 22. São Paulo: EDUC, 2001. PEREIRA, Franz Kreuther. Painel de Lendas & Mitos Amazônicos. Academia Paraense de Letras, 2001. PEREIRA, Madian de Jesus Frazão. O imaginário fantástico de Ilha dos lençóis: um estudo sobre a construção da identidade albina numa ilha maranhense. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Belém: UFPA, 2000. PEREIRA, Decleoma Lobato. O candomblé no Amapá: imigração e hibridismo cultural. Dissertação de Mestrado em História. Belém: UFPA, 2008.
210
PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do século XIX In: CHALHOUB Sidney. Artes e Ofícios de curar no Brasil. capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, pp. 307- 325. PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Iconografia compulsiva da modernidade, mágicas mecânicas e urbanização”. In: Revista Amazonense de História. Manaus, v.I, nº 1, 2002, pp. 31-39. PINTO, Benedita Celeste de Moraes. O fazer-se das mulheres rurais: A construção da memória e de símbolos de poder feminino em comunidades rurais negras do Tocantins. In: Desafios de Identidade: espaço – tempo de mulher. Orgs. Maria Luzia de Miranda Álvares, Eunice Ferreira dos Santos. Belém: Cejup: Gepem: Redor, 1997. ____________________________. Parteiras, “Experientes” e Poções: o dom que se apura pelo encanto da floresta. Tese de Doutorado em História. São Paulo: PUC-SP, 2004. ____________________________. Nas Veredas da sobrevivência: memória, gênero e símbolos de poder feminino em povoados amazônicos. Belém: Paka-Tatu, 2004. PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na História Oral. In: Proj. História 15. São Paulo: EDUC, Abril/1997, pp. 13-33. ___________________. Forma e significado na História Oral. A pesquisa como um experimento em igualdade. In: Projeto História 14. São Paulo: EDUC, Junho/1997, pp. 07-24. PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. ________________. Encantaria Brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. ________________. A dança dos caboclos: uma síntese do Brasil segundo os terreiros afrobrasileiros. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo & VILLACORTA, Gisella Macambira. Pajelanças e Religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, p. 32. RIBEIRO, Paula. A oralidade marcando território: um estudo sobre o Saara, na cidade do Rio de Janeiro In: Proj. História 22. São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 343-355. RIOS, Kênia Souza. A seca nos atalhos da oralidade. In: Proj. História 22. São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 287-301. RODRIGUES, Silvio Ferreira. Esculápios Tropicais: a institucionalização da medicina no Pará, 1889-1919. Dissertação de Mestrado em História. Belém: UFPA, 2008. ROSENDO, Irmã Maria José. S. Pio X; trabalho de Monografia em homenagem aos quarenta anos da Escola. Arquivo da Sede Regional, 1996. SARGES, Maria de Nazaré. Riquezas produzindo a Belle Époque. Belém: Paka-Tatu, 2002. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2000.
211
SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: ed. Hucitec, 1994. SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: Intelectuais, arte e meios de comunicação; Tradução Rúbia Prates e Sérgio Molina. São Paulo: Editora da USP, 1997. SHAPANAM, Francelino. O Tambor de Mina de encantaria em São Paulo e suas relações com a Umbanda e o Candomblé. In: MAUÉS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, pp. 247-258. SOUSA. Maria José de. Congregação do Preciosíssimo Sangue: Bragança – Capanema. Monografia de Conclusão de Curso, UFPA. 2002. SOUSA, Terezinha de Jesus. Capanema: minha terra, nossa gente e sua história. Capanema: Gráfica Vale, 2010. SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial. 2ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. ___________________. Inferno Atlântico: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. SILVA, Joana Aparecida Fernandes. Relações ecológicas e seres fantásticos. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, 409-419. SILVA, Jerônimo da S. Congregação do Preciosíssimo Sangue: Um Estudo sobre a Memória das Irmãs em Capanema. Monografia de Especialização, UFPA, 2007. SILVA, Marcos Alexandre Pimentel. A cidade vista através do porto: Múltiplas identidades urbanas e imagem da cidade na orla fluvial de Belém-PA. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. Belém: UFPA, 2009. SIQUEIRA, José Leôncio Ferreira de. Trilhos: O Caminho dos Sonhos (Memorial da Estrada de Ferro de Bragança). Bragança, 2008. TERESA, d’Ávila, Santa. Livro da Vida. Tradução de Marcelo Musa Cavallari. São Paulo: Penguin Classics, Companhia das Letras, 2010. THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. _____________. Religião e o declínio da magia: crenças populares na Inglaterra, séculos XVI e XVII. Tradução Denise Bottmann e Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sérgio Silva. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.
212
_______________. A formação da classe operária Inglesa v.1, 2, 3. Tradução Denise Bootmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. ______________. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. ______________. “O Termo Ausente: Experiência” In: A Miséria da Teoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. THOMPSON, Paul “A voz do Passado”. Tradução Célio Lourenço de Oliveira, Ed. Paz e Terra, 1992. THOMSON, Alistair. Recompondo a Memória: questões sobre a relação entre a História Oral e as memórias. In: Proj. História 15. São Paulo. EDUC, Abril/1997, pp. 51-71. TRINDADE, R. “Aqui, a cura é de verdade”: Reflexões em torno da Cura Xamânica em São Caetano de Odivelas-Pa. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Belém: UFPA, 2007. TRONCA, Ítalo. Foucault, A doença e a linguagem delirante da Memória In: BRESCIANI & NAXARA. Memória e (re) sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas. SP: Editora da Unicamp, 2004. UGARTE, Auxiliomar Silva. Margens míticas: A Amazônia no imaginário europeu do Século XVI. In: DEL PRIORE, Mary & GOMES, Flávio dos Santos. Os Senhores dos Rios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. VASCONCELOS, Regina Ilka Vieira. Oralidade e Tradição oral na Caatinga: experiências do sertanejo cearense com assombrações In: Proj. História 22. São Paulo: EDUC, 2001, pp. 303-313. VERGOLINO-HENRY, Anaíza. Um encontro na encantaria: notas sobre a inauguração do “Monumental Místico Rei Sabá”. In: MAUÉS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008. VILLACORTA, Gisela Macambira. Novas concepções de pajelança cabocla na Amazônia (nordeste do Pará). In: MAUÉS & VILLACORTA. Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2008, pp. 103-108. VOLDMAN, Danièle. A invenção do depoimento oral. In: AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, pp. 247-265. VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. Tradução Maria Júlia Cottvasser. São Paulo: Brasiliense, 2004. _______________. As Almas do purgatório. Tradução Aline Mayer e Roberto Cattani. São Paulo: Editora Unesp, 2010.
213
KHOURY, Yara Aun. Narrativas Orais na investigação da História Social. In: Proj. História 22, São Paulo: EDUC, Jun/2001, pp. 79-103. WILLIAMS, Raymond. Cultura. Tradução Célio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. _________________. Marxismo e Literatura, Rio de Janeiro. Zahar, 1979. _________________. O campo e a cidade: na história e na literatura. Tradução Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _________________. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. Tradução de Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007. ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz: A “Literatura” Medieval. Tradução de Amálio Pinheiro (parte 1), Jerusa Pires Ferreira (parte 2). São Paulo: Cia. das Letras, 1993. ______________. Introdução à poesia oral. São Paulo: Hucitec, 1997.