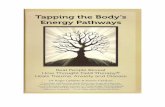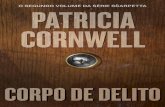O corpo na História Ambiental: de corpos d água a corpos tóxicos
Transcript of O corpo na História Ambiental: de corpos d água a corpos tóxicos
Corpo: Sujeito e objeto — 265
O corpo na História Ambiental: de corpos d’água a corpos tóxicos
Lise Fernanda Sedrez
Ao chegar no topo do morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, o turista en-contra uma estátua com vagos acenos à Vênus de Milo. Um corpo de mulher, sem braços, longos cabelos e cintura estreita, criada por Remo Bernucci nos anos 60, representa a Guanabara Mitológica, e celebra ao mesmo tempo a bele-za natural e os corpos das mulheres cariocas, como explica prestimosamente o letreiro abaixo:
A cabeleira, representa as florestas; Os seios, as montanhas; A cinturas, as praias; A silhueta, a graça da mulher carioca; Aos pés da estátua, a Ibis.
A natureza para Bernucci tem portanto, um corpo – e é um corpo feminino. Esta ideia de uma natureza com corpo não é nova. De fato, a referência
de Bernucci à estética grega clássica, ou à ibis, símbolo de divindade, não é casual. A conexão da Terra e corpo feminino, maternal, é quase arquetípica na cultura ocidental. Mas a forma que esta corporificação do mundo não humano assume ao longo dos séculos varia imensamente. Estas mudanças assinalam momentos diversos na relação sociedade e natureza – um tema caro à história ambiental.
Neste texto, assinalo algumas reflexões sobre o corpo promovidas por historiadores ambientais, e como estas têm implicações sobre a forma como pensamos a natureza. Não é o caso aqui de reconstruir a trajetória da história ambiental, mas talvez possamos simplesmente lembrar a proposta de Donald Worster, que sugere três diferentes níveis de investigação a partir dos quais se estrutura a disciplina. O primeiro diz respeito à organização e funcionamento da natureza no passado, a um entendimento da natureza propriamente dita. Aqui, segundo Worster, se incluem
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 265 3/14/13 8:56 AM
266 — Corpo: Sujeito e objeto
tanto os aspectos orgânicos quanto inorgânicos da natureza, inclusive o or-ganismo humano, que tem sido um elo nas cadeias alimentares da natureza, atuando ora como útero, ora como estômago, ora como devorador ou ora como devorado, ora como hospedeiro de micro-organismo, ora como uma espécie de parasita.1
Em um segundo nível, a história ambiental se ocupa da esfera socieconômico, nas interações entre homem e natureza. Trabalho, tecnologia, transformações de paisagem, estes elementos constituem os modos como sociedades se apropriam da natureza para produzir bens, riquezas e relações sociais. E finalmente, um terceiro nível diz respeito ao mundo da imaginação, da ética, da forma como sociedades atribuem sentido e valor à natureza. Aqui se incluem os mitos, as percepções e as múltiplas representações que as sociedades constroem sobre a natureza – como, por exemplo, o corpo mitológico da Guanabara.
Então, onde podemos encontrar o corpo na história ambiental? De fato, em todos estes três níveis propostos por Worster. No primeiro nível, a imagem do corpo está presente mesmo no enunciado do historiador, quando este compara organismos humanos a úteros ou estômagos de uma cadeia alimentar. Mas, se refletirmos sobre o segundo nível, também são corpos que trabalham a terra, mudam paisagens, extraem da terra o produto e comem o que produzem, com consequências tanto para os corpos como para a terra – como, por exemplo, quando a terra e os corpos que nela trabalham são expostos a agentes químicos manufaturados como DDT que fazem parte do modo de produção. Comecemos, no entanto, pelo terceiro nível, ou sobre as representações corpóreas da natureza.
O corpo da naturezaRepresentações antropomórficas de forças naturais são, como mencionamos acima, bastante antigas, e não só na sociedade ocidental. Em especial, a Terra, como força fértil, nutriz, era associada ao corpo feminino. Outros elementos naturais, como o trovão ou as águas, também teriam inúmeras representações antropomórficas, masculinas e femininas. Apenas para continuarmos na tradição grega clássica, podemos encontrar ninfas marinhas ou o deus Posseidon. O conceito de physis, no entanto, ou mesmo posteriormente sua versão latina natura, ainda não recebera uma representação clara, corporificada, até a era moderna, mas mesmo antes disto, como demonstra Carolyn Merchant, este era concebido como feminino na maior parte das tradições intelectuais
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 266 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 267
ocidentais.2 A imagem que emerge na era moderna evolui durante o medievo, combinando deusas clássicas, como Diana e Ceres, representadas com múltiplos seios, e a virgem grávida, tão cara ao Cristianismo. A Natureza então vista era ao mesmo tempo como casta e fecunda.
Figura 1Natureza retratada como uma jovem virgem, mas com os seios cheios de leite.3
Em Merchant, aliás, pode-se ver o quanto esta metáfora de natureza femi-nina influenciou a gênese da ciência moderna. Assim como a virgem grávida, a figura da mãe e da donzela dominam as descrições sobre natureza, numa mímese das hierarquias sexuais do período. Homem e Natureza podem por exemplo ser unidos em harmonia, como num matrimônio. Ou, numa metáfora alternativa, a Natureza é uma fêmea caprichosa, ciumenta de seus segredos, que devem ser descobertos através da incessante, impiedosa e, por que não?, vio-lenta investigação científica. Francis Bacon, considerado um dos fundadores da ciência moderna, desenvolve esta imagem, em uma passagem famosa, que compara o método científico a uma penetração forçada da Natureza:
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 267 3/14/13 8:56 AM
268 — Corpo: Sujeito e objeto
Nem deve um homem ter escrúpulos de entrar e penetrar nestes buracos e ângulos [da natureza], quando a inquisição da verdade é seu [único] objetivo.4
A interpretação desta passagem como uma metáfora para estupro, por Merchant e outros, tem sido questionada por autores diversos, mas para os fins deste texto, ela ilustra como o gênero imposto à Natureza estabelece um grau de hierarquia entre homem e natureza correlato ao existente entre homem e mulher.
Reforçando o argumento de Merchant sobre as relações entre a gênese da ciência e o corpo feminino da natureza, Londa Schiebinger aponta que a corporificação não se limita a metáforas ilustrativas. Em seu livro Nature’s Body, Schiebinger mostra como elementos raciais e sexuais se entrelaçam nas descrições do mundo natural do século XVIII. A hierarquia de poder das sociedades humanas era natural, e portanto também podia ser identificada na natureza não humana. As plantas, descobriam os botanistas da era moderna, se reproduziam sexuadamente; portanto deviam ter também relações passionais, comuns a machos e fêmeas, casamentos polígamos, ou angustiados incestos. O corpo das plantas imitava o corpo humano – com erotismo, romantismo, sexo lícito e ilícito, e algumas vezes quase santificado por um matrimônio.5
Não só as plantas sofriam este processo de antropoformização. Os natura-listas que descreviam os grandes gorilas para seus conterrâneos europeus, nas ilustrações vestiam as fêmeas em roupas de seda como damas da sociedade inglesa, e atribuíam aos machos os vícios e paixões do corpo humano.6
O corpo da Natureza continuaria a surgir em imagens ocidentais, seja como metáfora, seja como alegoria. William Blake, em 1796, na imagem “Europe Supported by Africa and America”, representa os continentes com corpos de mulheres, numa pose que evoca as imagens renascentistas das Três Graças. No centro, uma jovem de cabelos louros e pele alva; à esquerda e à direita, uma jovem negra de cabelos crespos, outra de pele morena e cabelos lisos (mas ambas com traços bastante europeus), a sustentam. Trata-se de uma alegoria de relações coloniais, e não fraternidade, como bem lembra Schiebinger. Segundo a autora, John Stedman no texto que acompanha a imagem clama que todos são criados pela mesma mão e pelo mesmo molde, mas não todos são iguais quanto à autoridade.7
A corporificação da natureza teria ainda muitas outras versões. Um exem-plo recente e intrigante, porém, é a Hipótese Gaia, desenvolvida pelo cientista inglês John Lovelock nos anos 1970. Para Lovelock, a terra não só tem um corpo,
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 268 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 269
como é um corpo, se por corpo entendemos uma entidade complexa, com capa-cidade de autorregulação química e biofísica. O corpo de Gaia inclui a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera, que interagem, e, como no corpo humano, a clas-sificação de processos químicos e biológicos é fundamentalmente acadêmica.9 Lovelock desenvolve melhor o conceito do corpo complexo de Gaia nos seus livros seguintes, como Homage to Gaia. Neste, o autor compara a capacidade de regulação da temperatura dos corpos humanos à capacidade do planeta de man-ter condições químicas otimais para organismos vivos. Segundo o autor,
Eu vi [a terra] como um planeta que sempre teve, desde suas origens quase quatro milhões de anos atrás, se mantido como um lar adequado para a vida que surgiu neste e eu pensei que fazia isto por homeostase, a sabedoria do corpo, exatamente como eu e você mantemos nossa temperatura e química constantes.10
A Hipótese Gaia foi severamente criticada por vários cientistas, especial-
mente biólogos, mas inspirou um rico debate no movimento ambientalista emergente nos anos 1980, com ecos importantes inclusive na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992. Sua popularidade demonstra porém a resiliência da ideia de um corpo da
Figura 2“Europe Supported by Africa and America”, por William Blake, 1796.8
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 269 3/14/13 8:56 AM
270 — Corpo: Sujeito e objeto
natureza, embora este conceito de corpo, assim como o conceito de natureza, sejam construídos historicamente.
Historiadores ambientais, por sua vez, se estudam as imagens que sociedades constroem sobre a natureza, também contribuem para o acervo de ideias de corpos da Natureza. Corpos d’água podem ser por exemplo entendidos como sistemas abertos, com os quais as sociedades se relacionam no tempo. São uni-dades de análise importantes para historiadores ambientais cujas investigações não se conformam aos limites políticos, locais ou nacionais. Nas últimas déca-das, estudos sobre bacias, baías, rios, oceanos, lagoas, têm se mostrado pontos de partida fecundos para narrativas de história ambiental.11
Em outro exemplo, o conceito de metabolismo, que na sua origem se referia explicitamente aos processos bioquímicos que ocorrem dentro de organismos, foi apropriado, desde o início deste século, por historiadores ambientais para entender as relações entre sociedade e natureza. Em particular, o historiador espanhol Manuel González de Molina desde 2004 desenvolve o conceito de me-tabolismo social, com foco nos processos de absorção, transformação e excreção de materiais e energias que as sociedades humanas estabelecem ao longo da história. Neste conceito, vagamente inspirado pela Hipótese Gaia, González de Molina propõe que as divisões entre natureza e sociedade devem ser revistas em favor da ênfase nos processos que unem uma à outra, e não nas características que as separam. Levando a analogia um pouco além, natureza e sociedade com-põem um corpo vivo, com processos ativos – mas não se trata do corpo imutável, universal de uma Natureza/Criação, como nas imagens do século XVIII, ou homogêneo e autorregulatório, como na hipótese de Lovelock. Ao contrário, o “corpo” natureza/sociedade se constrói pelos vários processos sociais que regu-lam seu metabolismo. Em outras palavras, a forma como sociedades consomem, transformam e excretam materiais e energia estabelece não sua “relação com a natureza”, como se esta relação fosse externa às sociedades humanas, mas a dinâmica histórica mesma que constitui a sociedade.12
Portanto, a identificação de um corpo da natureza não se limita necessaria-mente a metáforas e representações, mas implica formas específicas de entender a natureza – e também as sociedades humanas que fazem parte desta no passado e no presente.
A natureza do corpoSe há, portanto, um corpo da natureza, o que dizer da natureza no corpo? A história ambiental parte da premissa de que as sociedades humanas estão
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 270 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 271
inseridas na natureza, seja em mentalidades, seja na sua esfera produtiva, mas também na materialidade física dos organismos humanos. Como na ci-tação anterior de Worster, o corpo humano consome natureza e por vezes é hospedeiro de outros organismos; pode ser estômago ou útero. É necessário então ver também historicamente este corpo humano, entendido como parte do mundo natural.
A percepção do homem como mais uma parte da Criação – e não necessariamente seu senhor – é um produto do Iluminismo, mas se populariza de fato com a Revolução Darwiniana. Mesmo em um período tão tardio como 1967, o biólogo Desmond Morris causou enorme polêmica em seu livro O Macaco Nu, que na versão original tinha o subtítulo: o estudo de um zoologista sobre o animal homem. Um sucesso internacional de vendas por muitos anos, O Macaco Nu explicava o corpo humano – e mesmo a sociedade humana – com uma linguagem estritamente biológica. Na verdade, uma das críticas à teoria de Morris era que este estendia sua lógica para atributos menos físicos, como amor ou monogamia – e com isto, ele “naturalizava” e “des-historicizava” valores, no sentido de torná-los atemporais e universais.13 Independente da crítica por biólogos evolucionistas, historiadores e sociólogos, O Macaco Nu continua sendo uma leitura fascinante sobre o lugar do homem no reino animal – e uma tentativa de entender o corpo humano em seus detalhes específicos, como o formato dos seios, a cor dos lábios, o tamanho das ancas, e a existência de zonas erógenas.
Poucos anos depois, Edgar Morin também contribuiu para o debate da na-tureza do homem. Em 1973, o filósofo publicou Le Paradigme perdu: la nature humaine – em português, Enigma do Homem: para uma nova antropologia.14 Buscando um caminho diverso de Morris, Morin não explica a evolução do corpo pelo aspecto puramente biológico, mas como paralelo à evolução da so-ciedade. O corpo humano, para Morin, se desenvolve num processo de “socio-biogênese”, isto é, a evolução física só teria sido possível com a evolução social. Assim, o controle sobre o fogo, que permite uma digestão fora do corpo, torna supérflua a necessidade de uma mandíbula poderosa e pesada, e abre espaço para a evolução de uma caixa craniana com mais espaço para o cérebro que para o maxilar. A natureza do corpo humano é portanto a natureza da socie-dade. O corpo humano não é o de um macaco nu, mas de um ser social, que só pode evoluir no seio de uma sociedade que também evolui.
Quase quarenta anos depois da publicação do seu livro, a ênfase de Morin na sociobiogênese continua atual. Pesquisas em biologia evolucionista sugerem
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 271 3/14/13 8:56 AM
272 — Corpo: Sujeito e objeto
por exemplo que o papel de “avós”, ou seja, mulheres que já passaram do período reprodutivo, foi fundamental em garantir fontes confiáveis de carboidratos (tubérculos), o que teria permitido saltos evolutivos em relação ao tamanho do cérebro. Isto torna a existência da menopausa uma vantagem evolucionária na sociedade humana, e de novo evidencia o elo entre corpo, natureza e sociedade.15
Seria esta a abordagem da história ambiental para o corpo humano? Não exa-tamente. Historiadores ambientais são certamente influenciados pela biologia evolucionária e pela antropologia histórica, no sentido da continuidade entre as esferas “social” e “natural” (ou física). Mas o tempo que nos interessa é o chama-do “tempo histórico”. Assim, o que é importante para historiadores ambientais é considerar que o corpo continua sendo natural para além do processo físico de evolução. Entender estas características naturais do corpo é uma tarefa necessá-ria para entender as relações humanidade e natureza.
Costumo dizer a amigos e alunos, por exemplo, que para cada novo país ou região que visito, tento compreender como as pessoas do lugar comem, amam e morrem. Não se trata de simplesmente justificar minha paixão pessoal por tu-rismo gastronônico (o que é bastante comum) ou por visitas a cemitérios (já não tão comum). Mas porque estas três esferas – da sobrevivência cotidiana, da re-produção e da mortalidade – concentram em si os dilemas que todas as socieda-des humanas enfrentam: elas são compostas de corpos que devem se alimentar, que devem reproduzir, e que irão morrer. Incluir estes elementos nas narrativas históricas significa seguir os conselhos de William Cronon para a história am-biental: as narrativas têm que fazer sentido ecologicamente, ou seja, devem levar em consideração os limites e o funcionamento do mundo natural.16
Na busca por narrativas que “façam sentido ecologicamente”, historiadores ambientais incorporaram a discussão sobre corpos na história à disciplina com entusiasmo. A produção de alimentos – que se enquadra, na discussão citada de Worster como citamos acima, na área de produção socioeconômica – é por exemplo o foco do excelente trabalho de Sidney Mintz, Sweetness and Power. Um antropólogo histórico, Mintz usa categorias marxistas de consumo e pro-dução para discutir como a produção e o consumo de açúcar transformaram não só as relações atlânticas, mas também o modo de produção ocidental, as paisagens do Novo Mundo, e a dieta da Revolução Industrial.17 Através da nar-rativa de Mintz, porém, o leitor aprende como os corpos humanos estão envol-vidos nestas transformações. São corpos que percebem a doçura e o amargo, ou corpos negros que atravessam o Atlântico em algemas para trabalhar nos
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 272 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 273
campos e em linhas de montagem nos engenhos de açúcar; corpos de operá-rios que, alienados das áreas locais de produção de alimentos, dependem mais e mais do açúcar vindo da Jamaica para suprir suas necessidades calóricas. Finalmente, corpos modernos que se habituam a considerar a doçura como o gosto preferencial, e exigem a adição de adoçantes como glucose de milho em alimentos industriais. São, tendencialmente, corpos obesos.
Alfred Crosby, um dos fundadores da história ambiental, também dedicou uma parte significativa de seus estudos à produção de alimentos. Em 1972, Crosby publicou The Columbian Exchange18, em que analisa o impacto das grandes navegações da era moderna nos ecossistemas do Novo e do Velho Mundo. O livro estabeleceu o conceito de “troca colombiana” para designar a migração de espécies domesticadas e não domesticadas entre as duas margens do Atlântico. Batatas, milho, tomates viajaram de oeste para leste, enquanto ovelhas, vacas, galinhas, café, bananas fizeram o caminho inverso. E o mundo nunca mais seria o mesmo.
Quatorze anos depois, em 1986, Crosby publicou The Ecological Imperia-lism, no qual esta ideia é desenvolvida com mais detalhes.19 Ele retoma também um dos temas clássicos sobre a conquista do Novo Mundo: a vulnerabilidade dos ameríndios às doenças europeias, como a terrível varíola. O corpo aqui, hospedeiro ele mesmo de uma vasta flora e fauna, torna-se uma arma crucial na dominação dos povos do Novo Mundo. Varíola, catapora, mesmo a gripe, redesenham o mapa demográfico das Américas, em um curto período de tem-po. As esferas alimentação, reprodução e morte não estão muito separadas, em Crosby. Por um lado, o autor sugere que a proximidade dos europeus com animais domésticos, quase ausentes no continente americano pré-colombiano, explicaria sua exposição e maior imunidade a uma longa lista de patógenos, letais para os ameríndios. Por outro lado, a tolerância à lactose após o período de aleitamento, novamente consequência da convivência dos europeus com gado leiteiro (primordialmente vacas ou ovelhas), oferece aos descendentes dos conquistadores comparativamente uma maior chance de sobrevivência na infância.
Crosby talvez seja um dos mais conhecidos historiadores ambientais que estudam doenças, parasitas e pandemias do ponto de vista do meio ambiente. Mas muitos outros o acompanham. Elizabeth Fen, em Pox Americana: The Great Smallpox Epidemic of 1775-82, analisa a forte conexão entre guerra e varíola, a partir de sua pesquisa sobre Guerra de Independência dos EUA e
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 273 3/14/13 8:56 AM
274 — Corpo: Sujeito e objeto
a epidemia de varíola de 1775. O contágio, favorecido pelo movimento das tropas, atingia de forma diversas corpos masculinos, infantis, de índios ou de negros – e o trabalho de Fen revela como as estratégias de combate à epidemia tornaram-se tão vital para os generais americanos e britânicos como as decisões sobre os campos de batalha.
Reprodução e mortalidade, por sua vez, têm inspirado trabalhos recentes e inovadores em história ambiental. O excelente livro de Nancy Langston, Toxic Bodies, discute as consequências do uso massivo de hormônios como estrogênio sintético (mais exatamente, diethilstilbestrol ou DES), nos corpos humanos e no ambiente, desde 1941. Após mais de 60 anos de exposição a hormônios sintéticos, seja por ingestão direta ou por consumo de alimentos (gado bovino e ovino) e água, quais as consequências para o corpo humano, em tarefas “naturais” como amamentação? O século XX tornou químicos industriais, especialmente químicos persistentes, com uma longa vida, cada vez mais parte do chamado mundo natural. Relações tradicionais de sociedades com lagos, baías, solos, animais, atmosfera, oceanos, implicam agora, e provavelmente no futuro, exposição também a estes químicos, de uma forma sem precedentes. Langston conclui assim que a “ecologia de uma gravidez sadia está intimamente ligada a ecossistemas mais amplos, e não só a gens individuais ou escolhas feitas pela mulher”.20
Finalmente, se estudos sobre alimentação e a reprodução acentuam o cará-ter natural do corpo humano na história, aqueles sobre mortalidade também o fazem, e talvez de uma forma ainda mais direta. A pesquisa de Ellen Strout, de Bryn Mawr College, sublinha a ecologia do corpo morto. Enterros, cremações, mumificações, podem ser vistos como rituais religiosos, mas também com as-pectos tecnologicos e ecológicos. No seu estudo “From Six Feet Under the Field: Dead Bodies in the Classroom”, parte de um projeto maior com o título de Dead As Dirt: An Environmental History of the Dead Body, Strout olha para a história ambiental de cadáveres nos Estados Unidos da América no século XX.21 Práticas funerárias e tecnologias para a disposição de corpos mudaram paisagens nas ci-dades americanas – crematórios e cemitérios em cidades de mais de um milhão de habitantes devem necessariamente considerar questões de saúde pública. Mas os corpos a serem descartados também são diferentes: baterias em marca-pas-sos, silicones nos seios, próteses nas pernas, e dentes com mercúrio requerem cuidados que vão além dos tradicionais ossários. Strout se pergunta portanto de que forma os ecossistemas acolhem estes corpos em decomposição, e quais as implicações disto para as necrópoles modernas.
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 274 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 275
Se pensar o corpo da natureza nos leva a indagações em relação às ideias ocidentais sobre natureza, a pergunta sobre a natureza do corpo trás em seu bojo um novo entendimento sobre as relações entre corpo e sociedade, e sobre corpo e poder. A meu ver, mesmo estudos mais abstratos sobre o corpo na história não podem prescindir de considerar esta materialidade natural que compõe os ossos, carne e nervos dos membros das sociedades.
Os cinco aspectos do corpo na historiografia Após argumentar pelo lugar do corpo na história ambiental, é hora talvez de sistematizar as contribuições desta historiografia desde a criação da disciplina no início dos anos 1970. Neil Maher, em um artigo publicado em 2010, identifica cinco fases gerais, ou “eras historiográficas”, não necessariamente sucessivas nem excludentes, em que historiadores ambientais escreveram sobre os corpos humanos.22
Nesta primeira fase, corpos como doenças, Maher comenta o trabalho de Alfred Crosby, The Columbian Exchange, como tendo apresentado o debate sobre corpos a historiadores ambientais. Até então, a disciplina parecia fadada a manter seu foco em florestas e sertões, e ecossistemas sobre os quais seres humanos exerciam influência, sem que seus corpos fossem parte intrínseca dos mesmos. Crosby abriu espaço para várias outras obras hoje clássicas no campo, nas quais fontes demográficas e epidemiológicas tiveram um papel fundamental. A fecundidade deste tipo de pesquisa não pode ser subestimada. Carolyn Merchant faz parte também desta geração, incluindo questões so-bre gênero, reprodução e racialização no debate. Em outras palavras, mesmo quando se fala do corpo humano como hospedeiro de doenças e patogênios, não se trata de uma categoria homogênea.23 Doenças em corpos femininos têm consequências diretas na capacidade de reprodução de uma sociedade, tanto social como biológica, e doenças em corpos escravizados também têm consequências diversas na estrutura do modo de produção daquela sociedade.
A crítica de Maher, no entanto, é que estes primeiros trabalhos abordam mais as doenças nos corpos do que os corpos com doenças. Os corpos estu-dados eram antes um vetor para a difusão das doenças do que um objeto de investigação em si.24
Nos anos 1990, no entanto, este quadro mudou, iniciando o que Maher chama da segunda era historiográfica do corpo na história ambiental, sobre corpos no trabalho. Christopher Sellers publicou então seu livro Hazards of
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 275 3/14/13 8:56 AM
276 — Corpo: Sujeito e objeto
the Job: From industrial disease to environmental health science, que amplia o debate sobre o corpo na disciplina.25 Sellers cursara medicina, antes de obter seu doutorado em história, e sua formação profissional exercia uma influência decisiva na forma como seu trabalho contemplava o corpo. Em Hazards of the Job (que pode ser traduzido livremente como “Ossos do Ofício”), Sellers identifica no movimento higienista do início do século XX, em especial os profissionais de saúde que agiam junto a trabalhadores industriais, as bases da ciência ambiental moderna. Sellers usa como fontes as fichas clínicas de operários, em que corpos de trabalhadores são descritos com detalhes, em suas debilidades, características físicas e cicatrizes. O corpo não é só o lugar da doença, para Sellers, mas um agente histórico, que é usado em campanhas públicas e como base para produção de conhecimento científico.
Seguindo a estrada aberta por Sellers, historiadores como Arthur McEnvoy e Andrew Hurley avançaram nos estudos de corpo no ambiente de trabalho. Na década de 1990, Hurley propôs que estudos de história de corpo e meio ambiente deveriam considerar as desigualdades e assimetrias de poder intrín-secas aos processos de produção, e questões como justiça ambiental deveriam fazer parte da agenda de pesquisa. No caso estudado por Hurley, isto se mani-festava pela forma desigual com que a poluição da sociedade industrial afetava a saúde física dos trabalhadores, seja no ambiente de trabalho ou nas vilas operárias na cidade de Gary, Indiana.26 No caso de McEnvoy, tratava-se de uma questão mais teórica: McEnvoy propunha que os ambientes de trabalhos fossem vistos como “sistemas ecológicos, nos quais ao centro está o corpo do trabalhador”.27 McEnvoy dá ênfase portanto ao corpo físico do trabalhor, em seu suor, pele, músculos e ossos, para ser usado como categoria da análise, em contraste com estudos que privilegiam exclusivamente atitudes sociais sobre o corpo. Mas ainda demoraria para que o apelo de McEnvoy fosse ouvido.
Mais ou menos no mesmo período, surge a terceira era historiográfica, que desta vez Maher chama de corpos inscritos. Aqui, o trabalho catalizador foi a obra de Richard White, The Organic Machine, publicada em 1995.28 Nele, White urge cautela contra narrativas declencionistas na história ambiental, isto é, narrativas que invariavelmente se iniciam na descrição de uma sociedade em harmonia e concluem com um quadro pior, de desequilíbrio. Neste processo, toda a intervenção humana é vista como destruidora. Para White, as narrativas puramente declencionistas tendem a obliterar ou depreciar os processos de
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 276 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 277
trabalho pelos quais as sociedades aprendem sobre o meio, as florestas, e os campos. Os trabalhos físicos de cortar, plantar, colher, drenar, conduzir gado, ou desviar rios colocam corpos humanos em contato com a natureza, e daí se desenvolvem conhecimentos e conceitos sobre a relação com o meio. Mesmo quando altamente mediados por tecnologia, ainda é o corpo humano que está envolvido nestes processos transformativos, que mostram a permeabilidade dos conceitos de natureza e cultura.
Esta “experiência corpórea” da natureza não se faz somente através do tra-balho, mas pode também traduzir uma gama de desejos de uma sociedade urbanizada. O turismo, com suas hordas de citadinos em busca da experiência monumental dos parques nacionais; as colônias de férias, em que jovens se tor-nam homens no contato com a natureza; os campos penais, em que o trabalho braçal junto aos elementos se anuncia como forma de redenção; todos passam pela pena dos historiadores ambientais desta geração. De fato, esta perspectiva permitiu inclusive novas leituras de um dos mais importantes mitos funda-dores da sociedade norte-americana, ou seja, a importância da fronteira (en-tendida como natureza a ser desbravada) na formação do caráter nacional. O trabalho de Maher mesmo se insere neste grupo, ao examinar o esforço pro-movido pelo governo de Franklin Delano Roosevelt de empregar mais de três mil jovens em projetos de conservação de solo e florestas, no bojo do progra-ma New Deal em combate à Grande Depressão. Em Nature’s New Deal, Maher afirma que o trabalho corporal em prol de um patrimônio natural/nacional destes jovens era divulgado pelas agências federais como um prenúncio da recuperação da força e do vigor do país, em analogia à saúde e ao vigor de bí-ceps dos trabalhadores. Muitos deles imigrantes recentes, era o trabalho físico de contato com a natureza que os transformava de jovens poloneses, judeus ou italianos em americanos, em uma referência pouco sutil ao trabalho dos pioneiros na fronteira do oeste do século XIX.29
A quarta era historiográfica de Maher, corpos culturais, retoma a contribuição de Carolyn Merchant sobre a importância do gênero para a história ambiental, quase vinte anos depois. Não obstante a importância do tema, o argumento de Maher fica um pouco enfraquecido pelo seu foco em um único livro – ainda que contendo vários autores. Trata-se da coletânea produzida por Virginia Sharff, como resultado de várias mesas sobre gênero e meio ambiente organizadas para os encontros de 2001 e 2002 da American Society for Environmental History, cujo título é Seeing Nature Through Gender.30 Mas é uma falha compreensível
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 277 3/14/13 8:56 AM
278 — Corpo: Sujeito e objeto
quando se percebe o alcance e a diversidade dos artigos reunidos no volume. Corpos de todos os tipos povoam o volume: corpos de bombeiros que anunciam a masculidade em atos de bravura contra os elementos, corpos masculinos de instrutores de esqui que vendem a indústria, a sexualidade e o contato com a natureza, e corpos femininos que descobrem o atletismo da mulher também na conquista da neve. Mas, assinala Maher, se o volume traz a discussão do gênero para a linha de frente da história ambiental, também retorna a uma discussão principalmente cultural do corpo, perdendo um pouco o terreno construído pe-las últimas duas eras historiográficas.31
A quinta e última era historiográfica que surge no esquema de Maher rece-be o título de corpos em equilíbrio. Para Maher, esta última era busca equilibrar tanto interpretações culturais como discussões materiais sobre corpos huma-nos, e para isto alia duas importantes tradições historiográficas: a história da saúde e medicina de um lado, e a história ambiental do outro. Maher identifica como marco para esta fase a publicação do número especial da revista Osiris, “Landscapes of Exposure: Knowledge and Illness in Modern Environments”,32 e de livros autorais com similar abordagem, instigados pela publicação deste volume. Vemos aqui novamente os esforços de Christopher Sellers, em busca de uma combinação das ideias de Foucault, onde o corpo é principalmente uma construção cultural, e de E. O. Wilson, para o qual o corpo é principal-mente uma entidade biológica natural. Mas vemos também o resultado das reflexões produzidas nas eras historiográficas anteriores.
Neste sentido, a obra de Linda Nash, Inescapable Ecologies: A History of Envi-ronment, Disease and Knowledge, exemplifica perfeitamente esta preocupação.33 Nash retoma um tema abordado por autores clássicos como Cronon e White, a saúde dos pioneiros nos EUA, em seu caso, que ocuparam o Central Valley da Califórnia. Nash combina a experiência física da ocupação do oeste com as transformações do conhecimento científico sobre contágio e contaminação. Para Nash, a chegada dos colonos na Califórnia coincidia com a prevalência da teoria de miasmas, segundo a qual paisagens insalubres produziam doenças como a malária. A paisagem, a natureza, os pântanos, eram vistos nesta perspectiva, e as sociedades se organizavam para combater os humores e miasmas naturais. A substituição da teoria dos miasmas pela teoria dos germes, que dizia que agentes dentros dos corpos, e não paisagens, eram transmissores de doenças, muda o foco das preocupações sanitárias dos colonos. Nash argumenta que esta mu-dança de certa forma faz com que os colonos percam uma conexão importante
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 278 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 279
entre corpo e natureza – assim como uma fonte bastante útil de conhecimen-to sobre o mundo natural. Esta conexão seria de alguma forma restabelecida quando a agricultura industrial, com pesticidas e contaminação de águas, gera novas preocupações entre paisagens tóxicas e a saúde dos corpos. Nash vê neste estudo evidência de que a compreensão da doença e da saúde se constrói simul-taneamente através de realidades culturais e materiais, e portanto estas histórias devem compor em conjunto o tecido narrativo.34
A síntese de Maher sobre o papel dos corpos na historiografia ambiental, por instigante que seja, contempla principal se não exclusivamente obras que versam sobre a história ambiental norte-americana. Esta discussão é mais am-pla, porém, e estudos da Europa, da América Latina e da Ásia também têm contribuído para o debate.
O trabalho de Peter Thorsheim, por exemplo, Inventing Pollution, estabelece parâmetros importantes para o debate legal sobre poluição na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial. Neste estudo já clássico, Thorsheim identifica o corpo como a arena em que se disputa o limite aceitável para a poluição. O corpo é, no livro de Thorsheim, um dos personagens principais. Não só o Império Britânico e o smog são representados como corpos com características físicas reconhecíveis nas caricaturas e ilustrações dos jornais, como são corpos físicos os que vivem a experiência da poluição. Os olhos ficam cegos quando a poluição atmosférica ultrapassa níveis aceitáveis, os pulmões queimam com a fumaça, e os corpos infantis urbanos riscam a degeneração por viverem em ambientes esfumaçados e insalubres.35
Na América Latina, Fernando Ramirez Morales iniciou uma pesquisa promissora sobre cidade, corpo e natureza, com foco sobre a cidade de Santiago do Chile. Em trabalho apresentado no VI Simpósio da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, Ramirez Morales sugere que as novas demandas sobre os corpos representam novas e pesadas demandas também sobre a natureza e os recursos naturais.36 Trilhando uma estrada própria, Ramirez responde de certa forma ao chamado de Maher por uma narrativa cultural e física dos corpos na história ambiental. Corpos sem odor ou fedor, higienizados, precisam de instalações de banhos, encanamentos e uso privativo e abundante de água. Anúncios para bidês, promoção da higiene pessoal e íntima, ou a valorização do banho pessoal frequente, acontecem ao mesmo tempo em que a cidade delimita áreas onde o banho público é vedado, e onde aumenta significativamente a intolerância a fezes e urina nas ruas, de homens ou animais. A
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 279 3/14/13 8:56 AM
280 — Corpo: Sujeito e objeto
urbes moderna deve ser tão asséptica – e inodora – quanto possível. Isto significa um investimento massivo em canalizações e sistemas de esgoto, com apropriação burocrática de corpos d’água tanto para obtenção de água limpa como para destino de águas sujas. A modernização das cidades latino-americanas na virada do século XX é talvez um dos temas mais abordados pela historiografia latino-americana moderna, mas Ramirez consegue oferecer a este uma nova perspectiva ao introduzir o corpo nesta paisagem urbana, que é cultural e natural.
A história ambiental portanto tem também um “corpo” de pesquisa sobre o corpo, que tende a crescer. Nos campos, nas cidades, nos laboratórios e nos ga-binetes, a experiência humana da natureza passa por uma experiência corpórea, que não pode ser ignorada pela história ambiental. As múltiplas formas como esta experiência tem sido discutida, ou como o corpo se faz presente nos estudos de história ambiental, é uma prova da fecundidade da área. Corpos sagrados, corpos filosóficos, corpos grávidos, corpos doentes e sãos, possuem uma mate-rialidade natural que torna extremamente relevante a contribuição da história ambiental. Sublinhar, celebrar mesmo esta materialidade não significa esquecer que corpos são também culturalmente construídos – mas significa contemplar a complexidade inerente do corpo histórico, ao mesmo tempo cultural e material.
Notas1WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 198-215, 1991. p. 202, grifo meu.2MERCHANT, Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper & Row, 1980.3COCHIN, Charles; GRAVELOT, François. Iconologie par figures: ou Traité complet des allégories, emblèmes, etc. Originalmente publicada em 1791. Genebra: Minkoff Reprint, 1972, sec. V “Nature” apud SCHIEBINGER, Londa. Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2004, p. 58.4“Neither ought a man to make scruple of entering and penetrating into these holes and corners, when the inquisition of truth is his sole object.” BACON, Francis. De Dignitate et Augmentis Scientiarum (1623) (Works, vol. 4, p. 294, 296) apud MERCHANT. The Death of Nature, op. cit., p. 168; tradução minha.5SCHIEBINGER, Nature’s Body, op. cit., p. 23.
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 280 3/14/13 8:56 AM
Corpo: Sujeito e objeto — 281
6SCHIEBINGER, Nature’s Body, op. cit., p. 105ss.7STEDMAN, John. Narrative of a Five Years’Expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Publicado originalmente em 1796. Baltimore: John Hopkins University Press, 1988. Apud SCHIEBINGER, Nature’s Body, op. cit., p. 105ss.8STEDMAN. Narrative of a Five Years, op. cit. apud SCHIEBINGER, Nature’s Body, op. cit., p. 105ss.9LOVELOCK, James. Gaia: A New Look at Life on Earth. 3. ed. Oxford: Oxford University Press. 2000.10LOVELOCK, James. Homage to Gaia: The Life of an Independent Scientist. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 2; tradução minha.11Exemplos destes seriam BOOKER, Matthew. Oyster Growers and Oyster Pirates in San Francisco Bay. Pacific Historical Review, v. 75, n. 1, p. 63-88, 2006; KELMAN, Ari. A River and Its City: The Nature of Landscape in New Orleans. Berkeley: University of California Press, 2006; ou OLIVER, Stuart. The Thames Embankment and the Disciplining of Nature in Modernity. The Geographical Journal, v. 166, n. 3, p. 227-238, 2000.12TOLEDO, Vitor; GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, Manuel. El Metabolismo Social: Las Relaciones Entre La Sociedad y La Naturaleza. In: GARRIDO PEÑA, Francisco; GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, Manuel; SERRANO MORENO, José Luis; SOLANA RUIZ, José Luis (Orgs.). El Paradigma Ecológico En Las Ciencias Sociales. Barcelona: Icaria, 2007, p. 85–112.13Outra crítica importante é que ele veria a evolução darwiniana quase como teleológica, ignorando a importância do acaso. MORRIS, Desmond. O Macaco Nu. 11. ed. Rio de Janeiro: Record, 1967. 14MORIN, Edgar. O enigma do homem: para uma nova antropologia. Trad. Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.15O’CONNEL, James Francis; HAWKES, Karen; BLURTON, N. Meat-eating, grandmothering and the evolution of early human diets. In: UNGER, P. and TEAFORD, M. (Orgs.). Human Diet: Its Origin and Evolution Westport, CT: Bergin & Garvey, 2002, p. 49-60.16CRONON, William. Un lugar para relatos: naturaleza, historia y narrativa. In: PALACIO, Germán y ULLOA, Astrid (Orgs.). Repensando la naturaleza: Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo Ambiental. Bogotá, Universidad Nacional-ICANH-COLICIENCIAS, 2002, p. 29-65.17MINTZ, Sidney W. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books, 1986.18CROSBY JR., Alfred W. The Columbian exchange: Biological and cultural consequences of 1492. Westport, CT: Greenwood Press, 1973.19CROSBY JR., Alfred W. Ecological imperialism: The biological expansion of Europe, 900-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.20LANGSTON, Nancy. Toxic Bodies: Hormone Disruptors and the Legacy of DES. Livro eletrônico, versão Kindle. New Haven, CN: Yale University Press, 2010, loc. 3125 de 5275; tradução minha.21STROUD, Ellen. From Six Feet under the Field: Dead Bodies in the Classroom. Environmental History, v. 8, n. 4, p. 618-627, out. 2003.
Corpo_sujeito_e_objeto.indd 281 3/14/13 8:56 AM