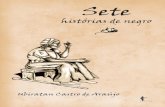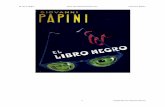MOURA, Clóvis - Sociologia do Negro Brasileiro - Parte 1
Transcript of MOURA, Clóvis - Sociologia do Negro Brasileiro - Parte 1
DireçãoBenjamin Abdala
JúniorSamira YoussefCampedelli
Preparação de textoIvany Picasso Batista
Coordenação decomposição
(Produção/Paginação emvídeo)
Neide Hiromi ToyotaCapa Jayme
Leão
Sumário
ISBN 8508029337
1? ParteTeorias à procura de uma prática
Os estudos sobre o negro como reflexo da estrutura da sociedade brasileira____________________________________1._________________________________________Pensamento social subordinado ____________2._________________________________________O racismo e a ideologia do autoritarismo1._________________________________________Repete-se na literatura a imagem estereotipada do pensamentosocial ___________________________________
4.O dilema e as alternativas
Notas e referências bibliográficas
____II. Sincretismo,assimilação,acomodação, acul
turação e luta de classes___1. Antropologia e neocolonialismo_Do "primitivismo fetichista"à
'pureza" docristianismo
Assimilaçãopara acabarcom a cultura colonizada _Aculturaçãosubstitui aluta de classes ____Da rebeldiado negro "bárbaro" à"democraciaracial" _Notas e referênciasbibliográficas ________
III. Miscigenação e
democracia racial: mito e realidade________________________________Negação da identidade étnica________________Etnologizacão da história e escamoteação da realidade social ___________________________Estratégia do imobilismo social_____________O Brasil teria de ser branco e capitalistaEntrega de mercadoria que não podia ser devolvida__________________________________Das Ordenações do Reino à atualidade: o negro discriminadoNotas e referências bibliográficas _________
171720
252932
34343842445257
61616470798695101
1988
Todos os direitos reservadosEditora Ática S.A. — Rua Barão de
Iguape, 110Tel.: (PABX) 278-9322 — Caixa
Postal 8656End. Telegráfico "Bomlivro" — São
Paulo
IV. O negro como grupo específico ou diferenciado emuma sociedade de capitalismo dependente__________________________109O negro como cobaia sociológica _Grupos específicos e diferenciados_
109
Grupos específicos versus sociedade globalUm símbolo libertário: Exu ___Fatores de resistência_________6. Um exemplo de degradação ____________Notas e referências bibliográficas ______
2? ParteA dinâmica negra e o racismo branco
I. Sociologia da República de Palmares__________________________Preferiram "a liberdade entre as feras quea sujeição entre oshomens"_________________________________________
Uma economia de abundância ________________Como os palmarmos se comunicavam?
Evolução da economia palmarina
Organização familiar: poligamia e poliandriaReligião sem casta sacerdotal.Administração e estratificação na República,Palmares: uma nação em formação?Notas e referências bibliográficas
124128137142146
159
159162166169174177179181184
II. O negro visto contra o espelho de dois analistas 187
187
_____192_____ 195_____ 202
204204
_____206210
_____213_____ 217
IV. Da insurgência negra ao escravismo tardio________________________________218
O negro construiu um país para outros; o negro construiu um país para os brancos.
JOAQUIM NABUCOUm fluxo permanente de estudos sobre o negroQuando o detalhe quer superar o conjunto _________________________Da visão apaixonada à rigidez
III. A imprensa negra em São Paulo.Razões da existência de uma imprensa negra
raçaDo negro bem-comportado à descoberta da 'Do isolamento étnico à
Modernização sem mudançaRasgos fundamentais do escravismo brasileiro pleno (1550/1850) 220
222226227230231236
9. Encontro do escravismo tardio com o capital monopolista________________________ 23910. Operários e escravos em lutas paralelas ___________________________________________ 245Notas e referências bibliográficas _________ 248
218
Significado social da insurgência negro-escravaProsperidade, escravidão e rebeldia________________________________O desgaste económico
8.
Introdução
Este livro é a síntese de mais de vinteanos de pesquisas, cursos, palestras,congressos, simpósios, observação e análiseda situação e perspectivas do problema donegro no Brasil, os seus diversos níveis, asposições dos grupos ou segmentos que compõema comunidade negra, a ideologia branca dasclasses dominantes e de muitas camadas danossa sociedade. Faz parte, também, do nossocontato e participação permanente na soluçãodo problema racial e social brasileiro.Procura dar resposta a essa problemática emdois níveis. O primeiro é o teórico.
Nele apresentamos diversas propostas decrítica epistemológica à maioria dostrabalhos de cientistas sociais tradicionaissobre a situação do negro em nossa sociedade.Procuramos reanalisar algumas formulaçõesconceituais já muito difundidas na áreaacadémica, sempre, ou quase sempre,repetidoras de correntes teóricas que nos vêmde fora e quase nunca correspondem àquilo queseria uma ciência capaz de enfrentar — comoferramenta da prática social — esses pro-blemas sempre escamoteados no seu nível decompetição e conflito social e racial.
O segundo nível de abordagem procura,através do método histórico-dialético,analisar alguns aspectos específicos doproblema abordado, objetivando dar uma visãodiacônica e dinâmica do mês-
DireçãoBenjamin Abdala
JúniorSamira YoussefCampedelli
Preparação de textoIvany Picasso Batista
Coordenação decomposição
(Produção/Paginação emvídeo)
Neide Hiromi ToyotaCapa Jayme
Leão
Sumário
1? ParteTeorias à procura de uma prática
l. Os estudos sobre o negro como reflexo da estrutura da sociedade brasileira_______Pensamento social subordinado ___________O racismo e a ideologia do autoritarismo____Repete-se na literatura a imagem estereotipada do pensamentosocial____________________________________
4.O dilema e as alternativas________________
Notas e referências bibliográficas _________
171720
252932
II. Sincretismo, assimilação, acomodação, aculturação e luta de classes____________________________________Antropologia e neocolonialismoDo "primitivismo fetichista" à "pureza" docristianismo Assimilação para acabar com a cultura colonizada Aculturação substitui a luta de classes Da rebeldia do negro "bárbaro" à "democracia racial" _______________________Notas e referências bibliográficas
34343842445257
ISBN 8508029337
1988Todos os direitos reservados
Editora Ática S.A. — Rua Barão deIguape, 110
Tel.: (PABX) 278-9322 — CaixaPostal 8656
End. Telegráfico "Bomlivro" — SãoPaulo
III. Miscigenação e democracia racial: mito e realidade________________________________Negação da identidade étnica________________Etnologizacão da história e escamoteação da realidade social ___________________________Estratégia do imobilismo social_____________O Brasil teria de ser branco e capitalistaEntrega de mercadoria que não podia ser devolvida__________________________________Das Ordenações do Reino à atualidade: o negro discriminadoNotas e referências bibliográficas _________
IV. O negro como grupo específico ou diferenciado emuma sociedade de capitalismo dependente__________________________O negro como cobaia sociológica _________Grupos específicos e diferenciados_______
61616470798695101
109109116
Introdução
Este livro é a síntese de mais de vinteanos de pesquisas, cursos, palestras,congressos, simpósios, observação e análise dasituação e perspectivas do problema do negrono Brasil, os seus diversos níveis, asposições dos grupos ou segmentos que compõema comunidade negra, a ideologia branca dasclasses dominantes e de muitas camadas danossa sociedade. Faz parte, também, do nossocontato e participação permanente na soluçãodo problema racial e social brasileiro. Procuradar resposta a essa problemática em doisníveis. O primeiro é o teórico.
Nele apresentamos diversas propostas decrítica epistemológica à maioria dos trabalhosde cientistas sociais tradicionais sobre asituação do negro em nossa sociedade.Procuramos reanalisar algumas formulaçõesconceituais já muito difundidas na áreaacadémica, sempre, ou quase sempre,repetidoras de correntes teóricas que nos vêmde fora e quase nunca correspondem àquilo queseria uma ciência capaz de enfrentar — comoferramenta da prática social — esses problemassempre escamoteados no seu nível de competiçãoe conflito social e racial.
O segundo nível de abordagem procura,através do método histórico-dialético,analisar alguns aspectos específicos doproblema abordado, objetivando dar uma visãodiacônica e dinâmica do mês-
mo até o cruzamento das lutas dos escravoscom as da classe operária naquela fase quechamamos de escravismo tardio.
Tomando como ponto de partida a Repúblicade Palmares e fazendo a análise de trabalhosobre a escravidão, abordamos, também, aimprensa negra de São Paulo, após a Aboliçãoe chegamos, conforme já dissemos, ao conceitode escravismo tardio no último capítulo quetraz subsídios para se entender não apenas operíodo do trabalho escravo, mas, também,como o negro se organizou posteriormente,inclusive nos seus grupos específicos. Abreperspectivas, também, para que se possaentender alguns traumatismos da atualsociedade brasileira.
O negro urbano brasileiro, especialmentedo Sudeste e Sul do Brasil, tem umatrajetória que bem demonstra os mecanismos debarragem étnica que foram estabelecidoshistoricamente contra ele na sociedade branca.Nele estão reproduzidas as estratégias deseleção estabelecidas para opor-se a que eletivesse acesso a patamares privilegiados oucompensadores socialmente, para que ascamadas brancas (étnica e/ou socialmentebrancas) mantivessem no passado e mantenhamno presente o direito de ocupá-los. Bloqueiosestratégicos que começam no próprio grupofamília, passam pela educação primária, aescola de grau médio até a universidade;passam pela restrição no mercado de trabalho,na seleção de empregos, no nível de saláriosem cada profissão, na discriminação velada(ou manifesta) em certos espaçosprofissionais; passam também nos contatosentre sexos opostos, nas barreiras aoscasamentos interétnicos e também pelasrestrições múltiplas durante todos os dias,meses e anos que representam a vida de umnegro.
É, como dissemos, uma trajetória
significativa neste sentido porque reproduz deforma dinâmica e transparente os diversosníveis de preconceito sem mediaçõesideológicas pré-montadas como a da democraciaracial; demonstra, por outro lado, como acomunidade negra e não-branca de um modogeral tem dificuldades em afirmar-se no seucotidiano como sendo composta de cidadãos enão como é apresentada através deestereótipos: como segmentos atípicos,exóticos, filhos de uma raça inferior,atavicamente criminosos, preguiçosos,ociosos e trapaceiros.
Em São Paulo, com a dinâmica de umasociedade que desenvolveu até as últimasconsequências os padrões e normas do capita-lismo dependente, tendo a competição selvagemcomo centro de sua dinâmica, podemos vercomo, no mercado de trabalho, ele sempre,
segundo expressão de um sindicalista negrodurante o I Encontro Estadual deSindicalistas Negros, realizado em São Paulo,em 1986, "é o último a ser admitido e oprimeiro a ser demitido". Este quadrodiscriminatório, cujos detalhes serãoapresentados no presente livro, restringebasicamente o comportamento do negro urbano,quando ele não ocupa o espaço universitárioou pequenos espaços burocráticos. A grandemassa negra que atualmente ocupa as favelas,invasões, cortiços, calçadas à noite, áreas demendicância, pardieiros, prédios abandonados,albergues, aproveitadores de restos decomida, e por extensão os marginais,delinquentes, ladrões contra o património,baixas prostitutas, lumpens, desempregados,horistas de empresas multinacionais,catadores de lixo, lixeiros, domésticas,faxineiras, margaridas, desempregadas,alcoólatras, assaltantes, portadores dasneuroses das grandes cidades, malandros edesinteressados no trabalho, encontra-se emestado de semi-anomia.
Essa grande massa negra — repetimos —,sistematicamente barrada socialmente, atravésde inúmeros mecanismos e subterfúgios es-tratégicos, colocada como o rescaldo de umasociedade que já tem grandes franjasmarginalizadas em consequência da suaestrutura de capitalismo dependente, érejeitada e estigmatizada, inclusive por al-guns grupos da classe média negra que nãoentram em contato com ela, não lhe transmitemidentidade e consciência étnicas, finalmentenão a aceitam como o centro nevrálgico dodilema racial no Brasil e, com isto,reproduzem uma ideologia que justifica vê-lacomo periférica, como o negativo do próprioproblema do negro.
A sociologia do negro é, por estas razões,mesmo quando escrita por alguns autoresnegros, uma sociologia branca. E quando es-crevemos branca não queremos dizer que o autor
é negro, branco, mulato, mas queremosexpressar que há subjacente um conjunto con-ceituai branco que é aplicado sobre arealidade do negro brasileiro, como se elefosse apenas objeto de estudo e não sujeitodinâmico de um problema dos mais importantespara o reajustamento estrutural da sociedadebrasileira. Como podemos ver, o pensamentosocial brasileiro, a nossa literatura,finalmente o nosso ethos cultural em quasetodos os seus níveis, está impregnado dessavisão alienada, muitas vezes paternalista,outras vezes pretensamente imparcial. Opróprio negro da classe média introjetouesses valores de tal forma que, em umsimpósio sobre o problema racial, ouvimos deum sociólogo negro a afirmação de que elesdeviam preparar-se para dirigirem as mul-tinacionais que operam no Brasil. "Por quenão?", dizia ele, sem
saber, ou possivelmente sabendo, que aGeneral Motors só contrata trabalhadoresnegros como horistas, sem nenhuma garantia,sem possibilidades de fazer carreira, isto é,são escolhidos para desempenharem aquelestrabalhos sempre considerados sujos, indignos e hu-milhantes.
Esta falta de perspectiva que impede ver-se a ponte entre o problema do negro e osestruturais da sociedade brasileira, isto é,supor-se que o negro, através da cultura,poderá dirigir uma multinacional, bemdemonstra o nível de alienação sociológica noraciocínio de quem expôs o problema destaforma. O problema do negro tem especifici-dades, particularidades e um nível deproblemática muito mais profundo do que o dotrabalhador branco. Mas, por outro lado,está a ele ligado porque não se poderáresolver o problema do negro, a suadiscriminação, o preconceito contra ele,finalmente o racismo brasileiro, sematentarmos que esse racismo não éepifenomênico, mas tem causas económicas,sociais, históricas e ideológicas que alimen-tam o seu dinamismo atual. Um negro diretorde uma multinacional é sociologicamente umbranco. Terá de conservar a discriminação contrao negro na divisão de trabalho interno daempresa, terá de executar suas normasracistas, e, com isto, deixar de pensar comonegro explorado e discriminado e reproduzir noseu comportamento empresarial aquilo que umexecutivo branco também faria.
A articulação do problema étnico com osocial e político é que alguns grupos negrosnão estão entendendo, ou procuram não entenderpara se beneficiarem de cargos burocráticos eespaços abertos para os membros qualificadosde uma ínfima classe média branqueada.Guerreiro Ramos teve oportunidade de enfatizaro perigo de se criar uma "sociologia
enlatada". E tememos que alguns elementosnegros ao concluírem a universidade, ao invésde se transformarem em ideólogos das mudançassociais que irão solucionar o problema racialno Brasil, assimilem os valores ideológicosdessa sociologia enlatada, o que levará onegro a continuar sendo cobaia sociológicadaqueles que dominam as ciências sociaistradicionais: brancos ou negros.
Como se pode ver, não quero que exista umasociologia negra no Brasil, mas que oscientistas sociais tenham uma visão que enfo-que os problemas étnicos do Brasil a partir donegro, porque, até agora, com poucas exceções,o que se vê é uma ciência social que procuraabordar o problema através de uma pseudo-imparcialidade científica que significa,apenas, um desprezo olímpico pelos valoreshumanos que estão imbricados na problemáticaque estudam. Não observam
que os seus conceitos teoricamente corretos(dentro da estrutura conceituai da sociologiaacadémica) coloca-os "de fora" do problema,não penetram na sua essência, são anódinos,inúteis, desnecessários à solução do problemasocial e racial do negro e por isto mesmo sãofrutos de uma ciência sem práxis e que seesgota na ressonância que o autor dessestrabalhos obtém no circuito académico do qualfaz parte.
No Brasil a maioria dos estudiosos doproblema do negro ou caem para o etnográfico,folclórico, ou escrevem como se estivessemfalando de um cadáver. Na primeira posição,conforme veremos no decorrer deste livro, oetnográfico, o contato entre culturas, o cho-que entre as mesmas, as reminiscênciasreligiosas, de cozinha, linguísticas e outrasocupam o centro do universo dessescientistas. Na segunda, vemos oindiferentismo pela situação social do negro,destacando-se, pelo contrário, a imparcialidadecientífica do pesquisador em face dos problemasraciais e sociais da comunidade negra. Oabsenteísmo científico transforma-se emindiferença pelos valores humanos em conflito.E com isto o negro é transformado em simplesobjeto de laboratório.
É verdade que há, também, cientistassociais que seguem uma perspectiva científicadiferente. Não vêem o negro como simples ob-jeto de estudo ou de um futuro diretor demultinacional. Colocam-no como membro de umaetnia explorada, discriminada e desclassifi-cada pelos segmentos dominantes e a partirdessa posição inicial pás sam a estudá-lo ecompreendê-lo. Incontestavelmente foi Roge;Bastide, apesar dos seus erros, quem iniciouesta posição renovador; no Brasil. Artur Ramosque poderia ter sido o grande precursor nestisentido, embora sem querermos diminuir a suanotável e até hoje rés peitável contribuiçãoao estudo do problema, deixou-se influenciaipela psicanálise e, depois, pelo método
histórico-cultural que ele achava ST oinstrumental teórico e metodológico capaz deexplicar e repor em bases científicas oproblema. Bastide teve a sorte de criar umaverdadeira escola que iniciou a reanálise doproblema do negro, inicialmente em São Paulo,depois em outras áreas do Brasil. Entre osseus continuadores temos Florestan Fernandesque conseguiu repor o problema em basessociologicamente polémicas e renovadoras. Aele, em São Paulo, deram continuação a essesestudos Octávio lanni, Oracy Nogueira, Teófilode Queiroz Júnior, João Batista Borges Pe-reira, Fernando Henrique Cardoso e, na Bahia,além da obra clássica de Edison Carneiro quese filiava mais ao pensamento de Artur
Ramos, embora dele divergindo teórica emetodologicamente, os trabalhos de Thales deAzevedo, Maria Brandão, Luiz Mott, Yeda Pes-soa de Castro, Kátia Matozo, Vivaldo da CostaLima, Jeferson Afonso Bacelar, Pierre Verger,Juana Elbein dos Santos e muitos outros.
No Rio de Janeiro podemos citar os nomesde Lana Lage da Gama Lima, L. A. Costa Pinto,Carlos Hasenbalg, Lélia Gonzales, JoelRufino dos Santos, sem que a citação destesnomes signifique exclusão de outros porrazões de julgamento do valor do trabalho dosdemais.
Mas o que está caracterizando o enfoquedo problema do negro no Brasil é umaimportante literatura sobre o assunto quesurge e se desenvolve fora das universidades.Neste particular, entre outros, os nomes deAriosvaldo Figueiredo, Martiniano J. daSilva, Jacob Go-render, Nunes Pereira, AbguarBastos, Décio Freitas, Luiz Luna, José AlípioGoulart mostram como a preocupação com oproblema do negro transcendeu o circuitoacadémico e transformou-se em uma preocupaçãopermanente de camadas significativas daintelectualidade brasileira.
Isto é prometedor porque demonstra comoaquilo que era uma sociologia sobre o negrobrasileiro está se estruturando como umasociologia do e para o negro no Brasil.
Além dessa produção de cientistas sociaisnão-acadêmicos, desligados das universidades,há, também, o trabalho relevante de pesquisasrealizadas pelas entidades negras sobrediversos assuntos ligados aos problemasraciais no Brasil. Inúmeros grupos ouinstituições organizadas pelos negros estãoredimensionando esses estudos a partir de umaposição dinâmica, operacional e engajada.Isto está assustando, inclusive, algunsacadémicos que só admitem a discussão dequalquer problema dentro dos muros
sacralizados das universidades. É toda umaconstelação de cientistas sociais que despontaa partir dessas organizações no sentido dereformular os objetivos dos estudos sobre onegro.
Este livro surge, pois, no momento em queo problema do negro está sendo nacionalmentereposicionado e questionado em face danecessidade de uma avaliação do que foram oscem anos de trabalho livre para ele. Daí anossa preocupação em levantar algumas questõesque poderão dar explicação à sua situação demarginalização, pobreza, discriminação erejeição social por parte de grandes segmen-tos da população brasileira. Não oescrevemos, pois, por uma questão de modacomemorativa (mesmo porque não há nada acome-
morar), mas como um material de reflexão paratodos aqueles que não se aperceberam daimportância do assunto, e, ao reconhecê-la,possam fazer uma análise crítica sobre ocomportamento alienado de uma grande parte danossa nação que os negros criaram com o seutrabalho durante quase quatrocentos anos comoescravos, e, depois, com cem anos detrabalho livre.
Esse gueto invisível que faz do negrobrasileiro ser apenas elemento consentidopela população branca e rica, autoritária edominante, é que deverá ser rompido se oBrasil não quiser continuar sendo uma naçãoinconclusa, como é até hoje, isto porqueteima em rejeitar, como parte do seu ser social,a parcela mais importante para a suaconstrução.
Sabemos que não serão apenas estudos,livros e pesquisas sem uma práxis políticaque irão produzir essa modificaçãodesalienado-ra no pensamento do brasileiropreconceituoso e racista. Mas, de qualquerforma, esses trabalhos ajudarão a que se formeuma prática social capaz de romper asegregação invisível mas operante em que vivea população negra no Brasil.
l? Parte
Teorias à procura de uma prática
A controvérsia sobre arealidade ou não-realidadedo pensamento — isolado dapráxis — é uma questão pu-ramente escolástica.
KARL MARX
IOs estudos sobre o
negro comoreflexo da estrutura
dasociedade brasileira
1. Pensamento Os estudos sobre o negro brasileiro, nosSOCial subordinado seus diversos
aspectos, têm sido media-dos por preconceitos académicos, de um
lado, comprometidos com uma pretensaimparcialidade científica, e, de outro, poruma ideologia racista racionalizada, querepresenta os resíduos da superestruturaescravista, e, ao mesmo tempo, sua conti-nuação, na dinâmica ideológica da sociedadecompetitiva que a sucedeu. Queremos dizer,com isto, que houve uma reformulação dosmitos raciais reflexos do escravismo, nocontexto da sociedade de capitalismodependente que a sucedeu, reformulação quealimentou as classes dominantes docombustível ideológico capaz de justificar openeiramento econômico-social, racial ecultural a que ele está submetido atualmenteno Brasil através de uma série de mecanismosdis-criminadores que se sucedem na biografiade cada negro.
Uma visão mais vertical do assunto irádemonstrar, também, como esses estudosacadémicos, ao invocarem uma imparcialidadecientífica inexistente nas ciências sociais,assessoram, de certa forma, embora de formaindireta, a constelação de pensamento socialracista que está imbricado no subconsciente dobrasileiro médio. Essa ciência, quase todaela estruturada através de modelos teóricose postulados metodológicos vindos de fora,abstém-se de estabelecer
18 OS ESTUDOS SOBRE O MICRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
uma práxis capaz de determinar parâmetrosconclusivos e normas de ação para a soluçãodo problema racial brasileiro nos seusdiversos níveis e implicações.
Tomando-se corno precursores PerdigãoMalheiros e Nina Rodrigues, podemos ver que oprimeiro absteve-se na sua História da escravidãode apresentar uma solução para o problema queestudou, através de medidas ríidicais, e, osegundo, embebido e deslumbrado pela ciênciaoficial europeia que predominava no seu tempoe vinha para o Brasil, via o negro comobiologicamente inferior, transferindo paraele as causas do nosso atraso social. Em NinaRodrigues podemos ver, já, essacaracterística que até hoje perdura nasciências sociais do Brasil: a subserviência docolonizado aos padrões ditos científicos dasmetrópoles dominadoras.
A partir de Nina Rodrigues os estudosafricanistas, ou assim chamados, sedesenvolvem sempre subordinados a métodos quenão conseguem (nem pretendem) penetrar naessência do problema para tentar resolvê-locientificamente.
O continuador de Nina Rodrigues, ArturRamos, conforme veremos em capítulosubsequente, recorre à psicanálise,inicialmente, e ao método histórico-culturalamericano, para penetrar naquilo que elechamava de o mundo do negro brasileiro. Avisão culturalista transferia para um choqueou harmonia entre culturas as contradiçõessociais emergentes ou as conciliações declasses. Antes de Ramos, Gilberto Freyreantecipava-se na elaboração de umainterpretação social do Brasil através dascategorias casa-grande e senzala, colocando a nossaescravidão como composta de senhores bondosose escravos submissos, empaticamenteharmónicos, desfazendo, com isto, a pos-sibilidade de se ver o período no qual
perdurou o escravismo entre nós como cheio decontradições agudas, sendo que a primeira emais importante e que determinava todas asoutras era a que existia entre senhores eescravos.
O mito do bom senhor de Freyre é umatentativa sistemática e deliberadamente bemmontada e inteligentemente arquitetada parainterpretar as contradições estruturais doescravismo como simples episódio epidérmico,sem importância, e que não chegaram a desmen-tir a existência dessa harmonia entreexploradores e explorados durante aqueleperíodo.
Convém salientar que a geração queantecedeu a Freyre não primava pela elaboraçãode um pensamento isento de preconceitos contrao negro.
PENSAMENTO SOCIAL SUBORDINADO 19
O desprezo por ele, mesmo como objeto deciência, foi dominante durante muito tempoentre os nossos pensadores sociais. SílvioRomero constatou o fato escrevendo:
Muita estranheza causaram em várias rodas nacionaiso haverem esta História da literatura e os Estudos sobre apoesia popular brasileira reclamando contra o olvidoproposital feito nas letras nacionais a respeitodo contingente africano e protestando contra ainjustiça daí originada. (...) Ninguém jamais quissabê-lo, em obediência ao prejuízo da cor, com medode, em mostrando simpatia em qualquer grau poresse imenso elemento da nossa população, passar pordescendentes de raça africana, de passar por mestiço*...Eis a verdade nua e crua. É preciso acabar comisto: é mister deixar de temer preconceitos, deixarde mentir e restabelecer os negros no quinhão quelhe tiramos: o lugar que a eles compete, sem menorsombra de favor, em tudo que tem sido, em quatroséculos, praticado no Brasil.1
O destaque que faz Sílvio Romero — quetambém não ficou imune a esse preconceito —contra a pecha de mestiços — bem demonstracomo se procurava fugir, já naquela época, ànossa identidade étnica, como veremosposteriormente. O mestiço era consideradoinferior. Não tinha apelação diante dasconclusões da ciência do tempo, isto é,aquela ciência que chegava até nós. GuerreiroRamos em trabalho desmistificador mostra asubordinação desse pensamento social àslimitações estruturais na nossa sociedade.Demonstrando o que estamos querendo dizer aosleitores, Guerreiro Ramos reporta-se aopensamento de Sílvio Romero afirmando, no seutexto, que ele, também, incorreu em muitosenganos em relação ao problema de supe-rioridade e inferioridade de raçasclassificando os negros entre os "povosinferiores". 2 O próprio Euclides da Cunhatambém malsinou o mestiço. Foi, segundoGuerreiro Ramos "vítima da antropologia do
seu tempo".Mas, sem querermos fazer uma análise
sistemática da bibliografia pertinentedaquele tempo, queremos destacar que essepensamento social era subordinado a umaestrutura dependente de tal forma que osconceitos chamados científicos chegavam parainferiorizá-la a partir de sua auto-análise.Isto é, não queríamos aceitar a nossa rea-lidade étnica, pois ela nos inferiorizaria,criando a nossa inteligência uma realidde mítica,pois somente ela compensaria o nosso ego na-cional, ou melhor, o ego das nossas elitesque se diziam representativas do nosso ethoscultural.
Afirma, no particular, Guerreiro Ramos:
20 OS ESTUDOS SOBRE O NEGRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BEASILEIRA
À luz da sociologia científica, a sociologia do negrono Brasil é, ela mesma, um problema, em engano adesfazer, o que só poderá ser conseguido através deum trabalho de crítica e autocrítica. Sem crítica eautocrítica, aliás, não pode haver ciência. Oespírito científico não se coaduna com aintolerância, não se coloca jamais em posição desistemática irredutbilidade, mas, ao contrário,está sempre aberto, sempre disposto a rererposturas, no sentido de corrigi-las, naquilo em quese revelarem inadequadas à percepção exata dosfatos. A nossa sociologia do negro é, em largamargem, uma pseudomorfose, isto é, uma visão carentedesuportes existenciais genuínos, que oprime edificulta mesmo a emergência, ou a indução dateoria objetiva dos fatos da vida nacional.}
À luz deste pensamento de Guerreiro Ramospodemos compreender o mito do bom senhor deFreyre como uma tentativa sistemática edeliberadamente montada para interpretar ascontradições estruturais do escravismo comosimples episódio sem importância, que nãochegaram a desmentir a existência dessaharmonia entre exploradores e explorados.Finalmente podemos compreender por que todauma geração que sucede a de Freyre psicologizao problema do negro, sendo que grande partedela é composta de psiquiatras como RenêRibeiro, Gonçalves Fernandes, UlissesPernambucano e o próprio Artur Ramos. Salve-se, nesse período, a obra de Edison Carneiro,autor que procurou dar uma visão dialéticado problema racial brasileiro.
2. O racismo e a Todos esses trabalhosprocuravam ver, es-ideologia do tudar e interpretar o negronão como umautoritarismo ser socialmente situado numadeterminada
estrutura, isto é, como escravo e/ou ex-
escravo, mas como simples componente de umacultura diferente do ethos nacional. Daívermos tantas pesquisas serem realizadassobre o seu mundo religioso em níveletnográfico e sobre tudo aquilo queimplicava diferença do padrão ocidental, tidocomo normativo, e tão poucos estudos sobre asituação do negro durante a sua trajetóriahistórica e social. Minimiza-se por isto,inclusive, o número de escravos entradosdurante o tráfico negreiro, fato que vemdemonstrar como esses estudos, conforme jádissemos, assessoram, consciente ou in-conscientemente, e municiam a subjacênciaracista de grandes camadas da populaçãobrasileira, mas, especialmente, o seuaparelho de dominação. Não mostram aimportância social do tráfico e não
O RACISMO E A IDEOLOGIA DO AUTORITARISMO 21
procuram (na sua maioria) demonstrar como aimportância sociológica do tráfico não secifra ao número de escravos importados, mas nasua relevância estrutural o que permite osseus efeitos se evidenciarem em grupos einstituições da sociedade que foramorganizados exatamente para impedi-lo, já que,a partir de 1830, o tráfico era oficialmenteconsiderado ilegal.
Neste particular, Robert Edgar Conrad 4
mostra como toda a máquina do Estado passa aservir de mantenedora e protetora desse tipode comércio, citando a taxa ou comissão que osjuizes recebiam (10,8%) para liberar as cargasde escravos ilegalmente desembarcados. Mas,não era apenas o poder judiciário o coniventecom o tráfico criminoso; o segmento militarparticipa também ativamente, de modo especiala Marinha, que tinha papel substantivo narepressão ao tráfico negreiro. Nele estavamenvolvidos os mais significativos figurões epersonalidades importantes da época: juizes,políticos, militares, padres e outrossegmentos ou grupos responsáveis pela nor-malidade do sistema.
Em 1836, por exemplo, um certo capitãoVasques, comandante da fortaleza de São João,na entrada da baía do Rio de Janeiro,transformou-a em um depósito de escravos.Políticos apoiavam e conviviam abertamente comos traficantes. Manoel Pinto da Fonseca, umdos mais notórios contrabandistas de escravos,era companheiro de jogo do chefe de polícia efoi elevado a Cavaleiro da Ordem da RosaBrasileira, honra imperial concedida por D.Pedro II.
Esta atitude sistemática de defesaideológica e empírica de um tráficoilegalizado por pressão da Inglaterra e pelasautoridades brasileiras não se davaacidentalmente, porém. Era uma decorrência daprópria essência da estrutura do Estadobrasileiro. Sem se fazer uma análise
sociológica e histórico/dialética do seuconteúdo não podemos entender esses padrõesde comportamento da elite político/ad-ministrativa da época. Por não fazerem essetipo de análise dialética, certoshistoriadores académicos chegam a falar emuma "democracia coroada" (João Camilo deOliveira Torres) para caracterizar o reinadode Pedro II. No entanto, como todo Estado deuma sociedade escravista ele era inteiramentefechado a tudo aquilo que poderia ser chamadode democracia. Durante toda a existência doEstado brasileiro, no regime escravista, elese destinava, fundamentalmente, a manter edefender os interesses dos donos de escravos.Isto quer dizer que o negro que aqui chegavacoercitivamente na qualidade de semoventetinha contra si todo o peso da ordenaçãojurídica e militar
n OS ESTUDOS SOBRE O MORO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
do sistema, e, com isto, todo o peso daestrutura de dominação e ope-ratividade doEstado.
O historiador António Torres Montenegroelaborou, no particular, um esquema queexplica muito bem o conteúdo do tipo de Es-tado escravista monárquico/constitucional equal o seu papel e função.
Diz ele:Esta (a estruturado Estado monárquico/escravista) secaracteriza pela rigidez e pela imobilidade. Isto sepoderia evidenciar em muitos outros aspectos como: aescolha de eleitores e candidatos, feita conforme ocritério de renda, o que exclui grande parcela dapopulação, fato que a luta abolicionista (tornandolivre muitos escravos) e o processo denaturalização dos imigrantes tende a corrigir; aintervenção direta do governo nas eleições daCâmara, sempre se formando maiorias parlamentarescorrespondentes aos gabinetes; a escolha de umsenador vitalício entre os que compunham a listatríplice, feito pelo Poder Moderador, em função decritérios pessoais; a existência, no interior daestrutura de poder, de um segmento vitalício, oConselho de Estado (constituído de 12 membros) e oSenado (constituído de 60 membros) que, apesar detodas as crises, permanecia no poder e seconstituíam na base política do Poder Moderador.5
Esse tipo de estrutura de Estado(despótico na sua essência) altamentecentralizado e tendo como espinha dorsal esuporte permanente dois segmentos vitalícios(o Conselho de Estado e o Senado) foi montadoprioritariamente para reprimir a luta, entreos escravos e a classe senhorial. Não foi poracaso, por isto mesmo, que o Brasil fosse oúltimo país do mundo a abolir a escravidão.
O que caracteriza fundamentalmente esseperíodo da nossa história social é a luta doescravo contra esse aparelho de Estado. E é,por um lado, exatamente este eixocontraditório e decisório para a mudançasocial que é subestimado pela maioria dossociólogos e historiadores do Brasil, os
quais se comprazem em descrever detalhes, empesquisar minudências, exotismos, encontraranalogias, fugindo, desta forma, à tentativade se analisar de maneira abrangente e cien-tífica as características, os graus deimportância social, económica, cultural epolítica dessas lutas. Toda uma literaturade acomodação sobrepõe-se aos poucoscientistas sociais que abordam essa dicoto-mia básica, restituindo, com isto, ao negroescravo a sua postura de agente socialdinâmico, não por haver criado a riqueza comum,mas, exatamente pelo contrário: por havercriado mecanismos de resistência e negação aotipo de sociedade na qual o criador dessariqueza era alienado de todo o produtoelaborado.
O RACISMO E A IDEOLOGIA DO AUTORITARISMO 23
Em vista disto a imagem do negro tinha deser descartada da sua dimensão humana. De umlado havia necessidade de mecanismos poderososde repressão para que ele permanecessenaqueles espaços sociais permitidos e, deoutro, a sua dinâmica de rebeldia que a issose opunha. Daí a necessidade de ser elecolocado como irracional, as suas atitudes derebeldia como patologia social e mesmobiológica.
O aparelho ideológico de dominação dasociedade escravista gerou um pensamentoracista que perdura até hoje. Como aestrutura da sociedade brasileira, na passagemdo trabalho escravo para o livre, permaneceubasicamente a mesma, os mecanismos dedominação inclusive ideológicos foram mantidose aperfeiçoados. Daí o autoritarismo quecaracteriza o pensamento de quantos ou pelomenos grande parte dos pensadores sociais queabordam o problema do negro, após a Abolição.Veja-se, por exemplo, Oliveira Vianna. Paraele o autoritarismo estava na razão direta dainferioridade do negro. Por isto defende umaorganização oligárquica para a sociedadebrasileira. Diz:
Pelas condições dentro das quais se processou a nossaformação política, estamos condenados às oligarquias:e, felizmente, as oligarquias existem. Pode parecerparadoxal; mas numa democracia como a nossa, elas têmsido a nossa salvação. O nosso grande problema, comojá disse alhures, não é acabar com as oligarquias: étransformá-las — fazendo-as passarem da sua atualcondição de oligarquias broncas para uma nova condiçãode oligarquias esclarecidas. Estas oligarquias es-clarecidas seriam, então, realmente, a expressão daúnica forma de democracia possível no Brasil.6
Mas, segundo Oliveira Vianna, essasoligarquias, para ascenderem de broncas aesclarecidas teriam de se arianizar. Porqueainda para ele
a nossa civilização é obra exclusiva do homem branco.O negro e o índio, durante o longo processo da nossaformação social, não dão, como se vê, às classes
superiores e dirigentes que realizam a obra decivilização e construção, nenhum elemento de valor.Um e outro formam uma massa passiva e improgressiva,sobre que trabalha, nem sempre com êxito feliz, aação modeladora da raça branca.7
Toda a obra de Oliveira Vianna vai nessediapasão. Continua a ideologia do PoderModerador de D. Pedro II e procura ordenar anossa sociedade através da "seleção racial".Não é por acaso que o mesmo autor chega aelogiar as teorias racistas 6 fascistas noplano político. Esse autoritarismo deOliveira Vianna é uma constante no pensamentosocial e há um cruzamento sistemático entreessa visão autoritarista do mundo e oracismo.
24 OS ESTUDOS SOBRE O NEGRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
Através de vieses menos agressivos,podemos ver que a defesa das oligarquias porparte de Oliveira Vianna poderá fundir-se àdefesa dos senhores patriarcais de GilbertoFreyre. Em um dos seus livros, Freyre escrevedefendendo, da mesma fornia que Oliveira Vian-na, a necessidade de reconhecermosrealisticamente a função positiva dasoligarquias:
No Brasil do século passado, os publicistas epolíticos de tendências reformadoras, defensoresmais de ideias e de leis vagamente liberais que dereformas correspondentes às necessidades e àscondições do meio, para eles desconhecido, sempreescreveram e falaram sobre os problemas nacionaiscom um simplismo infantil. Para alguns deles ogrande mal do Brasil estava indistintamente nosgrandes senhores; nos vastos domínios; na supremaciade certo número de famílias. E para resolver essasituação bastava que se fizessem leis liberais.Apenas isto: leis liberais (...) Os senhores deengenho não constituíam um oni-potentelegislativoítinham de desdobrar-se em executivo. Daíos "reis", mas "reis" à antiga, intervindo naatividade dos moradores e escravos, que alguns delespareceram a Tollenare. O viajante francês viu senho-res fiscalizando trabalhos; agradando a miuçalhapreta; falando ríspido a negros enormes, certos doprestígio da voz e do gesto.8
As oligarquias de Oliveira Vianna têmmuita semelhança com os senhores de engenhoidealizados por Gilberto Freyre, pois são asformas diversificadas de um mesmo fenómeno.Ambos criaram e mantiveram os suportesjustificatórios de uma sociedade deprivilegiados, no Império ou na República.Entre os dois pensamentos há uma constante: ainferiorização social e racial do negro,segmentos mestiços e índios e a exaltaçãocultural e racial dos dominadores brancos.
Esta ligação entre racismo eautoritarismo é uma constante no pensamentosocial e político brasileiro. Outrosociólogo, Azevedo Amaral, um dos ideólogos
do Estado Novo, escreve:A entrada de correntes imigratórias de origem europeiaé realmente uma das questões de maior importância nafase de evolução que atravessamos e não há exageroafirmar-se que do número de imigrantes da raçabranca que assimilarmos nos próximos decéniosdepende literalmente o futuro da nacionalidade (...)Uma análise retrospectiva do desenvolvimento daeconomia brasileira desde o último quartel do séculoXIX põe em evidência um fato que aliás nada tem desurpreendente porque nele apenas reproduzia em maioresproporções ainda, o que já ocorrera em fasesanteriores da evolução nacional. As regiões paraonde afluíram os contingentes de imigrantes europeusreceberam um impulso progressista que as distancioude tal modo das zonas desfavorecidas de imigraçãoque entre as primeiras e as últimas se formaramdiferenças de nível económico e social, cujosefeitos justificam apreen-
REPETE-SE NA LITERATURA A IMAGEM ESTEREOTIPADA DO PENSAMENTO SOCIAL 25
soes políticas. Enquanto nas províncias que nãorecebiam imigrantes em massa se observava marchalenta do desenvolvimento económico e social, quandonão positiva estagnação do movimento progressivo, asregiões afortunadas a que iam ter em caudal contínuaslevas de trabalhadores europeus foram cenário desurpreendentes transformações económicas de que temosos exemplos mais importantes em São Paulo e no RioGrande do Sul. Aliás, aconteceu entre nós o mesmoque por toda a parte onde as nações novas surgem eprosperam com a cooperação de elementos colonizadoresvindos de países mais adiantados habitados por povosde raças antropologicamente superiores. (...) Oproblema étnico brasileiro — chave de todo destinoda nacionalidade — resume-se na determinação de qualVirá a ser o fator da tríplice miscigenação que aquise opera e que caberá impor à ascendência doresultado definitivo do caldeamento. É claro quesomente se tornará possível assegurar a vitóriaétnica dos elementos representativos das raças e dacultura da Europa se reforçarmos pelo fluxo contínuode novos contingentes brancos. Os obstáculos opostosà imigração de origem europeia constituem portantodificuldades deliberadamente criadas aoreforçamento dos valores étnicos superiores de cujopredomínio final no caldeamento dependem as futurasformas estruturais da civilização brasileira e asmanifestações de seu determinismo económico,político, social e cultural. (...) A nossa etniaestá longe do período final de cristalização. E comoacima ponderamos, os mais altos interesses nacionaisimpõem que se faça entrar no país o maior númeropossível de elementos étnicos superiores, a fim deque no epílogo do caldeamento possamos atingir umtipo racial capaz de arcar com as responsabilidadesde uma grande situação.9
Isto era escrito logo depois daimplantação do Estado Novo, em livroelaborado para defendê-lo e justificar o seuautoritarismo.
Como vemos há um continunm neste pensamentosocial da inteligência brasileira: o país seriatanto mais civilizado quanto mais branqueado.Esta subordinação ideológica dessespensadores sociais demonstra como as elitesbrasileiras que elaboram este pensamentoencontram-se parcial ou totalmente alienadas
por haverem assimilado e desenvolvido aideologia do colonialismo. A este pensamentoseguem-se medidas administrativas, políticas emesmo repressivas para estancar o fluxodemográfico negro e estimular a entrada debrancos "civilizados".
3. Repete-se na literatura Este aspectoalienante que sea imagem estereotipada encontra naliteratura antropo-do pensamento social lógica, históricae sociológica, eque tem suas raízes sociais na estrutura despótica e racista do apare-
26 OS ESTUDOS SOBRE O NEGRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
lho de Estado escravista, e, posteriormente,na estrutura intocada da propriedadefundiária, encontra-se, também, naliteratura de ficção da época do escravismo,com desdobramentos visíveis e permanentesapós a sua extinção.
O mundo ficcional, o imaginário dessesromancistas ainda estava impregnado devalores brancos, o seu modelo de belezaainda era o greco-romano e os seus heróis eheroínas tinham de ser pautados por essesmodelos. E a nossa realidade ficavadesprezada como temática: os heróis tinham deser brancos como os europeus e a massa dopovo apenas pano de fundo dessas obras.Em toda essa produção nenhum personagem negro
entrou como herói. O problema do negro naliteratura brasileira deve comportar uma
revisão sociológica que ainda não foi feita.Quando surge a literatura nacional romântica,
na sua primeira fase, surge exatamente paranegar a existência do negro, quer social, quer
esteticamente. Toda a ação e tudo o queacontece nessa literatura tem de obedecer
aos padrões brancos, ou de exaltação do índio,mas um índio distante, europeizado, quase umbranco naturalizado índio. Idealização de um
tipo de personagem que não participava da lutade classes ou dos conflitos, como o negro, mas
era uma idealização de fuga e escape paraevadir-se da realidade sócio-racial que a
sociedade branca do Brasil enfrentava na época.Era mais Rousseau e romantismo do "bom sel-vagem", quase um cavaleiro europeu, do que
uma tentativa de mostrar a situação deextermínio do índio brasileiro. Era, de umlado, descartar o negro como ser humano e
heróico, para colocá-lo como exótico-bestialda nossa literatura, e, de outro, fazer-se uma
idealização do índio em oposição ao negro.
Não se abordava o índio que se exterminavanas longínquas dimensões geográficas daquela
época destruído pelo branco. O índio doromantismo brasileiro era, por tudo isto,uma farsa ideológica, literária e social.
Era uma contrapartida fácil para se colocar oquilombola, o negro insurreto e o
revolucionário negro, de um modo geral, comoanti-herói dessa literatura de fuga e
alienação. Esse indianismo europeizadoentrava como um enclave ideológico
necessário para se definir o negro comoinferior numa estética que, no fundamental,
colocava-o de um lado como a negação dabeleza e, de outro, como anti-herói, como
facínora ou como subalterno, obediente, quaseque ao nível de animal conduzido por
reflexos.
REPETE-SE NA LITERATURA A IMAGEM ESTEREOTIPADA DO PENSAMENTO SOCIAL 11
Temos o exemplo de Machado de Assis queescreve durante a escravidão como se vivesseuma realidade urbana europeia, querendobranquear os seus personagens, heróis eheroínas. Toda a primeira geração romântica,por isto mesmo, é uma geração cooptada peloaparelho ideológico ou burocrático do sistemaescravista. Por isto mesmo não podiam criaruma literatura que refletisse o nosso sercultural. Tinham de ir buscar de fora oselementos com os quais representavam a suaforma de expressão e de criação literária.Escreve analisando esta situação estruturalNelson Werneck Sodré:
É interessante distinguir um aspecto a que temosconcedido, em regra, atenção distante, quando aconcedemos: aquele que se refere à origem de classedos homens de letras, já mencionado, de passagem,ligando-se agora ao detalhe de fazerem tais homens deletras seus estudos na Europa. O costume, próprio daclasse proprietária, de mandar os filhos estudar emCoimbra e, mais adiante, nos centros universitáriosmais conhecidos, particularmente na França,constituía, não só um inequívoco sinal de classe,como o caminho natural para a evasão da realidade dacolónia e do país, tão diversa do ambiente em que iamaprimorar os conhecimentos e que lhes pareceria omodelo insu-perado. A alienação — que é ainda umtraço de classe — uma vez que não podiam taiselementos solidarizar-se com um povo representado, emsua esmagadora maioria, por escravos e libertospobres, em que a classe comercial mal começava a sedefinir e era vista com desprezo, corresponderia, nofundo, à secreta ânsia de disfarçar em cada um o quelhe parecia inferior, identificando-se com o modeloexterno tão fascinante. E tais elementos, cujaformação mental os distanciava do seu país, e, cujasorigens de classe os colocavam em contrastes comeste, ligando-os ao estrangeiro, eram os que formavamos quadros imperiais, quadros a que os cursosjurídicos atendiam: "Já então as Faculdades deDireito eram ante-salas da câmara", conformeobservou Nabuco.10
Por estas razões sociais toda a primeirageração romântica é uma geração cooptada peloaparelho ideológico e burocrático do sistemaescravista representado pelos diversos
escalões do poder, terminado no Imperador.Gonçalves de Magalhães, introdutoroficialmente do romantismo poético, vai serdiplomata na Itália, tendo publicado o seuprimeiro volume de versos em Paris; JoaquimManoel de Macedo será preceptor da famíliaimperial; Gonçalves Dias vive pesquisando naEuropa às expensas de D. Pedro II durantemuitos anos; Manoel António de Almeida compouco mais de vinte anos é nomeadoadministrador da Tipografia Nacional, o quecorresponderia hoje a diretor da ImprensaOficial, e José de Alencar, o maiorficcionista romântico (indianista), seráMinistro da Justiça em gabinete do Império.
Toda essa ligação orgânica com o sistema
irá determinar ou condicionar, em grausmaiores ou menores, o conteúdo dessa produção.Nas outras atividades culturais a subordinaçãose repete e o caso de Carlos Gomes éconhecido: tendo composto a ópera O escravo comlibreto de Taunay, foi forçado a modificá-lo,substituindo o seu personagem central, que eranegro, por um escravo índio. Carlos Gomestambém estava estudando na Europa através domecenato do Imperador.
Aqui cabe fazer uma distinção: aliteratura dessa época por vezes aborda oescravo no seu sofrimento ou na sua lealdade,humilde muitas vezes, outras vezes querendo asua liberdade. Os demais segmentos em que sedivide a classe escrava são também abordados;a mãe preta, a mucama doméstica e atérelações incestuosas entre filha de escravacom o sinhozinho, filhos do mesmo pai. O quenessa literatura está ausente é o negro comoser, como homem igual ao branco, disputandono seu espaço a sua afirmação como heróiromântico. Escreve, neste sentido Raymond S.Sayers:
Até mesmo o sentimento escravista que originou vastaliteratura no século XVIII na Inglaterra, na França emesmo na Alemanha de Herder com o seu Neger Idyllen, estáausente desta poética de imitação. Em verdade, emboraos negros povoassem bastantemente o panorama social, os
poetas preferiram ver apenas com os olhos daimaginação ninfas e pastores encantadores, em vez dever a realidade de escravos e mulatinhas inquietos eandrajosos. Há somente dois poemas em que os negros
aparecem como indivíduos, o Quitúbia, de José Basílio daGama, em que um negro nobre é o herói, e o Caramuru, de
Santa Rita Durão, que dedica algumas estancas aoepisódio de Henrique Dias. Fora disso, na maioria das
vezes em que o negro aparece nessa poesia, é como meropormenor do ambiente, figura digna de piedade no
egoísmo melancólico de quem o observa. u
Outros exemplos poderiam ser dados mas,ao que nos parece, já expusemos o suficientepara demonstrar como essa literatura era
representativa de um sistema social, oescravismo, e somente a partir dacompreensão deste fato poderemos analisarem profundidade o seu conteúdo e a suafunção.
Uma exceção deve ser feita, no nossoentender, já na segunda fase do romantismo:é Castro Alves, provavelmente único quetenha ressaltado na sua obra o papel sociale ativo do escravo negro na sua dimensão derebeldia, e na sua interioridadeexistencial, criando poemas com personagensnegros. Com Castro Alves o negro se humani-za, deixa de ser a besta de carga ou ofacínora, ou, então, componente da galeriade humilhados e ofendidos da primeirageração. Cas-
tro Alves é, por isto, o grande momento daliteratura brasileira, porque coloca o negroescravo como homem que pensa e reivindica, queama e luta. Um exemplo para mostrar adiferença de universos sociais e estéticosentre ele e Gonçalves Dias: Castro Alvesescreve o seu grande poema "O navio negreiro"sem nunca ter visto uma dessas embarcações,pois o tráfico foi extinto em 1850, enquantoGonçalves Dias que teve oportunidade de vê-losàs dezenas, provavelmente no seu cotidiano,jamais o usou como temática dos seus versos.
Castro Alves poderia ter visto algum barcodo tráfico interpro-vincial, mas nunca umtumbeiro como ele descreve no seu poema. Poroutro lado, quando escreveu "Saudação aPalmares" os negros quilombolas ainda existiame eram caçados como criminosos. No entanto, eleinverteu os valores e, ao invés de apresentá-los como criminosos perturbadores, apresenta-os como heróis.
Essa literatura orgânica que funcionoucomo superestrutura ideológica do sistema éargamassa cultural de manutenção que atravessao período do escravismo e penetra na sociedadede capitalismo dependente que persiste atéhoje. Por isto, somente com Lima Barreto, quemorre em 1922, o negro se redignifica comopersonagem fic-cional, como ser humano na suaindividualidade. Depois de Lima Barreto,exceção feita ao romance Macunaíma de Mário deAndrade, na fase modernista, somente com ageração de 1930 ele aparece sem ser apenascomponente exótico, sem interioridade, semsentimentos individuais.
Surgem então, Moleque Ricardo, de José Lins doRego, e Ju-biabá, de Jorge Amado, assim mesmoainda relativamente folclori-zados. Mas, dequalquer forma, um avanço no comportamento doimaginário dos nossos escritores em relação aonegro. Dessa época em diante é que o negro vaientrar mais detalhada e amiudadamente na nossanovelística. Mas a dívida dos nossosintelectuais e romancistas em particular, paracom o negro, ainda não foi resgatada. Aconsciência crítica dos nossos intelectuais emrelação ao problema étnico do Brasil em geral,e do negro, no particular, ainda não se cris-
talizou em nível de uma reformulação dascategorias ideológicas e estéticas com asquais manipulam a sua imaginação. Ainda sãomuito europeus, brancos, o que vale dizerideologicamente colonizados.
4. O dilema e Toda essa produçãocultural, quer científica,
as alternativas quer ficcional, queescamoteia ou desvia do
fundamental o problema do negro nos seusdiversos níveis, desvinculando-o da dinâmica
dicotômica produzida
30 OS ESTUDOS SOBRE O NEGRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
pela luta de classes, na qual ele estáinserido, mas com particularidades que otransformam em um problema específico oucomespe-cificidades que devem serconsideradas, fez com que pouco se acres-centasse às generalidades ou lugares-comuns nasua maioria ditos sobre ele. Somente a partirdas pesquisas patrocinadas pela Unesco, apósa Segunda Guerra Mundial, essas generalidadesotimistas e ufanistas foram revistas comrigor científico e reanalisadas. Uma dessasgeneralidades refere-se, constantemente, àexistência de uma democracia racial no Brasil,exemplo que deveria ser tomado como paradigmapara outras nações. Nós éramos o laboratórioonde se conseguiu a solução para os problemasétnicos em sentido planetário. Os resultadosdessas pesquisas, no entanto, foram chocantespara os adeptos dessa filosofia racial.Constatou-se que o brasileiro é altamentepre-conceituoso e o mito da democracia racial éuma ideologia arqui-tetada para esconder umarealidade social altamente conflitante e dis-criminatória no nível de relaçõesinterétnicas.
Aqueles conceitos de acomodação,assimilação e aculturação — conforme veremosdepois — que explicavam academicamente as re-lações raciais no Brasil foram altamentecontestados e iniciou-se um novo ciclo deenfoque desse problema. Verificou-se, aocontrário, que os níveis de preconceito erammuito altos e o mito da democracia racial era maisum mecanismo de barragem à ascensão dapopulação negra aos postos de liderança ouprestígio quer social, cultural ou económico.De outra maneira não se poderia explicar aatual situação dessa população, o seu baixonível de renda, o seu confinamento noscortiços e favelas, nos pardieiros, alagadose invasões, como é a sua situação no momento.
Esse mecanismo permanente de barragem à
mobilidade social vertical do negro, com osdiversos níveis de impedimento à sua ascensãona grande sociedade, muitos deles invisíveis,os entraves criados pelo racismo, aslimitações sociais que o impediam de ser umcidadão igual ao branco, e, finalmente, adefasagem sócio-histórica que o atingiufrontal e permanentemente após a Abolição,como cidadão, indo compor as grandes áreasgangrenadas da sociedade do capitalismodependente que substituiu à escravista, todaessa constelação é como se fosse um viéscomplementar, preferindo-se, por isto, aelaboração de monografias sobre o candomblé eo xangô, assim mesmo desvinculado do seupapel de resistência social, cultural eideológica, mas vistos apenas comoreminiscências religiosas trazidas da África.
O DILEMA E AS ALTERNATIVAS 31
No entanto, após as pesquisas patrocinadaspela Unesco e que tiveram Florestan Fernandese Roger Bastide como responsáveis na cidade deSão Paulo, L. A. Costa Pinto, no Rio deJaneiro, e Thales de Azevedo, na Bahia, houvea necessidade de uma reordenação teórica emetodológica por parte de alguns cientistassociais, destacando-se, no particular,Florestan Fernandes, Octávio lanni, EmíliaViotti da Costa, L. A. Costa Pinto, ClóvisMoura, Jacob Gorender, Lana Lage da GamaLima, Luís Luna, Décio Freitas, OracyNogueira, Joel Rufino dos Santos, Carlos A.Hasenbalg e alguns outros que, preocupadosnão apenas com o tema académico, mas também comos problemas étnicos emergentes na sociedadebrasileira e os possíveis conflitos raciaisdaí decorrentes, estão tentando uma revisãodo nosso passado escravista e do presenteracial, social e cultural das populaçõesnegras do Brasil.
Esta situação concreta irá criar nódulosde resistência, tensão ou conflitos sócio-racistas, agudizando-se, especialmente, opreconceito de cor à medida que certos setoresurbanos da comunidade negra começam a analisarcriticamente essa realidade na qual estãoengastados e reagem contra ela. Desse momentode reflexão surgem várias entidades negras dereivindicação, não apenas pesquisando dentrode simples parâmetros académicos, mascomplementando-os com uma práxis atuante,levantando questões, analisando fatos, expondoe questionando problemas, e, finalmente,organizando o negro, através dessa reflexãocrítica, para que os problemas étnicos sejamsolucionados.
É uma convergência tentada entre ascategorias científicas e a práxis que vemcaracterizar a última fase dos estudos sobreo negro. O negro como ser pensante eintelectual atuante articula uma ideologia naqual unem-se a ciência e a consciência.
Evidentemente que não se pode falar,ainda, em uma consciência plenamenteelaborada, mas de uma posição crítica emprocesso de radicalização epistemológica atudo, ou quase tudo, o que foi feito antes,quando se via o negro apenas como objeto deestudo e nunca como sujeito ativo no processode elaboração do conhecimento científico.
Em face da emergência dessa novarealidade, muitos cientistas sociaisacadémicos não aceitam, ainda, esta posiçãocomo válida cientificamente, mas somentemensurável como ideologia, bandeira de luta, pontade lança de ação e de combate. A unidadeentre teoria e prática repugna a essescientistas que ainda não querem permitir àintelligentsia negra participar do processodialético do conhecimento.
32 OS ESTUDOS SOBRE O NEGRO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE BRASILEIRA
É nesta encruzilhada que os estudos sobreo negro brasileiro se situam. Há encontros edesencontros entre as duas tendências: de umlado a académica, universitária, que postulaurna ciência neutra, equilibrada, seminterferência de uma consciência crítica e/ourevolucionária, e, de outro, o pensamentoelaborado pela intelectualidade negra ououtros setores étnicos discriminados e/ouconscientizados, também interessados nareformulação radical da nossa realidaderacial e social.
Evidentemente que esses movimentos negrosestão começando a elaboração do seupensamento, nada tendo ainda de sistemáticoou unitário. Muito pelo contrário. Isto,porém, não quer dizer que seja menos válidodo que a produção académica, pois ele éelaborado na prática social, enquanto o outrose estrutura e se desenvolve nos la-boratórios petrificados do saber académico.
Podemos supor, por isto, dois caminhosdiferentes que surgirão a partir daencruzilhada atual. Um se desenvolverá àproporção que a luta dos negros e demaissegmentos, grupos e/ou classes interessadosna reformulação radical da sociedadebrasileira se dinamizarem política, social ecientificamente. Do outro lado continuará aprodução académica, cada vez mais distanciadada prática, sofisticada e anódina.
Esta produção académica evidentementeestudará, também, como elemento delaboratório, o pensamento dinâmico/radicalelaborado pelos negros na sua luta contra adiscriminação racial, o analfabetismo, ainjusta distribuição da renda nacional nosseus níveis sociais e étnicos. Ela chamará deideológica a proposta dessa prática política,cultural, social e racial. No entanto, estepensamento novo, elaborado pela intelligentsianegra (não obrigatoriamente por negros), tem a
vantagem de ser testado na prática, enquantoo pensamento académico servirá apenas parajustificar títulos universitários.
Notas e referências bibliográficas
1 ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1953. 5 v. v. l, p. 137-238.
2 RAMOS, Guerreiro. O problema do negro na sociologia brasileira. Cadernos do Nosso Tempo, Rio de Janeiro, (2), 1954. Vertambém RAMOS,Guerreiro. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro, Andes, 1957.
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33
3 RAMOS, Guerreiro. Loc. cit.4 Diz Conrad: "Os mais vistosos, notórios e ricos participantes do tráficoilegal eram, naturalmente, os próprios mercadoresde escravos, proprietários de frotas de navios, de dispendiosas e ostentosas casas na cidade epropriedades de campo, de depósitos na costa do Brasil e barracões na África, chefes de um exército de seguidores e subordinados, e frequentementeamigos íntimos da elite de plantadores e governadores. Pelas razões mencionadas acima, a sociedade brasileira não menosprezava esses negociantes de seres humanos. De fato, os novos contrabandistas desenvolveramuma aura romântica em torno de muitos contemporâneos por seu desafioaos britânicos bem como por suas atividades irregulares e perigosas. Legalmente aqueles que se ressentiam da interferência britânica e suspeitavam da sua motivação (que na verdade estava longe de ser pura) paraaqueles que acreditavam que os mercadores de escravos realizavam um serviço essencial ao Brasil e sua economia agrícola,os traficantes eram homens honrados merecedores de títulos e condecorações, e da amizade erespeito dos políticos mais poderosos". (CONRAD, Robert Edgar. Tum-beiros. São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 120.)
5 MONTENEGRO, António Torres. O encaminhamento político do fim da escravidão (Dissertação de mestrado). Campinas, Unicamp, 1983. Mimeo-grafado.
6 VIANNA, Oliveira. Instituições políticas do Brasil. Rio de Janeiro, JoséOlympio, 1949. 2 v. v. 2, p. 205.
7_______Evolução do povo brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro, José Olympio,1956. p. 158. Sobre a conexão entre o pensamentoracista de Oliveira Vianna e a sua defesa doautoritarismo é importante a consulta dotrabalho de Jarbas Medeiros "Introdução aoestudo do pensamento político autoritáriobrasileiro 1914/1915", especialmente o item 5
"Racismo & Elites" do capítulo II "OliveiraVianna" (Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, FGV,17(2), jun. 1974). Ver também, no particular;VIEIRA, Evaldo Amaro. Oliveira Vianna & O estado corporativo.São Paulo, Grijalbo, 1976. passim.
8 FREYRE, Gilberto. Região e tradição. Rio de Janeiro, José Olympio, 1941,p. 174-7.
9 AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio deJaneiro, José Olympio, 1938, p. 230-4.
10 SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira (seus fundamentos económicos). 3. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1960. p. 195.
11 SAYERS, Raymond S. O negro na literatura brasileira. Rio de Janeiro, Ed.O Cruzeiro, 1958. p. 110. Cf. também no mesmo sentido, porém com posições mais radicais do que Sayers: BROOKSHAW, David. Raça e cor na literatura brasileira. Rio Grande do Sul, Mercado Aberto, 1983. Passim.
ANTROPOLOGIA E NEOCOLONIALISMO 35II
Sincretismo,assimilação,acomodação,aculturação
e luta de classes
1. Antropologia No presente capítulo queremos discutir ae neocolonialismo insuficiência deconceitos comumente manipulados por algunsantropólogos brasileiros, especialmente no quediz respeito ao conteúdo das relações entrenegros e brancos no Brasil. O esquecimento,por parte do antropólogo ou sociólogo, aoanalisar o processo de interação, da posiçãoestrutural das respectivas etnias portadorasde padrões de cultura diversos (sem levar-seem conta, portanto, a estrutura social em queesse processo de contato se realiza) leva aque se tenha, no máximo, uma compreensãoacadémica do problema, nunca, porém, o seuconhecimento captado no processo da própriadinâmica social. Isto porque, antes deexaminarmos esses contatos culturais, temosde situar o modo de produção no qual eles se
realizam, sem o que ficaremos sempossibilidade de analisar o conteúdo socialdesse processo. É sobre exatamente essaproblemática teórica que iremos tecerconsiderações para reflexão epistemológicados interessados.
Queremos nos referir, aqui,particularmente, aos conceitos de sincretismo,assimilação, acomodação e aculturação quando aplica-dos em uma sociedade poliétnica, e,concomitantemente, dividida em classes ecamadas com interesses conflitantes e/ouantagónicos, interesses e conflitos queservem de combustível à sua dinâmica, ou seja,
produzem a luta de classes, para usarmos otermo já mundialmente consagrado nas ciênciassociais. Achamos, por isto, que não seráinútil remetermos o leitor a uma posiçãoreflexiva em relação àquilo que nos pareceser mais importante para levar a antropologiae as ciências sociais de um modo geral (numpaís como o nosso, poliétnico e, ao mesmotempo, subordinado a um pólo metropolitanoexterno) a terem um papel mais vinculado àprática social, saindo, assim, de uma posiçãode ciência pura e contemplativa, equidistanteda realidade empírica e somente reconhecidana sua práxis académica (teórica). A revisãodesses conceitos tão caros a uma certaciência social colo-nizadora, usada pelocolonizado, remete-nos à própria origem daantropologia e à sua função inicial demuniciadora do sistema colonial, à atividadeprática que exerceu no sentido de racionalizar ocolonialismo e à necessidade de umareavaliação crítica do seu significado noconjunto das ciências sociais. A sua posiçãoeurocêntrica e umbi-licalmente ligada àexpansão do sistema colonial deixou, como nãopodia deixar de ser, uma herança ideológicaque permeia e se manifesta em uma série deconceitos básicos, até hoje usados pelosantropólogos em nível significativo.
No caso particular do Brasil, o fenómenose reproduz quase que integralmente. Como paísde economia reflexa, evidentemente repro-duzimos o pensamento do pólo metropolitano deforma sistemática, fato que se pode constatarnão apenas no que diz respeito à antropo-logia, de presença bem recente, mas no nossopensamento social do passado. Desta forma, aocolocarmos em discussão os conceitos acimaexplicitados, devemos dizer que o traumatismode nascimento não é apenas da antropologia noBrasil, mas do nosso pensamento social de ummodo geral, quase todo ele influenciado, emmaior ou menor nível, pela ideologia docolonialismo.
Aliás, o caráter de municiador ideológico
da política das metrópoles por parte daantropologia já foi destacado e denunciadopor inúmeros sociólogos, os quais,insatisfeitos com a estrutura conceituaiformalista dos antropólogos metropolitanos(colonizadores), começam a fazer uma revisãodos seus conceitos e da sua função. Nestesentido, numa aproximação crítica geral doassunto, o professor Ka-bengele Munangaescreve que
Para se compreender a manifestação de resistência ea persistência desta atitude de recusa daantropologia estrangeira pelas populaçõesafricanas, faz-se necessário fazer a históriacrítica ou a crítica ideológica da antropologiadesde os inícios da colonização até as indepen-
36 S1NCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
dências desses países e mesmo depoisdasindependências, na situação chamada"neocolonialismo".'
Da nossa parte, já havíamos escrito em outro local que...a substituição do proletário pelo primitivo não foi,contudo, um caso fortuito. Veio preencher aquelevazio de estudos que se fazia sentir sobre asrelações metrópole/colónia colocadas na ordem do diapor uma série de fatores. Ora, essa literaturaespecializada ao tempo em que mostrava a temeridadede se procurar elevar o nível de vida dessas po-pulações nativas criava técnicas de controlecolonial, exercendo as autoridades domínio completoatravés dos chefes tribais. A destribalização eradesaconselhada exatamente porque os nativos aoabandonarem os seus valores originais se inseriamnum universo de ação completa-mente novo. Daí ointeresse desses antropólogos em estabeleceremtécnicas de controle partindo dos elementos nativosque mantinham o prestígio social entre os membrosdas respectivas tribos.2
Kabengele Munanga, citando vários outrosautores, refere-se a S. Adotevi, do Daomé, oqual submeteu essa antropologia colonialista(etnologia) a uma crítica radical econtundente.3 Esta visão crítica está seavolumando e, mais recentemente, osprofessores I. Grigulévitch e Semión Koslov,além de uma crítica teórica radical,detiveram-se na artálise das vinculaçõesdessa ciência com órgãos de inteligência esegurança das nações neocolonizadoras. 4
Centrando a sua análise na funçãoneocolonizadora dessa antropologia, oprofessor Maurício Tragtenberg escreve:
Mais nítida é a vinculação entre o imperialismo e aantropologia. Por ocasião do fim da Guerra dos Boers(1899/1902), os antropólogos ingleses procuravamaplicar seus conhecimentos tendo em vista fins prá-ticos. O Royal Antropological Institute apresentou,na época, ao Secretário de Estado para as Colónias,a proposta para que se estudassem as leis einstituições da diferenciação tribal na África do
Sul. Tal estudo tinha em mira criar uma basepolítica administrativa "racional". A administraçãodos povos coloniais sempre foi considerada terrenoprivilegiado para a aplicação do conhecimentoantropológico. Os governos coloniais tinham noçõesdiversas sobre a rapidez do processo de"ocidentalização" dos "primitivos".5
O mesmo autor passa a enumerar a funçãoinstrumental dessa antropologia — chamadospor ele de antropólogos coloniais — comofuncionários da Administração Colonial nascolónias inglesas da África Tropical, dandocursos de antropologia aos governos domi-nadores. A pedido da Administração Colonial,Meyer-Fortes escreveu sobre costumesmatrimoniais dos Tallesi e Rattgray escreveu
ANTROPOLOGIA E NEOCOLONIALISMO 37
sobre os Ashanti, tudo isto objetivando ocontrole colonial, via controle cultural.Houve também em Tanganica experimentos deantropologia aplicada nos quais umantropólogo pesquisou com base em perguntasespecíficas formuladas por um burocratacolonial. O governo britânico na Nigéria eCosta do Ouro sempre partilhou a ideia de queos nativos com posição tradicional erammelhores agentes locais da política dogoverno, o mesmo ocorrendo com o colonialismobelga que na formação dos funcionários,segundo o antropólogo Ni-caise, dedicava maistempo ao estudo da etnografia e do direitocostumeiro do que a Grã-Bretanha. Mas estavinculação da antropologia com o sistemacolonial vai mais além. Em 1926, fundou-se oInstituto Internacional Africano paradedicar-se à pesquisa em antropologia elinguística. O conhecimento (dos povosnativos) ajudaria o administrador a fomentaro crescimento de uma sociedade orgânica sã eprogressiva. O East African Institute, por seuturno, especializou-se em estudar asconsequências sociais da emigração da mão-de-obra, as causas de as deficiências dos chefesde aldeias africanas atuarem como agentes dapolítica do governo colonial.
O Rhodes Livingstone Institute estudou aurbanização nas minas de cobre da ÁfricaCentral e o West African Institute pesquisouas populações empregadas nas exploraçõesagrícolas da Cameroons DevelopmentCorporation.
Mas estas pesquisas não se limitavam àárea de exploração económica das regiõescolonizadas. Desdobravam-se também em auxi-liares de objetivos militares. Diz MaurícioTragtenberg que é "por ocasião da SegundaGuerra Mundial que o governo norte-americanoempregou antropólogos com a finalidade de explicar acultura das zonas ocupadas àqueles membros do Exército queprecisavam do trabalho dos nativos como operários, oumensageiros". 6 Depois de citar numerosos outros
exemplos da aplicação da antropologia emprojetos militares por parte doscolonizadores, Maurício Tragtenberg conclui:
O conhecimento antropológico pode servirãoimperialismo; desse modo, um "antropólogo crítico"não poderá "esquentar" durante muito tempo cadeirano Centre National de Recherche Scientifique ou naUniversidade de Cambridge. Especialmente se ele forvoltado ao atual.7
Como vemos há, de fato, uma vinculaçãoentre as formulações teóricas e ainstrumentalidade dessa antropologia. Daí umpesquisador citado por Michel T. Clareafirmar que "outrora, a boa receita para vencer aguerrilha era ter dez soldados para cada guerrilheiro; hoje, dezantropólogos para cada guerrilheiro". 8
3» SINCRET1SMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
2. Do "primitivismo fetichista" Mas,voltando àquiloà "pureza" do cristianismo que nosinteressa de
modo central,queremos destacar aqui que certos conceitosda antropologia revelam, de formatransparente, outras vezes em diagonal, a suafunção de ciência auxiliar de uma estruturaneocolonizadora.
Sobre o conceito de sincretismo, tão usadopelos antropólogos brasileiros que estudam asrelações interétnicas no particular da reli-gião, convém destacar que até hoje ele éusado, quase sempre, para definir um contatoreligioso prolongado e permanente entremembros de culturas superiores e inferiores.A partir daí, de um conceito de religiõesanimistas em contato com o catolicismobasicamente superior, o qual é, na maioriadas vezes, a religião do próprio antropólogo,passa-se a analisar os seus efeitos.
O professor Waldemar Valente, em umtrabalho muito difundido e acatado sobre osincretismo afro-brasileiro/católico, assimdefine o processo:
O trabalho do sincretismo af ro-cristão, a princípio,como já tivemos ocasião de assimilar, não passou demera acomodação. Tal fenómeno, como já ficouacentuado, foi devido à momentânea incapacidademental do negro para assimilar os delicadosconceitos do Cristianismo. A impossibilidade de umarápida integração. Condição que não deve ser me-nosprezada na obra de assimilação, que constitui, aonosso ver, o processo final do sincretismo, é otempo. O que parece certo, como tivemosoportunidade de chamar a atenção, é que os negrosrecebiam a religião como uma espécie de anteparopor trás do qual escondiam ou disfarçavamconscientemente os seus próprios conceitosreligiosos. (...) Das pesquisas que temos realizadona intimidade dos xangôs pernambucanos não nos temsido difícil constatar a influência sempre crescenteque o catolicismo vem exercendo sobre o fetichismo
africano.9
Queremos destacar, aqui, a forma comoWaldemar Valente coloca o problema dosincretismo: de um lado o cristianismo (aliásele escreve a palavra com C maiúsculo) e, deoutro, o fetichismo africano. Uma religiãodelicada (superior) e outra fetichista(inferior). Daí, evidentemente, a influênciasincrética ter de ser como ele conclui, cres-cente da dominante (superior) sobre adominada (inferior) ou, para continuarmos nomesmo nível de argumentação por eledesenvolvido: os negros, membros de umareligião fetichista, por incapacidade mental,"não tinham condições de assimilar, em curtoprazo, os delicados conceitos doCristianismo", o que somente se verificaria(após
____________DO "PRIMITIVISMO FETICHISTA" À "PUREZA" DO CRISTIANISMO 39
um período de acomodação) através dainfluência crescente do cristianismo(religião superior) nos xangôs do Recife.
Jamais Waldemar Valente viu apossibilidade inversa, isto é, a influênciacada vez maior daquelas religiões chamadasfetichistas no âmago das "delicadezas" docristianismo. Não foi visto que dentro de umcritério não-valorativo não há religiõesdelicadas ou fetichistas, mas, em determinadocontexto social concreto, religiões domi-nadoras e dominadas. No nosso caso, dentroinicialmente de uma estrutura escravista, ocristianismo entrava como parteimportantíssima do aparelho ideológico dedominação e as religiões africanas eramelementos de resistência ideológica e socialdo segmento dominado. Parece-nos que estájustamente aqui a necessidade de se analisara influência do conceito de sincretismocriticamente, pois ele inclui um julgamentode valor entre as religiões inferiores esuperiores que, pelo menos no Brasil,reproduz a situação da estrutura social dedominadores e dominados.
Numa outra aproximação crítica, destavez sobre o problema específico dosincretismo lato sensu, Juana Elbein dos Santosescreve que:
Desde bruxaria, magia, sistema de superstição,fetichismo, animismo, até as mais pudicasdominações dos cultos afro-brasileiros, toda umamultiplicidade de designação leva implícito negar ocaráter de religião ao sistema místico legadopelos africanos e reelaborados pelo seusdescendentes, despojando-os de valorestranscendentais e encobrindo sobretudo o papelhistórico da religião como instrumento fundamental— já que a independência espiritual foi durantelongo tempo a única liberdade individual do negro— que nucleou os grupos comunitários que seconstituíram em centros organizadores daresistência cultural e da elaboração de um ethosespecífico que resistiu às pressões de
desvalorização e de domínio. (...) A religião afro-brasileira, assim como o cristianismo, é o resultadode um longo processo de seleção, associações,reinterpretações de elementos herdados e outrosnovos, cujas variações foram se estruturando deacordo com as etnias locais e de um inter-relacionamento sócio-econômico, mas todas elasdelineando um sistema cultural básico que serviu deresposta às instituições oficiais.10
O painel de visualização aqui é bem outrona colocação e interpretação do problema dasreligiões e do processo sincrético. Já nãotemos, agora, conforme se vê, a superioridadee delicadeza do cristianismo e o fetichismodas religiões africanas, fato que levaria aque o cristianismo superior pulverizasse oufragmentasse, neutralizasse ou inferiorizasseos valores religiosos das camadas animistasdominadas.
40 SINCRET1SMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
A falta de capacidade de captar as abstraçõesda religião superior é reanalisada e o universoreligioso afro-brasileiro resgatado. JuanaEl-bein dos Santos não hierarquiza, masdesenvolve um pensamento que demonstrasatisfatoriamente que tanto as religiõesafricanas e de seus descendentes como ocristianismo passaram pelo mesmo processo deelaboração genética. A diferenciação somentesurge em consequência da inferiorizaçãosocial, cultural e política daquelaspopulações que foram trazidas coercitivamentepara o Brasil. É uma visão do dominador e nãoda religião superior que a autoradesmistifica.Cabe, portanto, agora, um momento dereflexão: até que ponto os antropólogosbrasileiros, ou principalmente aquelesinfluenciados por um culturalismocolonizante, analisam e interpretam a in-fluência dessas religiões a partir dos padrõesda religião dominadora? O sincrético, paramuitos deles, somente é analisado a partir dainferioridade das religiões do dominado, razãopela qual a ótica analítica sempre partedaquilo que se incorporou ao espaço religiosodo dominado, porém nunca, ou quase nunca,daquilo que o dominado incorporou emodificou no espaço religioso do dominador,concluindo-se, por isto, o processo aindasegundo Waldemar Valente e outros que seguema mesma orientação teórica, na assimilação. Comovemos, há uma axiologia implícita,subjacente, nesta forma de analisar-se ocontato entre os dois universos religiosos:religiões africanas e afro-brasileiras ecristãs, especialmente católica. Aassimilação seguirá apenas um caminho, nãohavendo possibilidade de um processo inverso?A esta possibilidade reage institucionalmen-te a religião dominadora, criando sançõescontra essa contaminação à sua "pureza". n
Pretendemos demonstrar que, mesmoinconscientemente, o referencial básico decomparação, nesses estudos e pesquisas, é areligião dominante, considerada, por extensão,como superior. A posição de antropólogos, quese dizem imparciais, "científicos", não sedistancia muito do que estamos afirmando.Partem de um critério sub-jetivista,eurocêntrico (algumas vezes paternalista e/ouromântico), por não considerarem ascontradições sociais no seio das quais esseprocesso sincrético se realiza, para concluírempela assimilação da religião oprimida noconjunto místico da religião dominadora.
Mesmo os católicos que desejam dar umavisão humanista à compreensão da inter-relaçãoentre religiões diferentes têm de considerar ocristianismo (muitas vezes o catolicismo) comoo referencial superior. 12
____________DO "PRIMITIV1SMO FETICH1STA" À "PUREZA" DO CRISTIANISMO 41
O teólogo Leonardo Boff, por exemplo,refletindo esta limitação, expõe assim oassunto:
Pode ocorrer o processo inverso: uma religiãoentra em contato com o cristianismo e, ao invés deser convertida, ela converte o cristianismo paradentro da sua identidade própria. Elabora umsincretismo utilizando elementos da religiãocristã. Ela não passa a ser cristã porquesincretizou dados cristãos. Continua pagã earticula um sincretismo pagão com conotaçõescristãs. Parece que algumas pesquisas têm reveladoeste fenómeno com a religião (candomblé ou nagô) noBrasil.13
Mas, prossegue o mesmo autor:Isto não significa que a religião yoruba sejadestituída de valor teológico. Significa apenasque ela deve ser interpretada não dentro dosparâmetros intra-sistêmicos do cristianismo como sefora uma concretização do cristianismo, como é, porexemplo, o catolicismo popular, mas no horizonteda história da salvação universal. A religião yo-ruba concretiza, ao seu lado, o oferecimentosalvífico de Deus; não é ainda um cristianismotemático que a si mesmo se nomeia, mas, por causado plano salvífico do Pai em Cristo, constitui umcristianismo anónimo.14
A tese, decodificada para uma linguagemantropológica, significa a assimilação, atransformação das religiões afro-brasileiras, em última instância, emcristianismo popular, em religião que sepurifica ao se aproximar dos valoresdogmáticos do cristianismo, embora comespaços de concessão liberados pelosteólogos.
Queremos centrar a nossa análise nopresente momento no sincretismo que severifica entre as religiões afro-brasileirase o cristianismo, especialmente ocatolicismo, e, por isto, não iremos darexemplos — históricos e atuais — de como ofenómeno acontece no que diz respeito aocontato entre as religiões indígenas e os
grupos ou instituições cristãs. 1S
Para esses estudiosos, antropólogos,sociólogos e/ou sacerdotes, de váriasformações teóricas mas todos convergindosincronica-mente nas conclusões, depois de umperíodo de acomodação (período de resistência,portanto, pois a acomodação pressupõe aconsciência pelo menos parcial do conflito) oprocesso deverá desembocar fatalmente naassimilação. E com isto as religiões afro-brasileiras, por inferiores, fetichistas, e,por isto mesmo, incapazes de dar resposta àsindagações e inquietações místicassatisfatórias dos afro-brasileiros, seriamdiluídas na estrutura do catolicismo, religiãocapaz de responder, a essas indagações àmedida que os afro-brasileiros fossem se ca-pacitando mentalmente a entender asdelicadezas do catolicismo.
n S1NCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
3. Assimilação O problema da assimilação, no seu as-para acabar com pecto lato, tem uma conotação políti-a cultura colonizada ca. A política assimilacionista foi,
sempre, aquela que asmetrópoles pregavam como solução ideal paraneutralizar a resistência cultural, social epolítica das colónias. O chamado processocivilizatório (as metrópoles tinham sempre umpapel "civilizador") era transformar aspopulações subordinadas aos padrões culturaise valores políticos do colonizador. Esteaspecto já foi analisado por Amílcar Cabral.Diz ele:
É, por exemplo, o caso da pretensa teoria daassimilação progressiva das populações nativas, que nãopassa de tentativa, mais ou menos violenta, de negara cultura do povo em questão. O nítido fracasso desta"teoria", posta em prática por algumas potênciascoloniais, entre as quais Portugal, é a prova maisevidente da sua inviabilidade, senão mesmo do seucaráter desumano. (...) Estes fatos dão bem a medidado drama do domínio estrangeiro perante a realidadecultural do povo dominado. Demonstram igualmente aíntima ligação, de dependência e reciprocidade, queexiste entre o fato cultural e o fato económico (político) nocomportamento das sociedades humanas. (...) O valorda cultura como elementos de resistência ao domínioestrangeiro reside no fato de ela ser a manifestaçãovigorosa, no plano ideológico ou idealista, darealidade material e histórica da sociedade dominadaou a dominar. Fruto da história de um povo, acultura determina simultaneamente a história pelainfluência positiva ou negativa que exerce sobre aevolução das relações entre o homem e o seu meio eentre os homens ou grupos humanos no seio de umasociedade, assim como entre sociedades diferentes.16
No caso específico do Brasil em relação àsculturas afro-bra-sileiras há nuançasdiferenciadoras, pois não estamos diante de umpaís ocupado por membros de uma populaçãoestrangeira, mas o conteúdo doassimilacionismo, a sua estratégia ideológica
é a mesma. Todas as técnicas de incentivo àassimilação, desde a catequese e cristianiza-ção aos planos regionais e "científicos" deetnólogos contratados por instituiçõescolonizadoras, foram e continuam a serempregadas para que a assimilação sejaacelerada. Apesar dessas nuanças específicasnas relações interétnicas entre "brancos" enegros no âmbito do contato religioso, oaparelho de dominação ideológico da religiãocatólica dominadora continua atuando nosentido de fazer com que, via sincre-tismo,as religiões afro-brasileiras sejamincorporadas ao bojo do catolicismo epermaneçam assimiladas no nível de catolicismopopular. Estabelecida uma escala de valores emcima das diferentes religiões em contato eelegendo-se o catolicismo como religiãosuperior,
______________ASSIMILAÇÃO PARA ACABAR COM A CULTURA COLONIZADA 43
teremos como conclusão lógica a necessidade dese fazer com que as religiões chamadasfetichistas, inferiores, se incorporem,também, aos padrões católicos ou cristãos deum modo geral, da mesma forma como, noscontatos étnicos, se apregoa um branqueamentoprogressivo da nossa população, através damiscigenação, até chegar-se a um tipo o maispróximo possível do branco europeu.
Essa assimilação assim concebida tem umaessência escamotea-dora da realidade viavalores neocolonialistas, ideologia que aindafaz parte do aparelho de dominação das classesdominantes do Brasil e de grandes camadas porelas influenciadas. Tomando-se como pers-pectiva de análise uma visão alienada doproblema, a conclusão que se tira é de que,de fato, essas religiões fetichistasexistentes devem ser incorporadas àscivilizadas e os seus membros ou grupos, nãoassimilados, transformados em quistos exóticos, emreservas religiosas que não mais representam ospadrões da cultura que foi e está sendoelaborada: a cultura nacional. Folclorizam-se,então, esses cultos religiosos não-assimiladose eles são apresentados e/ou estudados comorepresentantes de religiões enlatadas,resquícios do passado, fósseis religiosos semnenhuma função dinâmica no presente.
Folclorizados os grupos representativosdas religiões afro-brasileiras, passa-se anão se ver mais funcionalidade nas mesmas,isto é, elas não desempenhariam mais nenhumpapel religioso dinâmico, mas, apenas, servempara serem vistas, de fora para dentro, como,não direi um espetáculo, mas como amostragem deuma manifestação religiosa que não se encaixamais no sentido da dinâmica da sociedadebrasileira e da sua cultura nacional. São,portanto, ob-jetos de estudo para sedemonstrar como a assimilação incorporou aspopulações afro-brasileiras ao processocivilizatório; e a conservação dessas
religiões, por outro lado, serve para mostrara existência de grupos que não tiveramcondições de acompanhar o ritmo assimi-lacionista do nosso desenvolvimento social,cultural e religioso, atrasando-se nahistória.
Em cima disto há, evidentemente, toda umaprodução académica bastante diversificada.Há, mesmo, a participação de personalidades eautoridades académicas em reuniões deentidades religiosas negras, todas, porém, oua sua maioria esmagadora, vendo as religiõesafro-brasileiras como componentes inferioresdo mundo religioso institucional. O própriopaternalismo de alguns, que no passado sepropuseram paradoxalmente a dar umaassistência psiquiátrica a essas entidades(Ulisses Pernambuco, em Recife), bem demonstracomo ainda estamos longe de ver essasreligiões como um dos compo-
44 SINCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
nentes normais do mundo religioso de uma grandeparte da nossa sociedade, da mesma forma queas religiões de outras etnias que para aquivieram.
O que não se pode aceitar, mesmo sem setomar nenhum partido religioso específicodesta ou daquela religião — como é o nossocaso — é ver-se as religiões afro-brasileirasconsideradas como coisas exóticas, e, aomesmo tempo, defender-se o reconhecimento dodireito — aliás plenamente justificável — paraoutras religiões que vieram posteriormente,como o budismo, do grupo japonês. Elas já seincorporaram aos padrões da nossa cultura,pelo menos regionalmente, mas as religiõesafro-brasileiras devem ser assimiladas pelospadrões do catolicismo.
O que significa, em última instância, esseinteresse assimilacio-nista da parte deentidades governamentais, grupos einstituições religiosas, segmentos da própriacomunidade científica em relação às religiõesdos descendentes de africanos? Temos decristianizar os adeptos dessas religiões damesma forma como temos de branquear a nossapopulação? Por que o candomblé e outrasformas de manifestação do mundo religiosoafro-brasileiro devem ser vigiados,fiscalizados, assistidos e, muitas vezes,perseguidos, enquanto as demais religiõesconseguem manter, conservar e desenvolver,dentro de padrões institucionais, os seusnichos religiosos, sem que sejam consideradasinferiores, exóticas, fetichistas, animistasou patológicas?
É sobre este assunto que iremos nos deterno nosso último nível de reflexão sobre oassunto. As religiões africanas, ao seremtransplantadas compulsoriamente para oBrasil, faziam parte de padrões culturaisdaquelas etnias que foram transformadas empopulações escravas. Essas religiões assimtransportadas eram, por inúmeros mecanismosestabelecidos pelo aparelho de dominaçãoideológica colonial, consideradas oriundas de
populações "bárbaras" e que, por isto mesmo,foram escravizadas. A religião dominante, doescravizador, no caso concreto que estamosanalisando, o catolicismo, fazia parte dessemecanismo de dominação não apenas no nívelideológico, mas, também, em nível departicipação estrutural no processo deescravização dessas populações.
Outro conceito abundantementeutilizado pelos nossosantropólogos e sociólogos noestudo das relações
interétnicas no Brasil, especialmente norelacionamento entre brancos e negros é o deaculturação.
4.Aculturação
ACULTURAÇÃO SUBSTITUI A LUTA DE CLASSES 45
Temos a impressão, mesmo, de que esteconceito foi o mais usado nos últimos anospelos cientistas sociais brasileiros naabordagem do assunto. O conceito de aculturaçãoé empregado constantemente como aquele queexplicaria e definiria de forma abrangente esatisfatória as formas de contato permanentee as transformações de comportamento entre apopulação negra dominante (antes da Abolição,escrava; depois, marginalizada) e os gruposrepresentativos da cultura dominante do pontode vista económico, social e, por extensão,cultural. Ora, este conceito, cunhadoexatamente para explicar o contato entreaquelas culturas que se expandiam comotransmissoras da "civilização"(colonizadores) e aqueles povos dominados,agrafos, considerados portadores de uma culturaprimitiva, exótica (colonizados) e cujos padrões,por isto mesmo, eram mais permeáveis a umainfluência modificadora por parte da culturadominadora, tem limitações científicasenormes.
Toda a manipulação conceituai objetivavaa demonstrar como nesse contato cultural ospovos dominados sofriam a influência dosdominadores e disto resultaria uma síntese naqual os dominados também transmitiriam partedos seus padrões à dominadora que osincorporaria à sua estrutura cultural básica.Com isto, os povos acul-turados seriambeneficiados. Era como se não houvessecontradições sociais estruturais quedificultassem e/ou impedissem que os padrõesculturais de etnias ou povo dominado fosseminstitucionalizados pela sociedadedominadora. Isto é, que religião,indumentária, culinária, organização familiardeixassem de ser vistas como padrõespertencentes a minorias ou grupos dominados epassassem à posição de padrões dominantes.
Na verdade as coisas acontecem de forma
diferente. No Brasil, o catolicismo continuasendo a religião dominante, a indumentáriacontinua sendo a ocidental-européia, aculinária afro-brasileira continua sendoapenas uma cozinha típica de uma minoria étnica eassim por diante. Isto é, no processo deaculturação os mecanismos de dominaçãoeconómica, social, política e culturalpersistem determinando quem é superior ouinferior.
Para os culturalistas, no entanto, o atode "dar e tomar" os traços e complexosculturais seria um todo harmónico efuncionaria como simples acréscimosquantitativos de cada uma das culturas emcontato. Os elementos de dominação estrutural— económico, social e político — de uma dasculturas sobre a outra ficaram diluídos por-que esses contatos permanentes trocariamsomente ou basicamente
o superestrutura!. Religião, indumentária,culinária, organização familiar entrariam emintercâmbio, mas, esse movimento, essadinâmica de dar e tomar não se estenderia àsformas fundamentais de propriedade,continuando, sempre, os membros da culturasuperior como dominadores e da inferior comosocialmente dominados por manterem os membrosda primeira a posse dos meios de produção.
O culturalismo exclui a historicidade docontato, não retratan-do, por isto, asituação histórico-estrutural em que cadacultura se encontra nesse processo. Destaforma não se pode destacar o conteúdo socialdo processo e não se consegue visualizarcientificamente quais são aquelas forças queproporcionam a dinâmica social e que, ao nossover, não têm nada a ver com os mecanismos docontato entre culturas. Para nós estedinamismo não está nesse contato horizontalde traços e complexos de culturas mas naposição vertical que os membros de cadacultura ocupam na estrutura social, ou seja,no sistemade propriedade.
Isto quer dizer que a aculturação nadatem a ver com os mecanismos impulsionadoresda dinâmica social nem modifica, no funda-mental, a posição de dominados dos membrosda cultura subalternizada.
Em outras palavras: os negros brasileirospodem continuar se aculturando constantementeinfluindo na religião, na cozinha, na in-dumentária, na música, na língua, nas festaspopulares, mas, no fundamental, esse processonão influirá nas modificações da sua situaçãona estrutura económica e social da sociedadebrasileira, a não ser em proporções não-significativas ou individuais.
Com isto queremos dizer que os mecanismosque imprimem dinâmica à estrutura de qualquer
sociedade poliétnica, dividida em classes,está em um nível muito mais profundo do queaqueles níveis da aculturação que não têmforças para produzir qualquer mudança so-cial. Essa dinâmica surge de mecanismosinternos das estruturas das sociedadespoliétnicas, estabelecendo ritmos maiores oumenores de transformação. Enquanto aaculturação realiza-se em um plano passivo,a sociedade na qual essas culturas estãoengastadas aciona outras forçasdinamizadoras que nascem dos antagonismossurgidos da posição que os membros ou gruposde cada etnia ocupam no processo deprodução.
Daí não podermos aceitar o conceitoaculturação como aquele que iria explicar asmudanças sociais, mas, pelo contrário,achamos que a aculturação em uma sociedadecomposta de uma cultura domi-
nadora e de outras dominadas estimula adesigualdade social dos membros das dominadasatravés de mecanismos mediadores que neu-tralizam a revolta dos membros das culturasdominadas. Através desses mecanismosmediadores os membros das culturas dominadassubmetem-se ao controle da cultura dominante.
No particular, concordamos com G.Lienhardt quando afirma que "é necessáriodistinguir entre cultura, como soma dosrecursos materiais e morais de qualquerpopulação e os sistemas sociais". 17
Isto porque os mecanismos que produzem amudança cultural têm pouca relação com aquelesque produzem a mudança social. O problema deuma sociedade poliétnica dividida em classesnão pode ser resolvido apenas através daaculturação. Muitas vezes, pelo contrário, aaculturação pode servir para dificultar,amortecer ou diferenciar o processo de mudançasocial. Isto porque a estrutura social temmecanismos diferentes daqueles que atuam noplano cultural. No caso específico do Brasilqueremos dizer que enquanto se realizou intensae continuamente o processo de aculturação,pouco se modificou no nível económico, sociale político a situação do negro portador dasculturas africanas.
Em palavras mais simples, esclarecedoras eobjetivas: a aculturação não modifica asrelações sociais e consequentemente asinstituições fundamentais de uma estruturasocial. Não modifica as relações de produção. Noque diz respeito à sociedade brasileira, no seurelacionamento interétnico, podemos dizer que háum processo constante daquilo que se poderáchamar aculturação. Uma interação que leva aque muitos traços das culturas africanas e afro-brasileira realizem uma trajetória permanente decontato com a cultura dominante, aparecendoisto como uma realidade no cotidiano dobrasileiro. No entanto, do ponto de vistahistórico-estrutural, a nossa sociedade passouapenas por dois períodos básicos que foram: a)até 1888 uma sociedade escravista; b) de 1889até hoje uma sociedade de capitalismodependente.
A circulação de traços das culturas
africanas, seu contato com a culturaocidental-cristã dominante, finalmente, oscontatos horizontais no plano cultural, quasenada influíram para mudanças substantivas dasociedade brasileira. O culturalismo, comovemos, não dá elementos de análise einterpretação para saber-se as causas que de-terminaram essas mudanças. Conforme veremosem outro capítulo deste livro, as populaçõesdescendentes das culturas africanas, apesardo grande ritmo e intensidade do processoaculturativo, continuam congeladas nas maisbaixas camadas da nossa sociedade. Os níveisde dominação e subordinação quase que não semodificaram durante praticamente quinhentosanos. A dinâmica social que produz a mudançadepende de um conjunto de causas que nadatêm a ver com
50 SINCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
Alguns antropólogos no Brasil, ao sentir ainsuficiência dos métodos culturalistas e dosseus conceitos fundamentais, como o de acul-turação, procuram completá-los com apsicanálise. Artur Ramos foi o maisrepresentativo desses cientistas sociais. Eleacreditava, mesmo, que a junção da psicanálisecom o método histórico-cultural seria a chavepara a compreensão científica das relaçõesinterétnicas no Brasil. Esse conceito —aculturação — surgiu exatamente para racionalizaros contatos entre membros de sociedades ougrupos sociais colonizados e grupos dedominação colonizadores. Isto Ramos não viu.A sua junção com a psicanálise, numa opçãopendular, demonstra a resistência dessescientistas sociais a uma opção pelo métododialético diante do problema. Artur Ramos, poristo mesmo, escreve em 1937:
O método histórico-cultural em etnologiaevidentemente veio trazer novas luzes e múltiplosproblemas de génese e desenvolvimento das culturasmateriais e espirituais dos grupos humanos. Masnão resolveu certas questões de psicologia social,ainda pendentes de solução. Para os que me criticamum não-exclusivismo na aplicação daquele método aosmeus livros sobre as culturas negras no Brasil,lembro que hoje certos tratadistas se batem poruma conciliação de critérios metodológicos. (...)Por outro lado há uma aproximação, cada vez maior,entre os historiadores e os psicólogos. Destacoapenas os interessantíssimos trabalhos de KurtLewin, aplicando à psicologia social os resultadosmetodológicos da Gestalt, e os de Sapir e demultidão de outros autores aproximando aantropologia cultural da psicanálise.1S
Esta opção pendular entre antropólogosque sentem a insuficiência do métodohistórico-cultural ou funcionalista e assumemuma postura crítica em relação aos mesmos,substituindo-os pela psicanálise, persiste atéhoje. Por exemplo, o Cultural Scientist (antropólo-go) Gerard Kubik, ao criticar as posiçõesculturalistas, propõe a explicação do
comportamento dos colonialistas através decategoriasda psicanálise.
Gerard Kubik esteve em 1965 no ContinenteAfricano, especialmente em Angola, onde exerceuintensa atividade como pesquisador,particularmente sobre as instituições mukandado leste daquele país. Em entrevista concedidaao suplemento Vida & Cultura, de Luanda, combatesistematicamente o conceito de aculturação.Afirma:
Eu hoje recuso o termo aculturação porque baseia-seem concepções que não são aceitáveis cientificamentepara nós que queremos estudar uma cultura na suaprópria expressão. A aculturação é quase uma
ACULTURAÇÃO SUBSTITUI A LUTA DE l
estrada de uma só direção e a sua base ideológicaencontra-se em noções de superioridade cultural deum povo e na inferioridade cultural de outro.Uma ideia que eu não posso aceitar por não terqualquer evidência é a de que na Terra existemculturas superiores e culturas inferiores. Umacultura nunca é superior ou inferior. Ela explica-se estruturalmente, ou seja, pelo seu conteúdo.Não há culturas superiores e inferiores. Esseprocesso, aculturação, baseia-se numa ideologiaque defende a existência de diferenças dequalidade entre culturas e propõe teoricamente queas "culturas inferiores" devam adaptar-se às"culturas superiores": as culturas "fracas" às"mais fortes" (isto é outra forma de dizersuperior/inferior).Assim como, de um ponto de vista colonialista, asculturas africanas eram consideradas inferiores,também nas culturas africanas no Novo Mundo (noContinente Americano) foram supostas de se teremacultu-rado às culturas europeias. Tal conceitonão é aceitável porque não há provas científicasque exista tal aculturação. Hoje, o estudo do con-tato cultural, do intercâmbio cultural que se fazquando populações de culturas diferentes seencontram, para estudar estes fenómenos, aceitamosmuito mais a concepção que foi pronunciada pelaprimeira vez por Fernando Ortiz: a concepção detransculturação.
E prossegue Gerard Kubik:O Brasil é um formidável exemplo de transculturaçãoentre culturas africanas de várias origens (Yoruba,Kimbundu, Umbundu) da cultura luso-brasileira eoutros elementos de culturas europeias. O Brasil éum bom exemplo mas também Cuba, Haiti e outrospaíses da América Latina. Mesmo em África, porexemplo, Luanda também tem a sua cultura particularque mostra muitos elementos de transculturação.Depois de criticar o conceito de
aculturação, substituindo-o pelo detransculturação 19, Kubik procura explicar comoserá possível fazer-se uma interpretaçãocientífica do contato entre culturas. Aí elevolta à solução pendular (culturalismo-psicanálise, psicanálise-culturalismo) deforma unilateral. Afirma neste sentido:
... um europeu, no tempo colonial, chega pela
primeira vez à África, encontra aqui uma culturadiferente da sua. Como reagirá? Ele vai Identificaro comportamento das pessoas de África como uma coisaque ele não sabe que está na sua psique. Às vezescomo urna coisa que ele reprime, mesmo por força dosseus parentes. Isto chama-se projeção. (...) Oeuropeu projeta a sua própria personalidadeinconsciente que ele determina como inferior para osafricanos. Isto quer dizer que o europeu encontraem si mesmo o que ele entende como uma personalidadeinferior e identifica-a com os africanos. Isto é omecanismo psicológico que se passa em muitoseuropeus e que os leva a reações como: se esteeuropeu não aceita nada da sua personalidaderepri-
mida, ele cria uma forma de separação para se proteger, para se defender porque os homens da outra cultura, neste caso os africanos, que este europeu identifica com a sua personalidade, que ele pensa inferior, são ao mesmo tempo uma tentaçãopara ele porque no seu (ntimo ele gostaria de viverassim e de fazer exatamente o que ele pensa que os africanos representam. Como reação da sua personalidade, que ele diz inferior, ele pode estabelecer uma barreira, que pode ser mesmo institucionalizada. Conduz ao que encontramos na África do Sul que é a reação que se poderia chamar reação "apartheid". Ele faz uma separação, ele vive, mas não quer viver junto dos membros da outra cultura, ele vive de uma forma separada. Isto é uma reação porque se viver com os membros da outra cultura, para ele é um perigo.20 Esta longa citaçãoé para informar o leitor como certos cientistas sociais, ao sentirem a insuficiência dos métodos culturalistas, caem em explicações mais absurdasainda. Ora, o que Gerard Kubik não analisou foipor que este mesmo fenómeno não se reflete no sentido inverso, isto é, nos membros da cultura oprimida pelo colonialismo. Também não destaca os métodos repressivos que os colonizadores usam constantemente, numa sistemática de dominação violenta, contra as populações dominadas. Não viu esse antropólogo que se usarmos o método psicanalítico e mais especificamente o conceito de projeção para explicarmos o colonialismo e sua política, o comportamento das suas elites de poder e a violência política contra as populações colo-nizadas, estamos criando explicações que justificam a sua eterniza-ção? Porque se esse inconsciente individual é o responsável pelo com-portamento social, político e militar dos gruposcolonizadores só nos resta esperar que haja uma transformação, via terapia de divã, na psique docolonizador para que terminem o colonialismo e o neocolo-nialismo.
Como vemos, a falta de historicidade, odesconhecimento da dialética por parte dos
culturalistas e o subjetivismo do método psi-canalítico aplicado para explicar processossociais globais, levam certos cientistassociais a se perderem em critérios analógicosde explicação e interpretação que não sesustentam cientificamente.
5. Da rebeldia Os escravos formavam a classe do-
do negro "bárbaro" minadafundamental da sociedade à "democracia
racial" escravista brasileira. Emconseqiiên-cia disto, as suas religiões
passaram a ser vistas, por extensão, pelosdominadores, senhores de escravos,
____________DA REBELDIA DO NEGRO "BÁRBARO" À "DEMOCRACIA RACIAL" 53
como um mecanismo de resistência ideológicasocial e cultural ao sistema de dominação queexistia. Desta realidade surgiram os elementosque foram criados para que se justificassemas técnicas de repressão, tanto ao escravo,que não se conformava e não se sujeitava àsua situação, assumindo a postura darebeldia, como às suas religiões, que eram oaparelho ideológico fundamental do oprimidonaquelas circunstâncias. Da mesma forma comose justificava a escravidão do negro pela suacondição de "bárbaro", justificava-se,concomitantemente, a perseguição às suasreligiões, por serem feti-chistas, animistas edemais designativos tão bem enumerados porJua-na Elbein dos Santos.
O problema histórico-estrutural deve,portanto, ser levado em consideração paraentender-se o critério de julgamento que seestabeleceu no passado e se estende até osnossos dias. Assim, podemos compreender melhora atual situação dos padrões teóricos queainda são usados para a interpretação dafunção das religiões afro-brasileiras e dasituação do negro, do ponto de vista social ecultural, na sociedade de modelo capitalistaque se estabeleceu no Brasil após a Abolição.Geneticamente, as situações estruturais comníveis antagónicos determinam umcomportamento repressivo dos dominadores e,em contrapartida, um comportamento defensivoe/ou ofensivo do dominado. Se, no plano daordenação social, os senhores de escravoscriaram uma ordem rigidamente dividida ehierarquizada em senhores e escravos, do pontode vista do escravo há a organização de mo-vimentos para desordenarem a estrutura, únicaforma de readquirirem a sua condição humana,do ponto de vista político, social e existen-cial. E um dos elementos aproveitados éexatamente a religião, que tem, a partir daí,um significado religioso específico, mas,
também, um papel social e cultural dos maisrelevantes nesse processo.
É nesse processo de choque entre as duasclasses, inicialmente durante o regimeescravista (senhores e escravos) e,posteriormente, entre as classes dominantes eos segmentos negros dominados, discriminados emarginalizados, que iremos encontrarexplicação para essa realidade e, inclusive,para o grau de discriminação cristalizado noracismo (eufemisticamente chamado depreconceito de cor) por grandes parcelas dapopulação brasileira que introjetaram aideologia das classes dominantes. As religiõesafro-brasileiras, em razão disto, deviam serconsideradas inferiores, de um lado, e/ouexterminadas, ou neutralizadas (assimiladas),de outro. Daí se procurar vê-las comoelementos que representam não umanecessidade social, histó-
54 S1NCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
rica, cultural e psicológica de determinadacomunidade étnica que compõe a naçãobrasileira, mas como remanescentes de umafase já transposta da nossa história queprecisa ser esquecida.
Estabelecido um critério de julgamento a partir dos valores do dominador em relação ao negro bárbaro e, por isto mesmo, justifica-damente escravizado, o julgamento de inferiorização das religiões e demais padrões das culturas africanas é uma conclusão lógica.À medida que o sistema escravista sente o impacto dos escravos, procura resguardar-se contra o uso do aparelho ideológico dos mesmos, como combustível capaz de dar-lhes oselementos subjetivos para que eles adquiram consciência da sua situação de oprimidos e discriminados. A História nos mostra inúmerosexemplos no particular. Neste sentido, apela-se para o aparelho ideológico dominador, no caso e no tempo a Igreja Católica, a fim de desarticular esta unidade existente entre o mundo religioso do negro e a rebeldia do escravo. O antagonismo emergente gera, portanto, as diferenças de julgamento. Os opressores vêem nessas religiões elementos de fetichismo, de magia, de forças capazes de fazer-lhes mal, diabólicas, na medida em que supõem que os oprimidos delas se utilizam paracombatê-los socialmente ou se compensarem psicologicamente contra a situação de escravos. Surge, em decorrência, o medo a essas religiões, a necessidade de proteção já em nível de temor psicológico, pois elas, simbolicamente, são um perigo às suas seguranças pessoais, grupais e à estabilidade e segurança do sistema. Os mecanismos repressores são então montados e há necessidade de outra força que se sobreponha no plano mágico à daquela religiãoameaçadora: e a religião do dominador entra emseu auxílio neste universo conflitante. E com aforça material e social que lhe é conferida
pela estrutura dominante, procura desarticulara religião dominada, perigosa, transformando-a emreligião de bruxaria. Não entram na análise objetiva, imparcial, da cosmo visão dessas religiões, do seu universo cosmogônico, do significado do seu ritual, mas procuram inferiorizá-las a partir da posição social em que os seus seguidores se situam. Esta tentativa de desarticulação tem de ser feita através de uma racionalização, e ela é montada via valores da religião dominante e do desconhecimento objetivo e imparcial da religião dominada.
Esta racionalização do processo chega porconcluir que a assimilação do Brasil deveráterminar, de um lado, pela formação de uma"democracia racial" simbólica e conservadorados privilégios e da discriminação e, deoutro, pela formação de um catolicismo abran-
____________DA REBELDIA PO NEGRO "BÁRBARO" À "DEMOCRACIA RACIAL" 55
gente, liberal, no qual se diluirão asreligiões afro-brasileiras, incorporadassubalternamente ao nível de um catolicismopopular, sem maior expressão teológica.
Vejamos, mais de perto, como as coisasacontecem e o seu significado sociológico.
Em primeiro lugar, a religião dominadoracontinuaria desarticulando a estrutura dareligião dominada, tentando pulverizar oufragmentar a sua unidade e incorporá-la aobojo da sua. Com isto, os seguidores dasreligiões afro-brasileiras ficariam nacontingência de se adaptarem aos padrões dareligião julgada superior. E, com isto, aassimilação se concluiria. O chamadoprocesso civilizatório sairia vitorioso emesmo aqueles grupos que ainda resistissem aesse processo teriam de capitular e,finalmente, seriam integrados na religiãosuperior.
Em segundo lugar, na sociedade abrangente(capitalista) a filosofia de uma "democraciaracial" (que conserva e preserva os valoresdiscriminatórios do dominador no nível derelações interétnicas) se apresentaria como afilosofia vitoriosa e, com isto, teríamos aunidade orgânica da sociedade brasileira euma nação civilizada, ociden-, tal, cristã,branca e capitalista. No entanto, o quesignificaria con-cretamente esta conclusão?
Basicamente, manter a sujeição declasses, segmentos e grupos dominados ediscriminados. Na sociedade de capitalismodependente que se estabeleceu no Brasil, apósa Abolição, necessitou-se de uma filosofiaque desse cobertura ideológica a uma situaçãode antagonismo permanente, mascarando-a comosendo uma situação não-com-petitiva. Comisto, o aparelho de dominação procurariamanter os estratos e classes oprimidas noseu devido espaço social e, para isto, havianecessidade de se neutralizar todos os grupos
de resistência — ideológicos, sociais,culturais, políticos e religiosos — dosdominados. Como a grande maioria dosexplorados no Brasil é constituída de afro-brasileiros, criou-se, de um lado, amitologia da "democracia racial" e, de outro,continuou-se o trabalho de desarticulação dassuas religiões, transformando-as em simplesmanifestações de laboratório.
Na sequência da passagem da escravidãopara a mão-de-obra livre, o aparelho dedominação remanipula as ideologias decontrole e as instituições de repressão dando-lhes uma funcionalidade dinâmica einstrumental. Saímos, então, da mitologia dobom senhor e de toda a sua escala desimbolização do passado para a democracia
56 SINCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
racial atual, estabelecida pelas classesdominantes que substituíram a classesenhorial. Com isto, refina-se o aparelho, háuma remanipu-lação de certos valoressecundários no julgamento do ex-escravo e donegro de um modo geral e, em nível deideologia, as religiões afro-brasileiraspassam a ser vistas como manifestação dopassado escravista ou de grupos marginais quenão tiveram condições de compreender o progressoe que, por esta razão, deverão ser apenastoleradas diante da nova realidade socialcuja mudança elas não captaram porincapacidade de compreenderem o ritmo doprogresso, da mesma forma como nãocompreenderam as sutilezas do cristianismo.
Já não se procura mais a destruição purae simples dos pólos de resistência como sefazia com o quilombola, mas cria-se, em cimadesta situação conflitante, a filosofia daassimilação e da aculturação, de um lado, edo embranquecimento, do outro. Toda uma gera-ção de ensaístas e escritores, após aAbolição, se encarregou deste trabalhoideológico até que, posteriormente, surgiramos primeiros ensaístas que estudaram,especificamente, as relações raciais no Bra-sil, sendo que o seu pioneiro, NinaRodrigues, embora tendo uma visão paternalistaem relação aos africanos e descendentes,jamais negou a sua posição quanto àaceitação, por ele, da inferioridade racialdonegro.
Agora, já não é mais o escravo que lutacontra o senhor, mas um segmento majoritáriona sociedade (o afro-brasileiro), oprimido etambém discriminado, que é apresentado comoum perigo para e pelas classes dominantes.
Para concluirmos este capítulo, devemosdizer que os conceitos da antropologia quetentamos analisar representam conceitos
ideológicos que justificam o colonialismo e oneocolonialismo. Fugindo de analisar asforças económicas e sociais básicas que dãodinamismo às sociedades, esses cientistassociais procuraram, através de conceitos comoaculturação e outros, escamotear essarealidade, criando conjuntos lógicos muitobem montados e academicamente indestrutíveisporque não se incorporam como norma de açãoàs lutas pelas transformações das sociedadessubalternizadas pelo sistema colonial e neo-colonial. Desta forma, ao tempo em quesofisticam a antropologia, transformando-aem uma ciência aparentemente científica, neutra eacima das contradições sociais, na essência,transformam-na em uma arma auxiliar daestagnação cultural e social.
Enquanto existirem classes em luta, odominador procurará, sempre, através do seuaparelho de dominação, destruir os pólos de
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57
resistência económica, social, cultural epolítica dos dominados. No particular doBrasil, o trabalho dos candomblés, durante aescravidão e imediatamente após a Abolição,sempre foi visto como foco de perigo social eracial, criando-se, por isto, inúmerosestereótipos justificatórios contra o seufuncionamento. Como corolário de tudo isto,ao tempo em que essas estruturas dominantesmontam todo um aparelho de peneiramentoétnico, apregoam, através dos seus órgãos decomunicação, que somos uma democracia racial,isto é, nos aproximam cada vez mais de umareligião dominante e de um modelo de homem quese aproximaria, também, cada vez mais, dobranco europeu. E com isto, a ideologia docolonizador sairia vitoriosa.
Somente em uma sociedade não-competitiva,as religiões, como superestruturas, terãopossibilidades de se desenvolverem sem ser-virem de instrumento de dominação social,política e cultural. Todas elas, então, terãopossibilidades iguais, não havendo, por isto,religiões superiores ou inferiores(dominadoras e dominadas), mas gruposorganizacionais religiosos que praticarão emliberdade e pé de igualdade os seus cultos,cada um ocupando o seu próprio espaço naexplicação sobrenatural do mundo, semreproduzirem, na competição religiosa entreeles, a competição e os níveis de sujeição edominação que a sociedade capitalista cria naterra. Com isto irão desaparecendo lentamentedas sociedades por falta de função e necessi-dade para os homens.
Notas e referências bibliográficas
1 MUNANGA, Kabengele. A antropologia e a colonização da África. Estu
dos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, CEAA, 1: 44 et seq.
2 MOURA, Clóvis. A sociologia posta em questão. São Paulo, Ciências Humanas, 1978. p. 51.
3 ADOTEVI, Stanislas. Negritude et négrologues. Paris, Union Généraled'Editions, 1972. Chamamos a atenção em especial para o capítulo queinicia a 2? parte do livro, "Regard sur l'ethnologie", no qual seu pensamento sobre o assunto é particularmente exposto.
4 GRIGULÉVITCH, lossif & KOSLOV, Semión. A ciência dos povos e os interesses dos povos (contra o "colonialismo científico" na etnologia). Ciências Sociais Contemporâneas (Academia de Ciências da URSS), Lisboa (2),1978. Passim.
5 TRAGTENBERG, Maurício. Sobre educação, política e sindicalismo. SãoPaulo, Autores Associados/Cortez,1982. p. 29.
58 SINCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 59
6 Idem, ibidem. Ainda neste sentido de uma antropologia aplicada para racionalizar o colonialismo e o neocolonialismo é interessante registrar a opinião de um dos mais abalizados teóricos atuais da antropologia social, oinglês E. E. Evans-Pritchard: "Como os antropólogos sociais ocupam-seprincipalmente das sociedades primitivas, é evidente que a informação querecolhem e as conclusões a que chegam têm algumasrelações com os problemas da administração e educação dessas comunidades. Compreende-sefacilmente, pois, que se um governo colonial quiser administrar uma comunidade através dos seus chefes, necessitará de saber quem são, quaisas suas funções, autoridade, privilégios e obrigações. (...) A importânciada antropologia social para a administração colonial tem sido reconhecida, de forma geral, já desde o princípio do século. O Ministério das Colónias e os governos coloniais demonstram um interesse crescente pelos estudos e as pesquisas nesse campo. (...) Os governos coloniais estão de acordoem que é muito útil que os seus funcionários possuam um conhecimentoelementar geral de antropologia. (...) A partir da última guerra o Ministério das Colónias tem demonstrado um maior interesse pela antropologiasocial. Ordenou e financiou pesquisas desse tipo em grande número de territórios coloniais. (...) Além de encontrar-se em uma situação mais favorável que as pessoas leigas para descobrir os fatos, os antropólogos têmàs vezes possibilidades de avaliar corretamente os efeitos de uma medidaadministrativa, pois a sua preparação acostuma-os a esperar repercussõesem locais em que o leigo não suspeita. Poristo, podem ser solicitados para ajudarem os governos coloniais, não apenas para mostrar-lhes os fatos que os permitirão estabelecer rapidamente um plano de ação,como, também, para antecipar os possíveis
efeitos que qualquer medidapossa ocasionar". (EVANS-PRITCHARD, E. E. Antropologia social. Buenos Aires, Nueva Vision, 1957. p. 96-103.)
7 TRAGTENBERG, Maurício, loc. cit.8 CLARE, Michel T. Intelectuais e universitários na contra-insurreição. Opinião, Rio de Janeiro, 204, out. 1976.
9 VALENTE, Waldemar. Sincretismo religioso afro-brasileiro. São Paulo, Nacional, 1955. p. 114-5.
10 SANTOS, Juana Elbein dos. A percepção ideológica dos fenómenos sincré-ticos. Revista de Cultura Vozes, Rio de Janeiro, Vozes,7: 23 et seq., 1977.
11 Um fato que comprova como a religião dominadora não permite o sincre-tismo no seu universo teológico com religiões "inferiores" e "pagãs" foia proibição pelo Vaticano da Missa dos Quilombos de autoria de D. Pedro Casaldaliga e Pedro Terra. Sobre essa proibição afirma com propriedade Martiniano J. da Silva: "Por estar mostrando uma realidade inquestionável é que a Missa dos Quilombos passou a ser perseguida de todosos lados: enquanto a Censura Federal no Rio vetou quatro faixas de fitamusical da missa, a Cúria Romana, por intermédio do seu setor mais ortodoxo proibia a celebração. Como se vê as raízes repressivas e discriminatórias contra o povo negro ainda está partindo do estrangeiro, alcançando especialmente os segmentos mais progressistas e democráticos, inclusive da Igreja — mais precisamente dos bispos como já citado
e dos dirigentes da Conferência Nacional dosBispos, CNBB. É certo que a cúpula mais ortodoxae intolerante da Igreja Católica, com sede no Va-ticano, e inúmeros acólitos dispersos pelo mundo,nunca morreu realmente de amores por iniciativascomo a dos fundadores da Missa dos Quilombos, porexemplo. Então, estes religiosos, assim como aMissa dos Quilombos e o Cristo Negro, estão semprevigiados pelos governos, quando não são colocadosem xeque ou mesmo no banco dos réus pela Congrega-ção da Defesa da Fé (o ex-Santo Ofício, tambémex-Inquisição, entidade localizada no Vaticano,responsável pelo zelo da ortodoxia religiosa)."(SILVA, Martiniano J. da. Racismo à brasileira: raízeshistóricas. Goiânia, O popular, 1985. p. 123-4.)Outros exemplos desse sincretismo de uma só vianos são dados por Abdias do Nascimento. Escreveele: "Uma recente amostra da 'abertura' católicaao sincretismo teve lugar em São Paulo, há cercade dois anos (o livro do qual tiramos a citação éde 1978, CM), quando a Secretaria de Turismoinstituiu o Dia de Oxosse e o Dia de Ogum. Oarcebispado de São Paulo, em coro com O Estado de S.Paulo, denunciaram a iniciativa como profundamenteatentatória ao espírito cristão, não poupandopalavras de desprezo às religiões africanas".(...) Queremos registrar um derradeiro fatodocumentado pela Folha de S. Paulo a 13 de fevereirode 1977, em reportagem intitulada "Padre não quisver Xangô". Resumindo os acontecimentos, areportagem relata as providências tomadas pelosmembros de um candomblé para a realização de umamissa, na Igreja do Rosário. "(...) Um templomais do que apropriado para a cerimóniaprojetada. Mas apesar de sua antiga e profundarelação com a comunidade negra, o templo nãoestava disponível para aquela celebração,conforme divulgou a reportagem, que trazia oexpressivo subtítulo: 'Proibida na igreja, a missafoi rezada no terreiro'. 'Missa com iê-iê-iê pode,com candomblé, não'. Assim o ogan do terreiro doAche He Oba, José da Silva, comentou ontem adecisão do Padre Rubens de Azevedo, da Igreja doRosário, no Largo do Paissandu, de não oficiar amissa em comemoração à inauguração do maiorterreiro de candomblé do Brasil. Um pouco antes,ele havia recebido de volta os 190 cruzeirospagos pela missa, que seria acompanhada porórgãos e violinos. (...) O cancelamento da missa,entretanto, não impediu que os seguidores docandomblé se dirigissem para o Largo do Paissandue, junto ao monumento à Mãe Preta, depositassemum ramalhete de rosas. Por advertência de um
tenente do DSV, as filhas-de-santo, trajadas àmaneira baiana, desistiram de entoar os cânticosda seita". (NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negrobrasileiro. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. p.111-2.) Como vemos, o processo sincrético somenteé permitido pela religião dominante na medida emque contribui para fazer com que os membros dareligião dominada entrem num processo deconversão. Quando o oposto se verifica, osmecanismos de repressão ideológica são acionadosativamente porque aí trata-se de heresia.Aqui cabe, em relação aos teólogos que se ocupamdas religiões afro-brasileiras, aquelaconsideração que Marx usou em relação aoseconomistas. "Eles (os economistas) se parecemmuito com os teólogos, eles também estabelecemduas espécies de religião. Toda religião que nãoé a sua
60 SINCRETISMO, ASSIMILAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ACULTURAÇÃO E LUTA DE CLASSES
é uma invenção dos homens, enquanto que a suaprópria é uma emanação de Deus." (MARX, Karl.Miséria da fi losofi a. São Paulo, Flama, 1946. p. 112.)
13BOFF, Leonardo. Avaliação teológica-crítica do sincretismo. Revista deCultura Vozes, Rio de Janeiro, Vozes, 7: 53 et seq., 1977.
14Idem, ibidem.15 Poderão dizer que estamos apresentando casos
extremos, os quais não caracterizam ou representam a produção antropológica esociológica brasileira atual, pois, em muitos casos, antropólogos se empenham em discussãode problemas concretos relevantes, como o da invasão de terras indígenase outros correlates. Concordamos, mas o painel de discussão que estamos propondo permite-nos aventar a hipótese de uma posição mais paternalista do que científica, isto é, esses cientistas sociais se posicionammais em razão da sua condição de cidadãos do que como cientistas. Poroutro lado, não queremos minimizar, em absoluto, o trabalho desses cientistas, os quais, trabalhando nas condições mais adversas, sofrendo muitas vezes perseguições em todos os níveis da sua atividade, querem resgataro que restou das nossas culturas indígenas. Não queremos fazer a injustiça a esses homens de ciências que abandonam os gabinetes e vão atuarnas áreas pioneiras do trabalho antropológico e sociológico. Na área deestudos sobre o negro, porém, o que se vê é uma repetição de trabalhosde laboratório para justificar títulos universitários.
16 CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. In: Obras escolhidas. Lisboa,
Seara Nova, 1978. 2 v. v. l, p. 223.17 LIENHARDT, Godfrey. Antropologia social. Rio de Janeiro,
Zahar, 1965.p. 165. Para se ter uma visão da diferença entre o cultural e o social ea possibilidade de haver mudança cultural sem mudança social: Cf.
STERN, Bernhard J. Concerning the distinction betweenthe social and thecultural. In: Historicalsociology. New York, The Citadel Press, 1959.p. 3 et seq.
18 RAMOS, Artur. Culturas negras: problemas de aculturação no Brasil. In:
____O negro no Brasil . Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1940. p.147. Ver do mesmo autor neste sentido: Aculturação negra no Brasil: uma escola brasileira. Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, 85 (8): 129 et seq., 1942,e Aculturação negra no Brasil. São Paulo, Nacional, 1942. Mas é no seu livro O negro brasileiro onde se poderá ver a junção do método histórico-cultural e a psicanálise com mais facilidade.
19 O conceito de transculturação de Ortiz também não é satisfatório, mas,de qualquer maneira, já exprime uma visão crítica sobre aculturação.
20 O "Cultural Scientist" Gerard Kubik fala ao "Vê & Cê". Vida e Cultura,Luanda, (46), maio 1982.
IIIMiscigenação e democracia racial:mito e realidade
1. Negação da Grande parte da literaturaespecializada sobreidentidade relações interétnicas no Brasilconclui afirman-étnica do, por preferências ideológicas, que o Brasil
é a maior democracia racial domundo, fato que se evidencia na grandediferenciação cromática dos seus habitantes.Afirma-se, sempre, que o português, por razõesculturais ou mesmo biológicas, tempredisposição pelo relacionamento sexual cometnias exóticas, motivo pelo qual conseguedemocratizar as relações sociais queestabelece naquelas áreas nas quais atuou comocoloniza-dor. O Brasil seria o melhorexemplo deste comportamento.
Em outras palavras: estabeleceu-se umaponte ideológica entre a miscigenação (que éum fato biológico) e a democratização (que éum fato sociopolítico) tentando-se, com isto,identificar como semelhantes dois processosinteiramente independentes. Todos nós sabemos
que a miscigenação é um fenómeno universal nãohavendo mais raças ou etnias puras no mundo. Aantropologia demonstra esse dinamismomiscigenatório milenar, quer na Europa, querna África, Ásia ou América. Nada tem, pois,de especial ou específico o fato doportuguês, em determinadas situaçõesespeciais, estabelecer contato e intercâmbiosexual com as raças das suas colónias, fatoque, em absoluto, significaria democratizaçãosocial nesse contato e intercâmbio.
Mas, com esses argumentos, consegue-se
deixar de analisar como foi ordenadasocialmente esta população poliétiica e quaisos mecanismos específicos de resistência àmobilidade social vertical massiva que foramcriados contra os contingentes populacionaisdiscriminados por essa estrutura. Esquecem-sede que esses segmentos populacionais eramcomponentes de uma estrutura escravista,inicialmente, e de capitalismo dependente, emseguida. Com essas duas realidadesestruturais durante o transcurso da nossahistória social foram criados mecanismosideológicos de barragem aos diversossegmentos discriminados. Mas na maioria dosestudos sobre o assunto esses mecanismos nãosão avaliados. Pelo contrário. É como sehouvesse um fluir idílico, sem nenhum entraveà evolução individual senão aquele que acapacidade de cada um exprimisse. Elide-se,assim, a escala de valores que a estrutura dedominação e o seu aparelho ideológico im-puseram para discriminar grande parte dessapopulação não-branca. Essa elite de poder quese auto-identifica como branca escolheu, comotipo ideal, representativo da superioridadeétnica na nossa sociedade, o branco europeue, em contrapartida, como tipo negativo,inferior, étnica e culturalmente, o negro. Emcima dessa dicotomia étnica estabeleceu-se,como já dissemos, uma escala de valores, sen-do o indivíduo ou grupo mais reconhecido eaceito socialmente na medida em que seaproxima do tipo branco, e desvalorizado esocialmente repelido à medida que se aproximado negro. Esse gradiente étnico quecaracteriza a população brasileira, não cria,portanto, um relacionamento democrático eigualitário, já que está subordinado a umaescala de valores que vê no branco o modelosuperior, no negro ò inferior e as demaisnuanças de miscigenação mais consideradas,
integradas, ou socialmente condenadas,repelidas, à medida que se aproximam ou sedistanciam de um desses pólos considerados opositivo e o negativo, o superior e o inferiornessa escala cromática. Criou-se, assim,através de mecanismos sociais e simbólicos dedominação, uma tendência à fuga da realidadee à consciência étnica de grandes segmentospopulacionais não-brancos. Eles fogemsimbolicamente dessa realidade que osdiscrimina e criam mitos capazes de fazer comque se sintam resguardados do julgamentodiscriminatório das elites dominantes.
A identidade e a consciência étnicas são,assim, penosamente escamoteadas pela grandemaioria dos brasileiros ao se auto-analisa-rem, procurando sempre elementos deidentificação com os símbolos étnicos dacamada branca dominante.
No recenseamento de 1980, por exemplo, osnão-brancos brasileiros, ao serem inquiridospelos pesquisadores do IBGE sobre a sua cor,responderam que ela era: acastanhada,agalegada, alva, alva-escura, alvarenta,alva-rosada, alvinha, amarelada, amarela-quei-mada, amarelosa, amorenada, avermelhada,azul, azul-marinho, baiano, bem branca, bemclara, bem morena, branca, branca avermelha-da, branca melada, branca morena, brancapálida, branca sardenta, branca suja,branquiça, branquinha, bronze, bronzeada,bugrezinha, escura, burro-quando-foge,cabocla, cabo verde, café, café-com-leite,canela, canelada, cardão, castanha, castanhaclara, cobre corada, cor de café, cor decanela, cor de cuia, cor de leite, cor deouro, cor de rosa, cor firme, crioula,encerada, enxofrada, esbranquicento, escu-rinha, fogoió, galega, galegada, jambo,laranja, lilás, loira, loira clara, loura,lourinha, malaia, marinheira, marrom, meioamarela, meio branca, meio morena, meio preta,melada, mestiça, miscigenação, mista, morenabem chegada, morena bronzeada, morenacanelada, morena castanha, morena clara,morena cor de canela, morenada, morenaescura, morena fechada, morenão, morenaprata, morena roxa, morena ruiva, morenatrigueira, moreninha, mulata, mulatinha,negra, negrota, pálida, paraíba, parda,parda clara, polaca, pouco clara, poucomorena, preta, pretinha, puxa para branca,quase negra, queimada, queimada de praia,queimada de sol, regular, retinha, rosa,rosada, rosa queimada, roxa, ruiva, russo,sapecada, sarará, saraúba, tostada, trigo,trigueira, turva, verde, vermelha, além deoutros que não declararam a cor. O total decento e trinta e seis cores bem demonstra comoo brasileiro foge da sua realidade étnica, dasua identidade, procurando, através desimbolismos de fuga, situar-se o maispróximo possível do modelo tido como
superior.1
O que significa isto em um país que se dizuma democracia racial? Significa que, pormecanismos alienadores, a ideologia da elitedominadora introjetou em vastas camadas denão-brancos os seus valores fundamentais.Significa, também, que a nossa realidadeétnica, ao contrário do que se diz, nãoiguala pela miscigenação, mas, pelocontrário, diferencia, hierarquiza einferioriza socialmente de tal maneira queesses não-brancos procuram criar umarealidade simbólica onde se refugiam,tentando escapar da inferiorização que a suacor expressa nesse tipo de sociedade. Nessafuga simbólica, eles desejam compensar-se dadiscriminação social e racial de que sãovítimas no processo de interação com ascamadas brancas dominantes que pro-jetaram umasociedade democrática para eles, criando, poroutro
64 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE __________________
lado, uma ideologia escamoteadora capaz de encobrir as condições reais sob as quais os contatos interétnicos se realizam no Brasil.
Como vemos, a identidade étnica dobrasileiro é substituída por mitosreificadores, usados pelos próprios não-brancos e negros especialmente, que procuramesquecer e/ou substituir a concreta realidadepor uma dolorosa e enganadora magia cromáticana qual o dominado se refugia para aproximar-se simbolicamente, o mais possível, dossímbolos criados pelo dominador.
2. Etnologização da história Aetnologização dos pro-e escamoteação da blemas sociais apartir darealidade SOCial afirmação de quehá uma
democracia racialno Brasil
demonstra como há uma confusão nos cientistassociais adeptos desse critério metodológico.Ao abandonarem como universo de análise aestrutura rigidamente hierarquizada na qualessas etnias foram ordenadas, de acordo comum sistema de valores discriminatório, atra-vés de mecanismos controladores,historicamente montados para conservar osistema, objetivando manter os segmentos egrupos dominados nas últimas escalas de suaestrutura, mostram como se confunde o planomiscigenatório, biológico, portanto com osocial e económico.
De um lado, ao se dizer que há umademocracia racial no Brasil, e, de outro, aose verificar a alocação dessas etnias não-brancas no espaço social, chega-se àconclusão de que a sua inferiorização édecorrência das próprias deficiências ou
divergências desses grupos e/ou segmentosétnicos com o processo civilizatórío. Porque, se osdireitos e deveres são idênticos, asoportunidades deverão ser também idênticas.Como tal não acontece, como veremos maistarde, a culpa pelo atraso social dessesgrupos é deles próprios. Joga-se, assim,sobre os segmentos não-brancos oprimidos ediscriminados, e do negro em particular, aculpa da sua inferioridade social, económicae cultural.
Para compreendermos melhor esseprocesso/problema devemos analisar algumasparticularidades significativas da formaçãodas classes sociais no Brasil. Algunssociólogos supõem, esquematicamente que,acabada a escravidão, os negros e pardos ex-escravos de idêntica condição, num processoautomático e linear de integração social,
_______ETNOLOGIZAÇÃO DA HISTÓRIA E ESCAMOTEAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 65
iriam formar o proletariado das cidades quese desenvolveriam ou o camponês livre eassalariado agrícola. Seriam, assim,absorvidos e incorporados, por automatismo,às novas classes que apareciam após aAbolição. Iriam compor a classe operária ecamponesa nos seus diversos níveis e setorese, nesta incorporação, ficariam em pé deigualdade com os demais trabalhadores, muitosdeles, especialmente nas regiões Sudeste eSul, vindos de outros países, comoimigrantes.
Mas os fatos não aconteceram exatamenteassim. Em pesquisas parciais que realizamos,em jornais anarquistas2 e em trabalho siste-mático feito pelo professor Sidney SérgioFernandes Sólis, tanto no Rio de Janeiro comoem São Paulo, a imprensa anarquista que entãocirculava não refletia nenhuma simpatia oudesejo de união com os negros, mas, pelocontrário, chegava mesmo a estampar artigosnos quais era visível o preconceito racial.Corno vemos, se, de um lado, os negrosegressos das senzalas não eram incorporados aesse proletariado nascente, por automatismo,mas iriam compor a sua franja marginal, deoutro, do ponto de vista ideológico, surgia,já como componente do comportamento daprópria classe operária, os elementosideológicos de barragem social apoiados nopreconceito de cor. E esse racismo larvarpassou a exercer um papel selecionador dentrodo próprio proletariado. O negro e outrascamadas não-brancas não foram, assim,incorporados a esse proletariado incipiente,mas foram compor a grande franja demarginalizados exigida pelo modelo docapitalismo dependente que substituiu oescravismo.
Em 1893, por exemplo, escreve Florestan Fernandes:
Os imigrantes entravam com 79% do pessoal ocupadonas atividades artesanais; com 81% do pessoalocupado nas atividades comerciais. Suasparticipações nos estratos mais altos da estruturaocupacional ainda era pequena (pois só 31 % dosproprietários e 19,4% dos capitalistas eramestrangeiros). Contudo achavam-se incluídos nessaesfera, ao contrário do que sucedia com o negro eo mulato.3
Neste processo complexo e ao mesmo tempocontraditório da passagem da escravidão parao trabalho livre, o negro é logrado so-cialmente e apresentado, sistematicamente,como sendo incapaz de trabalhar comoassalariado. No entanto, durante oescravismo, o negro atuava satisfatória eeficientemente no setor manufatureiro e ar-tesanal. Thomas Ewbank escrevia em 1845/6que:
Tenho visto escravos a trabalhar como carpinteiros,pedreiros, calce-teíros, impressores, pintores detabuletas e ornamentação, construtores de móveis ede carruagens, fabricantes de ornamentos militares,
66 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDÍ.DE ___________________________________________________________________________
de lampiões, artífices em prata, joalheiros elitografes. É também fato corrente que imagens desantos, em pedra e madeira, sejam admiravelmentefeitas por negros escravos ou livres.(...) O vigáriofez referência outro dia a um escravo baiano que éumsanteiro de primeira ordem. Todas as espécies deofícios são exercidas por homens e rapazesescravos.4
Segundo Heitor Ferreira Lima, os negrosescravos trabalhavam em diversas atividadesartesanais. No Rio de Jineiro, da mesma formaque Ewbank, os naturalistas Spix e Martiusescreviam que "entre os naturais, são mulatosos que manifestam maior capacidade e dili-gência para as artes mecânicas. Trabalhavam,também, nos estaleiros, na construção debarcos, na pesca da baleia, naindustrialização do seu óleo e em diversasoutras atividades". Em várias outras regiõesdesenvolviam-se atividades artesanais emanufatureiras aproveitando-se do trabalho dosnegros escravos. No Maranhão, por exemplo,ainda segundo Spix e Martius, dos 4 000profissionais artífices existentes em toda aprovíncia, quando esses dois cientistas porali passaram (1818/1820) mais de 3 000 eramescravos. Vejamos os números:
_______ETNOLOGIZAÇÃO DA HISTÓRIA E ESCAMOTEAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 67
Na área de São Paulo o mesmo fenómeno severificava. Os escravos ocupavam praticamentetodos os espaços do mercado de trabalho,dinamizando a produção em níveis os maisdiversificados. Exerciam ofícios que depoisseriam ocupados pelo trabalho imigrante. Se-gundo o recenseamento de 1872 o quadro era oseguinte:
Condição social Escravo Trabalhador livre
Total
Costureiras 67 583 650Mineiros e cant. 1 41 42Trab. em metais 19 218 237Trab. em madeiras 33 260 293Trab. em 25 130 155Trab. em tecidos 124 856 990Trab. em vestuário 2 102 104Trab. em couro e 30 189 219Trab. em calçados 5 58 63Trab. em 826 3747 4563Criados e jornais 507 2535 3042Serviços domésticos 1304 3506 4810Sem profissão 677 8244 8921
Profissão Livres Escravos
Alfaiates 61 96Caldeireiros 4 1Carpinteiros 178 326Entalhadores 96 42Carpinteiros Navais 80 38Serralheiros 5 ______Ferreiros (em São Luiz) 37 23Tanoeiros (em São Luiz) 2 1Marceneiros 30 27Ourives 49 11Pedreiros e Britadores 404 608Pintores e Ceriadores 10 5Coreeiros 4 1Escravos auxiliares nas 1800Total 964 2985TOTAL GERAL: 3949
Fonte: Heitor Ferreira Lima, História político-econômica e industrial do Brasil.
Fonte: Emília Viotti da Costa, Da senzala à colónia.
Os negros não eram somente ostrabalhadores do eito, que se prestavamapenas para as fainas agrícolas duras e nasquais o simples trabalho braçal primário eranecessário. Na diversificação da divisão dotrabalho eles entravam nas mais diversasatividades, especialmente no setor artesanal.Em alguns ramos eram mesmo os mais capazescomo, por exemplo, na metalurgia cujastécnicas trazidas da África foram aquiaplicadas e desenvolvidas. Na região mineira,por exemplo, foram os únicos que aplicaram edesenvolveram a metalurgia. Tiveram também ahabilidade de aprenderem com grandefacilidade os ofícios que aqueles primeirosportugueses que aqui aportaram trouxeram daMetrópole. Eles tinham mesmo interesse deensiná-los aos escravos a fim de se livraremde um tipo de trabalho não-condizente com asua condição de brancos, deixando ao negro asatividades artesanais. Mesmo porque otrabalho desses escravos, executados para osseus donos, ou quando alugados paraterceiros, proporcionava um lucro certo efácil para o senhor. Isto dava-lhesoportunidade de capitalizarem alguma poupançae se dedicarem ao comércio. A personagemBertoleza do romance O cortiço, de AluísioAzevedo, retrata
68 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE
ETNOLOG1ZAÇÂO DA HISTÓRIA E ESCAMOTEAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 69
muito bem esse tipo de escravo urbano quetrabalhava de jornal. Era escrava de um cego quedela recebia a contribuição com a qualsobrevivia. Mas os negros também ' 'tiveramampla e brilhante participação nas atividadesde todos os ofícios mecânicos exercidos entrenós, quer como escravo, quer como libertos,ora como oficial ou simples ajudante, e atémesmo como mestres. Ensinavam-lhes um oumais ofícios e exploravam-nos rudemente,vivendo à custa de seu trabalho". 5
Escreve, neste sentido, J. F. de AlmeidaPrado:Os primeiros operários aparecidos nas capitaniasespecializados em misteres que requeriam algumaaprendizagem e tirocínio, chegavam feitos do Reinoou das ilhas, muitas vezes sem intenção de se demora-rem, tendo deixado na terra natal a esposa e osfilhos. Mais tarde, outros se formavam sob asvistas dos reinóis, transmitindo o ofício daí pordiante aos pretos e mestiços. Com o tempo, chegaramos elementos de cor a constituir a quase totalidadedos obreiros da autarquia colonial, por refugarem osbrancos profissões manuais procurando tornar-seproprietários de terras.6
Tanto na época colonial como na últimafase da escravidão o escravo negro searticulava em diversos níveis da estruturaocupacio-nal, desempenhando satisfatoriamenteos mais diferenciados misteres. Naagroindústria do açúcar o mesmo fato severifica. Para Luiz Vianna Filho:
Mal chegados os negros logo assimilavam o que selhes ensinava, transformando-se em ferreiros,carapinas, marceneiros, caldeireiros, oleiros,alambiqueiros, e até mesmo mestres de açúcar, sabendoo cozimento do mel, o "ponto" do caldo, a purga doaçúcar.7
Durante todo o tempo em que o escravismoexistiu o escravo negro foi aquele trabalhadorque estava presente em todos os ofícios pormais diversificados que eles fossem. Sua forçade trabalho era distribuída em todos os
setores de atividade. No Rio de Janeiroespecialmente sabemos que ele, como escravourbano, desempenhava as mais variadasprofissões a fim de proporcionar o ócio daclasse senhorial. Como prova, basta queolhemos as pranchas do livro de Debret. 8
Queremos dizer com isto que na dinâmicada sociedade escravista atuou, durante toda asua existência, como mecanismo equili-bradore impulsionador, o trabalho do escravo negro.Esse mecanismo de equilíbrio e dinamismo, jáque as classes senhoriais fugiam a qualquertipo de trabalho, será atingido quando sedesarticula o sistema escravista e asociedade brasileira é reestruturada tendo otrabalho
livre como forma fundamental de atividade. Oequilíbrio se parte contra o ex-escravo que édesarticulado e marginalizado do sistema deprodução.
Toda essa força de trabalho escrava,relativamente diversificada, integrada eestruturada em um sistema de produção,desarticulou-se, portanto, com a decomposiçãodo modo de produção escravista: ou semarginaliza, ou se deteriora de formaparcial ou absoluta com a morte de grandeparte dos ex-escravos. Esses ourives,alfaiates, pedreiros, marceneiros, tanoeiros,metalúrgicos etc., ao tentarem se reordenar nasociedade capitalista emergente, são por umprocesso de peneiramento constante eestrategicamente bem manipulado, consideradoscomo mão-de-obra não-aproveitável emarginalizados. Surge, concomitantemente, omito da incapacidade do negro para o trabalhoe, com isto, ao tempo em que se proclama aexistência de uma democracia racial, apregoa-se, por outro lado, a impossibilidade de seaproveitar esse enorme contingente de ex-escravos. O preconceito de cor é assimdinamizado no contexto capitalista, oselementos não-brancos passam a serestereotipados como indolentes, cachaceiros,não-persistentes no trabalho e, emcontrapartida, por extensão, apresenta-se otrabalhador branco como o modelo doperseverante, honesto, de hábitosmorigerados e tendências à poupança e àestabilidade no emprego. Elege-se o modelobranco como sendo o do trabalhador ideal eapela-se para uma política migratóriasistemática e subvencionada, alegando-se anecessidade de se dinamizar a nossa economiaatravés da importação de um trabalhadorsuperior do ponto de vista racial e culturale capaz de suprir, com a sua mão-de-obra, asnecessidades da sociedade brasileira emexpansão. Veremos isto depois.
Há uma visível desarticulação nessa nova
ordenação que atinge as populações não-brancas em geral e o negro em particular, nomomento em que a nação brasileira emerge parao desenvolvimento do modelo de capitalismodependente. Essa desarticulação não se reali-za, porém, apenas no plano estrutural, masdesarticula, também, a consciência étnica dopróprio segmento não-branco.
O branqueamento como ideologia das elitesde poder vai se re-fletir no comportamento degrande parte do segmento dominado que começaa fugir das suas matrizes étnicas, paramascarar-se com os valores criados paradiscriminá-lo. Com isto o negro (o mulato,portanto, também) não se articulou em nível deuma consciência de identidade étnica capaz decriar uma contra-ideologia neutralizadora da
manipulada pelo dominador. Pelo contrário. Háum processo de acomodação a estes valores,fato que irá determinar o esvaziamento dessesnegros no nível da sua consciência étnica,colocando-os, assim, como simples objetos doprocesso histórico, social e cultural.
A herança da escravidão que muitos sociólogosdizem estar no negro, ao contrário, está nasclasses dominantes que criam valoresdiscriminatórios através dos quais conseguembarrar, nos níveis económico, social,cultural e existencial a emergência de umaconsciência crítica negra capaz de elaboraruma proposta de nova ordenação social e deestabelecer uma verdadeira democracia racialno Brasil.
O sistema classificatório que ocolonizador português impôs, criou acategoria de mulato que entra como dobradiçaamortecedora dessa consciência. O mulato édiferente do negro por ser mais claro epassa a se considerar superior, assimilando aideologia étnica do dominador, e servir deanteparo contra essa tomada de consciênciageral do segmento explorado/discriminado. Emoutro local já escrevemos que:
essa política aparentemente democrática docolonizador verá os seus primeiros frutos maisvisíveis na base do aparecimento de uma imprensa mulatano Rio de Janeiro. Ela surgirá entre 1833 e 1867,aproximadamente, com caráter nacionalista, de umlado, porém deixa de incorporar à sua mensagemideológica a libertação dos escravos negros. Essesjornais lutavam também contra a discriminaçãoracial, mas na medida em que os mulatos eramatingidos na dinâmica da disputa de cargospolíticos e burocráticos.9
Essa perda ou fragmentação da identidadeétnica determinará, por sua vez, aimpossibilidade de emergir uma consciênciamais abrangente e radical do segmento negro enão-branco em geral.
3. Estratégia Esta estratégiadiscriminatória contra o elemen-do imobilismo to negro não surgiu porémcom a chegada dosSOCial imigrantes europeus na base dotrabalho livre.
Na própria estruturaescravista já havia um processodiscriminatório que favorecia o homem livre emdetrimento do escravo. De todas as profissõesde artesãos e artífices, eles foram sendopaulatinamente excluídos ou impedidos deexercê-las. Manuela Carneiro da Cunhaescreve com propriedade:
Todas essas profissões eram igualmente desempenhadas por libertos e por livres, e certamente houve em certas épocas concorrência acir-
rada das várias categorias por elas. Um decreto de 25de junho de 1831, por exemplo, proibia "a admissãode escravos como trabalhadores ou como oficiais dasartes necessárias nas estações públicas da provín-cia da Bahia, enquanto houverem ingénuos que nelasquelrão empregar-se". (Nabuco Araújo, v. 7, 328-9, eColleção das Leis do Império, 1830: 24). Deve-se ter em contaque os escravos representavam não os seus própriosinteresses, mas os de seus senhores, que procuravamocupar totalmente o mercado de trabalho. (...) Em1813 e 1821, os sapateiros do Rio protestaramatravés da sua irmandade contra o uso de trabalhoescravo na manufatura e venda de sapatos (M. Karasch,1975:388). Brancos brasileiros, crioulos eafricanos libertos, além de escravos de ganho,competiam no mercado do trabalho entre si e com osestrangeiros, europeus que vinham para a Corte (...)Houve também algumas tentativas mais ou menos bem-sucedidas de monopolizar certos setores, por partedos escravos libertos urbanos. Sabemos de algunsexemplos. Um desses monopólios era o doscarregadores de café no Rio de Janeiro do séculoXIX: os negros minas, escravos de ganho oulibertos, tinham aparentemente se apropriado doramo. Era um serviço pesadíssimo, que implicavadeformidades e uma esperança de vida reduzida.10
Como vemos, à medida que a sociedadeescrava se diversificava e se urbanizava,ficava mais complexa internamente a divisãodo trabalho e isto produzia conflitos ouatritos nos seus diversos setores de mão-de-obra. A estrutura ocupacional dessa época, àmedida que passava por um processo dediferenciação económica, criava mecanismosreguladores capazes de manter os diversossegmentos que disputavam esse mercado detrabalho nos seus respectivos espaços.
A isto se contrapunham mecanismos criadospelos próprios escravos no sentido deequilibrar a divisão do trabalho; os cantos, emSalvador, foram um exemplo.
Segundo Manuel Querino:Os africanos, depois de libertos, não possuindoofício e não querendo entregar-se aos trabalhos dalavoura, que haviam deixado, faziam-se ganhadores.Em diversas partes da cidade reuniam-se à espera quefossem chamados para a condução de volumes pesadosou leves, como fossem: cadeirinha de arruar, pipas devinho ou aguardente, pianos etc. Esses pontos tinham
o nome de canto e por isso era comum ouvir a cadamomento: chame ali um ganhador no canto. Ficavameles sentados em tripeças a conversar até seremchamados para o desempenho de qualquer misteres.(...) Cada canto de africanos era dirigido por umchefe a que apelidavam capitão restringindo-se asfunções deste a contratar e dirigir os serviços e areceber os salários. Quando falecia o capitãotratavam de eleger ou aclamar o sucessor queassumia logo a investidura do cargo.Nos cantos do bairro comercial, esse ato revestia-se de certa solenidade à moda africana:
72 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE __________________
Os membros do canto tomavam de empréstimouma pipavazia em um dos trapiches da Rua do Julião ou doPilar, enchíam-na de água do mar, amarravam-na decordas e por estas enfiavam grosso e comprido cai-bro. Oito ou dez etíopes, comumente os demusculatura mais possante, suspendiam a pipa e sobreela montava o novo capitão do canto, tendo em uma dasmãos um ramo de arbusto e na outra uma garrafa deaguardente. n
Já no período escravista, portanto, haviauma tendência a se ver no negro escravo umelemento que devia ser restringido no mercadode trabalho. Os motivos alegados, as razõesapresentadas, apesar de aparentemente seremcompreensíveis, o que conseguiram era — comose queria — transformar o trabalho escravo,e, em muitas circunstâncias o negro liberto,em mão-de-obra eternamente não-qualificada eque, por uma série de razões, não podia seraproveitado.
Se estes mecanismos foram estabelecidosempiricamente durante o escravismo, após aAbolição eles se racionalizaram e as elitesintelectuais procuraram dar, inclusive, umaexplicação "científica" para eles, comoveremos adiante.
Em determinada fase da nossa históriaeconómica houve uma coincidência entre adivisão social do trabalho e a divisão racialdo trabalho. Mas através de mecanismosrepressivos ou simplesmente reguladores dessasrelações ficou estabelecido que, em certosramos, os brancos predominassem, e, emoutros, os negros e os seus descendentesdiretos predominassem. Tudo aquilo querepresentava trabalho qualificado,intelectual, nobre, era exercido pela minoriabranca, ao passo que todo subtrabalho, otrabalho não-qualificado, braçal, sujo e malremunerado era praticado pelos escravos,inicialmente, e pelos negros livres após aAbolição.
Esta divisão do trabalho, reflexa de umaestrutura social rigidamente estratificadaainda persiste em nossos dias de forma
significativa. Assim como a sociedadebrasileira não se democratizou nas suasrelações sociais fundamentais, também não sedemocratizou nas suas relações raciais. Poresta razão, aquela herança negativa que vem daforma como a sociedade escravista teve inícioe se desenvolveu, ainda tem presença no bojoda estrutura altamente competitiva docapitalismo dependente que se formou emseguida. Por esta razão, a mobilidade socialpara o negro descendente do antigo escravo émuito pequena no espaço social. Ele foipraticamente imobilizado por mecanismosseletivos que a estratégia das classesdominantes estabeleceu. Para que istofuncionasse eficazmente foi criado um amplopainel ideológico para explicar e/oujustificar essa imobilização estrategicamentemontada. Passado quase um século da Aboliçãoa situa-
ESTRATÉGIA DO IMOBILISMO SOCIAL 73
cão não mudou significativamente na estruturaocupacional para a população negra e não-branca.
De acordo com o Censo de 1980, de 119milhões de brasileiros, 54,77% se declararambrancos; 38,45% pardos; 5, 89% pretos e 0,63%amarelos. Podemos afirmar, portanto, que sãodescendentes de negros ou índios 44,34% dapopulação. Por outro lado, ao invés do bran-queamento preconizado pela elite branca essaproporção vem aumentando nas últimas décadas,pois ela era de 36% em 1940, 38% em 1950 e 45%em 1980, usando o IBGE a mesma metodologia napesquisa.
Mas a população negra e não-branca de ummodo geral não se distribui proporcionalmentena estrutura empregatícia e outros indicadoresda sua situação econômico-social no conjuntoda sociedade. Pelo contrário. De acordo com orecenseamento de 1980 era esta a situação dosprincipais grupos étnicos quanto à suaocupação principal:
População na ocupação principal segundo a cor
Cor e posição na principal ocupação
Total Empregado Autónomo Empregador Não-remunerado
43 796763 28606 051
106665561 1585902 270 679
100,0%65,3%24,3%2,6%5,1%
BRANCAEmpregado Autónomo Empregador Não-remunerado
24 507289
166330595 206 605920416 1201 458
100,0%67,8%21,2%3,7%4,9%
PRETAEmpregado Autónomo Empregador Não-remunerado
2 874208 2
067 326631 5161410487368
100,0%71,9%21,9%0,4%3,0%
AMARELAEmpregado Autónomo Empregador Não-remunerado
324 280169 291814873607734072
100,0%52,2%25,1%11,1%10,5%
PARDAEmpregado Autónomo Empregador Não-remunerado
159931779 688 7904 724 737
186143941 809
100,0%60,5%29,5%1,1%5,8%
Fonte: IBGE — Censo de 1980.
% sobre totalTotal
ESTRATÉGIA DO IMOBILISMO SOCIAL 75
Não precisamos argumentar maisanaliticamente para constatarmos que os negrose não-brancos em geral (excluindo-se os amare-los) são aqueles que possuem empregos e posiçõesmenos significativas social e economicamente.Por outro lado, repete-se, em 1980, o mesmofato que Florestan Fernandes registra aoanalisar uma estatística de 1893: O negro é osegmento mais inferiorizado da população. Em1893 ele não comparece como capitalista. Em 1980 elecomparece apenas com 0,4% na qualidade deempregador. Isto demonstra como os mecanismosde imobilismo social funcionaram eficientementeno Brasil, através de uma estratégiacentenária, para impedir que o negroascendesse significativamente na estruturaocupacional e em outros indicadores demobilidade social. Como vemos, os imigrantes de1893 estavam numa posição melhor do que osnegros brasileiros, atualmen-te, segundo osdados do Censo de 1980. Isto se reflete devárias maneiras e funciona ativamente nasociedade competitiva atual.
Criaram-se, em cima disto, duas pontesideológicas: a primeira é de que com amiscigenação nós democratizamos a sociedadebrasileira, criando aqui a maior democraciaracial do mundo; a segunda de que se osnegros e demais segmentos não-brancos estãona atual posição económica, social e culturala culpa é exclusivamente deles que nãosouberam aproveitar o grande leque deoportunidades que essa sociedade lhes deu. Comisto, identifica-se o crime e a margina-lização com a população negra, transformando-se as populações não-brancas em criminosos empotencial. Têm de andar com carteira pro-fissional assinada, comportar-se bem noslugares públicos, não reclamar dos seusdireitos quando violados e, principalmente,encarar a polícia como um órgão de podertodo-poderoso que pode mandar um negro"passar correndo" ou jogá-lo em um camburão eeliminá-lo em uma estrada. Negro se mata primeiro
para depois saber se é criminoso é um slogan dos órgãosde segurança.
Como podemos ver, a partir do momento emque o ex-escravo entrou no mercado detrabalho competitivo foi altamente discrimi-nado por uma série de mecanismos depeneiramento que determinava o seu imobilismo.Além disso privilegiou-se o trabalhador brancoestrangeiro, especialmente após a Abolição, oqual passou a ocupar os grandes espaçosdinâmicos dessa sociedade. Surge, como um doselementos dessa barragem, a ideologia dopreconceito de cor que inferioriza o negro emtodos os níveis da sua personalidade. Essepreconceito que atua como elemento restritivodas possibilidades do negro na sociedadebrasileira poderá ser constatado: a) nocomportamento
~~ - -_^^ ETNIASRENDA ^~-~-^^^
PRETA % PARDA % NÃO-BRANCOS % BRANCOS % AMARELOS %
Até 1 sal. mínimo +de 1 a 2 sal. mínimos + de 2 a 5sal. mínimos + de 5 sal. mínimos Semrendimento Sem declaração Total
1 980 245941 34446691177433
249 6469894 3770 473
53251228
100
7710350 3781 677 2206 600
593015 1879 307
60723 16231 672
4823144
11100
9 690 5954 723 0212 673 51 1
670 4482173953
7061720002145
492413311100
77129516 931 4776 339 1953 595 7652 824 398
10863727512423
2825231311100
3302355366118733125818
41863 1603 376
406
915323311100
Fonte: IBGE — PNAD 1982.
cr. oo oy 3o 0ãf **oo n-P M
o COo OE.í°Pi C
2. |3 n
&. &1
S fo EõO P
i?T3 Q. Tl
O o HO M
is a
1cn O >
q > 03 3 20 0 H^3 S f"
lÕn
§ISCT 0 C
B. 3 rX K'o 2, H
78 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ___________________________________________________________________________
Como vemos, a estratégia racista dasclasses dominantes atuais, que substituíramos senhores de escravos, conseguiuestabelecer um permanente processo deimobilismo social que bloqueou e congelou apopulação negra e não-branca permanentementeem nível nacional.
No que diz respeito à distribuição darenda o gráfico abaixo espelha essarealidade:
Distribuição da população economicamente ativa por grupos de rendimento mensal segundo a
corPARDA (%)Mais de 5 3,9Mais de 3 a 5 5,0Mais de 2 a 3 8,1Mais de 1 a 2 25,0Mais de 1/2 a 127,3Até 1/2 16,1Sem Rendimento 14,6
Fonte: OLIVEIRA, Francisca Laide de et alii. Aspectos da situação sócio-económica de brancos e negros no Brasil. DEISO, 1979.
O BRASIL TERIA DE SER BRANCO E CAPITALISTA 79
4. O Brasil teria O auge da campanha pelobranqueamento do
de ser branco Brasil surgeexatamente no momento em que
6 capitalistao trabalho escravo (negro) édescartado e
substituído pelo assalariado. Aí coloca-se odilema do passado com o futuro, do atraso como progresso e do negro com o branco comotrabalhadores. O primeiro representaria aanimalidade, o atraso, o passado, enquanto obranco (europeu) era o símbolo do trabalhoordenado, pacífico e progressista. Desta for-ma, para se modernizar e desenvolver o Brasilsó havia um caminho: colocar no lugar donegro o trabalhador imigrante, descartar opaís dessa carga passiva, exótica, fetichistae perigosa por uma população cristã, europeiae morigerada.
Todo o racismo embutido na campanhaabolicionista vem, então, à tona. Já não eramais acabar-se com a escravidão, mas enfatizar-se que os negros eram incapazes ouincapacitados para a nova etapa dedesenvolvimento do país. Todos achavam que elesdeviam ser substituídos pelo trabalhadorbranco, suas crenças deviam ser combatidas,pois não foram cristianizadossuficientemente, enquanto o italiano, oalemão, o espanhol, o português, ou outrasnacionalidades europeias, viriam trazer nãoapenas o seu trabalho, mas a cultura oci-dental, ligada histórica e socialmente àsnossas tradições latinas. Alguns políticostentam inclusive introduzir imigrantes quefugiam aos padrões europeus, como os chinesese mesmo africanos. A grita foi geral.Precisávamos melhorar o sangue, a raça. Ohistoriador José Octávio escreve nestesentido que:
Se a providência pela qual, segundo o paraibano
Maurílio Almeida tanto se bateria o paraibano DiogoVelho quando da sua passagem pelo Ministério daAgricultura do Império, já refletia a tendência debuscar-se alternativa para a máo-de-obra negro-escrava dentro dos ideais de caldeamento com "grupossuperiores" perseguidos pela elite dirigente doBrasil, a resposta de Menezes e Souza, preparada comorelatório formal do Ministério da Agricultura, em1875, é preconceituosa e típica de que não se tratade importar grupos estrangeiros quaisquer quefossem, mas grupos estrangeiros brancos e do Norteeuropeu, o que situa a política imigratória adotadapelo Brasil em fins do Império e princípios daRepública como de fundo racista no sentidoarianizante que a palavra passou a admitir. Nessestermos, Menezes e Souza não usava de meias palavrasao denegrir os chineses, cuja raça "é abastarda-da efaz degenerar a nossa", tanto mais porque "o Brasilprecisava de sangue novo e não de suco envelhecido eenvenenado de constituições exaustas edegeneradas".14
80 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ___________________________________________________________________________
O problema não era apenas importar-semãc-de-obra, mas sim membros de uma raça maisnobre, ou melhor, caucásica, branca, europeiae por todas essas qualidades superior. Aideologia do branqueamento permeia então opensamento de quase toda a produçãointelectual do Brasil e subordinaideologicamente as classes dominantes.Importar o negro, isto ficava fora dequalquer cogitação.
Em 1920 (ano inclusive em que entra aimigração sistemática de japoneses, em faceda dificuldade de se importar mão-de-obra eu-ropeia em consequência da Primeira GuerraMundial) foi realizada uma pesquisa parasaber-se se o imigrante negro seria benéficoao Brasil ou não. A pesquisa foi feita pelaSociedade Nacional de Agricultura e asconclusões foram de que ele seriaindesejável. Nas respostas negativasfuncionava a mesma ideologia de barragem daselites pré-Abolição. Vejamos os resultados:
Estereótipos negativos sobre o negro como Imigrante
Razões económicas:Mau trabalhador..................................25Razões intelectuais e morais:Inteligência inferior, degenerado, amoral, indolente, bêbado ecriminoso........................................19Razões raciais:Inferioridade congénita, ódio ao branco oculto no coração do negro 44Existência do preconceito de cor................. 9Outras razões..................................... 9
Fonte: Sociedade Nacional de Agricultura — Imigração. Rio de Janeiro, 1920.
Como vemos, os resultados desta pesquisajá demonstram a cristalização de umprocessamento de rejeição absoluta ao negropor parte dos grupos que necessitavam de novamão-de-obra. Essa cristalização bem esclarececomo a ideologia do branqueamento penetrouprofundamente na sociedade brasileira. Elajá tinha precedentes e teve continuadores.Este continuam discriminatório, que se inicioucom as Ordenações do Reino e prosseguiu nosrepresentantes das classes dominantes atéhoje, como veremos adiante. O que desejamoscentrar aqui é o movimento chamado imigrantistade pensadores e políticos
O BRASIL TERIA DE SER BRANCO E CAPITALISTA 81
que antecederam a Abolição e que depoisestabeleceram os mecanismos seletivosideológicos, económicos e institucionais,para a entrada do imigrante trabalhador.
Como acentua muito bem Thomas E. Skidmore:Desde que a miscigenação funcionasse no sentido depromover o ob-jetivo almejado, o gene branco "deviaser" mais forte. Ademais, durante o período alto dopensamento racial — 1880 a 1920 — a ideologia do"branqueamento" ganhou foros de legitimidadecientífica, de vez que as teorias racistas passarama ser interpretadas pelos brasileiros comoconfirmação das suas ideias de que a raça superior —a branca —, acabaria por prevalecer no processo deamalgamação.ls
E é justamente neste período de pique dopensamento racista apontado por Skidmore(1880 a 1920) que há a expansão violenta daeconomia cafeeira. Isto é, o dinamismo daagricultura procurava suprir-se da mão-de-obrade que necessitava nos grandes espaços pio-neiros que se abriam e para isto o brancosuperior era escolhido e o "mascarvonacional" (Afrânio Peixoto) descartado comoinferior. Esta passagem do escravismo para ocapitalismo dependente em tão curto período naregião do Rio de Janeiro e São Paulo,especialmente nesse último Estado, explica emgrande parte os níveis de margina-lização emque se encontra a população negra e não-brancaem geral atualmente.
Antes da Abolição os imigrantistasapresentavam projetos para que os europeusfossem trazidos como mão-de-obra capaz desincronizar-se com o surto de progresso daregião.
Desta dupla realidade (a expansãoeconómica da área cafeeira e a formaçãoracista das elites brasileiras) podemos ver queo que aconteceu não foi simplesmente umaocupação de espaços de trabalho vazios por umimigrante que os vinha ocupar, mas sim a
troca de um tipo de trabalhador por outroque era marginalizado antes de haver umplano de sua integração na nova fase deexpansão. A ideologia racista atuou comomecanismo que, se não determinou, influiu deforma quase absoluta nesse processo.Remanipulam-se dois estereótipos de barragemcontra a integração do negro no mercado detrabalho. Um refere-se ao seu passado: comoescravo era dócil. Outro ao seu presente: asua ociosidade. Por outro lado, o imigrantenão criaria mais problemas nesse processo detransição, pois já estava disciplinado. Noseu devido tempo mostraremos que os fatos nãocorroboram esses estereótipos. O queaconteceu foi uma visão apriorís-tica de que agrande massa não apenas egressa da senzala em1888, mas
82 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE _________________
aqueles que já compunham um contigente demão-de-obra não-aproveitada que antecede àAbolição, deveriam ser marginalizados para secolocar, no seu lugar, um trabalhador deacordo com a nova dinâmica da economia.
Ao que se saiba nenhum político, partidoou órgão do governo apresentou planosconcretos e significativos e investiu neles nosentido de fixar e aproveitar essa mão-de-obra. Pelo contrário, todos os investimentosforam para o trabalhador estrangeiro. Comisto se afirmava antecipadamente que a mão-de-obra flutuante não prestava. Criou-se avisão de que o trabalhador europeu seintegrou porque era superior e o nacional,negro, não-branco de um modo geral, era in-capaz para se integrar. Deste estereótipo nãoescapa inclusive um economista do porte deCelso Furtado. Escreve ele:
Seria de esperar, portanto, que ao proclamar-seesta, (a Abolição) ocorresse uma grande migração demão-de-obra em direção das novas regiões er. rápidaexpansão, as quais podiam pagar saláriossubstancialmente mais altos. Sem embargo, éexatamente por essa época que tem início a formaçãoda grande corrente migratória europeia para São Pau-lo. As vantagens que apresentava o trabalhadoreuropeu com respeito ao ex-escravo são demasiadoóbvias para insistir sobre elas.16
Em seguida, Celso Furtado apresenta asrazões da superioridade do europeu sobre amassa trabalhadora nacional:
Quase não possuindo hábitos de vida familiar, aideia de acumulação de riqueza lhe é praticamenteestranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento mentallimita extremamente suas "necessidades". Sendo otrabalho para o escravo uma maldição e o ócio o beminalcançável, a elevação do seu salário acima desuas necessidades — que estão definidas pelo nívelde subsistência pelo escravo — determina de imediatouma forte preferência pelo ócio.(...) Podendosatisfazer seus gastos de subsistência com dois outrês dias de trabalho por semana, ao antigo escravoparecia mais atrativo "comprar" o ócio que seguirtrabalhando quando já tinha o suficiente "paraviver". Dessa forma, uma das consequências diretas
da Abolição, nas regiões em mais rápidodesenvolvimento, foi reduzir-se o grau de utilizaçãoda força de trabalho.^.-) Cabe tão-somente lembrar queo reduzido desenvolvimento mental da população submetida àescravidão provocará a segregação parcial desta após a Abolição,retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimentoeconómico do país.17
Pelo pensamento de Celso Furtado, a culpada segregação (mar-ginalização) dos ex-escravos (e aqui está embutida a imagem dosnegros e não-brancos) e componentes da massade mão-de-obra nacional que foi transformadaem excedente, foi decorrência do seu atrasomental, fato que conduziu ao entorpecimentoda economia do país.
O BRASIL TERIA DE SER BRANCO E CAPITALISTA 83
Para ele não havia saída a não ser aquelaque se apresentou porque correspondia ànecessidade de colocar-se um trabalhadormentalmente superior em face da ociosidade donegro, do mestiço, finalmente de todosaqueles que se encontravam sem ser integradoseconomicamente nessa fase de transição. Comoprova disto é o fato de termos sempre, nesseprocesso de expansão, a participação doimigrante europeu. Seus hábitos afeitos àinstituição familiar regular e outros decomportamento civilizados entravam como fatoresque explicavam, de maneira aparentementeobjetiva, a vantagem do trabalhadorestrangeiro substituir o negro, ex-escravo eo não-branco em particular. 1S Quando se querfazer uma relação entre a necessidade da mão-de-obra e a imigração apresenta-se, comojustificativa ou explicação, o número re-lativamente pequeno de escravos que foramlibertados pela lei de 13 de maio (mais oumenos setecentos mil) e a grande expansão daeconomia cafeeira que necessitava de umnúmero muito maior de trabalhadores nessaexpansão económica. Isto é artificial,argumento que não se deve considerar. Comisto apagar-se-ia artificialmente do mapademográfico nacional e do seu potencial detrabalho a grande parcela disponível de mão-de-obra que antecedia à Abolição. Em 1882tínhamos nas províncias de São Paulo, MinasGerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio deJaneiro para l 443 170 trabalhadores livrese 656 540 escravos uma massa de desocupadosde 2 822 583. Essa era a realidade noprocesso de decomposição do sistemaescravista: tínhamos, portanto, uma populaçãotrabalhadora sem ocupação maior do que ototal de imigrantes que chegaram ao Brasil de1851 a 1900. Mas tudo isto era posto de lado,sob a alegação do "ócio" nacional. 19 Vejamoscomo esses imigrantes chegaram e a suaconexão com a substituição do trabalhadornacional:
ENTRADA DE IMIGRANTES EUROPEUS NO BRASIL (1851 • 1900)
Períodos
1851-1860 (proibição do tráfico)1861-1870 (Lei do Ventre Livre)1871-1880 (movimento abolicionista)1881-1890 (Abolição total)1891-1900 (apogeu da imigração europeia)1851-1900
Fonte: MORAIS, Octávio Alexandre de. Imigration in toBrazil: a statical state-ment and related aspects. In:BATES, M. The migration ofpeople to Latin America. The CatholicUniversity of America Press, 1957.
Entrada de europeus121 74797571219128525 086
1 129315
2 092 847
84 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ________________
Podemos reparar pelos dados acima, que háurna relação entre o processo de decomposiçãodo sistema escravista e o ritmo de entrada deimigrantes europeus. Isto é: à medida que setomam medidas para tirar o escravo doprocesso de trabalho estimula-se o mecanismoimportador de imigrantes brancos.Inicialmente, com a proibição do tráfico,depois com a Lei do Ventre Livre. Com omovimento abolicionista o processo se amplia.À medida que segmentos escravos, por váriasrazões, eram afastados do sistema deprodução, entrava, em contrapartida, umapopulação branca livre para substituí-los.Não é por acaso que logo depois daproclamação da República cria-se a Lei daVadiagem para agir como elemento de repressãoe controle social contra essa grande franjamarginalizada de negros e não-brancos emgeral.
No Rio de Janeiro essa seleção étnicafeita pela classe empregadora em detrimentodo trabalhador não-branco também se verifi-ca. Em 1890, na indústria manufatureira, para69,8% de brancos ocupados, o percentual negroera de 8,9% e mestiço 19,7%. Os chamadoscaboclos contribuíam apenas com 1,6% da mão-de-obra. Como vemos, esse continuum seletivose mantém constante, desestruturan-do sociale economicamente a população não-branca emgeral que é colocada como massa marginalizadado modelo de capitalismo dependente.
Analisando esta época, o historiador JoséJorge Siqueira afirma que:
Entre 1872 e 1900 a tendência foi de alta aceleradado crescimento populacional. Contribuíram para istoa inversão do fenómeno migratório cidade-campo,devido à fuga em massa do escravo negro aproveitando-se da crise que seria a derradeira do sistemaescravista; o alto índice de crescimento natural dapopulação (segundo o Censo de 1890, a variável quemais incrementa a estatística demográfica); e, porúltimo a intensificação da migração europeia
(principalmente de portugueses, no caso do Rio). Em1906, o Rio de Janeiro era a única cidade brasileiracom mais de 500 mil habitantes, vindo a seguir SãoPaulo e Salvador com pouco mais de 200 mil.20
No entanto, segundo o mesmo autor, nesseperíodo:para 822 empresários de manufatura dos diversosramos industriais, temos 18 090 trabalhadoresassalariados de alguma especialização técnica. Como amanufatura urbana no Rio de Janeiro contou também como uso de trabalhadores escravos, lado a lado com oslivres e assalariados, temos que aquelesrepresentavam, neste ano, 13% do total da força detrabalho ocupada em atividades industriais. Havia, nacidade, 46 804
O BRASIL TERIA DE SER BRANCO E CAPITALISTA 85
escravos empregados em atividades diversas,malgrado o vultoso número de alforrias e o grau dedesmantelamento do sistema.21
Por trás da ideologia de rejeição dotrabalhador nacional, como veremosoportunamente, estavam os grandesinvestimentos feitos para trazer-se oimigrante europeu. Não se podia considerarinferior um artigo no qual se havia investidoum capital considerável. Menezes Cortes, poristo, apresenta como um dos elementos dasforças de atração para a vinda do imigranteeuropeu certas vantagens que lhes eramoferecidas:
É sabida a influência do conhecimento daspossibilidades de emprego certo; sejam elasinformadas por parentes, por amigos, ou mesmoatravés de agências de propaganda, não só nospaíses interessados na imigração, como também dasempresas comerciais e transportes ferroviários e,principalmente, marítimo, as quais auferem lucrosper capita dos transportados.22
Como vemos, já havia um processo deinvestimento capitalista nos mecanismosdinâmicos da política migratória. Onde istonão aconteceu o ex-escravo se integrou,embora em uma economia de miséria, mas dequalquer forma não foi marginalizado como noSudeste, especialmente em São Paulo. ManoelCorreia de Andrade afirma, por isto, aodescrever a situação do ex-escravo naregião Nordeste:
Mas o que ocorreu em consequência da mesma(Abolição) na região canavieira do Nordeste? Aí jánão existiam terras devolutas, de forma expressiva,para nelas se alojarem os ex-escravos e estes,libertos, nào tiveram outra alternativa senão a devenderem a sua força de trabalho aos engenhosexistentes. Os abolicionistas mais consequentesadmitiam que a Abolição devia ser acompanhada demedidas que levassem à distribuição de terrasdevolutas com os libertos, a fim de que se trans-formassem em pequenos proprietários. Osconservadores, que assumiram o comando da campanhaabolicionista na ocasião que compreenderam que a
Abolição era um ato a se consumar, trataram deconceder a liberdade sem conceder terras, de vezque, conservando o monopólio da propriedade daterra teriam a mão-de-obra assalariada barata, faceà inexistência, para o escravo, de uma opção que nãofosse venda de sua força de trabalho aos antigossenhores. Assim, na região açu-careira nordestina,com a Abolição, os escravos fizeram grandes festascomemorativas e, em seguida, abandonaram, semrecursos, as terras dos seus senhores, saindo àprocura de trabalho nas terras dos senhores deoutros escravos. Houve, em consequência, umaredistribui-ção dos antigos cativos pelos váriosengenhos e usinas, fazendo com que eles trocassem desenhores e passassem a viver com o magro salário quepassaram a receber. O sistema utilizado, desde ocomeço do século, para os trabalhadores livres, foiaplicado aos escravos liber-
86 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE __________________________________________________________________________
tos, sendo os mesmos gradativamente absorvidos na massa da população pobre.23
Correia de Andrade coloca muito bem oproblema e mostra como na região na qual nãohouve interesse do capitalismo mercantil nosentido de administrar a passagem do escravismopara o trabalho livre, o ex-escravo nãodemonstrou possuir aquele ócio sugerido porCelso Furtado. A falta de investimento, decapital, que objetivasse a substituição damão-de-obra possibilitou a integração do ex-escravo. Mas, como já havíamos escrito emoutro local, o fato de não haver o negro daszonas de agricultura decadente semarginalizado na mesma proporção do paulista,não significa que ele tenha conseguido, aointegrar-se socialmente, padrões económicos eculturais mais elevados do que os alcançadospor aqueles que foram marginalizados em SãoPaulo. Eles conseguiram integrar-se em umaeconomia de miséria, com índices de crescimento ediferenciação baixíssimos, quaseinexistentes.
Por estas razões os próprios indicadorespara a formulação do conceito de marginalidadedevem ser regionalizados, levando-se em contaessas diferenças, sem o que cairemos,inevitavelmente, em uma visão desfocada eimpressionista do problema com assubsequentes interpretações formalistas eimprecisas.
Onde não houve possibilidade de seinvestir para substituí-los por outro tipo detrabalhador o negro foi integrado na economia,mas, por outro lado, naquelas áreas prósperasque tinham condições de investir nasubstituição da mão-de-obra, ele foimarginalizado. Aliás uma coisa decorria daoutra: as áreas decadentes não tinhampossibilidade de procurar outro tipo detrabalhador pela sua própria decadência. Asáreas que decolavam puderam dar-se ao luxo de
jogar nas franjas marginais toda umapopulação de trabalhadores, para substituí-los por outra que viria branquear o Brasil esatisfazer aos interesses daqueles queinvestiram no projeto migratório.
Convencionou-se, dentro destavisão aprio-rística, que otrabalhador importado era su-perior ao nacional. Interesses
convergentes, ideológicos (o branqueamento) eeconómicos (os interesses dos investidores naempresa mi-grantista) determinaram que, aoinvés de se fazerem planos experi-
5. Entrega de mercadoria que não
______________ENTREGA DE MERCADORIA QUE NÃO PODIA SER DEVOLVIDA 87
mentais para o aproveitamento dessa massa demão-de-obra sobran-te, estabeleceu-se comodefinitiva a sua inferioridade. Desta forma,ficou a visão de que a substituição foi feitasem choques de adaptação do colono com ascondições de trabalho, clima, alimentação ecomportamento político. A qualidade doimigrante não era tão uniformemente superiorcomo se propala. Eles foram impostos muitasvezes sob restrição inclusive dos fazendeiros.No que tange à população italiana,especialmente do Sul, as suas condiçõessociais e culturais não eram aquelas desuperioridade comumente apresentadas. Per-correndo uma região italiana nos começos doséculo XX o arqueólogo francês Gaston Boisierassim descreve a população camponesaitaliana:
Aqui (em Óstia), os imigrantes são todos lavradoresque vêm semear suas terras e fazer a colheita. Àtardinha, amontoam-se em cabanas feitas de velhastábuas, com tetos de colmo. Visitei uma delas,estreita e comprida, que parecia um corredor. Nãotinha janelas e só recebia luz das portas colocadasnas duas extremidades. O arranjo era dos mais simples.No meio, as marmitas onde se fazia sopa; dos doislados em compartimentos sombrios, homens, mulheres ecrianças deitavam-se misturados, em montes de palhaque nunca se renovaram. Mal entramos na cabana e umcheiro fétido se apodera de nós e nos provocanáuseas; o visitante, que não está acostumado a essaobscuridade nada pode perceber; só ouve o gemido dosmaláricos que a febre prende ao leito de palha e quelhe estendem a mão pedindo esmola. Nunca imagineique um ser humano pudesse viver em tais alforjas.24
Completando o quadro escreve José Arthur Rios:Nessa emigração, a instituição mais importante era afamília. Na família a criança recebia as tradiçõesdo grupo e seus severos padrões de comportamento. Asmeninas aprendiam a temer o homem, a zelar pela honrae a ajudar no trabalho agrícola. O filho mais velhoaprendia a profissão paterna e o árduo ofício de
chefe de família. O homem era o senhor incontestado.A autoridade se transmitia do avô ao pai e deste aofilho mais velho, sempre na linha masculina. Àsmulheres cabia o trabalho e a submissão. Oconcubinato era frequente no Sul, talvez, segundosugere Foerster, resíduo da ocupação sarracena. Oanalfabetismo e a falta de instrução aí predominavam,embora fizessem sentir seus efeitos no Norte. Juntosconcorriam a dar à tradição seu papel de árbitrosupremo. Só a superstição lhes fazia concorrência,agravada por uma religiosidade primitiva.2S
Sobre os métodos de cultivo da terra afirma o mesmo autor:Os métodos de cultivo remontavam, em sua maioria, aoImpério Romano. O arado era primitivo, combinado, àsvezes, com a zappa, espécie
MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE
de enxada. O adubo praticamente desconhecido, o q ueforçava os camponeses a deixar porções de terra empousio senão quisessem vê-las rapidamente esgotadas.As sementes eram mal escolhidas. Os cascos de boisfaziam a debulha das espigas e o vento separava ojoio do trigo.26
Como vemos essa superioridade técnica tãoapregoada não é confirmada pelos fatos. Daí afrustração inicial de inúmeros fazendeiros naexperiência que fizeram com esses imigrantes.Daí o ceticismo de Fernando Torres,presidente da província de São Paulo, o qualafirmava no seu relatório de 1859:
... o certo é que o desânimo e arrefecimento que emgeral têm se manifestado os nossos fazendeiros pelacolonização, prova que os colonos ultimamente vindosda Europa têm sido mais pesados que lucrativos aosmesmos fazendeiros, pois que só assim pode-seexplicar a preferência que têm dado a despendersomas enormescom a aquisição de escravos, compradospor preços que lhes absorvem anos de renda.27
Para ele, ao contrário do que afirmouCelso Furtado, esses imigrantes eram "homensque, por já ociosos" e por não encontraremocupação nos seus países de origem aceitam"por isso a emigrar na primeira oportunidadeque isso ofereça". 2S
Segundo Paula Beiguelman,no mesmo Relatório que comunica a presidência daProvíncia pelo Ministério dos negócios do Império deque iam chegar 800 colonos vindos por conta daAssociação Colonizadora, e oferecendo-se o governoimperial a distribuí-los aos fazendeirosinteressados, pagando a passagem da Corte a Santos,e dada publicidade a esse oferecimento fora quasenula a receptividade encontrada.29
Não houve aquele automatismo de aceitaçãodecorrente da superioridade óbvia doimigrante. 30 O que pretendia essasubstituição do trabalhador nacional peloalienígena era satisfazer uma teia de in-teresses que se conjugavam dentro de uma visãocapitalista dessa transação, com capitais em
jogo e interesses ideológicos e políticos quese completam. O governo imperial investe noimigrante porque ele não era mais um simplestrabalhador, mas uma peça importante nosmecanismos que dinamizavam — via interesses deuma burguesia mercantil ativa e ávida de lucros— essa substituição. Pelo decreto imperial de8 de agosto de 1871 (ano da Lei do VentreLivre) foi autorizada a fundação da AssociaçãoAuxiliadora de Colonização e Imigração. Seupresidente era significativamente Franciscoda Silva Prado e o seu capital podia seraumentado em qualquer tempo. Os gover-
______________ENTREGA DE MERCADORIA QUE NÃO PODIA SER DEVOLVIDA 89
nos geral e provincial, por seu turno,poderiam injetar auxílios pecuniários àassociação, os quais serviriam para pagar aspassagens dos imigrantes. 31
Nessa conjuntura, como afirma PaulaBeiguelman: "Estimulados por esses auxíliosgovernamentais, vários fazendeiros seinteressaram pelo emprego do trabalho doimigrante". 32
As elites dominantes, através de váriosmecanismos protetores do imigrante e demedidas restritivas à compra interna deescravos, através do tráficointerprovincial, conseguiu, finalmente, queo imigrante fosse um trabalhador de aluguelmais barato do que a compra onerosa (poronerada) do escravo e neste universo detransação capitalista o fazendeiro do caféaceita o imigrante.
E aquele trabalhador europeu queinicialmente era considerado ocioso porrepresentantes da lavoura passa a serconsiderado o modelo de poupança,perseverança, organização e disciplina notrabalho. O problema era, como se vê, impor oimigrante que correspondia aos interesses deuma camada que surgia nas entranhas doescravismo e tinha os seus objetivos voltadospara os lucros da transação que se fazia como imigrante. O Barão de Pati afirmava,mostrando a necessidade dessa alternância,que a abundância do escravo era um dosobstáculos ao desenvolvimento do trabalholivre. Daí a necessidade de se barrar avinda da mão-de-obra escrava das zonas deca-dentes e se estimular e dinamizar aincorporação do imigrante ao trabalho nasfazendas de café. Na lavoura de café, oescravo assume o posto de trabalhadoreficiente até ser substituído peloimigrante. Os representantes das provínciasnordestinas decadentes sentem que elas estão
ficando despovoadas. Até aí o interesse doproprietário das fazendas de café procurava otrabalhador escravo de outras regiões comoideal ou pelo menos o mais adaptado aotrabalho. Depois de 1870, os cafeicultorescomeçam a aceitar a substituição. Em 80 o tra-balho livre já se manifesta como asubstituição ideal do trabalho escravo. Comuma ressalva: que esse trabalhador livre deviaser branco e o negro deveria transformar-se emmarginal.
É exatamente esta gama de interesses docapitalismo mercantil que se desenvolve aindanas entranhas do escravismo tardio através doprocesso migratório que determinou a dinâmicadesse segundo tráfico não suficientementeestudado até hoje. Razões económicas de-terminaram o sucesso da substituição de umtipo de trabalhador inferior por outro superior.Assim como a substituição do escravismoindígena foi justificada pela altivez do índio ea docilidade do negro, a
90 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRAC1AL RACIAL: MITO E REALIDADE
substituição do trabalho do escravo negropelo do inigraate branco foi tambémjustificada pela incapacidade do ex-escrivo(isto é, o negro e o não-branco nacional)realizar o trabalho no nível do europeusuperior.
Os interesses em jogo na substituição doíndio pelo negro nunca foram profundamenteestudados. Diz a este respeito, com muitarazão, Tancredo Alves:
Grande razão que tem sido geralmente esquecida, foia pressão dos grupos interessados no tráfico deafricanos no sentido de imporem-se no Brasil (comoàs demais colónias tropicais) os escravos negros,fonte de polpudos lucros. O tráfico de africanos,ensina-nos Marx, desenvolveu-se na fase históricada acumulação primitiva que precedeu ao surto docapitalismo industrial (séc. XVII aXVIII) como umaempresa tipicamente comercial, um fator a maisdaquela acumulação. Tratava-se de uma empresa decerto modo autónoma que, se estava condicionada peloseu mercado, em grande parte também o condicionava.O mercado era a agricultura de géneros tropicais,que se desenvolveu a partir do século XVI comoparte integrante do sistema colonial da fase docapitalismo manufatureiro, vale dizer como umoutro fator da acumulação primitiva. Toda uma sériede motivos ligados ao nível de desenvolvimento dasforças produtivas, às condições geográficas, acertas condições ideológicas etc. (motivos qje nãoserá possível analisar aqui) ocasionaram essaligação histórica entre a agricultura de génerostropicais e o tráfico de africanos, o fato é queonde vicejou a primeira verificou-se a penetraçãocomercial do segundo; coisa fácil de comprovar-se nocaso brasileiro: com exceção do surto mine-rador(há aí razões particulares), o fluxo de escravosnegros correspondeu no Brasil — geográfica ehistoricamente — a vicissitudes da agricultura dosgéneros tropicais (o açúcar, o algodão, o café).Foram, portanto, esses interesses mercantisexternos, ligados à agricultura colonial e aotráfico de africanos, uma outra grande razão dapredominância da escravidão negra no Brasil.33
Este mesmo processo de substituição de umtrabalhador por outro verificou-se napassagem do escravismo tardio brasileiro em
relação ao negro. As grandes firmasimigrantistas, grupos interessados nesseprocesso e especuladores em geral não viamevidentemente o imigrante como superior, mas oviam como um investimento que daria lucros aquem administrasse os mecanismosimigrantistas. 34
Inicialmente a empresa Vergueiro & Cia.cobrava comissão dos fazendeiros para realizara transação da vinda de imigrantes europeus.Essa comissão onerosa era repassada aoimigrante que tinha de pagá-la acrescida dosjuros que o fazendeiro cobrava. Isto levavaa que o imigrante dificilmente conseguisseresgatar as suas dívidas. Em 1867
_____________ ENTREGA DE MERCADORIA QUE NÃO PODIA SER DEVOLVIDA 91
um emissário do governo prussiano, H. Haupt,constatava que somente em circunstânciasexcepcionais uma família de imigrantes po-deria ressarcir as suas dívidas em temporelativamente curto. Onze anos depois destaconstatação há uma tentativa de sereabilitar o trabalhador nacional. Noparticular escreve Verena Stolcke:
No Congresso Agrícola de 1878, convocado pelogoverno para avaliar o estado geral da agricultura,um grupo de fazendeiros se opôs à imigração emgrande escala, como solução para o problema da mão-de-obra, devido aos custos que ela acarretariapara eles ou para o país. Ao invés disso,reivindicavam leis para combater a alegada aversãoda população nacional ao trabalho. Buscavam meios dedisciplinar os agregados e de obrigar os ingénuos aotrabalho, bem como disposições que reforçassem alei de 1837 na regulamentação dos contratos delocação e serviços. Ao final, essa posição seriaderrotada pelos fazendeiros que consideravamaltamente problemático depender de ex-escravos apósa Abolição ou da população nacional disponível, eque viam na imigração em massa subvencionada aúnica solução.35
O Estado assume financiar a imigração eem 1884 a Assembleia de São Paulo aprovamedida através da qual eram concedidas passa-gens gratuitas aos imigrantes que sedestinassem à agricultura.
A mesma autora desenvolve o seuraciocínio apresentando os seguintes fatos:
Após 1884, em vez de coagir os trabalhadoresdiretamente o Estado procurou obter mão-de-obrabarata e disciplinada para as fazendas, inundando omercado de trabalhadores com imigrantessubvencionados. Em 1886, o governo provincialhavia encontrado uma forma eficaz de fornecersubsídio integral aos imigrantes e o resultado foipraticamente imediato. Em maio de 1887, entre 60000 e 70 000 imigrantes, agora predominantementeitalianos, já haviam sido assentados nos estabe-lecimentos de São Paulo. Essa cifra excede aestimativa de 50 000 escravos que estavam sendoempregados nas fazendas cafeeiras paulistas em
1885.36
Como vemos, havia grandes interesses naempresa imigrantista que procurava dinamizaresse fluxo migratório com o objetivo de es-tabelecer a continuidade e ampliação dos seusinteresses que estavam subordinados àmarginalização do trabalhador nacional e asua substituição pelo trabalhador estrangeirosubsidiado. Este complexo mercantil que secriou em cima da importação do trabalhadoreuropeu determinou a exclusão do negro e dotrabalhador nacional de modo geral de umaintegração como mão-de-obra capaz de dinamizaro surto de desenvolvimento económico quesurgiu com o boom da economia cafeeira.Podemos ver como há toda uma política que seconjuga —
Q2 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE
do Estado e dos fazendeiros — no sentido dealegir falta de braços para a lavoura eapelar, sempre, para que essa crise de mão-de-obra fosse resolvida através do imigranteeuropeu. Na bise das transações mercantis queeram operadas por esse complexo montado paraimportar o imigrante, estavam os lucros quevários segmentos da sociedade brasileira comisso conseguiam obter. Os própriosfazendeiros, na primeira fase da imigração,cobravam juros aos seus trabalhadoreseuropeus, muitas vezes escorchantes, fatoque deu motivo a diversas formas de protestodo trabalhador importado.
Um levantamento de quanto lucraram ossetores envolvidos e participantes dessecomércio, no qual estavam interessadosagentes europeus e nacionais, fazendeiros,funcionários do governo, empresas deimigração, e outros setores financiadores,poderá demonstrar por que surgiu a ideologiada necessidade de importação em massa dotrabalhador europeu. Ele, por seu lado, eratambém explorado. Vindo com a expectativa defixação à terra, direito à propriedade,proteção, assistência médica, fontes definanciamentos, como apregoavam os agentesnos países europeus — também remunerados paraisto —, ao chegarem viam-se equiparados aosescravos das fazendas. Daí muitos terem serevoltado. Não suportando as reais condiçõesque lhes eram impostas a si e às suasfamílias, com um regime de trabalho no qual acoerção extra-econômica funcionava como umcomponente das normas de trabalho, oimigrante reagiu muitas vezes. A revolta deIbicaba, do senador Vergueiro, em 1850, é amais conhecida mas não foi a única. Mas ésignificativa porque demonstra os mecanismoscoatores que os fazendeiros usavam contraesses trabalhadores considerados superiores emrelação aos nacionais.
Os fazendeiros usavam a alegação da faltada mão-de-obra em São Paulo para conseguirem
novos trabalhadores importados e conseguiremum nível de salários baixos.
Neste particular, escreve ainda Verena Stolcke:Mesmo depois da década de 1880, os fazendeirosregularmente se queixavam de que havia uma escassez debraços agrícolas em São Paulo. Existem, porém, váriasindicações de que essas queixas eram recursos parapressionar pela continuidade da imigração em massa,e assim assegurar os baixos salários que osfazendeiros estavam dispostos a pagar. Por exemplo,as duas fontes alternativas de mão-de-obra, oslibertos e os chamados trabalhadores nacionais,nunca foram utilizados de nenhuma forma substancialaté a Primeira Guerra Mundial, quando a imigraçãoeuropeia subvencionada se tornou impraticável. Ambosos grupos foram em larga medida ignorados pelosfazendeiros, mesmo nas épocas de suposta escassez demão-de-obra.37
______________ENTREGA DE MERCADORIA QUE NÃO PODIA SER DEVOLVIDA 93
É óbvio pelo exposto que havia ummecanismo de barragem permanente contra o ex-escravo, o negro, e de forma maisabrangente, contra o trabalhador nacional.Enquanto se marginalizava este, dinamizava-se, através de várias formas, o segundo tráficona medida em que ele era interessante elucrativo para as classes dominantes. Comopodemos ver, não se tratou de uma crise demão-de-obra, como até hoje se propala, masda substituição de um tipo de trabalhadorpor outro, o isolamento de uma massapopulacional disponível e a colocação, noseu lugar, daquele trabalhador que vinhasubvencionado, abrindo margens epossibilidades de lucros para diversos seg-mentos das elites deliberantes.
Em 1871 é criada a Associação Auxiliadorada Colonização e António Prado tornou-se oseu vice-presidente, tendo o seu pai con-seguido, através da associação, a importaçãode dez famílias alemãs para suas fazendas.Em abril de 1886 Martinico Prado anunciou afundação da Sociedade Promotora daImigração. Essa entidade reuniu-se no mesmoano a convite do Barão (depois Conde) dePar-naíba. Este propõe que a associaçãofosse o único contato junto ao governoprovincial, do qual era vice-presidente eposteriormente presidente. Depois foi vice-presidente da entidade, e Martinico Prado,seu presidente. Convém acrescentar que oBarão de Parnaíba era primo dos Prado eestava interessado vivamente nodesenvolvimento migratório. Essa sociedadefuncionará até 1895, quando a políticamigratória passa a ser função do Estado. Noperíodo de funcionamento a AssociaçãoPromotora importou 126 415 trabalhadores.
Em todo esse processo os casos denepotismo e corrupção eram inevitáveis. Noparticular, escreve um biógrafo da família
Prado:Talvez acusações mais sérias que a do favoritismoregional e do excessivo gradualismo na questão daescravatura fossem aquelas da conspiração pessoalde António com o fim de canalizar fundos gover-namentais para seu irmão. Em maio de 1889, ojornalista liberal Rui Barbosa acusou António deemprestar 300 contos de fundos públicos paraMartinico, presidente da Sociedade Promotora, paraque ele subsidiasse a imigração, em violação a umalei que dispunha que tal pagamento poderia ser feitoapenas depois de recebidas as provas de que os imi-grantes estivessem realmente estabelecidos nasfazendas. O ataque de Rui Barbosa insinuava que arenúncia de António ao Ministério da Agriculturaestava ligada a este "parentismo administrativo"!António evidentemente não respondeu às acusações, nemdelas resultou qualquer ação legal. Tinhafrequentemente queixas contra a inércia governamentalem encarar problemas cruciais e parece ter tido poucorespeito pelas sutilezas legais envolvidas. Épossível que, ao ordenar o paga-
94 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ____________________
mento ao presidente da Sociedade, que aconteceu serseu irmão, António tenha sentido que estavaaderindo à lei, já que pagamento direto aosfazendeiros não era efetuado. De qualquer maneira, oincidente mostra um lado sombrio do familismo usadopara facilitar a imigração em São Paulo. Tendoobservado muito anteriormente, na progressista In-glaterra, que tudo era feito pela iniciativaprivada, \ntonio aparentemente acreditou que,quando a livre empresa precisasse de apoiofinanceiro, o governo deveria ser um sócio à suadisposição.38
Não foi por acaso que a denúncia decorrupção (apesar da discreta defesa que obiógrafo da família fez) tenha surgido de umpolítico nordestino. O Nordeste estava emdecadência e via como se manipulavam asverbas para a importação do imigrante, emdetrimento do amparo ao trabalhador nacional.As oligarquias se beneficiaram enormemente como segundo tráfico, não apeias diretamente, mastambém beneficiando segmentos mercantis,comerciais e usurários que tinham naimportação do imigrante uma fonte de rendapermanente. Já houve quem escrevesse ahistória dos magnatas do tráfico negreiro. 39
Falta quem escreva, agora, a história da vindado imigrante europeu, a barragem que se fezcontra o ex-escravo, o negro, o não-branco deum modo geral e os mecanismos quebeneficiaram economicamente aqueles queestavam engajados nessa operação: a históriado segundo tráfico.
Acompanhando esses mecanismos quedinamizavam a estratégia da importação deimigrantes e as suas compensações monetárias,projetava-se a ideologia da rejeição donegro. Em São Paulo, onde o processomigratório subsidiado foi considerado asolução para a substituição do trabalhoescravo, os políticos representativos dos fa-zendeiros do café desenvolveram um pensamentocontra o negro, não apenas mais como ex-escravo, mas como negro, membro de raça in-
ferior, incapaz de se adaptar ao processocivilizatório que se desenvolvia a partir dofim do escravismo. Em 1882, ao se falar navinda de negros para São Paulo, o deputadoRaphael Correia exclamaria indignado que eranecessário "arredar de nós esta peste, que vemaumentar a peste que já aqui existe".Adicionava à condição de praga a "ociosidadeinevitável dos negros".
Esta constante do pensamento das elitespolíticas e económicas penetrou profundamenteo ideário de vastas camadas da nossa populaçãoe da nossa intelectualidade, conforme vimos nopensamento de Celso Furtado. Sobre istoescreve Célia Maria Marinho de Azevedo:
Atualmente pode-se constatar a permanência destaideia — a vagabundagem do negro — transformada emtema historiográfico, destituí-
_________DAS ORDENAÇÕES DO REINO À ATUAL1DADE: O NEGRO DISCRIMINADO 95
do porém da argumentação racista do imigrantismo.Ao contrário convencionou-se explicar a "recusa"do negro em trabalhar devido ao "fator herança daescravidão" ou "traumatismo" do escravo, pois paraele a liberdade seria o contrário do trabalho.Assim o negro teria se marginalizado devido à suaincapacidade para o trabalho livre, o que seexplica hoje por ter sido ele escravo, e não maispor ter "sangue africano". Por sua vez, estatransmutação da representação imigran-tistaracista — negro vagabundo, em tema histórico — ex-escravo vagabundo, deve ser entendida dentro docontexto suscitado pelo mito da democracia racial,mito engendrado em meados da década de 30, porémalimentado pela imagem já mencionada acima, de umpaís escravista sem preconceitos raciais.40
A ideologia racista é substituída porrazões sociológicas que no fundo as justificam,pois transferem para o negro, através doconceito de um suposto traumatismo da escravidão,as causas que determinaram a suamarginalização atual.
6. Das Ordenações do Reino Como vimos nas páginasà atualidade: precedentes, a inferiorizaçãoO negro discriminado do negro no nível de renda,
no mercado de trabalho, naposição' social e na educação sãoincontestáveis. Mas, como já dissemos também,essa situação deve-se, fundamentalmente, aosmecanismos de barragem que desde o Brasil-Colônia foram montados para colocá-lo emespaços sociais restritos e controláveis pelasclasses dominantes. Muitos desses mecanismosforam instituídos ainda na Metrópole eobjetivavam colocar o negro escravo na suacondição de semovente. O Código Filipino,também conhecido como Ordenações do Reino, de1607, mandado recopilar por Filipe II da
Espanha e promulgado pelo seu filho Filipe IIIera taxativo no particular. Esse código foiestendido ao Brasil pela própria AssembleiaConstituinte de 1823 e vigorou até a Abolição.No Título XVII do Livro IV lê-se o seguinte:
Qualquer pessoa que comprar algum escravo doente detal enfermidade, que lhe tolha servir-se dele, opoderá enjeitar a quem lhe vendeu, provando que jáera doente em seu poder de tal enfermidade, contantoque cite ao vendedor dentro de seis meses do diaque o escravo lhe for entregue.No item 3 lê-se ainda:
96 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ________________
Se o escravo tiver cometido algum delito, peloqual, sendo-lhe provado, mereça pena de morte, eainda não for livre porsentença, e o vendedor ao tempó da venda o não declarar, poderá o compradorenjeitá-lo dentro de seis meses, contados da maneiraque acima dissemos. E o mesmo será se o escravotivesse tentado matar-se por si mesmo comaborrecimento da vida, e sabendo-o o vendedor, onão declarasse.
Finalmente para o aspecto que nos interessa:Se o vendedor afirmar, que o escravo, que vende, sabealguma arte, ou tem alguma habilidade boa, assimcomo pintar, esgrimir, ou que é cozinheiro, e istonão somente pelo louvor, mas pelo vender por tal, edepois se achar que não sabia a tal arte, ou nãotinha a tal habilidade, poderá o comprador enjeitá-lo; porém para que o não possa enjeitar, bastará queo escravo saiba da dita arte, ou tenha a talhabilidade meã-mente. E não se requer ser consumadonela.Por essas normas que regulavam a situação
do negro escravo em Portugal, e, por extensãodos nossos primeiros constituintes, também noBrasil, a situação do negro era praticamentea de um animal. Não havia diferença entre otratamento que se dava a uma besta e o quese dispensava a um negro escravo. Mas essalegislação repressora, escravista e despóticapor isto mesmo, era aceita como normal ecristã, contanto que os escravos, no momentocerto, fossem batizados pelos seus senhores.Aliás o mesmo código regula este detalhe emostra como os senhores deviam batizar osseus escravos até seis meses "sob pena de osperder para quem os demandar". Era, também,o início do sincretismo exposto, como já vimos.As leis e alvarás se sucedem contra o escravonegro durante todo o transcurso daescravidão.
Em Sergipe, no ano de 1838 o seugovernador baixa o decreto n? 13, de 20 demarço, no qual se lê que são proibidos de
frequentar as escolas públicas:§1 — Todas as pessoas que padeçam de moléstias contagiosas; §2 — Os Africanos, quer livres quer libertos.41
Evidentemente quando o legislador colocouafricanos quis referir-se aos negros em geral,pois uma coisa estava imbricada na outra.Desta forma barravam-se as possibilidadeseducacionais do negro da mesma forma que seimpedia o ingresso de leprosos, tuberculososou portadores de outras doenças do género. Senas Ordenações do Reino o negro eraequiparado às bestas, no decreto de 1838 eleera colocado no mesmo nível daqueles quedeviam ser afastados do convívio social portransmitirem doenças contagiosas.
_________DAS ORDENAÇÕES DO REINO Á ATUAL1DADE: O NEGRO DISCRIMINADO 97
Outras vezes, quando não se podia maisalegar que os africanos e os negros em geraleram iguais aos leprosos, apelava-se paraaquilo que sé convencionou chamar de umtemperamento diferente do negro, o qualgeraria um comportamento divergente einstável, razão pela qual ele devia serimpedido de frequentar certas escolas ouinstituições de cunho cultural e/oureligioso.
Prova disto foi o comportamento dadireção da Congregação dos Missionários daSagrada Família de Crato, no Ceará, em 1958.Num prospecto publicado procurando despertarvocações sacerdotais dizia o documento que,entre outras condições para ingresso noseminário, o candidato devia ser de cor clara.Como vemos, cento e vinte e um anos depoisdo decreto que vedava aos negros ingresso nasescolas públicas de Sergipe, um Seminário, noCeará, alegando outros pretextos, porém poridênticas razões, barrava o negro de seguira carreira sacerdotal. O escritor OrlandoHuguenin, estranhando os termos do documento,escreveu ao Padre Superior da VenerávelCongregação dos Missionários da SagradaFamília sobre a veracidade do documento equais as razões, em sendo autêntico, doprocedimento da congregação em relação aosnegros. Obteve a seguinte resposta:
Referente à solicitação de V. S. no que concerne oitem 4 das Condições de Admissão, a respeito da cordos candidatos, venho responder-lhe que determinamoseste ponto baseado em experiências adquiridas hávários anos. Sempre notamos que a tais vocações énecessário dispensar uma vigilância de todo especiale, mesmo assim, quase sempre aberram e nãoconseguem dominar as suas inclinações, de modo queou são dispensados, ou eles mesmos desistem com otempo das suas aspirações. Parece que a permanenteconvivência com os rapazes de outra cor que, emgeral, estão na maioria, os desnorteia e os fazesquecer o ideal que inicialmente abraçaram. Creio
que um ambiente de alunos de qualidades corporaisiguais daria muito mais resultado.42
Como podemos ver há um continuam de medidasque se sucedem como estratégia de imobilismodas classes dominantes brancas contra apopulação negra em particular e a não-brancade um modo geral. Essa estratégia racista seevidenciará em vários momentos, exatamentequando há possibilidades de, através detáticas não-insti-tucionais, os negrosconseguirem abrir espaços nessa estratégiadiscriminatória.
Este continuum, porém, é visto por grandeparte dos estudiosos da nossa história socialcomo casos excepcionais e não-carac-terísticos das nossas relações interétnicas.As medidas de controle
9» MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ________________
social, sem analisarmos, por enquanto, o quefoi no Parlamento a discussão dos racistasbrasileiros contra a entrada de imigrantesnão-brancos, são uma permanente atitude daselites brancas. Em 1945, parodiando ogovernador de Sergipe em 1838, GetúlioVargas, estabelecendo normas para a políticade imigração do Brasil, baixa decretoordenando medidas no sentido de desenvolverna composição étnica do país ascaracterísticas mais convenientes de suadescendência europeia.
O problema que se apresentava erabranquear o Brasil para que ele secivilizasse. Nas Forças Armadas o mesmo fatose verifica. Durante o Estado Novo vigorouuma norma discriminatória na EscolaPreparatória de Cadetes de São Paulo, quandose proibia a entrada de negros, mulatos,judeus e filhos de operários. A norma foibaixada pelo então Ministro da Guerra, EuricoGaspar Dutra. Ela somente foi relaxada quandoo Brasil entrou na guerra contra a Alemanhae, aí sim, os negros, mulatos, judeus eoperários foram recrutados para irem morrer,da mesma forma como aconteceu na Guerra doParaguai, quando os filhos dos senhores deengenho mandavam em seu lugar os escravos deseus pais.
Esta visão do negro como inferior leva aatitudes irracionais como a do Presidente daFederação das Associações Comerciais do Pa-raná, Carlos Alberto Pereira de Oliveira,que, em 1981 afirmava em conferênciaintitulada "A tese da doutrina do otimismorealista" que:
as causas principais da existência de algunsbolsões de pobreza no Brasil são de origem étnica ehistórica. O Brasil foi colonizado por povosselvagens e o negro importado das colóniasportuguesas da África. Esses povos, apesar darobustez física, eram povos primitivos, que viviamno estágio neolítico e por isso incapazes de seadaptarem a uma civilização moderna industrial. Onegro mantido como escravo até fins do século XIX,
analfabeto e destinado a trabalhos braçais, tambémnão conseguiu integrar-se perfeitamente àcivilização moderna. São esses povos — índios,negros, mulatos e caboclos — que constituem a grandemassa de pobreza do Brasil, no campo e nasfavelas.E concluía peremptório:Imigrantes europeus, asiáticos, japoneses, oriundosde civilizações milenares que se dirigiram para asregiões litorâneas vivem muito bem no Brasil. Émuito raro ver-se um descendente de japoneses,judeus, italianos, árabes ou alemães, em condiçõesde miséria absoluta. Isto prova que as causasprincipais da pobreza no Brasil são de origem ét-nica, muito mais do que possíveis influências domeio físico, da má administração pública ou da tãodivulgada exploração do homem pelo homem, comopretendem os marxistas.43
_________DAS ORDENAÇÕES DO REINO À. ATUALIDADE: O NEGRO DISCRIMINADO 99
Remetidas para a própria população negraas causas fundamentais do seu atraso social ecultural, político e existencial, restaapenas procurar branqueá-la cada vez maispara que o Brasil possa ser um país moderno,civilizado e participante do progressomundial. A filosofia do branqueamento passa,assim, a funcionar. Todas as medidas quepossam ser tomadas neste sentido são válidas.A filosofia do branqueamento não tem éticasocial.
Por esta razão, se em 1981, um empresáriodenunciava a doença, em 1982 um economistaapresenta a terapêutica: esterilizar os negros eseus descendentes. Desta forma a "doença"(repare-se que em 1838 em Sergipe já seequiparava os negros aos portadores de doen-ças contagiosas) poderia ser eliminada docorpo social. O economista Benedito Pio daSilva, assessor do GAP do Banespa (SãoPaulo), apresentou trabalho intitulado "OCenso do Brasil e no Estado de São Paulo,suas curiosidades e preocupações".Estabelecia ali a sua filosofia étnicasegundo a qual era necessária uma Cia^panhanacional visando o controle da natalidadedos negros, mulatos, cafuzos, mamelucos eíndios, considerando que se mantida a atualtendência de crescimento populacional "no ano2000 a população parda e negra será da ordemde 60% (do total de brasileiros), porconseguinte muito superior à branca. Eeleitoralmente poderá mandar na políticabrasileira e dominar todos os postos-chave".Isto foi visto como pe-rigo social que deve sercombatido e eliminado como doença para semanter o equilíbrio social dentro dosvalores brancos. A síndrome do medo contra aspopulações não-brancas que teve seu início noregime escravista, conforme veremos maistarde, continua funcionando e estabelecendoníveis de comportamento patológico como o do
economista citado. O mais sintomático é queesta tese racista foi aprovada por esse órgãode assessoramento do governo de São Paulo, naépoca dirigido pelo governador Paulo SalimMaluf. A tese da esterilização da populaçãonão-branca foi aprovada e cópias do seu textodistribuídas a todos os integrantes dosdiversos GAPs.
Isto porém, não é caso inusitado. Osexemplos poderiam ser dados às dezenas. Ocerto é que, depois de quatrocentos anos delavagem cerebral, o brasileiro médio tem umsubconsciente racista. O preconceito de corfaz parte do seu cotidiano. Pesquisarealizada pelo jornal Folha de S. Paulo, em marçode 1984, sobre o preconceito de cor,constatou que 73,6% dos paulistanos consideramo negro marginalizado no Brasil e 60,9% dizemconhecer pessoas e instituições quediscriminam o negro. Devemos salientar,como elemento de
100 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE
reflexão na interpretação desses dados, que énotável a tendência de se reconhecer maisfacilmente a existência da discriminaçãoracial nos outros do que em si mesmo. Comovimos, 73,6% consideram o negro marginalizadono Brasil. A proporção caiu para 60,9%quando se trata de reconhecer a existência dediscriminação em seu próprio círculo derelações. E apenas 24,1% revelaram algumaforma de preconceito pessoal. Como sempre, oproblema nevrálgico é quando se pergunta seaceitaria um negro como membro da família.Foi a pergunta sobre a possibilidade de terum negro como genro ou cunhado, muito mais doque como chefe de serviço ou comorepresentante político, que suscitou a maiormédia (24,1%) de respostas francamentepreconceituosas, reveladoras do racismo dobrasileiro.
Toda essa realidade discriminatória,preconceituosa e repressiva é escamoteadadeliberadamente. Seria fastidioso aquirepetir os pronunciamentos de todas asautoridades que proclamam a nossa democraciaracial e praticam a discriminação. Em 1969,segundo documento coligido por Thales deAzevedo, citado por Abdias do Nascimento,podemos ler:
O Globo, Rio, 12-2-69: "Portela vê Imprensa a Serviçoda Discriminação Racial para Conturbar" — Publicandotelegrama procedente de Brasília, o jornal informaque o General Jaime Portela, em exposição demotivos ao Presidente da República, sugerindo acriação da Comissão Geral de Inquérito PolicialMilitar, datada de 10-2-69, refere-se a conclusõesdo Conselho de Segurança Nacional sobre açõessubversivas e afirma: "No contexto das atividadesdesenvolvidas pelos esquerdistas, ressaltamos asseguintes (item 9) — Campanha conduzida através daimprensa e da televisão em ligação com órgãosestrangeiros de imprensa e de estudosinternacionais sobre discriminação racial, visandocriar novas áreas de atritos e insatisfação com oregime e as autoridades constituídas".44
Esse mesmo governo neofascista dizia,
através do seu presidente Ernesto Geisel, aoSecretário Geral da Organização das NaçõesUnidas, em 21-3-1977, quando se comemorava oDia Internacional para a Eliminação daDiscriminação Racial:
O Brasil é o produto da mais ampla experiência deintegração racial que conhece o mundo moderno,resultado, ao longo dos séculos, de um processoharmónico e autónomo, inspirado nas raízesprofundas dos povos que aqui somaram esforços naconstrução do País.
E concluía:Compartilham os brasileiros da convicção de que osdireitos da pessoa humana sáo desrespeitados nassociedades onde conotações de
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 101
ordem racial determinam o grau de respeito com que devem ser observadas as liberalidades e garantias individuais.45
Esta é a retórica oficial. No entanto,esse mesmo presidente, em março de 1975,escorraçava do Palácio do Planalto umacomissão de negros paulistas que para láforam convidá-lo a participar das festas de13 de Maio que seriam realizadas na Capitalde São Paulo. A alegação foi a de que nãotínhamos mais negros no Brasil, mas simcidadãos brasileiros. Chamou-os dedivisionistas e impatriotas e mandou que acomissão se retirasse. 46
Mas, ao comemorar-se o sesquicentenárioda imigração alemã no Rio Grande do SulGeisel não apenas compareceu aos festejos,mas elogiou publicamente o esforço dos alemãesno progresso da nação brasileira. Em outraspalavras: ele pode ser teuto-brasileiro, masos negros não podem ser afro-brasileiros. Ahistoricidade étnica e cultural fica, assim,através dessa estratégia inibidora eintimidadora, reservada ao imigrante branco.
Notas e referências bibliográficas
1 Marvin Harris encontrou nada menos de 492 diferentes termos de identificação racial no Brasil. Cf. HARRIS, Marvin: Referencial ambiguity in thecalculus of brazilian racial identity. In: NORMAN, E., WHITTEN & SWED,J. F. (ed.) Afro-american antropology. New York, The Free Press, 1970.p. 75-86.
2 Cf. MOURA, Clóvis. Saco e Vanzetti, o protesto brasileiro. São Paulo, Brasil Debates, 1979. Passim. As conclusões do professor Sidney Sérgio Fernando Sólis foram expostas em encontro da
Secneb, em Salvador, 1984.3 FERNANDES, Florestan. Imigração e relações raciais. Revista CivilizaçãoBrasileira, Rio de Janeiro, 8: 89, 1966.
4 EWBANK, Thomas. A vida no Brasil ou Diário de uma visita ao país docacau e das palmeiras. Rio de Janeiro, Conquista. 2 v., v.l, p. 188.
5 LIMA, Heitor Ferreira. Formação industrial do Brasil. Rio de Janeiro,Fundo de Cultura, 1961. p. 264.
6 PRADO, J. M. de. Pernambuco e as capitanias do Norte do Brasil. SãoPaulo, Nacional, v. 4, p. 67.
7 VIANNA FILHO, Luiz. O negro na Bahia. Rio de Janeiro, José Olympio,1946. p. 119.
8 Debret registra, através dos seus desenhos e do seu texto, escravos e negroslivres, no Rio de Janeiro, exercendo as profissões mais diversas como barbeiro ambulante, barbeiro com loja, vendedor de cestas, vendedor de aves,
102 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ________________
vendedor de samburás, de palmito, serrador detábuas, caçador, vendedor de carvão, vendedor decapim e leite, vendedor de milho, trabalhador noserviço de moendas portáteis, fabricador evendedor de alua, manuê e sonhos, negrocalceteiro, vendedor de ataçaça (sfc.)> de angu,marceneiro, carregador de cangalha (pipas),transportador de café, vendedor de café torrado,puxador de "carros", construtor de jangidas demadeira, construtor de carretas de madeira,negro trovador, transportador de telhas, "ci-rurgião negro", lavadeira, trabalhador depedreira, carregador de cadeirinhas, vendedorde flores, vendedor de arruda e carregador deliteiras. Toda a movimentação da sociedadeurbana do Rio de Janeiro, como vemos, era feitapelo negro escravo ou livre. (DEBFET, JeanBaptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo,Martins, 1940, 2 v. Passim.)9 MOURA, Clóvis. Brasil: raízes do protesto negro. São Paulo,Globo, 1983. p. 31. Essa tática de dividiretnicamente os brasileiros para melhor governá-los é uma constante, Debret já assinalava no seutempo: "O governo português estabeleceu, pormeio de onze denominações usadas na linguagemcomum, a classificação geral da populaçãobrasileira pelo seu grau de civilização: 1.Português da Europa, português legítimo ou filho doReino. 2. Português nascido no Brasil, de ascendência maisou menos longínqua, brasileiro. 3. Mulato, mestiço debranco com negra. 4. Mameluco, mestiço das raçasbranca e índia. 5. índio puro, habitante primitivo;mulher china. 6. índio civilizado, caboclo, índio manso. 7. índioselvagem, no estado primitivo, gentil, tapura, bugre. 8.Negro da África, negro de nação, negrinho. 9. Negro nascidono Brasil, crioulo. 10. Bode, mestiço de negro commulato; cabra, a mulher. 11. Curiboca, mestiço deraça negra com índio". A esse sistemaclassificatório valorativo, feito de acordo como seu "grau de civilização", Debret, apoiado emFerdinand Denis dá a sua realidade quantitativaafirmando em nota que "esta população, segundodados autênticos transmitidos pelo senhorFerdinand Denis, cujas informações são dignas defé, eleva-se hoje a 4 741 558 dos quais 2 543 889homens livres, l 136 669 escravos e 800 000selvagens conhecidos". A nota de Debret foiescrita depois de 1839, data em que ele regressaà Europa. O que desejamos ressaltar aqui é que jáexistia uma escala de valores nesse sistemaclassificatório, fato que persiste até os nossosdias: quanto mais próximo do branco, mais
valorizado socialmente, mais civilizado. (DE-BRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica aoBrasil. São Paulo,Martins, 1940. 2 v., v. l, p. 87.)
10 CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, estrangeiros. São Paulo, Brasilien-se, 1985. p. 90-L
11 QUERINO, Manuel. A raça africana e seus costumes. Salvador, Progresso, 1955. p. 87-9.
12 OLIVEIRA, Francisca Laide de et alii. Aspectos da situação sócio-econô-
mica de brancos e negros no Brasil. Pesquisa realizada pelo Departamento de Estudos de Indicadores Sociais (Deiso), 1979.
13 Idem, ibidem.14 MELLO, José Octávio de Arruda. Alberto Torres e oconceito de raças noBrasil. Ensaio. São Paulo, (13): 132-3, 1984.
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 103
15 SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco. Rio de Janeiro, Paz e Terra,1976. p. 63. Este pensamento racista das elites brasileiras poderá ser registrado, também, no seguinte pensamento de Afrânio Peixoto: "Haveria umperigo ao nosso embranquecimento: era se libertarem os Estados Unidosdos seus pretos em nós, por exemplo, na Amazónia como se pensou... Felizmente, para nós, eles ficarão nos Estados Unidos culturalmente preferíveis... O exemplo da Libéria não é convidativo. Têm eles, os yankees, deaguentar com os seus pretos e de esclarecê-los...Nós, mais duzentos anos,já teremos feito isso". (PEIXOTO, Afrânio. Clima e saúde. São Paulo, Nacional, 1938. p. 143-4.)
16 FURTADO, Celso. Formação económica do Brasil. Rio de Janeiro, Fundode Cultura, 1959. p. 166.
17 Idem, ibidem. p. 167. (O grifo é nosso.) Ao contrário de Celso Furtado,Nelson Werneck Sodré compreendeu bem os mecanismosdessa passagemdo escravismo para o trabalho livre, a marginalização do trabalhador nacional e os estereótipos criados contra ele, especialmente contra o negro.Escreve: "Não existindo industrialização que suporte a transição do trabalho servil para o trabalho assalariado o que se nota é uma brusca subversão, um hiato tremendo, um traumatismo profundo, ocasionado poruma massa enorme de indivíduos que necessitam, de certo momento emdiante, assegurar a própria subsistência e a da prole, medicando-se evestindo-se. A lenta assimilação pela coletividadedessa massa de desaproveitados e de deserdados é um dos fenómenos mais curiosos da nossa formação social e tem consequências profundas que ficaram na consciênciada gente brasileira. Surge então o mito da vadiação do negro, da sua indolência, do seu primitivismo, da sua desambição, que o tornariam um pesomorto na sociedade brasileira, um elemento de
inércia. (...) O negro passou a ser a fonte de todos os males. O símbolo da preguiça brasileira, dasua falta de aplicação no trabalho, da sua ausência de perseverança, dasua desambição individual, que refletia, na sociedade como uma inércia,como uma corrente, como um peso, a impedir-lhe o desenvolvimento. Passou a constituir, também, o assunto em voga, o receptáculo dos vícios nacionais. Uma quadrínha antiga dizia: Branco quando morre/Ah! meu Deus,porque morreu! Negro quando morre,/Foi cachaça que bebeu..." (SODRÉ,Nelson Werneck. Panorama do Segundo Império. São Paulo, Nacional,1939. p. 43-4.)
18 Celso Furtado coloca como uma das causas do óciodo ex-escravo o fatode não possuir hábitos familiares. Devemos afirmar que é mais um estereótipo que os fatos desmentem. Os hábitos familiares a que ele se referesão os da família nuclear legalizada através do casamento religioso, únicopermitido na época. Escreve, neste sentido, Maria Beatriz Nizza da Silvaque "contrair matrimónio representava, para amplas camadas da população, sobretudo negros e pardos forros, mas também brancos pobres,uma despesa e um trabalho tal com papéis que a maioria preferia viverem concubinato estável, constituindo família e vivendo como marido emulher. A tendência para o concubinato não pode,portanto, ser encarada apenas como uma questão de 'libertinagem', mas também como a
resultante de obstáculos económicos à celebração docasamento". (SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Sistema decasamento no Brasil colonial. São Paulo, A. Queiroz/Edusp,1984. p. 55.) A mesma autora, referindo-se ainda àépoca da Colónia, aduz outras razões como, porexemplo, o serviço militar que impedia oestabelecimento de uma família legal, dentro dareligião e das leis da época. Sobre o casamento deescravos comparado com a população livre que nãoconferiam com o pensamento de Furtado ver: COSTA,Itaci dei Nero da & GUTIERREZ, Horácio: Nota sobrecasamentos de escravos em São Paulo e no Paraná(1830). Separata da revista História: Questões e Debates,Curitiba, 5 (9), dez. 1984.
19 Seguindo a esteira do estereótipo de Celso Furtado,sem apresentar novos
dados, escreve Maurício Vinhas de Queiroz: "Bemverdade que, excetua-
dos os sertanejos nordestinos expulsos pela seca —que sempre se revela-
ram trabalhadores dispostos e decididos — a massa de'vadios' constituí-
da por negros forros ou libertos dificilmente poderiaser desde logo enga-
jada no processo industrial e submetida à rígidadisciplina da fábrica, pois
— como antigos escravos — prezavam como um dos maisaltos valores
o 'ócio', ao qual sacrificavam a possibilidade decondições de vida um pouco
melhores". (QUEIROZ, Maurício Vinhas de. O surtoindustrial de 1880—
1895. Debate e Crítica, São Paulo (6): 97, jul. 1975.)Este raciocínio não
fica muito equidistante do de Oliveira Vianna quandoafirma que "depois
da Abolição o grande agricultor não conta com ooperário rural. Este ape-
nas consente em lavrar as terras da fazenda algunsdias na semana, dois
ou três. O resto do tempo é para o gozo de suaindolência proverbial".
(Populações meridionais do Brasil, p. 138.) Este é um filãoideológico que
possui um espectro tão largo que vai de OliveiraVianna a Celso Furtado,
passando por outros sociólogos e historiadores detendências liberais. Fi-
losofia que persiste até hoje quando se diz que obrasileiro é preguiçoso,
os seus trabalhadores indolentes e relapsos, o quevem causar o maior nú-
mero de acidentes no trabalho, além da falta deinteresse pelas empresas
onde são empregados. Um exemplo da persistênciadeste veio ideológico
vemos nas posições atuais (1987) do engenheiro BrazJuliano ao procurar
diagnosticar as causas das enchentes na Capitalpaulistana. Para ele, essas
calamidades devem ser consideradas fenómenos culturaise não naturais.
Presidente da Associação Brasileira de Defesa doMeio Ambiente, afirma
que "a cultura do biótipo luso-brasileiro que seformou no Brasil (que ele
chama de BLB) gerou uma ocupação desordenada dacidade, principal-
mente de várzeas e áreas verdes, especialmente pelapopulação de baixa
renda, notadamente nordestinos". Por isto ele sugerea proibição da vin-
da de'migrantes do Nordeste para a cidade de SãoPaulo e propõe ao mes-
mo tempo que se atraiam imigrantes estrangeiros.(Folha de S. Paulo, 17
fev.1987.)
20 SIQUEIRA, José Jorge. Reflexão sobre a transição doescravismo para ocapitalismo urbano-industrial e a questão racial noRio de Janeiro. Estudos Afro- Asiáticos, Rio de Janeiro, (12): 71 et seq., ago. 1986.
21 Loc. cit. Queremos destacar neste estudo a abordagem de um problemapouco referido como fator de marginalização massivado negro nessa pas-
sagem. É que quando há um interesse social deintegração da mão-de-obra na passagem das relaçõespré-capitalistas para capitalistas, com um proje-tode absorção da mão-de-obra escrava no novo sistemade produção, como ocorreu na manufatura-fábrica Cia.Luz Steárica (Rio de Janeiro), ela se processa sem otrauma atribuído ao negro de não ter capacidade paraessa transição. Foi apenas uma microiniciativa, masque demonstra que o mito do ócio do ex-escravo nãose coaduna com a realidade. Apenas não houve umaperspectiva de investimento maciço e racional emmacroproje-tos desse tipo pelas instituições oficiaisquer na passagem para a industrialização, quer nosetor agrário a fim de integrar socialmente o negroque saía da senzala.
22 CORTES, Geraldo de Menezes. Migração e colonização no Brasil . Rio deJaneiro, José Olympio, 1958. p. 21.
23 ANDRADE, Manoel Correia de. Escravidão e trabalho "livre" no Nordesteaçucare iro. Pernambuco, ASA, 1985. p. 37-8.
24 Apud Rios, José Arthur. Aspectos políticos da assimilação do italiano noBrasil . São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 1959. p. 12.
25 Rios, José Arthur. Ibidem.26 Idem, ibidem.27 Apud BEIOUELMAN, Paula. A formação do povo no complexo
cafeeiro:aspectos políticos. São Paulo, Pioneira, 1968. p. 85.
28 Idem, ibidem.29 Idem, ibidem, p. 85.30 O comportamento do fazendeiro em relação ao trabalhador se modificaà medida que os níveis de conflito se aguçam. Procuram sempre aqueletrabalhador que é mais dócil e adaptado à disciplina das fazendas. Escreve José Arthur Rios: "Em 1913 ocorreu um conflito entre italianos e brasileiros, nas fazendas dos arredores de Ribeirão Preto, que revestiu o ca-ráter de luta de classes. Os colonos italianos, vencendo os obstáculos quesempre os impediram de unir-se, conseguiram declarar-se em greve. Reclamavam contra os salários em vigor, recusando-se a começar a colheitase não obtivessem um aumento que os compensasse da
desvalorização damoeda. Os fazendeiros pediram a intervenção da polícia que não conseguiu convencer os grevistas a voltarem ao trabalho. Três colonos forampresos por terem respondido agressivamente ao delegado que ameaçavaexpulsá-los. Conta-se que, ao aparecer o delegado com um automóvel cheiode soldados, um colono gritou-lhe que teria sido melhor se o trouxesse cheiode víveres. Enquanto isso, os jornais atacavam o cônsul de Ribeirão Pretoque responsabilizavam pelos acontecimentos e teciamlouvores à imigração japonesa, mais paciente e submissa. Teriam louvado coolies se os houvesse, ou escravos, se ainda restasse algum". (Rios, José Arthur. Op. cit.,p. 43.)
31 Emília Viotti da Costa descreve o mecanismo protecionista da imigraçãoestrangeira da seguinte maneira: "Nos meados do século, quando as primeiras tentativas de introdução de imigrantes nasfazendas de café, os
106 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE __________________________________________________________________________
fazendeiros haviam financiado as passagens, mispouco a pouco, a partir dos anos setenta, ogoverno provincial chamou* si essaresponsabilidade. Nos anos 80, o governodispendeu somas vultosas com a imigração, sendoque as maiores quantias foram relativas aosanos de 1884/85 e 1885/86. A partir do momentoem que o Estado começou a financiar as passagensdos imigrantes, os riscos envolvidos naexperiência foram socialmente divididos portodos, mas os benefícios couberam diretamenteaos fazendeiros. A partir de então, estespuderam enfrentar a transição para o trabalholivre mais facilmente". (COSTA, Emília Viottida. A Abolição. São Paulo, Global, 1986. p. 58-9.)
32 BEIGUELMAN, Paula. Op. cit., p. 87.33 ALVES, Tancredo. Sobre os escravos índios e negros noBrasil. Para Todos. Rio de Janeiro, (17): 29, jun. 1952.
34 Sobre uma das formas de mercantilização do imigrante por especuladores,escreve Zita de Paula Rosa: "A instabilidade do imigrante nas fazendas foivinculada à 'onda de especulação' que se desenvolve. Denúncias feitas evidenciavam que, a princípio, a especulação se restringia as vizinhanças daHospedaria dos Imigrantes na Capital, que praticamentecentralizava os serviços de distribuição dos estrangeiros nas propriedades agrícolas. Algumasvezes eram os próprios fazendeiros ou seus representantes que procuravamengajar os imigrantes, mediante promessa de melhor remuneração pelo trabalho agrícola e de concessão de vantagens. Outras vezes, eram 'indivíduosinescrupulosos' que, utilizando-se de recurso escuso — como documentação forjada — retiravam do estabelecimento famílias inteiras, negociando-as, posteriormente, com fazendeiros, com grandes lucros.
Com o tempo, a 'onda de especulações' passou aatingir não apenas os imigrantes que chegavam, mastambém aqueles que já estavam colocados nosestabelecimentos agrícolas. Ilustra essa situação oquadro delineado por Gabriel Prestes, na 46? SessãoOrdinária de 5 de julho de 1893, ao referir-se às
dificuldades de engajamento dos trabalhadores. (...)as mais das vezes, ficam os fazendeiros privados detrabalhadores em número suficiente, mesmo quando ahospedaria dos imigrantes se acha regorgitante.Outras vezes consegue o fazendeiro engajar ostrabalhadores de que carece para perdê-los poucodepois, em vista de procedimento irregular de outroslavradores ou de agentes intermediários que exploramcom as dificuldades dos lavradores. A desorganizaçãoprovocada pela mobilidade do imigrante nas unidadesagrícolas, em decorrência da ação dos especuladores,não atingia apenas a cultura extensiva, mas também oplantio de cereais". (PAULA ROSA, Zita de. Imigração:um tema controvertido na voz dos plenipotenciáriosda oligarquia cafeeira. Revista de História. São Paulo(15): 27, jul.-dez. 1983.)
35 STOLCKE, Verena. Cafeicultura — homens, mulheres e capital (1850-1981).São Paulo, Brasiliense, 1986. p. 40.
36 Idem, ibidem, p. 42.37 Idem, ibidem, p. 44.38 LEVI, Darrell E. A família Prado. São Paulo, Cultura
70/Livraria Editores, 1977. p. 175.
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 107
39 SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfi co negreiro. São Paulo, Pioneira/Edusp, 1981. Passim. Este livro não foi valorizado de acordocom a sua importância.
40 MARINHO DE AZEVEDO, Célia Maria. O negro livre no ideário das el ites.(Dissertação de mestrado.) Campinas, Unicamp, 1985. p. 416. Mimeo-grafado.
41 Apud MOTT, Luiz. O escravo nos anúncios de jornal emSergipe. Anaisdo V Encontro Nacional de Estudos Populacionais, out. 1986. v. I, p. 9.
42 HUGUENIN, Orlando. Negro não pode ser padre. Panfl eto. Rio de Janeiro, (1): 59 et seq., jun. 1958.
43 O Estado de S. Paulo, 10 maio 1965. No particular de filosofia racial ado jornal O Estado de S. Paulo é idêntica. Em editorial definindo a suaposição contrária ao voto dos analfabetos, àquela época sugerido pelo marechal Castelo Branco que ocupava a presidência da República, escreveque havia necessidade de se sustar tal iniciativa "para que tudo se consertee amanhã venha o povo brasileiro a beneficiar-se daquilo que nem o Sr.João Goulart no seu delírio demagógico ousou ofereceràs nossas massasignaras". (...) "refere-se à concessão do voto à totalidade dos candangos,dos habitantes dos mocambos do Recife e Fortaleza e das favelas do Riode Janeiro. Todos são brasileiros e dos melhores, afirmava o Sr. João Goulart, e por isso mesmo no entender daqueles que têm hoje nas suas mãosos destinos do movimento de 31 de março, assiste-lhes o direito de intervirna discussão dos mais transcendentes assuntos coletivos". (...) "Não teveS. Exa. (o marechal Castelo Branco) o tempo necessário para formar oseu espírito no contato permanente com as disciplinas sociológicas e nãoé estranhável, portanto, a sua dificuldade em perceberque, pelo caminhoque vem trilhando, o Brasil não tardará a ser dominado pela massa amor
fa insatisfeita das populações nordestinas, oriundas do choque de três men-talidades antagónicas e que por isso são hoje vítimas de um psiquismo mórbido, que as impede de se integrarem no espírito de uma coletividade realmente evoluída. Serão esses homens — descritos em Os sertões e analisados por toda uma admirável literatura que nos revelaaglomerados populacionais brasileiros num estado de primitivismo sócomparável às maisbaixas camadas do velho Hindustão —, serão precisamente eles que pelonúmero anularão qualquer espécie de ação que pudessemvir a exercer nosdestinos do país os habitantes do Estado da Guanabara, de São Paulo,do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul". (A UDN e a situação. O Estado de S. Paulo, 18 jun. 1964.)
44 Apud NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro. Riode. Janeiro, Paz e Terra, 1978. p. 79.
45 Jornal da Tarde, São Paulo, 22 mar. 1977.46 Em ficha datada de 20 de março de 1975 registramos o
seguinte flagrante:"Dois ou três dias depois de Geisel haver recebido hostilmente os membros do clube que o foram convidar para participar das comemorações do13 de Maio junto ao Monumento da Mãe Preta (SP), travou-se discussão na sede da União Brasileira de Escritores (SP) sobre o fato, tendo amaioria dado razão a Geisel. As razões apresentadas eram uma mescla
108 MISCIGENAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL: MITO E REALIDADE ________________
de oportunismo político e preconceito de cor. A.levantou o problema de que os negros, quando sereúnem como negros, estão fazendo um papelsegregacionista e que, por isto, Geisel tinharazão. E. O., escritor negro presente, tentourebater este pensamento, mas não conseguiu, pelaagressividade de um dos presentes, C. P. C., oqual, de dedoem riste, agrediu-o com umaverborragia que encobria o seu preconceito,dizendo disparates como o de que o presidente sópodia falar assim porque ele fala vendo o futuroe não o que está acontecendo atualmente e que osnegros nada mais têm a ver com a África. Como E.O. tivesse dado os originais de um livro seupara ser refeito pelo C. P. C., este seaproveitou da ocasião para ridicularizar asideias ali expostas. A. S., que é juiz, dizia,querendo dar uma caiação 'científico-jurídica':'não há mais negros no Brasil, todos sãobrasileiros'. Disse que os negros não podiamreunir-se como negros e sim como brasileiros. Oescritor P. M. ficou de lado, dando apenasapartes irónicos, mas de qualquer maneira contrao negro no fundamental. Finalmente o C. P. C.confessou-me, diante de uma pergunta minha, que oClube Assai, do qual é funcionário, clube típicode classe média paulista, não aceita negros noseu quadro social, citando inclusive o caso deuma proposta que foi apresentada à diretoria eque foi recusada porque 'esse homem é negro'. A.S., o juiz, por seu turno afirmou que nãocontrata empregada negra como doméstica em suacasa 'porque tem cheiro ruim e não toma banho'.Isto mostra como mesmo entre a intelectualidade'esclarecida', diante de um fato concreto, oracismo se manifesta".
IVO negro como
grupo específico oudiferenciado
em uma sociedadede capitalismo dependente
Para que se possacompreender e interpretarconvenientemente o esquemametodológico que iremosapresentar em
seguida, temos de partir de algumas premissasteóricas esclarecedoras a partir das quais onosso pensamento se desenvolverá. Queremosdizer, inicialmente, que se trata de umatentativa exploratória de se empregar adialética materialista ao problema do negrobrasileiro no seu aspecto organizacional e aonível de convergência entre os seus valoresculturais, trazidos da África, e a função dosmesmos em uma sociedade de classes, maisespecificamente, em uma sociedade decapitalismo dependente como a brasileira.1
Será, portanto, um trabalho que,inevitavelmente, terá falhas ou vácuos noseu corpo expositivo e interpretativo. Não
1. O negro como cobaia sociológica
fosse a própria posição dialética uma posturaque aceita (e exige) a crítica todas asvezes que é aplicada, a própria falta detrabalhos que procuram expor um esquemadeste tipo é tão gritante que nos impõe umaposição extremamente cautelosa.
Inicialmente, devemos dizer que, parachegarmos às categorias de grupos específicos ediferenciados, através dos quais desenvolveremoso nosso esquema metodológico, começaremos, nonível teórico, a manipular com dois termosda dialética materialista, derivados doconceito de classe social: os termos declasse em si e para si.
110 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... __
Como se sabe, o conceito de classesocial, tão fecundo em vastas áreas depesquisa macrossociológica, subdivide-se emclasse em si e para si.
Essa dicotomização do conceito vempossibilitar a análise da classe desde a suaformação e emergência, quandoela é apenasobje-to na estrutura social, até a fase maisplena da sua afirmação na sociedade, quandoadquire consciência de que existe e somenteem confronto e fricção com outras que secomprimem no espaço social pode reconhecer-secomo específica, isto é, com objetivos própriose independentes.
A partir do nível de reconhecer-se especifica,ela cria valores parciais próprios quefuncionam como mantenedores dessaespecificidade e, ao mesmo tempo, elaborauma ideologia que a dinamiza do ponto devista da sociedade abrangente.
Quando a classe chega a esse ponto, a suaideologia deverá ser tão globalizadora querefletirá os interesses mais gerais daquelessegmentos, camadas, grupos ou indivíduos quese encontram em um processo de desenvolvimentoe se situam, da mesma forma que a classe queadquiriu consciência de si mesma, de um ladoem consonância com o desenvolvimento dasforças produtivas e, de outro, em antagonismocom as relações de produção existentes.
Assim como a classe fundamental emdesenvolvimento cria uma ideologia abrangentee dinâmica, os demais segmentos ou grupos so-ciais que se encontram na mesma posição deantagonismo em relação à infra-estruturatambém criam valores com os quais seresguardam parcialmente do sistematradicional que os oprime. Formam-se, emconsequência, grupos específicos deresistência que, dentro de uma sociedadecontraditória e conflitante, procuram, nosdiversos níveis e de diversas maneiras,organizar-se para sobreviver e garantir-se
contra o processo de compressão e peneiramentoeconómico, social e cultural que as classesdominantes lhes impõem.Evidentemente, esses grupos, à medida quesentem a atuação de forças restritivas aosseus movimentos de interação com a sociedadeglobal, procuram, por seu turno, reunir-seatravés de valores particulares para nãocaírem em estado de anomia total, fato queos levaria à sua extinção pura e simples ou aserem deslocados progressivamente paraestratos cada vez mais inferiorizados dasociedade. No Brasil, desde o início daescravidão que os negros africanos,transformados em escravos, começaram aorganizar-se para sobreviverem e manterem osseus padrões tribais e culturais que aescravi-
O NEGRO COMO COBAIA SOCIOLÓGICA 111
dão tentava destruir permanentemente. Desde osnavios negreiros que eles, aproveitando-sedas organizações iniciáticas existentes naÁfrica em grande número, procuravamreencontrar a sua condição humana. Mas osistema escravista, como um todo compacto efechado, não permitia que o escravo adquirisseconsciência da sua situação social, fato que oimpedia de formular uma ideologia capaz dedesaliená-lo completamente. Por isto mesmo,começa a organizar grupos tópicos de diversosconteúdos para reencontrar-se como ser.
Desta forma, os grupos sociais específicosnegros foram criados pelos escravos, durantetodo o transcurso do regime escravista epelo negro livre, após a Abolição até osnossos dias.
Esses grupos desempenharam um papelorganizacional, social e cultural muito maiordo que se presume ou já foi pesquisado e/oucomputado pelos cientistas sociais. Não nosparece ter razão, portanto, Skidmore, quando,sem ter estudado aprofundadamente o com-portamento do escravo brasileiro noparticular, afirma que ele não desenvolveusuficientemente instituições paralelas quecorrespondem — de forma aproximativa — aosgrupos específicos na terminologia que estamospropondo. 2 Por outro lado devemos reconhecerque o negro norte-americano teve esse tipo deorganização em nível superior ao brasileiro eesses grupos se desenvolveram com uma dinâmicamuito maior. 3
O negro demonstrou, no Brasil, desde osprimeiros tempos da escravidão, um espíritoassociativo que foi, inclusive, destacado emestudos especiais sobre o assunto. Não fosseesse espírito, ou melhor, esta tendênciacriada pela sua situação no espaço social, osescravos teriam uma vida muito mais sofridasob o cativeiro e o negro livre não teriaresistido na proporção que resistiu, aochamado traumatismo da escravidão, incorporado, por
ele, ao seu comportamento após a Abolição. 4
Foram inúmeras as formas através dasquais o negro se defendeu social, cultural ebiologicamente, criando anteparos àbrutalidade da escravidão e, depois, ao seuprocesso de marginalização que se seguiu àchamada Lei Áurea.
A fim de preservar as suas crenças,conseguir momentos de lazer, derefuncionalizar os seus valores, traços epadrões das culturas africanas, obteralforrias, dinheiro, sepultura ou resistiraberta e radicalmente ao regime escravista,ele organizou inúmeros grupos ou seincorporou a alguns já existentes. Essasrazões contribuíram para que o negro fosse,numa época em que o espírito despótico dos
112 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EU UMA SOCIEDADE... ___________________________________________________________________________
senhores de engenho e barões do café queriamcentralizar em si todas as formas deorganização, um elemento que procurouagrupar-se de mil maneiras, fugindo às formastradicionais 011 institucionais de or-ganização, criando uma verdadeira rede degrupos específicos.
Da Colónia até nossos dias, podemosencontrar grupos negros com diversosobjetivos. Durante a Colónia e enquantopredominou o regime escravista, temos dedestacar os grupos quilombolas que dominavamestradas e áreas territoriais ponderáveis,demonstrando um espírito de luta incomum euma capacidade organizacional surpreendente.Esses grupos podem ser encontrados desde oPará até o Rio Grande do Sul.
Infestando as matas, fugindo para o seurecesso, perseguidos pelos capitães-do-matoou membros da milícia, esses grupos de negrosfugidos foram uma constante na paisagemsocial do Brasil escravista. Mas não foiapenas o quilombola que se organizou. Mesmoaqueles que não chegavam à decisão extrema defugir, também se reuniam, criavam grupos deresistência nas senzalas, muitos deles apa-rentemente com objetivos simplesmentereligiosos ou de lazer, mas que funcionavamcomo mecanismos de distensão psicológicacontra a rigidez do regime de trabalho a queestavam submetidos. Os batuques, muitocomuns, por isto mesmo, serviam como ponto deconvergência dos grupos que reelaboravam osseus valores culturais e tribais e durante asua função restabeleciam a hierarquia antiga,fragmentada com e pelo cativeiro.
Podemos dizer, por isto, ao contrário deSkidmore, que o negro brasileiro, tantodurante a escravidão como posteriormente,organizou-se de diversas formas, no sentidode se autopreservar tanto na situação deescravo, como de elemento marginal após 13 de
Maio. E mais: não apenas em um ou outroEstado, mas em todas as regiões ondea .escravidão existiu, os grupos negroscontinuaram a existir, passado o período doregime escravista. Esses grupos específicospontilharam toda a trajetória da existênciado negro brasileiro. Querer negar isto, atítulo de justificar-se a escravidãobrasileira como "benigna" (não é este o casode Skidmore, diga-se de passagem) e a atualsituação do negro como de integrado nasociedade de capitalismo dependente atual, équerer-se escamotear a realidade social,através de sofismas já bastantedesmascarados.
Durante a escravidão podemos constataros seguintes tipos de grupos específicos negrosprincipais: a) de lazer; b) religiosos; c)sociais; d) económicos; e) de resistênciaarmada (militares); f) musicais;
O NEGRO COMO COBAIA SOCIOLÓGICA 113
g) culturais; h) intercruzados. Esses gruposseriam representados por quilombos, clubesconspirativos, candomblés, batuques,irmandades religiosas, festas de reis doCongo, caixas de alforrias, cantos, grupos decapoeira, finalmente todos aqueles que foramorganizados pelo negro escravo.
Este processo de dinâmica organizacionalcontínuo prolongou-se após a Abolição, emdecorrência do peneiramento social a que foramsubmetidos os negros livres na sociedade branca.Poderão ser vistos como: confrarias religiosas,associações recreativas, culturais eesportivas, centros de religiões afro-brasileiras ou populares, como candomblés,terreiros de macumba, xangôs, centros deumbanda/quimbanda, pajelancas, escolas desamba, grupos teatrais ou políticos, como aFrente Negra, já com um nível de organização egrau de ideologiza-ção capazes de levá-los aparticipar de movimentos mais globalizado-res.Devemos salientar, também, como gruposespecíficos, os diversos órgãos de imprensanegra que tiveram papel relevante no sentidode difundir o ethos desses grupos,especialmente em São Paulo.
Os grupos específicos mais esclarecidos játinham uma visão pro-jetiva mais nítida do seupapel social, considerando-se parte de umsegmento oprimido e discriminado que, por istomesmo, somente através de uma saída quelibertasse todas as camadas em situaçãoidêntica teriam o seu problema resolvido. Em1937 — não por acaso — ao ser implantado oEstado Novo, as associações negras sofreram umacampanha sistemática de perseguição, o quelevou a que muitas sustassem as suasatividades. Com a chamada redemocratizaçãoapós a Segunda Guerra Mundial, esses grupos serevitalizaram, devendo destacar-se, noparticular, embora com vida efémera, pelosobjetivos que perseguia o Comité DemocráticoAfro-Brasileiro, criado em 1945, tendo à sua
frente Solano Trindade, Raimundo SouzaDantas, Ala-dir Custódio e Corsino de Brito.5
No sentido de dar uma visão dinâmica aoestudo do negro brasileiro é que propomos oesquema metodológico que iremos expor emseguida, porque nos parece que o métodomeramente comparativo entre o negrobrasileiro e as suas matrizes africanas,embora tendo contribuído, em certa época e decerta forma, para que se tivesse uma visãoparcial do problema, leva o pesquisador,inevitável e inconscientemente, a criar umanova escolástica, onde tudo se ajusta poranalogia.
Ao se ver um determinado fato no Brasil,ligado ao problema do negro, seja religioso,cultural, político ou ideológico, recorre-
114 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCRDO EM UMA SOCIEDADE... __________________________________________________________________________
se à África até achar-se outro formalmenteanálogo e, a partir daí, faz-se uma ponte derelação entre os dois. O exagero desse métodopoderá levar o sociólogo ou antropólogo aexplicações analógicas que nada têm decientíficas.
Por isto, achamos que tem razão L. A. Costa Pinto quando escreve:
A abundante e variada — e também desigual — produçãoque resultou do interesse etnológico sobre o negro noBrasil acrescentou aos Estudos de Nina Rodrigues um
enorme cadastro de "sobrevivências africanas" queforam procuradas com afâem todos os setores da vida
social deste País por uma geração de estudiosos. Destaforma emanaram alguns estudos fundamentais e aos maisimportantes dentre eles está inolvidavelmente ligado
o nome do Professor Arthur Ramos e de seu grupo decolaboradores, que através dessa prospecção realizaram
aqui, servindo-se das mesmas técnicas, doscaracterísticos particulares do "caso brasileiro" e
os recursos muito mais limitados — estudos do tipo eenvergadura semelhantes às pesquisas custosas levadas
a efeito por museus, universidades e institutoseuropeus e norte-americanos no coração da África,nas Antilhas, nas ilhas do Pacífico ou no próprio
Brasil. A quase totalidade dos estudos dos cientistasestrangeiros sobre a situação racial brasileirarefletem, também, essa limitação do "approach"etnográfico, multiplicado pela contingência da
diferença de nacionalidade. Na verdade, porém, asdiferenças são de grau e resultam de distâncias
nacionais e culturais maiores, somadas às distânciassociais que no caso dos estudiosos brasileiros são
as mais importantes. (...) Acontece assim que, muitasvezes, os produtos das relações de raças — tudo istoque se estuda no capítulo da aculturação, assimilação,
acomodação etc. — desempenham dentro da configuraçãototal muito mais uma função de mascarar a naturezareal das relações concretas de que historicamenteresultam. Inadvertido disto é que o bom-senso de
muitos desconcerta-se vendo apresentado como"acomodação", o que é fruto evidente de uma situação
de conflito.6
As palavras de L. A. Costa Pinto mostrammuito bem como há necessidade de um esquemaque modernize os métodos tradicionais depesquisa do negro brasileiro, pois os casosextremos de comparação demonstram como esse
método já está esgotado, superado ou, parausarmos a palavra empregada por CostaPinto: démodé.
Esses cientistas sociais que andamperdidamente à cata de analogias culturais esociais poderão encontrar paralelos, ao nívelde "influências recíprocas", entre as favelascariocas e paulistas e as Shanty towns deGhana: são bairros miseráveis que existem naperiferia das suas cidades, compostos decasebres infectos, choupanas de lata e ma-deira; ambas usam o mesmo material deconstrução, não têm água e esgotos e sãohabitadas por negros...
O NEGRO COMO COBAIA SOCIOLÓGICA 115
Ao invés de pesquisarem e concluírem sobrefatos e processos mais relevantes da nossasituação racial, tomando o social como fundamental e ocultural como condicionado e decorrente, posturaque os levaria inevitavelmente a investigarproblemas como a margi-nalização do negro, oseu comportamento nas favelas, mocambos,cortiços e alagados; a situação dos gruposnegros em relação às possibilidades demobilidade social vertical massiva; asideologias brancas e formas de barragem contraeles; sua situação diante da sociedadeinclusiva a partir do fim da escravidão; oaproveitamento de traços culturais africanoscomo elementos funcionais para que o negro nãocaísse em estado de anomia total; osmovimentos de fricção de diversos gruposnegros pauperizados, que procuram abrir o lequedas oportunidades na sociedade chamada branca,e outros assuntos relevantes, ficam adstritosa pesquisas e microanálises formais, dedetalhes do seu mundo religioso, separado docontexto social em que eles se manifestarame/ou manifestam.
Debruçam-se, por isto, com raraperseverança, sobre reminiscências daculinária africana; a conexão entre lendas eestórias recolhidas no Brasil com aquelas queexistiram ou existem na África e outrasformas de paralelismo cultural de menorrelevância.
Isto trouxe, como consequência, umaciência feita de fragmentos, sem um sistemainterpretativo capaz de ligar as diversaspartes ao seu todo, a não ser no plano de umamaior ou menor reminiscência que os gruposnegros brasileiros têm das suas culturasmatrizes. Sociólogos e antropólogos colocaramo tema do negro em uma mesa de necrotério, epassaram a dissecá-lo como se ele fosse apenasum corpo morto a ser estudado nos seusmínimos detalhes, para posterior diagnósticoda sua causa mortis.
Não viram que esse problema era umcomponente vivo da sociedade brasileira emseu desenvolvimento contraditório, um dos seusmais complexos problemas, e que caberia aosociólogo, ou antropólogo, apresentar planos,projetos, sugestões ou simples elementos di-nâmicos de conhecimento à comunidade negra,em primeiro lugar, e às áreas interessadas emsolucioná-lo, em segundo, para que o mesmofosse resolvido. Nada disto aconteceu ouacontece. O resultado foi uma visão académicado problema. O negro, a partir daí, passou aser analisado como se fosse a Drosophilamelanogaster dos nossos cientistas sociais.Simples objeto de laboratório, cobaiasociológica. Para eles as implicações erelacionamento entre o negro e os seus es-tudos não vão além daquelas que existem entrea realidade estudada e a verificação daeficiência das suas hipóteses de trabalho.
116 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EMTMA SOCIEDADE... ___________________________________________________________________________
Mas, enquanto essa consciência académica secristalizava como ideologia dominante doscientistas sociais que estudavam o negro bra-sileiro, a população negra procuravasobreviver e explicar o mundo,independentemente desses estudos e pesquisasque nenhuma influência exerceram no seucotidiano. E é justamente a partir daconstatação da existência desse potencialdinâmico no negro e do seu poder e capacidadede organização e agrupamento que elaboramos oesquema metodológico a ser apresentado emseguida. Tentaremos mostrar, através de umadicotomização tipológica, o conteúdo e atrajetória possíveis desses grupos, o seuritmo de desenvolvimento e as suas pos-sibilidades organizacionais. Tentaremosmostrar,também, as suas limitações e o cicloevolutivo dos mesmos que, depois de umperíodo de tempo variável, vão perdendo,total ou parcialmente, os elementos dedinamismo intragrupal e a subideologia que osespecifica, sendo absorvidos ou adaptados àsociedade global.
Parece-nos claro que, desta forma,poderemos compreender melhor o papel dessesgrupos e, na medida do possível, dinamizar oseu conteúdo e função no sentido de fazê-lospólos de resistência ao processo decompressão e desagregação social, económica ecultural a que o negro brasileiro estásujeito.
2. Grupos específicos Quando nos referimos a um grupoC diferenciados diferenciado numa sociedade de clas-
ses, temos em vista uma unidadeorganizacional que, por um motivo ou umaconstelação de motivos ou racionalizações, édiferenciado por outros que, no plano da inte-ração, compõem a sociedade. Isto é: constituium grupo que, por uma determinada marca, é vistopela sociedade competitiva dentro de uma óticaespecial, de aceitação ou rejeição, atravésde padrões de valores, mores e representaçõesdos estratos superiores dessa sociedade.
Quando nos referimos a grupos específicos, estamosencarando a mesma realidade em outro nível deabordagem e em outra fase de desenvolvimentoideológico. Procuramos, com este termo,designar, do ponto de vista interno do grupo,os padrões de comportamento que são criados apartir do momento em que os seus membros sesentem considerados e avariados através da suamarca pela sociedade. Em outras palavras: ogrupo diferenciado tem as suas diferençasaquilatadas pelos valores da sociedade declasses, enquanto o mesmo grupo passa a ser
GRUPOS ESPECÍFICOS E DIFERENCIADOS 117
específico na medida em que ele próprio sente estadiferença e, a partir daí, procura criarmecanismos de defesa capazes de conservá-loespecífico, ou mecanismos de integração nasociedade.
O grupo diferenciado, por isto, e identificado.O grupo específico, por seu turno, se identifica.Ou melhor: o mesmo grupo pode ser diferenciadoquando visto de fora para dentro pelos demais mem-bros da sociedade ou, pelo menos, pelosestratos superiores e delibe-rantes, enquantoo mesmo não sente essa diferenciação; oespecífico se vê, é analisado pelos seus própriosmembros em relação ao conjunto dos demaisgrupos sociais, quando adquire consciênciadessa diferenciação. Enquanto ele é simplesgrupo diferenciado — através de critérios dejulgamento exteriores — é apenas objeto,simples elemento componente da sociedade comoum todo, funcionando como parte passiva docontexto social. Ainda não tem interioridade,conteúdo. Mas, quando passa a sentir-sediferenciado pela sociedade global, isto é,pelos demais grupos que não possuem a mesmamarca diferenciadora e, por isto mesmo, éseparado por barreiras e técnicas depeneiramento no processo de interação, eleadquire consciência dessa diferença, passa aencarar a sua marca como valor positivo, reva-loriza aquilo que para a sociedade oinferioriza e sente-se um grupo específico.
É esta emergência de novos valores dentrodo grupo que o faz passar de diferenciado(para a sociedade global) a específico,através de valores existentes, criados por eleno presente, ou aproveitados do passado, quepassam a ser revalorizados como símbolos deauto-afirmação grupai, com um significadoespecial.
A formação desses grupos específicos numasociedade competitiva nasce, fundamentalmente,do antagonismo entre as classes sociais e osseus diversos estratos. Acontece que certosgrupos ou segmentos em algumas sociedades sesituam interiorizados cumulativamente por umadeterminada marca discriminatória e pelasituação de inferioridade socioeconômica queos diferencia perante a sociedade global deacordo com os seus padrões de superioridade.É o caso do negro brasileiro.
Os grupos negros nas relações intergrupais
e com a sociedade no seu conjunto sabem que,por possuírem uma marca diferenciadora, são,no processo de interação, considerados comoportadores de valores próprios einferiorizados. Esse julgamento da sociedadeinclusiva leva a que todas as atitudes,gestos ou atos de um membro desses gruposespecíficos sejam considerados como sendo ocompor-
118 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM IMA SOCIEDADE... _
tamento de todos os elementos que os compõem.Desta forma, criam-se estereótipos eracionalizações que justificam medidas debarragem dos grupos ou classes que estão nosestratos superiores ou deliberan-tes dasociedade. Como escreve Werner S. Landecker:
Se nós pedíssemos a alguém de nos dar suas razõesque o levaram a identificar o indivíduo particularcom seu grupolodo, a resposta provavelmente seria:"eles são todos semelhantes",Essa reação de transferência do
comportamento individual para o grupai levaa que, quando esses grupos são oprimidos oumarginalizados e cumulativamentediscriminados, se crie um ethos específico,tanto por aqueles que os oprimem ediscriminam como por aqueles que sãooprimidos e discriminados. O mesmo autorescreve, por isto mesmo que:
O fato de Identificar o outro com o seu grupoajuda o indivíduo a identificar-se com o seupróprio grupo. O "nós" ao qual ele pertencenecessita de uma atualização em sua consciência O"nós" é uma concepção complementar; não podemospensarem "nós" sem simultaneamente pensar em "eles",exatamente como não podemos pensar em "bom" sempensar em "mau" ou em "grande" sem pensar em "peque-no". Para utilizar o "eles" em nossa consciência,identificamos o outro parceiro da relação com o seugrupo. Assim ele se torna o instrumento na suscitaçãodo sentimento "nós", transmitindo através do sen-timento "eles". A necessidade de atualizar o "nós" éum incentivo para usar o parceiro como um símbolodo "eles".'Nos grupos específicos negros do Brasil,
numa sociedade que se julga branca, esseselementos diferenciadores fazem com que, quan-do um membro da sociedade branca fale sobre umnegro, tenha em vista um "eles" generalizadordentro de estereótipos negativos. Emdecorrência desta realidade, o negro procuraorganizar-se especificamente a fim de seautopreservar e valorizar o seu ego atravésda elaboração de valores grupais maisconscientes que desejam, dentro da própriaestrutura capitalista vigente, fugir do nível
de marginaliza-ção e/ou proletarização a queforam compelidos. Daí porque os negrosbrasileiros, através de diversos grupos quecompõem a população chamada de "homem de cor"(não-brancos) possuem uma série quaseinterminável de graus e níveis deespecificidade dentro da dicotomiametodológica que estamos apresentando.
Em primeiro lugar, esses níveis e grausvariam de acordo com a localização geográficaem que as diversas frações do segmento étniconegro se encontram: Maranhão, Pernambuco,Minas Gerais,
GRUPOS ESPECÍFICOS E DIFERENCIADOS 119
Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e outrosEstados e regiões. Esta variável está ligadae/ou subordinada a uma série de outras como,por exemplo, a época em que o segmento negrofoi inicialmente introduzido como escravo, asculturas originárias de cada grupo, o tipo deatividade económica à qual foramincorporados, e muitos outros. Cabe a cadaestudioso, ao escolher a região da suapesquisa e o assunto a ser abordado, analisarantecipadamente esses elementos para quepossam dar um encaminhamento científico aoseu trabalho. A partir daí, poderá escolherdois ou mais grupos específicos e trabalharcom eles para mostrar, através da suatrajetória histórica, como eles se formaram edesenvolveram, o nível de fricção interétni-ca(se for o caso de marca étnica, como no caso donegro brasileiro), a subideologia queelaboraram nesse processo e, posteriormente,a possível integração deles na sociedadeglobal através de um processo de regressãoorganizacional e ideológica que os levarianovamente à condição de apenas gruposdiferenciados. Ainda poderia ser constatada a suaincorporação ou de seus membros,individualmente, em movimentos maisabrangentes, nos quais as perspectivas de umdevir sem diferenças de marcas, determinadaspor preconceitos de classes, lhes dessem aperspectiva dinâmico/radical ou messiânica.
No esquema metodológico em exposição, oestudioso deverá ter a máxima cautela paranão determinar antecipadamente onde se podeenquadrar um grupo ou segmento, mas deve,antes, recolher todo o material possível edisponível para, em seguida, fazer olevantamento sistemático dos elementosempíricos à sua disposição para — somente apartir daí — ver o grau de aproximação domesmo com o modelo de um grupo diferenciado ouespecífico. Essa dicotomia metodológica poderáser, por sua vez, subdividida de acordo com ograu de especificidade ou diferenciação de cada grupoem: a) parcial; b) total.
Daí se infere que, fugindo a estereótiposgeneralizadores e sim-plificadores, ocientista social terá de laborar com arealidade concreta, com os fatos objetivos,desprezando, inicialmente, as interpretaçõesacadémicas e as facilidades culturais de queestará possivelmente impregnado. Porque o queacontece com muitos dos chamados estudosafricanistas ou afro-brasileiros é que oestudioso já vem com conclusõesaprioristicamente elaboradas e que decorrem deuma série de racionalizações que assimilousem mais análise durante o seu périplouniversitário. Nesses casos, o cientistasocial deverá fazer um esforço muito grandepara não iniciar o seu trabalho pelas
120 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... ___________________________________________________________________________
conclusões ou aceitar simples analogias como a própria essência e o nexo causal do caso em estudo.
É preciso, por isto, que se compreendaaessência eminentemente dialética dadicotomia: grupos diferenciados e específicos. Elasomente existe (pelo menos com o sentido derejeição de um dos grupos) em uma sociedadede classes e como unidade contraditória deuma realidade conflitante. Isto é o queexplica por que os negros e mestiços pobresno Brasil — englobados genericamente pelasclasses dominantes como negros — continuam seorganizando eu grupos específicos pararesistirem às forças desintegrativas queatuam contra eles.
Por este motivo, o negro somente se senteespecífico porque é diferenciado inicialmente pelasclasses e grupos sociais brancos, fato que oleva a procurar organizar-se e elaborar umasubideologia capaz de manter a consciência ea coerção grupai em vários níveis. Numasociedade em que os elementos detentores dopoder se julgam brancos e defendem um processode branqueamento progressivo e ilusório, onegro somente poderá sobreviver social eculturalmente sem se marginalizar totalmente,agrupando-se como fez durante o tempo em queexistiu a escravidão, para defender a suacondição humana. Em uma sociedade de modelocapitalista (e de capitalismo dependente comoa brasileira) onde o processo de peneiramentosocial está se agravando por uma competiçãocada vez mais intensa, os grupos or-ganizacionais negros que existem procuramconservar os seus valores e insistem emmanter o seu ritual religioso afro-brasileiro, a sua indumentária, os mores evalores das culturas africanas para se defen-derem e se resguardarem do sistema compressorque tenta colocá-los nos seus últimosestratos, como já aconteceu em outrassociedades que possuem o modelo capitalistamuito mais desenvolvido do que a nossa. 8
Este é o papel contraditório, masfuncionalmente relevante, das associações egrupos negros específicos que foramorganizados ou continuam a existir no Brasil:elaborarem, a partir dos padrões culturaisafricanos e afro-brasileiros, uma cultura deresistência à sua situação social.
É com esta visão metodológica que iremosdesenvolver o esquema a que nos propusemos.Os candomblés, terreiros de macumbas,confrarias, associações recreativas,esportivas e culturais negras — dentro de umgradiente de conscientização que somentepoderá ser estabelecido depois do estudopormenorizado de cada um — são gruposespecíficos numa sociedade de classes, nocaso brasileiro dentro de uma sociedade decapitalismo dependente.
GRUPOS ESPECÍFICOS E DIFERENCIADOS 121
O negro somente se organiza em gruposseparados dos brancos (embora deva dizer-seque não há propriamente entidades negras fe-chadas no Brasil, pois a elas aderem vastossetores de mestiços e de outras populaçõesproletarizadas ou estigmatizadas peloprocesso de peneiramento atuante) em razão danão-existência de uma barrageminstitucionalizada (o que seria a segregação),mas da permanência de um comportamentoconvencional restritivo e seletivo que vê nonegro a simbolização daquilo que é o pólonegativo dos valores brancos e do sistemacapitalista. Estas diversas linhas não-institucionalizadas de barragem, muitas vezesacentuadas, outras vezes tenuemente de-monstradas e somente entrevistas por aqueles que asentem é que levam o negro a manter, dequalquer forma, suas matrizes organizacionaise culturais a fim de não se marginalizartotalmente e não entrar em estado de anomia.
Sabemos que, na sociedade de classes quese formou no Brasil, o negro está, de formaesmagadora, nas mais baixas camadas empre-gatícias, sociais e culturais. O seu statusbásico é, portanto, dos mais inferiorizados.No entanto, no candomblé, nas suasassociações recreativas, culturais,esportivas etc., seus membros adquirem um sta-tus específico bem diverso daquele que eles possuemna sociedade de classes. 9
Deixam de ser carregador, aprendiz dealfaiate, costureira, estivador, empregadadoméstica, vendedor ambulante ou desempregadopara se hierarquizar de acordo com o sistemade valores simbólicos do candomblé ou deoutros grupos específicos. E é justamente aimportância do mundo simbólico desses gruposque consegue fazer com que os negros osprocurem, pois sem ser uma fuga, é umareelabora-ção, através deles, do significadoda sociedade que os discrimina.
Do ponto de vista das classes dominantes(tradição que vem desde o tempo do Conde dosArcos) o negro, ao se organizar isoladamente,deixa de ameaçá-las, deixa de tentar procurarpenetrar no seu mundo e no seu espaço social,político e cultural, o qual deverá per-mancerbranco. Mas o processo dialético em curso leva aque, em determinado momento, as contradições
emergentes da própria essência da sociedadecompetitiva levem o negro, através dos seusgrupos específicos, a procurar abrir o lequeda participação no processo de in-teraçãoglobal, formando diversos níveis deatividades. Isto porque, para o negro,organizar-se significa ter ou tentar ter apossibilidade de também penetrar, através dosseus valores, especialmente estético ereligioso, no mundo do branco. Daí desenvolver asdiversas formas
122 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE...
artísticas tidas como sendo do negro, como osamba, a fim de encontrar, através delas, umnível de participação capaz de igualá-lo (nosquadros da própria sociedade de modelocapitalista da qual participa) às camadas queo oprimem e dificultam a sua ascensãosocial. Há, portanto, um momento em que essacontradição produz uma ruptura. Quando osgrupos específicos negros procuram influir noprocesso de anular os sistemas de barragens4ue lhes são impostos, os elementos dosestratos superiores, e muitas vezes, asestruturas de poder, passam a ver essesgrupos como fatores negativos no processo deinteração social, chegando, muitas vezes,numa transferência da sua própria ideologiapara os grupos negros, a afirmar que eles éque são racistas. Como os negros não têmacesso às fontes de comunicação a fim deexpor por que se organizam 10, muitos seto-res, que desconhecem ou conhecem de modoinsatisfatório o problema, chegam a aceitaro argumento.
Quando acontece este momento de ruptura,processa-se uma mudança qualitativa nessesgrupos ou em alguns dos seus elementos quepassam a aceitar uma ideologia globalizadoradinâmico/radical na qual a problemática donegro já é vista como um componente da queexiste para todas as classes e camadasoprimidas e/ou discriminadas, ou passam porum processo de regressão e voltam a serapenas grupos diferenciados.O relacionamento dos grupos específicos negroscom a sociedade global, o tipo de intercâmbioestabelecido, as influências mútuas de acordo
com os papéis exercidos por uns e pelaoutra, criando elementos de desajustamento ereajustamento ou fricção e conflito parece-
nos que não foi estudado, ainda, com arelevância que merece. No nosso entender, nocontexto da sociedade brasileira atual, os
grupos específicos negros — núcleos deresistência contra as forças desintegradorasque agem contra eles — estão ganhando um sig-nificado mais social do que cultural, no seu
sentido antropológico. A possível memóriaafricana está se diluindo, no nível de
simples conservação de traços culturaismatrizes e surgindo, emergindo, novosvalores para o negro que reinterpreta
inclusive a sua herança africana Q o ascensopolítico dos países da África mais no plano
de uma auto-afirmação social e dedemonstração da capacidade de direção
política dos negros do que de uma nebulosa"mãe-pátria" para eles ainda imprecisa e
vaga. A emergência desses países africanosveio dar à camada negra mais consciente um
potencial novo e mesmo uma perspectivareivindicatória mais acentuada, sem que isto
implique a ne-
GRUPOS ESPECÍFICOS E DIFERENCIADOS 123
cessidade de uma volta à África ou uma posição desaudosismo afri-canista. Isto, é evidente,acontece com a camada negra que já se or-ganizou no nível mais diretamentereivindicativo e não àqueles grupos que sedestinam às práticas religiosas, como ocandomblé, a macumba, o xangô ou centros deumbanda. Para esses, embora não tenhamospesquisas sistemáticas sobre o assunto,parece-nos que o surgimento da presençaafricana no mundo como força independenteserviu para reavivar certos valores africanostradicionais no plano religioso que,possivelmente, já deviam estar desaparecendo.
Desta forma, achamos que nas camadasnegras mais proletari-zadas, organizadas emgrupos específicos, o social tende a suplantar,cada vez mais, o meramente culturalista. n
Ao participarem da competição, essesgrupos fazem com que seja criada uma coerçãogrupai, um espírito de grupos que substitui aluta e a consciência simplesmente individualdo negro não-orga-nizado. Eles servem, assim,como patamares a partir dos quais deixam deatuar isoladamente para se congregarem,objetivando enfrentar a sociedade competitivae os seus problemas. Esses grupos, ao tempo emque exercem um papel integrativo, aumentam, aomesmo tempo, a consciência negra no processode interação conflitiva, reelaboran-do novosvalores e símbolos específicos,superestimando-os mesmo para, através de ummecanismo psicossocial de compensação, encon-trarem a igualdade procurada dentro dasociedade branca.
Mesmo sem perspectivarem uma mudançaradical na sociedade, esses grupos específicossão, consciente ou inconscientemente, pólos deresistência à marginalização do negro e decamadas proleta-rizadas a ele ligadas. Mesmonos grupos religiosos o fato pode serconstatado. O detalhe de encontrarmos, emalguns candomblés, o ritual e o sistema
cosmogônico conservados com relativa pureza,somente poderá explicar-se levando-se em contaque eles têm uma função social além dareligiosa, função que se projeta além dessesgrupos na comunidade que está sob suainfluência. Essa função social que não é maisreligiosa, mas a transcende, serve para que osnegros que aceitam os valores do candomblé,ou da macumba, possam ter elementoscompensadores na sua cotidianidade. Destaforma, esses grupos religiosos exercem,dentro da sociedade em que estão engastados,um papel que lhes escapa quase totalmente,mas que proporciona o combustível de umasubideologia necessária à coerção grupai euniformização e dinamização do horizontecotidiano do negro e dos mestiços em geral noseu mundo mágico.
124 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM IMA SOCIEDADE... _
De outra forma essa memória africana seapagaria por falta de função e os componentesdos descendentes dos africanos se integrariamna sociedade de classes, sem guardarem ouconservarem na sua relativa pureza os traçosdas culturas matrizes. A necessidade de re-sistência ao processo desintegrativo é quelhes dá a vitalidade que possuem.
Nina Rodrigues teve oportunidade dedestacar, com um exemplo, essa influênciasocial das religiões negras no Brasil.Escreve que:
Quando há quatro anos (1893) o choleramorbusmanifestando-se na Europa prendia a atenção doBrasil inteiro, que justamente receava a importaçãoda epidemia, espalhou-se um dia em Ioda a cidade anotícia de que em um dos candomblés dos arrabaldes, oorixá ou santo Gonocô havia declarado ao pai-de-terreiro que a cidade estava ameaçada da invasão deuma pesta terrível. Como único recurso eficaz paraconjurar o perigo iminente indicava ele o atoexpiatório ou votivo de levar cada habitante umavela de cera a Santo António da Barra que, tendo asua igreja situada na entrada do porto, podiafacilmente impedir a importação da epidemia. Paralogo, levar uma vela a Santo António da Barratornou-se a preocupação exclusiva de toda apopulação. E a romaria tomou proporções tais que embreve não havia mais espaço na igreja para recebervelas votivas.12
Outro exemplo, ainda desta vez fornecidopor Nina Rodrigues, da interferência dessesgrupos específicos negros no plano socialabrangente é o seguinte:
Quando em dias de abril de 1895 as lutas políticasdas facções partidárias deste Estado chegaram a umatensão tal q je a toda hora se esperava o rompimentoda guerra civil, aprazada para o dia da abertura doparlamento estadual, a população desta cidade,justamente sobressaltada e em parte em franco êxodo,foi um dia informada de que na porta do edifício dasCâmaras, amanhecera deposto um grande feitiço oucoisa-feita. A imprensa diária meteu o caso a ridículosem se lembrar de que era aquele um modo deintervenção da população fetichis-ta da cidade, tãológica e legítima na sua manifestação sociológica,quanto era natural a intervenção do digno preladoarquidiocesano que, conferenciando com os chefes dosdois grupos litigantes, procurava restabelecer apaz e a concórdia.13
Como vemos, por esses dois exemplos, osgrupos negros específicos interferem, diretaou indiretamente, nos problemas da sociedadeglobal através dos seus símbolos mágicos.
Uma das expressões maisvisíveis do poder dessesgrupos religosos no pla-no social, embora demaneira sim-
3. Grupos específicosversussociedade global
GRUPOS ESPECÍFICOS VERSUS SOCIEDADE GLOBAL
bélica, é, inconstestavelmente, a festa doBonfim, em Salvador, e, especialmente, alavagem da sua igreja, agora praticamenteproibida a não ser de forma folclorizada.Aproveitando-se de uma data católica, osgrupos religiosos negros usavam o diaconsagrado ao santo para festejarem Oxaláque, desta forma, ia mostrar, fora dosterreiros, a sua força, o poder e ainfluência que exercia no conjunto da socie-dade baiana. A trajetória dessa festa é bemuma demonstração da força social e mágica dosgrupos religiosos negros que possuem um raiode influência — direta ou indireta — muitomaior do que se presume. A auto-afirmaçãosocial dessa festa, de tão relevantesignificado para esses grupos, pois vinhapossibilitar que o orixá poderoso dos afro-brasileiros se mostrasse em toda a sua forçadentro do mundo dos brancos foi, já,exaustivamente estudado, mas no plano de sim-ples sincretismo religioso. De fato, aexpressão exterior do culto ao Senhor doBonfim, especialmente no seu dia, dá aimpressão, pelos detalhes de ritual, cânticose outros pormenores, de uma festa essen-cialmente religiosa, a qual, apesar dosnegros dela participarem, não é uma "festapagã", mas cristã. Aliás, grande parte dapolémica que as autoridades eclesiásticasbaianas criaram, objetivando impedir alavagem, era que os negros estavamtransformando a festa católica em um ritualpagão. É que elas sentiam muito bem esse papelsocial relevante que a festa representava e oconflito de liderança que se estabelecia,nesse dia, abertamente, perante toda asociedade, entre o catolicismo oficial e ogrande mundo religioso dos afro-brasileiros.A lavagem do Bonfim, por isto, teve de serproibida, a demonstração pública daimportância social dos candomblés impedida,para que a religião que compõe o aparelho de
dominação ideológica da estrutura não fossearranhada. A repressão que se seguiu àstentativas dos negros em continuar violandoaquele recinto sagrado bem demonstra como,todas as vezes que os grupos específicosnegros transpõem a barreira estabelecidapelos setores brancos dominantes, há um momentode ruptura e o conflito se estabelece.
Analisando a dinâmica que transformou afunção da igreja do Bonfim de local onde secultuava a morte em um santuário de fertili-dade, Carlos Ott teve oportunidade dedestacar como os negros penetraram no mundoreligioso católico e impuseram a veneração doseu orixá. O autor ateve-se apenas a umaanálise no nível religioso, não acentuando,por isto, a sua função especificamentesocial. É verdade que ele destaca o processode invasão do templo. Em 1804 foi permitida acolocação de uma imagem de São Gonçalo doAmaran-te. As devotas desse santo, afirmaele:
126 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... __
faziam procissões pomposas na igreja do Bonfimterminando por rivalizar com a do próprio padroeiroda igreja. Paulatinamente, essas devotas foramsendo substituídas por filhas-de-santo decandomblés. Identificaram o santo casamenteiro como orixá Oxalá, a personalidade da fertilidadehumana no continente africano.14
Depois disto, a igreja suprimiu o culto aSão Gonçalo para, segundo o autor queestamos acompanhando, "não ficar sufocado oculto de Senhor do Bonfim". E conclui:
E os candomblezeiros não enganaram apenas osmesários da Irmandade do Senhor do Bonfim, mas atodos os católicos baianos. Antigamente eram asfilhas de Maria e as devotas de São Gonçalo doAmarante que fechavam as fileiras das procissões daigreja do Bonfim. Agora são as filhas-de-santo quetodas as sextas-feiras chegam em romaria à colinasagrada. Não querem adorar o Senhor do Bonfim, mas oseu santo da fertilidade, o orixá Oxalá, oxalufáchamado na língua nagô, até hoje falada na Bahia.15
Desta fornia, o candomblé penetrou norecinto da religião oficial, mesclou-o deafricanidade e deu-lhe um conteúdo popular. Afesta do Senhor do Bonfim era pretextoapenas para que o mundo religioso negro semanifestasse ante o conjunto da sociedadebranca. A força mágica dos candomblésmostrava-se superior à teologia sofisticadada Igreja Católica. 16
O candomblé, como outros gruposespecíficos negros religiosos, conformeveremos adiante, tem outras funções sociais,inclusive curadoras, num país em que o povonão tem médicos. Por isto mesmo, o SãoGonçalo de Amarante em outros locais é santocurador. É relativamente comum as entidadesprotetoras transformarem-se em curadoras. Poristo o povo canta nas rodas de São Gonçalo:
Eu pedi a São Gonçalo quetirasse as nossas dores, eu pedi quando sarasse
seria sempre seu procurador.17
É a ligação do mágico com o profanoatravés de atividades empíricas e úteissocialmente. Os centros de candomblés eumbanda são os grandes hospitais populares doBrasil. Por isto, tem razão Lanter-nariquando afirma que nesses casos de religiõesdominantes com as oprimidas o que se dá não é"um sincretismo passivo e incoerente, mas areplasmação ativa e criadora de certoselementos fundamentais da cultura ocidental,por meio de culturas nativas". 18
GRUPOS ESPECÍFICOS VERSUS SOCIEDADE GLOBAL 127
Esta replasmação que para nós modificaqualitativamente o processo sincrético,levando a que grupos específicos negros quetêm função religiosa exerçam um papel socialque extrapola seu objetivo inicial, é um doselementos adaptativos dessas religiões àsituação social concreta do Brasil e cria asbases para que elas exerçam uma função socialnos setores marginalizados e pauperizados,capaz de neutralizar as forças dedesintegração social que atuam contra eles.Essas religiões vão transformando-sepaulatinamente e, de simples sentimento deadoração contemplativa ao sobrenatural,passam a modificar empiricamente a realidade.A medicina popular, impregnada de elementosmágicos, tem o seu centro mais poderoso nosterreiros de umbanda, que substituem osmédicos que faltam e, ao mesmo tempo, exercemum papel de auto-afirmação psicológica ecultural muito grande entre os seus adeptos.Isso explica a proliferação surpreendente doscentros de umbanda no Brasil, sendo, hoje, areligião popular mais difundida em todo oterritório nacional. Fazem o papel de con-sultório médico e psiquiátrico e ocupam o vácuosocial que existe neste particular. Por istomesmo, quando os caboclos baixam, chamam osmédicos de burros da terra, como a exprimir odesencanto pela sua ineficiência diante dosproblemas que afligem as populações carentesque os procuram. 19
À medicina institucional contrapõem amedicina mágica dos terreiros.
No nível de atividade empírica, essesgrupos específicos desempenham diversasfunções sociais que transcendem, em muito, asimplesmente religiosa. Um exemplo distopodemos ver nos resultados de uma pesquisafeita no bairro de Pedreira, de Belém doPará, sobre as formas de atendimento médiconaquela área. Os pesquisadores dividiram esseatendimento em três categorias: atendimento
científico, paracientífico epseudocientífico. Na primeira estavam os mé-dicos; na segunda os farmacêuticos eenfermeiros e, finalmente, na terceira, astendas de umbanda e candomblé. Pois bem:"enquanto na primeira categoria oatendimento, numa população de 58 658 pessoaschegava a 13,9%, o chamado tratamentopseudomédico ia a 14,3%. Esses serviços eramprestados à população por 41 terreiros dosrituais nagô, jurema (pajelança) eumbanda".20
Esses terreiros tinham a seguintedistribuição quanto ao ritual: umbanda, 25;nagô, 9 e jurema (pajelança), 7. Como vemos,esses grupos religiosos de origem negra ouíndia suprem empiricamente a falta demedicina e assistência psiquiátrica,tornando-se elementos
128 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... __
importantíssimos no cotidiano dessaspopulações. É interessante reparar como, norelatório analítico que os autores fazemdesses terreiros, há o horário de consultas detodos eles, sendo que é quase unânime o seufuncionamento das segundas às sextas-feiras,muitos das 20 às 22 e alguns até às 24 horas.Os autores da pesquisa analisam, também, aspossibilidades de cura e os medicamentosreceitados, quase todos compostos de ervas esimpatias.
Com esse tratamento empírico-mágicoregistraram os autores do trabalho uma médiade 80% de curas. "Poucos são os que nãocuram e os que não terminam o tratamento." 21
Concluem com um detalhe que é muitoimportante para que se possa avaliar osmotivos da relevância desses gruposespecíficos de origem negra no bairro: "Sópagam os que querem ou os que têmcondições". 22
Por estas razões, falando a um jornalista,o pai-de-santo da Tenda Espírita de Umbanda eCandomblé Ogum Beira-Mar, em São Miguel,bairro operário de São Paulo, disse:
Os pobres vêm sempre com aqueles mesmos pedidos:fazer um trabalho para curar doenças, isso emprimeiro lugar (mas eu sempre desconheço a partemedicinal nestes casos; no máximo recomendo banhos,defumadores, enfim, ervas); trabalho para fazer omarido voltar para casa ou para arranjar emprego; éfilho que bebe; é o namorado que foi embora; sãoamantes que estão atrapalhando a vida do casal; sãoos casos dos pobres. E os ricos me pedem trabalhosdiferentes: para resolver uma rixa entre deputados;problemas de família; para ganhar eleições duranteas campanhas eleitorais; para salvar firmas emdecadência.23
Este papel social relevante junto àscamadas proletarizadas e marginalizadas — oumesmo integradas na sociedade competitiva — éque dá ao candomblé, aos centros de umbanda eoutros grupos religiosos de origem negra avitalidade que possuem.
4. Um símbolo Dentro dos gruposespecíficos negros que se libertário: Exubranqueiam nascem movimentos intragrupaisque criam valores emergentes conflitantescom aqueles que estão se institucionalizando.Um exemplo dessa dialética intragrupal é aquimbanda.
A trajetória de Exu, da África aoscandomblés da Bahia e centros de macumba, edaí até as sessões de quimbanda, é umexemplo da modificação imposta por situaçõessociais concretas e diferentes,
UM SÍMBOLO LIBERTÁRIO: EXU 129
à função de uma divindade. Inicialmente, eletinha um papel inferior no panteão do litoraldo Golfo da Guiné. Já nos candomblés baianos,adquire funções mais importantes. Passa a seridentificado com o demónio. Exu passa a ter,assim, uma importância bem maior do que aquelaque possuía inicialmente. É o intermediário, oelo de ligação entre o mundo material e oprofano e as divindades africanas: os orixás.Executa o seu trabalho, só raramenteperturbando as sessões de candomblés. 24 Dianteda sua situação de religião perseguida, ocandomblé precisava de uma entidade que fosseo menino de recado junto aos deuses, pois,naquela situação, a necessidade de pro-teção,através de um contato quase permanente com osorixás, era indispensável. O papel de Exu, emrazão disto, cresce. Mas ele ainda não penetrano recinto sagrado. O seupeji fica longe da salade culto. Seupadê, embora feito com reverência,e algumas vezes com temor, ainda não é demolde a igualá-lo aos orixás. É o homem dasencruzilhadas. Sobre o seu papel noscandomblés da Bahia assim escreve EdisonCarneiro:
Exu (ou Elêgbará) tem sido largamente malinterpretado. Tendo como reino as encruzilhadas,todos os lugares esconsos e perigosos deste mundo,não foi difícil encontrar-se um símile no diabocristão. O assento de Exu, que é uma casinhola depedra e cal, de portinhola fechada a cadeado, e a suarepresentação mais comum, em que está sempre armado comas suas sete espadas, que correspondem aos sete cami-nhos dos seus imensos domínios, eram outros tantosmotivos a apoiar o símile. O fato de lhe ser dedicadaa segunda-feira e os momentos iniciais de qualquerfesta, para que não perturbe a marcha das cerimónias,e, mais do que isso, a invocação dos feiticeiros aExu, sempre que desejavam fazer uma das suas vítimas,tudo isso concorreu para lhe dar o caráter de orixámalfazejo, contrário ao homem, representante dasforças ocultas do mal.
Prossegue Carneiro explicativo:
Ora, Exu não é um orixá — é um criado dos orixás eum intermediário entre os homens e os orixás. Sedesejamos alguma coisa de Xangô, por exemplo,devemos despachar Exu, para que, com a suainfluência, a consiga mais facilmente para nós. Nãoimporta a qualidade do favor — Exu fará o que lhepedimos, contanto que lhe demos as coisas de quegosta, azeite-de-dendê, bode, água ou cachaça, fumo.Se o esquecemos não só não obteremos o favor, comotambém Exu desencadeará contra nós todas as forçasdo Mal, que, como intermediário, detém nas suasmãos. Eis por que o primeiro dia da semana lhe édedicado: os dias subsequentes correrão felizes,suavemente, sem perturbação nem intranquilidades.2S
UO O NEGRO COMO GRUPO ESPECIFICO OU D1FEREM'1ADO EM UMA SOCIEDADE... __
Até aqui Exu ainda é confundido com odiabo católico naquilo que representa denegativo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai-semultiplicando e transformando-se. Noscandomblés da Bahia há o compadre que é um Exuque se apresenta como, segundo Carneiro, "o cãode guarda fiel e vigilante". No entanto, peloque sabemos, Exu até hoje não se transformou,nos candomblés, em símbolo de libertaçãosocial e sexual, embora seja uma divindadefálica. Pelo contrário. Ele, nos candomblés,pára de evoluir na condição de intermediáriodos orixás.
Aqui já podemos ver dois aspectosdistintos dos processos de diferenciação deExu: a) cresce a sua importância ao ponto deser confundido por muitos como sendo umorixá; b) passa a ser visto como encarnaçãodas forças do Mal, elemento malfazejo,invocado pelos sacerdotes nos momentos denecessidade dramática para resolver problemasdo seu culto ou de seus fiéis. Esses doiselementos diferencia-dores poderão ter suaorigem no ambiente de perseguição em queviviam as religiões negras. É neste contextode tensão que o poder de Exu cresce ao pontode ser adorado como um orixá, encarnando oMal (para o inimigo do culto), aquela forçacapaz de impedir com o seu poder, de qualquermaneira, acima do Bem e do Mal, a perseguiçãoao terreiro. 26
Não é por acaso que na quimbanda (tambémperseguida), Exu consegue expandir todo o seupotencial de rebeldia e poder, trans-formando-se na sua divindade central e todo-poderosa.
É na quimbanda, de fato, que ele semanifesta como símbolo de destruição de tudoque é estabelecido. Numa sessão de quimbanda,tudo o que está recalcado (social esexualmente) vem à tona e Exu não é apenasdespachado, mas se incorpora e domina todos oscavalos consagrados a outras divindades:
caboclos, pretos velhos etc. É o centro dafesta; tem uma visão crítica, irreverente eanticonvencio-nal das coisas. Exige.Blasfema. Diz palavrões. Faz gestos tidos co-mo indecentes.
Tivemos oportunidade de assistir asessões de quimbanda em São Paulo etestemunhamos esse transbordamentolibertário transmitido por Exu aospresentes. Na Tenda Cacique Bororó, todos osmeses há uma sessão de quimbanda. Segundo umdos seus frequentadores, nessas noites descemos "espíritos do inferno, espíritos erradosque muitas vezes trabalham para o mal". 27 Deacordo com o babalaô desse terreiro, essassessões "são de doutrinação espiritual. Comelas pretende-se colaborar para que essesespíritos entrem no caminho do bem". 28
UM SÍMBOLO LIBERTÁRIO: EXU 131
Embora notando-se, já, nessas declarações,elementos de repressão às manifestações dosExus, ninguém pode controlá-los quandodescem. Vamos descrever uma dessas sessões daTenda Cacique Bororó, de acordo com asnossas anotações feitas na época.
No início, cantam um único "ponto" paraesses "espíritos sofredores" que, pouco apouco, vão baixando. Ao "baixar", exigem quese apaguem as luzes e se cubram as imagens dasparedes. Acendem-se velas, os atabaquesprosseguem em ritmo cada vez mais rápido. Ocumprimento passa a ser diferente: batem trêsvezes com a mão no chão. Urram e gememdesesperadamente, retorcem-se. Riem es-trepitosamente, saltam, tombam, dizempalavrões. Fumam apenas cigarros e bebemcontinuamente cachaça. Aqueles que não estãotomados (a maioria) entoam cantos monótonose em voz baixa.
Aproximamo-nos de um Exu que está pingandovelas nas mãos, nos ombros e no peito.Perguntamos por que está fazendo aquilo.
— Porque não presto.Neste momento outro Exu aproxima-se e lhe
dá boa-noite. Responde agressivamente:— Tu me conheces? Não? Então como é que vais dizendoboa noitea quem não conheces?Outro Exu que presenciara a cena procura
encarar o malcriado. Aproxima-se dele, comuma cuia na mão, e ficam a se olhar emsilêncio. Os presentes observam-nos. O que seaproximou, depois atira ao rosto do outro todaa cachaça que a cuia continha. O silênciopermanece até que o agredido sai de lado ediz:
— Aqui não posso fazer nada, mas te pego noutro lugar, seu idiota.Quem ri por último ri melhor.
Um Exu passa cantando:Eu sou baiano,eu sou baiano de terreiro;eu sou baiano,eu sou baiano feiticeiro.
Agora é um que berra:Zé Pilintra chegou, Zé Pilintra chegou.Desenham vários "pontos" no chão,
continuam dizendo palavrões. O chefe doterreiro recebe Exu Giramundo, risca um"ponto"
132 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... ___________________________________________________________________________
na entrada do terreiro e o cobre de pólvora.Coloca aele sete velas nas quais atira setepunhais que caem espetados sucessivamente nospés das sete velas. À meia-noite, ExuGiramundo toca fogo na pólvora: ouve-se umaexplosão. Diz que fez aquilo para desmancharuma "malvadeza que estão querendo fazer comum filho da tenda". Depois olhou para todose cantou:
—Eu sou Giramundoda beira do Rio.Eu sou Giramundo:Vão pra puta que os pariu.Aproximamo-nos de um Exu. Perguntamos:— Como é seu nome?—Exu Batará.Insistimos:De onde vem?Ele:Das cavernas do poço fundo.Nós:Onde fica isso?Ele:Num lugar todo de fogo.Nós:Lá é bom?Ele:Não.Nós:Por que não foge?Ele:
Aqui é bom?Nós:Não.
UM SÍMBOLO LIBERTÁRIO: EXU 133
Ele:Por que não foge?Nós:Tem escola?Ele:-Não.Nós:O que se faz lá?Ele:Trabalha-se.Nós:Tem governo?Ele:Não sei o que é isto.Nós:Tem um chefe, um manda-chuva?Ele:Tem.Nós:Quem é?Ele:É um homem forte,
alto.Nós:Posso falar com ele?Ele:Não sei, vou tentar.
Afasta-se de nós, começa a fazermovimentos circulares. Volta depois de algunsminutos, com a voz completamente diferente. Amoça em quem Exu Batará estava incorporadodiz:
Eu sou Exu Buzanini, que quer de mim?Quero marcar um encontro com roce.
Responde com a mesma entonação:Pois não, na próxima sexta-feira,às dez horas, em qualquer encruzilhada em que você estiver eu aparecerei.Aparecerá como você é no seu mundo?Igualzinho. Agora, até sexta-feira.Vai embora sem dizer mais nada, sempre
fazendo currupios. De repente Exu Batará seincorpora outra vez. Voltamos a interrogá-lo:
Você é Exu Batará?Sou. Falou com o meu chefe?Falei. A propósito, como é ele?É um moço bonito, alto, forte, com uma capa preta, tem o corpo vermelho, chifres e um rabo. O resto é igualzinho a vocês daqui.Os trabalhos caminham para o seu final.
Os médiuns que não estão "tomados" fazem umcírculo em volta dos Exus, cantam e assimtodos eles vão abandonando os seus cavalos. Oúltimo a desincorporar-se é o Exu Buzanini quebaixara no chefe da tenda. Precisamente àsduas horas da madrugada terminam asatividades.
Por esta descrição se vê como, naquimbanda, ao contrário do candomblé e daumbanda, não há nada que expresse uma rigidezhierárquica copiada do mundoinstitucionalizado. Os valores da sociedadetradicional são completamente ignorados. Opróprio Exu Buzanini, que estava incorporadono chefe da tenda, quando desafiadoincorporcu-se em outro cavalo para responderquem o interpelara. Há uma liberação deinstintos, sentimentos e vontades quasetotal. Quando se pergunta se, no seu mundo,há governos, diz não saber o que istosignifica. Finalmente, aceita todos osdesafios, responde criticamente às perguntas
que lhe são feitas. Nada respeita. 29
Do ponto de vista que nos interessametodologicamente devemos salientar que mesmonos grupos específicos negros há uma dia-lética intergrupal conflitante, uma série dechoques internos que nos grupos religiososrefletem-se em reelaborações de significadosdos seus deuses e rituais, de acordo com osmecanismos que determinaram o seu nível deconsciência social.
A quimbanda surge no interior da umbandacomo manifestações das contradições sociais,vem corno elemento simbólico e compensadorexplosivo e se expande no interior doscentros umbandistas que se vãoinstitucionalizando, que se vão branqueandoprogressiva-
mente. A ambivalência de Bem e Mal seentrecruza e muitas vezes muda de significadodiante de um fato concreto. Há uma reelabora-ção de valores, passando o que era mau a serbom e vice-versa, reflexo da dualidadeaxiológica da sociedade abrangente. Ascamadas proletarizadas, ou marginalizadas,que precisam "fechar o corpo" ante a agressãopermanente e a violência da sociedadecompetitiva, precisam de um protetor tambémviolento, capaz de imunizá-las das agressõesexteriores e permitir-lhes a vitória sobre osseus poderosos inimigos.
Exu surge para eles como essa divindadeprotetora. Não é mais um auxiliar de Ifáafricano, ou auxiliar dos orixás doscandomblés baianos, mas uma entidadeindependente, superior, todo-poderosa,polimorfa e invencível, com poderes ilimitadose sem reservas no uso desses poderes,contanto que os seus protegidos sejamsalvos.
A quimbanda, por isto, é apresentada comolinha negra e os donos dos centros de umbandaquando perguntados por estranhos pelaprimeira vez, se trabalham com a quimbanda,negam o fato ou respondem evasivamente.Somente depois que a pessoa se socializa aconversa fica mais franca, embora muitasvezes alguns desses chefes continuem dizendoque não gostam de trabalhar com Exus.
Em algumas tendas de umbanda, segundo jáobservamos, Zé Pilintra (um Exu) estápresente em imagens que variam de tamanho, aolado direito do altar. Há sempre duas velasacesas aos seus pés. Isto corresponde,segundo pensamos, a uma penetração sutil domundo da quimbanda no mundo branqueado e jáinstitucionalizado, legalizado da umbanda. Se,conforme nos disse o chefe da tenda CaciqueBororó, essas sessões de quimbanda são "depurificação", como explicar-se a presença deum Exu em plena função da liturgia um-bandista e, além disto, fazendo um ato deproteção para "desmanchar uma malvadeza que
estão querendo fazer com um filho da tenda"?Convém notar, ainda, que, pelo queconstatamos, são exa-tamente nos terreirosmais pobres que a imagem de Zé Pilintra seencontra no local já por nós referido. Comisto, segundo pensamos, o negro procuraincorporar ao seu mundo sofrido e desprotegidoo símbolo rebelde de Zé Pilintra, um Exu queé chamado todas as vezes que há um impassenos negócios, saúde ou amor, para serresolvido.
Nas pesquisas feitas em macumbas cariocas,Lapassade teve oportunidade de constatar quea quimbanda é praticada exatamente naqueleslocais mais atingidos pela miséria e, por istomesmo, perseguida pelas autoridades e oaparelho repressivo do sistema. É que a
136 O NEGRO COMO GRUPO ESPECIFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... __________________________________________________________________________
quimbanda ainda é o grande leque de rebeldiadas religiões negras. Nela, através dos Exus,os segmentos marginalizados, expulsos do sis-tema de produção, procuram um combustívelideológico capaz de levá-los a sobreviverbiológica e socialmente.
Por tudo isto, Lapassade, levantando o véu do fenómeno, afirma:
Estamos muito longe do candomblé baiano. EmSalvador, Exu é despedido, através de uma cerimóniaanterior, que às vezes se desenrola muitas horasantes do candomblé dos orixás. Exu é enviado paraos deuses — ele é o mensageiro, o intermediário — e,ao mesmo tempo, para bem longe do lugar do culto.Diz-seque se essas precauções não forem tomadas, Exupode perturbar a cerimónia a ponto de fazê-la abor-tar. O candomblé, então, se desembaraça dele,tomando todos os cuidados que o seu poder exige. MasExu não é nunca celebrado. No Rio, pelo contrário,segundo Edison Carneiro, há maior fidelidade àstradições africanas que conhecem as danças de Exu, emaior proximidade do vodu haitiano, também compostode duas partes. Aqui Exu será o rei do ritual.30
Convém acrescentar, porém, que os gruposespecíficos negros religiosos, ou movimentosdivergentes no seu próprio interior, como aquimbanda, apesar da grande influência socialque exercem no seio dos negros e camadas demestiços proletarizados não desembocam nuncaem soluções de conteúdo que transcende àspróprias limitações da ideologia religiosa,isto é, não se libertam do seu conteúdoaliena-dor. Ao tempo em que exercem essainfluência, atuam, em contrapartida, comoforças frenadoras de uma consciênciadinâmico/radical dos seus componentes.Especialmente nas tendas de umbanda a su-bordinação dessa influência à ordemestabelecida é cada vez mais visível. Oelemento negro, inclusive, está sendodescartado dos seus órgãos e cargos deliderança e prestígio. Por isto mesmo, emdado momento, deixam de refletir e projetar
aquela solução adequada para os problemas quesurgem com a maior complexidade estrutural deuma sociedade progressivamente conflitiva,para manter-se na posição de guardiães daordem, agrupando os elementos oprimidos den-tro de padrões e valores da sociedade atuale apresentando, sempre, a solução mágicapara os seus problemas concretos.
Esta dupla função deve-se, de um lado, ànecessidade dessas camadas se organizarempara se autodefenderem, mas, de outro, àslimitações estruturais de toda a ideologiareligiosa incapaz de abrir caminho cognitivoaté a perspectiva dinâmico/radical.
Tem razão, por isto, F. Engels quando escreve que:
FATORES DE RESISTÊNCIA 137
A religião, uma vez constituída, contém sempre umamatéria tradicional. Do mesmo modo que, em todos osdomínios ideológicos, a tradição é uma grande forçaconservadora. Mas as transformações que se produzemnesta matéria decorrem de relações de classes,conseqúen-temente das relações económicas entre oshomens que dão lugar a estas transformações.31
Este impasse surge do próprio conteúdolimitado do fenómeno religioso que supre ohomem de um sucedâneo ideológico capaz defazer com que ele se esqueça das suasnecessidades concretas, materiais e sociais, eda viabilidade de solucioná-lasobjetivamente. Por esta razão, mesmo aquimbanda, com todo o seu potenciallibertário e reivindicante é limitada poresta contradição estrutural do pensamentoreligioso e suas manifestações, ficando comtoda a carga dinâmica no nível do pensamentomágico e com sua força limitada às fronteirasdo simbólico.
5. Fatores de Os fatores de resistência dos traços de culturaresistência africanos condicionam-se, portanto, à necessi-
dade de serem usados pelosnegros brasileiros no intuito de seautopreservarem social e culturalmente.Somente dentro de uma sociedade na qual ospadrões conflitantes se separam não apenas nonível das classes em choque ou fricção, mas,também, por barreiras estabelecidas contrasegmentos que comparecem em diversos estratosinferiorizados e discriminados por seremportadores de uma determinada marca, essestraços podem ser aproveitados. De outra forma,eles se teriam diluído por falta defuncionalidade na dinâmica social. Ascontradições internas inerentes à dinâmica deuma sociedade competitiva, com aparticularidade de haver saído do regime
escravista, determinam, em última instância,a preservação ou diluição dessa chamadareminiscência africana. Um exemplo disto é adegenerescência do culto de Ifá, "generalizadoentre as tribos do Golfo da Guiné" 32 e queaqui chegou na "mais modesta das suas formas",interpretando búzios, enquanto Exu — conformejá vimos antes —, que era um auxiliar naÁfrica, cresceu no Brasil como um símbololibertador. É que o símbolo de Exu, conformejá analisamos, tem uma representatividadelibertária muito maior no contexto socialbrasileiro do que muitos orixás importantesno panteão africano. Por outro lado, outrosorixás passaram no Brasil a simbolizarproteção a ativi-dades populares como Ogum,patrono das artes manuais, ou a exer-
138 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFRENCIADO EM UMA SOCIEDADE... __________________________________________________________________________
cer profissões tidas como preservatórias da vida, como Omulu, que passou a ser "o médicodos pobres". 33
A barragem da sociedade competitiva àinteração social do negro escravo eposteriormente livre causou — ao lado dotraumatismo da escravidão — a necessidade dele,usando elementos religiosos, artísticos ouorganizacionais, tribais, se conservarorganizado, não sendo destruído, assim, peloprocesso de marginalização em curso. Tudo ouquase tudo que o negro escravo fez no Brasil,usando elementos das suas culturas matrizes,objetivava a um fim social: preservar oescravo e posteriormente o ex-escravo doconjunto de forças opressivas existentescontra eles. Isto se realiza através dacriação de valores sociais de sobrevivênciaou auto-afirmação capazes de municiá-los deelementos ideológicos e sociopsicológicosaptos a se contraporem aos das classesdominantes e segmentos brancos racistas.
A área de tensão, ou melhor, as áreas detensões e a insuficiente franja de interaçãopermitida ao elemento negro e não-branco noBrasil, que os colocam em um espaço socialmuito restrito, sem possibilidades de seintegrarem socialmente através da mobilidadevertical em massa, leva-os a se preservaragrupando-se, isolada ou semi-isola-damente,embora em diversos níveis de contato com asociedade global.
Foi, assim, realizado um processo dereelaboração dos valores africanosanteriores, a fim de que eles exercessem umafunção dialé-tica dentro do novo contexto noqual se encontravam: em estado deinferiorização quase absoluta. Vemos, por aí,que eles se organizavam, formavam grupos (ousegmentos) específicos, mantinham-se e aindase mantêm em grupos comunitários que os unem
através da hierarquização intragrupal,conservando-os ligados às fontes matrizesque lhes servem de embasamento ideológico decompensação.
Este aspecto do problema é que nosparece pouco estudado e pesquisado pelossociólogos, antropólogos e cientistas sociaisbrasileiros em geral. Isto possivelmente sedeva ao fato de que nas áreas em que osestudos africanistas e afro-brasileiros sedesenvolvem com maior intensidade(especialmente Bahia e Pernambuco) a fricçãoentre as diversas camadas que compõem asociedade abrangente não se tenhadesenvolvido com muita agudeza, levando istoa que não se considere de maior relevância opapel social desses grupos específicos. Istoconduz a que se passe a ver o candomblé eoutros grupos específicos, principalmentereligioso de negros, mulatos e mestiços emgeral dentro de uma redoma parada, semdinamismo interno, sem
FATORES DE RESISTÊNCIA 139
contradições intra e intergrupais e com asociedade competitiva abrangente, aceitando-sepor isto, como seu elemento transformadorapenas a conservação (maior ou menor) da suaherança cultural africana. Em outraspalavras: são folclorizados.
Por que certos traços das culturasafricanas desaparecem — insistimos em indagar— enquanto outros permanecem na sociedadebrasileira, especialmente nos contingentespopulacionais mais prole-tarizados? Estapergunta deverá levar-nos a um nível deanálise mais elevado do assunto, saindo-sedaquele, para nós já superado, de vê-loatravés de fatores mais importantes noprocesso de troca ("dar e tomar") entre asculturas implantadas e as receptoras, comoquer a antropologia tradicional. Há outrascausas muito mais relevantes que não foramlevadas em conta, fato que poderá deformar ainterpretação do fenómeno. Uma dessas causasé, exatamente, o nível de integração na novasociedade dos elementos transplantados.Desta primeira análise decorrerá acompreensão da função social dos elementosdessas culturas no novo habitat. 34
No caso brasileiro, temos o exemplo dareligião maometana que veio para o Brasil comos negros islamizados e os seus membros usaramos seus elementos explicativos do mundo, suacosmovisão, como força social de união dosescravos contra o estatuto da escravidão queos oprimia. Reuniam-se em candomblés de outrasnações, no sentido de criarem uma unidade depensamento necessária à dinamizaçãoorganizacional e à motivação ideológicaindispensáveis ao êxito dessas revoltas.
Escreve Vivaldo da Costa Lima:O processo "aculturativo" entre os nagôs e jejes sedeve ter acentuado na Bahia pelo começo do século XIXem movimentos de resistência antiescravista. Oscandomblés eram, no começo do século passado,centros de reunião de nagôs mais ou menos islamizados
que aqui viviam, como jejes, hauças, grumeis, tapase os descendentes dos con-gos e angolas que hámuito não eram trazidos da costa.35
Isto mostra como, em determinadosmomentos e diante de po-tencialidadesdeflagradas pela dinâmica social antinômica,esses grupos específicos negros, depois deformados, não perdem a interação com asociedade inclusiva e mantêm, com ela, umafricção ideológica permanente, que varia degrau, de acordo com o respectivo nível deantagonismo social. Mas, por outro lado, asuperioridade económica, cultural e políticadas classes dominantes e dos seus aparelhosde poder no particular, penetra cada vez maisnesses grupos, os quais,
140 O NEGRO COMO GRUPO ESPECÍFICO OU DIFERENCIADO EM UMA SOCIEDADE... _
depois de um circuito vital muitas vezeslongo, entram em processo de degenerescência,isto é, de integração ideológica com asociedade global. Vão, assim, perdendo a suaespecificidade. Ao mesmo tempo que tal fenómenoacontece, em outros níveis, diversos outiosgrupos específicos se formam e articulam,frutos de outras contradições, e recomeçam ociclo. É uma interdependência/intermitênciadialética e por isto mesmo contraditória que severifica entre esses grupos e a sociedadecompetitiva que procura, ao marginalizá-lossocialmente, desorganizando ou branqueandoesses grupos, tirar-lhes o seu papel deresistência e transformá-los em apêndices dasclasses dominantes.
Há um intercruzamento de valores entreesses grupos negros e a sociedade branca,terminando, quase sempre, ou pela sua dissolu-ção, ou por um processo de subordinação dessesgrupos, económica, ideológica e cultural, aosestratos dominantes da sociedade. Acrescenotar que, nesse processo, muitos membros dosgrupos específicos em processo dedesintegração ou branqueamento se destacamexigindo a manutenção dos antigos valoresnegros, travando-se uma luta intragrupalmuitas vezes intensa.
Até que ponto as instituições e grupos depressão da sociedade global exercem influênciasobre esses grupos específicos negros e até queponto eles resistem como podem? Isto é assunto
para pesquisas que mostrarão, em cada casoparticular, como os negros nessa situação
usaram os seus valores culturais de origem parase fecharem e/ou resistirem. Por outro lado,
há a tendência, cada vez maior, das es-truturas de poder exigirem a
institucionalização desses grupos — es-pecialmente os religiosos — através de medidasreguladoras e fiscali-zadoras. Até que ponto
essa constelação de forças compressoras e de-
sintegrativas contribui para a destruição oudegradação da função de resistência social e
cultural desses grupos, modificando-lhes,inclusive, o papel? Até que ponto essas
medidas não atingem o prestígio dos seusdirigentes nos grupos religiosos: candomblés,tendas de umbanda, etc.? Os status de prestígio
dos seus dirigentes até que ponto sãoafetados internamente por terem de obedecera essas exigências? As medidas fiscalizadoras
— licenças, alvarás, etc. — não abalarão omundo mágico do candomblé? Os status de
prestígio dos pais e mães-de-santo não teriamdiminuído com a interferência regulari-zadora
por parte das instituições da sociedade declasse? Ou não? Será que a repressão
policial, como havia antigamente, não eraum elemento que produzia a solidariedadegrupai? Será que a própria magia não se
consolidava à medida que eram necessáriasmedidas mági-
FATORES DE RESISTÊNCIA 141
cãs para combater-se as forças coatoras eprofanas da sociedade branca que, através doseu aparelho de repressão, combatia o mundomágico dos negros? Será que atualmente oschefes de terreiros, ao vereminstitucionalizadas as suas casas, não perderammuito do papel todo-poderoso de sacerdotes,passando a ser encarados como meros admi-nistradores das casas de culto? São perguntasque somente poderão ser respondidas apóspesquisas que objetivem esclarecer o assunto.Pelo menos em São Paulo, segundo nossaspesquisas, os candomblés e tendas de umbanda,ao se registrarem na Delegacia de Costumes eserem obrigados a preparar atas, levarrelatórios periódicos das suas atividades,listas de sócios, etc. sofrem um desgaste deprestígio, no plano simbólico, muito grande ebastante visível. Muitas vezes, como vimos, porexemplo, no Candomblé Afro-Brasileiro de Ogum,da mãe-de-santo Elizabeth, em São Miguel, elesnão têm condições intelectuais e burocráticaspara cumprir essas exigências. Recorrem, poristo, muitas vezes, a elementos de fora docandomblé — para a execução dessas tarefas —que passam a ter uma importância tão grande comoa do pai-de-santo, no terreiro. Isto não teriainfluência na estrutura do terreiro e noprestígio do sacerdote? Será que a divisãonesses terreiros entre o sagrado e o profano étão rígida que os sacerdotes permanecem com omesmo prestígio apesar dessa interferência? Nãohaverá uma diminuição de prestígio da mãe-de-santo que, por exemplo, não recorre mais arituais mágicos e ao recurso da ilegalidadepara funcionar, mas sujeita-se a todos ospreconceitos exigidos pelas autoridades comomaneira de poder exercer as suas funçõessagradas? E os orixás com a sua força ondeestão? E a força mágica do terreiro e da suachefia espiritual onde está? 36
A primeira vez que, em São Carlos, interiorde São Paulo, fomos ao Centro de Umbanda
Caboclo Viramundo, encontramos, inicialmente,certa resistência do seu chefe, Geraldo.Depois dos primeiros contatos, porém, ele nosinformou que a sua tenda era a mais antigadaquela cidade, funcionando há vinte anos.Apesar da tenda ser frequentadapredominantemente por pretos e mulatos, ele semostrava orgulhoso da "segurança" que podiaoferecer aos seus frequentadores e visitantes.Mas, não era pela sua força de sacerdote oupelo poder mágico dos cantos do Centro.Chamou-nos ao lado e nos informou quepodíamos frequentar o terreiro comtranquilidade porque ele era muito amigo deinúmeros policiais, tendo garantida, poristo, a sua tranquilidade. Afirmou-nos,ainda, que muitos policiais o frequentavam,necessitando dos seus serviços.