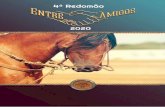LITERATURA PARA ALUNOS DO 4º CICLO DO ENSINO ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LITERATURA PARA ALUNOS DO 4º CICLO DO ENSINO ...
Universidade de Taubaté
LITERATURA PARA ALUNOS DO 4º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLA PÚBLICA DE PERIFERIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO: MICROCOSMO DA CONSCIÊNCIA HUMANA
Taubaté
2007
Giovana Flávia de Oliveira
Literatura para alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública de periferia do município de São Sebastião: microcosmo da consciência
humana
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Lingüística Aplicada pela Universidade de Taubaté, sob orientação da Profª. Drª. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda.
Taubaté
2007
Giovana Flávia de Oliveira
Literatura para alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública de periferia do município de São Sebastião: microcosmo da consciência humana.
Universidade de Taubaté, Taubaté, SP.
Data: 28 de fevereiro de 2007.
Resultado:
Comissão julgadora
Profa. Dra. Silvia Cristina de Oliveira Quadros
Assinatura:
Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva
Assinatura:
Profa. Dra. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda
Assinatura:
Dedicatória
A Deus, pelas inúmeras bênçãos em minha vida.
À minha avó, pelas conversas maravilhosas que tivemos durante as viagens toda semana até
Taubaté...
Aos meus pais, por acreditarem na realização deste sonho e apoiarem todas as minhas
decisões. Sem vocês nada seria possível!...
À minha irmã, por ter sido a primeira na família a vencer os desafios de um curso
universitário e ter aberto esse caminho na minha vida...
Agradecimentos
Fazer agradecimentos em um trabalho que tem por princípio que todos os nossos textos são
resultados de outros textos com os quais tivemos contato ao longo de nossa existência é algo
realmente difícil. Por essa perspectiva, imagina-se que eu teria de agradecer a todos que,
direta ou indiretamente, me ajudaram a compreender a Educação e a Literatura do como eu as
vejo hoje, tarefa que seria extremamente árdua!... Não esquecer de nenhum professor, autor,
contador de história, colega de escola, de trabalho, amigos, familiares, entre tantos outros que,
certamente, colaboraram com as idéias que serão aqui desenvolvidas, seria praticamente
impossível. No entanto, aceitarei o risco e buscarei agradecer àqueles que de alguma maneira
tiveram uma participação mais do que especial na escrita desta dissertação.
Dalva, minha mãe, professora primária, principal influência em meus gostos literários (Ah! O
Marinheiro Marinho!!...). Por toda amizade, carinho e amor dedicados ao longo de minha vida
e, de modo muito especial, durante o mestrado. Compartilhar com você a alegria pela
descoberta da existência do curso em nossa região, a ansiedade na hora da prova e da
entrevista; a expectativa pelos resultados (seguida sempre de um “Gi, você passou!
Parabéns!”, em mensagem no celular...) foi sensacional. Contar com suas orações pelas
inúmeras horas de viagem toda semana, com sua compreensão por causa dos vários dias de
isolamento em decorrência de leituras e elaboração deste texto, com sua felicidade, sempre,
pelas minhas conquistas, são momentos que, certamente, eu jamais esquecerei. Amo você de
montão!
Maria Tereza, minha professora de Língua Portuguesa da 5ª e da 8ª séries. Uma das
responsáveis por despertar em mim o desejo de me aventurar no universo da Literatura.
“Filhos... Filhos? Melhor não tê-los! Mas se não os temos, como sabê-los?”. Ainda hoje, se
fechar os olhos, posso ouvir sua voz, lendo em minha sala de aula de 5ª série: “Você teve
saudades de mim? Vou contar só mais uma, que está na hora de dormir. Agora dorme,
filhinho. Dá um beijo aqui – Papai do céu te abençoe. Este menino, meu Deus.”. Obrigada por
tudo!
Rita, minha professora no magistério, mãe de aluno, colega de trabalho, amiga fiel. Um
exemplo de profissional que eu espero seguir a vida inteira. Obrigada por me fazer enxergar
as maravilhas que podemos fazer por meio da arte. Todas elas: música, dança, teatro,
pintura... Literatura. Com ele maiúsculo, viu?! Bem grandão!! Ah!! E não poderia faltar:
“Crianças! Iguais são seus deveres e direitos! Crianças, viver sem preconceitos é bem melhor!
Crianças, a infância não demora, logo, logo, vai passar. Vamos todos juntos brincar!”. Um
beijo no coração!
Sílvia, coordenadora do curso de Letras, quando eu estava na graduação. Aceitou, na época,
orientar meu trabalho de conclusão de curso e falou, inúmeras vezes, “Você precisa ler
Vygotsky!”. Foi a professora que me apresentou o fascinante mundo da pesquisa acadêmica,
que me incentivou, pela primeira vez, a participar de um congresso. Hoje, novamente, aceitou
fazer parte do meu caminho. Aqui está o resultado. Mais uma vez, obrigada!
Vera, professora na especialização, orientadora no mestrado. A paixão que existe em sua voz,
toda vez que fala em Educação e Literatura, é algo fascinante: “Serra, serra, serrador. Serra o
papo do vovô!”... As lágrimas em seus olhos, quando apresentava os resultados parciais dos
trabalhos que estava desenvolvendo, nos diversos momentos desses anos de convivência, me
davam a certeza de que, realmente, eu estava no caminho certo. Compartilhar com a senhora
os resultados dos trabalhos realizados foi uma delícia. Obrigada mesmo!
Maria Cristina (ou Cris, como ela prefere), professora do mestrado, exemplo de vida.
Conviver com você, embora por um curto período de tempo, fez com que eu entendesse um
dos aspectos mais importantes de se trabalhar com a linguagem: o poder de mudança. “Não
tem sabão, vai ter sabão!”. Suas idéias, sugestões de leituras, carinho e disposição
acrescentaram em minha vida uma outra identidade, de autor, o que foi essencial para a
realização dos meus trabalhos nesse último ano e, conseqüentemente, desta dissertação. Toda
gratidão a você! Sempre!
Meus alunos. Todos eles. Do mais bonzinho ao mais atentado (Como eles fazem: rsrsrsrsrs...).
Nomeá-los seria praticamente impossível. No entanto, todo carinho que eu recebi de vocês ao
longo de minha carreira no magistério está guardado para sempre em meu coração. Mais
especificamente, nesses dois anos de pesquisa no mestrado, quando alguns aspectos de nossa
relação ficaram mais claros para mim, posso dizer que nossa convivência foi para lá de
especial: desde o primeiro bilhetinho, desejando boa sorte, quando avisei à turma que não
trabalharia no dia seguinte porque ia fazer a prova para tentar entrar no curso de mestrado
(Não me esqueci, Ana Carolina!), às inúmeras colaborações para que esta pesquisa se
realizasse. Tantos sonhos compartilhados, tanta luta, tanto trabalho, tanta alegria... Amo
vocês, senhoras, senhores e senhoritas! ;P
A CAPES, pelo apoio financeiro a pesquisadores de todo o Brasil, e em especial ao apoio a
esta pesquisa.
Resumo
Estudar Literatura no ensino fundamental é, ainda hoje, visto nas escolas brasileiras apenas como um trabalho de incentivo à leitura. No entanto, as técnicas utilizadas para promover o hábito de leitura muitas vezes não refletem esse objetivo: resumos, questionários, fichas de leitura, exposições orais são recursos ainda muito utilizados por professores para verificar se o aluno leu realmente o livro. Nessa situação, o trabalho com literatura não atinge os objetivos iniciais dos professores – incentivar a leitura – e nem promove um estudo literário mais aprofundado. Estudos na área de Lingüística Aplicada recomendam o estudo de todo texto, seja ele verbal ou não-verbal, como uma produção discursiva. Dessa forma, a presente pesquisa busca demonstrar que o trabalho com literatura dentro de uma visão sócio-histórico-cultural de linguagem pode contribuir, por meio de reflexões na e pela linguagem, para a constituição das identidades dos adolescentes de 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública de periferia e para a diminuição das exclusões sociais como um todo, facilitando o desenvolvimento de leitores críticos de textos literários. Esta dissertação procura, então, caracterizar a linguagem literária dentro de uma concepção sócio-histórico-cultural; discutir o trabalho com literatura para alunos do ciclo apresentado, relacionando-o à visão sócio-histórico-cultural de linguagem; e apresentar possíveis intervenções e resultados de um trabalho com literatura nessa abordagem. Por meio de uma pesquisa-ação, os dados foram recolhidos pela professora-pesquisadora em atividades normais de sala de aula, e analisados a partir de três correntes teóricas que se complementam: a teoria sócio-interacionista de Vygotsky, os estudos sobre dialogismo de Bakhtin e o interacionismo sócio-discursivo de Bronckart. A análise de dados mostrou que um trabalho com literatura dentro de uma visão sócio-histórico-cultural de linguagem pode contribuir bastante para a constituição das identidades dos alunos, fazendo com que eles consigam sair de um lugar de socialmente excluídos para um lugar de reconhecimento social, facilitando o desenvolvimento do hábito de leitura e a formação do leitor literário crítico.
Palavras-chave: Literatura; Lingüística Aplicada.
Abstract
Studying Literature in the beginning of the High School is currently seen just an activity to motivate students to read. However, the methods used to promote the habit of reading don’t often reflect this aim: summaries, questionnaires, reading cards, spoken presentations are resources often used by teachers to check whether the students read some book indeed. In a situation like this, working on Literature does not achieve the initial aims of the teacher – to promote reading – and it does not promote deeper literary studies. Researches on Applied Linguistics advise the analysis of all the text, be it verbal or be it nonverbal, as a discursive production. In this way, this research has the intention of showing how to work on Literature in a socio-cultural-historical view of language can contribute, by means of reflections on and of language, to develop the teenager identity in the beginning of High School at Public Schools on the periphery of towns and to reduce the social exclusion wholly, helping school readers with their critical analysis of literary texts. This writing aims to characterize the literary language in a socio-cultural-historical conception, discussing the working on Literature for students at High School, connecting it with a socio-cultural-historical view on language, and presenting possible interventions and results of working on Literature in this approach. By means of an action research, the data were collected by a teacher who researched usual activities in classrooms, analyzed on the basis of three theoretical currents of opinion which complement one another: the social-interacting theory of Vygotsky, the studies on dialogism of Bakhtin, and the Socio-Discursive Interactionism of Bronckart. The data analysis showed how to work on Literature in a socio-cultural-historical vision of language can contribute to develop or form the teenager identity, leading to them being able to go from a socially excluded position to a socially recognized conditions, helping students develop the habit of reading and helping school readers develop their critical and literary analysis. Word-key: Literature; Applied linguistics.
Lista de ilustrações e quadros explicativos
Fig. 01 – Fatores que, segundo Hall (2005), contribuíram para o
descentramento final do sujeito cartesiano.........................................
30
Fig. 02 – Gráfico da narração............................................................. 91
Fig. 03 – Ficha para análise de personagem....................................... 93
Fig. 04 – Ficha para criação de personagem...................................... 94
Fig. 05 – A primeira tirinha................................................................ 95
Fig. 06 – A segunda tirinha................................................................ 96
Fig. 07 – Primeira parte do conto Um apólogo, de Machado de
Assis...................................................................................................
99
Fig. 08 – Trecho final do conto Um apólogo, de Machado de
Assis...................................................................................................
101
Fig. 09 – Criação de painel sobre Machado de Assis......................... 103
Fig. 10 – Exposição de trabalhos em São Sebastião........................... 104
Fig. 11 – Resumo das atividades desenvolvidas a partir do texto
Um apólogo, de Machado de Assis....................................................
105
Fig. 12 – Um apólogo ontem e hoje................................................... 107
Fig. 13 – Texto Um apólogo – página 01........................................... 109
Fig. 14 – Texto Um apólogo – página 02........................................... 110
Sumário
Introdução........................................................................................... 15
1. A LA e práticas sociais de linguagem: reflexões críticas sobre o
agir comunicativo...............................................................................
24
1.1 O sujeito e o discurso.................................................................... 25
1.1.1 Como a identidade do sujeito pós-moderno se tornou
fragmentada........................................................................................
26
1.2 Lingüística Aplicada e Educação................................................. 31
1.2.1 A relação professor e aluno de escola pública de periferia no
processo de formação do leitor literário.............................................
36
1.2.2 Os efeitos da globalização para o trabalho em sala de aula....... 42
1.3 Vygotsky & Bakhtin..................................................................... 45
1.3.1 Vygotsky, as relações sociais e a constituição do sujeito.......... 46
1.3.1.1 Mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal................... 48
1.3.2 Bakhtin, dialogia, polifonia e intertextualidade......................... 54
1.4 Bronckart e o Interacionismo sócio-discursivo............................ 60
1.4.1 Procedimento metodológico geral de análise de textos,
segundo Bronckart..............................................................................
61
1.5 Passos dados, passos futuros........................................................ 64
2. A Literatura pelo viés da LA: agora, sim, livro de verdade... ....... 69
2.1 Uma visão pós-moderna de literatura........................................... 73
2.2 Funções da literatura..................................................................... 77
3. Metodologia de um trabalho com literatura dentro de uma visão
sócio-histórico-cultural de linguagem: enfim, após tantas
inquietações, um caminho!.................................................................
83
3.1 O contexto da pesquisa................................................................. 83
3.2 Participantes.................................................................................. 85
3.3 Materiais....................................................................................... 85
3.4 Procedimentos de coleta de dados................................................ 86
3.4.1 Conhecer as turmas envolvidas para estabelecer os objetivos
do curso: Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a
língua dos anjos, sem amor eu nada seria... .....................................
86
3.4.2 Da leitura descontraída à sistematização dos conhecimentos:
era uma vez uma aula de leitura... ....................................................
90
3.4.3 Desenvolvimento potencial: Machado de Assis, um mestre na
periferia... ..........................................................................................
97
3.5 Instrumentos de coleta de dados................................................... 106
3.6 Procedimentos de seleção dos dados............................................ 106
3.7 Método de análise e as categorias utilizadas................................ 106
4. Análise de dados............................................................................. 108
4.1 As condições de produção do texto.............................................. 112
4.1.1 O contexto de produção do mundo físico.................................. 112
4.1.2 O contexto de produção do mundo sócio-subjetivo.................. 113
4.1.3 O conteúdo temático.................................................................. 114
4.2 Texto como ação de linguagem.................................................... 114
4.3 Intertextos..................................................................................... 115
4.4 A arquitetura interna dos textos.................................................... 117
4.4.1 Mecanismos de textualização.................................................... 118
4.4.2 Mecanismos de enunciação....................................................... 120
4.5 Mudança de atitude....................................................................... 122
Algumas considerações...................................................................... 127
Referências......................................................................................... 131
Apêndices........................................................................................... 140
Anexos................................................................................................ 146
O terceiro e quarto ciclos têm papel decisivo na formação de leitores, pois é no interior destes que muitos alunos ou desistem de ler por não conseguirem responder às demandas de leitura colocadas pela escola, ou passam a utilizar os procedimentos construídos nos ciclos anteriores para lidar com os desafios postos pela leitura, com autonomia cada vez maior. Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade de organizar-se em torno de um projeto educativo comprometido com a intermediação da passagem do leitor de textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) para o leitor de textos de complexidade real, tal como circulam socialmente na literatura e nos jornais; do leitor de adaptações ou de fragmentos para o leitor de textos originais e integrais (BRASIL, 1998b, p.70).
Introdução
O trabalho com literatura no ensino fundamental possui estreita relação com a
formação de leitores, porém, como afirma Lajolo (2001b, p.14), sabe-se que “não há mágica
capaz de transformar em leitores quem, por qualquer razão, não pode ou não está a fim”.
Muitos autores, entre eles Bamberger (2001), Bordini e Aguiar (1993), Coelho (19811/1987;
2000), Faria (2004), Lajolo (2001a; 2001b), Wornicov et al. (1986); Zilberman (1998),
estudaram a importância de um trabalho eficaz com literatura para a formação de novos
leitores e para a divulgação dos valores culturais da sociedade. Por meio de panoramas
históricos, mostraram a evolução dos estudos nessa área e possibilidades de métodos de
trabalho a serem desenvolvidos para o ensino de literatura. De acordo com Coelho (2000),
em essência são (a literatura, o teatro e o cinema) formas de arte nas quais a cultura de cada época se corporifica. Dentre as diferentes manifestações da Arte, sem dúvida, é a Literatura a que atua de maneira mais profunda e essencial para dar forma e divulgar os valores culturais que dinamizam uma sociedade ou uma civilização (COELHO, 2000, p.13).
Sobre a literatura destinada especificamente para crianças e jovens, como apontam
Coelho (1981/1987; 2000), Colomer (2003), Faria (2004) e Zilberman (1998), entre outros, já
foram realizados vários questionamentos, muitas vezes dirigidos à qualidade literária de
textos da literatura infanto-juvenil, aos aspectos morais que as histórias destinadas para essa
faixa etária abordavam, ou ainda à influência dos textos na formação psicológica das crianças.
Uma questão metodológica, contudo, acompanha a presente pesquisa: o que é
literatura? Sabe-se que para essa pergunta, permanente há séculos nos estudos literários,
encontram-se apenas respostas provisórias, uma vez que, de acordo com Lajolo (2001b, p.13),
“um texto pode vir a ser ou deixar de ser literatura ao longo do tempo”.
A literatura, na sociedade atual, encontra-se bastante relacionada ao ensino das letras.
Originária do latim litteratúra, que significava “a arte de escrever, escritura; alfabeto;
gramática; conhecimentos literários, literatura; instrução, saber, ciência; obras literárias”
(HOUAISS, 2006), a literatura manteve, ao longo de séculos, sua relação com a escrita (littera 1 Adotar-se-á, nesta pesquisa, para livros de fundamentação teórica cuja data de publicação original seja diferente da do volume consultado, o seguinte critério: a primeira data refere-se ao ano de publicação da obra no Brasil; a segunda, ao ano da edição consultada.
em latim significa “letra do alfabeto, caráter de escrita” (HOUAISS, 2006)). Dessa forma, foi
objeto de estudo, durante muito tempo, de pensadores, de filósofos, da considerada camada
mais culta da sociedade. Lajolo (2001b, p.67) relembra que
em tempos mais antigos – na Idade Média, por exemplo – o escritor não precisava preocupar-se em agradar ao público indiferenciado: financiado por alguém rico e geralmente muito poderoso, bastava que ele angariasse as simpatias de seu patrono, o mecenas que, garantindo-lhe abrigo, comida, vestimenta e proteção, financiava-lhe a aventura literária. Essa forma de produção marcou fortemente a literatura. Talvez em função de então exercer-se na proximidade dos ricos e dos poderosos, a literatura ganhou marcas de atividade de elite, ficando o poeta com a imagem de cidadão improdutivo. Popularizou-se com isso a – até hoje equivocadamente vigente – idéia de que escrever literatura é uma atividade ociosa (LAJOLO, 2001b, p.67).
Como se pode facilmente observar, vários fatores colaboram para a tradição cultural
da sociedade brasileira que diz que literatura é ‘coisa da elite’: os poucos eventos literários
que, quando acontecem, destinam-se a um seleto grupo social capaz de pagar o valor cobrado
para ter acesso à cultura que se oferece; o alto preço dos livros, em geral, que faz com que,
para a maior parte da população brasileira, a decisão entre comprar um livro ou comprar
outros itens de primeira necessidade (alimentos, remédios etc) seja desleal; os pouquíssimos
(e muitas vezes caríssimos...) cursos especializados e grupos de discussões de obras literárias,
restritos a uma elite cultural capaz de ‘pagar para ver’ onde isso tudo vai dar. Sabe-se que,
para entrar nessa discussão [sobre o que é literatura], é preciso ter ingresso. Para dizer a verdade, é preciso comprar ingresso. E os ingressos – livros, cursos, escolas – nem estão por aí, nem são oferta grátis. Além de dinheiro, custam também o que custa ter acesso – e de preferência, aderir – a formulações culturais das classes dominantes. Geralmente brancas, quase sempre originadas no primeiro mundo, muitas vezes com barba e bigode... não é à toa que estas vozes se chamam dominantes. Faz parte do cardápio de dominação que elas exercem o estabelecimento do que é literatura, a fixação dos padrões do “bom gosto”, a caracterização da sensibilidade “estética” e alguns outros etcéteras. (LAJOLO, 2001b, p.22)
E os etcéteras são tantos que a literatura, mesmo quando assumida com status de
ciência e com todas as implicações desta concepção (objeto de estudo, método etc), continua
sendo vista como algo supérfluo, interessante apenas a uma camada mais culta da sociedade, a
uma elite de intelectuais capazes de desvendar os ‘enigmas’ presentes nos textos literários.
Entretanto, não é de hoje que, como menciona Lajolo (2001b, p.30), “saber ler e
escrever, além de fundamental para o exercício de graus mais complexos de cidadania,
constitui marca de distinção e de superioridade em nossa tradição cultural”. Saber ler e
escrever literatura, então... Haja superioridade! Percebe-se, nesse ponto, um grande paradoxo
na sociedade brasileira atual: apesar da estreita relação da literatura à camada mais culta da
sociedade, as influências do racionalismo cartesiano e de uma visão capitalista de mundo
fazem com que o trabalho com literatura pareça, muitas vezes, algo inferior. Possível herança
das tradições literárias medievais, conforme citado anteriormente, o escritor literário ainda
hoje em dia é visto como ocioso.
Outro importante ponto de discussão sobre literatura diz respeito às suas funções. De
simples entretenimento hedonista à transmissora de conceitos morais (AGUIAR E SILVA,
1976/19832), atribuem-se, atualmente, à literatura muitas outras funções: diversão, fuga da
realidade, denúncia social, autoconhecimento, transmissão de valores, cultura.
A literatura vem sendo estudada, como foi apresentado na página anterior, ao longo de
séculos, por inúmeros pesquisadores e recebe uma série de classificações: literatura clássica,
literatura brasileira, literatura de massa, entre outras. No entanto, Lajolo (2001b, p.18) aponta
que “para que uma obra seja considerada parte integrante da tradição literária de uma dada
comunidade ou tradição cultural, é necessário que ela tenha o endosso dos canais competentes
aos quais compete a literarização de certos textos”.
Nas escolas, instituições que há mais tempo vêm cumprindo o papel de avalistas e de
fiadoras da literarização de textos (LAJOLO, 2001b, p.19), a literatura é trabalhada
geralmente no ensino médio, e uma das preocupações maiores que se tem para ensiná-la é o
vestibular3. Nele, é cobrada a leitura dos grandes clássicos da literatura (brasileira,
portuguesa, e, por vezes, universal), com questões relacionadas às escolas literárias, aos
aspectos lingüísticos de cada escola, à identificação de aspectos que as diferenciem.
Para os alunos que, de modo geral, não pretendem cursar uma faculdade, a literatura
passa a ser um objeto distante da realidade, sem uma função específica, o que faz com que
muitos jovens considerem literatura uma perda de tempo. Nas escolas públicas de periferia,
em que o acesso ao nível superior ainda é pequeno, os estudos literários, se direcionados
apenas a esse objetivo, parecem ser pouco produtivos.
2 As datas citadas referem-se às obras AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1976. 1ª ed. brasileira.; e AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. Coimbra: Livraria Almedina, 1983. 5ª ed. Vol. 1., disponibilizadas na Internet pelo departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dessa forma, não há como indicar, nas citações diretas, a numeração exata das páginas. 3 Apesar dos PCNEM (BRASIL, 1999, p.71) sugerirem que “o ensino médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras clássicas de nossa literatura, do que mantenha a tradição de abordar minuciosamente todas as escolas literárias, com seus respectivos autores e estilos”, sabe-se, empiricamente, que o trabalho nas escolas ainda é feito, de modo geral, sem essa preocupação.
Nas escolas de ensino fundamental, quando a literatura passa a vir acompanhada de
adjetivos como infantil, juvenil, infanto-juvenil, a discussão sobre o trabalho com literatura
parece ser ainda maior. Muito se questiona sobre a qualidade dos textos literários escritos para
crianças, adolescentes e jovens. Alguns críticos mais severos consideram a literatura para essa
faixa etária como de qualidade inferior a outras literaturas e surge, novamente, aquela antiga
dúvida: o que é literatura? Para que se estuda literatura, em especial nas escolas de ensino
fundamental?
Neste contexto, a pergunta que gerou esta pesquisa é: para que trabalhar literatura com
alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de escolas públicas de periferia?
Entre tantas possibilidades de análise, a escolhida para esta dissertação surgiu nas
teorias da Lingüística Aplicada (doravante LA) e foi aquela que mais demonstrou acreditar na
capacidade da mudança por meio da interação social: a teoria sócio-interacionista. Dessa
forma, buscou-se em Vygotsky a fonte principal dos estudos aqui realizados. Sabe-se,
entretanto, que, na área de LA, os estudos de Vygotsky não bastariam para uma análise mais
profunda a respeito de um trabalho com literatura e, por isso, outros pesquisadores foram
selecionados para complementar o percurso desta pesquisa, entre eles, Bakhtin, Moita Lopes e
Bronckart.
Os estudos de Bakhtin (1992/2003) sobre dialogismo – o sujeito sócio-subjetivamente
se constituindo a cada enunciação – e sobre gêneros discursivos – enunciados relativamente
estáveis em que se organizam as comunicações humanas – colaboram bastante com a idéia de
que trabalhar literatura na escola de ensino fundamental não visa a um leitor acabado,
formado, capaz de ler e compreender todo e qualquer texto sem maiores dificuldades, mas
visa antes à capacidade de preparar o aluno para enfrentar as mais diversas situações de ação
de linguagem.
As múltiplas facetas da comunicação humana e a influência dos fatores sócio-
psicológicos de uma interação nos textos produzidos por seus participantes serão
fundamentais para a compreensão dos textos literários. Nessa mesma linha, são os estudos de
Moita Lopes (2002) que alertarão, nesta pesquisa, para o fato de a sala de aula, e em especial
a sala de aula de leitura, ser um espaço privilegiado para discussões sobre os mais variados
assuntos, sendo, inclusive, extremamente importante na formação das identidades dos
envolvidos no processo.
O Interacionismo sócio-discursivo, presente nos estudos de Bronckart (1999), é que
vai, então, proporcionar ferramentas suficientes para analisar como essas mudanças
materializam-se lingüisticamente nos discursos dos sujeitos envolvidos em interações por
meio da linguagem.
Neste ponto, o trabalho com literatura, pelas próprias características do texto literário,
torna-se ainda mais interessante e garante a oportunidade de realizar com os alunos, de modo,
muitas vezes, bastante prazeroso, uma reflexão sobre o que acontece em seu entorno sócio-
histórico-cultural. Acredita-se, nesta pesquisa, que trabalhar literatura seja a possibilidade de,
por meio do despertar do prazer para conhecimento, colaborar para a formação de cidadãos,
uma vez que é de conhecimento público que
a sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas” (BRASIL, 1998a, p.21).
Buscando a formação de cidadãos autônomos, críticos e a participativos, o objetivo
geral desta pesquisa é mostrar que um trabalho com literatura, realizado a partir da concepção
sócio-histórico-cultural de linguagem, pode contribuir para a inserção de adolescentes e
jovens na sociedade e, até mesmo, para a formação de suas identidades.
Especificamente, os objetivos desta pesquisa são:
a) Caracterizar a concepção de linguagem dentro de uma perspectiva sócio-
histórico-cultural;
b) Discutir o trabalho com literatura para alunos do 4º ciclo do ensino
fundamental de escola pública de periferia, relacionando-o à visão sócio-histórico-
cultural de linguagem;
c) Apresentar um trabalho com literatura realizado dentro da concepção sócio-
histórico-cultural de linguagem com alunos de 4º ciclo de ensino fundamental de uma
escola pública de periferia do município de São Sebastião, SP; e
d) Analisar lingüisticamente um texto literário produzido, a partir das
intervenções da professora, pelos alunos envolvidos nesse trabalho.
Parte-se do pressuposto que o trabalho com literatura para alunos do 4º ciclo do ensino
fundamental não tem sido adequadamente realizado, uma vez que as escolas ainda trabalham
com literatura de um modo bastante restrito, excluindo dela toda possibilidade de reflexão e
de ação social.
A hipótese desta dissertação seria, então, que um trabalho em literatura dentro de uma
concepção sócio-histórico-cultural de linguagem (BAKHTIN, 1992/2003, MOITA LOPES,
2002; VYGOTSKY, 1984/2003), nesse período de transição da infância para a juventude
(BRASIL, 1998a), poderia muito contribuir no processo de desenvolvimento do leitor crítico
de texto literário (BRASIL, 1998b; MOITA LOPES, 2002).
A observação de algumas proposições do trabalho de Vygotsky e de Bakhtin talvez
justifique melhor essa hipótese de pesquisa.
Para Vygotsky (1984/2003), a linguagem é social porque “todas as funções no
desenvolvimento da criança [e a linguagem é uma dessas funções] aparecem duas vezes:
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)” (VYGOTSKY,
1984/2003, p.75. Grifos do autor) e manifesta-se na interação.
Conforme Bakhtin (1992/2003, p.300), a linguagem é histórica porque “o falante não é
um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome
pela primeira vez”. Assim, todo enunciado é constituído de outros enunciados que são levados
em conta no momento da interação e a eles responde, ou seja, “rejeita, confirma, completa,
baseia-se neles, subentende-os como conhecidos” (Bakhtin, 1992/2003, p.297), conforme a
visão que se tem do interlocutor.
Também de acordo com Vygotsky (1984/2003, p.54), a linguagem é cultural porque,
por meio da utilização de signos, “conduz os seres humanos a uma estrutura específica de
comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de
processos psicológicos enraizados na cultura.”, a tudo que é transmitido de geração a geração
naquele grupo social.
Postulados esses três conceitos, considera-se que a literatura, que tem como matéria
prima a linguagem, possa ser entendida como a materialização lingüística de questões sociais,
históricas e culturais. E, compreendida dessa forma, estudar literatura passaria a ser o mesmo
que estudar como se realiza o processo de interação por meio da linguagem; passaria a ser o
mesmo que estudar o discurso e suas formas de ação.
Estudar literatura como uma manifestação discursiva pode ser bem mais atraente para
o adolescente da sociedade atual, uma vez que suas idéias, apresentadas nas aulas de
literatura, poderão gerar discussões que, no contexto da sala de aula, de acordo com Moita
Lopes (2002), muito colaborarão na constituição das identidades desses adolescentes nascidos
em um mundo pós-moderno (HALL, 2005; MASCIA, 2003, 2004, 2005; SANTOS,
1980/1996), globalizados (BAUMAN, 1999; HALL, 2005) e conhecedores das novas
tecnologias (HALL, 2005; SANTOS, 1980/1996).
O prazer gerado pelas atividades realizadas terá também papel fundamental na
motivação dos alunos, o que, em realidades sociais de periferia (como no caso da escola onde
foi realizada esta pesquisa) pode vir a facilitar o trabalho com o adolescente, auxiliando-o a
compreender a si mesmo, ao mundo onde vive e à própria literatura (BAKHTIN, 1992/2003;
MOITA LOPES, 2002; VYGOTSKY, 1984/2003), de uma maneira interessante, agradável e,
ao mesmo tempo, crítica e participativa.
Por meio de reflexões da/pela linguagem, o trabalho com literatura poderá dar ao
aluno a possibilidade de, com a análise de uma situação (a leitura de um texto literário, por
exemplo, realizada em discussão com os colegas e o professor), desenvolver-se criticamente
e, se for de sua escolha, mudar de atitude4. Sabe-se, no entanto, que, para que haja mudança, é
preciso estar atento para a qualidade das interações entre professores e alunos (CORACINI,
2006; ROJO, 1998).
Nas escolas de periferia5, onde muitas vezes os alunos estão verdadeiramente à
margem da sociedade, sem as condições básicas de sobrevivência (moradia, alimentação,
saúde, higiene), e com raríssimo acesso à cultura letrada, cabe à escola o papel de integrar
seus alunos ao meio social e fazer com que eles saiam das condições de marginalizados por
meio de mudanças aceitas por essa mesma sociedade que os exclui. A arte, que no caso desta
pesquisa é a literatura, definida por Vygotsky (1999) como o mais forte instrumento na luta
pela existência e como forma socialmente aceita de manifestações diversas, pode, sim, ser um
caminho de inclusão social.
Para que se realize um estudo mais aprofundado das idéias apresentadas até aqui, esta
dissertação dividir-se-á em quatro capítulos, sendo que no primeiro será realizada uma revisão
4 As mudanças de atitude, a partir do estudo da linguagem como instrumento para um agir comunicativo, podem não acontecer, depende do interesse dos sujeitos envolvidos na ação comunicativa. No entanto, acredita-se que é obrigação da escola dar a eles oportunidade de conhecer novas possibilidades de ação. 5 De acordo com Moura e Ultramari (1996, p. 10), “a noção de periferia refere-se a um lugar longe, afastado de algum ponto central. Todavia, esse entendimento meramente geométrico não representa a verdadeira relação entre o centro e a periferia das cidades. Neste caso, os afastamentos não são quantificáveis apenas pelas distâncias físicas que há entre os dois, mas, sim, revelados pelas condições sociais de vida que evidenciam nítida desigualdade entre os moradores dessas regiões da cidade”.
de bibliografia na área de Lingüística Aplicada sobre os principais conceitos teóricos que
embasam esta pesquisa.
O segundo capítulo abordará um breve histórico dos conceitos de literatura e
apresentará a visão de literatura dentro de uma perspectiva sócio-histórico-cultural de
linguagem.
O terceiro capítulo trará a metodologia de trabalho adotada nesta pesquisa, bem como
uma descrição minuciosa das aulas de literatura realizadas com alunos de 4º ciclo de ensino
fundamental (7ª série) de uma escola pública de periferia do município de São Sebastião.
O quarto capítulo trará uma produção desses alunos e sua respectiva análise
lingüística, a partir das categorias de análise propostas por Bronckart (1999).
À guisa de conclusão, serão feitas algumas considerações a respeito do percurso desta
dissertação, bem como algumas sugestões de possíveis caminhos para realização de outras
pesquisas na área, uma vez que há a consciência de que o assunto não será esgotado com os
estudos que aqui irão se realizar.
No final do trabalho, encontram-se dois apêndices: no primeiro, Etapas das aulas de
leitura de textos literários, há a descrição das ações da professora para a realização das aulas
de leitura; como critérios de seleção das obras e modo de apresentação dos livros, entre outras
coisas; no segundo, há o modelo da ficha utilizada para registro dos nomes dos alunos e dos
livros lidos por eles durante o bimestre.
Na seqüência, podem ser encontrados, ainda, quatro anexos: o primeiro, com a lista
dos livros utilizados durante as aulas de leitura; o segundo, com as referências das obras
analisadas com os alunos; o terceiro, com a transcrição integral do conto Um apólogo, de
Machado de Assis; e o quarto, com as informações referentes ao registro desta pesquisa no
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté.
Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe etc.), com a sua entonação, sua tonalidade valorativa-emocional. A princípio eu tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção inicial de mim mesmo. [...] Como o corpo se forma inicialmente dentro do seio (corpo) materno, assim a consciência do homem desperta envolvida pela consciência do outro. Mais tarde começa a adequar a si mesmo as palavras e categorias neutras, isto é, a definir a si mesmo como homem independentemente do eu e do outro (BAKHTIN, 1992/2003, p. 373-374).
1. A LA e práticas sociais de linguagem: reflexões críticas sobre o agir comunicativo
A LA é uma área de estudo bastante nova na sociedade brasileira. A criação do
primeiro programa de pós-graduação em LA ocorreu em 1970, na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. No entanto, conforme indica Celani (1992), somente em julho de
1990, com a criação da Associação de Lingüística Aplicada do Brasil (ALAB), é que os
membros dessa área passaram a se reconhecer como um grupo com identidade e status
próprios.
Interpretada no início como somente relacionada ao ensino e aprendizagem de línguas,
como consumidora, e não como produtora de teorias, como simples ponto de intersecção de
várias disciplinas interessadas no estudo da linguagem (CELANI, 1992); a LA, atualmente, é
vista como uma área em que os problemas humanos derivados dos vários usos da linguagem
são estudados, em situação de igualdade, com todas as outras disciplinas que se preocupam
com a linguagem. Como exemplifica Celani,
em uma representação gráfica da relação da LA com outras disciplinas com as quais ela se relaciona, a LA não apareceria na ponta de uma seta partindo da Lingüística. Estaria provavelmente no centro do gráfico, com setas bidirecionais dela partindo para um número aberto de disciplinas relacionadas com a linguagem, entre as quais estaria a Lingüística, em pé de igualdade, conforme a situação, com a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, a Pedagogia ou a tradução (CELANI, 1992, p. 21).
A LA tornou-se, assim, multidisciplinar. O lingüista aplicado6, dentro dessa visão, é o
profissional que vai, a partir de um problema de uso da linguagem em diferentes práticas
sociais, buscar possíveis análises teóricas em diferentes disciplinas para tentar esclarecê-lo
(MOITA LOPES, 1996). Contudo, como observa Lopes-Rossi (2002b), “dependendo do tema
e do objetivo da pesquisa em LA, a interdisciplinaridade pode ser maior com algumas áreas
específicas”. Como o contexto social de linguagem desta pesquisa é o escolar, e em especial
de uma escola pública de periferia, será necessário buscar alguns conceitos de teorias da área
da Educação, da Literatura e da Sociologia, por exemplo, para ampliar o cenário conceitual de
apoio.
A Literatura e a Educação são duas áreas de conhecimento que há muito tempo vêm se
ajudando ou até mesmo se confundindo. A literatura, que já foi entendida como forma de 6 O termo lingüista aplicado é comumente utilizado para designar pesquisadores da área da LA, e pode ser encontrado nos estudos de Damianovic (2005); Moita Lopes (1996; 2002; 2003a; 2003b); entre outros.
educar crianças e adultos (COELHO, 1981/1987; LAJOLO, 2001b), com conteúdos de cunho
pedagógico e moralista, hoje vê a Educação, mais especificamente o trabalho realizado nas
escolas, como um dos principais responsáveis pela sua divulgação e manutenção (LAJOLO,
2001b).
É a escola que tem respondido, ao longo das últimas décadas, pela distinção entre o
que é um texto literário do que não é um texto literário. Convém observar, no entanto, que
“uma obra literária é um objeto social muito específico. Para que ela exista, é preciso, em
primeiro lugar, que alguém a escreva e que outro alguém a leia” (LAJOLO, 2001b, p.17).
Dessa forma, entendida a obra literária como um objeto social, aproxima-se a literatura à área
de estudo em que se encontra esta pesquisa: a LA.
Estudos de diferentes formas de manifestações populares, classificadas aqui como
literárias, geradas em um mundo pós-moderno, globalizado, com as novas tecnologias, têm
conseguido desvendar, por meio das análises dos discursos produzidos, faces até então ocultas
da sociedade.
Para que se dê prosseguimento a esta pesquisa, definir-se-ão, a seguir, discurso e
sujeito, dois conceitos importantíssimos na área da LA.
1.1 O sujeito e o discurso
Segundo Moita Lopes, discurso é “uma forma de co-participação social” (2002, p.30)
na qual “os participantes discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao
envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e institucionais
particulares” (MOITA LOPES, 2002, p.30).
Essa definição de discurso está baseada nas teorias de Bakhtin (1992/2003, p.274),
para quem “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de
determinados falantes, sujeitos do discurso”. Esses sujeitos, pessoas envolvidas em um
emaranhado de relações sociais, históricas, culturais; produzem seus discursos sempre a partir
de condições determinadas pela enunciação. Assim,
todo enunciado (...) tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa compreensão) (BAKHTIN, 1992/2003, p. 275).
O discurso, por essa perspectiva, torna-se um enunciado “pleno das palavras dos
outros” (BAKHTIN, 1992/2003, p. 294), palavras essas que são assimiladas, reelaboradas e
reacentuadas de acordo com a visão que se tem de seu interlocutor (BAKHTIN, 1992/2003).
Dessa maneira, na prática discursiva, são reveladas as formas que os participantes da
interação – sujeitos do discurso – compreendem o mundo a sua volta, a si mesmos e aos
outros participantes desse mundo (MOITA LOPES, 2002).
A percepção de que o discurso é resultado de interações entre sujeitos, em
determinadas condições sociais, faz com que a própria noção de sujeito mereça
esclarecimentos. Entende-se que o sujeito, em contraposição ao indivíduo das idéias
iluministas, que era “centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e
de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior” (HALL, 2005, p.10), não possua uma
identidade fixa, essencial ou permanente. Antes, acredita-se que a identidade do sujeito seja
“formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2005, p.13).
Para que se entenda melhor como a identidade se tornou fragmentada, serão
apresentadas, a seguir, algumas das descobertas que colaboraram para essa transformação ao
longo das últimas décadas, até alcançar como os estudos atuais em LA enxergam a questão da
identidade em sala de aula.
1.1.1 Como a identidade do sujeito pós-moderno se tornou fragmentada
De acordo com Santos (1980/1996), entende-se por pós-modernismo “as mudanças
ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950 quando, por
convenção, se encerra o modernismo (1900-1950)”. Segundo Mascia (2003), “ser pós-
moderno não é uma filiação partidária, mas uma disposição, uma atitude, uma sensibilidade
de encarar e questionar o mundo à sua volta”. Dessa forma, a pós-modernidade se apresenta
não como um período de definições cristalizadas, mas como um período aberto a grandes
discussões a respeito dessas definições:
Parafraseando Moita Lopes (2002, p.207), o que se pretende com as análises a seguir é
tentar desconstruir o discurso da pós-modernidade, mostrando como ele foi construído. Por
meio da análise das mudanças ocorridas em outras áreas de conhecimento, espera-se chegar à
noção de identidade que se tem hoje em LA, e que muito interfere na análise dos textos
produzidos pelos sujeitos do discurso.
Para se fazer entender a noção de sujeito dentro da pós-modernidade, será realizado
um breve histórico a respeito das fases, segundo Hall (2005), que levaram a um
descentramento do sujeito e à noção de sujeito pós-moderno.
Segundo Hall (2005), a transformação social da idéia do sujeito moderno, centrado,
consciente de seus atos, para a idéia do sujeito pós-moderno, cindido, permeado pelo
inconsciente, ocorreu graças a descobertas de estudiosos de diversas áreas. Essas descobertas,
que serão apresentadas resumidamente a seguir, foram chamadas pelo autor de momentos de
descentração do sujeito e são de grande importância para se compreender a noção do sujeito
pós-moderno com a qual se trabalhará nesta pesquisa.
A primeira descentração do sujeito, de acordo com Hall (2005), refere-se às noções de
sociedade e trabalho e tem origem nos estudos de Marx, com a definição de que os homens só
são capazes de fazer a história a partir das condições que lhe são dadas.
Seus novos intérpretes [de Marx] leram isso no sentido de que os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os “autores” ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura que lhe foram fornecidos por gerações anteriores (HALL, 2005, p.34-35).
Com os estudos das obras de Marx, estava aberta a discussão a respeito da influência
do social na formação do sujeito. Um dos grandes leitores das obras de Marx foi o próprio
Vygotsky, que muito contribuiu para a noção do sujeito como produto do meio social. No
entanto, para Vygotsky (1984/2003), o sujeito simplesmente não está passivo ante o meio,
mas sim interage com ele, modificando ao mundo e a si. E na idéia de que não há passividade
entre o sujeito e o meio em que se encontra, chega-se novamente a um conceito também já
apresentado nesta pesquisa: a noção de dialogia, em Bakhtin (1992/2003), em que os
discursos refletem e refratam a realidade em que seu sujeito produtor está inserido.
No percurso de descentração do sujeito, Hall (2005) apresenta Louis Althusser, um
dos leitores da obra de Marx, que teorizou sobre a existência dos Aparelhos ideológicos do
estado, capazes de determinar as atitudes do homem e controlar, embora inconscientemente,
todas suas decisões. Estava questionada a noção do homem enquanto sujeito controlador de
todos os seus atos.
A segunda etapa da descentração do sujeito ocorre na área da psicanálise. Os estudos
de Freud e a descoberta do inconsciente, no início do século XX, acabam por balançar mais
uma das noções do sujeito moderno. Hall afirma que
a teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma “lógica” muito diferente daquela da Razão, arrasa com o conceito do sujeito cognoscente e racional provido de uma identidade fixa e unificada – o “penso, logo existo”, do sujeito de Descartes (HALL, 2005, p.36).
E na seqüência dos estudos de Freud, Hall (2005) apresenta Lacan, que desenvolve a
teoria de que a noção que temos de nós mesmos enquanto seres inteiros e unificados ocorre no
que ele optou chamar “fase do espelho”. Nesta fase, a criança desenvolve a visão de si a partir
da visão das pessoas que a cercam e do próprio espelho.
Como apresenta Costa (2005), a visão da imagem especular repercute na criança de
modo a despertar uma forma de identidade absolutamente humana:
Uma identidade que é ao mesmo tempo pessoal e social, na medida em que estabelece uma relação entre o organismo e sua realidade, ou seja, entre o sujeito e o mundo circundante. Diante do espelho, a criança identifica-se com sua imagem ao mesmo tempo em que , reconhecendo os limites desta, percebe tudo aquilo que a circunda, mas que, não sendo ela, é o outro. Esse processo projetivo estaria, segundo o autor, na origem do sujeito e de todas as formas pelas quais ele se manifesta (COSTA, 2005, p.26).
A identidade vista em relação aos outros e ao mundo circundante passa a ser entendida
não como algo acabado, inato, mas como um processo inconsciente e em constante
formação7. A idéia de que a identidade não é algo acabado, mas antes se orienta na relação do
sujeito com meio e com os outros, traz para a discussão Moita Lopes (2002, p.198), para
quem as “identidades são múltiplas, posto que dependem das práticas discursivas em que
atuamos, e estão sempre em processo, já que estão se construindo e reconstruindo nessas
práticas, isto é, são fragmentadas”.
O terceiro descentramento descrito por Hall (2005) refere-se aos estudos lingüísticos
de Saussure. A noção de que a língua é um produto social e de que ela preexiste ao indivíduo
acaba por abalar mais um dos pilares da constituição do sujeito moderno:
7 Hall (2005) sugere, nesse caso, o termo identificação ao termo identidade, devido à sua incompletude. Nesta dissertação, devido à compatibilidade com outros teóricos aqui utilizados, adotar-se-á o termo identidade, entendendo-a, de qualquer modo, como algo incompleto, fragmentado.
a língua é um sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós. Não podemos, em qualquer sentido simples, ser seus autores. Falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais (HALL, 2005, p. 40).
Com relação à cultura e à ativação de significados embutidos na língua, soma-se a
idéia de Vygotsky (1987/2000, p. 190), para quem “uma palavra é um microcosmo da
consciência humana”. A essa noção de língua como produto social, acrescentam-se as noções
já discutidas nesta pesquisa, que dizem que “o falante não é um Adão bíblico, só relacionado
com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez” (BAKHTIN,
1992/2003, p.300) e que “tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um
enunciado, não pertence só a ele” (BRAIT, 2003, p.14).
Hall (2005) continua apresentando Jacques Derrida, leitor da obra de Saussure, que
desenvolve sua teoria de que o falante individual não pode, nunca, fixar o significado de uma
forma final, incluindo o significado de sua identidade. De acordo com Hall (2005),
tudo que dizemos tem um “antes” e um “depois” – uma “margem” na qual outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença). Ele está constantemente escapulindo de nós (HALL, 2005, p.41).
O quarto descentramento ocorre a partir dos estudos de Michel Foucault (2005c) e da
descoberta de um poder disciplinar cuja principal função é manter as vidas, as atividades, o
trabalho, as infelicidades e os prazeres do indivíduo, bem como produzir “um ser humano que
possa ser tratado como um corpo dócil” (DREYFUS; RABINOW, 1982 apud HALL, 2005,
p.42).
A pós-modernidade aparecerá, assim, também como já foi abordado na seção 1.1 desta
dissertação, com referências às obras do próprio Foucault (2005a; 2005b; 2005c), como um
período de revoluções no cotidiano, em oposição aos temas grandiosos como “Revolução,
Democracia Plena e Ordem Social” (SANTOS, 1980/1996, p.29).
O quinto, e último, descentramento do sujeito proposto por Hall (2005) refere-se aos
movimentos feministas e a todos os outros movimentos que surgiram a partir dele: revoltas
estudantis, movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os
movimentos revolucionários do terceiro mundo, os movimentos pela paz e tudo aquilo que
está associado à guerra do Vietnã.
Tais movimentos tiveram importantes papéis na formação da identidade do sujeito
pós-moderno, uma vez que questionaram verdades tidas como universais e possibilitaram
debates nas sociedades a esse respeito. Estava, assim, aberta a chamada Pós-modernidade.
Realizou-se, nessa seção, a partir de uma linha proposta por Hall (2005) e com a
inclusão de outros autores de acordo com a teoria desta pesquisa, um breve estudo das
descobertas que acabaram por desestruturar a noção de sujeito cartesiano e gerar a noção de
um sujeito fragmentado.
Compreender a identidade não como algo finito, acabado, mas como resultado das
diferentes relações sociais em que o sujeito está inserido será importante para a proposta de
trabalho que se faz nesta dissertação. Se as identidades não estão prontas, se o sujeito não
Movimentos mundiais
feministas, estudantis,
antibelicistas, entre outros
Freud e a descoberta do inconsciente
Saussure e a noção de que a
língua é um produto social
Marx e a noção de
sociedade e trabalho
Foucault e a descoberta de
um poder disciplinar
Como a identidade do sujeito pós-moderno se
tornou fragmentada?
Fig. 01 – FATORES QUE, SEGUNDO HALL (2005), CONTRIBUIRAM PARA O DESCENTRAMENTO FINAL DO SUJEITO CARTESIANO
consegue, conscientemente, dominar todas as circunstâncias de produção de discurso e, ainda
mais, se sua identidade se forma a partir dessas circunstâncias, a qualidade das relações terá
papel fundamental para a constituição dessas identidades.
Em seguida, serão apresentados alguns pontos de estudos comuns para a LA e a
Educação.
1.2 Lingüística Aplicada e Educação
Atribui-se a Vygotsky (1984/2003; 1987/2000) os primeiros estudos a considerarem o
meio social como essencial para a constituição do sujeito. Conforme aponta Freitas (1998, p.
139), “para Vygotsky, o sujeito não se constitui de dentro para fora, nem é reflexo passivo do
meio, mas é resultado da relação. Ele se constitui, pois, na relação com o outro”.
Nessa perspectiva, Baltar (2004, p.68) afirma, a partir das idéias de Bronckart (1999),
que “toda produção lingüística é uma ação social situada, levada a efeito por indivíduos
singulares em formações sociais específicas”, e que esses textos e discursos resultantes das
interações humanas são as únicas manifestações empiricamente observáveis da linguagem
como forma de ação social.
De acordo com o próprio Bronckart (1999), são necessários três parâmetros para que
se entenda a produção de um texto como resultado de uma ação de linguagem: 1) a situação
de ação de linguagem, com a análise do contexto de produção e das propriedades dos mundos
físico, social e subjetivo, e do conteúdo temático; 2) ação de linguagem, base de orientação a
partir da qual o agente produtor de um texto empírico deverá tomar um conjunto de decisões;
3) a noção de intertexto, inserção de outros textos empíricos em seu próprio texto.
Na Educação, todas essas discussões a respeito de discurso e sujeito começaram a se
alastrar desde 1998, com a publicação pelo governo federal dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, implicando mudanças significativas no trabalho em sala de aula.
Observa-se que, para o ensino e a aprendizagem de uma língua, seja ela materna ou
não, a concepção que se tem de linguagem muito influenciará nas formas de trabalho com
essa língua. O conceito de linguagem, entretanto, passou por grandes transformações no
último século, causando profundas modificações nas teorias de ensino-aprendizagem. Para
que se possa compreender a noção de linguagem que orienta esta pesquisa, será realizado, a
seguir, um breve comentário a respeito das diferentes concepções de linguagem do século
XX.
Inicialmente, na tentativa de delimitar o objeto de estudo da Lingüística – a linguagem
– e buscando diferenciar a linguagem humana da linguagem animal, Câmara Júnior
(1941/1977) apresenta a seguinte definição: é considerada linguagem toda atividade mental
em que “o manifestante tenha tido intenção de manifestar-se”, com um propósito claro e
definido, com significação permanente, “possível de repetir-se com a sua individualidade
nítida em circunstâncias idênticas”, que se prestam à divisibilidade na representação, isto é, na
conseqüente expressão vocal (CAMARA JUNIOR, 1941/1977, p.15-16).
Na seqüência, fechando-se o objeto de estudo da Lingüística na linguagem humana,
podem ser percebidas três grandes mudanças evolutivas8 nas concepções de linguagem no
século XX: em um primeiro momento, inaugurando os estudos da linguagem em uma visão
estruturalista, encontra-se Saussure. Como apresentam Silva e Koch (1995, p.8), Saussure
considerava a linguagem como um “fenômeno unitário no qual os vários elementos se
interrelacionam” e, para estudá-la, partiu de dicotomias básicas como língua e fala, sincronia
e diacronia, sintagma e paradigma. No entanto, de acordo com Fanchi (2002, p. 38-39), “a
concepção institucionalizada da linguagem em Saussure (...) conduz a um esvaziamento da
própria ‘linguagem’ e a um privilégio da noção de ‘língua’”, uma vez que, para ele, a
linguagem “não tem por si nenhuma propriedade que a determine”, enquanto a língua
“constitui um princípio de ordenação e de classificação” (FANCHI, 2002, p. 39).
Em um segundo momento, a linguagem e a língua são consideradas “a partir de
noções correlacionadas com a função da comunicação” (FANCHI, 2002, p.40). Essa noção
funcional9 de linguagem, como apresenta Fanchi (2002), desaconselha a busca da significação
pela explicitação da estrutura das línguas naturais e sugere um estudo das intenções, das
funções da linguagem como elementos iniciais para construção de uma teoria lingüística.
O terceiro momento utilizado para apresentação das concepções de linguagem é o que
se vive atualmente, em que, fazendo uso de conceitos da lingüística e da própria LA, os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para os 3º e 4º ciclos do ensino 8 Entenda-se, aqui, evolução no sentido de “passagem sucessiva de coisas, pessoas, acontecimentos” (FERREIRA, 1999), não implicando necessariamente, a aproximação a um conceito superior ou verdadeiro. Parafraseando Fanchi (2002), os diferentes traços de concepções de linguagem não são, necessariamente, incompatíveis, visto que transparecem em teorias lingüísticas contemporâneas. No entanto, geram mudanças metodológicas importantes na área de Educação, uma vez que “por trás da troca de termos, outras concepções estão envolvidas” (GERALDI; CITELLI, 2001, p. 19). 9 Tais idéias, ainda hoje, aparecem bastante em livros didáticos e materiais de apoio para professores, muitas vezes convivendo de forma pacífica com outras concepções de linguagem.
fundamental (doravante PCN) conceituam linguagem “como ação interindividual orientada
por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais
existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história”
(BRASIL, 1998b, p.20).
Ressalta-se novamente que uma mudança na concepção de linguagem gera muito mais
do que simples troca de definição. Mudam-se as concepções de linguagem, mudam-se as
formas de ensino e aprendizagem de língua.
Se, conforme definido anteriormente, linguagem, nesta pesquisa, está dentro de uma
concepção sócio-histórico-cultural, ela corresponde à visão apresentada por Bakhtin
(1992/2003), para quem a linguagem é sociointeracional, histórica, dialógica e polifônica10.
Para esclarecer as mudanças da concepção de linguagem e as implicações dessas para o
trabalho em sala de aula, os PCN definem que
interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias – ainda que possam ser inconscientes –, mas decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer: quando um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que têm, da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e da seleção de recursos lingüísticos. É evidente que, num processo de interlocução, isso nem sempre ocorre de forma deliberada ou de maneira a antecipar-se à elocução. Em geral, é durante o processo de produção que as escolhas são feitas, nem sempre (e em todas) de maneira consciente (BRASIL, 1998b, p.21).
Encontram-se, no trecho citado acima, muitas das abordagens teóricas estudadas pela
LA atualmente. É, pois, na presença do outro com o qual se relaciona no discurso – e que
determina a forma com que vai dizer algo – que o sujeito se percebe à luz do que o outro
significa para ele. As identidades sociais são, portanto, construídas por meio das práticas
discursivas com o outro (MOITA LOPES. 2002). Dessa forma, é correto afirmar que um
discurso está sempre relacionado ao contexto social em que se encontra, refletindo e
refratando (BAKHTIN, 1992) seu sujeito produtor dentro de determinado momento histórico
e de um contexto social.
10 Maiores informações dos estudos de Bakhtin sobre linguagem podem ser encontradas na seção 1.3.2 deste capítulo.
A LA, como área de estudos e reflexão desses discursos situados sócio-historicamente,
tornou-se uma importante ciência capaz de desvendar estruturas até então ocultas da
sociedade. Como afirma Damianovic (2005), “o lingüista aplicado pode auxiliar o ser humano
a conscientizar-se sobre o modo como a linguagem contribui para o domínio de algumas
pessoas sobre as outras”. Ou seja: se todo discurso é uma representação feita pelo sujeito que
o produziu sobre a sociedade em que ele se encontra e sobre a visão que ele, produtor, tem de
seu interlocutor, é possível, sem grandes revoluções, por meio de estudos de casos
particulares, realizar uma complexa análise da sociedade e dos problemas que nela se
encontram “a fim de tentar melhorar e mudar o mundo estruturado na desigualdade”
(DAMIANOVIC, 2005).
Nas escolas em geral e, de um modo bastante particular, nas escolas de periferia, foco
desta pesquisa, essa noção do discurso como construção sócio-histórico-cultural possibilitará,
por meio da análise da produção dos discursos escolares (os de sala de aula, provenientes da
relação diária entre professores e alunos; e os oficiais, materiais didáticos para alunos e os
próprios manuais – ou parâmetros – de orientação para professores) uma mudança nas
práticas escolares em geral e no papel do professor e do aluno nessas mesmas práticas. Como
observa Freitas (1998 , p.176),
a escola deve procurar encarar professores e alunos como sujeitos que se debruçam sobre um objeto a conhecer e que compartilham, no discurso de sala de aula, contribuições exploratórias na construção do conhecimento. É importante, aí, essa dimensão interlocutiva como princípio básico do processo de ensino e aprendizagem, em que professor e aluno dialogam como locutor e interlocutor. Ainda aí, percebe-se, na assimetria de posições de poder por meio do discurso, uma possibilidade de exercício democrático em que o saber e a ciência são construídos a partir do diálogo (FREITAS, 1998 , p.176).
Dessa forma, na análise desses discursos que são construídos a partir dos diálogos em
sala de aula, a LA vem se tornando um importante meio de denúncia de problemas sociais. E
se é verdade que, como afirma Foucault (2005b), a maior força de transformações sociais do
sistema está nas resistências, que permitem que o sujeito, a partir da transformação da sua
vida, transforme a sociedade em que se encontra, a análise desses discursos de resistência
poderá proporcionar mudanças significativas na sociedade.
Nas escolas, lugares privilegiados por reproduzirem em escala menor os conceitos (e
preconceitos) transmitidos pela sociedade, a LA encontrou solo bastante fértil para seus
estudos. São inúmeras as pesquisas, entre elas Castro 2002, 2004; Castro; Romero, 2005;
Machado, 2004; Magalhães, 2004; Smolka, 1994, que analisam as relações entre professores e
alunos, entre alunos e alunos, entre coordenação e professores, e outros níveis da hierarquia
escolar.
Nas salas de aulas de línguas, em especial de língua materna, que é o caso desta
pesquisa, as discussões a respeito dos discursos sociais ficam ainda mais evidentes. Segundo
Moita Lopes (2002),
na sala de aula de línguas, não necessariamente se fala, se lê ou se escreve sobre língua ou discurso, isto é, os conteúdos explícitos do curso (...). A aula de língua oferece uma possibilidade infinita de trazer conhecimentos outros para o foco de atenção, tendo, como fontes principais de orientação do professor, a adequação do aprendiz a esses conhecimentos e sua capacidade discursiva, embora, é claro, aquilo sobre o que se usa a linguagem em sala de aula, isto é, os conhecimentos acionados pelo professor, dependa, crucialmente, da sua visão de linguagem, visão de mundo, seus projetos políticos, crenças, valores, preconceitos etc (MOITA LOPES, 2002, p.194).
Percebe-se, pela referência à possibilidade de outras discussões além dos conteúdos
específicos de linguagem durante as aulas de Língua Portuguesa, a importância das discussões
realizadas nas salas de aula de línguas para a constituição do sujeito. Felizmente, o acesso de
professores da escola pública aos cursos de especialização em LA tem proporcionado o que,
de acordo com Moita Lopes (1996), optou-se por chamar pesquisa-ação11. Esse tipo de
pesquisa, em que o próprio professor analisa suas ações em sala de aula, por meio das teorias
da LA, apresenta-se, na visão do autor, “a) como uma maneira privilegiada de gerar
conhecimento sobre a sala de aula, devido à percepção interna do processo que o professor
tem; e b) como uma forma de avanço educacional, já que envolve o professor na reflexão
crítica do seu trabalho” (Moita Lopes, 1996, p.89).
Espera-se, com isso, que diminuam as divergências entre o saber desenvolvido nas
faculdades e a realidade das escolas de ensino básico. O lingüista aplicado do novo milênio,
como mostra Damianovic (2005), é o pesquisador capaz de “assumir projetos pedagógicos,
políticos e morais para tentar propor saídas para problemas de linguagem no mundo real e
mudar as circunstâncias de desigualdade”.
11 Segundo Oliveira (1997/2003), a contribuição de Vygotsky para o desenvolvimento dos procedimentos da pesquisa-ação é extremamente relevante: “o pesquisador, nessas modalidades de pesquisa, coloca-se como elemento que faz parte da situação que está sendo estudada, não pretendendo ter uma posição de observador neutro. Sua ação no ambiente e os efeitos dessa ação são, também, material relevante para a pesquisa. Como a situação escolar é um processo permanentemente em movimento, e a transformação é justamente o resultado desejável desse processo, métodos de pesquisa que permitam captar transformações são os métodos mais adequados para a pesquisa educacional.”.
Nas escolas públicas de periferia, como é o caso desta pesquisa, espera-se que, no
mínimo, as análises realizadas sirvam para a disseminação de pontos de resistência
(FOUCAULT, 2005b) às injustiças sociais. Mesmo que, na sala de aula, as posições de
resistência não sejam verbalizadas, elas podem estar sendo desenvolvidas de forma encoberta
e podem vir à tona nesse ou em outros contextos (MOITA LOPES, 2002). Dessa forma, “a
conscientização da natureza socioconstrucionista do discurso e da identidade social é um
ponto relevante em qualquer processo de ensinar/aprender línguas” (MOITA LOPES, 2002, p.
54).
1.2.1 A relação professor e aluno de escola pública de periferia no processo de formação
do leitor literário
Um dos principais objetivos ao se realizarem trabalhos na educação é a possibilidade
de mudança. A escola, e em especial a escola de periferia, como a que é foco desta pesquisa,
aparece como um dos mais importantes espaços institucionais para a construção – ou para a
fragmentação (MOITA LOPES, 2002) – da identidade dos sujeitos que a freqüentam. Ignorar
as singularidades dessa fase, no caso, dos adolescentes e jovens, seria perder a função de
mediar o processo de construção de cidadania desses alunos (BRASIL, 1998a, p.103).
De acordo com Moita Lopes (1995 apud MOITA LOPES, 2002, p.38), “os
significados gerados em sala de aula têm mais crédito social do que em outros contextos,
particularmente devido ao papel de autoridade que os professores desempenham na
construção do significado”. A escola torna-se, dessa maneira, um espaço privilegiado para a
formação das identidades dos envolvidos mais diretamente no processo educacional: os
professores e alunos.
No entanto, essa mesma escola, que passa por importantes transformações12, muitas
vezes deixa de ser o lugar em que se espera que os alunos (todos eles, inclusive os de classes
populares) tenham “acesso aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania”
(BRASIL, 1998b, p.19), e consigam, como cidadãos, produzir textos eficazes nas mais
12 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 9.394, de 1996, que implantou o ensino por ciclos; e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 8.069, de 1990, fizeram com que muitos dos alunos, antes excluídos da escola, conseguissem permanecer nela, o que gera mudanças na clientela das escolas, principalmente das escolas públicas.
variadas situações, e aparece como um forte local de discriminação e perpetuação das
diferenças sociais.
Segundo Costa (1987 apud KEIL, 1992, p.124) “a escola tem em relação aos alunos
das classes populares uma idéia de impureza moral e somente ela pode ‘ajudá-los’,
‘descontaminá-los’ com seus discursos e com suas práticas ‘civilizadoras’”. No entanto, a
escola, que era vista como capaz de gerar mudanças e proporcionar acesso a outros benefícios
sociais, torna-se, muitas vezes, responsável pela confirmação e manutenção da segregação por
que se passa a sociedade atualmente.
Conhecer onde e como as identidades dos alunos estão sendo construídas –
construções essas sócio-histórico-culturais (BRASIL, 1998a, p.104) – aparece, então, como
uma possibilidade de abertura para reflexões e, certamente, transformações. Como mostram
os PCN,
a escola não pode perder de vista que particularmente os adolescentes e jovens dos setores populares vêm sendo socializados no interior de uma cultura da violência, marcada por discriminação e estereótipos socialmente construídos, que tende a produzir uma identidade inferiorizada. Essa cultura está presente nas mais diferentes instâncias, inclusive na escola, e impede o desenvolvimento pleno de cada um (BRASIL, 1998a, p.109).
Essa cultura de violência, gerada muitas vezes em decorrência da própria localização
espacial das comunidades periféricas, “arredores do centro, limites terminais, margens, áreas
distantes no espaço e distantes, também, do acesso à satisfação das necessidades mais
comuns” (MOURA; ULTRAMARI, 1996, p.53), acaba se refletindo de maneira brutal em
sala de aula. Como mostra Dotti (1992, p. 25-26), “é nas escolas dos bairros periféricos com
menor renda que percebemos um maior índice de fracasso escolar. Os mesmos excluídos da
escola são excluídos da habitação, da alimentação, da saúde, da sociedade de uma forma
geral”.
O rompimento dessa cultura de discriminação e de estereótipos da sociedade não é
fácil. As relações entre professor e aluno na sala de aula de escolas de periferia, muitas vezes,
tendem a reproduzir, de maneira intensa e focada, conflitos externos à escola, pois
a socialidade ritualizada no espaço escolar sublinha aceitações e resistências. Na verdade, este poder afirmativo é a expressão mais pura e espontânea do querer viver. Ele recusa a atomização e joga suas forças potencializando as minúsculas atitudes do cotidiano. (...) Neste sentido pode-se assistir, tanto dentro da escola como na sala de aula, numerosos exemplos, seja com os alunos que ficam passivamente instalados face à cultura escolar e suas implicações, seja com os outros que, ao contrário, desenvolvem atitudes consideradas marginais e inapropriadas para o espaço escolar (KEIL, 1992, p. 126).
Nesses casos, os alunos, sujeitos socialmente discriminados, com possibilidades
ínfimas de ascensão social, cansados do discurso que diz que por meio da educação eles terão
suas vidas melhoradas (BRASIL, 1998a); ao entrarem no 4º ciclo do ensino fundamental,
extravasam toda revolta e angústia contra a pessoa que representa esse dizer social naquele
espaço: o professor.
Com as transformações naturais dessa faixa etária – “biológicas, psicológicas e das
formas de inserção social” (BRASIL, 1998a, p.112) – e, muitas vezes, experiências práticas
de que essa nova fase da vida não é tão simples – dificuldades nas primeiras relações afetivas,
no primeiro emprego, na escolha profissional –, os jovens, quando não encontram um espaço
aberto para o diálogo e para a reflexão sobre seus problemas, tendem a ter atitudes violentas e
debochadas, entre outras.
A solução para esses problemas, como orientam os PCN (BRASIL, 1998a, p.125),
exige “um enorme esforço de compreensão de suas causas e uma enorme disposição de
enfrentá-las”. Sabe-se que os caminhos são vários, porém todos exigem um trabalho coletivo
“de compreensão das razões não explícitas e de busca de soluções alternativas” (BRASIL,
1998a, p.125), visando ao estreitamento dos laços com alunos e comunidade. Para muitos, tal
desafio é assustador:
Assustador porque revela no gesto cotidiano escolar o ato da consciência dos alunos das classes populares expresso em formas banais ou paroxísticas de resistência – seja através de violência, do deboche, seja através de outras formas, mas sempre com a intenção rupturante do normativo que limita e mata a exuberância contida na expressão do ser. É esta ética em ato dos alunos de classes populares que torna possível a preservação de sua alma além da racionalização, e por isso que precisa ser reconhecida pelo professor (KEIL, 1992, p. 123).
O professor – ou professora – que também é “homem, mulher, esposa, pai, mãe, filho,
filha, segue determinada religião, tem suas crenças, sua visão de mundo, ocupa certa posição
social” (ROLLEMBERG, 2003, p.251) não consegue, muitas vezes, reconhecer o contexto
em que se encontra, identificar o papel que ocupa naquele espaço social e acaba tomando
como particulares as ofensas proferidas pelos alunos.
Nessa situação, até como um mecanismo de defesa, o professor retribui as ofensas
realizadas por seus alunos com mais ofensas, criando um ambiente onde a construção das
identidades se dá de modo negativo: “um jovem que convive em um ambiente em que todos o
vêem como incompetente tende a se identificar como incompetente, produzindo uma
identidade inferiorizada” (BRASIL, 1998a, p.108); em conseqüência, tende a localizar na
escola o culpado pela sua situação – o professor – que passa a assumir a identidade de culpado
pelos problemas sociais em um círculo sem fim. Segundo Keil, a
atitude astuciosa13 (que tanto incomoda os professores por não compreenderem o seu sentido) mostra-se passiva, perversa, dupla, sempre à espreita, resistindo aos massacres dos valores oficiais veiculados pela cultura escolar – é a ética em ato. Sem dúvida os alunos teatralizam, através da “arte de fachada” (na ironia, no cômico, na esculhambação) uma “dissidência interior” contra o “enquadrilhamento disciplinar”14. Efetivamente, não há aqui uma luta contra valores “civilizadores” impostos, mas uma atitude subversiva de fuga, onde a preocupação mesmo é com o presente – com a vida e com a morte de todos os dias (KEIL, 1992, p. 124).
Dificultando ainda mais a relação em sala de aula, a visão de superioridade que a
escola tem com relação a seus alunos, principalmente com relação aos alunos de classes
populares, potencializa ainda mais os conflitos já existentes. A reação dos alunos contra essa
‘civilização’ proposta pela escola se manifesta, muitas vezes, em indisciplina e agressões.
Entretanto, como mostra Fernandez (1992), para evitar que a situação chegue ao caos, em que
ninguém mais entende ninguém e todos se agridem mutuamente, é necessário perceber que
somos nós que causamos a maior agressão a nós mesmos. Não há situação que não possa ser mediatizada pelo pensamento, pelo juízo crítico, pela capacidade de elaborar e entender as situações. Toda situação, por mais terrível que seja (justamente, quanto mais complexa, melhor ainda) é um desafio para nossa capacidade criativa (FERNANDEZ, 1992, p. 169).
Exercitar essa capacidade criativa, no entanto, exige do professor muito mais que boa
vontade. Para que se vença o estereótipo que diz que o aluno não está interessado em
aprender, é necessário um estudo aprofundado da situação. Um busca constante e audaciosa
de conhecimentos que visem à solução – ou pelo menos amenização – dos problemas
existentes.
Um trabalho dentro da visão sócio-histórico-cultural da linguagem, em uma
perspectiva de que as identidades dos sujeitos se constituem na relação que eles estabelecem
com outros sujeitos, relações essas situadas sócio-historicamente, exige que a escola tenha
consciência desse dizer social reproduzido por ela e ofereça meios para romper com essa
cultura e incluir seus jovens na sociedade.
13 Atitude subversiva aos valores da cultura escolar. 14 A autora, nesse trecho, cita FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: a história da violência nas prisões. Peirópolis: Vozes, 2005.
Para isso, é fundamental ouvir o que os alunos têm a dizer, conhecer o que eles
esperam da escola, para oferecer a eles meios adequados para que atinjam seus objetivos.
Mais que isso, para que aconteça uma verdadeira interação professor-aluno e dessa interação
surja o conhecimento, creio que “é preciso que o professor queira ser o objeto de amor do
aluno” (CORACINI, 200615), assim como “é preciso que o aluno queira ser o objeto de amor
do professor” (CORACINI, 2006).
Sabe-se que isso não é fácil. Conhecer os desejos16 dos educandos e buscar meios para
ajudá-los a atingir novos conhecimentos, dentro da visão de educação que eles possuem, e não
a idealizada pelos professores, é um desafio constante para muitos professores que lecionam
em escolas do ensino fundamental de periferia atualmente. Por mais que hoje em dia os
desejos dos educandos, em especial os dos educandos de escola pública de periferia, sejam
diferentes dos desejos de uma época idealizada pelo professor como sua17, é preciso conhecê-
los, criar laços afetivos, se for da vontade do professor romper a reprodução dos dizeres
sociais que buscam a manutenção do sistema. Para rompê-la, entretanto, é preciso perceber,
como demonstra Boff (1999), que
construímos o mundo a partir de laços afetivos. Esses laços tornam as pessoas e as situações preciosas, portadoras de valor. Preocupamo-nos com elas. Tomamos tempo para dedicar-nos a elas. Sentimos responsabilidade pelo laço que cresceu entre nós e os outros (BOFF, 1999, p.99).
Considerando-se a própria alteridade dos sujeitos envolvidos em uma prática
discursiva, isto é, levando-se em consideração que a imagem que se tem de si só existe em
relação à imagem do outro com o qual se interage, esses laços serão importantíssimos para a
construção de suas identidades.
Se as relações humanas acontecem, primeiramente, em um plano social, um sujeito só
se reconhece como tal em relação a outros sujeitos (VYGOTSKY, 1984/2003); e, se a relação
entre sujeitos só ocorre em situações práticas de ação de linguagem (BAKHTIN, 1992/2003;
15 Palestra ministrada pela Profª. Dra. Maria José Coracini no dia 10 de março de 2006, durante as atividades de início do ano letivo do curso de Mestrado em Lingüística Aplicada da Universidade de Taubaté. 16 Desejo, nesta dissertação, significa, segundo o dicionário Houaiss (2006), uma expectativa consciente ou inconsciente de possuir (um objeto) ou alcançar (determinada situação que supra uma aspiração do corpo ou do espírito). 17 Observa-se, empiricamente, que muitos professores, assustados com a aparente indisciplina em sala de aula e o suposto descaso dos jovens com os conteúdos escolares, dizem sentir saudade de uma época considerada por eles como sua. São comuns dizeres como ‘O ensino, na minha época, era melhor...’, ‘Na minha época isso (indisciplina, agressividade) não existia...’.
BRONCKART, 1999) o resultado dessas ações, o discurso, é a única representação
observável das representações dos sujeitos envolvidos na interação (BRONCKART, 1999).
Em uma situação prática de ação de linguagem, uma enunciação, o enunciador
constrói tanto a sua própria identidade, como a identidade de seu interlocutor. Como em uma
situação de ação de linguagem os turnos entre enunciador e interlocutor se revezam, ora um
sujeito sendo enunciador, ora sendo interlocutor, as representações que emergem dessa
interação são mútuas. Em outras palavras, as escolhas lexicais do enunciador representam
para o interlocutor a forma como ele, enunciador, enxerga seu interlocutor, e vice-versa.
Dessa forma, acredita-se que, por meio da educação, é possível, se não resolver, pelo
menos amenizar problemas sociais provenientes de ações de linguagem. De acordo com os
PCN (1998a),
pela importância socialmente atribuída à escola, pela peculiaridade de seu papel, pelo tempo em que adolescentes e jovens nela permanecem, a escola tem um grande potencial de tornar-se um espaço no qual esses alunos vejam suas questões, dúvidas, angústias, descobertas acolhidas e trabalhadas de forma a ampliar o campo no qual constroem suas identidades e projetos (BRASIL, 1998a, p.127).
Nesse contexto, o professor, visto paradoxalmente como um misto de herói e vítima
social (CORACINI, 2003, p.250), exerce, mesmo nos dias de hoje, uma importante influência
na formação da identidade do aluno. Identidade essa que, no presente discurso da pós-
modernidade, não pode ser vista como única, racional; mas sim multifacetada, permeada pelo
inconsciente, resultado das múltiplas relações sociais praticadas pelo sujeito em diferentes
situações de uso da linguagem.
Discutiu-se, nessa seção, a complexidade das relações professor-aluno no contexto de
escolas públicas, em especial de escolas públicas de periferia, como é o caso da escola desta
pesquisa. Sendo o professor e o aluno participantes, no contexto escolar, de diversas ações de
linguagem, ambos terão suas identidades constituídas nessas ações, o que justifica a
necessidade de uma boa relação entre as duas partes para que ocorram, realmente, a
aprendizagem e os objetivos maiores da educação, como a formação de cidadãos críticos e
participativos.
Conhecer os problemas enfrentados pelos alunos, de modo a auxiliá-los a enfrentar as
situações, é papel essencial do professor.
Na seqüência, serão realizados breves apontamentos sobre os efeitos da globalização e
das novas tecnologias na constituição da identidade do sujeito dentro da Pós-modernidade,
período histórico em que se acredita viver atualmente, e em especial os efeitos causados por
todos esses discursos na faixa etária dos sujeitos desta pesquisa – alunos de 4º ciclo de ensino
fundamental – em especial dos sujeitos de escola pública de periferia.
1.2.2 Os efeitos da globalização para o trabalho em sala de aula
A globalização, à primeira vista, é uma conseqüência natural dos processos por que
passa o mundo atualmente: meios de transporte cada vez mais rápidos, que permitem a
movimentação das pessoas em espaço de tempo cada vez mais curto; novas tecnologias, que
permitem a comunicação imediata entre sujeitos em lugares distintos do planeta, bem como a
transmissão de notícias em tempo real para todas as regiões do mundo, são alguns exemplos
desses processos. Entendida como atuante em escala global, como algo que atravessa
fronteiras nacionais e integra e conecta comunidades e organizações, a globalização parece
tornar o mundo cada vez mais interconectado (HALL, 2005).
A compreensão da noção de tempo e espaço como coordenadas básicas de todos os
sistemas de representação faz com que quaisquer alterações nas relações entre tempo e
espaço, como fazem as novas tecnologias, gerem mudanças nas representações de mundo, tais
como existem atualmente. Segundo Hall (2005),
todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais. Assim, a narrativa traduz os eventos numa seqüência temporal ‘começo-meio-fim’; os sistemas visuais de representação traduzem objetos tridimensionais em duas dimensões. Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo (HALL, 2005, p.70).
Em relação à globalização, aparecendo como possibilidade de encurtamento das
distâncias em decorrência de um maior desenvolvimento dos meios de comunicação e de
transporte, logo de um menor espaço de tempo para locomoção, gera a possibilidade de se
pensar num mundo em que as diferenças não mais importarão. Como demonstra Bauman
(1999),
pouca coisa na experiência atual de vida da elite implica uma diferença entre “aqui” e “acolá”, “dentro” e “fora”, “perto” e “longe”. Com o tempo de comunicação implodindo e encolhendo para a insignificância do instante, o espaço e os delimitadores de espaço deixam de importar, pelo menos para aqueles cujas ações podem se mover na velocidade da mensagem eletrônica (BAUMAN,1999, p.20).
No entanto, nesse mundo globalizado, aqueles cujas ações podem se mover na
velocidade da mensagem eletrônica não representam a totalidade do globo terrestre. A
globalização está fora do alcance de todos. Enquanto alguns têm acesso a toda essa tecnologia
de transporte e comunicação e são capazes de passar de um lugar ao outro do mundo em
questão de horas, muitas pessoas jamais terão acesso a esse tipo de tecnologia.
À primeira vista, parece que tal situação causaria movimentos de grandes revoltas e a
possibilidade de uma descaracterização das culturas locais. O que mostra Bauman (1999),
porém, é que, apesar das “distâncias não significarem mais nada”, isso “augura para alguns a
liberdade face à criação de significado” (BAUMAN, 1999, p.25).
Dessa forma, Hall (2005) apresenta que, em vez das comunidades locais se tornarem
mais fracas devido ao bombardeio das informações globalizadas e à impossibilidade de
alcançá-las na vida real, as comunidades locais têm procurado desenvolver uma nova
articulação entre o global e o local. É claro que esse local não pode mais ser compreendido
como as comunidades locais de antigamente, sem interferência alguma de outras culturas.
Antes, deve ser entendido em meio ao mundo globalizado: “é mais provável que ela [a
globalização] vá produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e novas
identificações ‘locais’” (HALL, 2005, p.78.).
Em eventos festivos na escola desta pesquisa, observam-se apresentações tanto de
grupos folclóricos (com a puxada de rede, congada, por exemplo), como de grupos de hip-
hop. É perceptível, entretanto, que os grupos passaram por diversas influências, o que torna
possível o grupo de puxada de rede apresentar-se com caixa de som e microfone e o grupo de
hip-hop cantar músicas sobre os problemas da comunidade local.
É importante relembrar, conforme já apresentado nesta dissertação, que a comunidade
local a que se refere esta pesquisa encontra-se na periferia do município de São Sebastião, e
que a noção de periferia aqui não significa simplesmente uma localização geográfica, uma
região longe do centro da cidade. A esse respeito, registra-se a consideração de Bauman
(1999) sobre a noção de próximo e longe. Para ele,
‘próximo’ é um espaço dentro do qual a pessoa pode-se sentir chez soi, à vontade, um espaço no qual raramente, se é que alguma vez, a gente se sente perdido, sem saber o que dizer ou fazer. ‘Longe’, por outro lado, é um espaço que se penetra apenas ocasionalmente ou nunca, no qual as coisas que acontecem não podem ser previstas ou compreendidas e diante das quais não se saberia como reagir: um espaço que contém coisas sobre as quais pouco se sabe, das quais pouco se espera e de que não nos sentimos obrigados a cuidar (BAUMAN, 1999, p.20).
Fala-se de periferia como regiões que estão ‘longe’ do centro da cidade, muitas vezes
como regiões de onde realmente pouco se sabe e de onde ninguém se sente obrigado a cuidar.
As distâncias sociais evidenciam a desigualdade de acesso a tudo o que as regiões centrais
oferecem: acesso facilitado ao trabalho, ao consumo e ao lazer, entre outros (MOURA;
ULTRAMARI, 1996).
Na comunidade em que se desenvolve esta pesquisa, a possibilidade de mudanças para
regiões distantes do planeta é muito rara, devido ao alto preço dos transportes. No entanto,
observa-se a crescente presença de novas tecnologias (celular, computador com acesso à
Internet, câmeras digitais) na vida dos alunos, o que possibilita tanto a globalização dos
conhecimentos (alguns alunos, ao longo do ano, levaram matérias retiradas da Internet para
serem estudadas em sala de aula) como o fortalecimento da cultura local (algumas atividades
desenvolvidas na escola, por exemplo, foram publicadas no site da Prefeitura Municipal de
São Sebastião, valorizando o trabalho dos alunos (cf. OLIVEIRA, 2006a; 2006b)).
As influências e o fascínio que as novas tecnologias exercem sobre os jovens é
visivelmente crucial na constituição de suas identidades. Em um período de bruscas
transformações, tanto físicas como psicológicas e sociais; os jovens buscam, por diferentes
caminhos, modos de serem reconhecidos nos mais variados contextos sociais que
freqüentam.
Paradoxalmente, no entanto, o jovem vai buscar, em seu meio social, pontos que o
distingam dos demais, uma vez que, pertencendo a um grupo, precisa agora arranjar como se
diferenciar dos outros e conseguir, de alguma forma, destaque naquilo que faz. Desse jeito, a
cultura global perde espaço e tem contribuído imensamente para o fortalecimento das culturas
locais. Como mostram os PCN (1998a),
a tensão entre o global e o local, ou seja, entre tornar-se pouco a pouco cidadão do mundo sem perder suas raízes, participando ativamente da vida de sua nação e de sua comunidade. Num mundo marcado por um processo de mundialização cultural e globalização econômica, os fóruns políticos internacionais assumem crescente importância. No entanto, as transformações em curso não parecem apontar para o esvaziamento dos Estados/Nação. Pelo contrário, a busca de uma sociedade integrada no ambiente em que se encontra o “outro” mais imediato, na comunidade mais próxima e na própria nação, surge como necessidade para chegar à integração da humanidade como um todo. É cada vez mais forte o reconhecimento de que a diversidade étnica, regional e cultural continuam a exercer um papel crucial e de que é no âmbito do Estado/Nação que a cidadania pode ser exercida (BRASIL, 1998a, p.16).
A cidadania do jovem de periferia, que muitas vezes possui acesso limitado às novas
tecnologias, apresenta-se à sociedade como uma forma dele diferenciar-se dos demais,
resistindo aos discursos impostos por essa mesma sociedade e descobrindo meios de
sobreviver nela. A escola, no entanto, dificilmente entende as formas encontradas pelos
jovens para responderem aos discursos hegemônicos da sociedade, e responde, muitas vezes,
de forma castradora e excludente (KEIL, 1992).
Foram apresentados, nessa seção, alguns aspectos da influência da globalização e das
novas tecnologias, no processo de constituição das identidades dos jovens, em especial dos
jovens de periferia, sujeitos desta pesquisa.
Na próxima seção, serão focalizados alguns dados dos estudos que deram origem à
visão sócio-histórico-cultural da linguagem e às discussões sobre a constituição da identidade.
1.3 Vygotsky & Bakhtin
Acredita-se que Vygotsky tenha sido o primeiro pesquisador a considerar o meio
social como fundamental no processo de desenvolvimento do ser humano, em especial das
crianças. Após eles, conforme apresentado em Oliveira (1997/2003), vários pesquisadores,
muitos dos quais seus discípulos diretos, como Luria e Leontiev, desenvolveram as idéias “do
gênio” (OLIVEIRA, 1997/2003) e associaram-nas a vários aspectos da vida social, cada um
dentro de seus interesses específicos.
Na mesma linha de pesquisa, Bakhtin, teórico russo da linguagem, desenvolveu em
seus estudos uma propriedade da língua que, de acordo com Barros e Fiorin (2003), causou
grande impacto nos estudos lingüísticos do ocidente quando suas obras foram traduzidas: o
conceito de dialogismo. Concebendo a língua enquanto discurso, Bakhtin estudou, sob os
mais variados pontos de vista, como o enunciador elabora seu discurso a partir do discurso do
outro. Assim, Bakhtin aparece não só
contra a psicologia ou a lingüística subjetivas, que procedem como se o homem estivesse sozinho no mundo, mas também contra as teorias empiristas que se limitam ao conhecimento dos produtos observáveis da interação humana, [.] Bakhtin e seus amigos afirmam o caráter primordialmente do social: a linguagem e o pensamento, constitutivos do homem, são necessariamente inter-subjetivos (TODOROV, 1992/2003, p. XXVII).
Dessa forma, acreditando que a linguagem e o pensamento são, no homem,
necessariamente, intersubjetivos, será apresentada, no item 1.3.1, uma breve contextualização
das obras de Vygotsky, bem como a apresentação dos conceitos desenvolvidos por ele sobre a
influência das relações sociais na origem dos pensamentos humanos.
Justifica-se a breve contextualização dos pensamentos de Vygotsky por três motivos:
primeiro, pelo pioneirismo das atividades nesta área, uma vez que as pesquisas neste ponto de
vista são ainda bastante recentes; segundo, para mostrar as estreitas relações entre as idéias
defendidas pelo autor no início do século XX e as atuais pesquisas na área de LA, um século
depois, como esta em questão. Por último, para situar vários outros autores, entre eles
Amigues, 2004; Castro, 2002; 2004; Castro; Romero, 2005; Daniels, 2002; Faïta, 2004;
Freitas, 1998; Góes, 1995; Magalhães, 2004; Oliveira, 1997/2003; Rego, 1995; Rojo, 1995;
1998; Wertsch; Smolka, 1994; que muito colaboraram para a ampliação, por meio de estudos
nas mais diversas áreas de conhecimento, das idéias defendidas, inicialmente, por Vygotsky, e
que agora serão discutidas na presente pesquisa.
Em um segundo momento, no item 1.3.2, serão apresentados os principais conceitos
da teoria desenvolvida por Bakhtin, em especial aqueles relacionados ao papel das relações
sociais nas escolhas lingüísticas do sujeito envolvido em uma interação (dialogia, polifonia e
intertextualidade) e as idéias do autor sobre gêneros discursivos. Com a aproximação das duas
teorias, será desenvolvido arcabouço teórico necessário para as análises que serão
desenvolvidas no capítulo quatro desta dissertação.
1.3.1 Vygotsky, as relações sociais e a constituição do sujeito
O pesquisador Vygotsky viveu em um período de grandes transformações políticas e
sociais, em plena formação da União Soviética, no final do século XIX e início do século XX
(COLE; SCRIBNER, 1984/2003). Durante esse tempo, as tradições pautadas pela dicotomia
entre corpo e alma, provenientes das idéias de Descartes (DAMÁSIO, 1996), dominaram os
estudos científicos. No entanto, algumas publicações18 em diversas áreas acabaram por
18 Segundo Cole e Scribner, autores da introdução do livro de Vygotsky (1984/2003), foram três os livros que contribuíram para as transformações do pensamento psicológico do final do século XIX: A origem das espécies, de Darwin; Die Psychophysik, de Gustav Fechner; e Reflexos do cérebro, de Sechenov. Esses três livros forneceram questões centrais para questionamentos quanto à relação entre comportamento humano e animal, entre eventos ambientais e eventos mentais, entre processos fisiológicos e psicológicos (COLE; SCRIBNER, 1984/2003, p.2-3).
colaborar na modificação de pensamentos como esses e na criação de novos estudos na área
de psicologia, entre eles os estudos de Vygotsky.
Segundo Newman e Holzman (2002), na época pós-guerra civil de 1922, na Rússia, o
período de produção de Vygotsky foi muito fértil. Em meio a uma nação com analfabetos,
formada por centenas de grupos étnicos, Vygotsky concentrou seus estudos em educação e
prevenção. Vygotsky também “nunca abandonou seu amor pela arte e pela literatura, nem seu
fascínio pelas pistas para a subjetividade que ele acreditava haver nelas” (NEWMAN;
HOLZMAN, 2002, p.17).
Durante a década de 1920, de acordo com Cole e Scribner (1984/2003), Vygotsky
travou vários debates intelectuais com Piaget19 a respeito da relação entre a linguagem e o
pensamento no desenvolvimento infantil. Vygotsky, no entanto, morreu em 1934, com apenas
37 anos de idade, e deixou a maior parte de suas pesquisas inacabadas.
Conforme apresentado por Newman e Holzman (2002), foram questões políticas que
fizeram com que nos trinta anos seguintes pouco se soubesse a respeito da obra de Vygotsky.
Em 1962, com a publicação da 1ª tradução inglesa do livro Pensamento e linguagem, ele volta
a ser lido, porém sem muito interesse. É somente em 1978, com a publicação inglesa de A
formação social da mente que os estudos de Vygotsky começam a ser mais valorizados.
Influenciados pela chamada revolução lingüística, atribuída em partes pelas
descobertas de Chomsky20 de que a língua é um conjunto finito de regras, usada pelos falantes
em infinitas sentenças (gramática gerativa), Vygotsky volta a fazer parte dos interesses dos
grandes estudiosos da época, em especial dos ocidentais (NEWMAN; HOLZMAN, 2002),
que têm nos cientistas mais voltados para o social, como Wertsch, Cole e Scribner, entre
outros, os maiores interessados pelos estudos de Vygotsky.
O desenvolvimento das ciências sociais aplicadas, em desfavor das ciências puras,
também contribuiu bastante para o retorno à obra de Vygotsky. Como mostram Newman e
Holzman (2002), nos Estados Unidos, o fracasso da política da guerra à pobreza do presidente 19 Apesar de nunca terem se encontrado (NEWMAN; HOLZMAN, 2002; OLIVEIRA, 1997/2003, REGO, 1995), Vygotsky e Piaget foram participantes de grandes embates intelectuais no início do século XX. Conforme relatam Cole e Scribner, Vygotsky “produziu uma crítica devastadora das teorias que afirmam que as propriedades das funções intelectuais do adulto são resultado unicamente da maturação, ou, em outras palavras, estão de alguma maneira pré-formadas na criança, esperando simplesmente a oportunidade de se manifestarem”, base dos pensamentos de Jean Piaget (COLE; SCRIBNER, 1984/2003, p.7-8). 20 Faz-se, aqui, uma referência à gramática gerativa, teoria de Noam Chomsky, surgida em contraposição às teorias estruturalistas de linguagem. De acordo com Silva (1983, p.32), na teoria gerativista de Chomsky, “os fundamentos da linguagem são inatos no homem e para que os mecanismos inatos sejam ativados, basta que haja condições adequadas”. Ainda segundo Silva (1983), aprender, nessa perspectiva, é extrair o que é inato na mente.
Lyndon Johnson acabou por gerar maiores interesses nas ciências aplicadas, uma vez que o
governo estava fazendo cortes em outras áreas de pesquisa, pedindo uma justificativa mais
pragmática das verbas oferecidas. Problemas sociais da época como “o impacto da pobreza e
do racismo no fracasso escolar e o papel da comunicação no subdesenvolvimento cognitivo e
social” (NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p.19) acabaram por gerar uma volta aos pioneiros
estudos de Vygotsky sobre como o social interfere na formação da criança21.
As interferências da sociedade na formação do pensamento e da linguagem da criança
e a necessidade, para Vygotsky, de desenvolver um trabalho teórico aplicado a um contexto
real demonstram a estreita relação do presente estudo em LA, voltado para o ensino de
Literatura, com as pesquisas iniciais do autor. Ele, que “trabalhou em uma sociedade onde a
ciência era extremamente valorizada e da qual se esperava, em alto grau, a solução dos
prementes problemas sociais e econômicos do povo soviético” (COLE; SCRIBNER,
1984/2003, p.12), não via uma contradição entre um trabalho teórico aplicado a um contexto.
1.3.1.1 Mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal
Os três temas mais comumente abordados nos estudos de Vygotsky, segundo Wertsch
e Smolka (1994, p.122), referem-se ao papel do social no funcionamento individual do
sujeito, à criação de um método de desenvolvimento para investigação dos aspectos do
funcionamento mental humano, e à importância da mediação para a formação dos processos
humanos psicológicos e sociais, em especial da linguagem. Nesta dissertação, o último tema
terá papel fundamental para confirmação das hipóteses levantadas: a importância da mediação
do professor na aquisição da linguagem literária;
Acredita-se que “o sistema de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números),
assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da
história humana e mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural” (COLE;
SCRIBNER, 1984/2003, p.9). Assim, trabalhar a linguagem é trabalhar os processos sociais
que garantiram ao sujeito incorporá-la em seu discurso e garantir a ele meios para
desenvolver-se tanto sócio quanto culturalmente.
21 “Ao enfatizar as origens sociais da linguagem e do pensamento, Vygotsky seguia a linha de influentes sociólogos franceses, mas, até onde sabemos, ele foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa” (COLE; SCRIBNER, 1984/2003, p.8).
Para explicar a linguagem como instrumento lingüístico do pensamento, portanto,
capaz de desenvolvê-lo, Vygotsky (1984/2003; 1987/2000) estudou, principalmente, a fase da
aquisição da linguagem na criança. Ele partiu de pesquisas realizadas anteriormente, que
aproximavam o comportamento de crianças e de animais – macacos – no desenvolvimento de
processos psicológicos elementares22, Porém, no desenvolvimento dos processos intelectuais
superiores, o autor procurou localizar em que momento as atividades humanas se
diferenciavam das atividades animais.
Embora reconhecesse que em determinado momento da vida o comportamento de uma
criança em muito se assemelhasse ao comportamento de um animal23, Vygotsky não aceitava
a idéia de que o uso de instrumentos ou do início da inteligência prática na criança não
estivesse vinculado à linguagem e a conceitos. Para ele, era impossível a idéia de que o
processo de aquisição da linguagem ou de outras formas de comportamento se desse apenas
por meio de imitação, sem relação nenhuma com funções mais complexas do
desenvolvimento24.
Nas palavras de Vygotsky,
o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origens às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKY, 1984/2003, p.33).
Na união dessas duas linhas, o pesquisador acreditava que as atividades simbólicas,
como o uso de signos, possuíam uma função organizadora na mente da criança; e que tais
atividades, em união com atividades práticas, como o uso de instrumentos, produzia nela
novas formas de comportamento.
Experiências semelhantes às realizadas com macacos, porém agora com crianças em
fase de aquisição de linguagem, fizeram Vygotsky perceber que as crianças, para a solução de
problemas, como alcançar um doce com o uso de uma vara ou de um banco, utilizavam a
22 Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural. A história do desenvolvimento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas (VYGOTSKY, 1984/2003, p.61). 23 Vygotsky se refere, em seu livro, às experiências realizadas por Buhler (1924 apud VYGOTSKY, 1984/2003) na procura de estabelecer similaridades entre crianças e macacos antropóides. O resultado dessas experiências mostrou que “as manifestações práticas em crianças eram exatamente do mesmo tipo daquelas conhecidas em chimpanzés” (VYGOTSKY, 1984/2003, p. 27). 24 A própria noção de desenvolvimento, para Vygotsky, era diferente. Para o autor, o desenvolvimento humano se dá por meio da união de desenvolvimento e aprendizagem, sendo os dois processos importantíssimos e interligados. (VYGOTSKY, 1984/2003).
fala25 como uma espécie de planejamento de suas ações. A relação entre a fala e a ação era
tanta que, conforme percebido pelo autor, se não fosse permitido seu uso, as crianças
pequenas não eram capazes de resolver a situação (VYGOTSKY, 1984/2003).
O autor observou que a fala era, assim, um meio fundamental para a resolução de
tarefas, gerando maior liberdade para as operações, organizando as operações práticas e
controlando o próprio comportamento da criança. Aquilo que antes era usado para manter
contato com outras pessoas, ou solicitar ajuda a elas – a fala social –, agora era usado para
organizar as atitudes da criança – fala interna. Dessa forma,
no momento em que as crianças desenvolvem um método de comportamento para guiarem a si mesmas, o qual tinha sido usado previamente em relação a outra pessoa, e quando elas organizam sua própria atividade de acordo com uma forma social de comportamento, conseguem, com sucesso, impor a si mesmas uma atitude social. A história do processo de internalização26 da fala social é também a história da socialização do intelecto prático das crianças (VYGOTSKY, 1984/2003, p.37. Grifo do autor.).
Encontram-se aqui as primeiras idéias a respeito do papel do outro no
desenvolvimento da linguagem, bem como as funções da fala exterior e da fala interior nesse
processo. Por meio de uma fala social, de um pedido de ajuda ao outro, pedido esse não
atendido, a criança busca outros meios de resolver determinada situação, internalizando tais
procedimentos. A criança, nessas circunstâncias, passa da fala social para a fala egocêntrica, e
da fala egocêntrica para a fala interior. Assim, “signos e palavras constituem para as crianças,
primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas” (VYGOTSKY,
1984/2003, p.38).
No Brasil, na década de noventa, com a efetivação de estudos em LA, foram
realizados muitos estudos a partir das teorias de Vygotsky sobre essa fase de aquisição da
linguagem27, tanto oral quanto escrita, em crianças. Entre outros, Góes (1995), Rojo (1995;
25 Em Vygotsky (1984/2003, p.34), “a fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em questão”. 26 Segundo o autor, internalização significa “a reconstrução interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 1984/2003, p.74). 27 De acordo com Rojo (1998), o processo de aquisição da linguagem na criança se faz por processos definidos por Lemos (1985 apud ROJO, 1998) como (a) processo de ‘especularidade’ ou de incorporação pela criança de parte ou de todo o enunciado adulto no nível segmental; (b) o processo de complementaridade interturnos, em que a resposta da criança preenche um lugar “semântico”, “sintático” e “pragmático” instaurado pelo enunciado imediatamente precedente do adulto; (c) o processo de complementaridade intraturnos em que o enunciado da criança resulta da incorporação de parte do enunciado do adulto imediatamente precedente e de sua combinação com um vocábulo complementar. Na base dos processos de complementaridade estaria uma especularidade diferida, que levaria, gradualmente, a criança a uma situação de reciprocidade em relação ao adulto, dependente, em grande parte, do desenvolvimento
1998), Sabinson (1998), Tfouni (2002) foram alguns dos pesquisadores que muito
contribuíram para avanços em pesquisas sobre letramento28.
Conforme Vygotsky (1984/2003, p.38) apresenta, “as funções cognitivas e
comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de
atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais”. E são essas funções cognitivas – o
pensamento – e comunicativas – a linguagem – que, transmitidas às crianças por meio de
atividades práticas de relacionamento, embrenham numa estrutura complexa as ligações entre
a história individual e a história social de cada pessoa. O excerto abaixo esclarece a questão:
O pensamento e a linguagem, que refletem a realidade de uma forma diferente daquela da percepção, são a chave para a compreensão da natureza da consciência humana. As palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. (VYGOTSKY, 1987/2000, p. 190).
A visão do autor de que toda palavra é um microcosmo da consciência humana traz
embutida em si que, ao longo de milhares de gerações, “a memória da criança não somente
torna disponíveis fragmentos do passado como, também, transforma-se num novo método de
unir elementos da experiência passada com o presente” (VYGOTSKY, 1984/2003, p.48). As
funções e significados de uma operação externa, nesse contexto, “são criados, a princípio, por
uma situação objetiva, e depois pelas pessoas que circundam a criança.” (VYGOTSKY,
1984/2003, p.75).
Dessa forma, as operações com palavras são produto das condições específicas do
desenvolvimento social (VYGOTSKY, 1984/2003, p.52). Desde as funções elementares, que
provêm de estimulação ambiental, às funções superiores, que envolvem a criação e o uso de
estímulos artificiais, tudo é mediado pelo signo e por ele constituído. Esse uso dos signos
pelos seres humanos gera “uma estrutura específica de comportamento que se destaca do
desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na
cultura” (VYGOTSKY, 1984/2003, p.54).
De acordo com Vygotsky, (1984/2003, p.60) para utilizar signos, a criança vai
passando por uma série de transformações qualitativas29, em que “cada uma dessas de sua capacidade de representar as intenções, a atenção e o conhecimento de seu interlocutor. Em outras palavras, de sua capacidade de instanciar uma perspectiva estruturante, papel que, no início, cabe fundamentalmente ao adulto. 28 Entende-se por letramento “os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 2002, p.20), o “coroamento de um processo histórico de transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores” (TFOUNI, 2002, p.21).
transformações cria condições para o próximo estágio e é, em si mesma, condicionada pelo
estágio precedente”. Dessa forma, essas transformações são históricas, pois fazem parte de um
mesmo processo, e não são nem inventadas nem ensinadas pelos adultos. Tal conceito,
segundo Vygotsky (1984/2003, p.61), “coloca a infância no centro da pré-história do
desenvolvimento cultural”.
Estudar a história natural de um signo seria, assim, estudar “o processo de transição
entre o que é biologicamente dado e o culturalmente adquirido” (VYGOTSKY, 1984/2003,
p.61); seria entender o processo pelo qual uma palavra torna-se um “microcosmo da
consciência humana” (VYGOTSKY, 1987/2000, p.190). Seria estudar, de modo objetivo,
como um processo interpessoal, concretizado em uma situação específica, real, é
transformado num processo intrapessoal, cujo processo “é o resultado de uma longa série de
eventos30 ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1984/2003, p.75).
Vygotsky (1984/2003) afirma que
a potencialidade para as operações complexas com signos já existe nos estágios mais precoces do desenvolvimento individual. Entretanto, as observações mostram que entre o nível inicial (comportamento elementar) e os níveis superiores (formas mediadas de comportamento) existem muitos sistemas psicológicos de transição (VYGOTSKY, 1984/2003, p.61).
A noção de potencialidade em crianças para operações complexas com signos traz à
tona outro conceito desenvolvido por Vygotsky que muito interessa à presente pesquisa: a
noção de zona de desenvolvimento proximal.
29 Com relação às transformações ocorridas no processo de desenvolvimento da criança, Rojo (1998) comenta que elas ocorrem em uma constante negociação entre os participantes da interação, podendo ou não ser simetrizados: “segundo Lier, Palladino; Maia (1991), ...os elementos para a interação na estrutura da permuta são simetrizados quando se estabelece um consenso entre os participantes e respeito desses elementos. Consenso aqui é entendido como acordo relativo que se expressa através da aceitação de um dado objeto para negociação e pela subseqüente realização de operações semelhantes sobre tal objeto o qual vai, gradualmente, se constituir em objeto de conhecimento. (...) Pode-se dizer que o processo de simetrização corresponde aos momentos de estabilização de conhecimentos, ou seja, de consenso entre os participantes da interação a respeito de um dado objeto e que os movimentos que antecedem e sucedem tais momentos constituem o processo de assimetrização, que deve ser entendido, portanto, como o momento de tentativa de ajustamento entre as ações da mãe e da criança em que elementos específicos dos repertórios individuais estão sendo negociados para se transformarem em elementos de conhecimento comum. As autoras advertem ainda que a relação entre esses dois processos não é hierárquica, mas de simultaneidade. Um objeto ou um atributo de um objeto pode estar sendo simetrizado enquanto outro é assimetrizado.” Ainda segundo as autoras (LIER; PALLADINO; MAIA, 1991 apud ROJO, 1998), quando não se consegue o ajustamento entre as ações das pessoas envolvidas no processo de interação e uma delas muda completamente o foco da negociação, chama-se assimetria ruptora. 30 “O desenvolvimento da criança é um processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento de fatores internos e externos, e processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra” (VYGOTSKY, 1984, p.97).
A zona de desenvolvimento proximal (doravante ZDP) é uma das mais extraordinárias
descobertas dos estudos de Vygotsky e provocou mudanças profundas nas concepções de
ensino-aprendizagem e, em conseqüência, na Educação. Até o desenvolvimento do conceito
de ZDP, por Vygotsky, havia três correntes teóricas sobre a relação entre aprendizado e
desenvolvimento.
Na primeira, acreditava-se que o desenvolvimento sempre se adiantava ao
aprendizado, o que excluía deste último qualquer “papel no curso do desenvolvimento ou
maturação daquelas funções ativadas durante o processo de aprendizado” (VYGOTSKY,
1984/2003, p. 105). Na segunda teoria, aprendizagem e desenvolvimento são processos que
ocorrem simultaneamente, coincidindo em todos os pontos (VYGOTSKY, 1984/2003, p.
106). A terceira teoria tentou aproximar as duas correntes anteriores, combinando pontos de
vistas que, embora aparentemente opostos, uma vez que puderam ser combinados em uma
teoria, mostraram ter algo de essencial em comum (VYGOTSKY, 1984/2003, p. 106).
Apesar de rejeitar essas três correntes teóricas, Vygotsky (1984/2003, p. 109) afirma
que a análise delas foi essencial para o desenvolvimento de sua teoria: o conceito de ZDP.
Assim, para o autor, está claro que o aprendizado deve estar combinado, de alguma maneira,
com o nível de desenvolvimento da criança. No entanto, Vygotsky distingue dois níveis desse
desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real, e o nível de desenvolvimento potencial.
O primeiro nível refere-se a ciclos de desenvolvimento já completados pela criança. O
nível de desenvolvimento real é tudo aquilo que a criança, de acordo com sua idade mental, já
é capaz de fazer sozinha. O segundo nível, em contraposição, refere-se às “funções que ainda
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas
que estão presentemente em estado embrionário” (VYGOTSKY, 1984/2003, p. 113).
Segundo o autor, a zona de desenvolvimento proximal é
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984/2003, p.112).
Atuar na ZDP seria, assim, atuar nesse espaço entre o que a criança já é capaz de
realizar sozinha, seu desenvolvimento real, e o que ela é capaz de fazer com o auxílio de um
par desenvolvido, seu desenvolvimento potencial. Seria, ainda, proporcionar um efetivo
desenvolvimento da criança pois, de acordo com o próprio Vygotsky (1984/2003, p. 113),
“aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha
amanhã”.
Embora se saiba que a idade dos sujeitos desta pesquisa não se aproxima, de modo
algum, à idade das crianças estudadas por Vygotsky (o pesquisador trabalhou, em seus
experimentos, com crianças na fase de aquisição de linguagem; nesta pesquisa, trabalha-se
com adolescentes entre 12 e 15 anos de idade), espera-se, com esse percurso, explicitar as
idéias aqui defendidas para o trabalho com literatura para alunos do 4º ciclo do ensino
fundamental de escola pública.
Aproximando-se esta pesquisa das teorias desenvolvidas por Vygotsky, acredita-se
que, para que se chegue a um trabalho efetivo em Literatura com alunos do 4º ciclo do ensino
fundamental, é necessário ao professor conhecer o desenvolvimento real dos alunos, isto é,
buscar os textos que os alunos compreendem sozinhos, e , a partir deles, determinar o
desenvolvimento potencial das turmas. Conhecidos os dois extremos do desenvolvimento dos
alunos, caberá ao professor realizar intervenções na ZDP, de modo a propiciar que os alunos
atinjam o nível esperado no desenvolvimento potencial.
Para que se realize uma maior discussão a respeito do conceito de internalização e da
forma como o outro influencia a elaboração dos discursos numa ação de linguagem, serão
apresentados, a seguir, alguns conceitos desenvolvidos por Bakhtin.
1.3.2 Bakhtin, dialogia, polifonia e intertextualidade
A noção desenvolvida por Vygotsky de que a aquisição da linguagem na criança
ocorre, primeiramente, no plano interpessoal e, por meio de um processo denominado por ele
de internalização, atinge o plano intrapessoal, pode ser levada para outras fases da vida do
sujeito. E são os estudos de Bakhtin que possibilitarão, nesta dissertação, compreender como
os discursos produzidos nas mais diferentes práticas sociais se formam a partir das condições
físicas e sócio-subjetivas impostas por elas.
Conforme apresentado por Barros e Fiorin (2003), apesar de, em um primeiro
momento, a multiplicidade de temas presentes nas obras de Bakhtin surpreender a muitas
pessoas que desejam estudá-lo, descobre-se que há um problema teórico gerador de todos os
temas estudados pelo autor: o conceito de dialogismo.
No entanto, para que se chegue à noção de dialogismo, são necessários alguns
comentários a respeito da noção de texto. Conforme apresentado por Barros (2003, p.1), o
texto, em Bakhtin, passa a ser entendido somente como enunciado e recupera em si estatuto
pleno de objeto discursivo, social e histórico. Assim, enquanto objeto discursivo, Bakhtin
considera que a análise do texto deve abranger aspectos “de sua organização, da interação
verbal, do contexto ou do intertexto” (BARROS, 2003, p.2). Para o autor,
as palavras da língua não são de ninguém, mas ao mesmo tempo nós as ouvimos apenas em determinadas enunciações individuais, nós as lemos em determinadas obras individuais, e aí as palavras já não têm expressão apenas típica porém expressão individual externada com maior ou menor nitidez (em função do gênero), determinada pelo contexto singularmente individual do enunciado (BAKHTIN, 1992/2003, p. 293).
A idéia de que as palavras da língua são transmitidas ao sujeito apenas em
determinadas enunciações individuais faz com que Bakhtin desenvolva, em contraposição ao
discurso monológico que regia a cultura ideológica da época, a noção de dialogismo. Como
mostra Barros (2003, p.2), para Bakhtin, o “dialogismo, [é] característica essencial da
linguagem e princípio constitutivo, muitas vezes mascarado, de todo discurso”. Ainda de
acordo com Barros (2003), o dialogismo passa a ser entendido, então, como condição de
sentido do discurso e constitutivo de todo processo de enunciação. Nas palavras do próprio
Bakhtin (1992/2003),
o enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa própria idéia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento (BAKHTIN, 1992/2003, p.298).
A noção de que todo enunciado é dialógico, e, portanto, expressa verbalmente as
visões que seu enunciador tem de seu enunciatário, do meio social em que estão inseridos, do
momento histórico em que estão vivendo; corresponde à noção de sujeito já apresentada no
capítulo 1.1 desta pesquisa. Nesse contexto, “o sujeito perde o papel de centro e é substituído
por diferentes (ainda que duas) vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e
ideológico” (BARROS, 2003, p.2-3).
Como mostra Brait (2003), para Bakhtin, são os julgamentos de valor que determinam
a seleção das palavras feitas pelo falante e a recepção dessa seleção (a co-seleção) feita pelo
ouvinte. De acordo com Bakhtin (1992/2003),
pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como minha palavra,
porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão (BAKHTIN, 1992/2003, p. 294).
Sabe-se, entretanto, que e seleção que o falante faz das palavras não ocorre no
dicionário, onde teoricamente as palavras são neutras, mas no contexto de vida onde as
palavras foram embebidas e se impregnaram de julgamentos de valor.
Nessa perspectiva, Fiorin (2003, p.29) apresenta que Bakhtin preocupou-se em
mostrar “que o discurso não se constrói sobre o mesmo, mas se elabora em vista do outro. Em
outras palavras, o outro perpassa, atravessa, condiciona e discurso do eu”. Essa visão
dialógica da linguagem faz com que as palavras que vêm de outros sujeitos teçam “o discurso
individual de forma que as vozes – elaboradas, citadas, assimilados ou simplesmente
mascaradas – interpenetram-se de maneira a fazer-se ouvir ou a ficar nas sombras autoritárias
de um discurso monologizado” (BRAIT, 2003, p.14 e 15).
Classificar um discurso em monofônico ou polifônico depende das estratégias
utilizadas pelo enunciador para a forma como o discurso alheio passou a fazer parte de seu
próprio discurso. Para Barros (2003),
o diálogo é condição da linguagem e do discurso, mas há textos polifônicos e monofônicos, segundo as estratégias discursivas acionadas. No primeiro caso, o dos textos polifônicos, as vozes se mostram; no segundo, o dos monofônicos, elas se ocultam sob a aparência de uma única voz. Monofonia e Polifonia de um discurso são, dessa forma, efeitos de sentido decorrentes de procedimentos discursivos que se utilizam em textos, por definição, dialógicos. Os textos são dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes sociais; podem, no entanto, produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou algumas delas deixam-se escutar, ou de monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se ouvir (BARROS, 2003, p.6).
Percebe-se, pelo fragmento acima, que a questão das vozes é tema bastante freqüente
nos estudos de Bakhtin e de seus seguidores. Aceitar que “tudo que é dito, tudo que é
expresso por um falante, por um enunciador, não pertence só a ele” (BRAIT, 2003, p.14) faz
com que se perceba o quanto a linguagem é sócio-histórico-culturalmente construída.
Mais que isso, faz com que se perceba como os textos lidos, ouvidos ou simplesmente
presenciados passam a fazer parte do próprio discurso do sujeito. Para esta pesquisa, tal
conceito será de extrema importância, uma vez que é possível, por meio da análise lingüística
de um texto, localizar possíveis vozes que o formam e prováveis textos de sua constituição.
Sobre as formas de constituição de um texto, ainda falando a respeito da organização
do discurso, Bakhtin apresenta em seus estudos o conceito de gêneros discursivos. Para ele,
o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só pelo seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1992/2003, p.261-262. Grifos do autor).
Essa noção de gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados interferirá
diretamente nos estudos do autor sobre os gêneros literários, uma vez que, nas palavras do
próprio autor (BAKHTIN, 1992/2003, p. 305), “a imensa maioria dos gêneros literários é
constituída de gêneros secundários, complexos, formados por diferentes gêneros primários
transformados (réplicas do diálogo, relatos cotidianos, cartas, diários, protocolos, etc.)”.
A compreensão da literatura como um emaranhado de gêneros primários poderia pôr
em questionamento a própria criatividade do autor de texto literário, uma vez que teria apenas
de reproduzir gêneros já pré-moldados socialmente em suas obras. Entretanto, Bakhtin
(1992/2003, p.364) argumenta que a importância dos gêneros, tanto os da literatura como os
do discurso, está na acumulação, ao longo de séculos de vida, da assimilação de determinados
aspectos do mundo que, para o escritor-artesão, servirão como chavão externo; e já para o
grande artista, despertará neles “as potencialidades de sentido jacentes”.
Os diferentes aspectos do mundo acumulados nos gêneros, discursivos ou literários,
ou, ainda, como afirmou Vygotsky, na própria palavra, microcosmo da consciência humana,
traz à tona outra definição importante nos estudos de Bakhtin: o conceito de intertextualidade.
Em uma explicação das teorias de Bakhtin, Fiorin (2003, p.30) apresenta que “a
intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o
sentido incorporado, seja para transformá-lo”. Os processos de intertextualidade, segundo o
autor, podem ocorrer de três formas: a citação, a alusão e a estilização.
Quando a intertextualidade se faz por citação, podem-se perceber trechos do outro
texto em sua constituição31. Conforme fora observado por Fiorin (2003), as citações podem
ocorrer, inclusive, em outra semiótica. Outro processo de intertextualidade estudado por
Bakhtin é conhecido por alusão. Nele, em vez de citações de palavras, são reproduzidas as
construções sintáticas do outro texto. O último processo de intertextualidade faz-se pela
reprodução, no texto produzido, do estilo de outrem. É a chamada estilização.
Por todos esses processos apresentados, pode-se concluir que “a intertextualidade na
obra de Bakhtin é, antes de tudo, a intertextualidade ‘interna’ das vozes que falam e
polemizam no texto, nele reproduzindo o diálogo com outros textos” (BARROS, 2003, p.4). E
ainda no conceito das múltiplas vozes que ecoam nos textos produzidos pelos sujeitos,
durante séculos e séculos, Bakhtin desenvolveu, como apresenta Lopes, o conceito de
carnavalização:
Quando o discurso se constrói de dois textos que se apresentam na forma de uma disjunção total, de tal modo que um deles surge como a inversão jocosa, paródica, do outro, o resultado é uma típica inversão, ridícula ou risível, da visão de mundo habitual (LOPES, 2003, p.76)
Essa visão invertida, ridícula ou risível do mundo habitual, demonstra que, para
Bakhtin, “o sentido de uma obra literária é fruto de uma construção dialógica” (LOPES, 2003,
p.70) e, portanto, social, histórica e cultural. Seus estudos sobre polifonia, as várias vozes que
aparecem nos textos produzidos; intertextualidade, os diversos textos, possíveis de serem
recuperados, que formam um determinado enunciado; e carnavalização, aproximação de
textos cujo resultado é uma inversão do sentido inicial de cada um; também podem servir para
comprovar a idéia da natureza dialógica das obras literárias. Se, de acordo com Bakhtin
(1992/2003, p.360-361),
a literatura é parte inseparável da cultura, [e] não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. É inaceitável separá-la do restante da cultura e, como se faz constantemente, ligá-la imediatamente a fatores socioeconômicos, por assim dizer, passando por cima da cultura. Esses fatores agem sobre a cultura no seu todo e só através dela e juntamente com ela influenciam a literatura (BAKHTIN, 1992, p. 360 e 361).
Essas discussões a respeito da influência do contexto socioeconômico na literatura
fazem com que, embora se saiba, como afirma Bakhtin (1992, p. 362), que a “literatura é um
31 Fiorin (2003) observa que tal conceito não se refere a textos não-artísticos, em que as citações devem ser explícitas mesmo.
fenômeno complexo e polifacético demais, e os estudos literários ainda são excessivamente
jovens para que se possa falar de um ‘método salvador único’ nos estudos literários”, estudar
literatura pelo viés da LA pode ser bastante interessante. A análise do contexto sócio-
subjetivo de produção de um texto e a recuperação dos intertextos e das vozes que o compõe
podem possibilitar a abertura de mais um caminho para questionamentos sobre a sociedade e
suas formas de transmissão de cultura.
E é com a própria noção de aquisição de cultura em Bakhtin que a pesquisadora
encerra esta seção. Nas palavras do autor,
no campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da compreensão. A cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade (mas não em toda a plenitude, porque virão outras culturas que a verão e compreenderão ainda mais) aos olhos de outra cultura. Um sentido só revela as suas profundidades encontrando-se e contactando com outro, com o sentido do outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessas culturas. Colocamos para a cultura do outro novas questões que ela mesma não se colocava; nela procuramos respostas a essas questões, e a cultura do outro nos responde, revelando-nos seus novos aspectos, novas profundidades do sentido. Sem levantar nossas questões não podemos compreender nada do outro de modo criativo (é claro, desde que se trate de questões sérias, autênticas). Nesse encontro dialógico de duas culturas elas não se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente (BAKHTIN, 1992, p. 366).
Desse encontro dialógico de duas culturas, em que cada uma mantém a sua
integridade, mas se enriquecem mutuamente, aproxima-se o próprio conceito de ZDP em
Vygotsky (1984/2003) e busca-se fundamentação para o trabalho com literatura para alunos
do 4º ciclo de ensino fundamental de escola pública de periferia. O desenvolvimento cultural
proporcionado pelos estudos literários será essencial para o enriquecimento de todos os
envolvidos, direta ou indiretamente, na interação em sala de aula: professores, alunos, pais,
comunidade, entre outros.
Foram apresentadas, nessa seção, as definições de dialogismo, polifonia,
intertextualidade e gêneros discursivos, a partir da teoria de Bakhtin. Na seqüência, serão
sintetizados alguns conceitos do Interacionismo sócio-discursivo, segundo a proposta de
Bronckart (1999).
1.4 Bronckart e o Interacionismo sócio-discursivo
A seção 1.1 desta dissertação mostrou que a transformação do indivíduo em sujeito se
deu pela consideração, nas análises realizadas pelas ciências sociais, das relações sócio-
subjetivas nas quais esse sujeito está inserido. Viu-se que o próprio conceito de identidade
passou por algumas transformações nos últimos anos. Do entendimento da identidade como
algo pronto, acabado, passou-se a entender a identidade como construções decorrentes das
práticas discursivas. Dessa forma, elas não estão nos indivíduos, “mas emergem na interação
entre os indivíduos agindo em práticas discursivas particulares nas quais estão inseridos”
(MOITA LOPES, 2002, p.37). As identidades estão, portanto, sujeitas a mudanças, o que é
essencial para um trabalho em educação: “um processo social em que transformações podem
ser geradas” (MOITA LOPES, 2002, p.37).
Abordados na seção 1.3, os estudos de Vygotsky e Bakhtin embasam teoricamente
esta dissertação. Os conceitos de ZDP e dialogismo, e mais especificamente a implicação
desses conceitos para a sala de aula, serão fundamentais para a proposta de trabalho com
literatura, conforme será demonstrado no capítulo três. A concepção da linguagem como uma
prática discursiva e a conseqüente fragmentação das identidades dos sujeitos que estão
envolvidos nela fazem com que o discurso – material lingüístico produzido por esses sujeitos
– seja resultado de complexas relações físicas, sociais e subjetivas.
Nessas circunstâncias, os discursos tornam-se um meio poderosíssimo de constituição
das identidades dos envolvidos em uma interação social. Na escola, espaço institucional
apontado como um dos mais importantes na construção de identidades, conforme apresentado
por Moita Lopes (2002), a sala de aula, em especial a sala de aula de línguas e, no caso desta
pesquisa, a sala de aula de literatura, encontra-se espaço extremamente privilegiado para
reflexões que interferirão na constituição da identidade dos envolvidos no processo ensino-
aprendizagem, em especial dos professores e dos alunos, uma vez que possibilita discussões
além dos conteúdos explícitos do curso.
Como analisar os resultados das diferentes práticas de ação de linguagem é o que se
pretende desenvolver nesta seção. Para isso, buscou-se em Bronckart (1999), teórico que tem
nos estudos de Vygotsky e Bakhtin a base de sua fundamentação teórica, ferramentas
necessárias para a análise de textos como construções discursivas.
1.4.1 Procedimento metodológico geral de análise de textos, segundo Bronckart32
Para Bronckart (1999), a análise de um texto deve ocorrer em dois níveis: primeiro,
com a análise das condições sociopsicológicas da produção dos textos; segundo, consideradas
essas condições, com a análise das propriedades estruturais e funcionais internas dos textos.
Segundo o autor, a leitura inicial de um texto deve buscar informações de três
conjuntos observáveis: a) De ordem semântica: identificação do tema tratado, do contexto e
do modo como o autor se situa em relação a esse contexto; b) De ordem léxico-semântica:
observação das escolhas efetuadas nos paradigmas de lexemas disponíveis em língua para se
indicar um mesmo referente; e c) De ordem paralingüística: identificação das unidades
semióticas não verbais (quadros, imagens, esquemas, etc.).
A partir dessa visão geral do texto, segue-se a análise considerando-se as condições de
produção dos textos. O primeiro aspecto sugerido pelo autor a ser observado refere-se à
situação de ação de linguagem.
Nela, serão observados aspectos do contexto de produção dos textos, de suas
representações sobre os mundos formais e da forma como essas representações podem exercer
influência sobre a produção textual.
De acordo com Bronckart (1999), são três os mundos formais representados: a)
Mundo objetivo, quando os signos remetem a aspectos do meio físico; b) Mundo social,
quando os signos incidem sobre a maneira de organizar a tarefa, isto é, sobre as modalidades
convencionais de cooperação entre os membros do grupo; e c) Mundo subjetivo, quando os
signos incidem também sobre as características próprias de cada um dos indivíduos engajados
na tarefa.
Para dar continuidade à análise de textos, Bronckart (1999) sugere um estudo do
conteúdo temático, isto é, do conjunto das informações que são explicitamente apresentadas
em um texto. Segundo ele,
quando se engaja em uma ação de linguagem, o agente humano dispõe, inicialmente, como para qualquer outra ação, de um conhecimento dos mundos representados; ele se apropriou, na interação social e verbal, dos conhecimentos relativos ao mundo
32 É de conhecimento desta pesquisadora que os procedimentos metodológicos de análise de textos desenvolvidos por Bronckart são bem mais amplos do que o que será exposto nesta dissertação. No entanto, o objetivo geral desta seção não é oferecer subsídio para a caracterização exaustiva de um gênero específico de texto, segundo as teorias de Bronckart, mas sim, desenvolver arcabouço teórico compatível com os conceitos já apresentados nas seções anteriores e suficiente para a análise de um texto produzido a partir das condições que serão descritas no capítulo três desta dissertação.
objetivo, ao mundo social e ao mundo subjetivo, que são, entretanto, apenas versões pessoais e necessariamente parciais dessas coordenadas sociais globais. No processo de semiotização requerido pela ação de linguagem, subconjuntos desses conhecimentos pessoais encontram-se então compreendidos e semantizados pelos significados dos signos utilizados. Esses conhecimentos pessoais são, em outros termos, mobilizados como referente (ou conteúdo temático) da ação de linguagem (BRONCKART, 1999, p.46. Grifos do autor).
A análise do conteúdo temático possibilitará, assim, a identificação de conhecimentos
pessoais do autor do texto.
O segundo aspecto na observação geral do texto, segundo o autor, refere-se à ação de
linguagem propriamente dita. Para Bronckart (1999, p.99), a ação de linguagem “reúne e
integra os parâmetros do contexto de produção e do conteúdo temático, tais como um
determinado agente os mobiliza, quando empreende uma intervenção verbal”. Assim, por
meio da descrição de uma ação de linguagem, seria possível identificar “valores precisos que
são atribuídos pelo agente-produtor a cada um dos parâmetros do contexto aos elementos do
conteúdo temático mobilizado” (BRONCKART, 1999, p.99).
O terceiro aspecto refere-se ao empréstimo do intertexto. Para o autor, entende-se por
intertexto o “conjunto de gêneros de textos elaborados pelas gerações precedentes, tais como
são utilizados e eventualmente transformados e reorientados pelas formações sociais
contemporâneas” (1999, p.100). Apesar da idéia de que os intertextos servem como um
modelo, Bronckart argumenta que nunca um texto acabará como uma cópia exata do seu
modelo.
Para a análise da arquitetura interna dos textos, Bronckart (1999) propõe o estudo de
três níveis, aos quais resolveu chamar de níveis superpostos do folhado textual: infra-estrutura
geral, mecanismos de textualização e mecanismos de enunciação.
No primeiro deles, referente à infra-estrutura geral, o autor orienta que sejam feitas
observações sobre plano geral do texto, os tipos de discurso presentes nele, as formas de
encaixamento e as formas de organização da seqüência.
Nas análises a respeito do plano geral, observam-se aspectos da organização de
conjunto do conteúdo temático, que também podem ser codificados na forma de um resumo.
Com relação aos tipos de discurso, analisam-se os diferentes segmentos que o texto comporta.
Sobre o encaixamento, estuda-se o conjunto de procedimentos que explicitam a relação de
dependência de um segmento em relação a outro. Por fim, na descrição da seqüência,
registram-se os “modos de planificação da linguagem, que se desenvolvem no interior do
plano geral de texto (seqüências narrativas, explicativas, argumentativas, etc.)”
(BRONCKART, 1999, p. 121).
No segundo nível de análise do folhado textual, Bronckart (1999, 122) descreve três
mecanismos de textualização, isto é, mecanismos que consistem na criação de “séries
isotópicas que contribuem para o estabelecimento da coerência temática”:
a) Conexão: mecanismos que contribuem para marcar as articulações da
progressão temática; são realizados por organizadores textuais, que podem ser
aplicados ao plano geral do texto, às transições entre tipos de discurso e entre
fases de uma seqüência, ou ainda às articulações mais locais entre frases
sintáticas.
b) Coesão nominal: mecanismos que introduzem temas e/ou personagens novos e
asseguram sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto.
(Anáforas: pronomes pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos, e
também alguns sintagmas nominais).
c) Coesão verbal: mecanismos que asseguram a organização temporal e/ou
hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou ações) verbalizados no
texto. São essencialmente realizados pelos tempos verbais, mas podem
aparecer em interação com outras unidades que têm valor temporal (advérbios
e organizadores textuais, principalmente). Sua distribuição depende dos tipos
de discurso em que aparecem.
No terceiro nível da arquitetura interna dos textos, são estudados os mecanismos de
enunciação, ou seja, os mecanismos que contribuem
para a manutenção da coerência pragmática (ou interativa) do texto: contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos enunciativos (quais são as instâncias que assumem o que é enunciado no texto? Quais são as vozes que aí se expressam?) e traduzem as diversas avaliações (julgamentos, opiniões, sentimentos) sobre alguns aspectos do conteúdo temático (BRONCKART, 1999, p. 130).
Na análise dos mecanismos de enunciação, são realizados estudos referentes a dois
aspectos. No primeiro, estudam-se o posicionamento enunciativo e as vozes presentes nos
textos; no segundo, examinam-se as modalizações.
Para Bronckart (1999), as diferentes vozes que podem se expressar (implícita ou
explicitamente) em um texto podem ser reagrupadas em três subconjuntos: a) a voz do autor
empírico; b) as vozes sociais, isto é, as vozes de outras pessoas ou de instituições humanas
exteriores ao conteúdo temático do texto; e c) as vozes das personagens, isto é, as vozes de
pessoas ou de instituições que estão diretamente implicadas no percurso temático.
Estudar as modalizações compreende analisar as avaliações formuladas sobre alguns
aspectos do conteúdo temático. Para Bronckart (1999), as modalizações podem ser
classificadas em:
a) Modalizações lógicas: julgamentos sobre o valor de verdade das proposições enunciadas, que são apresentadas como certas, possíveis, prováveis, improváveis, etc.; b) Modalizações deônticas: avaliam o que é enunciado à luz dos valores sociais, apresentando os fatos enunciados como (socialmente) permitidos, proibidos, necessários, desejáveis, etc.; c) Modalizações apreciativas: traduzem um julgamento mais subjetivo, apresentando os fatos enunciados como bons, maus, estranho, na visão da instância que avalia; e d)Modalizações pragmáticas: introduzem um julgamento sobre uma das facetas da responsabilidade de um personagem em relação ao processo de que é agente, principalmente sobre a capacidade de ação (o poder-fazer), a intenção (o querer-fazer) e as razões (o dever-fazer) (BRONCKART, 1999, p. 132).
Apresentado o arcabouço teórico que será utilizado para análise de texto no capítulo
quatro desta dissertação, segue-se com a retomada dos principais pontos abordados, até o
presente momento, a fim de orientar o leitor sobre os passos seguintes.
1.5 Passos dados, passos futuros
Antes do prosseguimento desta dissertação, convém relembrar o caminho percorrido
até o presente momento. Como o objetivo geral é apresentar uma proposta de trabalho com
literatura para alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública de periferia, e como
o próprio conceito de literatura está intimamente ligado à linguagem, fez-se necessário definir
o conceito de linguagem que aqui se defende, uma vez que ele muito influenciará todas as
análises realizadas neste estudo.
Trabalhar literatura por essa perspectiva, é entender a literatura como uma ação
discursiva, portanto passível de todas as análises e reflexões a respeito dos discursos presentes
na sociedade atual e apresentadas durante esse capítulo.
Em um primeiro momento, buscando contextualizar a presente dissertação entre as
demais realizadas no contexto acadêmico, foi realizado um breve histórico da LA.
Em seguida, foram definidos dois dos principais conceitos em LA: o conceito de
sujeito e o de discurso. Apresentou-se como a identidade do sujeito se tornou fragmentada
para, na seqüência, comprovar que toda ação discursiva é, primordialmente, social
(BAKHTIN, 1992/2003; BRONCKART, 1999; VYGOTSKY, 1984/2003) e que todo texto
produzido, seja ele verbal ou não-verbal, tem sempre como objetivo atingir uma outra pessoa,
real ou virtual, dentro de concepções que seu autor fez seu interlocutor (BAKHTIN,
1992/2003; BRONCKART, 1999; VYGOTSKY, 1984/2003).
O terceiro momento procurou demonstrar a importância dos estudos em LA para o
trabalho em Educação, discutindo-a, a partir do trabalho que realiza com a linguagem, como
um meio para denúncias sociais e disseminação de pontos de resistência. Demonstrou-se que
as definições de linguagem e discurso dos atuais estudos em LA são as mesmas apresentadas
nos PCN, e correspondem à idéia de que todo conhecimento se manifesta concretamente na
linguagem utilizada pelos envolvidos em uma interação.
Foram apresentados alguns dos problemas enfrentados por professores de escola
pública de periferia, bem como a relação deles com os conceitos desenvolvidos anteriormente.
Também foi comentado sobre o conceito de globalização e suas possíveis conseqüências em
um trabalho em sala de aula.
Em um quarto momento, foram apresentados os dos principais teóricos que embasam
este texto: Vygotsky e Bakhtin.
Após uma breve contextualização histórica das pesquisas de Vygotsky, que visava
aproximar a realidade social de seus estudos à realidade encontrada na presente pesquisa,
apresentou os principais conceitos desenvolvidos por ele:
a) a noção de que a linguagem existe, em um primeiro momento, em um plano
interpsicológico (entre as pessoas) e que, por meio da mediação, isto é, do contato com pares
mais desenvolvidos (adultos, ou não), ela é internalizada pela criança, isto é, passa para o
plano intrapsicológico;
b) a de que toda palavra é o reflexo de um emaranhado de conceitos, acumulados ao
longo de sua existência, o que a torna “microcosmo da consciência humana”;
c) a de que o desenvolvimento da criança existe em duas fases, o desenvolvimento real
e o desenvolvimento potencial, e que a distância entre essas duas fases, que o autor chamou
de zona de desenvolvimento proximal, é onde ser possível a realização de intervenções –
mediação – que serão efetivas na aprendizagem da criança.
Sobre os conceitos desenvolvidos por Bakhtin, foram definidos:
a) Dialogia: se a linguagem existe em um plano interpsicológico, isto é, entre pessoas,
a forma como se vêem essas pessoas é que vai determinar as escolhas, tanto lexicais, as
palavras utilizadas; quando do gênero do discurso a ser utilizado, isto é, à forma de
enunciado, relativamente estável, que pré-existe na sociedade;
b) Polifonia: uma vez que as palavras refletem um emaranhado de conceitos
desenvolvidos ao longo de séculos, e que as pessoas escolhem as palavras sempre em relação
a para quem estão produzindo determinado texto, textos esses pré-existentes na sociedade sob
a forma dos gêneros discursivos, os textos serão o reflexo de uma variedade imensa de vozes,
que variarão de acordo com o contexto de produção de cada enunciado.
c) Intertextualidade: se as palavras enunciadas por um sujeito, seus textos, foram
assimiladas por ele sempre em outros enunciados, outros textos; então os textos de um sujeito
é um emaranhado de outros textos, adquiridos ao longo de toda sua vida, recuperáveis,
conscientemente, ou não; isto é, seus intertextos.
A partir de todos esses conceitos, o que se espera que fique claro é que trabalhar a
linguagem, nesta dissertação, é trabalhar a língua em diferentes situações de uso (BAKHTIN,
1992/2003), levando em consideração os diferentes papéis sociais (BAKHTIN, 1992/2003;
BRONCKART, 1999) assumidos pelos diferentes usuários – os sujeitos – dentro de diferentes
contextos de produção.
A linguagem passa a ser, assim, a ferramenta utilizada pelo homem (conscientemente
ou não) para intervir e transformar a realidade em que se encontra. E se é pela linguagem que
o homem é capaz de interagir no mundo (VYGOTSKY, 1984/2003), e se suas escolhas
ocorrem de acordo com a visão que ele, locutor, faz, conscientemente ou não, do seu
interlocutor (BAKHTIN, 1992/2003); trabalhar com a linguagem é dar ao aluno a
possibilidade de que ele aja de maneira mais consciente na sociedade, é informá-lo de que
o domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade lingüística, são condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso às informações, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura (BRASIL, 1998b, p.19).
E a maior representante da cultura, nesta dissertação, é a literatura. Para que sejam
relacionados esses conceitos da LA ao trabalho com literatura para alunos do 4º ciclo do
ensino fundamental de escola pública serão feitas, a seguir, algumas considerações sobre o
conceito de literatura e suas implicações para a prática em sala de aula.
O milagre da arte lembra antes outro milagre do Evangelho – a transformação da água em vinho, e a verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum, e aquele mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando suscitadas pela arte, implicam algo acima daquilo que nelas está contido. E este algo supera esses sentimentos, elimina esses sentimentos, transforma sua água em vinho, e assim se realiza a mais importante missão da arte. A arte está para a vida como o vinho para a uva (VYGOTSKY, 1999, p.307).
2. A Literatura pelo viés da LA: agora, sim, livro de verdade33...
Para que se possa realizar um estudo sobre o trabalho com literatura com alunos do 4º
ciclo do ensino fundamental, faz-se necessária, primeiramente, uma discussão a respeito do
conceito de literatura. Serão apresentadas a seguir algumas definições a respeito do que vem a
ser literatura. Observa-se, entretanto, que a definição de literatura não é algo muito fácil de se
realizar, e que tal assunto vem “despertando paixões” (LAJOLO, 2001b) há muito tempo.
Com a chegada de novos meios (suportes, materiais, mistura de linguagens), mais ainda se
discute a respeito do que é literatura.
Sabe-se que não se chegará a um conceito fechado de literatura, uma vez que o
conceito de literatura também é sócio-histórico-culturalmente determinado. Espera-se, porém,
com estas discussões, aproximar o trabalho com literatura aos estudos teóricos da área de
Lingüística Aplicada apresentados no capítulo anterior. Nas palavras de Lajolo (2001b),
nesse campo [o de definições do conceito de literatura], as perguntas são muitas e as respostas mais numerosas ainda. Há tanta gente pensando no assunto (aliás, sempre houve) e tantas e tão diferentes são as respostas sugeridas que não dá para eleger uma delas como verdadeira e jogar todas as outras. Aliás, até que dá, para os ingênuos e os simples, que lêem um livrinho ou outro e saem por aí achando que literatura é isso ou aquilo, que arte é aquilo ou isso (LAJOLO, 2001b, p.24-25).
Como já foi exposto na Introdução desta dissertação, quando a literatura é objeto de
estudo para alunos do ensino fundamental, a lista com as divergências de conceitos parece
aumentar ainda mais: é literatura infantil? Literatura infanto-juvenil? Pode-se trabalhar texto
clássico com alunos do ensino fundamental? Como deve ser avaliada a leitura de livros no
ensino fundamental?
A fim de justificar a escolha do conceito de literatura adotado nesta pesquisa, serão
apresentadas e analisadas diferentes definições desse conceito, retiradas de diferentes meios.
Uma definição muito restrita de literatura poderia gerar a falsa compreensão da defesa de um
trabalho ou muito aquém do desenvolvimento real dos alunos, ou muito além de seu
33 A expressão “livro de verdade” foi utilizada, em uma conversa informal com a professora, durante os minutos finais da aula de leitura, por um dos alunos envolvidos nesta pesquisa. Segundo o garoto, pela primeira vez na vida, ele havia lido um livro inteiro e havia gostado. Questionado pela professora do porquê ele ter gostado da leitura, o aluno respondeu que era porque o livro era de verdade, que não era livro de escola.
desenvolvimento potencial, o que desestimularia os próprios alunos, os professores e a
comunidade em geral.
Ressalta-se, mais uma vez, que as definições apresentadas não esgotarão a imensa
variedade de definições que abrange o termo literatura. No entanto, para este contexto de
pesquisa em LA, elas serão importantes para nortear a proposta de trabalho que será
apresentada no capítulo três.
Uma vez entendido que um conceito é uma construção sócio-histórico-cultural, e que,
portanto, seu sentido depende do contexto social (das pessoas envolvidas na interação),
histórico (do momento em que ocorre tal definição), e cultural (das diversas vozes que ecoam
naquele conceito, há séculos transmitido a várias gerações), buscou-se a primeira definição de
literatura em um veículo considerado, na maior parte das vezes, como livre de
interferências34: o dicionário. Segundo Houaiss (2006), literatura é
1 ensino das primeiras letras 2 uso estético da linguagem escrita; arte literária Ex.: <teoria da l.> <tendências da l.> 3 conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencentes a um país, época, gênero etc. Ex.: <l. brasileira> <l. medieval> <l. romanesca> 4 Derivação: por analogia. conjunto das obras científicas, filosóficas etc., sobre um determinado assunto, matéria ou questão; bibliografia Ex.: <l. marxista> <l. farmacêutica> 5 ofício, trabalho do profissional de letras Ex.: a l. nem sempre foi tão bem remunerada 6 conjunto de escritores, poetas etc. que atuam no mundo das letras, numa determinada sociedade; tertúlia Ex.: as presenças de nossa l. em congressos internacionais 7 disciplina escolar composta de estudos literários Ex.: <aula de l.> <professor de l.> 8 boletim, folheto, conjunto de instruções etc. que acompanham certos produtos, para orientar o cliente ou o comprador sobre seu emprego 9 Uso: pejorativo. palavreado vazio, de caráter inautêntico, artificial ou superficial Ex.: acreditava em uma ou duas coisas do que o outro dizia, o mais não passava de l. (HOUAISS, 2006).
Observa-se que, em todas as acepções apresentadas pelo dicionário, a literatura está
intimamente relacionada à escrita. As acepções 2 e 3 relacionam a literatura a conceitos de
beleza, à arte, à estética. As acepções 5, 6, e 7 tratam dos profissionais da literatura. Observa-
se, entretanto, no exemplo do quinto significado, uma visão comum à sociedade atual com
relação à literatura: a de que a literatura nem sempre é uma atividade bem remunerada. As
acepções 6, em que a literatura é identificada como tertúlia (festa) e 9, em que a literatura é
comparada a palavreado vazio, demonstram uma visão atual da literatura nesta sociedade.
34 Segundo Bakhtin (1992/2003, p.287), a palavra é uma unidade significativa da língua, porém não é possível que ela ocupe uma posição responsiva se não estiver contextualizada, isto é, se não for parte de um enunciado em um determinado gênero discursivo. Embora se saiba que, mesmo nos dicionários, as definições obedeçam a escolhas lexicais de seu autor/organizador, acredita-se que no dicionário elas se apresentem menos influenciadas do que em manuais de teoria dentro das áreas a que pertençam.
Das nove acepções apresentadas, as que mais se relacionam à presente pesquisa são as
que fazem referência à literatura como arte e seus devidos estudos: a número dois, uso
estético da linguagem escrita; arte literária; a número três, conjunto de obras literárias de
reconhecido valor estético, pertencentes a um país, época, gênero etc; e a número sete,
disciplina escolar composta de estudos literários.
Dando prosseguimento à investigação sobre o conceito de literatura, buscou-se em
livros de teoria literária, sua definição. Aguiar e Silva (1976/1983) define a evolução
semântica por que passou o vocábulo literatura até o século XVIII. Segundo ele, literatura
pode ser definida como
a) Conjunto da produção literária de uma época – literatura do século XVIII, literatura victoriana -, ou de uma região – pense-se na famosa distinção de Mme. de Staël entre "literatura do norte" e "literatura do sul", etc. (...) b) Conjunto de obras que se particularizam e ganham feição especial quer pela sua origem, quer pela sua temática ou pela sua intenção: literatura feminina, literatura de terror, literatura revolucionária, literatura de evasão, etc. c) Bibliografia existente acerca de um determinado assunto. Ex: "Sobre o barroco existe uma literatura abundante...". Este sentido é próprio da língua alemã, donde transitou para outras línguas. d) Retórica, expressão artificial. Verlaine, no seu poema Art poétique, escreveu: "Et tout le reste est littérature", identificando pejorativamente "literatura" e falsidade retórica. Este significado depreciativo do vocábulo data do final do século XIX e é de origem francesa. (...) e) Por elipse, emprega-se simplesmente "literatura" em vez de história da literatura. f) Por metonímia, "literatura" significa também manual de história da literatura. g) "Literatura" pode significar ainda conhecimento organizado do fenômeno literário. Trata-se de um sentido caracteristicamente universitário da palavra e manifesta-se em expressões como literatura comparada, literatura geral, etc (AGUIAR E SILVA, 1976/1983).
Também nesse caso, as sete definições apresentadas se relacionam com a escrita. Mais
uma vez observa-se a aproximação da literatura a enunciados sem valor real, apenas
retórico35. Pela própria influência do contexto em que tais definições se encontram – livro de
teoria literária – percebe-se uma maior relação da literatura aos estudos da produção literária
(acepções a, b, c, e, f, g).
As acepções que melhor se aproximam dos estudos que serão realizados pela presente
pesquisa são a primeira, em que literatura é o conjunto da produção literária de uma época (...)
ou de uma região; a segunda, em que literatura é o conjunto de obras que se particularizam e
ganham feição especial quer pela sua origem, quer pela sua temática ou pela sua intenção; e a
última, em que literatura pode significar conhecimento organizado do fenômeno literário.
35 Neste caso, retórica pode significar, de acordo com Ferreira (1999), “adornos empolados ou pomposos de um discurso”, ou ainda “discurso de forma primorosa, porém vazio de conteúdo” (FERREIRA, 1999).
Ainda buscando esclarecer melhor a definição de literatura, apresenta-se uma versão
histórica da palavra trazida por Souza (198636):
1º) até o século XVIII, a palavra mantém o sentido primitivo de sua origem latina – litteratura -, significando conhecimento relativo às técnicas de escrever e ler, cultura do homem letrado, instrução; 2º) da segunda metade do século XVIII em diante, o vocábulo passa a significar produto da atividade do homem de letras, conjunto de obras escritas, estabelecendo-se, assim, a base de suas diversas acepções modernas (SOUZA, 1986).
Quanto às acepções modernas, Souza (1986) apresenta também cinco definições:
1ª) conjunto da produção escrita de uma época ou país (donde expressões do tipo "literatura clássica", "literatura oitocentista", "literatura brasileira" etc.); 2ª) conjunto de obras distinto pela temática, origem ou público visado (donde expressões do tipo "literatura infanto-juvenil", "literatura feminina", "literatura de ficção científica" etc.); 3ª) bibliografia sobre determinado campo especializado do conhecimento (donde expressões do tipo "literatura médica", "literatura jurídica", "literatura sociológica" etc.); 4ª) expressão afetada, ficção, irrealidade, frivolidade (donde empregos do tipo: "Depois de tanto palavrório, tanta literatura, nada se resolveu."); 5ª) disciplina que procede ao estudo sistemático da produção literária (donde expressões do tipo "literatura geral", "literatura comparada", "literatura brasileira" etc.) (SOUZA, 1986).
Mais uma vez as cinco acepções da palavra literatura relacionam-na à escrita (observa-
se na primeira definição o quanto tal idéia é clara). Na quarta acepção, novamente literatura
aparece relacionada à frivolidade.
De todas elas, relacionam-se ao objeto de estudo desta pesquisa as acepções um,
conjunto da produção escrita de uma época ou país; dois, conjunto de obras distinto pela
temática, origem ou público visado; e cinco, disciplina que procede ao estudo sistemático da
produção literária.
Convém observar, ainda segundo Souza (1986), que, como se dissera, até o século
XVIII entendia-se por literatura o “conhecimento das técnicas de escrever e ler”. As
concepções modernas, como as apresentadas, eram conhecidas como poesia. A partir da
segunda metade do século XVIII, faz-se a distinção entre literatura e poesia, tal como são
entendidas hoje:
1ª) no uso mais difundido, literatura torna-se termo abrangente, enquanto poesia se reserva para designar um gênero particular de literatura, caracterizado pelo emprego do verso e distinto do outro gênero literário, chamado prosa; 2ª) no uso menos freqüente, provavelmente posto em voga pelo Romantismo, poesia, em vez de
36 A data citada refere-se à obra SOUZA, Roberto Acízelo de. Teoria da Literatura. São Paulo: Ática, 1986. Série Princípios, disponibilizada na Internet pelo departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dessa forma, não há como indicar, nas citações diretas, a numeração exata das páginas.
designar apenas o gênero que emprega o verso, designa também composições em prosa, desde que tais composições possuam valores algo sentimentais ou tidos como artísticos.
Para se encerrar as questões de definições de literatura nos manuais de teoria literária,
cita-se ainda uma última distinção realizada por Souza (1986). Segundo ele, no século XIX,
com o intuito de determinar o objeto de estudo da literatura, os positivistas fizeram a seguinte
distinção:
1º) literatura lato sensu: conjunto da produção escrita, objeto dos estudos literários segundo a orientação positivista do século XIX; 2º) literatura stricto sensu: parte do conjunto da produção escrita e, eventualmente, certas modalidades de composições verbais de natureza oral (não-escrita), dotadas de propriedades específicas, que basicamente se resumem numa elaboração especial da linguagem e na constituição de universos ficcionais imaginários.
Esta última acepção de literatura, denominada literatura stricto sensu, é a que mais se
aproxima das abordagens de literatura que predominam ainda neste século e,
conseqüentemente, que são base dos estudos realizados nesta pesquisa.
Para que se dê prosseguimento à construção de um trabalho efetivo em literatura para
alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública de periferia, será necessária a
retomada de alguns conceitos desenvolvidos no capítulo 1: pós-modernidade e a fragmentação
da identidade.
2.1 Uma visão pós-moderna de literatura
Estando a presente pesquisa situada em plena pós-modernidade, em que a fragilidade
de conceitos é extrema e o que prevalece é a multiplicidade de sentidos, tentar definir
literatura a partir de uma ou outra visão acadêmica parece não ser o mais ideal.
No entanto, a imagem apresentada por Lajolo (2001b, p.10) para ilustrar a
compreensão de literatura na atualidade é bastante interessante. Segundo a autora,
a literatura, hoje, parece estádio de futebol em dia de final de campeonato: sempre cabe mais um, e tem até cambista vendendo ingresso para quem chega tarde. Mas há também, é claro, o setor das numeradas e das cadeiras cativas: pois a literatura de que falam os que resmungam continua viva, vai bem, obrigada, e até manda lembranças. Apenas não está mais sozinha em cena. Está acompanhada e muito bem acompanhada! (LAJOLO, 2001b, p.10).
Percebe-se, pela metáfora apresentada, que um trabalho em literatura, nos dias atuais,
não pode ignorar a existência de tantas manifestações artísticas atualmente visíveis no Brasil e
no mundo: música, cinema, teatro, dança, cordel, histórias em quadrinhos, grafite, pintura e
muitas outras que existem por aí.
Sabe-se que o número de livros publicados nas últimas décadas no Brasil cresceu
bastante, e que a literatura brasileira tem sido muito lida, inclusive no exterior. Também é de
conhecimento público que nunca no Brasil se traduziram tantas obras., “livros de todo feitio,
para todo feitio de leitores” (LAJOLO, 2001b, p.9).
No entanto, dizer que há diferentes literaturas não significa dizer que elas são
melhores ou piores. A aceitação de toda essa multiplicidade de manifestações literárias, como
mostra Lajolo (2001b, p.8), faz com que surjam ainda mais perguntas: “então música popular
é poesia? Telenovela tem tanto valor quanto romance? Folheto de cordel tem a mesma
importância estética que a epopéia...?” E a resposta vem da própria Lajolo, em uma definição
bastante pós-moderna: “tudo isso é, não é e pode ser que seja literatura. Depende do ponto de
vista, do significado que a palavra tem para cada um, da situação na qual se discute o que é
literatura” (LAJOLO, 2001b, p.16).
Considerar o contexto de produção para orientar as escolhas e análises de um texto,
nesta dissertação, não é novidade. Dessa forma, a definição de literatura proposta por Lajolo
aproxima-se bastante da noção de discurso apresentada no capítulo anterior.
Como a literatura discutida aqui nesta pesquisa refere-se à literatura para alunos de 4º
ciclo do ensino fundamental, portanto em plena adolescência, fase dos questionamentos e das
grandes experimentações, é importante que sua definição abranja o maior número possível de
manifestações. Primeiro, para recuperar os textos compatíveis ao desenvolvimento real dos
alunos, às suas experiências pessoais com a literatura. Segundo, para proporcionar a eles
experiência suficiente para escolher a literatura pela qual eles passarão a se interessar
futuramente sem, entretanto, desprezar quaisquer outras formas de manifestação.
Apesar da indicação de que um texto pode ou não ser literatura, dependendo do
contexto onde ele se encontra, fica ainda uma dúvida: afinal, o que é literatura? O que
trabalhar em literatura com alunos do 4º ciclo do ensino fundamental?
Será que são literatura os poemas adormecidos em gavetas, pastas, fitas, disquetes, CDs, cadernos e arquivos pelo mundo afora, os romances que a falta de oportunidade impediu que fossem publicados, peças de teatro nunca lidas nem encenadas e que jamais encontrarão ouvidos de gente? Será que tudo isso é literatura? Pode ser, pode ser... E, se não é literatura, por que não é? Para uma coisa
ser considerada literatura tem de ser escrita? Tem de ser editada? Tem de ser impressa em livro e vendida ao público? (LAJOLO, 2001b, p.16).
Todas essas dúvidas a respeito do que pode ou não hoje ser considerado literatura,
dúvidas essas que assustam os mais tradicionais, que prezam pela literatura clássica, pela
literatura das universidades, podem ser discutidas à luz da própria história da literatura. É de
conhecimento dos especialistas da área que, durante um bom período, poesia era canção e,
como tal, recitada – ou melhor – cantada em praças públicas para apreciação do povo em
geral, em manifestações que chegavam, muitas vezes, à catarse coletiva. Só depois é que essas
canções foram reunidas em grandes livros – os cancioneiros – e passaram a fazer parte dessa
literatura tal qual se conhece hoje. Sobre a validade dessas duas formas de manifestações, a
oral e a escrita, há hoje em dia ainda muitas tensões. Para Lajolo (2001b),
muita gente – aqueles resmungões de sempre – torce o nariz, ao ouvir dizer que emepebê é poesia. Que torçam o nariz que é deles, e cada um faz o que quer com o próprio nariz... Também a telenovela, irmã caçula da radionovela, faz parte dos excluídos da literatura oficial, bem como a literatura infantil, a fotonovela, a história em quadrinhos... a literatura – aquela que os resmungões gostam de escrever com letra maiúscula – desconfia de tudo que não é escrito, ou de tudo que ao escrito acrescenta outros códigos. (LAJOLO, 2001b, p.31)
Os principais romances da literatura brasileira – a com letra maiúscula, como
argumenta Lajolo (2001b) – também teriam começado de uma forma mais popular, em
jornais, com publicação das histórias divididas em capítulos, atraindo, assim, a atenção do
público leitor. Desconsiderar essas origens da literatura seria desconsiderar sua própria
história e tudo aquilo que se preza nas grandes universidades. Ignorar que diferentes
manifestações literárias atuais possam ser consideradas literatura será, da mesma forma,
ignorar a origem da própria literatura estudada nos grandes centros.
O século XXI, em cumprimento às promessas feitas no século XX de publicação de
textos e literatura nos mais diferentes suportes (fitas, discos, CDs, DVDs, computador, entre
outros), possibilita um retorno à literatura como manifestação diretamente popular, sem
deixar, é claro, de valorizar os clássicos, porém sem excluir outras formas de manifestações.
Como discurso, a literatura não busca uma definição absoluta, mas antes procura
encontrar, dentro de cada tempo, cada grupo social, uma resposta para suas manifestações,
respostas essas sempre para uso interno nesses grupos aos quais ela pertence. A cada,
pensador, escritor e outros envolvidos em teorias e práticas de literatura, surgem novos
conceitos que, naquele contexto de produção, tornam-se bastante convincentes.
Conceitos de tradição filosófica, inspirados na leitura de certas obras literárias, de livre
trânsito em certos meios, conforme apresenta Lajolo (2001b), estão sempre relacionados à
linguagem: “a relação que as palavras estabelecem com o contexto, com a situação de leitura
é que caracteriza, em cada situação, um texto como literário ou não-literário” (LAJOLO,
2001b, p.38). Essa definição de linguagem, que é sócio-histórico-cultural, também já
apresentada nesta pesquisa, em que a situação de uso é que determina o sentido de um texto,
interferindo, inclusive, na formação das identidades dos envolvidos na interação, será
primordial para o trabalho com literatura no 4º ciclo do ensino fundamental.
A noção de intertextualidade, desenvolvida no capítulo anterior, também será
importante para a criação de um trabalho em literatura para adolescentes e jovens do 4º ciclo
do ensino fundamental de escola pública de periferia. Como definido por Bakhtin
(1992/2003), nossos textos são, na realidade, intertextos de todos os textos que lemos,
ouvimos, presenciamos (e texto aqui está em uma definição bastante ampla, não apenas o
texto verbal, escrito). Então,
a literatura é [será] porta para variados mundos que nascem das várias leituras que dela se fazem Os mundos que ela cria não se desfazem na última página do livro, na última frase da canção, na última fala da representação nem na última tela do hipertexto. Permanecem no leitor, incorporados como vivência, marcos da história de leitura de cada um. Tudo o que lemos nos marca (LAJOLO, 2001b, p.44-45).
Essas marcas de que fala Lajolo constituem, por aproximação, todos os intertextos,
conforme apresentados por Bakhtin (1992/2003). Intertextos esses que, quando for necessário,
serão utilizados pelo sujeito produtor em situações de ação de linguagem específicas; e que
trarão, em si, toda carga histórica, cultural, ideológica que carregam, uma vez que serão, eles
também, resultados de outros textos, que vêm de outros textos, e outros, em uma busca que se
acredita não ter fim.
Quanto mais rica for a experiência do sujeito em relação à variedade de textos a que já
foi exposto durante sua vida, mais rica será a capacidade dele de se adequar a novas situações
de linguagem, e de identificar os diferentes textos que compõem determinado discurso.
Aproxima-se, assim, de uma noção de literatura que, sem necessariamente almejar à
cristalização de um conceito, ao fechamento de uma idéia, de modo simplista e inocente,
conforme discutido anteriormente, bastante se aproxima da proposta de trabalho que será
apresentada no capítulo seguinte desta dissertação. Nas palavras de Lajolo (2001b),
os mitos e espaços poéticos nascem não só da realidade circundante, compartilhada por autor e leitores, mas também do diálogo com tudo o que, vindo de tempos anteriores, constitui a chamada tradição literária. É como se a literatura fosse um constante passar a limpo de textos anteriores, constituindo o conjunto de tudo – passado e presente – um grande e único texto de literatura, agora sim, leitor, como ele maiúsculo: Literatura! (LAJOLO, 2001b, p.48).
Trabalhar literatura nessa perspectiva é buscar, a partir do resgate de textos – todos
eles: músicas, danças, desenhos, histórias pessoais, filmes, novelas – da experiência de cada
leitor, isto é, de seu desenvolvimento real, levar o aluno a atingir seu desenvolvimento
potencial, com novos textos que proporcionarão, gradativamente, a ampliação dessa rede de
textos que compõem sua experiência pessoal e a aproximação do aluno a uma literatura mais
complexa, a uma literatura como a encontrada na sociedade, de modo geral.
Definido o que seja literatura dentro desta perspectiva de pesquisa, surge a seguinte
pergunta: para que ensinar literatura para alunos do ensino fundamental de escola pública?
Quais as funções da literatura? Serão apresentadas, a seguir, algumas reflexões sobre as
funções da literatura tanto dentro da visão dos teóricos em literatura quanto dentro da visão da
LA.
2.2 Funções da literatura
Como mais uma construção sócio-histórico-cultural, também as funções da Literatura
passaram por modificações ao longo dos séculos.
Até o século XVIII, entendia-se a literatura com basicamente duas funções: ou
hedonista, ou pedagógico-moralista (AGUIAR E SILVA, 1976/1983). Como função
hedonista, destacava-se o belo, a literatura era vista apenas como fonte de prazer. Com a
função pedagógico-moralista, a literatura tinha a função de ensinar alguma coisa, de passar
algum preceito moral ao leitor. Com o passar dos tempos, passaram-se a defender outras
funções da literatura.
Entre as funções mais atribuídas à literatura, encontra-se a evasão. De acordo com
Aguiar e Silva (1976/1983) a literatura, entendida como evasão, apresenta-se como uma “fuga
do eu a determinadas condições da vida e do mundo, de um mundo imaginário, diverso
daquele de que se foge, e que funciona como sedativo, como ideal compensação, como
objetivação de sonhos e de aspirações”.
São várias as causas que geram o uso da literatura como evasão. Entre elas, Aguiar e
Silva (1976/1983) apresenta: conflitos com a sociedade, problemas e sofrimentos íntimos,
recusa de um universo finito e radicalmente imperfeito são motivos constantes para o uso da
literatura como evasão. Épocas remotas, lugares exóticos, a idealização da infância, a criação
de personagens são exemplos da materialização no texto literário da evasão como função
primordial da literatura.
Outra função, essa bastante difundida na sociedade atual, é a literatura como
conhecimento. Conforme definido por Aguiar e Silva (1976/1983), tal função é oriunda dos
ensinamentos de Aristóteles em que a literatura passa a ser vista como uma possibilidade de
conhecimento de uma realidade não apresentada pelos historiadores. Para ele,
o poeta, diferentemente do historiador, não representa fatos ou situações particulares; o poeta cria um mundo coerente em que os acontecimentos são representados na sua universalidade, segundo a lei da probabilidade ou da necessidade, assim esclarecendo a natureza profana da ação humana e dos seus móbeis. O conhecimento assim proposto pela obra literária atua depois no real, pois se a obra poética é "uma construção formal baseada em elementos do mundo real", o conhecimento proporcionado por essa obra tem de iluminar aspectos da realidade que a permite (AGUIAR E SILVA, 1976/7983).
Na iluminação de aspectos da realidade, surge outra função atribuída à literatura: a
catarse. Trazida por Aristóteles da linguagem médica, é entendida como um processo pelo
qual as “emoções angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga, à sua
destruição e transformação em contrários” (VYGOTSKY, 1999, p. 270), como “um processo
purificador que limpa o corpo de elementos nocivos” (AGUIAR E SILVA, 1976/1983).
A arte, que no caso desta dissertação refere-se à literatura, por meio da solução
catártica, desenvolve a possibilidade das emoções do sujeito “serem mediadas pelo
pensamento verbal; logo, emoções que o sujeito pode tomar para si mesmo, pode colocar sob
seu controle e como meio para novas ações” (ÉRNICA, 2006).
De Aguiar e Silva (1976/1983) apresenta-se uma última função da literatura que, de
acordo com o autor, é bastante difundida na época atual: a literatura comprometida ou
compromisso literário. Segundo ele,
o tema do compromisso é fundamental, pelas suas implicações e conseqüências, nas filosofias existencialistas. O homem, no dizer de Heidegger, não é um receptáculo, isto é, uma passividade recolhendo dados no mundo, mas um estar-no-mundo, não no sentido espacial e físico de estar em, mas no sentido de presença ativa, de estar em relação fundadora, constitutiva com o mundo (AGUIAR E SILVA, 1976/1983).
Como documento mais relevante sobre o compromisso da literatura, o autor apresenta
Sartre (1999), que vê a literatura como um reflexo do momento sócio-histórico em que ela se
encontra e, por conseqüência, como uma possibilidade de denúncias sociais.
Contextualizar sócio-historicamente uma determinada obra, considerando-a como um
reflexo e uma refração desta mesma sociedade, pode ser uma aproximação dos estudos
literários aos estudos discursivos. Não é novidade, porém, que a análise desses aspectos
passou a integrar os estudos literários. Das primeiras análises metodológicas, presas,
simplesmente, a aspectos lingüísticos do texto,
hoje se valorizam certas linhas de pesquisa que, já na primeira metade do século, levavam em conta alguns aspectos da literatura irredutíveis às formas textuais, ampliando suas análises às conexões entre o texto literário e outros processos sociais – ideológicos, históricos, culturais, econômicos etc. (...) o desenvolvimento de novas atitudes metodológicas, cujas análises não pretendem simplesmente desconsiderar o método lingüístico, mas partir das insuficiências que ele revela. Tais análises tornam a teoria da literatura permeável a outros métodos de investigação, sobretudo os de base sociológica, antropológica, psicanalítica e histórica (SOUZA, 1986).
Os estudos de Bakhtin sobre dialogismo possibilitaram, nesta dissertação, entender
literatura como discurso e, como tal, considerar todas as implicações dessa definição:
literatura como uma construção social, histórica, cultural, dialógica, polifônica, intertextual,
entre outras definições. Logo, o trabalho com literatura objetivará, mais que nunca, por meio
de uma reflexão na e pela linguagem, uma análise do modo como ocorre a produção de
sentido no discurso literário. Como apresenta Lopes (2003),
Bakhtin vai deslocar o centro de gravidade da teoria da literatura ao marcar sua posição relativamente ao problema capital das incumbências dela: a tarefa da teoria da literatura não é pinçar, na obra literária, os “reflexos” da realidade extraliterária, como proclamavam os marxistas, nem chegar a descobrir como o texto foi construído, como queriam os formalistas – era, antes, tentar compreender como ocorre, nos textos da literatura, a produção do sentido: como o discurso literário vem a significar o que significa? (LOPES, 2003, p.69).
A produção de sentido na linguagem literária, pela proposta desta dissertação, será,
para o aluno, uma importante ferramenta de ação, podendo, ou não, dependendo da escolha do
sujeito que a está utilizando, promover mudanças de comportamento.
Acredita-se que um trabalho com literatura para o 4º ciclo de ensino fundamental deva
ser capaz de, gradativamente, aproximar o educando de textos literários mais elaborados, tais
como se apresentam na sociedade. Para isso, é necessário conhecer os centros de interesse dos
alunos, seus anseios e necessidades. É preciso que se conheça o desenvolvimento real
(VYGOTSKY, 1984/2003) dos educandos, aquilo que eles são capazes de fazer sozinhos
para, a partir de então, atuar na zona de desenvolvimento proximal e atingir seu
desenvolvimento potencial (VYGOTSKY, 1984/2003). Dessa forma,
tomando como ponto de partida as obras apreciadas pelo aluno, a escola deve construir pontes entre textos de entretenimento e textos mais complexos, estabelecendo as conexões necessárias para ascender a outras formas culturais. Trata-se de uma educação literária, não com a finalidade de desenvolver uma historiografia, mas de desenvolver propostas que relacionem a recepção e a criação literárias às formas culturais da sociedade. (BRASIL, 1998b, p.71)
A maneira como aqui se enxerga essa construção de ‘pontes’ de que falam os PCN é
um dos aspectos mais importantes nesta pesquisa. Acredita-se que, entendida a Literatura
como o conjunto de todos os textos aos quais o leitor teve acesso durante sua vida e que estão
em constante diálogo com os novos textos que se apresentam a esse possível leitor (LAJOLO,
2001b), trabalhar Literatura é ativar toda essa gama de textos desses leitores para, a partir
deles, buscar textos mais complexos.
Desse modo, a Literatura, quando trabalhada com alunos de 4º ciclo do ensino
fundamental de escola pública, auxiliará na formação das identidades desses alunos, uma vez
que eles verão que são capazes de compreender o que estão lendo, e facilitará o
desenvolvimento de leituras críticas e a formação de um leitor cidadão.
De acordo com os PCN,
para ampliar os modos de ler, o trabalho com a literatura deve permitir que progressivamente ocorra a passagem gradual da leitura esporádica de títulos de um determinado gênero, época, autor para a leitura mais extensiva, de modo que o aluno possa estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o texto e outros textos, construindo referências sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural; da leitura circunscrita à experiência possível ao aluno naquele momento, para a leitura mais histórica por meio da incorporação de outros elementos, que o aluno venha a descobrir ou perceber com a mediação do professor ou de outro leitor; da leitura mais ingênua que trate o texto como mera transposição do mundo natural para a leitura mais cultural e estética, que reconheça o caráter ficcional e a natureza cultural da literatura. (BRASIL, 1998b, p.71)
Observa-se que a sugestão de um caminho encontrado para ampliar a capacidade de
leitura do educando; da sua experiência possível, em um primeiro momento, a uma leitura
situada sócio-histórico-culturalmente, após algum tempo, depende, primordialmente, da
mediação do professor.
Segundo aspecto de discussão nesta pesquisa, espera-se demonstrar que, como a
escola é tão importante na constituição das identidades dos alunos e a figura do outro – no
caso, do professor – tão significativa para a atribuição de sentido aos textos trabalhados em
sala de aula (MOITA LOPES, 2002), é essencial que a relação professor-aluno busque ser a
mais harmônica possível. Caso ocorra o contrário, correr-se-á o risco de ambas identidades
serem prejudicadas, com alunos e professores considerando-se incompetentes, devido às
representações que fazem de si em sala de aula.
Será apresentada, a seguir, uma proposta de trabalho com literatura, considerada como
prática discursiva, bem como os resultados desse trabalho com alunos de 4º ciclo de uma
escola pública de periferia do município de São Sebastião.
Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução, porque um ato criador e libertador, um ato de amor.
Para nós, a revolução, que não se faz sem teoria da revolução, portanto, sem ciência, não tem uma inconciliação com o amor. Pelo contrário, a revolução, que é feita pelos homens, o é em nome de sua humanização.
Que leva os revolucionários a aderirem aos oprimidos, senão a condição desumanizada em que se acham estes?
Não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vá deixar de ser amorosa, nem os revolucionários fazer silêncio de seu caráter biófilo (FREIRE, 2005, p.92).
3. Metodologia de um trabalho com literatura dentro de uma visão sócio-histórico-
cultural de linguagem: enfim, após tantas inquietações, um caminho!
Com o objetivo de facilitar futuras aplicações desta mesma pesquisa e garantir um
aprofundamento dos aspectos aqui levantados, serão apresentados, a seguir, alguns dados
sobre o contexto da pesquisa, os participantes envolvidos, os procedimentos e instrumentos de
coleta de dados, os métodos de análise dos dados e as categorias utilizadas.
3.1 O contexto da pesquisa
A escola de 3º e 4º ciclos de ensino fundamental onde se realiza a presente pesquisa é
administrada desde 2002 pela prefeitura municipal de São Sebastião, porém divide o mesmo
prédio com alunos do ensino médio, sob administração do governo estadual.
As turmas administradas pela prefeitura funcionam em três períodos37: manhã (das 7h
às 11h), intermediário (das 11h às 15h) e vespertino (das 15h às 19h); e, no ano da presente
pesquisa, dividem-se da seguinte maneira: Manhã: nove turmas de 5ª série e uma 6ª série;
Intermediário: seis turmas de 6ª série e quatro turmas de 7ª série; Vespertino: quatro turmas de
7ª série e seis turmas de 8ª série.
Localizada na periferia da cidade38, a escola apresenta uma série de problemas: falta
de espaço físico, uma vez que funciona durante quatro períodos diários, sem intervalos, para
atender o número de alunos que possui (no período da presente pesquisa a escola encontrava-
se com 901 alunos); alunado flutuante, a maioria filhos de migrantes que vêm para o litoral
em busca de opções de emprego e, quando não encontram, migram para outras regiões; falta
de uma biblioteca organizada, com espaço adequado para leitura e pessoa responsável pela
37 As turmas do ensino médio, administradas pelo governo estadual, também funcionam em três períodos, nos seguintes horários: manhã, das 7h às 12h20min; tarde, das 13h às 18h20min; noite, das 19h às 22h40min. 38 Apesar das considerações já realizadas a respeito do conceito de periferia, convém salientar que a escola fica a catorze quilômetros de distância do centro da cidade.
manutenção do acervo, e falta de equipamentos39, como computador e máquina de xérox, para
produção de materiais didáticos.
O problema da violência também é outro fator de preocupação constante. Além das
demonstrações de violência interna (alunos que depredam portas e banheiros, picham as
paredes e carteiras da escola, entre outras coisas), casos externos de violência, entre eles o uso
e o tráfico de drogas, também influenciam, de certo modo, o andamento das atividades
escolares40. São de conhecimento da comunidade escolar, por exemplo, casos de alunos com
passagens pelo Conselho Tutelar e/ou pela polícia por roubo, furto, uso e tráfico de drogas.
A limpeza é outro problema sério. Devido ao horário corrido que possui, as salas de
aula não são varridas entre um período em outro. Para conseguir as condições mínimas de
limpeza, as serventes varrem as salas durante o intervalo (que é de quinze minutos) ou durante
as aulas de Educação Física, quando a sala fica vaga.
Para tentar garantir o bom andamento das atividades escolares, colaborar na limpeza e
diminuir os casos de depredação e violência, realizou-se, no ano de desenvolvimento da
pesquisa, uma gincana entre todas as turmas do ensino fundamental. Nessa gincana, que teve
a duração de três bimestres (de maio a dezembro), as turmas recebiam, ao final de cada aula,
uma pontuação referente a três fatores: atividades, comportamento e limpeza. Os pontos eram
atribuídos pelos professores e somados no final do mês ou do bimestre, de acordo com a
disponibilidade dos coordenadores. As salas que se destacavam na Maratona do Saber, como
é conhecida a gincana, era premiada com alguma atividade extra: um passeio41 , uma sessão
de filme, entre outras coisas.
Apresentadas as condições de funcionamento da escola, passa-se, a seguir, para uma
apresentação das turmas envolvidas e para um maior detalhamento da organização das aulas,
de acordo com as escolhas da professora.
39 Ao longo do ano de desenvolvimento desta pesquisa, a escola adquiriu alguns materiais permanentes como televisão, vídeo cassete, aparelho de som e de DVD. 40 Por causa dos casos de violência no bairro, por exemplo, as festas realizadas na escola começam, geralmente, às 16h e vão, no máximo, até as 21h. 41 Normalmente os passeios são atividades oferecidas pela própria Secretaria Municipal da Educação, como visitas a museus da cidade, ou a peças de teatro que estão se apresentando no município. Quando não há nenhum evento acontecendo, as premiações acontecem com passeios pelo próprio bairro: fazendas, praia etc.
3.2 Participantes
Apesar dos dados que serão analisados nesta dissertação terem sido coletados a partir
de atividades normais desenvolvidas pela professora em sala de aula, com a participação de
todos os alunos de cada turma, participam, para efeito de pesquisa, 30 adolescentes de 7ª série
do ensino fundamental de uma escola pública municipal de São Sebastião. Desses, 07
estudavam em turmas do período intermediário (das 11h às 15h), e 23 estudavam no período
vespertino (das 15h às 19h).
Como os alunos participantes eram menores, as autorizações foram solicitadas durante
a reunião de pais do primeiro bimestre, ocorrida em maio de 2006, e só a partir dessa data é
que os dados passaram a ser coletados.
3.3 Materiais
Foram utilizados os seguintes materiais:
1) Folhas pautadas para produção de textos;
2) Folhas sem pautas (A4 e A3) para produção e ilustração de textos;
3) Aparelho de som para reprodução de CD (texto Um apólogo);
4) Gravador de áudio para gravação da leitura realizada pelos alunos do conto Um
apólogo, de Machado de Assis, e de outras versões do conto.
5) Livros diversificados (Ver Anexo A);
6) Lápis de cor, canetinha, tinta guache, pincéis para produção dos textos;
7) Televisão e aparelho de DVD (vídeo Machado de Assis, um mestre na periferia,
25min, e vídeo Memórias Póstumas, de 102min – do qual foram assistidas apenas
algumas cenas);
8) Computador para pesquisas da professora e produção de materiais (textos, letras
das músicas) para os alunos. O computador também foi utilizado para gravação de
CD de áudio com a leitura realizada pelos alunos.
3.4 Procedimentos de coleta de dados
Os alunos participaram da pesquisa dentro dos períodos normais de aula.
Objetivando contextualizar o leitor das intervenções realizadas pela professora ao
longo do curso de Língua Portuguesa, serão descritas, a seguir, algumas das atividades
desenvolvidas durante as aulas de Literatura, até o momento de produção do texto que será
utilizado para análise nesta pesquisa.
3.4.1 Conhecer as turmas envolvidas para estabelecer os objetivos do curso: Ainda que
eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria...
As atividades que serão descritas a seguir realizam-se durante as aulas de Língua
Portuguesa de quatro turmas de sétima série, duas do período intermediário (das 11h às 15h) e
duas do período vespertino (das 15h às 19h). De acordo com a grade curricular da prefeitura,
e em adaptação para o horário da escola, a matéria Língua Portuguesa é ministrada em seis
aulas semanais de quarenta e cinco minutos cada. No ano desta pesquisa, as aulas de Língua
Portuguesa dessas turmas acontecem de segunda a quinta-feira.
O processo de conhecimento das turmas que fariam parte desta pesquisa ocorreu, na
realidade, no primeiro dia de aula, com a escrita de uma carta de apresentação. Após uma
rápida apresentação pessoal, mostrei42 vários textos (crachá, receita médica, passe escolar,
ticket de supermercado, entre outros) para os alunos, a fim de justificar a eles porque
trabalharíamos, durante o ano, com textos que teriam, além da função de aprendizagem e
avaliação dentro da escola, outras funções sociais. À medida que ia mostrando os textos, os
alunos iam identificando-os como passe escolar, receita média etc.
Chegamos à conclusão de que um texto normalmente apresenta características que
ajudarão a defini-lo como pertencente a um ou outro tipo de texto – os gêneros discursivos, e 42 Normalmente se utiliza o termo professor-pesquisador para situações como a desta pesquisa, em que o próprio professor analisa suas ações com base em alguma teoria. Porém, conforme demonstrado no capítulo 1 desta dissertação, e de acordo com as idéias de Paulo Freire (1999, p.32), “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”. Dessa forma, o termo professor-pesquisador torna-se redundante, uma vez que, ser professor, na concepção que se apresenta aqui, subentende ser pesquisador. Interessante ressaltar, no entanto, que professora das turmas analisadas e a autora desta pesquisa são as mesmas pessoas, apenas em papéis sociais diferentes, e que essa heterogeneidade discursiva ficará cada vez mais aparente nas análises que serão realizadas, podendo, inclusive, devido ao grau de envolvimento da pesquisadora e da professora com as atividades desenvolvidas, ser utilizada, em alguns momentos das análises a seguir, a primeira pessoa do singular.
expliquei que trabalharíamos com diferentes gêneros durante o ano, sempre atentando para as
formas reais como eles aparecem na sociedade, e que o primeiro texto seria uma carta de
apresentação, uma vez que não nos conhecíamos direito.
Orientei que a carta seria endereçada para mim e que deveria ter, no mínimo, três
parágrafos: o primeiro deveria conter uma apresentação geral do remetente, isto é, deles:
como eram, o que gostavam de fazer, músicas preferidas, time para qual torciam, entre outras
coisas; o segundo parágrafo apresentaria uma retomada do que eles tinham estudado, em
Língua Portuguesa, durante os anos anteriores: o que eles gostaram e o que eles não gostaram
de estudar; o terceiro parágrafo traria um posicionamento dos alunos com relação ao ano que
estava iniciando, o que eles gostariam de fazer ou de estudar.
Com as cartas em mãos, pude conhecer os principais problemas dos alunos com os
quais trabalharia durante o ano, tanto no que se refere à produção escrita (condições
sociopsicológicas da produção dos textos; análise das propriedades estruturais e funcionais
internas dos textos (BRONCKART, 1999)), quanto ao que já tinham estudado em anos
anteriores. No que se refere à parte humana, também pude conhecer alguns de seus gostos e
anseios. Estava procurando determinar, de modo bastante generalizado, uma vez que as
turmas eram bastante heterogêneas, o nível de desenvolvimento real dos alunos
(VYGOTSKY, 1984/2003), e o que seria possível desenvolver com eles durante um ano para
que atingissem seu desenvolvimento potencial (VYGOTSKY, 1984/2003).
Empiricamente, pude notar que a maioria dos alunos possuía uma noção de produção
de texto, tanto nos aspectos discursivos como nos aspectos lingüísticos. Com relação às
preferências das turmas, a música apareceu em quase todas as cartas, sendo o RAP e o funk os
dois ritmos mais citados. O futebol também foi bastante mencionado, com inúmeras
referências a times de futebol e à Copa do Mundo. O que mais chamou minha atenção, no
entanto, foram às referências ao que já tinham estudado (normalmente só falavam sobre os
conteúdos gramaticais) e ao fato de não gostarem de ler.
Apesar de saber que, na sociedade atual, devido a uma série de fatores, ainda é comum
o adolescente negar o gosto pela leitura (ASSIS; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2000; 2007),
estava claro que, se quisesse desenvolver naqueles adolescentes competências para torná-los
leitores literários, teria de promover atividades a partir de seus interesses e levá-los à
descoberta de que eram capazes de realizar leituras interessantes e, até mesmo, gostar delas.
Para o bom andamento das aulas, foi explicado para os alunos, no início do ano, que o
curso de Língua Portuguesa procuraria ser o mais coeso possível, buscando relacionar todas
as atividades a um propósito maior, não só pela atividade em si, mas para a produção de algo
que agradasse à turma.
Para esclarecer aos alunos como as leituras que já realizamos interferem no modo
como realizaremos novas leituras (noção de intertexto (BAKHTIN, 1992/2003)), foram
utilizadas três músicas: Pais e filhos, do compositor Renato Russo (1998); Palavras repetidas,
do Gabriel, o pensador (2004); e Monte Castelo, também do Renato Russo (2003).
Com a letra da primeira música em mãos, os alunos cantaram, com muito entusiasmo,
o refrão “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã/ Porque se você parar pra
pensar na verdade não há”. Ao final da reprodução da música (em CD), perguntei aos alunos
o que os levaria a saber tal letra se ela havia sido escrita antes mesmo de eles nascerem.
Muitos responderam que era porque a letra era bonita, que o ritmo era legal, que os pais
ouviam em casa, e que ela havia sido recentemente regravada pelo compositor Gabriel, o
pensador.
Nas aulas seguintes, levei para as turmas a música do Gabriel, o pensador, e pudemos
verificar que realmente um trecho da música do Renato Russo aparecia na música do Gabriel.
Mais que isso, na versão do Gabriel, era o próprio Renato Russo que cantava, havendo uma
mixagem das duas músicas. Questionei-os sobre se era apenas no refrão que havia referências
à música do Renato Russo. Após algumas leituras, os alunos perceberam que havia outros
momentos em que aparecia na música do Gabriel referências à música do Renato Russo:
Sou um grão de areia no olho do furacão, Em meio a milhões de grãos, Cada um na sua busca, Cada busca leva um coração, Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação, Nem sempre pode se ter fé, Quando fungos aparecem debaixo do seu pé. (GABRIEL O PENSADOR, 2004).
Comentamos que nem sempre a referência é direta, como no caso do refrão em que é a
própria voz do Renato Russo que aparece na música do Gabriel, mas que às vezes uma mesma
idéia é reproduzida, porém com outras palavras.
Encerrei a aula entregando à turma outra música do compositor Renato Russo: Monte
Castelo. Pedi, então, que encontrassem, nesse texto, trechos que já haviam sido citados nas
outras duas letras analisadas. Rapidamente os alunos localizaram o seguinte trecho:
Ainda que eu falasse a língua dos homens. E falasse a língua do anjos, sem amor eu nada seria (RUSSO, 2003).
Que havia aparecido em:
Acreditando na chance de ser feliz, Eterna cicatriz, Eterno aprendiz, das escolhas que fiz, Sem amor eu nada seria, Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias, De todas as falantes e facções, Ainda que eu gritasse os gritos de todas as legiões (GABRIEL O PENSADOR, 2004).
Ao final da aula, comentei com os alunos que esse trecho já havia sido escrito em
outros lugares e desafiei-os a descobrir onde. Na aula seguinte, alguns deles levaram a Bíblia,
com o trecho Coríntios 13, 1-13 marcado. Alguns ficaram espantados com a descoberta.
Apresentei a eles, então, o Soneto de Camões, que também havia aparecido no texto do
Renato Russo. Comentei que aquele texto era um clássico da Literatura, escrito há muitos
séculos, e que ainda nos dias atuais estava sendo comentado. Os alunos perguntaram se eu
achava que o Gabriel, o pensador, sabia disso quando escreveu sua canção. Comentei com
eles que eu acreditava que sim, porém que o mais importante, para mim, era que nós
pudéssemos recuperar esses textos, era que nós pudéssemos conhecê-los.
Chegamos à conclusão que uma leitura será tanto mais profunda quanto maior for a
capacidade do leitor de recuperar textos citados por outros textos. E que nossos próprios
textos eram referências a todos os textos que conhecíamos. Com um exemplo bastante
simples, pedi para que os alunos descrevessem um monstro, que eu o desenharia na lousa.
Conforme iam falando, eu ia desenhando. Foram várias as sugestões: nariz de elefante, um
olho só, orelha de morcego, pescoço de girafa, mão de robô... Após o desenho terminado,
perguntei a eles se aquela figura existia. Estava claro que não. No entanto, para que
pudéssemos criá-la, tivemos de utilizar uma série de elementos conhecidos: nariz, elefante,
olho, orelha, morcego etc.
Relacionado as idéias, percebemos que o mesmo ocorre com a produção de textos:
sempre utilizamos elementos conhecidos por nós para criarmos novos textos. Vimos também
que, quanto mais conhecermos coisas, mais teremos capacidade de identificá-las em outros
locais e mais criativos seremos, em um processo sem fim.
Neste momento, com a idéia de intertexto desenvolvida com os alunos e justificada a
importância da leitura na vida de cada um, a organização do curso de Língua Portuguesa foi
apresentada aos alunos: das seis aulas semanais de Língua Portuguesa, a última aula da
semana, que acontece toda quinta-feira, seria destinada à leitura de textos literários. Durante
duas aulas semanais – duas aulas seguidas –, variando de acordo com o horário de aula das
turmas, seriam realizados trabalhos em grupos43. As outras três aulas restantes seriam
utilizadas para estudos gramaticais e as aulas de leitura e interpretação de textos diversos.
3.4.2 Da leitura descontraída à sistematização dos conhecimentos: era uma vez uma aula
de leitura...
Trabalhar leitura com alunos do 4º ciclo do ensino fundamental exige muito mais que
a disponibilização de livros para serem lidos. Um preparo sistemático, com objetivos claros a
serem atingidos, além da consciência de que tudo que foi planejado pode não dar certo e de
que será necessário buscar novas formas de atrair os alunos à leitura são elementos essenciais
para a realização de aulas de leitura.
De qualquer modo, ler é um ato individual. Por maior que seja o apoio do professor ou
de um par mais desenvolvido, a leitura exige algumas habilidades extremamente individuais.
A aula de leitura deve proporcionar, nesse sentido, tanto momentos de concentração, em que o
aluno realmente lê o texto, sozinho, quanto momentos em que ele seja estimulado a falar
sobre a história, a compartilhar seus conhecimentos, suas descobertas com os colegas.
Seguidas as etapas iniciais para o desenvolvimento da aula de leitura (Ver Apêndice
A), pude perceber que alguns alunos tinham uma dificuldade muito grande em comentar sobre
as histórias que estavam lendo. Alunos que diziam que não sabiam se gostavam do livro pois
ainda estavam na história três (se referindo ao capítulo três, por exemplo), me fizeram
perceber que faltava a eles informações básicas sobre a estrutura do texto narrativo.
43 Ainda durante o primeiro bimestre, os alunos se dividiram em grupos para a elaboração de um jornal e a realização de trabalhos durante o ano. Cada grupo definiu: a) o nome do jornal; b) o público-alvo do jornal (se alunos de 5ª, 6ª, 7ª ou 8ª séries); c) o slogan do jornal; d) o logotipo do jornal; e) os principais assuntos que seriam abordados no jornal. Ao final de cada bimestre, cada grupo apresentava um jornal para o restante da sala e para o público-alvo escolhido, com o resultado dos trabalhos realizados durante aquele período. Os jornais eram lidos, os alunos/leitores escreviam comentários ou sobre as matérias ou sobre o próprio jornal e os encaminhavam para o grupo produtor do jornal, que ficava encarregado de selecionar e publicar trechos dos comentários na seção Carta do leitor do número seguinte do jornal (que era desenvolvido no final do bimestre seguinte). Esse meio de divulgação dos textos produzidos, de acordo com Lopes-Rossi (2002a), importantíssimo na realização de trabalhos em sala de aula, contribuiu bastante para a dedicação dos alunos às atividades realizadas.
Para resolver tal problema, busquei nas novelas da televisão as estruturas narrativas de
que necessitavam para a compreensão das histórias. Associando os principais elementos de
um texto narrativo em prosa: personagens, tempo, ambiente e ação – problema, evolução do
problema, clímax e desfecho (PROENÇA FILHO, 2003) à estrutura das novelas, os alunos
puderam perceber que o livro, assim como as novelas da TV, também contam uma história,
porém dividida em capítulos. E que a estrutura das histórias normalmente segue um esquema
básico, apresentado para os alunos na forma do seguinte gráfico44:
Clímax
Evolução do problema
ProblemaTempo
PersonagensEspaço Desfecho
Fig. 02 – GRÁFICO DA NARRAÇÃO
Dessa forma, quando comentava sobre as histórias lidas, procurava seguir os
elementos do gráfico, e logo eles foram se acostumando a essa nomenclatura e passaram a
usá-la também.
Conhecido o gráfico da narração, foi realizado um trabalho mais técnico a respeito da
produção do gênero discursivo resumo45, em especial de resumo de texto narrativo, como
normalmente é cobrado em escolas do ensino fundamental. Tal atividade destinava-se a
auxiliar os próprios alunos na apresentação da obra à classe.
Nas primeiras explicações sobre os livros, foi constatada uma segunda necessidade de
intervenção: o desenvolvimento de habilidades para que descobrissem as informações
implícitas nos textos. Durante as exposições, quando questionados sobre alguma característica
de um personagem, por exemplo, característica física ou psicológica, os alunos sempre
44 É de conhecimento da professora a existência de outros segmentos do texto narrativo, como o anticlímax e a peripécia, por exemplo. No entanto, pelo nível de desenvolvimento dos alunos, optou-se pelo estudo de somente alguns elementos, conforme demonstrado no gráfico. 45 Em toda produção de texto realizada com os alunos, procurou-se seguir as etapas de produção de texto com base em gêneros discursivos, conforme apresentadas por Lopes-Rossi (2002a): leitura para apropriação das características do gênero (discursivas, temáticas e composicionais); produção escrita, de acordo com as condições de produção típicas do gênero (observando as etapas de coleta de dados, se necessária, 1ª versão do texto, correção colaborativa, 2ª versão do texto, nova revisão – se preciso – e produção final do texto); divulgação ao público, também de acordo com as características discursivas do gênero.
respondiam que não sabiam, pois não estava escrito no livro. Mais uma vez notei a
necessidade de interferência e, para resolver esse problema, foi pedida a criação de uma
personagem.
Como apresentavam ainda grandes dificuldades para localizar no gênero romance
infanto-juvenil características de uma personagem, busquei solucionar a situação atuando
novamente na ZDP e levando para a sala de aula algo mais próximo à realidade dos alunos, ao
seu desenvolvimento real: as histórias em quadrinhos.
Acreditava que, com o auxílio das imagens, ficaria mais fácil para que os alunos
percebessem que determinadas características das personagens encontram-se expressas nas
histórias, enquanto outras têm de ser inferidas.
Foram levados para sala de aula vários gibis da Turma da Mônica46, com personagens
bastante conhecidas dos alunos: Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, Chico Bento, entre
outros. As primeiras leituras das histórias ocorreram de forma bastante descontraída, em
momentos de descanso dos alunos47.
Na seqüência, as turmas foram divididas em grupos48 e, após uma retomada dos
principais elementos das histórias em quadrinhos (balões, presença do narrador, expressão dos
desenhos, onomatopéias, cores, tipos de letras, entre outras), os alunos escolheram uma das
personagens dos gibis para a realização de um levantamento de suas principais características.
Foi colocada na lousa uma ficha para facilitar os aspectos que deveriam ser observados pelos
grupos. Segue a reprodução da ficha com os elementos solicitados para análise:
46 A opção pelas personagens da turma da Mônica deu-se em decorrência: 1º) Da facilidade da professora para conseguir os gibis, 2º) Da crença da professora em que os alunos conheciam bem as personagens da turma, e 3º) De um projeto sobre os gêneros discursivos crônica e entrevista, realizados pela professora concomitantemente a esta pesquisa. 47 Apesar da Turma da Mônica ser bastante conhecida entre crianças e adolescentes, percebi que alguns alunos não possuíam tanta familiaridade com os nomes e principais características das personagens. Disponibilizei então, durante as aulas, alguns gibis. À medida que os alunos iam terminando as atividades propostas para o dia, podiam pegar e ler, sem compromisso algum, as histórias. Assim, quando fossem realizar a atividade seguinte, os alunos estariam mais acostumados com as personagens. 48 Para garantir a efetiva publicação dos textos produzidos ao longo do ano, os alunos se dividiram em grupos de aproximadamente cinco pessoas e criaram um jornal com nome, logotipo, slogan e público-alvo. Ao final de cada bimestre, cada grupo escolhia, entre os textos produzidos pelos seus integrantes, aqueles que deveriam compor o jornal.
Ficha para análise de personagem
Nome: Onde mora: Idade: Estilo de roupa: Estilo de fala:
Mora com quem: Nível social: Principais preocupações: Assuntos abordados nas historias: Outras curiosidades:
Fig. 03 – FICHA PARA ANÁLISE DE PERSONAGEM
Durante o preenchimento das fichas, foram aparecendo novamente as mesmas
dificuldades apresentadas pelos alunos durante as aulas de literatura: como saber a idade da
personagem se não está escrito no livro, como descobrir o nível social dos personagens, como
identificar as principais preocupações dos personagens, entre outras.
As respostas para todas essas questões eram discutidas nos grupos, às vezes
individualmente, às vezes nos grupos menores e às vezes com a própria classe. No final da
atividade, todos conseguiram preencher suas fichas e cada grupo apresentou para a classe,
ainda que brevemente, as descobertas que tinham realizado.
Assim que terminadas essas primeiras atividades, durante as aulas de leitura já
puderam ser observadas algumas mudanças de comportamento dos alunos. Eles passaram a
comentar, no início ou no final das aulas, sobre as características das personagens que até
então não tinham parado para observar. Essa alteração de comportamento gerou nova
intervenção.
A partir da mesma ficha utilizada para análise das personagens do Mauricio de Sousa,
os alunos, também em grupos, iniciaram um processo de criação de personagens. Cada grupo
criou sua personagem, de acordo com as características que eles achavam mais interessantes
para a personagem e para o público-alvo de seu jornal, uma vez que as histórias que criariam
seriam publicadas nos jornais de cada grupo, ao final do bimestre. A única exigência feita foi
que a personagem vivesse na mesma região em que a escola está situada.
Apresenta-se, a seguir, a transcrição da ficha do personagem Marquinhos, criado por
um dos grupos do período vespertino:
Ficha para criação de personagem
Nome: Marquinhos Onde mora: Enseada Idade: 15 anos Estilo de roupa: blusa cinza, shorts azul, sapato marrom e boné preto. Estilo de fala: Fala normal
Mora com quem: Com a vó Nível social: Classe média Principais preocupações: Arrumar uma namorada Assuntos abordados na história: Diversão e ansiedade Outras curiosidades: Marquinhos pensa em ir morar com sua vó na casa de seus pais no RJ.
Fig. 04 – FICHA PARA CRIAÇÃO DE PERSONAGEM
Percebe-se que os alunos seguiram a proposta de que o personagem morasse na região
da escola, uma vez que Enseada é o nome do bairro onde esta se localiza. A idade, 15 anos,
também é importante para os adolescentes: nessa fase, eles não são mais tão crianças, e
passam a ser respeitados pelos colegas, a assumir responsabilidades que antes não cabiam a
eles (sustento da casa – muitos alunos trabalham fora, escolhas profissionais, entre outras).
A escolha por roupas simples, iguais em todas as histórias, deve ter ocorrido em
conseqüência das observações das histórias do Mauricio de Sousa, em que as personagens
aparecem sempre com a mesma roupa, e da facilidade na criação e reprodução dos desenhos,
uma vez que o tempo para a criação das histórias não era muito grande.
É provável que a descrição da fala da personagem como normal apareça em
contrapartida à fala do Cebolinha, que apresenta algumas trocas fonéticas. Houve grupos que
salientaram a utilização de gírias no estilo de fala da personagem.
Observações empíricas permitem dizer, por exemplo, que o fato da personagem morar
com a avó e que uma de suas preocupações seja a possibilidade de mudança para a casa da
mãe (sem abandonar a avó) refletem a condição de muitos dos alunos da escola, que são
criados pelas avós e, muitas vezes, sem uma referência masculina.
Arrumar uma namorada, em uma mistura de sentimentos de diversão e ansiedade,
também é um possível reflexo da posição social de um garoto de quinze anos, que está
iniciando sua vida sexual e sofre, portanto, pressões sociais nesse sentido.
A etapa de criação de personagem acabou por gerar, nos alunos, novos conhecimentos
a respeito das funções da Literatura, como a possibilidade de, por meio da voz da
personagem, demonstrar alguma insatisfação, realizar algum questionamento social, conversar
sobre seus problemas. Por meio de uma personagem, eles estavam sendo capazes de agir na
A prim
sociedade.
eira história do Marquinhos, por exemplo, uma apresentação ao público da
ersonagem, traz como assunto principal o que o grupo propôs na ficha de criação de
ersonagem: arrumar uma namorada.
Percebe-se, no texto dos alunos, características de seqüência narrativa de acordo com a
ue havia sido trabalhada com eles em outras aulas (fig. 02): no primeiro quadrinho, há a
apresentação do espaço onde se passará a história – uma casa simples, com árvores ao redor,
m jardim; o tempo é apresentado, além do desenho do sol, no canto do quadro, juntamente à
presentação da personagem, por meio da fala dele. O “Que lindo dia!” é uma indicação
Fig. 05 – A PRIMEIRA TIRINHA
p
p
q
u
a
temporal – a história se passará de dia – e demonstra também características dessa
ersonagem – bom humor, simplicidade, entre outras, uma vez que se alegra facilmente em
um ambiente como o demonstrado e é capaz de expressar seus sentimentos falando.
No segundo quadrinho, a continuidade do caminho onde se encontra o personagem
da segunda personagem traz o problema da
istória. Conforme determinado na ficha da personagem, sua principal preocupação é arranjar
ma namorada. O pensamento do Marquinhos ao ver a menina (“Que menina linda!”)
onstra seu interesse por ela.
No terceiro quadrinho esse interesse é confirmado ao se observar que Marquinhos
colheu uma das flores do jardim e a está oferecendo à menina (evolução do conflito). No
ntanto, o desfecho ocorre de forma inesperada, uma vez que a menina despreza a flor e não
orresponde aos anseios do garoto, fazendo com que seu objetivo inicial – arranjar uma
amorada – não seja atingido.
bserva-se, agora, a segunda história:
mente o
person
a é garantida, pois percebe-se que a
personagem levantou-se do banco onde estava e foi até a menina, uma vez que ela permanece
p
garante a seqüência narrativa, e a presença
h
u
dem
e
c
n
O
Na segunda tirinha, o ambiente em que se passa a história é o mesmo da primeira
tirinha, próximo à casa da personagem. O tempo é determinado apenas pelo desenho de fundo
do quadrinho (céu claro, o que indica que a história se passa durante o dia), e nova
Fig. 06 – A SEGUNDA TIRINHA
agem se depara com seu grande problema: arrumar uma namorada. Ele está lendo,
enquanto observa uma menina (não é a mesma garota da primeira tirinha, pois aquela era
morena e esta é loira), que parece também estar olhando para ele. Novamente seu pensamento
é de admiração “Que garota linda!”.
No segundo quadrinho, a seqüência narrativ
no mes
elmente sua avó, chamando para que ele vá arrumar seus
brinque inte pensamento da menina: “Credo. Estava
ostando de uma criança!”, que demonstra que mais uma vez seus objetivos não foram
atingidos, isto é, que ele não conseguiu arrumar uma namorada.
Pelas atividades desenvolvidas, os alunos demonstravam que já tinham habilidades
a produção de histórias com estrutura narrativa completa e que já tinham
apacidade de, por meio das personagens e dos assuntos abordados nas histórias, trabalhar
om temas de interesse da comunidade em que estavam inseridos. Era momento, então, de dar
salto e ver como isso acontecia em textos literários mais complexos.
3.4.3 Desenvolvimento potencial:
tal de escola pública de periferia.
zação de animais como
person
mo lugar e ele é que está, agora, em frente à casa, junto com ela; outro fator é o livro
que ele estava lendo e que aparece embaixo do seu braço do menino.
A iniciativa do segundo quadrinho é tomada pela menina, que o convida para tomar
um sorvete. Marquinhos aceita de prontidão, no entanto, no terceiro quadrinho, aparece a
figura de uma mulher, provav
dos. A história termina com o segu
g
para trabalhar com
c
c
um
Machado de Assis, um mestre na periferia...
A representatividade na Literatura Brasileira, a capacidade de questionar a sociedade
de modo profundo e discreto, ao mesmo tempo, a facilidade de se conseguir informações
sobre ele, sobre sua origem, além da preferência pessoal da professora, entre outras coisas,
foram fatores decisivos para a escolha de se trabalhar com textos de Machado de Assis com
alunos de 7ª série de ensino fundamen
Entre tantos textos disponíveis, escolheu-se o que, a princípio, pareceu mais próximo
do desenvolvimento real dos alunos: Um apólogo49. Sabe-se, empiricamente, que a utilização
de fábulas em séries iniciais do ensino fundamental é bastante grande, uma vez que os textos
geralmente são curtos, portanto, fáceis de passar na lousa; e que a utili
agens é algo bastante próximo à realidade dos alunos, observando-se o número de
desenhos animados que apresentam essa característica. Dessa forma, a escolha de um apólogo
para dar continuidade às atividades literárias com os alunos pareceu bastante adequada.
49 Entende-se por apólogo um “gênero alegórico que consiste numa narrativa que ilustra uma lição de sabedoria, utilizando personagens de índole diversa, reais ou fantásticas, animadas facilmente com a fábula, embora esta se concentre mais em relações que e
ou inanimadas. (...) Confunde-se nvolvem coisas e animais, e com a
parábola, que se ocupa mais de histórias entre homens e figuras alegóricas com sentido religioso” (CEIA, 2007).
No mais, o assunto abordado no texto também agrada aos adolescentes: uma discussão
sobre vaidade, egoísmo, parceria, união, preconceito, chegando quase a um ‘bate-boca’, faz
com que o texto esteja bastante próximo à realidade dos alunos. A própria estrutura da
narrativa colabora também para um avanço nos estudos de seus aspectos estruturais, mais
especificamente do gênero apólogo.
Para um estudo mais aprofundado das características do gênero e do autor, os alunos
orientados
pela professora de que encontrariam material sobre este autor em enciclopédias, em livros de
Língua Portuguesa do Ensino Médio e nos próprios livros do autor, que poderiam ser
encont
ado de Assis ter sido
autodid
em
Na aula seguinte à apresentação dos vídeos, foi passado para a classe um trecho (do
parágrafo um ao dezessete) do conto Um
foram solicitados a produzir um trabalho sobre quem é Machado de Assis. Foram
rados até mesmo na biblioteca da escola (que é muito pequena) ou do bairro.
No dia marcado para a entrega dos trabalhos, foram feitos comentários sobre as
descobertas a respeito de Machado de Assis. Muitos comentaram o fato de, nos livros, ser
citado que Machado de Assis era mulato e de origem pobre, e ter se tornado o maior escritor
brasileiro. Outra característica muito comentada foi a citação de Mach
ata e não ter freqüentado escolas.
Para complementar os assuntos discutidos aula, foram apresentados dois vídeos
aos alunos: o primeiro, chamado Machado de Assis, um mestre na periferia (TV Escola /
MEC. Brasil, 2001), trazia informações sobre a vida e as principais obras do autor; o segundo,
Memórias Póstumas, serviu para ilustrar comentários sobre as diferenças das épocas das
histórias e a época atual.
apólogo (ASSIS, 2001, p. 108-110). Os alunos
foram avisados de que o texto que copiavam da lousa não estava completo e que trabalhariam
com ele durante, aproximadamente, um mês. Segue a transcrição do trecho inicial do conto:
Com o texto no caderno, a primeira atividade desenvolvida foi com relação ao
vocabulário. As palavras desconhecidas, inclusive o título, foram procuradas nos dicionários
ou elucidadas pelos colegas ou pela professora.
Em seguida, a professora e um aluno que se ofereceu como voluntário realizaram a
leitura dramatizada do texto. Na seqüência, os alunos dividiram-se em trios e receberam
orientação para que praticassem a leitura do texto: um deles seria o narrador; outro seria a
linha; e o último seria a agulha. Foram feitos alguns comentários sobre a importância de uma
boa dicção, da altura e, até mesmo, das expressões corporais durante a realização da leitura.
Os alunos tiveram o prazo de um final de semana para praticarem, em casa, a leitura do texto.
UM APÓLOGO – Machado de Assis Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: - Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale
alguma coisa neste mundo? - Deixe-me, senhora. - Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar
insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. - Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça.
Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.
pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição
- Mas você é orgulhosa. - Decerto que sou. - Mas por quê? - É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose,
senão eu? - Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou
eu, e muito eu? - Você fura o
aos babados... - Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que
vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando... - Também os batedores vão adiante do imperador. - Você é imperador? - Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai
só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...
Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana - para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha:
- Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima.
(...)
Fig. 07 – PRIMEIRA PARTE DO CONTO UM APÓLOGO
Combinada com a turma como uma das avaliações do bimestre, as leituras
aconteceram de modo tranqüilo, com grande pa Durante a atividade,
alguns puderam erceber a importância de uma cópia bem feita no caderno, pois sabiam que
não poderiam, foram
orientad ior respeito possível pelos leitores.
ntre as personagens: liam
bem, co om os
turnos d ler nos sinais de pontuação ou trocando de leitor a cada
linha do caderno. Aqueles que realizavam leituras insatisfatórias recebiam novas orientações,
praticavam a aula
seguinte.
gas da
classe, c ante as
aulas de Língu bservar é que o mesmo texto lido
várias vezes pe imento
dos alunos era tan
leituras D sua
apresen
o um
julgame como
tarefa b al, argumentos para verificar quem tinha razão na discussão
apresentada na história: a linha ou a agulha
divisão da sala em duas equipes, foram o júri no dia do julgamento.
nenhuma das turmas os alunos chegaram a
alguma
rticipação dos alunos.
p
durante a leitura, omitir ou trocar nenhuma palavra. As turmas
as para que tivessem o ma
Alguns alunos tiveram dificuldades na divisão da leitura e
m entonação adequada, porém não conseguiam alternar a leitura de acordo c
as personagens, parando de
mais um pouco e tinham a oportunidade de realizar nova apresentação n
Conforme sugestão da professora, estes alunos, auxiliados pelos próprios cole
oloriram, em seus cadernos, as falas que teriam de ler e praticaram a leitura dur
a Portuguesa. Um fator importante de se o
la turma pode se tornar uma atividade cansativa. No entanto, o envolv
to que a atividade aconteceu de maneira agradável e divertida. Realizadas as
, cada sala escolheu o trio que havia lido melhor para que gravasse em C
tação.
Para garantir o entendimento do conteúdo temático do texto, foi realizad
nto da linha e da agulha. As salas foram divididas em dois grupos e tinham
uscar, no texto e na vida re
. Alguns alunos, que faltaram à aula no dia da
As discussões, num primeiro momento, ficaram presas ao texto, com falas do próprio
autor50. Posteriormente, foram se estendendo à vida real, com os possíveis valores e funções
de uma linha e uma agulha51. No entanto, em
conclusão sobre a possível vencedora da discussão. Ao final do debate, o júri votava,
com grande dificuldade, o veredicto final. De qualquer modo, se favorável à linha, ou se
favorável à agulha, o resultado não agradava, de modo algum, aos alunos, que estavam
curiosíssimos para conhecer a versão do autor. 50 Por exemplo: em defesa da agulha, um grupo afirmou que a discussão só começou porque a linha respondeu de modo agressivo. 51 O outro grupo, para defender a linha, chegou à conclusão que, sem a sua existência, seria impossível haver enfeites.
Dessa forma, a atividade seguinte foi a leitura do final do conto, para verificar como
terminou a discussão, na versão de Machado de Assis. A leitura completa da história foi
apresentada pelos alunos por meio de um CD com a narração realizada por um ator
profissional (ASSIS, 1998). Os alunos ouviram atentamente o final do conto, transcrito a
seguir:
A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.
Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vabo
estido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, toando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe:
- Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.
Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha:
- Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.
Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: - Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!
Fig. 08 – TRECHO FINAL DO CONTO UM APÓLOGO, DE MACHADO DE ASSIS
Com o texto completo, os alunos comentaram suas conclusões: primeiramente, com
um certo estranhamento quanto à entrada do professor de melancolia no final do conto;
posteriormente, após comentários dos próprios colegas, chegando a algumas possíveis
interpretações da do final da história.
Chegou, então, o momento de transformação: de um texto em prosa, para uma história
em qu
, tipos de letras, entre outras) haviam sido
bastante trabalhados em atividades anteriores, não surgiram grandes problemas na adaptação.
trega das histórias em quadrinhos, os alunos representaram, por meio de
s, as principais diferenças entre a época em que se passara a história e a época em que
adrinhos. Os alunos poderiam escolher entre fazer a atividade em trios, duplas ou
individualmente. Foi dada a orientação de que a história não poderia ser modificada, porém
que, para que ficasse agradável na versão em quadrinhos, teria de ser diminuída. Para isso, os
alunos poderiam suprimir algumas partes da história.
Como os elementos básicos das histórias em quadrinhos (balões, presença do narrador,
expressão dos desenhos, onomatopéias, cores
Após a en
desenho
estavam
a) O tamanho da história que escreveriam;
f) Os e
aula. Quando terminavam, os alunos reliam as histórias,
faziam uando
necessário, eram feitos alguns comentários sobre os aspectos da organização textual e
realizadas algum
acentua
lhos interessantes realizados, era momento de fazer o
trabalh
estava escrito ‘Machado de Assis, um
mestre
vivendo52. Perceber essas diferenças seria fundamental para o momento seguinte, de
reescrita do texto.
Na última etapa do trabalho, os alunos foram solicitados a produzir um apólogo. Em
duplas ou individualmente, os alunos decidiram sobre:
b) Os objetos que seriam as personagens;
c) O assunto que abordariam;
d) A época da narrativa;
e) O problema;
lementos que trariam a complicação do problema;
g) O clímax;
h) O desfecho da história.
O texto foi escrito em sala de
possíveis alterações e, só então, levavam-nas para leitura da professora. Q
as correções dos aspectos lingüístico-discursivos do texto (ortografia,
ção, concordância, entre outros). Todos, então, passavam o texto a limpo e faziam a
ilustração de suas próprias histórias, o que encerraria a seqüência de atividades desenvolvidas
com as turmas.
No entanto, com tantos traba
o sair das paredes da escola e atingir a sociedade. Os locais escolhidos foram uma
escola particular de Caraguatatuba, durante uma feira de exposição de trabalhos dos alunos; e
a própria escola, durante a exposição aberta à comunidade realizada todo final de bimestre.
Para isso, os alunos se organizaram e fizeram várias lembrancinhas para os visitantes,
além de um painel com o desenho de um muro, onde
na periferia – Um apólogo’, em alusão ao vídeo e ao texto trabalhados em sala de aula.
52 Um dos desenhos realizados pelos alunos está como epígrafe do capítulo 4 desta dissertação.
Escrito com letras estilo grafite53, o painel foi feito, em sala de aula, pelos próprios alunos, em
papel craft, usando tinta guache e giz de cera.
xto físico diferente ao que
mo na própria escola, os alunos foram extremamente elogiados pelos
os trabalhos e competência nas explicações.
e escola pública) interagindo e trazendo sua visão de mundo é enriquecedor.
Perceb
Fig. 09 – CRIAÇÃO DE PAINEL SOBRE MACHADO DE ASSIS
Nas duas exposições, tanto em Caraguatatuba, num conte
estão acostumados, co
visitantes, por causa da qualidade d
Em uma dessas conversas com os visitantes, surgiu a idéia, inclusive, da adoção da
biblioteca da escola pública pela biblioteca da escola particular54. A proposta seria a de que os
bibliotecários da escola particular dariam orientações aos alunos da escola pública sobre como
organizar e pôr em funcionamento a biblioteca da escola.
Uma das bibliotecárias do colégio particular escreveu, a pedido da pesquisadora, o que
achou da apresentação dos alunos. Segundo ela, “Observar alunos de outras escolas
(principalmente d
emos que a Literatura É UNIVERSAL, não tem classes sociais, não tem divisões.
TODOS podem ter acesso e sonhar com novas perspectivas de um futuro melhor através da
EDUCAÇÃO. (...) Que tenhamos muitos momentos como este, pois esta é a VERDADEIRA
INCLUSÃO” (grifos da autora).
A proposta de adoção da biblioteca, até o momento de finalização desta dissertação,
não chegou a ser executada. No entanto, as alunas que conversaram com a bibliotecária
demonstraram um grande interesse pelo desenvolvimento do projeto. Caso não seja possível
53 A palavra grafite vem do italiano graffito e significa “inscrição ou desenhos de épocas antigas, toscamente riscados a ponta ou a carvão, em rochas, paredes etc. Graffiti é o plural de graffito. No singular, é usada para significar a técnica (pedaço de pintura no muro em claro e escuro). No plural, refere-se aos desenhos (os graffiti do Palácio de Pisa)” (GITAHY, 1999, p.13). 54 O colégio particular onde foram expostos os trabalhos dos alunos pertence ao mesmo mantenedor de um centro universitário de Caraguatatuba. Logo, a visibilidade dos projetos expostos na Feira foi bastante grande, despertando o interesse dos visitantes pelos projetos desenvolvidos, como este, em questão.
realizá-lo na escola, onde problemas com espaço físico atrapalham a execução, as garotas
sugeriram a em um espaço
disponív na
criação de uma biblioteca particular no bairro onde moram,
el igreja que freqüentam.
Para relembrar a seqüência desenvolvida com os alunos, apresenta-se, a seguir, um
quadro
Fig. 10 – EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS EM SÃO SEBASTIÃO
resumo com as etapas das atividades.
Atividade 01 • Pesquisa sobre o autor Machado de Assis: biografia e
bibliografia;
• Conversa, em sala, sobre as descobertas.
Atividade 02 • Exibição do vídeo Machado de Assis, um mestre na
periferia;
• Comentários.
• Exibição de trechos do filme Memórias Póstumas de Brás
Cubas;
• Comentários.
Atividade 03 • Cópia e leitura da primeira parte (do parágrafo 01 ao
parágrafo 17) do conto Um apólogo, de Machado de Assis.
• Gravação, em áudio, da leitura realizada pelos alunos.
Atividade 04 zão na
discussão, se a linha, ou a agulha.
• Simulação de júri para verificar quem tinha ra
Atividade 05 • Leitura da parte final do conto (do parágrafo 18 ao final).
• Comentários.
Atividade 06 • Reprodução, em forma de desenho, do ambiente da história
do Machado de Assis.
• Transposição, também em desenho, dos elementos do conto
para a época atual.
Atividade 07 • Transformação do conto em história em quadrinhos.
Atividade 08 • Produção de novo apólogo, com outros objetos, de acordo
com a escolha dos alunos;
• Ilustração do novo apólogo.
Atividade 09 • Produção de painel e lembrancinhas sobre Machado de
Assis, para apresentação dos trabalhos à comunidade.
Fig. 11 – RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A PARTIR DO
TEXTO UM APÓLOGO, DE MACHADO DE ASSIS
3.5 Instrumentos de coleta de dados
Utilizou-se, p sta pesquisa, um texto produzido pelos alunos no
decorrer normal d e aula.
r melhor o
contexto de produção dos suje
Para a pres como
referência o texto Um ado de Assis, após realização das atividades
descritas nas seções an
3.6 Procedimentos d
A seleção dos dados ob
2) Pertinência do texto à atividade proposta.
3.7 Método de análise e as categorias utiliz
oposto por
Bro
1) Procedimento m nformações de ordem semântica, de
ordem léxico-sem
agem
(Contexto físico e sócio-subj gem, em
si; os in
3) Análise d texto (plano geral,
curso e noção de seqüência); mecanismos de textualização (conexão, coesão
nominal e coesão verbal); mecanismos de enunciação (vozes e modalizações).
ara dado de análise de
as atividades desenvolvidas pela professora em sala d
Acredita-se que, em uma produção corriqueira, os textos possam refleti
itos envolvidos na interação.
ente pesquisa, foi utilizada a produção de um apólogo, tendo
apólogo, do escritor Mach
teriores.
e seleção dos dados
edeceu aos seguintes critérios:
1) Existência de autorização dos responsáveis;
adas
Para a análise da produção textual dos alunos, será utilizado o método pr
nckart (1999), e serão seguidas as seguintes categorias:
etodológico geral: busca de i
ântica e de ordem paralingüística;
2) Análise das condições de produção dos textos: situação de ação de lingu
etivo da produção; conteúdo temático); a ação de lingua
tertextos;
a arquitetura interna dos textos: infra-estrutura geral do
tipos de dis
4. Análise de dados
ara que se comprove a importância do trabalho com Literatura, dentro de uma visão
sócio-histórico-cultural de linguagem, com alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de
escola pública, para inseri-los socialmente e colaborar para a formação de suas identidades,
será analisado, a seguir, um texto produzido, em dupla, após a seqüência de atividades
descrita no capítulo anterior desta dissertação.
bjetiva-se demonstrar:
. A produção de texto a partir de uma visão de linguagem como manifestação
discursiva;
. A importância da noção de gêneros discursivos, de acordo com a concepção
de Bakhtin (1992/2003), para o desenvolvimento de trabalhos em sala de
aula;
3. A mediação do professor no processo de construção de significado do texto
literário.
análise do texto seguirá a metodologia desenvolvida por Bronckart (1999),
conforme apresentado no capítulo um desta dissertação.
ara que se passe à análise propriamente dita, segue-se a reprodução do texto
completo, tal como foi entregue à professora após as etapas de produção, correção
colaborativa, revisão e higienização de texto.
P
O
1
2
A
P
Para facilitar a análise do texto em questão, ele será transcrito, a seguir, e seus
parágrafos serão numerados.
Um apólogo – O lápis e a borracha
1. Era uma vez um lápis que disse a borracha: 2. -A senhora poderia apagar o rastro que deixei no papel? 3. -Não senhor! Eu não vou apagar pelos seus erros. 4. -Mas por quê? 5. -Porque não sou sua empregada. 6. Estavam nisso quando chegaram à escola na bolsa de um aluno. O aluno pegou o lápis,pegou a borracha, pegou o caderno e começou a escrever. O lápis velho só fazia o trabalho enquanto a folgada borracha era obrigada a apagar o rastro errado do lápis. 7. -Toma, sua besta, não quis apagar por bem, vai apagar por mal. 8. O lápis, vendo que a borracha não dava resposta, calou-se também. O caderno, nervoso com a discussão, disse em alto e bom som para a borracha: 9. -Respeite os mais velhos para ser respeitada, respeite os mais velhos, respeite os mais novos, respeite a si mesmo que terá sua recompensa. 10. -Faça como eu, aceito ser rabiscado, aceito ser apagado, sou desrespeitado e mesmo assim respeito aos outros. É isso aí!
Serão seguidos, para análise do texto Um apólogo – O lápis e a borracha, os
procedimentos propostos por Bronckart (1999), para quem “todo texto empírico é objeto de
um procedimento de observação ou, mais simplesmente, de leitura” (BRONCKART, 1999, p.
80). Em um primeiro momento, Bronckart (1999) sugere três conjuntos de observação em um
texto:
a) O de ordem semântica: identificação do tema abordado no texto. Tal como no
conto original de Machado de Assis, o texto dos alunos apresenta como tema discussões a
respeito da valorização dos seres humanos, vaidade, orgulho, egoísmo, falta de união, falta de
parceria, ente outras coisas55.
b) O de ordem léxico-semântica: escolhas efetuadas pelo autor ao longo da produção,
que demonstram um universo bastante comum ao contexto escolar: lápis, borracha, caderno,
aluno.
c) O de ordem paralingüística: presença de elementos gráficos (desenhos das
personagens com diferentes expressões faciais) tes para o
e a utilização de cores diferen
55 Conforme já descrito, sendo o texto pertencente ao gênero apólogo, as personagens, embora seres inanimados, representam características e comportamentos humanos, que são analisados e julgados por meio de uma moral no final da história.
registro
egue-se a análise do texto, considerando os parâmetros apresentados por Bronckart
(1999) no capítulo
4.1
a após as
seqüências de atividades realizadas com o texto Um apólogo, de Machado de Assis, conforme
des
4.1
a) Lugar: Em sala de aula;
minutos);
7ª série do ensino fundamental (adolescentes de
Colegas da sala;
Comunidade escolar (colegas das outras salas – do mesmo período e de
outros –, professores, direção e coordenação da escola; autoridades
do nome do conto. Há ainda a presença de faixas coloridas no papel onde está escrito
o texto.
S
1 desta dissertação.
As condições de produção do texto
O texto em análise é resultado de uma atividade solicitada pela professor
crição no capítulo 4.
Nele, observa-se:
.1 O contexto de produção do mundo físico
Em uma escola pública de periferia;
No município de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo.
b) Momento: Em aproximadamente uma semana (seis aulas de quarenta e cinco
Durante o mês de setembro;
No terceiro bimestre.
c) Emissor: Alunos de
aproximadamente 13 anos de idade).
d) Receptor: A professora;
Público alvo do jornal do grupo (no caso, adolescentes de 7ª e 8ª séries);
municipais da área da educação);
Comunidade escolar de um colégio particular de Caraguatatuba.
Lugar: Escola, vista pela comunidade como um meio de ascensão social.
rimeiro momento (produção, revisão e reescrita
do texto);
m questão);
itor, em um terceiro momento (explicações à comunidade dos
io: a, da disciplina Língua Portuguesa;
Professores de outras escolas;
Colegas de outra escola;
escolar: coordenadores, diretores,
supervisores.
Objetivo: Convencer os destinatários à leitura do texto;
Divertir o leitor;
Apresentar uma situação de conflito social;
as atitudes das personagens;
4.1.2 O contexto de produção do mundo sócio-subjetivo
Enunciador: Papel de aluno, em um p
De jornalista mirim, no momento seguinte (escolha – ou não – do texto a
ser publicado no jornal; decisão quanto à localização e ao espaço dedicado
ao texto e
De expos
objetivos do trabalho e das etapas de produção do texto).
Destinatár A professora da turm
Professores de outras disciplinas;
Professores de outras turmas;
Colegas do próprio grupo;
Colegas da própria sala;
Colegas de outras salas;
Outras pessoas da comunidade
Questionar valores impostos pela sociedade;
Levar o destinatário a refletir sobre
Inserir-se, socialmente, por meio da divulgação de um trabalho;
Expor sua visão de mundo para outras pessoas.
conteúd
No texto, são analisados comportamentos humanos de nível social por meio da
humanização de objetos, típica do gênero apólogo.
4.2 Texto como
Conform ação de linguagem
ático, tais como um
determinado agente os mobiliza quando empreende uma intervenção verbal”
Assim, no texto em análise, pode-se considerar a seguinte ação de linguagem:
Em setembro de 2006, durante as aulas de Língua Portuguesa, na escola X56 (espaço-
tempo de produção), A série do ensino fundamental
(enunciadores), redigem um texto (no caso, um apólogo), destinado à professora
(destinatário), p a atividade escolar (objetivo).
A partir dessa ação de linguagem, coube a cada aluno (ou a cada dupla) escolher,
“dentre os gêneros de textos disponíveis na intertextualidade, aquele que lhe [lhes] parecesse
o mais adequado e o mais eficaz em relação à sua situação de ação específica”
(BRONCKART
A noção de intertexto, no entanto, será definida a seguir.
4.1.3 O o temático
ação de linguagem
e apresentado por Bronckart (1999, p.99), “a noção de
reúne e integra os parâmetros do contexto de produção e do conteúdo tem
1 e A2 (emissores), alunos da 7ª
ara satisfazer o cumprimento de um
, 1999, p.100).
56 O nome da escola, assim como os nomes dos alunos, não serão divulgados.
4.3 Intertextos
e acordo com a noção de intertexto apresentada, a partir das idéias de Bakhtin
(1992/2003), no capítulo 1 desta pesquisa, e em consonância com Bronckart (1999, p.102),
préstimo inspire-se, necessariamente, em um modelo
existente, quase nunca acaba em uma cópia integral ou em uma reprodução exata de um
exemp
a) Intertextualidade por citação:
unos, trechos do texto original:
exto do Machado de Assis Texto dos alunos
D
que diz que “embora o processo de em
lar desse modelo”, apresentam-se, nesta seção, alguns dos indícios de intertextualidade,
recuperados na análise da produção dos alunos.
Recuperam-se, no texto dos al
T
‘Era uma vez uma agulha, que disse a um
novelo de linha:’(par. 01)
‘Era uma vez um lápis que disse a
borracha:’(par. 01)
‘-Mas por quê?’(par. 08) ‘-Mas por quê?’ (par. 04)
‘Estavam nisso, quando a costureira
chegou à casa da baronesa.’ (par. 16)
‘Estavam nisso, quando chegaram à escola
na bolsa de um aluno.’ (par. 06)
b) Intertextualidade por alusão:
Recuperam-se, no texto dos alunos, estruturas sintáticas do intertexto:
Texto do Machado de Assis Texto dos alunos
‘...uma agulha, que disse a um novelo de
linha:’ (par. 01)
(Sujeito + Oração subordinada adjetiva
explicativa [formada por sujeito oculto +
verbo transitivo indireto + objeto indireto])
‘...um lápis que disse a borracha:’ (par. 01)
o subordinada adjetiva
restritiva [formada por sujeito oculto +
verbo transitivo indireto + objeto
indireto])57
(Sujeito + Oraçã
57 É provável que, devido à série em que se encontram os alunos que produziram o texto e as dificuldades gramaticais naturais para essa faixa etária, a diferença da classificação das orações subordinadas em explicativa e restritiva não tenha sido intencional, da parte dos alunos; da mesma forma que a falta do artigo indefinido na
também não deve ter sido. apresentação da segunda personagem, ou de um sinal grave indicativo de crase,
‘...quando a costureira chegou à casa da
baronesa.’ (par. 16)
(Oraçã
‘...quando chegaram à escola na bolsa de
um aluno..’ (par. 06)
o subordinada adverbial temporal
[formada por sujeito simples + verbo
intransitivo + adjunto adverbial de lugar])
(Oração subordinada adverbial temporal
[formada por sujeito oculto + verbo
intransitivo + adjunto adverbial de lugar])
‘A agulha, vendo que ela não lhe dava
‘O
resposta, calou-se tam
(Oração principal [form
simples + {oração subordinada adverbial
reduzid inada
substantiva objetiva direta [formada por
direto e indireto
ireto]} verbo da
oração principal + adjunto adverbial de
lápis, vendo que a borracha não dava
resposta, calou-se também.’ (par. 08)
ada por sujeito
simples + {oração subordinada adverbial
reduzida de gerúndio + oração subordinada
substantiva objetiva direta [formada por
ansitivo direto + objeto
ncipal + adjunto
adverbial de modo])
bém...’ (par. 18)
ada por sujeito (Oração principal [form
a de gerúndio + oração subord
sujeito simples + adjunto adverbial de
negação + verbo transitivo
+ objeto indireto + objeto d
modo])
sujeito simples + adjunto adverbial de
negação + verbo tr
direto]} verbo da oração pri
c) Intertextualidade por estilização:
Recuperam-se, no texto dos alunos, características marcantes do estilo do autor:
Texto do Machado de Assis Texto dos alunos
‘Chegou a costureira, pegou do pano, pegou
da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na
‘O aluno pegou o lápis, pegou a borracha,
agulha, e entrou a coser’(par. 16)
pegou o caderno e começou a escrever’
(par. 06)
‘-Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir
caminho para ela e é ela que vai gozar a
vida, enquanto aí ficas na caixinha de
s mais velhos (...). Faça como
eu, aceito ser rabiscado, aceito ser apagado,
sou desrespeitado e mesmo assim respeito
costura. Faze como eu, que não abro
caminho para ninguém. Onde me espetam,
os outros. É isso aí!’ (par. 09 e 10)
‘-Respeite o
fico.’(par. 22)
Outros indícios de intertextualidade pr como o estudos das vozes
4.4 A arquitetura interna dos textos
er
h ua
o
va
8);
Desfecho: julgamento da situação, realizada pelo caderno – a lição de moral (par. 8
a 10).
ração
(par. 1, 6 e 8) e os de discurso interativo (discurso direto – par. 2 a 5; 7; 9 e 10).
As articulações entre os tipos de discurso ocorrem por meio de encaixamento, isto é,
m a
e
com o verbo
opostos por Bakhtin,
presentes no texto, serão apresentados na seção
4.4.2 deste capítulo.
Em um plano geral, a organização de c
definida da seguinte maneira:
onjunto do conteúdo temático do texto pode s
a) Apresentação do tempo e das perso
b) Definição do problema: a borrac
empregada (par. 2 a 5);
c) Complicação do problema: com a
caderno, a borracha é obrigada
provocação do lápis (par. 7);
d) Clímax: análise da situação, realiza
e)
nagens (par. 1);
a não quer ajudar a agulha porque não é s
entrada de dois novos personagens, o aluno e
a apagar os erros do lápis (par. 6.); no
da pelo narrador (par.
Com relação aos tipos de discurso realizados, alternam-se os segmentos de nar
“um conjunto de procedimentos que explica
outro” (BRONCKART, 1999, p. 121). No ca
de verbos de elocução (par. 1 e 8,
a relação de dependência de um segmento
so, o uso de travessões (par. 2 a 5; 7; 9 e 10);
dizer).
4.4.1 Mecanismos de textualização
ia temática do texto, são
disting em três mecanismos:
) Conexão: são os organizadores textuais. No caso, as expressões ‘Era uma vez’ (par.
1) e ‘Estavam nisso quando’ (par. 6) demonstram explicitamente a mudança das fases da
narrativa. O
rracha não dava resposta’ e ‘nervoso com a
ituação narrativa, não possuem
que ... Entre outros marcadores temporais);
Possibilidades de interpretação:
Relação de causa: como estava nervoso com a discussão (Ou ainda: porque...).
tação de personagens (‘um lápis’ (par.
1); ‘bolsa de um aluno’ (par. 6)), entre outros; e os sintagmas nominais definidos, usados na
retomada das personagens (‘O aluno pegou o lápis, pegou a borracha...’ (par. 6); ‘O lápis,
vendo que a borracha não dava resposta...’ (par. 7)), entre outros.
Convém observar que, na apresentação da borracha, conforme comentado em nota de
rodapé no item 4.3 deste capítulo, não há a utilização nem de sintagma nominal indefinido,
nem de sintagma nominal definido. No entanto, devido ao grau de dificuldade dessa questão,
Os mecanismos de textualização, responsáveis pela coerênc
uidos
a
elemento de conexão da última fase da narrativa, no entanto, não aparece
explicitamente: os períodos ‘vendo que a bo
discussão’, ambos responsáveis pela análise e julgamento da s
organizadores textuais, o que faz com que o leitor tenha de inferi-los:
Caso 1 = ‘vendo que a borracha não dava resposta’
Possibilidades de interpretação:
Relação de tempo: quando viu que a borracha não dava resposta (Ou ainda: assim
..., no momento em que..., logo que
Relação de causa: porque viu que a borracha não dava resposta.
Caso 2 = ‘nervoso com a discussão’
b) Coesão nominal: elementos textuais cuja função é “introduzir os temas e/ou
personagens novos e (...) assegurar sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do
texto” (BRONCKART, 1999, p.124). No texto em análise, são elementos de coesão nominal
os sintagmas nominais indefinidos, usados na apresen
acredita-se que a não utilização de sintagmas nominais não tenha ocorrido de maneira
consciente, objetivando causar algum efeito no texto.
referindo-se à borracha; ‘que deixei no papel’ (par. 2),
sintagma nominal em elipse (equivalente à expressão ‘eu deixei’); ‘sua empregada’ (par. 5),
no lugar de ‘a empregada do lápis’, entre outros.
a seqüência narrativa.
1, 6 e 8) apresentam como tempos
de base o pretérito perfeito e o imperfeito:
‘Era uma vez’ (par. 1) ‘que disse’ (par. 1)
‘estavam ‘quando chegaram’ (par. 6)
‘só fa ou o
caderno e começou a escrever’ (par. 6)
‘borra
rrador) aconteça de modo
paralel
Há ainda sintagmas nominais usados nos discursos diretos para retomada das
personagens: a senhora’ (par. 2),
c) Coesão verbal: elementos responsáveis pela “organização temporal e/ou hierárquica
dos processos (estados, acontecimentos ou ações) verbalizados no texto” (BRONCKART,
1999, p. 127). A coesão verbal é essencialmente assegurada pelos verbos, mas outras marcas
morfológicas, como os advérbios, por exemplo, podem contribuir para
No texto em análise, os segmentos de narração (par.
Coesão verbal nos segmentos de narração
Pretérito imperfeito Pretérito perfeito
nisso’ (par. 6)
zia o trabalho’ (par. 6) ‘pegou o lápis,pegou a borracha, peg
cha era obrigada’ (par. 6) ‘calou-se também’ (par. 8)
‘ borracha não dava resposta’ (par. 8) ‘disse em alto’ (par. 8)
De acordo com Bronckart (1999), o uso desses tempos verbais nos segmentos de
narração garante um valor de isocronia ao texto, isto é, faz com que o tempo da atividade
narrativa (o ato de contar a história, no caso, conferido ao na
o ao tempo da diegese (a seqüência narrativa em si).
Nos segmentos de discurso interativo (par. 2 a 5; 7; 9 e 10), tendo como base o tempo
presente, que garante ao texto um valor de simultaneidade nas ações, a coesão verbal se faz
com a
– par. 10).
4.4.2 M
express
é um objeto discursivo, conforme apresentado no
capítulo 2 desta disserta
relacionamentos humanos, durante toda sua existência (intertextos), recuperar as vozes que
aparecem ne que mais interessa a esta
rt (1999), considera-se zes que aparecem em um
texto pode ser dividido em três subconjuntos: a voz do autor; as vozes sociais; as vozes das
p
voz do autor apar
história. No entanto, aparecem, junto à voz do a o ‘em
alto e bom som’ (par. 8) pode ser encontrada em outras situações sociais e, no texto, assegura
o importância d trará em seguida,
n
bém podem ser encontradas algumas vozes sociais. A
expressão ‘não vou apagar pelos seus erros’ (par. 3) poderia ser interpretada como um
trocadi
terário (propriedades estruturais e
funcionais internas dos textos).
ocorrência de outros tempos verbais: ‘poderia apagar’ (futuro do pretérito – par. 2);
‘vou apagar’ (futuro do presente composto – par. 3); ‘não sou sua empregada’ (presente, par.
5); ‘respeite os mais velhos’ (imperativo afirmativo – par. 9); ‘terá sua recompensa’ (futuro
do presente simples – par. 9); ‘É isso aí!’ (presente
ecanismos de enunciação
Os mecanismos de enunciação contribuem para a manutenção da coerência pragmática
do texto (BRONCKART, 1999). Por meio deles, é possível analisar quais são as vozes que se
am nos textos e quais suas avaliações quanto aos aspetos de conteúdo temático.
A partir da visão de que todo texto
ção, e de que todo provém de outros textos construídos ao longo dos
sses textos parece ser o pesquisa.
Segundo Broncka que o estudo das vo
ersonagens.
No texto em análise, a ece de modo direto, isto é, é ele quem conta a
utor, algumas vozes sociais. A expressã
clímax da narrativa e antecipa a a voz da personagem que en
o desfecho (par. 9 e 10).
Nas vozes das personagens, tam
lho literário para a expressão ‘pagar pelos erros’, comumente utilizadas em algumas
situações sociais. Por meio dela, pode-se deduzir que os autores do texto compreenderam
tanto o uso que tal expressão possui na sociedade (contexto sócio-histórico-cultural) quanto a
liberdade de utilização da linguagem garantida pelo texto li
Algumas vozes sociais também analisam e julgam as atitudes e comportamentos das
personagens dos textos, e são essas vozes as principais responsáveis pela introdução da moral
da história.
Na seqüência ‘O lápis velho e a folgada da borracha’, pode-se observar que a
adjetivação das personagens feita pelo narrador antecipa a moral final do texto. Com o
julgamento antecipado da borracha (‘a folgada borracha’ (par. 6)), o narrador apresenta a voz
social que diz que os mais velhos têm de ser respeitados.
pis que traz a idéia de que aqueles que não respeitam os
mais velhos serão castigados: ‘Toma, sua besta, não quis apagar por bem, vai apagar por mal’.
Não há outra opção: o respeito aos mais velhos deve existir independentemente da situação
em que
to, na
moral da história, dessa vez na voz de outra personagem, o caderno, que coloca como
condiç
A noção de que todos, e não só os mais velhos, devem ser respeitados, e que isso é
condição essencial para garantir
perativo (‘respeite’) contribui para o estatuto de
verdad
s pessoas da periferia. Apesar das condições
desfavo
Na seqüência, é o próprio lá
se encontra.
Essa máxima absoluta de respeito ao próximo fica bem explícita no final do con
ão para receber o respeito, respeitar os mais velhos: ‘Respeite os mais velhos para ser
respeitada’. Observa-se que o uso do verbo no modo imperativo (‘Respeite os mais velhos’)
dá ao texto o valor de preceito, de verdade absoluta.
recompensas, aparece em toda a seqüência da fala do
caderno: ‘respeite os mais velhos, respeite os mais novos, respeite a si mesmo que terá sua
recompensa’. A repetição do verbo no im
e absoluta da moral da história.
O caderno também se mostra como exemplo de vida, quando sugere à borracha que
aja como ele: ‘Faça como eu, aceito ser rabiscado, aceito ser apagado, sou desrespeitado e
mesmo assim respeito aos outros. É isso aí!’. Pode-se inferir, por essa fala do caderno, uma
voz social que busca demonstrar a honestidade da
ráveis nas quais geralmente vivem, os moradores não perdem o respeito ao próximo.
Inúmeras são as situações de desrespeito social por que passam os moradores de
periferia (falta de saneamento básico, de atendimento à saúde, de programas de cultura e
lazer, preconceito que diz que todos os moradores de bairros periféricos são marginais, entre
outras). Dessa forma, o caderno, associado à representação de uma voz da periferia, procura
argumentar que, mesmo quando em condições tão desfavoráveis (é rabiscado, apagado,
desrespeitado), não perde o respeito pelos outros.
A afirmação final ‘É isso aí!’, ainda na fala do caderno, poderia ser interpretada como
uma conclusão, tanto da história, quanto das condições sociais representadas na fala anterior.
Depreende-se, inclusive, um certo orgulho: mesmo nessa situação de desrespeito, os
princíp
elos adolescentes para atingir esse objetivo foi o texto literário.
acidade de ação de um personagem em
relação ao processo de que é agente (BRONCKART, 1999).
Nas seções anteriores deste capítulo, procurou-se demonstrar que a literatura pode,
sim, se
textos foram produzidos, muitos outros trabalhos foram realizados ao longo do ano de
realiza
durante o ano letivo, uma carta
ios morais que regem o caderno não são esquecidos. Associando a voz do caderno à
voz dos alunos autores do texto, alunos de escola pública de periferia, pode-se dizer que,
mesmo em condições muitas vezes desfavoráveis ao aprendizado, eles não abandonam seus
princípios morais. E isso é motivo de orgulho.
Poder mostrar à sociedade o valor da periferia certamente influencia na identidade dos
envolvidos em todo esse processo. Imagina-se o seguinte raciocínio: ‘se a periferia tem valor,
eu – morador da periferia – também tenho o meu valor. E vou mostrar isso à sociedade’. E o
caminho encontrado p
Além do estudo das vozes, as modalizações também são analisadas nos elementos de
enunciação de um texto. Entre elas, observa-se, no texto em questão, que o uso da forma
verbal poderia apagar, com o auxiliar no futuro do pretérito, na seqüência ‘A senhora
poderia apagar o rastro que deixei no papel?’ (par. 2), tem a função de modalização
pragmática, que introduz um julgamento sobre a cap
4.5 Mudança de atitude
r um meio de inclusão social, uma forma de se fazer ouvir a voz social proveniente de
escolas de periferia, em especial da escola onde foi realizada esta pesquisa.
No entanto, utilizou-se apenas um texto produzido pelos alunos para que se
demonstrasse a importância da literatura na vida desses adolescentes e jovens. Muitos outros
ção desta pesquisa e é de total convicção desta pesquisadora o quanto o trabalho
realizado foi importante na vida dos alunos.
Buscando comprovar como as atividades descritas nesta dissertação repercutiram nos
alunos envolvidos, principalmente no que se refere à questão da identidade, foram
selecionados alguns trechos do último texto produzido por eles
de aval
realiza
os que
mais re
) A compreensão da produção escrita como forma de comunicação: a voz do aluno
de escola pública de periferia.
Os alunos foram identificados com as inscrições A1, A2, A3... ao final da transcrição
de cada trecho.
uanto meu ano foi
mbem me ajudaram muito, antes eu escrevia muito abia o que ia escrever. Hoje após quase um ano persebo
que escrevo bem e me comunico melhor.
iação dos trabalhos realizados e do envolvimento de cada um nas atividades ao longo
do ano. Assim como no primeiro dia de aula, em que a produção de um texto serviu para
apresentação de cada aluno à professora, também a avaliação dos trabalhos desenvolvidos
durante o ano viria do mesmo modo.
A carta de avaliação foi solicitada sem a intenção de usá-la nesta dissertação, apenas
como uma avaliação das atividades desenvolvidas durante o ano. No entanto, o conteúdo dos
textos não permite excluí-los do momento final desta dissertação, das considerações que serão
das no capítulo seguinte.
Sem almejar uma análise estrutural dos textos, seguem-se algumas transcrições58, que
comprovam, na visão dos próprios alunos, as mudanças ocorridas com eles ao longo do ano,
proporcionadas pelos trabalhos desenvolvidos. Para facilitar a observação, os trech
presentam as mudanças de atitudes nos alunos serão escritos em itálico. Ressalta-se,
entretanto, a existência de outros aspectos, também passíveis de observação:
a) A formação da identidade proporcionada pelas mudanças de comportamento;
b) O papel do professor como mediador do conhecimento: a importância de um bom
relacionamento entre o professor e o aluno;
c
Oi tudo bem, espero que sim. Esta redação e para lhe mostrar o qbom com a senhorita.
Eu gostei de tudo que você ensinou parabéns você e uma otima professora, nenhum professor ou professora de Português, foi tão legal comigo. Eu li 12 livros, todos livros que li são ótimos, isso prova que você tem um ótimo gosto.
Giovana adorei o jornal, adorei estar com o meu grupo foram todos muito bons. O jornal nos ensinou a escrever melhor e a se comunicar com outras pessoas de um modo diferente.
Assim como o jornal os livros tamal e muitas vezes nem s
Ah! Graças a você consegui encontrar um estilo musical que realmente eu gosto a Legião Urbana é muuuuuuito bom!!! (A1)
58 Os textos foram transcritos exatamente da forma como os alunos escreveram, sem alterações dos aspectos lingüístico-discursivos.
Esse ano foi super legal, teve as atividades em grupo que eu sempre gostei, teve a aula de leitura que pra falar a verdade nos outros anos eu não tinha lido “vários” livros como esse, ao contrário, eu nem pegava um livro se quer para ler. Depois dessas aulas de leitura eu me enterecei mais para ler, seja livro ou outra coisa.(A2)
Eu gostei das aulas de leitura e gostei um pouco das aulas do jornal, não gostei muito do jornal por que tava muita “zona” no meu grupo e teve muita discução, algumas pessoas não queriam fazer, (não irei citar nomes) por isso gostei mais das aulas de leitura. Além do que, eu li livros bem legais, como : “Vivo ou morto” e “Clube do beijo”, entre outros. (A3)
Este ano eu li 4 livros, fora os que eu li em casa. Eu acho muito bom exercitar a
Vamos falar sobre os livros Na primeira carta eu falei que não gostava de ler, mas e era
tão legal e divertido, porque quando você lê, parece que é um filme e o personagem
nda leu a carta eu comecei a chorar.
is professora me descupe porque se alguém me der abertura para falar eu não paro. (A5)
Professora Giovana, gostei muito de tudo mais principalmente das aulas de leitura. No ano passado eu era péssima em ler, mas agora não sou tão ruim assim.(A6)
7)
nte, acho que as
mais do que no outro, por que são livros
leitura. No começo do ano, eu entrei nesta sala, detestando ler, hoje eu acho que um livro é uma terapia.
Em relação ao meu primeiro jornal do meu primeiro grupo, eu realmente senti grandes melhoras, da minha parte, eu acho que este último jornal foi o que eu mais levei a sério, porque eu realemnte estava ali, participando, vivendo aquelas situações ali escritas. (A4)
agora eu gosto porque eu me enterecei pelas aulas de leitura. Eu não sabia qu
é você, gostei D+ pelos livros dos Karas e muita emosão; gosto de livros de aventuras. Mas o que mecheu mais comigo professora foi o livro Amor impossível possivel amor, no final quando a Ferna
Gostei muito de trabalhar com o jornal, porque o meu grupo ajudou nas atividades, e gostei de ter criado a Kit, ela se parece comigo e com a C.
Não sei se falei dema
Como eu já havia dito na primeira carta que não gostava de ler, e muito mesmo das apresentações dos livros, mais ao passar do tempo me acustumei e até comecei a me interessar por livros.(A
No começo do ano eu não gostava muito de ler mais agora é difereaulas de leitura ajudaram muito os alunos, a gostarem de ler, para saber escrever direito, etc. Hoje eu adoro ler e gostaria que o ano que vem tivesse aulas de leitura.(A8)
Professora Giovana em suas aulas, do que eu mais gostei de participar foi do jornal e das leituras dos livros, eu li nesse ano, diferentes, os livros que eu mais gostei foi (O escaravelho do Diabo e Ninho do gaviões). (A9)
Oi professora giovana eu gostei de ler os livros e tanbem gostei do jornal e dos livros falados e do meu ano e eu estou muito feliz que eu estou parti sipando de
todas as materias e prin sipalmente a sua materia Língua portuguesa e eu estou
Espera-se que o
literatura com alunos d
que serão responsáveis identidade dos adolescentes e jovens,
por fazer com que eles se sintam verdadeiramente inseridos na sociedade, com vez e voz de
atuação.
Serão apresenta
dissertação.
lendo muito mais rápido e estou intendo todas as coisas que eu leio. (A10)
Eu gostei do apólogo e de ter estudado sobre o Machado de Assis. (A11)
s dados tenham comprovado que é possível, sim, realizar trabalhos em
o 4º ciclo do ensino fundamental de escola pública. Trabalhos esses
por colaborar na formação da
das, a seguir, ao modo de conclusão, algumas considerações sobre esta
Eu acho muito bom exercitar a leitura. No começo do ano, eu entrei nesta sala, detestando ler; hoje eu acho que um livro é terapia (AS, aluna de 7ª série do ensino fundamental de uma escola pública de periferia do município de São Sebastião).
Algumas considerações
noção de que todo texto é uma manifestação discursiva, situado sócio-
historicamente, e que traz em si marcas lingüísticas de seu sujeito produtor causa, ao menos,
certo conforto quando se chega a esta etapa da pesquisa. Sabe-se que, de modo algum, se
chegará a uma conclusão das idéias apresentadas. No entanto, há a consciência de que é
preciso parar, pelo menos momentaneamente, e avaliar o percurso percorrido até agora,
mesmo sabendo que, a cada nova leitura, a cada novo intertexto, surgirão novas alterações nas
idéias aqui apresentadas.
pergunta ‘como trabalhar literatura com alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de
escolas públicas de periferia?’, apresentaram-se algumas respostas, com a consciência de que
elas possam ser provisórias. Acredita-se, primordialmente, que o trabalho com literatura em
escolas públicas de periferia deve abranger o estudo dos mais variados intertextos da realidade
sócio-c ltural em que se encontra a comunidade escolar para, a partir daí, oferecer outros
textos circulantes na sociedade.
essa maneira, a Literatura para adolescentes e jovens do 4º ciclo do ensino
fundamental de escola pública de periferia deve partir de textos bastante conhecidos por eles,
como histórias em quadrinhos, letras de música, grafite, e chegar a textos considerados pela
sociedade como mais complexos dentro das manifestações literárias.
objetivo, entretanto, não é o simples conhecimento dessas diversas manifestações.
Mais que isso, trabalhar Literatura é dar a possibilidade de o aluno de periferia ter a sua voz
ouvida pela sociedade. É usar de um mecanismo aceito por ela – a arte –, normalmente vista
como forma de diversão, para discutir problemas sociais.
Se a sociedade dificilmente oferece meios para que a população de baixa renda se
manifeste ou, pior ainda, se os meios de manifestação aceitos pela sociedade exigem a
utilização de situações formais de linguagem, meios esses geralmente desconhecidos pela
maior parte dessa população; a arte, e em especial a literatura, pode ser um caminho tanto
para a manifestação, quanto para a integração do sujeito da periferia à sociedade. Em outras
palavras, o trabalho com Lite
A
À
u
D
O
ratura deverá permitir ao educando agir no mundo social.
Sabe-se que esse assunto, entretanto, está longe de ter sido exaustivamente abordado.
E que novas pesquisas serão sempre bem-vindas. Na perspectiva que foi adotada nesta
pesquisa, dentro de uma visão sócio-histórico-cultural de linguagem, muitas outras
descobertas podem ser realizadas, visando à formação de um leitor literário crítico, integrado
socialm
maiores influências, podem contribuir ainda mais para o trabalho
com Li
ara alunos do 4º ciclo do
ensino
a abertura de novos caminhos de
pesquis
edade,
ente.
Acredita-se que o caminho escolhido para esta pesquisa, que tem em Vygotsky e
Bakhtin seus principais autores, foi adequado para o objetivo maior aqui proposto, que era o
de mostrar que um trabalho com Literatura, realizado a partir da concepção sócio-histórico-
cultural de linguagem, pode contribuir na inserção de adolescentes na sociedade e na
formação de suas identidades. Sabe-se, no entanto, que as teorias de Bronckart, que têm em
Vygotsky e Bakhtin suas
teratura em sala de aula.
Com relação à metodologia de pesquisa, ressalta-se a riqueza da integração entre o
saber teórico da pesquisadora e o saber prático da professora, proporcionada pela pesquisa-
ação. Na realidade aqui descrita, essa integração possibilitou uma maior consciência sobre a
importância do papel do professor e do trabalho com Literatura nas escolas públicas de
periferia.
Ressalta-se, entretanto, que os dados aqui apresentados referem-se à realidade desta
pesquisa e demonstram, de modo bastante particular, os problemas enfrentados pelos sujeitos
nela envolvidos. Pode-se afirmar que as categorias utilizadas para suas análises buscavam
mais a apresentação da possibilidade de um trabalho com Literatura p
fundamental de escola pública de periferia do que a caracterização do gênero trabalho,
daí as várias lacunas encontradas na análise do texto, principalmente se forem consideradas as
teorias de Bronckart (1999) .
A análises realizadas, no entanto, não descartam
a. Para futuras aplicações das atividades aqui desenvolvidas, sugere-se uma
organização mais sistemática do trabalho com gêneros discursivos, a partir de perspectivas
como as desenvolvidas por Damianovic (2007); Lopes-Rossi (2002a); Lousada (2005a;
2005b); Schneuwly; Dolz (2004), entre outros.
A inserção de outras características nas fichas de criação e análise de personagens (fig.
03 e 04), como, por exemplo, o papel exercido por elas em diferentes esferas da soci
poderia
istemático em futuras pesquisas. Nessa linha, Buoro (2002) e Costa (2005)
apresen
ta trabalhos bem interessantes. Na mesma linha de pesquisa
da auto
dêmico, algumas outras considerações merecem ser realizadas.
E entre tantos textos e intertextos, entre tantas situações de ação de linguagem, entre
tantas
produzir novas formas de reflexão sobre o papel social de cada sujeito da pesquisa
nessas mesmas esferas.
Os trabalhos com variadas formas de manifestação artística, como o desenho, a
pintura, a música, o teatro, o cinema, aliados à literatura, também poderiam ser explorados de
modo mais s
tam estudos bem interessantes. Considerar a leitura dos elementos não-lingüísticos (ou
paralingüísticos, na concepção de Bronckart (1999)) é essencial para análises de trabalhos
com literatura em escolas de ensino fundamental, uma vez que o adolescente da atualidade
vive no mundo repleto de imagens e de novas (e cada vez mais novas!) tecnologias.
Com relação aos estudos sobre identidade, além daqueles mais fortemente
apresentados nesta pesquisa, devido à compatibilidade teórica (MOITA LOPES, 2002;
2003b), Coracini (2003) apresen
ra, Uyeno (2005) e Mascia (2005) sugerem abordagens sobre identidade nas linhas
discursivo-desconstrutivista e psicanalítica.
Várias são as possibilidades de prosseguimento do trabalho realizado nesta
dissertação. Várias também, as formas de avaliá-la. Além das já apresentadas, relacionadas ao
aspecto aca
Profissionalmente, acredita-se que o desenvolvimento desta pesquisa proporcionou
uma maior clareza sobre como ocorre o desenvolvimento dos alunos, o que ajuda a justificar
determinadas atitudes que, até então, eram tomadas sem muita consciência daquilo que se
estava fazendo. Por meio de um estudo teórico (uma dissertação de mestrado), descobriu-se
que prática e teoria podem, sim, andar juntas. Mais que isso, descobriu-se que os estudos
teóricos podem ser, sim, fundamentais para a solução de problemas que a prática em sala de
aula apresenta.
Pessoalmente, o curso de mestrado mostrou novas áreas de pesquisa e possibilidades
de trabalho. Compreender que os estudos precisam circular, para que possam servir como
intertextos e possam gerar novos estudos, é uma mudança que, certamente, jamais será
esquecida.
diferentes posições sócio-subjetivas ocupadas nas mais diversas manifestações
discursivas ao longo de todos esses anos de pesquisa, fica apenas uma certeza: a de que esta
aqui é apenas mais uma etapa para muitas outras que virão, num emaranhado de idéias que
fazem da palavra o “microcosmo da consciência humana” (VYGOSTKY, 1987/2000, p. 190).
Referências
AGUIAR E SILVA, V. M. de. Teoria da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1976.
Disponível em <http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/aguiar/index.html>. Acesso em 28 maio
2006.
AGUIAR E SILVA, V. M. de. Teoria da literatura. 5.ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1983.
Disponível em <http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/aguiar/index.html>. Acesso em 28 maio
2006.
AMIGUES, R. Trabalho do professor e trabalho de ensino. In: MACHADO, A. R. (Org.). O
ensino como trabalho. Londrina: EDUEL, 2004.
ASSIS, A. T. R. de; OLIVEIRA, G. F.de. Adolescência e leitura: obrigação ou prazer? 2005.
53f. Monografia (Especialização em Língua Portuguesa e Literatura Infanto-juvenil) –
Instituto Superior de Educação da América Latina, São Sebastião, 2005.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992. [2003]
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6.ed. São Paulo: HUCITEC, 1992.
BALTAR, M. Competência discursiva e gêneros textuais: uma experiência com jornal em
sala de aula. Caxias do Sul, RS: Educs, 2004.
BAMBERGER, R. Como incentivar o hábito de leitura. 7.ed. São Paulo: Ática, 2001.
BARROS, D. L. P de. Dialogismo, polifonia e enunciação. In: BARROS, D. L. P de.;
FIORIN, J. L. (Orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin. 2.ed.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.
BAUMAN, Z. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. de Marcus Penchel. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
BORDINI, M. da G.; AGUIAR, V. T. de. Literatura: a formação do leitor: alternativas
metodológicas. 2.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. v.27.
BRAIT, B. As vozes bakhtinianas e o diálogo inconcluso. In: BARROS, D. L. P de.; FIORIN,
L. (Orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin. 2.ed. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2003.
BRASIL. Ministério Da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio: área
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro
r um interacionismo
sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 1999.
BUORO, A. B. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensaio da arte. São Paulo: Educ/
soras
de inglês de um curso de Letras. In: MAGALHÃES, M. C. C. (Org.) A formação do professor
ncepção de linguagem do professor
de línguas. Revista brasileira de Lingüística Aplicada, v. 2., n. 1, 2002.
RO, T. R. de S. A linguagem na formação do educador. In:
CASTRO, S. T. R.; SILVA, E. R. da. (Orgs.). Formação do profissional docente:
J.
BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.
de linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Secretaria de Educação Média e
Tecnológica/MEC, 1999.
introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998a.
e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998b.
BRONCKART, J.P. Atividades de linguagem, textos e discursos: po
Fapesp/ Cortez, 2002.
CAMARA JUNIOR, J. M. Princípios de Lingüística Geral. 5.ed. Rio de Janeiro: Livraria,
1977. [1941]
CASTRO, S. T. R. A linguagem e a reconstrução da ação docente: um estudo com profes
como profissional crítico. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.
CASTRO, S. T. R. Teoria e prática na reconstrução da co
CASTRO, S. T. R.; ROME
contribuições de pesquisa em Lingüística Aplicada. Taubaté, SP: Cabral, 2005.
CEIA, C. E-Dicionário de Termos Literários. Disponível em <http://www.fcsh.unl.pt/edtl>.
Acesso em: 18 jan. 2007.
CELANI, M. A. A. Afinal, o que é Lingüística Aplicada?. In: PASCHOAL, M. S. Z. de.;
üística à lingüística
transdisciplinar. São Paulo: EDUC, 1992.
COELHO, N. N. Literatura: arte conhecimento e vida. São Paulo: Peirópolis, 2000.
n: VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente. São
Paulo: Martins Fontes, 2003. [1984]
Paulo:
Global, 2003.
na Pós-Modernidade. In: LIMA, R.C.C.P. (org)
Leitura: Múltiplos Olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
tra apresentada no 1º dia de aula do curso de mestrado em Lingüística
Aplicada da Universidade de Taubaté, 2006.
.J. Subjetividade e identidade do(a) professor(a) de português. In: CORACINI,
M.J. (Org.). Identidade e discurso: (des)construindo subjetividades. Campinas: Editora da
ivista político.
In: Linguagem & Ensino, Vol. 8, No. 2, 2005 (181-196).
CELANI, M. A. A. (ORG.). Lingüística Aplicada: da aplicação da ling
COELHO, N. N. A literatura infantil. 4.ed. São Paulo: Quíron, 1987. [1981]
COLE, M.; SCRIBNER, S. Introdução. I
COLOMER, T. I. A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual. São
CORACINI, M.J. Concepções de leitura
CORACINI, M.J. Pales
CORACINI, M
UNICAMP; Chapecó: Argos Editora Universitária, 2003.
COSTA, C. Educação, imagem e mídias. São Paulo: Cortez, 2005.
DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
DAMIANOVIC, M.C. (Org.). Material didático: elaboração, implementação e avaliação.
Taubaté: Cabral, 2007. - No prelo.
DAMIANOVIC, M.C. O lingüista aplicado: de um aplicador de saberes a um at
DANIELS, H. Uma introdução a Vygotsky. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
DOTTI, C. Fracasso escolar e classes populares. In: GROSSI, E. P.; BORDIN, J. (Orgs.).
rtico: para uma abordagem vigotskiana dos estudos
de representações sociais em textos artísticos. 2006. 215f. Tese (Doutorado em Lingüística
essor. In:
MACHADO, A. R. (Org.). O ensino como trabalho. Londrina: EDUEL, 2004.
nstitutiva, Revista do Gel, n. especial, 37-74, 2002.
FERNANDEZ, A. Agressividade: qual o teu papel na aprendizagem?. In: GROSSI, E. P.;
FIORIN, J. L. Polifonia textual e discursiva. In: BARROS, D. L. P de.; FIORIN, J. L. (Orgs.).
eiro: Edições Graal, 2005b. [1979]
Petrópolis: Vozes, 2005c.
[1987]
tonomia: saberes necessários à prática educativa. 12. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 1999.
. 41. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
Paixão de aprender. 12. ed. Porto Alegre: Vozes, 1992.
ÉRNICA, M. O vivido, o possível e o catá
Aplicada) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.
FAÏTA, d. Gêneros de discurso, gêneros de atividade, análise da atividade do prof
FANCHI, C. Linguagem: atividade co
FARIA, M. A. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004.
BORDIN, J. (Orgs.). Paixão de aprender. 12. ed. Porto Alegre: Vozes, 1992.
Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin. 2.ed. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2003.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. 12.ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005a. [1996]
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 21. ed. Rio de Jan
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 30. ed.
FREIRE, P. Pedagogia da au
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido
FREITAS, M. T. de A. O pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil. 3.ed. Campinas, SP:
Papirus, 1998.
GERALDI, J. W. Da redação à produção de textos. In: GERALDI, J. W.; CITELLI, B.
(Coord.). Aprender e ensinar com textos de alunos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
1999.
em
17 jul. 2006.
KEIL, I. M. O jogo da socialidade. In: GROSSI, E. P.; BORDIN, J. (Orgs.). Paixão de
LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6.ed. São Paulo: Ática, 2001a.
LOPES, E. Discurso literário e dialogismo em Bakhtin. In: BARROS, D. L. P de.; FIORIN, J.
ulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2003.
LOPES-ROSSI, M.A.G. (Org.). Gêneros discursivos no ensino e produção de textos.
LOPES-ROSSI, M. A. G. Tendências atuais da pesquisa em Lingüística Aplicada e métodos
LOUSADA, E. Ensinar a língua estrangeira por meio de textos: a evolução da unidade
anguage). In
GITAHY, Celso. O que é graffiti. São Paulo: Brasiliense,
GÓES, M. C. R. A criança e a escrita: explorando a dimensão reflexiva do ato de escrever. In:
SMOLKA, A. L. B.; GÓES, M. C. R. (ORG.) A linguagem e o outro no espaço escolar. São
Paulo: Papirus, 1995.
HALL, S. A identidade cultural na Pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
[1992]
HOUAISS, A. Dicionário eletrônico. Disponível em <http://houaiss.uol.com.br/>. Acesso
aprender. 12. ed. Porto Alegre: Vozes, 1992.
LAJOLO, M. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001b.
L. (Orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin. 2.ed. São Pa
Taubaté: Cabral, 2002a.
de pesquisa utilizados na área. Taubaté: Universidade de Taubaté, 2002b. (não publicado)
mínima do corpus usado em livros didáticos de ESL (English as a Second L
Claritas, São Paulo, n.11 (1), p.113-127, maio, 2005a.
LOUSADA, E. (no prelo) O texto como produção social: diferentes gêneros textuais e
utilizações possíveis no ensino aprendizagem de LE. In: Anais do II Congresso Internacional
Todas as Línguas: linguagens. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2005b.
MACHADO, A.R. (Org.) O ensino como trabalho. Londrina: EDUEL, 2004.
. C. (Org.). A formação do professor como um profissional crítico.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.
A, M. A. A. Investigações Discursivas na Pós-Modernidade: uma análise das relações
de poder-saber do discurso político educacional de Língua Estrangeira. Campinas: Mercado
MASCIA, M. A. A. Leitura: uma proposta discursivo-desconstrutivista. In: LIMA, R.C.C.P.
MASCIA, M. A. A. Os Discursos Monográficos nos Movimentos da Globalização versus
ulares Nacionais e o
na família. Campinas, SP: Mercado de
Letras, 2003b.
MOURA, R.; ULTRAMARI, C. O que é periferia urbana. São Paulo: Brasiliense, 1996.
MAGALHÃES, M. C. C. A linguagem na formação de professores reflexivos e críticos. In:
MAGALHÃES, M. C
MASCI
de Letras/ Fapesp, 2003.
(org) Leitura: Múltiplos Olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
Virtualização e da Pós-Modernidade. In: REVERTE 2. Fatec- ID, 2004.
MOITA LOPES, L. P. da. A nova ordem mundial, os Parâmetros Curric
ensino de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. In: BASBARA, L.;
RAMOS, R. de C.G. (Org.). Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas,
SP: Mercado de Letras, 2003a.
MOITA LOPES, L. P. da. Identidades fragmentadas. Campinas, SP: Mercado de Letras,
2002.
MOITA LOPES, L. P. da. Oficina de Lingüística Aplicada: a natureza social e educacional
dos processos de ensino-aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1996.
MOITA LOPES, L. P. da. Socioconstrucionismo: discurso e identidades sociais. In: MOITA
LOPES, L. P. da. (Org.). Discursos de identidades: discurso como espaço de construção de
gênero, sexualidade, raça, idade e profissão na escola e
NEWMAN, F.; HOLZMAN, L. Lev Vygotsky: cientista revolucionário. São Paulo: Edições
Loyola, 2002.
OLIVEIRA, M. K de. Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 4.ed. São
ao/educador/artigos/Prof_Giovana_09_2006_Trab
Acad.zip>. Acesso em 05 set. 2006.
onografia (Graduação em Letras) – Faculdades Integradas Módulo,
Caraguatatuba, 2000.
precisa me ouvir!. In:
DAMIANOVIC, M.C. (Org.). Material didático: elaboração, implementação e avaliação.
OLIVEIRA, G. F. de. Sinfonia para uma vida... Relato de experiência. 2006b. Disponível em
gem literária. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003.
1995.
, A.T.V.M. Histórias de vida de duas professoras: narrativas como
instrumento de construção da identidade profissional. In: MOITA LOPES, L.P. de. (Org.).
Paulo: Scipione, 2003. [1997]
OLIVEIRA, G. F. de. Do hip-hop à literatura discutindo identidade cultural com adolescentes
de escola pública de periferia. Artigo. 2006a. Disponível em
<http://www.saosebastiao.sp.gov.br/educac
OLIVEIRA, G. F.de. Leitura do mundo:Ampliando a visão do adolescente através do trabalho
com leitura. 2000. 47f. M
OLIVEIRA, G. F.de. Para quem é o material didático? Professora, você
Taubaté: Cabral, 2007. - No prelo.
<http://www.saosebastiao.sp.gov.br/educacao/educador/artigos/Prof_Giovana_09_2006_Trab
Acad.zip>. Acesso em 05 set. 2006.
PROENÇA FILHO, D. A lingua
REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 17. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes,
ROJO, R. H. R. Interação e discurso oral: questões de aquisição de linguagem e de letramento
emergente, Delta, v.11, n.1, 1995.
ROJO, R. H. R. O letramento na ontogênese: uma perspectiva socioconstrutivista. In: ROJO,
R.H.R. (Org.). Alfabetização e letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
ROLLEMBERG
Discursos de identidades: discurso como espaço de construção de gênero, sexualidade, raça,
idade e profissão na escola e na família. Campinas: Mercado de Letras, 2003.
letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
l. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, SP:
SILVA, M. ; KOCH, I. G. V. Lingüística aplicada ao Português: morfologia. São Paulo:
. Continuando o diálogo: Vygotsky, Bakhtin & Lotman. In
DANIELS, H. (Org.). Vygotsky em foco: pressupostos e desdobramentos. São Paulo: Papirus,
iteratura. São Paulo: Ática, 1986. Disponível em
<http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/teoria2/index.html>. Acesso em 28 maio 2006.
TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetização. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
. Prefácio à edição francesa. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal.
4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992. [2003]
espeito do logocentrismo: uma análise da leitura de textos
teóricos por professores de ensino médio e fundamental. In: In: LIMA, R.C.C.P. (org)
VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2003. [1984]
SABINSON, M. L. T. M. Reflexões sobre o processo de aquisição da escrita. In: ROJO,
R.H.R. (Org.). Alfabetização e
SANTOS, J. F. dos. O que é Pós-moderno. 14.ed. 1996. [1980]
SARTRE, J. P. Que é literatura?.São Paulo: Ática, 1999.
SCHNEUWLY, B. ; DOLZ, J. et a
Mercado de Letras, 2004.
SILVA, G. A. Estruturas sintáticas do Português. São Paulo: Vozes, 1983.
Cortez, 1995.
SMOLKA, A. L. B.; WERSTCH, J
1994.
SOUZA, R. A.de. Teoria da L
TODOROV, T
UYENO, E. Y. Sujeito da leitura a d
Leitura: Múltiplos Olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. [1987]
VIGOTSKI, L. S. Psicologia da arte. São Paul: Martins Fontes, 1999.
WORNICOV, R. Et al. Criança, leitura, livro. São Paulo: Nobel, 1986.
ZILBERMAN, R. A literatura infantil na escola. 10.ed. São Paulo: Global, 1998.
APÊNDICE A – Etapas das aulas de leitura de textos literários
Serão apresentadas, na seqüência de realização, as etapas das aulas de leitura de texto
literário:
1º) Seleção de obras que comporão a biblioteca ambulante que será levada
semanalmente para sala de aula. A escolha dos títulos obedeceu aos seguintes critérios:
• Obras que abrangessem diferentes gêneros literários, de acordo com os
interesses59 das turmas em questão: romance, aventura, suspense, terror,
poesia, teatro, história em quadrinhos, entre outros60;
• Mesmo gênero literário (romance, aventura, suspense, terror, poesia, teatro,
história em quadrinhos) em diferentes níveis de complexidade textual.
Exemplo: Pluft, o Fantasminha e o Auto da Compadecida – ambos peças
teatrais, porém com níveis de complexidade de organização diferentes (o
primeiro considerado literatura infantil e o segundo literatura popular);
Cantigas do adolescer e Sonetos (ambos poemas: o primeiro de literatura
infanto-juvenil e o segundo de literatura canônica), entre outros;
• Obras de diferentes acabamentos gráficos: sem ilustrações, com ilustrações
(buscou-se, inclusive, a escolha de diferentes tipos de ilustração: desenhos em
preto e branco, desenhos coloridos, fotos, pintura, entre outras formas);
• Obras originais, tal como aparecem nas livrarias (há, nas escolas, alguns livros
distribuídos pelo governo cujo aspecto gráfico foi modificado; procurou-se,
nessa seleção, evitar tais livros, uma vez que os afasta da real forma como
circulam na sociedade);
• Títulos lidos, em sua grande maioria, pela própria professora, para facilitar a
indicação, o acompanhamento e a avaliação das leituras realizadas.
2º) Primeira apresentação dos livros para os alunos: levados em uma mala para a sala
de aula, os livros foram retirados, um a um, e a professora comentava brevemente sobre a
história.
59 Para determinação dos centros de interesse, a pesquisadora utilizou-se da própria experiência em sala de aula, de trabalhos anteriormente realizados, e de sugestões de revistas (especializadas na área de educação ou não), jornais e catálogos de livros de literatura infanto-juvenis. 60 Ver relação de títulos no anexo A desta dissertação.
Observação número um: antes dos livros serem retirados da mala, foi dada a orientação para
que cada aluno registrasse no caderno o nome dos livros pelos quais se interessasse, durante a
apresen
Observação número dois: durante a apresentação dos livros, a professora, normalmente, fazia
comen
e dos
alunos, m
exposição.
Observação ou de um mesmo autor,
costum
gênero
Acred
realiza
própri
conseguem
Stella
têm aproxim
figura
chamados e
Norm
prime pção é feita sem explicitar para a sala, objetivando que
os alunos tenham
nome d
a um pega o seu, senta na carteira e vai lê-lo. Durante a leitura dos alunos, são
anotadas na mesma ficha em que foi registrado o livro no nome do aluno todos que
compareceram ou que faltaram naquele dia. Acredita-se que assim fica mais fácil para o
tação dos mesmos.
tários como ‘esse é o meu preferido!’, ‘credo! Esse é muito nojento!’, ‘esse é proibido
para menores...’. Tais comentários, acredita-se, colaboram para despertar o interess
otivando-os à leitura. Após cada apresentação, o livro era colocado na lousa, em
número três: os livros que são de uma mesma coleção,
am também ser comentados pela professora. Os livros que pertencem a um mesmo
literário também vão sendo aproximados. Se seguem o mesmo estilo, também.
ita-se que quando os alunos começam a trocar os livros, esses comentários iniciais
dos sobre os mesmos ajudem nas novas escolhas que farão. (Com o passar do tempo os
os alunos comentam que querem um livro de mistério, por exemplo, mas que ainda não
entender Sherlock Holmes, por isso desejam algo mais simples, como um livro da
Carr ou do Pedro Bandeira.)
3º) Momento para ver o livro de perto, folhear livremente. Ao final da aula os alunos
adamente dez minutos para que façam a primeira leitura das obras (da capa, das
s, do resumo, das orelhas etc).
4º) Na semana seguinte, definição do livro que será lido no bimestre. Os alunos são
m grupos de cinco ou seis pessoas para que escolham os livros que querem ler.
almente os alunos que demonstram/demonstraram pouco interesse pela leitura são os
iros a determinar os livros. Essa o
maior opção de escolha.
5º) Uma vez selecionado o livro, a professora registra, em uma ficha61, ao lado do
o aluno, o livro que ele escolheu.
6º) A leitura é realizada em toda última aula da semana. Os livros são expostos na
lousa, cad
acompanhamento do tempo de leitura gasto pelo aluno, se ele faltou demais, etc. 61 Ver APÊNDICE B.
Também são anotadas nessa ficha todas as observações necessárias para um melhor
acompanhamento da leitura dos alunos: conversa durante a aula – o que é proibido, uma vez
que eles foram avisados sobre isso antes da seleção dos livros, aluno que dorme durante a
ue eles continuem, porém tal comportamento é anotado na ficha.
da assim isso não for possível compreender a passagem da
história
aulas de leitura, a professora sempre procura também ler
algum
avaliações, são realizadas exposições orais sobre
os livr
roblema, clímax, desfecho – são realizadas as
apresentações dos alunos.
apresentar o
aula; quem não lê; quando só lê as figuras; todas as trocas e conclusões de leituras, entre
outras coisas.
Observação número um: Quando a professora percebe que há aluno conversando – cochicho –
com algum colega, mas que essa conversa é sobre o livro, se não atrapalhar os outros alunos,
é permitido q
Observação número dois: Muitas vezes, durante as leituras, surgem dúvidas quanto ao
significado de alguma palavra, ou a passagens confusas da história. Quando isso ocorre, a
professora procura esclarecer as dúvidas, sempre que possível, mesmo sem consultas a
dicionário ou algo parecido. É uma tentativa de criar com a classe um clima favorável a
perguntas, argumentando sempre que é normal ter dúvidas quando se lê um livro, e que é
importante saná-las para poder compreender a história. Quando o significado da palavra é
desconhecido, é orientado para que o aluno leia o parágrafo em que ela está inseria, e que se
tente, em conjunto, defini-la. Se ain
, recorre-se ao dicionário (ou da escola, ou alguém fica responsável por procurar o
significado da palavra em casa e lavá-lo na próxima aula).
Observação número três: Durante as
livro. Quando há livros novos, ainda não lidos por ela, e nenhum aluno quis pegá-lo
naquele dia, a professora realiza sua leitura durante as aulas, e depois o coloca à disposição
dos alunos. Quando um aluno começa a ler um livro que a professora ainda não leu, é ela
quem pede explicações sobre a história, opinião do aluno etc.
7º) Ao final do bimestre, durante as
os. A partir do gráfico com os principais elementos da narrativa – lugar, tempo,
personagens, problema, evolução do p
Sentados em círculo, os alunos podem consultar anotações feitas por eles no caderno,
resumos, o gráfico da narração, o livro, o que quiserem para a apresentação. Quando algum
aluno está muito nervoso, ou não sabe como apresentar, são feitas algumas interferências,
sempre procurando auxiliar e descontrair o aluno. A eles é dado o direito de não
livro, p
as suas atitudes estarão sendo avaliadas e que depende exclusivamente dele
organização metodológica de pesquisa acadêmica, e não necessariamente uma descrição
orém a professora procura incentivá-los, mesmo que eles neguem em um primeiro
momento, a falar.
Para que se mantenha a estrutura escolar de avaliação presente nas escolas, entretanto,
os alunos que não apresentam recebem a menção E. Todo aluno é avisado, desde o início das
aulas, que tod
conseguir ou não uma boa nota. Observa-se, entretanto, que, mesmo que não valesse nota,
após algumas semanas com aula de leitura, a maior parte dos alunos continuaria lendo,
independentemente da avaliação.
8º) Ao final de cada exposição sobre o livro, é pedido que o aluno indique o livro que
leu a um colega da sala e, se quiser, que diga o porquê da escolha. Esse é também um
momento muito esperado pelos alunos. Alguns chegam a fazer listinha de quantos livros
receberam como indicação.
ETAPAS DAS AULAS DE LITERATURA
1ª Seleção de obras que comporão a biblioteca ambulante.
2ª Primeira apresentação dos livros para os alunos.
3ª Momento para ver o livro de perto, folhear livremente.
4ª Escolha dos livros pelos alunos.
5ª Registro dos livros escolhidos.
6ª Aula de leitura.
7ª Avaliação das leituras realizadas.
8ª In
dicação do livro para um colega.
Convém observar, neste momento, que as aulas de Literatura não acontecem realmente
só uma vez por semana e que a rigidez na seqüência de suas etapas de execução satisfaz uma
QUADRO RESUMO COM AS ETAPAS DAS AULAS DE LITERATURA
objetiva das etapas seguidas em sala de aula. A cada momento, a cada aula de leitura, com a
inclusão de um novo livro – ou pela professora, ou pelos próprios alunos (o livro O primeiro
Beijo,
al que se observe, apesar da aparente descontração das
ativida
de Clarice Lispector, por exemplo, foi doação de uma aluna no segundo bimestre) –, ou
até mesmo por sugestão dos alunos (houve dias em que o calor estava tão forte que os alunos
sugeriram realizar as leituras na frente da escola, em uma praça ao ar livre que existe próxima
ao estacionamento dos professores, sugestão atendida e viabilizada pela professora), as etapas
são reorganizadas ou refeitas, sempre de acordo com a situação.
No entanto, é fundament
des, que todas as atitudes dos alunos são registradas e utilizadas para possíveis
interferências visando à aproximação dos alunos aos livros.
APÊNDICE B – Modelo da ficha utilizada para registro dos nomes dos alunos e dos
livros lidos por eles durante o bimestre
Nomes / Datas / / / / / / / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
ANEXO A – Bibliografia usada com os alunos
ACCIOLY, Marcus. Guriatã: um cordel para menino. 2.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1988. 200p.
AG tô ivo o rto. 2.ed. São Paulo: FTD, 1997. 144p. [4 Livros]
ALME e de. Os melhores poemas de Guilherme de Almeida – seleção de Carlos Vogt. 3.ed. São Paulo: Global, 2004. 112p.
ALMEIDA, Lúcia Machado de. O escaravelho do diabo. 26.ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 128p.
BANDEIRA, Pedro. droga d obediên a. São Paulo: Moderna, 2002. 144p.
BANDEIRA, Pedro. droga d amor. 18.ed. São Paulo: Moderna, 1995. 128p.
BANDEIRA, Pedro. droga d amor. 32.ed. São Paulo: Moderna, 1997. 128p.
BANDEIRA, Pedro. njo da m rte. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2003. 192p. [2 Livros]
BANDEIRA, Pedro. marca d uma lág ma. São Paulo: Moderna, 2002. 128p. [2 Livros]
BANDEIRA, Pedro. roga de ericana 2.ed. São Paulo: Moderna, 2006. 192p.
BANDEIRA, Pedro. Pântano de sangue. 9.ed. São Paulo: M derna, 1 4. 144p
BANDEIRA, Pedro. ântano d sangue. São Paulo: Moderna, 2002. 144p.
BRANDÃO, Toni. Cuidado: garoto apaixonado. São Paulo: Melhoram ntos, 199 . 77p.
BRAZ, Júlio Emílio. coragem de muda D, 1999. 64p.
BRAZ, Júlio Emílio. rianças escurid o. 2.ed. São Paulo: Moderna, 2000. 48p.
BRAZ, Júlio Emílio. rianças escurid o. 12.ed.São Paulo: Moderna, 1994. 56p.
BRAZ, Júlio Emílio. nquanto ouver vi viverei
BRAZ, Júlio Emílio. retinha, ? 2.ed. São Paulo: Scipione, 2002. 64p.
CARRASCO, Walcyr. Irmão negro. São Paulo: Moderna, 1995. 72p.
CASCO A.G. O ataque dos macacos. Trad. de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 9
CASTRO, Maria da Glória Cardia. Menina mãe. São Paulo: Moderna, 1987. 56p.
COLASANTI, Marin . A moça tecelã. São Paulo: Global, 2004. 20p.
CONY, Carlos Heitor. Uma história de amor. Rio d Janeiro: diouro, 977. 89p
CONY, Carlos Heitor. Uma história de amor. 34.ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 89p.
DAMIANOVIC, Maria Cristin Brasil: palavras de um cotidiano. 2.ed. São Paulo: Casa do ovo A Editora, 005. 44p
a. São Paulo: caras e bocas. São Paulo: Casa do Novo Autor Editora, 2006. 44p.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Qerner Zots. 17.ed. São Paulo: Scipione, 2003. 112p. [2 Livros]
UIAR, Luiz An nio. V u mo
IDA, Guilherm
A a ci
A o
A o
A o
A e ri
D am !
3 o 99 .
P e
e 4
A r. 9.ed.São Paulo: FT
C na ã
C na ã
E h da . 15.ed. São Paulo: FTD, 1998. 64p.
P eu
NE,9p.
a
e E 1 .
a.N
DAMIANOVIC, Maria Cristin
utor 2 .
DOYLE, Arthur Conan. O cão dos Baskerville. Trad. de Heloisa Jahn. 5.ed. São Paulo: ditora Ática, 2000. 198p.
DOYLE, Arthur Conan. O signo dos quatro. Trad. de Antônio Carlos Vilela. São Paulo:
ia José. A ilha perdida. 39.ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 128p.
árcia. O primeiro beijo. São Paulo: Moderna, 2001. 48p.
996. 61p.
derna, 1999.
95. 96p.
aulo: Tipo
das Letras, 2003.
Paulo: Scipione,
31p.
.
ditora Ática, 2005.
Ática, 2003. 128p.
erna, 2003. 104p.
de Janeiro:
rto. 10.ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 1986. 47p.
E
Melhoramentos, 1999. 109p.
DUPRÉ, Mar
JOSÉ, Elias. Cantigas de adolescer. 15.ed. São Paulo: Atual, 1992. 64p.
KUPSTAS, Márcia. A maldição do silêncio2.ed. São Paulo: Moderna, 2003. 128p.
KUPSTAS, Márcia. O clube do beijo. São Paulo: Moderna, 2002. 144p. [3 Livros]
KUPSTAS, M
LIMA, Ricardo da Cunha. O livro com um parafuso a menos. São Paulo: FTD, 1
LISPECTOR, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo: Editora Ática, 1999. 80p.
MACIEL, Eliane. A vida é agora: ser jovem nos tempos da Aids. São Paulo: Mo144p.
MODESTO, Edith. Invasão alienígena. São Paulo: Editora Ática, 2003. 160p.
MONTEIRO, José Maviael. O ninho dos gaviões. 4.ed. São Paulo: Editora Ática, 19
MOONEY, E.S. A princesa assustadora. Trad. de Juliana Moufarrege. São PEditora, 2002. 64p.
MORAES, Vinicius de. Livro de sonetos. 2.ed. São Paulo: Companhia 165p.
OLIVER, Martin. Aventura no Ártico. Trad. e adap. de Laura Bacellar. São 2003. 48p.
ORTHOF, Sylvia. Cordel adolescente, ó xente! São Paulo: Quinteto Editorial, 1996.
PEREIRA, Breno Fernandes. O mistério da casa da colina. São Paulo: FTD, 2002. 88p
PUNTEL, Luiz; CHAGURI, Fátima. O grito do hip hop. São Paulo: E142p.
REY, Marcos. O mistério dos cinco estrelas. 20.ed. São Paulo: Editora
RIBEIRO, Laís Carr; CARR, Stella. Eu, detetive: o enigma do quadro roubado. – 2ª ed. – São Paulo: Mod
ROWLING, J.K. Harry Potter e a pedra filosofal. Trad. de Lia Wyler. Rio Rocco, 2000. 263p.
ROWLING, J.K. Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. Trad. de Lia Wyler. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 348p.
SÁ, Jorge de. Beijo azul no céu da boca. São Paulo: Scipione, 1997. 55p.
ROCHA, Ruth. De repente dá ce
SILVA, José Carlos Marinho. O gênio do crime. 21.ed. Reform. São Paulo: Ediouro, 2002. 160p.
SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Adaptação de Fernando Nuno. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 135p.
SHELDON, Sidney. Corrida pela herança. Trad. de Pinheiro de Lemos. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 266p.
SHELDON, Sidney. O ditador. Trad. de Pinheiro de Lemos. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 252p.
SOUSA, Maurício de. Navegando nas letras. São Paulo: Editora Globo, 1999. 192p.
itura, 2006. 96p.
p.
ed. São Paulo: Editora
o Paulo: Atual,
o Paulo: FTD,
:
o maluquinho. São Paulo: Melhoramentos, 1980. 109p.
Publifolha, 1998. 151p.
STANISIERE, Inês. A agenda de Carol. 7.ed. Belo Horizonte: Editora Le
SUASSUNA, Ariano. Auto da compadecida. 34.ed. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 206
SYPRIANO, Lilian. Sobressalto! Belo Horizonte: Formato Editorial, 2000. 118p.
TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr-do-sol & outros contos. 13.Ática, 1997. 80p.
VIANA, Vivina de Assis; CLAVER, Ronald. Ana e Pedro: cartas. 26.ed. Sã1990. 84p.
VIEIRA, Isabel Corrêa. E agora, mãe? São Paulo: Moderna, 1991. 96p.
VIEIRA, Isabel Corrêa. O ano em que fizemos greve de amor. – 4ª ed. – Sã1995. 88p.
WHISP, Kennilworthy. Quadribol através dos séculos. Trad. de Lia Wyler. Rio de JaneiroRocco, 2001. 63p. [Escrito por J.K.Rowling como autora fictícia.]
ZIRALDO. O menin
ZIRALDO. Tá na hora da escola (o melhor do menino maluquinho em quadrinhos). São Paulo:
ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. 10.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1995. 120p.
ANEXO B – Referências das obras analisadas com os alunos
ASSIS, M. de. Contos consagrados. 2.ed. São Paulo: Ediouro, 2001.
ntos por
valeiro
01. 1DVD.
TUMAS. Produção de André Klotzel. Barueri/SP: Europa Filmes, 2002. 1
. Monte Castelo. Intérprete: Ana Cristina. In: Poemas musicados: ao vivo. tios 13, 1-13]
na: mais do mesmo. EMI Brasil, 1998. 1CD. Faixa 10.
ASSIS, M. de. Um apólogo. Intérprete: Othon Bastos. In: Machado de Assis: coOthon Bastos. Manaus: Luz da cidade, 1998. 2CD. (2h36min). Faixa 02. CD2.
GABRIEL O PENSADOR. Palavras repetidas. Intérprete: Gabriel O Pensador. In: Caandante. Sony, 2004. 1CD. Faixa 05.
MACHADO DE Assis, um mestre na periferia. TV Escola / MEC. Brasil, 20(25min).
MEMÓRIAS PÓSDVD. (102min).
RUSSO, RMontanhas estúdio, 2003. 1CD. Faixa 19. [Recorte de Camões e de Corín
VILLA-LOBOS, D.; RUSSO, R.; BONFÁ, M. Pais e filhos. Intérprete: Legião Urbana. In: Legião Urba
ANEXO C – Transcrição integral do conto Um apólogo, de Machado de Assis
ito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.
6. - Mas você é orgulhosa.
7. - Decerto que sou.
8. - Mas por quê?
9. - É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os
cose, senão eu?
10. - Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os
cose sou eu, e muito eu?
11. - Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou
feição aos babados...
12. - Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você,
que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando...
13. - Também os batedores vão adiante do imperador.
14. - Você é imperador?
15. - Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo
adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que
prendo, ligo, ajunto...
16. Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse
que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar
atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a
linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que
1. Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:
2. - Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que
vale alguma coisa neste mundo?
3. - Deixe-me, senhora.
4. - Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar
insuportável? Rep
5. - Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem
cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a
sua vida e deixe a dos outros.
era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana - para dar
17. - Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta
istinta costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a
como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras
he dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era
tada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando
uxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali,
a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe:
-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo
caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga
a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não
aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar
que me disse, abanando a
e agulha a muita linha ordinária!
a isto uma cor poética. E dizia a agulha:
d
eles, furando abaixo e acima.
18. A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo
enchido por ela, silenciosa e ativa
loucas. A agulha vendo que ela não l
tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da agulha no
pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse e
no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.
19. Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a
vestir-se, levava a agulha espe
compunha o vestido da bela dama, e p
alisando, abotoando, acolchetando,
20. - Ora agora, diga
parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto
você volta para a
lá.
21. Parece que
menor experiência, murmurou à pobre agulha:
22. - Anda,
da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para
ninguém. Onde me espetam, fico.
23. Contei esta história a um professor de melancolia,
cabeça: - Também eu tenho servido d
ANEXO D – Dados do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté
Protocolo CEP/UNITAU nº. 101/06.
Projeto de pesquisa: Literatura para alunos do 4º ciclo do ensino fundamental de
escola pública de periferia do município de São Sebastião: microcosmo da consciência
humana, aprovado em 12/05/2006.
Pesquisadora responsável: Giovana Flávia de Oliveira.
Livros Grátis( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download: Baixar livros de AdministraçãoBaixar livros de AgronomiaBaixar livros de ArquiteturaBaixar livros de ArtesBaixar livros de AstronomiaBaixar livros de Biologia GeralBaixar livros de Ciência da ComputaçãoBaixar livros de Ciência da InformaçãoBaixar livros de Ciência PolíticaBaixar livros de Ciências da SaúdeBaixar livros de ComunicaçãoBaixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNEBaixar livros de Defesa civilBaixar livros de DireitoBaixar livros de Direitos humanosBaixar livros de EconomiaBaixar livros de Economia DomésticaBaixar livros de EducaçãoBaixar livros de Educação - TrânsitoBaixar livros de Educação FísicaBaixar livros de Engenharia AeroespacialBaixar livros de FarmáciaBaixar livros de FilosofiaBaixar livros de FísicaBaixar livros de GeociênciasBaixar livros de GeografiaBaixar livros de HistóriaBaixar livros de Línguas
Baixar livros de LiteraturaBaixar livros de Literatura de CordelBaixar livros de Literatura InfantilBaixar livros de MatemáticaBaixar livros de MedicinaBaixar livros de Medicina VeterináriaBaixar livros de Meio AmbienteBaixar livros de MeteorologiaBaixar Monografias e TCCBaixar livros MultidisciplinarBaixar livros de MúsicaBaixar livros de PsicologiaBaixar livros de QuímicaBaixar livros de Saúde ColetivaBaixar livros de Serviço SocialBaixar livros de SociologiaBaixar livros de TeologiaBaixar livros de TrabalhoBaixar livros de Turismo