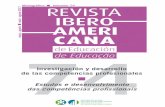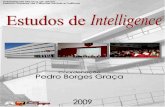Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]
Transcript of Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]
1
JUDEUS NO BRASIL: ESTUDOS E NOTAS
Nachman Falbel
Índice:
1. Introdução
2. A propósito da periodização da história dos judeus no Brasil
3. Judaica Pernambucensis
4. Menasseh ben Israel e o Brasil
5. Sobre a presença dos crisãos novos na capitania de São Vicente e a formação da
etnia paulista
6. Judeus em São Paulo: um pouco de sua história
7. Algumas questões concernentes a metodologia na pesquisa da história moderna dos
judeus e o conhecimento de suas fontes
8. O Marquês de Pombal e a Inquisição
9. A imigração israelita à Argentina e ao Brasil e a colonzação agrária
10. A contribuição dos imigrantes israelitas ao desenvolvimento brasileiro
11. A religião e a imigação israelita no Brasil
12. A Vós Meu Senhor, o Rei...
13. Uma imigação de judeus ao Brasil em 1891
14. Osvald Boxer e o projeto de colonização de judeus no Brasil
15. As muitas histórias do major Eliezer Levy
16. O primeiro Congresso Israelita n Brasil
17. Yehuda Wilensky e Leib Jaffe e o movimento sionista no Brasil, 1921-1923
18. Os Protocolos do Primeiro Congresso Sionista no Brasil (1922)
19. O sionismo e os judeus no Brasil
20. História oculta: como se lutou para a criação do Estado de Israel
21. Prefácio à brochura “Osvaldo Aranha”
22. Crônica do judaísmo paulista
23. A Escola Israelita Brasileira Talmud Thora Beth Jacob
24. O Macabi de São Paulo e sua evolução
25. José Nadelman e a história dos judeus em São Paulo
26. Uma colonização judaica no interior de São Paulo
27. Instituições comunitárias de ajuda e amparo ao imgrante israelita de São Paulo
28. Subsídios à história da educação judaica no Brasil
29. A presença israelita na Revolução de 1932
30. A visita de Albert Einstein à comunidade do Rio de Janeiro
31. Lasar Segall na imprensa iídiche
32. O mascate Adolfo
33. Uma carta do Rabino A. I.HaCohen Kook no epistolário do Rabino Jacob
Braverman
34. A imprensa iídiche como fonte para o estudo dos judeus no Brasil
35. Jacob Schneider e a comunidade judaica no Brasil
36. Identidade judaica, memória e a questão dos indesejáveis no Brasil
37. A correspondência de Leib Malach com Baruch Schulman
38. Uma carta de Jossef Halevi à Baruch Schulman
39. Jacob Nachbin, precursor da historiografia judaica no Brasil
2
40. Egon Wolff e a historiografia judaica no Brasil
41. Sigmar Kaufmann:um agricultor judeu em São Paulo [falta]
42. Isaias Raffalovich e a educação judaica no Brasil [falta]
43. Deus Absconditus: Yosel Rakover fala com Deus [falta]
44. Léxico dos ativistas sociais e culturais da coletividade israelita no Brasil
45. Apêndices:
Crônicas das comunidades no “Léxico” de Henrique Iussim
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
Recife
Bahia
São Paulo
Visão do Ischuv de São Paulo – Meir Kucinski
Quarenta anos de imprensa judaica no Brasil-Itzhak S. Raizman
3
1. Introdução ao livro Judeus no Brasil: estudos e notas
Passaram-se mais de 20 anos desde que foram publicados os "Estudos sobre a comunidade
judaica no Brasil" e que de certa forma teve o mérito de abrir um novo campo de pesquisa e
estimular os estudos sobre a imigração contemporânea e a formação das comunidades
judaicas em território brasileiro. Pouco a pouco as nossas universidades encontraram
interesse e foram incorporando a temática. Teses acadêmicas passaram a revelar, através de
pesquisas científicas mais rigorosas, os múltiplos aspectos da vida comunitária judaica em
vários Estados e cidades do país, a política governamental em relação a essa imigração, a
participação de individuos e comunidades nos vários setores da vida social, econômica,
cultural e política da nação bem como a história particular de certas instituições de caráter
filantrópico, educacional, e de outra natureza, desfazendo mitos e eliminando, de uma vez
por todas, "histórias" que não tinham qualquer basamento documental, escrita ou de outra
natureza. A existência do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, com as suas seções
estaduais, foi um fator importante para desenvolver o interesse na história contemporânea
dos judeus no Brasil. A preocupação em reunir e preservar toda documentação concernente
a essa temática favoreceu àqueles estudiosos que ambicionavam trabalhar na área, além de
evitar que se perdesse as fontes para tais estudos. O Arquivo procurou valorizar e criar uma
nova mentalidade no seio da comunidade judio-brasileira orientando pessoas e famílias a
zelarem pelos seus papéis, cartas, fotografias e todo tipo de documento, que naturalmente
passava de uma geração a outra, não somente como elementos para seu auto-conhecimento
mas que, numa dimensão mais ampla, auxiliava na reconstituição da memória dessa
imigração. Algumas tentativas que antecederam o A.H.J.B. com o fito de reunir
documentos sobre a história dos judeus no Brasil remontam aos anos 20 quando o Instituto
Científico Judaico de Vilna (YIWO) fundado em 1925, e transferido mais tarde para Nova
York, dirigiu-se, em 1928, ao escritor Menashe Halpern para que se incubisse pessoalmente
da missão de juntar material para àquela instituição, o que de fato o levou a anunciar sua
missão, naquele mesmo ano, no jornal “Idische Folkstzeitung” (a Gazeta Israelita)
publicado no Rio de Janeiro. Quando nos anos 40 formou-se uma seção brasileira do
YIWO, agrupando ao redor de sí a intelectualidade judia de fala ídiche, entre os quais
destacava-se o premiado escritor Meir Kucinski, foi reunido um precioso material relativo
ao que se publicava no Brasil que foi enviado à sede central em Nova York. Ainda em
setembro de 1959 o Círculo de Amigos do YIWO no Rio de Janeiro relatava em carta
dirigida à revista Aonde Vamos? sobre doações recebidas pela entidade que era presidida
por Esther Schechtman e funcionava no local da Biblioteca Bialik. A existência de uma
seção do YIWO no Brasil foi importante para salvar uma rara documentação, em especial
os primeiros periódicos judaico-brasileiros, que anos mais tarde pude pessoalmente
consultar no imenso e notável acervo de cultura ídiche daquela extraordinária instituição.
A primeira intuição de que a história dos judeus no Brasil ainda estava por ser feita a teve o
dedicado historiador autor da obra Judeus no Brasil Colonial, Arnold Wiznitzer, que em 2
de outubro de 1952 publicava um artigo na revista Aonde Vamos? no qual propunha a
criação de uma Sociedade Brasileira de História Judaica. Efetivamente em 23 de dezembro
de 1952, sob sua iniciativa, fundou-se o Instituto Judaico Brasileiro de Pesquisa Histórica
no Rio de Janeiro. Os seus objetivos foram definidos do seguinte modo:a) realizar e
fomentar a pesquisa da história dos judeus do Brasil;b) organizar e manter uma biblioteca e
4
arquivo que deverá reunir, na medida do possível, originais ou cópias de todas as obras e
documentos publicados até a data, no país e no exterior, sobre a história dos judeus no
Brasil; c) colher , em original ou cópia, protocolos das sociedades israelitas, jornais,
documentos ou objetos que testemunhem as atividades transcendentais de judeus ou
entidades israelitas no Brasil; d) publicar semestralmente uma coletânea denominada
"Revista do Instituto Judaico Brasileiro de Pesquisa Histórica", que será editada em
português e hebraico; e) realizar , freqüentemente, conferências sobre a história dos judeus
no Brasil; f)manter um seminário - que deverá funcionar a partir de abril próximo- para
estudantes e estudiosos da história judaica. O Comitê de Iniciativa era composto de, além
de Arnold Wiznitzer, que deixou uma obra significativa como historiador, pessoas de certo
prestígio na comunidade que deram apoio ao empreendimento o representante diplomático
de Israel no Brasil, general David Shaltiel e seu conselheiro Mordechai Schneurson, rabinos
Y.Fink, H. Lemle. F. Pinkuss, M. Zinguerevitch, M. Kresch, na verdade apenas figuravam
sem qualquer participação mais ativa. Também o rabino e historiador I.S. Emmanuel e o
Prof. David José Perez, e outras figuras com certa projeção no cenário cultural da
comunidade, entre eles Fernando Levisky, Dr. Hans Klinghoffer, Dr. Isaac Izecksohn, o
cientista Dr. Fritz Feigl, a escritora Elisa Lispector, e ativistas como o Dr. Alfred
Hirschberg, José Marx, Yoshua Averbach e Aron Neumann estavam envolvidos com o
projeto da instituição, conforme podemos constatar na matéria publicada no Aonde Vamos?
número 500, de 15 de janeiro de 1953. Efetivamente a personalidade central do Instituto foi
Arnold Wiznitzer, que publicou uma longa série de artigos importantes na revista Aonde
Vamos? sob a direção de Aron Neumann, que seriam reunidos e reelaborados
posteriormente resultando no livro que publicaria em 1960, em inglês, e, em 1966, em
português, sob o título Judeus no Brasil Colonial. Dois estudos valiosos sobre os judeus
sob domínio Holandês, de autoria de I.S. Emmanuel, também saíram a lume no mesmo
periódico Aonde Vamos? O mesmo I.S. Emmanuel, que se destacou por seus trabalhos
sobre as comunidades caribenhas e sobre os judeus de Salônica, foi rabino da comunidade
sefaradita do Rio de Janeiro, desde maio de 1950 permanecendo no Brasil até os finais de
1953, período no qual dedicou-se ao estudo do judaismo brasileiro sob o domínio holandês.
Já em junho daquele ano o Instituto apresentava um relatório de suas atividades no qual se
enumerava os trabalhos de Wiznitzer publicados no periódico Aonde Vamos? bem como
sua receptividade de parte de estudiosos e historiadores do Brasil e do exterior. Sem dúvida,
é inegável o empenho pessoal de Wiznitzer no sentido de chamar a atenção para essa área
de estudos a que ele mesmo deu uma notável contribuição histórica. O Instituto continuou
existindo durante alguns anos e, conforme a Assembléia Geral de 21 de novembro de 1954,
foi eleita uma nova diretoria para 1955-1956 na qual figuravam como presidente e
professor de pesquisa Arnold Wiznitzer; vice-presidentes Prof. David J. Perez e Aron
Neumann; secretário geral Dr. Fernando Levisky; editor Dr. Isaac Izecksohn, tezoureiro
Prof. Mendel Kresch, secretário, Elisa Lispector. Wiznitzer, que nesse interim havia
pesquisado em arquivos de vários países, voltaria a lecionar nos Estados Unidos, o que
levaria a paralisação e o encerramento das atividades da instituição que fundara. Contudo,
interessante lembrar, que ainda nos anos 50 uma outra tentativa para se criar um Instituto de
Pesquisa e arquivo histórico judaico seria feita pelo historiador Isaías Golgher, em Belo
Horizonte, porém sem que pudesse estruturar seu projeto sendo, no entanto, uma espécie
de antecipação do futuro Instituto Histórico Judaico Mineiro criado muitos anos mais tarde.
Desde então abriu-se um grande hiato e passaram muitos anos até o surgimento, em 1976,
do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, fundado por um grupo de professores e alunos de
5
pós-graduação da Universidade de São Paulo, que retomou a preocupação central de
preservar a memória da imigração judaica no Brasil e definiu os seus objetivos, quase em
termos idênticos, aos da instituição de Wiznitzer lembrada anteriormente. Contudo os anos
prévios a formação do A.H.J. B. pesquisadores importantes ,entre eles Egon e Frieda Wolff,
davam continuidade ao interesse despertado pela história dos judeus no Brasil -concentrada
até então no período colonial e mais especificamente nos perseguidos e vítimas da
Inquisição- e publicavam os primeiros resultados de seus trabalhos na revista Aonde
Vamos? e no boletim da Policlínica do Rio de Janeiro, instituição na qual atuavam. Nos
anos 70, já em forma de livro, sairia a luz, na série de publicações do Centro de Estudos
Judaicos da Universidade de São Paulo, um levantamento extraordinário de dados sobre os
judeus do século XIX, sob o título" Os Judeus no Brasil Imperial", texto que, na época,
achei importante encaminhar ao saudoso Prof. Eurípedes Simões de Paula, diretor da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP para sua aprovação, pois estava
convicto que a pesquisa levantava pela primeira vez uma valiosa informação sobre a
presença judaica naquele século sobre a qual nada conhecíamos. Após essa publicação, de
1975, que abriria um novo segmento da pesquisa histórica sobre a presença judaica no país,
e já interessado em criar um Arquivo de Documentação, pudemos dar à luz outros trabalhos
dos mesmos pesquisadores que em sua metodologia de pesquisa incluíram levantamentos
em cemitérios a fim de coletar dados e informações que nos ajudariam a reconstituir as
etapas de um complexo processo imigratório ,realizado em várias fases, e cuja origem era
proveniente de múltiplos centros da diáspora judaica. Laços de amizade- que perduram até
hoje- me levariam a acompanhar de perto o trabalho de pesquisa do casal Wolff, que além
do mais participariam também na fundação do A.H.J.B. A historiografia judaica começava
a descobrir novos caminhos para a investigação das levas imigratórias que chegaram nos
primeiros anos do Brasil Independente. Pessoalmente vi a necessidade de criar modelos de
pesquisa e nesse sentido, por várias razões decidi-me, de início, faze-lo no âmbito da
imigração proveniente da Europa Oriental, falante da língua ídiche, idioma que nos anos 70
do século passado já não era conhecida pela geração nascida em solo brasileiro, o que de
certa forma era um grande obstáculo para esse estudo. Possivelmente isso explica, porque,
anos mais tarde, os novos pesquisadores não-judeus, mas também judeus, se dedicariam ao
estudo da política governamental em relação à "imigração semita", na assim denominada
era Vargas, ou ao anti-semitismo que grassava nos círculos oficiais e de grupos políticos,
tais como os integralistas, ou ainda o estudo da esquerda e os judeus- se bem que esses
temas não eximiriam inteiramente a consulta de fontes importantes existentes em ídiche - e
temas similares, já que as fontes em ídiche lhes eram, lamentavelmente, inassecíveis. Razão
pela qual boa parte de tais pesquisas são deficientes e se ressentem da inexistência de uma
ótica que abrangesse uma perspectiva da comunidade frente à essas questões, comunidade
essa que se expressava em seus orgãos de imprensa e publicações em sua própria língua de
origem. Optei, desse modo, em dar minha contribuição pessoal num segmento que poucos
poderiam trabalhar e provocar o interesse para o melhor conhecimento da imigração bem
como a formação de suas instituições, seja sob seu aspecto "interno", no contexto de uma
história que exigia uma leitura de todo tipo de fontes em ídiche, incluindo-se entre elas os
periódicos que foram publicados nessa língua durante os anos de 1915 e 1941, ano em que
se proibiu publicações em língua estrangeira. O resultado desse trabalho, como já o disse,
foi a coletânea publicada em 1984 seguindo-se, no ano seguinte, o livro sobre “Jacob
Nachbin” que focalizava entre outros aspectos a cultura do imigrante asquenazita. Desde
então continuei publicando artigos em vários periódicos científicos, revistas, bem como em
6
coletâneas, que abordavam novos aspectos referentes à essa imigração, mas que não se
restringiram tão somente a ela, senão que, por vezes, tocavam em temas concernentes à
presença de judeus e cristãos-novos no período colonial e sob o domínio holandês no
Brasil. Mas o difícil acesso a esses trabalhos, de parte do público mais amplo, excluindo-se
o pequeno grupo de pesquisadores interessados na área, publicados em forma de artigos
em livros, Anais de Congressos e periódicos tais como o Jornal do Imigrante, Shalom,
Herança Judaica, Boletim Informativo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, Revista da
USP, American Jewish Archives e outros editados no país e no exterior, levou-me a
organizar o livro que a EDUSP ora oferece aos seus leitores. Um certo número de artigos
exigiu uma revisão de conteúdo que a distância do tempo e o conhecimento acumulado
obrigou-me a faze-lo afim de retificar dados e inserir novas informações que minhas
pesquisas levantaram nos últimos anos bem como adicionar novo material documental aos
mesmos. Devo também observar que certos conceitos, assim como minha visão sobre
várias questões, alteraram-se com o passar do tempo, o que pode ser apreendido no
confronto entre as publicações originais e os estudos atuais. Obviamente, por se tratar de
uma coletânea de artigos, inevitável é que certas informações possam, por vezes, parecer
repetitivas. Porém evitei, na medida do possível, que isso acontecesse, mantendo somente
as estritamente indispensáveis por razões de inteligibilidade e estrutura do texto em
questão. Creio que a presente coletânea, que inclui alguns poucos estudos sobre o período
colonial, somada aos livros “Jacob Nachbin” ( Nobel,1985), “Manasche: sua vida e seu
tempo” (Editora Perspectiva, 1996; edição em inglês, The Jerusalem Foundation,
Jerusalém, 1998) e mais recentemente “David José Pérez: uma biografia” (Garamond, Rio
de Janeiro, 2005) poderá, no seu conjunto, servir como instrumento auxiliar ao pesquisador
interessado na história contemporânea dos judeus no Brasil, acreditando que ainda estamos
dando os primeiros passos para o seu pleno conhecimento. Aproveitei o ensejo para dar aos
leitores, em forma de apêndice documental, as “Crônicas” das comunidades escritas entre
os anos de 1953 e 1959 para o “Léxico dos ativistas sociais e culturais da comunidade
israelita do Brasil”, projeto editorial de Henrique Iussim (Zvi Yatom), que, infelizmente,
não pode ser levado adiante, pois o material relativo às comunidades maiores, a de São
Paulo e Rio de Janeiro, além da pequena comunidade da Bahia, nunca chegou a ser
publicado. Na parte concernente à São Paulo acrescentei a original “Crônica da
comunidade paulista” do escritor Meier Kucinski que deveria integrar a brochura do
“Léxico” dedicada àquela comunidade. Por outro lado encontrei dentre esse material do
projeto de Iussim uma tradução ao português de algumas partes da obra de Isaac Raizman,
“ A fertl yohrhundert idische presse in Brazil” (Um quarto de século de imprensa judaica
no Brasil), até hoje o único trabalho abrangente sobre a história da imprensa judaica no
Brasil, para o qual julguei útil acrescentar mais alguns excertos traduzidos por mim do
original em ídiche a fim de incluí-lo como Apêndice à este livro. A importância desse
material, inédito em português, impeliu-me a publicá-lo na integra, já que no seu conjunto
reune uma preciosa informação histórica relativa à imigração e a formação dessas
comunidades. Finalmente devo observar que sem o auxílio dos arquivistas e bibliotecários
das instituições com as quais tive contato durante várias décadas para a realização de
minhas pesquisas no Brasil, em especial o Arquivo do Estado de São Paulo, o Arquivo
Nacional no Rio de Janeiro, o Arquivo do Museu da Imigração, o Arquivo Histórico
Judaico Brasileiro e outros, assim como os do exterior, tais como o Arquivo para a História
do Povo Judeu (Archion leToldot haAm haYehudi, junto à Universidade Hebraica de
Jerusalém; do Central Zionist Archives (HaArchion haZioni), de Jerusalém e o Instituto
7
Ciêntífico Judaico (YIWO) de Nova York, não teria realizado muitas de minhas hipóteses
de trabalho. A todas essas pessoas, cujas vidas estão voltadas à preservação da
documentação histórica, desejo agradecer pela sua dedicação e prestatividade sem as quais
seria impossível chegar a qualquer resultado científico-histórico. Ao mesmo tempo sou
muito grato às inúmeras pessoas, amigos e famílias que abriram seus acervos pessoais
colocando-os generosamente à minha disposição.
8
2. A propósito da periodização da história dos judeus no Brasil
É opinião comum entre os historiadores que a periodização adotada para o
estudo da história não deve ser compreendida como uma verdade rígida, pois as balizas
cronológicas que delimitam os períodos estão sujeitas às interpretações e aos enfoques do
investigador e da questão a ser investigada.
Não é necessário demonstrar aqui que toda periodização é uma segmentação
artificial do processo histórico da humanidade, resultado de uma intenção didático-racional
e que varia segundo o tipo de história que se estuda e se investiga. O suceder do processo
histórico é um continuum sem delimitações reais. Sob esse aspecto, a compreensão da
mentalidade ou o conceito que o historiador tem sobre a época permite a fixação dos termos
cronológicos.
No Brasil devemos observar, antes de tudo, que até agora não se estabeleceu
uma periodização da história dos judeus que facilitasse e permitisse sistematizar o seu
estudo. A única tentativa feita foi a do historiador Salomão Serebrenick em seu livro
“Breve história dos judeus no Brasil”1, chegando a propor a seguinte divisão:
1. 1500-1570 – FASE PACÍFICA DE CRESCENTE IMIGRAÇÃO e de ampla
integração dos judeus na vida econômica do país, compreendendo os três
subperíodos:
a) Primeiras explorações (1501-1515);
b) Primeira colonização (1515-1530);
c) Colonização sistemática (1530-1570).
2. 1570-1630 – FASE TUMULTUÁRIA, caracterizada pelo surgimento de
discriminações antijudaicas.
3. 1630-1654 – Período de EXUBERANTE DESENVOLVIMENTO, sob o domínio
holandês, verdadeiro apogeu da organização coletiva dos judeus do Brasil.
4. 1654-1700 – Período pós-holandês, FASE CRÍTICA na vida dos judeus brasileiros,
compreendendo exôdo em massa, desagregação da comunidade, dispersão e final
acomodação local.
5. 1700-1770 – Período das GRANDES PERSEGUIÇÕES promovidas pela
Inquisição portuguesa.
6. 1770-1824 – Período de LIBERALIZAÇÃO progressiva, queda da imigração
judaica e gradual assimilação dos judeus.
1 . Ed. Biblos, Rio de Janeiro, 1962, pp. 9-12.
9
7. 1824-1855 – Fase da ASSIMILAÇÃO PROFUNDA, subseqüente à cessação
completa da imigração judaica homogênea e à igualização total entre os judeus e
cristãos perante a lei.
8. 1835-1900 – PRÉ-IMIGRATÓRIO MODERNO, caracterizado pelas primeiras
levas de imigrantes judeus, oriundos sucessivamente da África do Norte, da Europa
Ocidental do Oriente Próximo e mesmo da Europa Oriental, precursores das
correntes caudalosas que, nas primeiras décadas do século XX, viriam gerar e
moldar a atual coletividade israelita do país.
O critério adotado por Serebrenick se assenta sobre uma posição historiográfica, conforme
ele mesmo o define na introdução de sua obra, de que “o estudo da história dos judeus no
Brasil não pode ater-se às fases e aos marcos gerais da evolução política e social do país,
senão orientar-se, ao revés, segundo os fatos e acontecimentos históricos que hajam
repercutido especificamente nas condições de vida individual e sobretudo coletiva dos
judeus”. Antes de discutirmos os critérios de Serebrenick, devemos ainda observar que a
sua periodização se estende até o ano de 1900, sendo que, na obra mencionada, encontra-se
um estudo de Elias Lipiner sobre “A nova imigração judaica no Brasil”, que trata do
período que se inicia em 1900 até a década de 60 aproximadamente, mas sem uma
definição cronológica exata.
Quanto ao critério estabelecido pelo nosso autor para a periodização
apresentada mais acima, julgamos que ele peca pela base ao tentar isolar a história dos
judeus no Brasil da própria história geral brasileira, do mesmo modo como consideramos
impossível isolá-la da história dos judeus como um todo .
Nesse sentido, nem o autor é fiel ao critério estabelecido por ele mesmo, pois
em boa parte acaba por aceitar balizas cronológicas que constituem marcos importantes na
história do Brasil como tal, a começar pela primeira fase, que se estende de 1500 a 1570,
onde se fala na “ampla integração dos judeus na vida econômica do país compreendendo os
três subperíodos”, etc. Além do mais, o autor, sob o aspecto intrínseco ou do conteúdo
histórico, atribuído a cada divisão demonstra desconhecer a própria história do Brasil,
assim como dessa imigração, pelo fato de não a ter pesquisado nos arquivos públicos e
particulares que preservam a sua documentação.
É verdade que a periodização da história do Brasil não deixa de ser
problemática, como toda periodização, mas desde Varnhagen, Capistrano de Abreu,
Oliveira Lima, Joaquim Nabuco e Gilberto Freyre, e poderiamos acrescentar muitos outros,
pelo menos segundo as opiniões abalizadas de José Honório Rodrigues e Sérgio Buarque de
Holanda, se estabeleceram pouco a pouco os critérios interpretativos para se fixarem os
períodos da história brasileira2.
2 Sobre a periodização da história do Brasil, a melhor síntese foi escrita por José Honório Rodrigues em sua
obra “Teoria da História do Brasil”, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1969, pp. 125-144.
10
Apesar da pequena diversificação relativa de balizas cronológicas dos
acontecimentos mais importantes para a delimitação dos períodos quanto à história dos
judeus, podemos adotar a divisão de três grandes períodos: colonial, imperial e republicano.
O primeiro período vai de 1500 até 1808, o segundo de 1808 até 1889 e o terceiro de 1889
até os nossos dias. Até aqui temos uma periodização quase convencional que se aplica a
toda a história do Brasil, mas que ainda não permite explicar o particular existente na
história dos judeus em nosso território. No caso particular é a história de uma comunidade
com religião própria e com uma trajetória histórica universal que implica no estudo do
processo como um todo, ou vinculado aos momentos da história geral dos judeus onde quer
que se encontrem, considerando-se em especial a extensa geografia que assinala a origem
dessa imigração ao Brasil que são os continentes: europeu, asiático e africano33
. Também a
história do Brasil, como um todo, não pode ser desvinculada da história européia quando
tratamos de entender certos processos políticos, econômicos e culturais.
Adotando as amplas divisões apresentadas acima, proporíamos as subdivisões
seguindo o critério de acontecimentos mais decisivos na vida dos judeus do Brasil, segundo
o seguinte esquema cronológico:
I – Período Colonial – 1500-1808
1 – 1500-1591/5 – compreendendo os inícios do estabelecimento dos cristãos-
novos até a Primeira Visitação da Inquisição no Brasil.
2 – 1591/5-1624 – compreendendo a Segunda Visitação da Inquisição no Brasil
(1618-1619) até os inícios da conquista holandesa.
3 – 1624-1654 – compreendendo o período do domínio holandês no Brasil que
permite a livre expressão da religião judaica nas regiões onde
os batavos dominaram e a criação das primeiras comunidades
judias em território nacional: Tzur Israel (Recife) e Magen
Abraham (Maurícia).
4 – 1654-1774 – compreendendo a expulsão do invasor holandês e a
conseqüente destruição das comunidades judias. Ao mesmo
tempo, a inauguração de uma grande atividade inquisitorial
de perseguição aos cristãos-novos em todo o território
brasileiro até a política do Marquês de Pombal em relação à
Inquisição.
II – Período Imperial – 1808-1889
3 José Honório Rodrigues, em sua obra já citada, diz, com inteira razão, que “uma história detalhada do
desenvolvimento de uma comunidade representa a mais legítima contribuição à história nacional”, p. 151. Ele
mesmo demonstrou interesse pela história dos judeus no período holandês e do período colonial ao comentar
a obra de Arnold Wiznitzer em um artigo intitulado “Os Judeus no Brasil” , publicado no “O Jornal”, de 30
de outubro de 1952 e republicado na revista Aonde Vamos?, em 6 de novembro de 1952, ele escrevia: “De
1773 até o prícipio do século XX, a história dos judeus no brasil, por efeito ou não da indistinção determinada
por lei ou por falta de pesquisa e conhecimento dos documentos, não é conhecida.”
11
1 – 1808-1822 – compreendendo a Abertura dos Portos e a conseqüente
liberdade religiosa, e no qual os primeiros judeus, no período
contemporâneo, começam a vir ao Brasil até o início da
grande imigração da África do Norte na região norte do
Brasil.
2 – 1822-1848 – dos primórdios da imigração judaica no século passado até a
formação da primeira comunidade organizada, a Associação
Israelita Shel Guemilut Hassadim no Rio de Janeiro.
3 – 1848-1889 – compreendendo a imigração dos países da Europa Ocidental e
Central devido às revoluções de 1848 e a decorrente da
guerra franco-prussiana até a Proclamação da República.
III – Período Republicano – 1889 até os nossos dias
1 – 1889-1904 – compreendendo a imigração de 1891 e os projetos de
colonização dos inícios da República, sem mencionar
anteriores, e os inícios da Jewish Colonization Association no
Rio Grande do Sul.
2 – 1904-1914 – compreendendo os inícios da colonização J.C.A., em 1904,
em Philippson; a colonização agrícola no interior promovida
pelo governo do Estado de São Paulo em Nova Odessa, Jorge
Tibiriçá e Campos Salles em 1905 e a imigração da Europa
Oriental.
3 – 1914-1933 – compreendendo a grande corrente imigratória da Europa
Oriental e a formação das instituições comunitárias
(religiosas, beneficentes, sociais, culturais, educacionais) nos
diversos Estados do país.
4 – 1933-1945 – compreendendo a imigração dos judeus dos países de Língua
Alemã (ascensão do nazismo)e da Itália fascista; as
transformações políticas internas do país e suas
conseqüências em relação aos judeus; a integração cultural da
segunda geração de imigrantes, etc.
5 – 1945-1957 – compreendendo a imigração de pós-guerra, a formação do
Estado de Israel e a nova imigração do Egito e Hungria
(decorrente da Guerra do Sinai em 1956 e o Levante da
Hungria). A modificação política interna com a queda da
ditadura de Getúlio Vargas; a ascensão econômico-social
com o desenvolvimento do país a partir da Segunda Guerra
Mundial.
6 – 1957 até hoje – a nova comunidade e o ingresso de novos imigrantes vindos
de países da América Latina e outros lugares e sua
caracterização.
12
Adotamos uma divisão de períodos evitando as interferências interpretativas
que as concepções do historiador naturalmente tendem a impor a um período ou outro por
dado fenômeno ou acontecimento, como podemos verificar no caso de Serebrenick, cuja
visível preocupação pela “assimilação” o leva a denominar vários períodos de acordo com
esse critério. Mas a “assimilação”, além de ser apenas um aspecto, não permite caracterizar
apenas um período em particular, pois o processo se manifesta em vários períodos, senão
em todos, quando se trata da história dos judeus no Brasil.
O nosso esforço foi o de procurar evitar a possível unilateralidade de enfoques,
e olhar a história dos judeus no Brasil com maior amplitude possível, oferecendo a
possibilidade de que se façam vários “tipos” de história, seja econômica, política, cultural,
institucional, jurídica, social, etc.
Guilherme Bauer, em sua Introdução ao Estudo da História44
, afirma
corretamente que cada período deve ser deduzido de seu objeto, isto é, dos mesmos fatos
históricos ou das concepções da época que abarca, o que deixa uma margem individual
bastante elástica para o historiador estudar um período segundo a intenção e o escopo de
sua própria pesquisa e o problema a ser pesquisado. Foi justamente o nosso propósito ao
propormos a periodização acima.
4 Ed. espanhola, Barcelona, 1947, pp. 156-7.
13
3. JUDAICA PERNAMBUCENSIS
Alguns perfís de judeus e judaizantes em Pernambuco
Historiadores importantes, entre eles José A. Gonsalves de Mello, Hermann
Kellenbenz, Arnold Wiznitzer, I.S. Emmanuel, Elias Lipiner, Sônia A. Siqueira e
outros, já de há muito publicaram as pesquisas fundamentais sobre cristãos-novos,
judaizantes e judeus no período colonial bem como sobre o domínio holandês nas
“capitanias de cima”, privilegiada, por razões geográficas, econômicas e históricas
conhecidas, de ter abrigado uma considerável imigração de elementos pertencentes à
“nação hebréia”. Queremos lembrar, com este modesto artigo, alguns vultos
importantes que tomaram parte e registraram sua presença na história da região da
região de Pernambuco no período colonial. A necessidade de colonizar o novo
território recém descoberto ,assim como a oficialização e o estabelecimento em 1536
da Inquisição em Portugal, levou a que muitos cristãos-novos viessem a se instalar na
região nordestina do território brasileiro acompanhando os primeiros arrendatários e
os donatários que receberiam as extensas parcelas de terras que demandavam uma
política de colonização e povoamento. Portanto, degredados, perseguidos, fugitivos
por uma ou outra razão e em particular o temor da instituição inquisitorial estariam
entre os elementos que aportariam às costas brasileiras. Em razão do acontecimento
significativo da inauguração do espaço cultural no lugar onde existiu a antiga
sinagoga da comunidade Zur Israel do Recife nada mais oportuno do que lembrar
alguns dos personagens centrais que viveram nessa região do Nordeste brasileiro e
que se incorporaram definitivamente, de uma forma ou outra, à história da região e do
Brasil. O fato conhecido sobre a existência de uma “esnoga” em Camaragibe na qual
se destaca a figura extraordinária, e envolta em lendas e que inspirou peças literárias
através dos tempos, de Branca Dias, natural de Viana da Foz do Lima, e seu marido
Diogo Fernandes que obtivera a sesmaria de Camaragibe em 1542,5 ambos vítimas da
Inquisição. Supõe-se que Branca teria vindo como fugitiva da Inquisiçaõ, que a
proibiu sair do Reino, ao Brasil, enquanto Diogo teria vindo antes, talvez como
degredado, passando a morar mais tarde em Olinda, onde sua mulher também se
encontrava, o que aponta para uma presença de judaizantes naquela região. Branca
Dias foi presa em 13 de setembro de 1543 e era filha de Vicente e Violante Dias. O
casal teve sete filhos e boa parte de sua família esteve envolvida com a temível
instituição por praticarem costumes judaicos tal qual são definidos pelo Monitório, ou
seja a lista dos delitos contra fé, e que orientava o procurador e os familiares do Santo
Ofício para identificarem os judaizantes através de seus hábitos e costumes.6 O
processo de Branca Dias revela um fundo dramático do ponto de vista familiar pois
suas testemunhas de acusação eram sua mãe e sua irmã Isabel ambas processadas pela
Inquisição como judaizantes, sabendo-se que Violante Dias se reconciliou com a
5 V. sobre eles Mello, José A. G. de, Gente da Nação, Ed. Massangana, Recife, 1989, pp.117-166; v. também
Almeida, Horácio de, História da Paraíba, Imprensa Universitária, João Pessoa, 1966, tomo I, pp.147-159. O
autor de Gente da Nação anotou 15 processos relativos a pessoas com o mesmo nome em Portugal nos anos
de 1542 a 1593.Por fim identificou Branca Dias com a personagem do processo da Inquisição de número
5.736 existente na Torre do Tombo. 6 Lipiner, E., Terror e linguagem, um dicionário da Santa Inquisição, Contexto Editora, Lisboa, 1998, pp.174-
176.
14
Igreja, e acabou por se livrar da pena que lhe havia sido imposta. Como bem
demonstrou José Antônio G. de Mello, a família de Branca Dias compõe quatro
gerações de processados pela Inquisição, a começar por sua avó Violante Dias.7
Também pertence ao rol desses cristãos-novos a figura exótica do calceteiro Jorge
Dias Caia, que era visto como “sacerdote” dos judeus em Olinda, e é descrito na
denunciação de 1591 pela sua conduta de cripto-judeu que para avisar os judaizantes
que deveriam se reunir em Camaragibe e no Engenho São Martinho, e talvez em
outros lugares, ele se apresentava descalço com um pano atado num pé e com a
espada na cinta, o que não era de seu hábito cotidiano, indicando desse modo que
haveria um ajuntamento de seus irmãos de fé. Durante a Primeira Visitação do Santo
Ofício, entre 1591-1595, não somente eles foram denunciados como judaizantes mas
também seus filhos e parentes bem como muitos outros cristãos-novos que habitavam
a região de Pernambuco. Elias Lipiner lembra bem que o fato da legislação
portuguesa da época, destinada a impedir a saída dos cristãos-novos do reino sem
licença especial, embora confirmada e renovada sucessivamente a sua força de
observância, não era observada com absoluta inflexibilidade, continuando a
emigração clandestina dos cristãos-novos para o Brasil.8 A maior parte dessa
imigração concentrou-se na região do Nordeste por ser esta o principal polo da
atividade econômica na colônia daquele tempo e na qual, ao par da extração de
madeira e de produtos naturais, desenvolvia a atividade açucareira de vital
importância para a época, e muitas vezes como pioneiros como o foi no caso de
Diogo Fernandes e Pedro Álvares Madeira, conforme assinalou José Antônio G. de
Mello.9 Porém devemos observar que todas conjecturas referentes ao número de
cristãos-novos que viviam na região nordestina desde o século XVI e seguintes,
carecem de melhor fundamentação uma vez que as fontes centrais que os mencionam,
ou sejam, os processos inquisitoriais e os documentos relativos às duas Visitações, a
de 1591 e a de 1618, não nos permitem qualquer avaliação estatística segura sobre os
mesmos, excetuando os que efetivamente são denunciados como tais. Em geral os
poucos estudos demográficos sobre o período colonial são discordantes em suas
conclusões, como bem observa Tarcizio do Rêgo Quirino em seu livro Os habitantes
do Brasil no fim do século XVI, baseado em boa parte numa leitura apurada dos
documentos relativos às Visitações .10
O autor está convicto de que “mesmo somando
em uma só parcela todos os que têm alguma raça de cristão novo [ quer dizer,
incluindo meio cristão-novo] chegamos a um total de 12,5%, bastante pequeno para a
influência que lhes é atribuída”. Porém, comparativamente à Bahia, parece não haver
diferenças apreciáveis na composição da população das duas maiores capitanias, a
não ser de se revelar um número maior de “meios cristãos-novos” superior em
Pernambuco, o que torna maior a percentagem de pessoas de origem judaica (10,9%)
na Bahia e 14% em Pernambuco. Em números reais estamos falando em algumas
centenas de indivíduos que não atingiriam um total acima de um a dois milhares de
pessoas considerando o número da população branca ou “portuguesa” existente na
época. O que está muito longe das afirmações ou avaliações bizarras de certos
7 Vide Genealogia de Branca Dias, Mello, J. A.G. de, op. cit. ,entre pp. 134-135.
8 Lipiner, E., Os judaizantes nas capitanias de cima, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1969, p.15.
9 Mello, J. A.G. de, Gente da Nação, ed. Massangana, Recife, 1990,p.8.
10 Instituto de Ciência do Homem-Univ. Fed. de Pernambuco, Recife, 1966, pp.14-15.
15
historiadores que lidam com a presença dos cristãos-novos no Brasil, sem que
diminua o fato de terem os cristãos-novos desempenhado um papel notável na
sociedade colonial em seu período decisivo de formação, assim como o foi na
economia predominante naquele tempo em que se fizeram representar como
destacados e bem sucedidos senhores de engenho, produtores e exportadores de
açúcar, quando este era um bem apreciado e sumamente valioso na atividade
mercantil da época. Nesse sentido, figura exemplar de homem bem sucedido
economicamente e de projeção social impar é o cristão-novo João Nunes, contratador,
mercador, senhor de engenhos, português nascido em Castro Daire, morador em
Olinda, e que fora preso durante a Primeira Visitação, com denúncias na Bahia e em
Pernambuco, porém sempre conseguindo habilmente livrar-se de suas malhas as
custas de seu poder financeiro e influência. 11
Porém outro tipo de cristão-novo
judaizante que não atua na esfera econômica mas se notabiliza como intelectual e
homem culto com o desejo de deixar seu nome gravado na memória dos homens
como literato é o não menos famoso Bento Teixeira, autor da Prosopopéia. Sobre ele
muito se escreveu, desde Barbosa Machado, em sua Biblioteca Lusitana, publicada
em 1741, até os nossos dias, visando-se identifica-lo como autor de certas obras, seja
por representar uma figura trágica de perseguido e processado pela Inquisição, ou
ainda pela sua trajetória de vida que o transformou em uxoricida acrescido ao fato de
figurar como um dos primeiros autores na história da literatura brasileira. A
descoberta de um exemplar de sua obra, em 1872, na Biblioteca Nacional de Lisboa,
por Varnhagen, logo seguido do achado de outro, no mesmo ano no Rio de Janeiro,
por B.F. Ramiz Galvão, que a publicaria em 1873, conseguiu dirimir a dúvida quanto
a autoria da Prosopopéia, mas não quanto a verdadeira identidade do seu autor. Isto
viria mais tarde por ocasião da publicação das Denunciações da Bahia, prefaciado por
Capistrano de Abreu, e as Denunciações de Pernambuco, por Rodolfo Garcia, em que
este último, associou o autor ao cristão-novo vítima da nefanda instituição. Nesse
sentido também a primeira edição da Prosopopéia, de Lisboa, 1601 editada por
Antônio Alvares e organizada pelo livreiro Antônio Ribeiro juntamente com outro
texto para o qual escrevera o prólogo, a saber o “Naufrágio que passou Jorge de
Albuquerque Coelho, capitão e governador de Pernambuco”, de autoria do piloto
conhecido por Afonso Luís Piloto e redação final de Antônio de Castro, “poeta e
sabedor do seu latim”, foi objeto de abundantes especulações até que se cristalizasse
uma opinião comum aceita pela maioria dos estudiosos.12
Arnold Wiznitzer que
escreveu sobre o judaizante e procurou comprovar seu judaismo através da leitura das
estrofes 6, que se reporta aos quatro elementos: ar, fogo, água e terra, e 35 no qual se
lamenta a injustiça na qual o mau prospera e o justo é castigado pelo sofrimento, (em
hebraico “zadik verá lo rasha vetov lo) na Prosopopéia, bem como pela figura
impressa no final da última estrofe, que pensa ser uma Fênix, símbolo dos cristãos-
novos judaizantes adotada pela comunidade Neve Shalom de Amsterdão, o que seria,
11
V. Siqueira, S. A., O comerciante João Nunes, Separata dos Anais do V Simpósio Nacional dos Professores
de História, Campinas, 1971,pp.231-249; Mello, J.A.G. de , op. cit.,pp.51-79; Lipiner, E., op. cit., pp.194-203. 12
Souza, J. Galante de, Em torno do poeta Bento Teixeira, Instituto de Estudos Brasileiros-USP, São Paulo,
1972, dedica boa parte de seu conscencioso estudo ao esclarecimento da questão da autoria e identificação do
autor.
16
no seu entender, clara indicação do poema ser escrito por um judaizante.13
A verdade
é que dificilmente poder-se-ia ver nessas estrofes qualquer sinal de judaismo pois seu
conteúdo é inteiramente universal e não caracterizam, em especial, um conteúdo
específico judaico. Por outro lado o símbolo da Fênix, que tem uma longa trajetória
mitológica no mundo grego, e penetrou no judaismo rabínico,14
também foi adotada
pelos cristãos-novos judaizantes devido seu significado simbólico da eternidade de
Israel e sua fé superior confirmada pelos mártires queimados pela Inquisição. J. Lúcio
de Azevedo publicou um soneto de David Jesurun dedicado ao famoso mártir vítima
da Inquisição, frei Diogo da Assumpção: “Foste ouro que estiveste soterrado/ Nas
minas da cruel Inquisição;/ Mas como o fogo tira a corrupção/ Quiseste nele ser
purificado.// Foste Fênix que aumenta seu estado/ Por não ter nele a morte jurisdição,/
E assim ardeste vivo em conclusão/ Que hás de nascer das cinzas renovado.// Anjo
que a Manoé apareceu,/ Vítima que oferece a Deus no fogo,/ Que ambos subis em
flama ao céu propício,// Lá rides de quem cá nos ofendeu,/ Sem querer que vos
chamem Frei Diogo,/ Mas áureo Fênix, anjo e sacrifício.//15
Uma vez que essa ave
mitológica vive 500 ou 1000 anos e é consumida pelo fogo para renascer das próprias
cinzas, ela também aparece na literatura rabínica, do mesmo modo que na Patrística
cristã, como prova da ressurreição dos mortos.16
Mas a ave ou pássaro que vemos na
gravura da Prosopopéia não é uma Fênix. Ali encontramos uma ave com três filhotes
bicando seu próprio peito para alimentá-los, o que não condiz com a representação
conhecida da Fênix, sempre configurada envolta em chamas sob seu corpo, assim
como podemos verificar no símbolo adotado pela comunidade Talmud Torá de
Amsterdão, resultado da unificação das três anteriores.17
Daí a conclusão de Rubens
Borba de Moraes, em artigo sobre Bento Teixeira, afirmar que a ave é um pelicano,
que também possui um significado cristão, entre outros, o do Cristo que derrama seu
sangue para salvar a humanidade.18
Curiosamente a mesma ave se encontra no
13
“Bento Teixeira, autor da Prosopopéia”, in Aonde Vamos?, n. 502, 29 de janeiro de 1953, p.2. Duas
perguntas são inevitáveis em relação ao julgamento de Wiznitzer: a) como poderia ter visto uma Fenix ,
sempre representada com chamas, na figura da ave com seus filhotes da Prosopopéia? ;b) teria de fato visto o
símbolo da Fenix em algum documento relativo à comunidade Neve Shalom? Ou confundiu-a com a Talmud
Torá? 14
Sobre a Fenix, fazem referência vários dicionários sobre mitologia, entre os quais o Dicionário da mitologia
grega e latina de Pierre Grimal, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 4ª ed., 2.000 e o Dicionário de mitos literários
de Pierre Brunel, UNB- J. Olympio Editora, Rio de Janeiro,1997. O mito no judaismo parte de uma
interpretação da palavra hebraica “hol”, que se encontra em Jó, 29:18 :“dias numerosos como “hol”, (que
significa “areia”), mas que, posteriormente, atribuiu-se um o significado adicional como sendo Fenix, que em
hebraico é denominada “Hul”. A literatura midráshico-rabiníca é rica em referências expressivas sobre a
Fenix tal como a encontramos no Bereshit Raba, 19, 5: “ ...com exceção de uma ave que se chama Hul, como
está escrito (Jó, 29:18)...vive mil anos e no final desse tempo um fogo sai de seu ninho e a queima, e resta
dela algo como um ovo que dele volta a crescer asas, e torna a viver.” V. Bereshit Raba, ed. Machberot
leSifrut,Tel Aviv, 1956, vol.1, p.134. A menção da Fenix, ou Hul, a encontramos na literatura apócrifa, no
Apocalipse grego de Baruque, cap.6, no qual a Fenix absorve com suas asas os poderosos raios do Sol e desse
modo evita que a vida na terra seja queimada. Também é mencionada a Fenix no Livro de Enoque, versão
eslava, cap. 6, numa descrição fantástica de sua forma. V. Kahana, A., Hasefarim hahitzonim (Os livros
apócrifos), Massada, Tel-Aviv, 1959, vol.1, pp. 109-110; 418. 15
História dos Cristãos Novos Portugueses, Livraria Clássica Editora, Lisboa, 2ª ed., 1975, p.161.
16 V. Ginzburg, L., The Legends of the Jews, The JSPA, Philadelphia, 1967, vol.VII, p.51.
17 V. Encyclopaedia Judaica, Ktav Pub. House, Jerusalem, 1971-2, vol. 13, p.482.
18 Moraes, R. Borba de, Muitas perguntas e poucas respostas sobre o autor da “Prosopopéia”, in Comentário,
ano V, vol. 5, n.1, 1964, pp.78-88. O mesmo autor levanta vários e interessantes questionamentos sobre o
17
frontispício da edição do Os Lusiadas de Camões, como bem observa Borba de
Moraes, que procurará provar que a figura, que serve de “cul de lampe”, foi
selecionada e impressa porque era o que o tipógrafo tinha disponível em sua gráfica
para se adaptar ao espaço da página em questão. Razão meramente técnica senão
estética! O estudioso José Galante de Souza já havia observado que a Prosopopéia,
escrita pelo menos alguns anos antes da morte do autor em 1600 e impressa em 1601,
com o “nihil obstat” do Santo Ofício, não poderia ter um símbolo que atendesse a
vontade ou qualquer intenção velada do autor, pois este já era falecido ao legar o seu
manuscrito à Jorge de Albuquerque Coelho ou ao seu editor. O moto latino em volta
da figura, Fortis est ut mors dilectio, isto é, o amor é forte como a morte, é extraído
do Cântico dos Cânticos 8:6, no original hebraico “ki aza kamavet ahava”, cujo
conteúdo pode-se aplicar também à ave que dará a vida por amor aos seus filhotes.
Porém devemos observar que ao contemplarmos atentamente o pássaro da figura em
questão, bem como a do Os Lusiadas, vemos que em nada se parece a um pelicano,
ave tão bem caracterizada pelo seu bico alongado munido de uma bolsa para guardar
os peixes que porta para alimentar seus filhotes. Como explicar tal fato? Desleixo do
artista que ignorava seu significado cristológico? Contudo intrigante continua sendo o
versículo “aza kamavet ahava”, pois o encontramos em um pyut do cronista da
Segunda Cruzada, R’ Efraim ben Jacob de Bonn, um poema de amor e idelidade ao
Deus de Israel tendo como fundo a matança perpretada pelos cruzados nas
comunidades judias do Reno que levou ao fenômeno da auto-imolação ou Kidush
haShem para não cairem em mãos de seus algozes e serem batizados.19
Voltemos,
porém, a Bento Teixeira. Filho de cristãos-novos, nasceu no Porto, em 1561, ainda
que outros autores admitem outras datas, e teria vindo, juntamente com sua família, à
Capitania do Espírito Santo aproximadamente em 1567, local onde estudou no
colégio dos Jesuítas. Mudou-se mais tarde para o Rio de Janeiro dando continuidade
aos seus estudos entre os inacianos os quais também o acolheriam como aluno na
Bahia, onde se presume ter chegado por volta de 1579. Protegido pelo bispo D.
Antônio Barreiros e do Ouvidor-geral Cosme Rangel viveu ali com parentes do lado
materno, uma vez que seus pais já eram falecidos. Casado com uma cristã-velha,
Filipa Raposa, sua vida matrimonial foi perturbada pela infidelidade da esposa ,que
segundo ele próprio confessara, disseminara entre conhecidos e pessoas com as quais
adulterara, sua condição judaica, que o levou a ser suspeito perante o tribunal do
Santo Ofício antes da Visitação de 1591. Anteriormente havia estado em Olinda em
busca de sua subsistência e para tanto abriu uma escola com auxílio da Câmara da
vila, e na qual também contava com a ajuda de sua esposa. Nessa primeira passagem
pela instituição inquisitorial ele foi absolvido graças a boa vontade do Ouvidor da
Vara Eclesiástica, Diogo do Couto que era suspeito de ser cristão-novo e ser
condescendente com os acusados de conduta suspeita. Ele ainda perambularia por
acréscimo do sobrenome Pinto ao de Bento Teixeira que se encontra em Barbosa Machado e no segundo
volume da História trágico marítima de Bernardo Gomes de Brito, de 1736, que reimprimiu o “Naufrágio”
atribuindo-o também ao autor da Prosopopéia; idem, Bibliografia brasileira do período colonial, IEB-USP,
São Paulo, pp. 376-7. 19
O pyut se encontra na coletânea de Masha Itzhaki e Michel Garel, Poésie hébraïque amoureuse, Somogy
Éditions D’Art-Musée d’art et d’histoire du judaisme, Paris, 2000, pp.177-181. A crônica de R’Efraim de
Bonn foi publicada por A.M. Habermann, Sefer Gzeirot Ashkenaz veTzorfat (Livro das perseguições na
Alemanha e França), Ofir, Jerusalém, 1971, 2ª edição.
18
vários lugares após voltar a Olinda e nesse lugar, por ocasião da visitação
inquisitorial faria sua confissão, em 21 de janeiro de 1594. Preliminarmente, tanto na
Bahia quanto em Pernambuco acumularam-se as denuncias sobre o cristão-novo
Bento Teixeira, “mestre de ensinar moços o latim e ler e escrever”, que se veria
forçado a se apresentar perante a mesa do Santo Ofício denunciando a outros e
confessando as suas próprias culpas. O processo 5.206, com sua confissão, o qual foi
objeto de estudo profundo do notável historiador José Antônio G. de Mello, revela as
atitudes e as manifestações “heréticas” do cristão-novo.20
Mas no confronto atento
entre as denunciações e a confissão permite-nos concluir o quanto ele se esforçou
com inteligência e sutileza intelectual a diminuir a gravidade das acusações ao opor
explicações sobre os mesmo fatos que comprometesse o menos possível a
necessidade de demonstrar sua fidelidade e apego ao cristianismo. Por outro lado a
fácil denúncia de pessoas e a declinação dos nomes de cristãos-novos revela certa
fragilidade em sua personalidade que não se propunha- como muitos outros o fizeram
na longa história do marranismo- a adotar uma postura que poderia levá-lo à morte na
fogueira. Contudo o auto que o tribunal mandou fazer sobre sua pessoa não lhe era
em nada favorável e ele seria preso por ordem do Visitador expedida em 19 de agosto
de 1595. Na mesma prisão de Olinda, antes de embarcar para Portugal ele se
encontraria com outro preso, Diogo Lopes, que vivera no Rio de Janeiro.21
Preso,
Bento Teixeira , apresentaria em 17 de setembro um longo requerimento em sua
defesa- que nos dá uma preciosa informação sobre sua vida- indicando várias
testemunhas que passaram a ser ouvidas. 22
Ele acabaria sendo levado a Lisboa, onde
permaneceria preso no Paço dos Estaus e ouvido em interrogatório a partir de 28 de
fevereiro de 1596, mostrando-se negativo durante todo o tempo em relação a qualquer
prática judaica. O processo inquisitorial que se realizou de acordo com os
procedimentos estabelecidos na rotina do tribunal do Santo Ofício acabou por se
prolongar também devido o fato de testemunhas no Brasil, que conheceram o réu,
deverem ser ouvidas. A um dado momento, Bento Teixeira, que se mantivera
insistentemente negativo, percebera que a balança de suas testemunhas lhe era
desfavorável e assim resolvera mudar de atitude, talvez com o receio de obter o
perdão do tribunal. Assim sendo decidira confessar que, sob a influência de sua mãe,
adepta da lei de Moisés, adotara desde adolescente os ritos judaicos, mas que
ultimamente se arrependera e por isso pensava em dizer a verdade, não o fazendo
antes por temor da infâmia e o temor das denuncias que deveria fazer sobre outras
pessoas. E de fato ele denunciou judaizantes que tivera contato em vários momentos e
lugares por onde passara e vivera. As confissões estenderam-se até meados de abril e
sua ratificação até 19 de outubro de 1598, onde aparecem novos detalhes de sua vida
e sobre sua esposa. No final o réu foi beneficiado por suas confissões e o parecer dos
inquisidores, de 3 de dezembro daquele mesmo ano foi condenado em cárcere e
hábito perpetuo, com confiscação de seus bens e excomunhão maior, e como pena e
penitência de suas culpas vá ao auto-da-fé e abjure publicamente seus heréticos erros
20
V. Mello, J. A.G. de, “Bento Teixeira e a Prosopopéia” , in Estudos Pernambucanos, Imprensa
Universitária, 1960, pp.5-43; idem, Gente da Nação, pp.81-116; Siqueira, Sônia A., O cristão-novo Bento
Teixeira, in Revista de História, USP, 89, 1972, pp.395-467. 21
Dines, A., Vínculos do Fogo, Companhia das Letras, São Paulo, 1992,pp.199-201. 22
Mello, J.A.G., Gente da Nação, pp.89-95.
19
em forma, sentença lida “no auto público da Santa Fé na sala desta Inquisição de
Lisboa”, em 31 de janeiro de 1599. Além de abjurar, ele passaria nos cárceres das
assim chamadas Escolas Gerais para ser instruído na doutrina cristã até outubro do
mesmo ano, quando se lhe deu o consentimento para soltá-lo. Não sabemos qual foi o
motivo que o levou novamente voltar à prisão, confirmado por um laudo médico de
abril de 1600, que dizia encontrar-se muito enfermo, vindo, pouco após, a falecer em
julho daquele ano. Entre as testemunhas de Bento Teixeira figurava o nome de
Ambrósio Fernandes Brandão autor do Diálogos das Grandezas do Brasil, uma das
mais importantes obras de informação sobre o Brasil, e em particular sobre o
Nordeste colonial. Ele também se veria às voltas com o Santo Ofício devido ser
denunciado como cristão-novo judaizante. O pouco que conhecemos de sua biografia
indica que viveu em Pernambuco para onde teria vindo de Portugal em 1583 como
feitor do cristão-novo e senhor do engenho de Camaragibe, Bento Dias Santiago. Ele
participou da expedição que foi organizada para a conquista da Paraíba por Martim
Leitão, como capitão de mercadores. De 1597 a 1607 residiu em Portugal e exerceu a
função de tesoureiro geral da Fazenda dos Defuntos e Ausentes. Em 1607 regressou a
Pernambuco seguindo mais tarde para a Paraíba, onde em 1613 já possuía dois
engenhos e conforme Horácio de Almeida estava montando um terceiro.23
Foi na
Paraíba que escreveu, em 1618, a obra “enciclopédica” Diálogos das Grandezas do
Brasil, sobre a qual, durante muito tempo, foi questionada a verdadeira identidade de
seu autor até que Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia e José Antônio G. de Mello a
associassem ao nome de Ambrósio Fernandes Brandão.24
A leitura atenta de sua
obra, a qual se desenvolve através de um diálogo entre dois personagens, Brandônio,
entusiasta em relação à riqueza da terra e Alviano, reinól recém-chegado, crítico
pessimista da mesma, chamou a atenção de historiadores sobre a menção unilateral de
citações escriturísticas do Velho Testamento, e não do Novo, e para sua interessante
concepção- ainda que não fosse original - de que os povos indígenas do continente
seriam descendentes dos antigos hebreus.25
Creio que ainda falta uma leitura mais
atenta dos “Diálogos” no referente as citações do Velho Testamento e sua utilização
exemplar na literatura rabínica tradicional no sentido de se localizar tradições orais
que poderiam perfeitamente fazer parte do “judaismo” ibérico e seu marranismo. “A
vinha de Noé”, “os descendentes do perverso Cã” , “o santo profeta Rei Davi”, “o
profeta Daniel no lago [poço] dos leões”, são temas de uma exegese judaica
tradicional que merece, em seu contexto literário uma reflexão maior no sentido de
identificar o judaismo de seu autor. Mas pelo fato de nunca ter sido processado pela
Inquisição poucos elementos temos para saber sobre sua fé, senão pela denúncia que
foi feita ao Inquisidor Antônio Dias Cardoso, em 9 de novembro de 1606, em Lisboa,
por um “mourisco de nação” de nome Miguel Fernandes de Luna. Nela consta que o
denunciante servia a Ambrósio Fernandes Brandão, cristão-novo que mora na
23
Almeida, H., op. cit., p.210. 24
Vide o Prefácio de Leonardo Dantas Silva na edição dos Diálogos das Grandezas do Brasil,
ed.Massangana-Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1997, no qual faz a apreciação dos manuscritos e a
Introdução de José Antônio G. de Mello, que descreve os passos havidos para a identificação de seu autor. 25
Alberto Dines chama a atenção para a estrutura do “Diálogos” que são em número de seis ao longo de seis
dias com um intervalo do sétimo para reflexões, o que seria um indício de seu judaismo. V. Dines, A., A
presença judaica no Brasil, breve roteiro (II- A Inquisição na Colônia), in Morashá, ano VIII, n. 28, abril
2.000, p.34.
20
Calçada do Congro...para lhe consertar um jardim de uma horta... Além dele havia
ainda em serviço na dita horta, um “hortelão” de nome Antônio Álvares. Na casa
moravam Ana Brandoa-que parece ser a mulher de Ambrósio- Joana Batista, irmã
bastarda desta, Mícia Henriques e Duarte Brandão, filhos, de Ana Brandoa...que o
dito Ambrósio Fernandes em todos os dias de sábado se recolhe em um estudo seu e
nele está quase todo dia e não sai fora de casa, nem faz pagamento nem contrato no
dito dia com pessoa alguma, sendo recebedor do Consulado e tendo negócios na dita
casa.” O mesmo denunciante “viu a dita Ana Brandoa...estar lendo um livro, que não
sabe que livro é”, e a irmã bastarda desta, Joana Batista, possuía “um livro defeso” e
o filho, Duarte Brandão, era “letrado” .26
Conforme o autor do Gente da Nação a
última menção sobre sua pessoa data de 162327
sendo que seus filhos Luís Brandão,
Jorge Lopes Brandão e Francisco Camelo Brandão seriam os herdeiros dos engenhos
de sua propriedade que o tempo fez passar a outras mãos. Temos a possibilidade de
especular sobre os motivos que levou o suposto cristão-novo, ou judeu, a escrever o
“Diálogos das Grandezas do Brasil” no ano de 1618, ano da Segunda Visitação
inquisitorial ao Brasil sob a responsabilidade do licenciado Marcos Teixeira, que
sediada na Bahia, atuou desde 11 de setembro daquele ano até 26 de janeiro de 1619 e
na qual foram denunciados dezenas de judaizantes nessa região.28
Entre os
denunciados encontram-se aqueles que mantinham contato com o continente europeu,
com Flandres e a cidade de “Nostra Dama” (Amsterdão) e que evidencia uma
atividade econômica dos cristãos-novos brasileiros numa escala mundial, devido o
seu contato e ligações, mesmo de parentesco, com as comunidades de judeus
portugueses na Holanda, Hamburgo e outros lugares. A liberdade de movimento
outorgada aos cristãos-novos pelo decreto de 4 de abril de 1601, revogando a
proibição de sair de Portugal sem licença especial ou ainda venderem suas
propriedades a não ser com permissão, permitiu, esse desenvolvimento que levou a
prosperidade de muitos dos que se estabeleceram no Brasil. São anos em que a
política portuguesa em relação aos cristãos-novos oscila entre uma jurisdição que
concede uma relativa liberdade e a supervisão controladora das almas para que não
caiam na tentadora heresia, mas sem coerência e sujeita ao sabor de governantes que
ora pendem para um lado ora para outro.
O “Diálogos” é, assim nos parece, fruto de uma visão otimista sobre possibilidades e
potencialidades de enriquecimento que a colônia oferece àqueles que querem emigrar
e viver nessa terra. Esse otimismo espelha de fato uma fase de prosperidade e
crescimento da industria açucareira no Nordeste, atividade na qual o próprio autor
estava envolvido, e que acompanhou o aumento progressivo do número de engenhos
e o de sua produção. A cobiça dos holandeses em relação ao Nordeste brasileiro
decorrente de informações, também de holandeses e estrangeiros29
que viviam em
26
Mello, J.A.G. de, Introdução ao Diálogos das Grandezas do Brasil, pp.XXI-XXII. 27
Mello, J.A.G. de, op. cit., p.27. 28
Livro das Denunciações que se fizerão na Visitação do Santo Officio à Cidade do Salvador da Bahia de
Todos os Santos do Estado do Brasil, no anno de 1618, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1936, com
introdução de Rodolfo Garcia e onde aparece a figura de um Melchior de Bragança, converso e terrível
denunciante que ensinara hebraico nas Universidades de Alcalá e Salamanca. 29
Mello, J.A.G. de, Dois relatórios holandeses, Sep. da Revista de História-USP, São Paulo, 1977, na qual
transcreve a Memória de Adriaen Verdonck, escrita em 20 de maio de 1630, brabantino que residia em
21
Pernambuco antes do empreendimento da conquista do território após a fundação da
Companhia das Índias Ocidentais, advinha da fama sobre as riquezas naturais da terra
e o fácil enriquecimento de seus habitantes. Entre os que poderiam informar com
conhecimento fundamentado sobre a vida e os recursos do território se encontravam
cristãos-novos em permanente contato com os seus conterrâneos na Europa.30
Os fatos sobre a conquista são conhecidos e os historiadores são unanimes em afirmar
o quanto os cristãos-novos judaizantes estavam ansiosos para que o estabelecimento
dos holandeses fosse bem sucedido, pois desse modo poderiam voltar à sua fé.
Segundo o cronista Duarte de Albuquerque Coelho, serviu de guia central para as
tropas que desembarcaram o judeu Antônio Dias, conhecido como Paparrobalos. A
expedição militar organizada em 1629, composta de mercenários de várias
nacionalidades, incluía uma unidade ou companhia composta de judeus que é
confirmado por um documento descoberto por Hermann Kellenbenz no Arquivo
Histórico Nacional de Madri, onde se lista 41 nomes sefaraditas e mais vinte judeus
da Alemanha, sem qualquer indicação nominal, todos liderados por Diego Peixoto,
aliás Mosen Coen, que era capitão.31
Curiosamente a lista não menciona os nomes de
Moysés (Moseh) Navarro, Antônio Manuel e David Testa, que A. Wiznitzer
considera os primeiros soldados judeus a chegarem na América. A figura de Moysés
Navarro, que chegara ao Brasil como cadete naval, “adelborst”, na companhia do
capitão Bonet, e passou à condição de “vrijelujden”, cidadão livre, isto é
economicamente independente, é das mais interessantes. Em 1635 ele recebeu licença
para comerciar com açucar e tabaco tornando-se mais tarde senhor de engenho em
Pernambuco. Prosperou ao ponto de se tornar um dos homens mais ricos e
importantes do Brasil Holandês e em 1648 ele se encontra entre os assinantes do
Livro da Congregação Zur Israel de Recife. Ele aparecerá como intérprete da
Comissão holandesa por ocasião da derrota do exército holandês na segunda batalha
de Guararapes, em 19 de fevereiro de 1649, quando o comandante Francisco Barreto
de Menezes concedeu aos holandeses o direito de enterrarem seus mortos. Navarro
voltará a Amsterdão em 1654, assim como seus irmãos Aaron e Jacob que passaram a
viver em Barbados.32
O papel desempenhado pelos judeus na defesa do domínio
holandês já foi objeto de estudo de Wiznitzer que se reporta à solicitação feita as
autoridades para que fiquem isentos de fazerem guarda aos sábados,- motivo de
queixas repetitivas por parte de cidadãos holandeses que nisso viam um privilégio
injusto outorgado aos judeus -mediante pagamento de multa, ao mesmo tempo que
enfatiza sua participação na defesa como podemos depreender do conhecido mapa de
Pernambuco desde 1618 ou 1620, e que forneceu informações valiosas aos invasores que ocuparam a vila de
Olinda em fevereiro de 1630. 30
Mello, J.A. G. de, Tempo dos Flamengos, Col. Pernambucana, Recife, 1978, p.38. O autor que observa que
uma das cópias do “Diálogos”, se encontrava na Biblioteca de Leyden indica o quanto os holandeses
procuravam obter um conhecimento sobre a região. 31
Kellenbenz, H., A participação da Companhia de Judeus na conquista holandesa de Pernambuco, Univ.
Fed. da Paraíba, 1966. Trata-se de um depoimento feito perante o arcebispo de Charcas, conselheiro da Santa
Inquisição, em março de 1633 por um capitão Estevan de Ares de Fonseca, natural de Coimbra, sobre um
Francisco de Brito que tomou parte na companhia dos Judeus, em 1629. O documento que se encontra na
Inquisição de Toledo. 32
Sobre Moysés Navarro vide o artigo de Wiznitzer, A., Soldados judeus no Brasil Holandês (1630-1654) in
Aonde Vamos?, n,733, 11 de julho, 1957; n.734, 18 de julho, 1957. Mello, Tempo dos Flamengos; Wiznitzer,
A., The Records of the Earliest Jewish Community in the New World, A. J. H. S., New York, 1954.
22
Recife e Olinda que se refere ao fortim dos judeus, excubiae Iudaeorum.33
Durante a
rebelião portuguesa de 1645, muitos deram suas vidas para impedir a expulsão dos
holandeses motivados, acima de tudo, pelo temor de que teriam de estar novamente
sujeitos às perseguições inquisitoriais e à vingança dos rebeldes. Nieuhof recorda que
a preocupação permanente dos judeus os levava a ficar atentos quanto as intenções
dos portugueses, e em 13 de outubro de 1644, certo judeu, Gaspar Francisco da
Cunha, e mais dois outros de destaque na colônia comunicaram ao Conselho que
haviam sido informados por alguns judeus do interior, com os quais mantinham
correspondência, que os portugueses estavam conspirando contra o Brasil Holandês.34
O temor era plenamente justificado pois ao conquistarem Serinhaém e seu forte em
agosto de 1645 os lusos batizaram dois judeus, Jacques Franco e Isaac Navarro.35
Frei
Manoel Calado menciona um judeu que estava catequizando e outros que foram
enviados a Portugal, além de outros mais.36
Ainda o mesmo Nieuhof é que nos revela
o estado de espírito dos judeus quanto a possibilidade dos holandeses virem a ser
derrotados: “Os judeus, mais que os outros, estavam em situação desesperadora, e,
por isso, optaram por morrer de espada na mão ao invés de enfrentar seu destino sob
o jugo português: a fogueira.” 37
Wiznitzer, calcula o número de judeus no Brasil
holandês não terem excedido a 1.450 almas numa população total de homens livres
de 2.899 pessoas, sendo que no ano de 1645, cerca de 350 judeus serviram as forças
armadas holandesas. Mas as discrepâncias numéricas entre os historiadores quanto a
questão relativa à população judaica sob domínio holandês ainda demanda um estudo
mais apurado.38
Além dos marranos anteriores à invasão, que voltaram abertamente
ao judaismo, e os judeus que tomaram parte na conquista acompanhando a armada
invasora, vieram judeus da Holanda, desde o estabelecimento do domínio batavo e
mais acentuadamente nos anos de prosperidade em que Maurício de Nassau foi
governador do Brasil Holandês, de janeiro de 1637 a 1644. Uma carta enviada à
Companhia das Indias Ocidentais, em 5 de dezembro de 1637 revela que a Câmara
dos Escabinos de Olinda queixava-se de que o território estava sendo inundado de
judeus que chegavam em todos os navios e pouco após a representação da Igreja da
Reforma no brasil queixava-se de que os judeus realizavam publicamente seus rituais
em dois lugares do Recife.39
As levas conhecidas de 1638 sob a chefia de Manoel
Mendes de Castro e a de 1641-2 liderada pelos Hahamim Isaac Aboab da Fonseca e
Moisés Raphael de Aguilar eram compostas de um número maior de pessoas. Com o
levante de 1645 obviamente o número de judeus irá decrescendo e com a derrota final
dos batavo e a capitulação calcula-se que cerca de 600 judeus saíram do Brasil para se
33
Wiznitzer, A., Soldados...p.4. 34
Joan Nieuhof, Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil, ed. Itatiaia-Edusp, São Paulo, 1981, p.
124. Nieuhof esteve no Brasil de 1640 a 1649. 35
Idem, ibidem, p.216. 36
V. Nota de rodapé 281, p. 216, de José Honório Rodrigues, na edição citada da obra de Nieuhof. 37
Idem, ibidem, p.290. 38
Certos historiadores chegaram a adotar a absurda cifra de 5.000 judeus vivendo sob domínio holandês,
enquanto J. Lúcio de Azevedo se refere a 600, I. S. Emmanuel cerca de 1.000, Egon e Frieda Wolff, no
entanto dá para o ano de 1648, ano da assinatura dos Estatutos da comunidade de Recife e Maurícia, cerca de
350, em oposição a Wiznitzer que calcula , para o mesmo ano cerca de 720. Para essa questão vide Wolff, E.
e F., A Odisséia dos Judeus de Recife, C.E.J.-USP, São Paulo, 1979, pp. 274-6. 39
Wiznitzer, A., O número de judeus no Brasil Holandês (1630-1654), in Aonde Vamos? n.585, 9 de
setembro, 1954.
23
dirigirem a Amsterdão e alguns poucos a outros lugares.40
A trajetória de vida e o
papel que muitos dos membros das congregações Zur Israel e Magen Abraham, em
especial aqueles que ocuparam posições de responsabilidade no Mahamad,
desempenharam no Brasil Holandês e após a reconquista, em outros lugares,
mereceria uma atenção especial em um trabalho que pretende retratar o rico
panorama humano que se desenhou entre 1630 e 1654. Lamentavelmente, no espaço
limitado de nosso artigo não nos é possível faze-lo. Muitos dos que saíram do Brasil
Holandês estabeleceram-se novamente na Holanda, em particular em Amsterdão e
muitos outros dirigiram-se a outros lugares, desde Surinam, Curaçao, Martinica,
Barbados, Nova York, e outros centros de judeus portugueses. Mas o importante é
assinalar que o Brasil Holandês foi agraciado com um número de notáveis
personalidades que já haviam formado seu nome na vida judaica de Amsterdão, no
Velho Continente, a começar do Haham Isaac Aboab da Fonseca, descendente de
uma linhagem extraordinária de sábios pois era bisneto do último “Gaon de Castela”
que obteve de D.João II, rei de Portugal, a permissão dos exilados judeus da Espanha
passassem a fronteira e se estabelecessem no reino. Aboab da Fonseca, nasceu em
1605, em Castro Daire, de uma família de marranos, e seu nome era Simão da
Fonseca, filho de David Aboab e Isabela da Fonseca, sendo educado em St. Jean de
Luz, na França passando depois, em 1612 a Amsterdão. Foi aluno de rabi Isaac ben
Abraham Uziel, nascido em Fez e mais tarde professor do “beit hamidrash” em
Amsterdão, encontrando-se também entre seus alunos o notável Menasseh ben Israel,
que pretendeu vir ao Brasil, mas contingências pessoais impediram-no de faze-lo.
Ainda jovem, em 1626, Aboab foi indicado como Haham da congregação Beit Israel
e após a unificação das três comunidades em 1638 ele realizava os sermões
vespertinos da sinagoga, lecionava gramática hebraica e Talmud nas escolas de
iniciação da comunidade, e era assistente do Haham Saul Levi Morteira.41
Em 1642,
ou 1641, como quer I.S. Emmanuel,42
ele viria ao Brasil, juntamente com o Haham
Moisés Raphael de Aguilar e muitos outros, variando seu número entre 200 a 600
pessoas, para ser o rabino da comunidade de Recife, com um salário elevado de 1.600
florins por ano, reduzido já em 1650 para 1.200 florins, com um adicional, a partir de
1653, de 150 florins “por assistir na escola de guemara” e servir como “Hatan Torá”.
Durante o levante de 1645, liderado por João Fernandes Vieira, quando a situação da
comunidade na cercada cidade Recife tornou-se calamitosa devido a terrível fome
provocada pela total escassez de víveres obrigando os cidadãos de comerem os
cavalos, gatos e ratos, ele, com sua autoridade espiritual, incentivou a resistência ao
inimigo e manteve a moral elevada dos seus irmãos de fé para continuarem
combatendo os seus inimigos. Em 22 de junho de 1646, que corresponde ao 9 de
40
Idem, ibidem, p.4. Wiznitzer se baseia na afirmação do famoso Haham Saul Levi Mortera, contemporâneo
dos acontecimentos, que em seu livro “Providencia de Dios com Yisrael, y verdad, y Eternidad de la Ley de
Moseh y Nulidad de las demas Leyes”, descreve o momento da capitulação e a generosidade do governador
Francisco Barreto de Menezes “que proibiu que as pessoas da nação hebraica fossem tocadas ou molestadas, e
estabeleceu severas penas contra os que violassem esta proibição. Além disso permitiu que os judeus
pudessem vender suas mercadorias e autorizou o embarque para a Holanda de mais de 600 pessoas de nosso
povo que estava lá.” 41
V. Encyclopaedia Judaica, Keter Pub. House, Jerusalem, 1971-2, vol. 2, p.95-6. 42
Emmanuel, I. S., Fortuna e Infortúnios dos Judeus no Brasil (1630-1654), in Aonde Vamos?, n.632, 4 de
agosto,1955.
24
Tamuz de 5406, chegaria o auxílio da Holanda, os dois navios, o Valk e o Elizabeth,
que anunciariam que estava a caminho várias naus carregadas de armas e alimentos,
para alívio de toda a população. Joan Nieuhof, testemunha o acontecimento ao
escrever: “Finalmente, quando já tínhamos atingido ao auge da penúria e devorado
todos os cavalos, gatos, cachorros e ratos, e um alqueire de farinha chegou a ser
negociado à razão de 80 e 100 florins cada um, sem que a quantidade total fosse
suficiente para mais que dois dias de consumo, finalmente, a 22 de junho (data que
jamais esqueceremos) avistamos dois navios desfraldando o pavilhão do Príncipe,
que rumavam para o Recife a todo pano.”43
Aboab da Fonseca fixaria o dia 9 de
Tamuz como um dia de Ação de Graças no qual os judeus do Brasil deveriam cantar
o Shirat haHaim, o Cântico de Moisés (Dt 3:23-6 ), e no qual se faria atos de caridade
aos pobres. No Livro de Atas (Pinkes), resultado da revisão dos regulamentos da
congregação que se reuniu em 1 de Kislev de 5409 (16 de novembro1648) e
promulgou 42 regulamentos, vemos que a ascamá (regulamento) de número 39
incorpora a orientação de Aboab nos termos que se seguem: “no dia anterior ao Rosh
Hodesh Tammuz, os senhores que quiserem poderão jejuar voluntariamente em
agradecimento pelo auxílio enviado por Deus. E no sábado seguinte, a Nedabah
(caridade) será feita e o Mi-Kamoha composto pelo senhor Haham Isaac Aboab será
recitado depois do Amidah (as assim denominadas 18 orações). E a nove do dito mês,
O Cântico de Moisés será cantado. E não haverá Rogativas e a Nedabah feita será
dividida entre os pobres.”44
A ascamá se refere aos acontecimentos que foram
rememorados no poema que o Haham escreveu na ocasião quando sucederam anos
antes, sob o título “Zecher assiti leniflaot El”45
(Erigi um memorial aos milagres de
Deus) que seria o primeiro poema hebraico escrito no Brasil e contém a descrição dos
sofrimentos passados pelos que viveram aqueles dias de angústia.46
O poema que
abre com as palavras “Erigi um memorial...”, que serve de introito explicativo,
expressa com termos fortes a situação presente que não escondem a profunda mágoa
e ressentimento de quem tem a consciência histórica do mal que Portugal (e seu
povo) causou aos judeus no passado, com a conversão forçada, a expulsão e a
instalação da Inquisição, e que agora, com o sítio da cidade do Recife, procura
novamente a sua destruição. Palavras que foram escritas a beira do abismo, para “que
sirva como memorial ao esplendor de Deus e à congregação Zur Israel” (Ihie
lezikaron lepeer Shem El leKahal edat El Ram veTzur Israel). A seguir ele acrescenta
um “hibur katan”, pequeno “piut” , como ele próprio o diz “pequeno como o valor de
seu autor”, em forma de “vidui” (confissão) que rezou, assim esclarece, no momento
de sua angústia, e após, na forma usual da poesia hebraica tradicional da Idade Média,
43
Nieuhof, J.,op. cit., p.290. 44
Wiznitzer, A., O Pinkes Brasil, in Aonde Vamos? n. 514, de 23 de abril, 1953 ao n. 529, de 6 de agosto,
1953. 45
O poema completo foi editado por M. Kayserling, no Hagoren, vol. 3, 1902, pp. 155-174, junto ao artigo
“Rabbi Yitzhak Aboab haShlishi”. O mesmo já havia tratado o tema no artigo “Isaac Aboab, the First Jewish
Author in America”, Publications of the American Jewish Historical Society, bol. V, 1897, pp.124-136. Mais
recentemente o poema completo foi reeditado na edição hebraica de Wiznitzer, A., Haiehudim beBrazil,
Magnes Press, Jerusalem, 1992, pp. 250-254, juntamente com a Confissão (Vidui) e a Tefilá (Oração) que
ordenou Aboab “para ser dita em agradecimento e louvor a Deus por ter nos salvo dos exércitos do rei de
Portugal.”, pp.254-256. 46
Wiznitzer, A., Chacham Yizhak Aboab da Fonseca, primeiro rabino no Brasil, in Aonde Vamos?, n.484, 25
de setembro, 1952.
25
na qual o autor é identificado pelo conjunto das letras iniciais de cada verso. A seguir
vem o longo e comovente poema de louvor a Deus, o “Mi Kamoha” ( Quem é como
Tu ?, pois não há como Tu, e quem se compara a Ti?, pois nada é semelhante a Ti),
elaborado, assim ele o diz, com o mesmo estilo e ritmo que se encontra no conjunto
de suas “pobres sacolas de poemas”, “amtahot shirai”, dividido em duas partes, sendo
a primeira em forma de “bakasha” (súplica a Deus para a salvação e ajuda) e uma
segunda parte, na qual estão embutidos os detalhes dos acontecimentos, nos quais o
“descendente de Amalek” visava a destruição do povo de Israel, porém Aquele que o
guarda e zela por ele não o abandonou. Novamente, nessa última parte, ele se
identifica como autor com as letras iniciais dos versos que formam seu nome “Isaac
Aboab ben David, hazak” (esta última palavra significa “fortifique”, no sentido de
força e coragem). Anexo ao poema encontra-se o “Vidui veTefilá” (Confissão e
Oração) que escreveu “e ordenou para que se rezasse em momentos de angústia e
perigo quando as tropas do rei de Portugal vieram para nos destruir e Deus nos salvou
de suas mãos”. Na verdade a leitura desses escritos, permeados de expressões bíblicas
e mishnaico-talmúdicas que caracteriza os diversos modelos e formas do “pyiut”, da
poética litúrgico-sinagogal, ou “shirat kodesh”, poesia sagrada, que atinge seu
momento alto na Idade Média,47
confirma a sólida cultura religiosa de Aboab da
Fonseca, que além de revelar elevada sensibilidade poética , quis deixar registrado
para a história não somente as “res gestae” dos homens, mas, acima de tudo as
“niflaot”, as maravilhas que operou o Deus de Israel. Aboab também escreveu-
supõe-se que ainda no Brasil- uma gramática hebraica, Melehet haDiqduq, e
Kayserling, faz referência a uma obra, desaparecida, De la conligacion (sic) de los 13
Articulos de la Fé, que afirma também ter sido escrita no Brasil, porém sem qualquer
certeza sobre a data. Ele esforçou-se para criar um clima de harmonia entre as duas
comunidades, a Zur Israel e a Magen Abraham, que por vezes disputavam entre si,
para propor finalmente uma unificação. Ao voltar para Amsterdão, com a derrota
holandesa em 1654, Aboab foi indicado como Haham , mestre no Talmud Torá,
diretor de ieshivá (academia de estudos talmúdicos), membro de beit din ( tribunal
rabínico) e nessa atribuição ele participou da decisão que levou a excomungar, em
1656, a Spinoza. Sua produção literária inclui sermões, elegias, um Vidui
(Confissão), um tratado sobre castigo e recompensa, sob o título de Nishmat Haim
(Espírito da Vida), uma tradução ao espanhol com comentário sobre o Pentateuco
intitulada Parafrasis Commentada sobre el Pentateuco, publicada em 1681, e a
tradução do espanhol ao hebraico das obras do cabalista Abraham Cohen de Herrera,
Beit Elohim (“Casa de Dios”) e Shaar haShamaim (“Puerta del Cielo”), publicadas
em 1655.48
Na introdução dessa obra ele lembra, novamente, a intervenção divina e o
milagre da salvação que libertou os judeus da “escaldante fornalha que era o Brasil,
um verdadeiro Egito”. Sábio, orador brilhante, foi seguidor do falso-messias Sabatai
47
Sobre isso temos em espanhol a clássica obra de José M. Millás Vallicrosa, La poesia sagrada
hebraicoespañola, ed. C.S.I.C., Madrid-Barcelona, 1948, 2ª ed., na qual a poética hebraica medieval é
estudada por um dos luminares dos estudos hebraicos na Espanha. A bibliografia fundamental encontra-se em
hebraico e reúne um extraordinário grupo de estudiosos das universidades de Israel, assim como de outros
centros de estudos, do quilate de um H. Y. Schirmann, Ezra Fleisher, e outros, que continuaram e ampliaram a
monumental obra de Leopold Zunz, no século XIX. 48
Sobre sua produção literária vide Kayserling, Meyer, Biblioteca Española-Portugueza-Judaica, Prol.Y.H.
Yerushalmi, ed. Ktav Pub. House, New York, 1971, pp.26-27.
26
Tzvi, que despertou e provocou um verdadeiro movimento místico-messiânico no
judaismo de seu tempo.49
Não poderíamos deixar de lembrar o conhecido dictum do
padre Antônio Vieira, que teve contato com Menasseh ben Israel,50
e provavelmente
ouvido sermões de Aboab, e com certeza admirador de ambos, usando de sua
proverbial e incomparável verve aliada à uma lúcida captação da natureza humana,
enunciou:” Menasseh diz o que sabe, Aboab sabe o que diz.”51
Aboab faleceu na provecta idade de 88 anos em 4 de abril de 1693, deixando dois
filhos, David, lapidador de diamantes, que era casado com Rachel Velosino, nascida
no Brasil, filha de Jehosuah Velosino, signatário da congregação Zur Israel e seu
hazzan (chantre) de 1649 a 1654. Uma filha, Judith casou-se com Daniel Belillos,
filho do cristão-novo Balthazar da Fonseca, encarregado da construção da ponte que
deveria ligar Maurícia com Recife, sobre o qual Frei Manoel Calado, o autor do
Valeroso Lucideno escreve, horrorizado, ter ele se circuncidado em público para
viver entre os seus.52
O companheiro de viagem de Aboab, o Haham Moisés Raphael
de Aguilar, que acabaria por se projetar como estudioso respeitado pelos seus
conhecimentos rabinícos, em Amsterdão, onde exercera em 1620 a função de
Tesoureiro da Terra Santa na Congregação Beit Israel, não figura entre os membros
da Zur Israel do Recife, o que leva a crer que ocupara uma posição, equivalente ao de
Aboab da Fonseca, na congregação Magen Abraham de Maurícia. Sabemos que dois
de seus irmãos também se encontravam no Brasil sendo que um deles, Jacob exercia a
função de hazzan e rabino. O notável poeta Daniel Levi de Barrios, no seu Triumpho
del Govierno Popular, diz:
”Duas sinagogas tem o Brasil, Uma em Recife, ilumina-se com Aboab; com Aguilar
prospera a outra, angélica no nome, e na doutrina.” 53
Outro indício de que Aguilar não
estava no Recife ,mas em Maurícia, é o fato de Aboab assinar com outro Haham, Aron
Sarfati ,ou de Pina, que vivia no Brasil com seu irmão Benjamin, que provavelmente
chegara antes dele, em 1636.54
Aguilar pertencia ao círculo dos judeus respeitados pela sua
erudição rabínica e de fato ao voltar a Amsterdão passou a ensinar na Academia de Talmud
Torá , Talmud e outras disciplinas juntamente com a gramática hebraica sobre a qual
publicou um método para uso escolar intitulado Epítome da Gramática Hebraica. Além
dessa obra publicou um tratado sobre as leis relativas ao exame e abate ou degola de
animais, sob o título Dinim de Sehita y Bedica, em 1681, e um Tratado da Imortalidade da
Alma .55
Mendes dos Remédios enumera um número significativo de obras, incluindo
tratados, discursos, questionamentos, etc e uma Explicação do Capítulo 53 de Isaías “feito
49
Sobre esse movimento vide Scholem, G., Sabatai Tzvi, o messias místico, ed. Perspectiva, São Paulo, 1995. 50
V. Falbel, N., “Menasseh ben Israel e o Brasil, in O Brasil e os Holandeses, org. Paulo Herkenhoff,
Sextante, Rio de Janeiro, 1999, pp.160-175. 51
Antônio Ribeiro dos Santos em sua obra Memórias da literatura sagrada dos judeus portugueses no século
XVII, editada em Lisboa, em 1792, na Memória III, p. 300, cita a frase mas observa que “Wolffio, o autor da
Bibliotheca Hebraica, t, III, p.709, a ouvira dizer a hum Judeo Portuguez”. Por outro lado afirma que “o Padre
Antônio Vieira o ouviu [a Aboab] pregar muitas vezes, e se maravilhou de seu grande juízo.” 52
Sobre Aboab da Fonseca e seus laços familiares vide Wolff, E. e F., A Odisséia dos Judeus de Recife, CEJ-
USP, São Paulo, 122-133; Emmanuel, I.S., New Lights on early American Jewry, in American Jewish
Archives, 7, 1955, pp. 3-64. 53
Emmanuel, I.S., Fortuna e Infortúnios dos Judeus no Brasil, in Aonde Vamos?, n. 643, 20 de outubro, 1955.
Emmanuel adota o título da obra de Barrios como sendo “Triumpho del Gobierno Israelitico Theocratico.” 54
V. sobre eles e a numerosa família Sarfati (com diversas grafias) em Wolff, E. e F. op. cit., pp.63-69. 55
V. Kayserling, op. cit., p.31.
27
no Brasil”.56
Na sua condição de Haham Moisés Raphael de Aguilar ele substituiu a
Menasseh ben Israel no seminário Etz Haim da congregação, bem como era consultado em
questões atinentes a fé judaica, como o foi pela fascinante figura de marrano Isaac Orobio
de Castro, atormentado por dúvidas e questionamentos pela sua própria condição e
origem.57
Aguilar era tio, pelo lado materno, do jovem mártir da Inquisição, Isaac de
Castro Tartas ou José de Lis ou Tomás Luís, filho de Abraham e Bemvenida Castro,
queimado em 15 de dezembro de 1647 em Lisboa no auto-de-fé no qual se encontravam 70
penitenciados. Ele nasceu em Tartas, na Gasconha, aproximadamente em 1625 e estudou
filosofia e medicina em Bordéus e Paris, seguindo após para Amsterdão. Veio para o Brasil,
muito jovem, em 1641, provavelmente com seu tio Moisés Raphael de Aguilar,58
vivendo
cerca de três anos no Recife bem como em outras localidades do Brasil Holandês, quando,
passou a partir de outubro 1644 a viver na Bahia. Em Salvador ele foi preso e reconhecido
como judaizante enquanto ele procurava provar que era judeu de nascimento. Na verdade
ele viera para converter cristão-novos ao judaismo, convicto de sua missão ao ponto de
estar disposto a arriscar sua própria vida. Culto e preparado no judaismo, ao ser preso,
interrogado e prestar seu primeiro depoimento frente ao bispo da Bahia tentou despistar os
verdadeiros motivos de sua presença naquela região confessando que era nascido judeu e
tinha a intenção de adotar o catolicismo como sua religião e por isso abandonara
Pernambuco.59
O argumento de ser judeu de nascença invalidava qualquer acusação de
apostasia em relação a fé cristã e ,portanto, neutralizava a autoridade inquisitorial para
processá-lo. Mas essa evasiva era conhecida dos familiares e dos inquisidores que usavam
de todos os meios para encurralar os denunciados ao Santo Ofício. Isaac de Castro Tartas,
em janeiro de 1645 foi levado a Lisboa e colocado nos cárceres da Inquisição. Apesar de
continuar a manter sua linha de defesa tentando convencer o tribunal inquisitorial que
nascera judeu pouco a pouco era envolvido a confessar a verdade sobre sua família e sua
pessoa. Quanto ao seu deslocamento da França para Amsterdão insinuava ter cometido um
delito naquele lugar e portanto fora obrigado a sair. Do mesmo modo declarara algo
próximo a essa justificativa quando dizia ter cometido um crime na Holanda o que
explicava a sua viagem ao Brasil. O argumento do homicídio é novamente utilizado em sua
defesa, por ele mesmo, para justificar sua saída de Pernambuco e se fixar na Bahia.60
Mas
as testemunhas que vinham depor afirmavam que ele viera a Bahia com a intenção de
ensinar a crença judaica e as cerimonias da Lei, o que tornou sua situação insustentável,
56
Remedios, J. Mendes dos, Os judeus portugueses em amsterdam, F. França Amado, Coimbra, 1911, pp.61-
67. 57
V. o estudo definitivo sobre este personagem na obra do eminente Prof. Yosef Kaplan, Menatzrut
leyahadut, haiav upfealo shel haanus Itzhaq Orobio de Castro (Do cristianismo ao judaismo,vida e obra do
marrano Isaac Orobio de Castro), Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1982, cap.6, pp.98- 108;
Mendes dos Remedios, op. cit., lista certos questionamentos de Isaac Orobio de Castro junto às obras de
Aguilar. 58
A data de sua vinda, 1641, juntamente com seu tio Aguilar, é indicada por ele mesmo durante o inquérito
inquisitorial. V. Lipiner, E., Izaque de Castro:o mancebo que veio preso do Brasil, Massangana, Recife, 1992,
pp.53 e 117-118. Se for verdadeira a informação de Isaac de Castro, teria razão I.S. Emmanuel, que afirma ser
a vinda de Aboab em 1641, sob o argumento que Menasseh ben Israel, o substituiu em sua atribuição na
congregação Talmud Torá de Amsterdão naquele ano, partindo do pressuposto que Aboab e Aguilar vieram
juntos. 59
Azevedo,J. Lúcio de, op. cit., pp.483-4, trás um pequeno extrato do processo 11.550 da Inquisição de
Lisboa no qual o réu afirma nunca ter sido batizado. 60
V. Lipiner, E., op. cit., pp. 48-50.
28
uma vez que o tribunal estava convicto que era cristão batizado.61
Há um dado momento
Isaac de Castro tomou consciência de que não escaparia da extrema condenação, a fogueira,
a não ser que abjurasse de sua fé e abraçasse o cristianismo. A partir daí ele aceitou seu
destino e decidiu morrer como mártir, tal como outros o fizeram desde que o Tribunal do
Santo Ofício foi estabelecido na Península Ibérica passando a estender seus tentáculos nos
domínios de Espanha e Portugal nos quatro cantos do mundo. O “Kidush haShem”, o
morrer santificando o Nome, e não apostatar ou transgredir os princípios da fé, vinha de
uma longa tradição no judaismo, desde o domínio grego-romano na Palestina. Foi na Idade
Média, e em particular durante a passagem das Cruzadas pelas comunidades judias de
Ashkenaz (Alemanha), que o Kidush haShem se manifestou numa dimensão jamais vista
anteriormente. Mas desde o século XIV com os batismos forçados e com a instalação
oficial dos tribunais da Inquisição o martirológio, numa escala mais ampla, despertou como
postura admirada e cultuada entre os judaizantes da Diáspora ibérica, continuamente
supervisionados em sua fé ,onde quer que se encontrassem. Os tribunais da Inquisição
espanhola nos seus territórios coloniais, desde o México até o Perú, assim como os que
foram instalados nas colônias portuguesas incluindo-se as Visitações no Brasil, que levou
ao queimadeiro um número expressivo de vítimas, fortificou o sentimento de admiração e o
culto pelos mártires judeus.62
Com certeza o jovem Isaac de Castro conhecia bem a historia
passada-presente de seu povo e a presença próxima do martirológio que “santifica o
Nome”. As suas últimas confissões são de um judeu convicto que quer morrer na sua fé, e
que procura observar as festividades e os preceitos.63
Os esforços dos clérigos, durante o
tempo em que esteve encarcerado, para convertê-lo, foram em vão, e mesmo sob vigilância,
como era hábito e obrigação na meticulosa máquina do Santo Ofício, o prisioneiro em sue
calabouço não deixou as práticas judaicas, observando jejuns, sábados e as festividades
sagradas. Podemos imaginar as inúmeras discussões sobre os fundamentos da fé, que
lembra as polêmicas judaico-cristãs no período medieval que o moço teve que suportar com
a intenção misericordiosa de salvar sua alma, e seu corpo, ao mesmo tempo que ele se
mostrava irredutível em sua crença no Deus de Israel. O seu ilustrado tio Moisés Raphael
de Aguilar já o devia ter introduzido nesse mundo sutil da disputa teológica, pois ele
mesmo tinha entre seus escritos um comentário sobre o capítulo 53 de Isaias, um dos
capítulos polêmicos tirado diretamente da “auctoritas”. E quanto a salvação de sua alma o
jovem missionário estava seguro de que ela era imortal, assim como aprendera de seu tio
autor de um tratado sobre a questão sob a visão teológica da fé judaica, e mais ainda
quando ele caminhava para o martírio em nome do Deus de Israel. Em 17 de novembro de
1647, devido suas “falsas opiniões e heresias” o réu foi entregue à justiça secular, o que
significava a condenação à morte pela fogueira, “sem efusão de sangue”, como consta em
sua sentença, usual e cínico eufemismo usado no código semântico do Santo Ofício, para
quem vai morrer.64
O jovem Isaac de Castro tornou-se uma figura emblemática do
61
V. as pertinentes observações sobre Isaac de Castro em Dines, A., Vínculos do Fogo, Companhia das
Letras, São Paulo, 1992, pp.209, 211, 216, 220-223, e outras. 62
V. Roth, C., A History of the Marranos, Hermon Press, New York, 1974, pp.146-167. 63
Wiznitzer, A., Os Judeus no Brasil Colonial, ed. Pioneira-EDUSP, São Paulo, 1966, p.99. 64
Sem dúvida o melhor estudo sobre Isaac de Castro, que elenca as fontes e a bibliografia existente, ainda é
de Elias Lipiner que estudou meticulosamente o processo 11.550, além de outros relativos ao mesmo, que
resultou no trabalho intitulado citado acima.
29
mártirológio judaico ibérico e assim permaneceu na memória de seus correligionários em
seu tempo e nas gerações posteriores.65
65
Menasseh ben Israel, em sua obra Esperança de Israel, editada em 1650, se refere a ele no item LXV,
pp.99-100 de seu livro ao falar do martirológio: “ Ishak de Castro Tartas, conocido nuestro, y harto inteligente
en las letras Griegas y Latinas, no se por que furtuna, pasando daqui a Pernambuco, siendo alli captivo de los
Portuguezes, fue lo mismo que cercado de lobos carniceros. Embianle a Lixboa, donde tiranicamente preso,
de edad de 24 años, es quemado vivo...” Utilizei-me da edição Editorial Plata S. A., Chur. 1974.
30
4. Menasseh ben Israel e o Brasil
Muito se escreveu sobre Menasseh ben Israel66
, aliás Manoel Dias Soeiro, uma
das personalidades mais marcantes da diáspora ibérica do século XVII, devido não somente
ao seu papel na comunidade judaica de Amsterdam e fora dela, mas também a sua múltipla
atuação como intelectual que soube se integrar na criatividade cultural da época a ponto de
angariar respeito geral no continente europeu, fora do âmbito judaico, Nascido em 1604 na
ilha da Madeira67
, de uma longa linhagem de cristãos-novos, seu pai Gaspar Rodrigues
Nunes ou Joseph bem Israel, que vivenciara a perseguição inquisitorial, acabaria por se
estabelecer em La Rochelle e, logo em seguida, na Holanda, onde assumiria um nome
hebraico.
Como seu pai, os demais parentes, seguindo o costume dos marranos que
voltavam ao judaísmo, afirmavam a sua fé com os nomes bíblicos; e assim sua mãe passou
a ser Rachel68
, sua irmã Esther (Hester) e seu irmão Ephraim. Em Amsterdam, ele
encontraria uma comunidade de fala luso-espanhola de alto nível e receberia uma educação
esmerada, tendo inicialmente freqüentado a escola local que lhe deu uma formação ampla
na literatura rabínica, encontrando-se entre seus primeiros mestres Isaac Uziel, rabi da
comunidade Neveh Shalom (Habitação da Paz), que acabaria deixando a função ao
brilhante discípulo, em 1622. Além de Isaac Uziel, do qual recebeu conhecimentos
talmúdicos e rabínicos, Menasseh teve a influência de homens como o controversialista
Saul Levi Morteira e Elias Montalto (Felipe Rodrigues de Castelo Branco), este último
famoso médico. Entre seus colegas incluiu-se uma plêiade de sábios que saíram da mesma
escola e se destacaram pela rica produção literária em todos os campos da cultura, desde os
estudos teológicos, a exegese bíblica, a literatura rabínica e homilética até a apologética ou
controversialista anticristã, sem excluir as ciências seculares como Matemática, a
Astronomia, a História e a Medicina numa Holanda que seria nesse tempo um verdadeiro
centro da ilustração européia. Dotado de um talento incomum para os estudos, ele
ingressaria aos 12 anos na Santa Irmandade de Talmud Tora e passaria a freqüentar as
Yeshivot ou Academias de estudo do Talmud, que eram naturalmente dirigidas para
estudantes mais velhos69
. Com 17 anos, escreveu seu primeiro livro, Safah Berurah (Língua
Clara), sobre a gramática hebraica.
66
Recentemente foi editada uma bibliografia por J. H. Coppenhagen, Menasseh ben Israel, A Bibliography,
Misgav Yerushalaim (Institute for Research on the Sepharadi and Oriental Jewish Heritage, Jerusalém. 1990,
407 p. + 13 p. em hebraico). 67
Durante muito tempo o lugar de nascimento foi objeto de controvérsia. Meyer Kayserling, na Biblioteca
Espanhola-Portuguesa Judaica, Strasbourg, 1890, Ktav Pub. Soc., Nova York, 1917. p. 68, ainda refere ter
nascido em Lisboa, assim como José Amador de los Rios, Estudos Históricos Políticos y Literários sobre los
judios de la España, 2ª ed., Ed. Argentinas Solar, B. Aires, 1942, p. 512. Mas Maximiano Lemos, Zacuto
Lusitano, Porto, 1990, p. 360-61, trás o testemunho dos documentos inquisitoriais (apêndice de doc. 7 e 8) nos
quais se indica claramente a ilha da Madeira. 68
Ele casaria em 1623, também com Rachel, descendente da família Abravanel. Sobre os Abravanel, vide
Alberto Dines, O Baú de Abravanel, Companhia das Letras, SP, 1990, e J. H. Coppenhagen, op.cit., p. 38-46,
com as genealogias elaboradas po H. P. Salomon. 69
Antonio Ribeiro dos Santos, nas Memórias da Literatura Sagrada dos Judeus Portugueses no Século XVII,
p. 334-5, se refere a ele com as seguintes palavras: “Era dotado de hum grande engenho e penetração; tinha
31
Menasseh, além do mais, se ocuparia, para sobreviver, com a atividade de
impressor, sendo um dos pioneiros nessa profissão na comunidade judaica de Amsterdam.
A projeção que obteve no mundo cristão, por um lado, deu-se através de sua criatividade
literária, em particular com a obra Conciliador, editada em espanhol em 1632 e na qual
procura reconciliar as passagens bíblicas que apresentam certas discordâncias. O decorrente
prestígio o levaria a ser um verdadeiro representante da comunidade de Amsterdam frente a
autoridades civis e personalidades do continente. De certa forma ele representa bem o sábio
judeu sefaradita que, desde a Idade Média, estava aberto a todas as civilizações, tanto cristã
quanto muçulmana, permeável e livre para intercambiar com as mesmas a herança judaica
além dos limites acanhados da sua própria religião. Havia nele, e isso podemos verificar
pela ampla correspondência que manteve, a consciência de que a nação hebraica era
herdeira dos valores que ajudaram a moldar a civilização ocidental no passado e que
poderia continuar fazendo o mesmo no futuro. Daí o esforço pessoal de levar essa cultura
aos gentios não somente como um passo para o entendimento mútuo e a via para libertar o
mundo de preconceitos em relação ao povo de Israel, mas para adicionar os seus valores
humanos e éticos à comunidade universal. Isso também explica que boa parte de sua obra
foi escrita intencionalmente em latim, que continuava sendo a língua franca da
intelectualidade européia; e seus temas, mesmo partindo de uma preocupação interna
judaica, acabavam sendo mais importantes sob o ângulo de uma visão teológica de todas as
religiões monoteístas. Assim, o De Termino Vitae, de 1634, o De Creatione, de 1635, o De
Resurrectione Mortuorum, de 1636, o De Fragilitate Humana, de 1642, revelam esse
caráter e eram lidos igualmente por judeus e não-judeus. Na verdade, desde o século XVI a
Holanda, no processo de afirmação nacional em relação aos dominadores espanhóis,
encetou um programa que preencheria as necessidades intelectuais e espirituais que
levariam à fundação da Universidade de Leiden e à promoção do humanismo protestante,
ao mesmo tempo que ambicionava sua autonomia também no campo religioso. Leiden
atraiu os melhores estudiosos da época em todas as áreas científicas e humanas,
encontrando-se entre eles homens como Justus Livius (1547-1606), pensador político e
filósofo, e Joseph Justus Scalinger (1540-1609), historiador, jurista e fundador da filosofia
clássica. Por outro lado, o centro universitário vivia a fermentação religiosa provocada
pelas diversas correntes em disputa ao protestantismo (leia-se calvinísmo) que envolveu
Franciscus Junius (1545-1602), afamado como teólogo, Jacob Arminius (1560-1609), com
sua moderada postura heterodoxa, e Franciscus Gomarus (1561-1641), raivoso oponente
deste último em questões ligadas à graça e ao pecado, num debate que dividiu as opiniões
da época. Em contraposição ao catolicismo, e sua concepção conservadora anti-reformista,
a igreja protestante na Holanda inaugurava uma preocupação que, se de início teológica, ao
nosso ver poderia se deslocar para um plano universal, sobre a liberdade de consciência,
além da responsabilidade do homem perante a Deus e a universalidade da graça. A tais
questões também estavam associadas, ou derivavam diretamente delas, outras como a dos
direitos do poder temporal sobre os assuntos eclesiásticos e a do problema da tolerância,
que tangiam as raízes tanto do protestantismo quanto do humanismo70
. Essas disputas e a
hum juízo profundo, e apurado, e nenhum dos seus lhe levava vantagem no conhecimento das Línguas
Hebraica, Arabiga, Grega, Latina, Castelhana e Portugueza, pelas quaes havia adquirido hum longo cabedal
de erudição e doutrina. Com razão foi tido pelo Judeo mais douto, e sabio do seu seculo”. 70
Ver o importante estudo de KATCHEN, Aaron. L. Christian Hebraists and Dutch Rabbis (Seventeenth
Century Apologetics and the Study of Maimonides, Mishneh Torah). Harvard University Press, Cambridge-
Mass., 1984, pp. 16-7.
32
conseqüente fermentação de idéias não deixaram de ecoar no judaísmo holandês e
influenciar a sua elite intelectual, abrindo horizontes para idéias e concepções que
enriqueciam o próprio mundo espiritual judaico, o que nos lembra o passado mais
longínquo, quando o judaísmo entrou em contato com o helenismo, e mais tarde com o
pensamento islâmico, sabendo que ambos momentos foram importantes para fertilizá-lo
culturalmente. É preciso lembrar no entanto que o debate religioso teológico cristão
envolvia o conhecimento das Sagradas Escrituras, no que tradicionalmente era a auctoritas
que fundamentava toda e qualquer argumentação, e para tanto a leitura da Veritas hebraica
passava a ser indispensável. Do mesmo modo que ocorreu anteriormente, o conhecimento
do hebraico de parte dos cristãos devia servir para os propagandistas dos partidos religiosos
litigantes. Nesse sentido, o interesse da erudição humanista fez do hebraico um instrumento
cultural indispensável dos intelectuais calvinístas, que valorizavam o Velho Testamento.
Portanto, o contato entre as duas religiões, nesse nível, e o intercâmbio social e econômico
que se verificava entre as duas comunidades, numa Holanda que expandia seu poder
externo a todos os continentes e da qual os judeus sefarditas participavam ativamente, num
ambiente de relativa tolerância, é que permitiram a valorização da presença hebraica
naquele solo, especialmente nas relações entre a corrente mitigadora arminiana ou dos
remonstrantes, adeptos da idéia de que o homem deve ter uma parte ativa na aceitação da
graça, além de, nas relações entre Igreja e Estado, apoiar a supremacia dos interesses do
poder temporal sobre o poder civil ou eclesiástico. O período em questão é de
florescimento cultural e atrás dele encontra-se um processo de desenvolvimento que
abrange a totalidade da vida social apreendida sob os mais diversos ângulos do pensamento
humano.
Menasseh ben Israel também faz parte e é fruto desse movimento extraordinário
que pode ser visto como uma Idade de Ouro holandesa, pois esteve envolvido e manteve
um relacionamento com algumas de suas figuras mais exponenciais, a começar pelos
hebraístas Gerbrandus Anslo (1612-1643), o teólogo Constantin l’Empereur (1591-1664),
do qual teria sido professor de hebraico, a hebraísta Rainha Christina Augusta (1626-1689),
Jacob Alting (1618-1679), e chanceleres como o da rainha Christina da Suécia, Johan
Adler-Salvius (1590-1652), seu culto bibliotecário Isaac Vossius (1618-1689), o Professor
Christoph Arnold (1627-1685), de Nüremberg, o nosso filósofo Gaspar van Baerle (Barléu)
(1584-1648), os místicos Jacob Boehme (1575-1624), Paul Felgenhauer (1593-c.1680) e
Abraham Frankenberg (1593-1652), o teólogo Simon Episcopius (Bisschop) (1583-1643),
Samuel Sorbiere (1615-1670), o jurista e pioneiro do direito internacional Hugo Grotius
(1583-1645), Gerhard Johann Vossius (1577-1649) o polêmico filósofo Claude Salmasius
(1588-1653) e muitos outros, além do renomado Rembrandt71
.
A ligação de Manasseh com o Brasil se dá naturalmente pelo seu interesse na
atividade mercantil que a Companhia das Índias Ocidentais mantinha com a colônia.
Muitos judeus sefarditas estavam diretamente ligados a esse comércio que se acentuou com
o próprio estabelecimento holandês no Brasil. Mas ele não era exatamente um homem de
71
Ele lembra ao leitor no Thezouro dos Dinim, terceira e última parte, (“Economica”), editada por ele mesmo
em 1647, que escreveu “mays de 300 Epístolas escritas a vários letrados e senhores, sobre as mui diversas e
difficultosas questoens”. Na segunda parte do Conciliador, “Amsterdam”, Nicolaus Ravensteyn, 1641, p. 8,
ele escreve: “Respondi tambien a mas de CL Epístolas de hombres doctos de toda Europa, sobre muchas
preclaras dudas y questiones...”
33
negócios e sua atividade como pregador com múltiplas responsabilidades comunitárias,
professor e editor, que começava pioneiramente em 1626, indicava que não era rico e lutava
para poder sobreviver. Já no lembrado documento inquisitorial o espia Duarte Guterres
Estoque testemunha que viu em Amsterdam Manoel Dias Soeiro e que este havia lhe
contado que mandara ao Brasil, assim como à Espanha, uma caixa de livros intitulados
Reconciliaçones de la Sagrada Escritura72
. Tratava-se da obra que tanta repercussão deu ao
nome de Menasseh em toda a Europa: Conciliador. Considerando que a primeira parte do
Conciliador foi publicada dois anos após a instalação do domínio holandês, podemos
inferir que manteve de imediato contato com os seus correligionários que emigraram à nova
colônia. Possivelmente seu cunhado Jonas Abravanel e seu irmão Ephraim Soeiro se
associaram a ele em negócios com o Brasil, e sabemos que Ephraim viajou à colônia com
essa finalidade73
. Era o período de prosperidade do domínio holandês, o que atraiu uma
imigração judaica da Holanda ao Brasil.
Pela correspondência entre Gerhard Johann Vossius e Hugo Grotius, ambos
amigos de Menasseh, sabemos de sua intenção de ir ao Brasil. Em 1º de janeiro de 1640,
Vossius escreveria que “Menasseh está pensando em se transferir para o Brasil. Sem
dúvida, ele atuará ali como rabi. No entanto, ele se dispõe a se dedicar principalmente ao
comércio. Certamente ele é devotado aos seus estudos e aspira aumentar sua reputação.
Porém, como tenho dito a você, seus problemas domésticos o obrigam a dar esse passo,
pois ele está longe de se encontrar em boa situação”74
. Hugo Grotius responderia em 2 de
fevereiro do mesmo ano: “Do fundo de minha alma desejo a Menasseh uma boa sorte. Eu
lamento, no entanto, que ele seja compelido por força das circunstâncias a se transferir para
tão longe de nós. Se pudesse compensá-lo pelos seus serviços eu o faria com a maior boa
vontade. Sempre pensei que os membros da sinagoga de Amsterdam fossem ricos e
liberais. Agora me dei conta que estava enganado. Porém me é difícil acreditar que eles
estejam escondendo a verdade com o intento de evitar inveja”75
. Um ano antes,
aproximadamente, ele dedicaria a sua obra De Termino Vitae à Companhia das Índias
Ocidentais, o que poderia ser interpretado como um sinal de estar pensando em mudar o
rumo de sua vida como outros fizeram em busca de novas oportunidades no novo
continente. Na leitura que fizemos da Segunda parte do Conciliador, a qual dedica aos
“Nobilissimos muy Prudentes, y Inclitos Señores del Consejo de las Índias Occidentales”,
fica patente que ele já estava decidido e preparado para encetar sua viagem. Assim ele
escreve: “Por lo qual Lector amigo, partiendome agora de la florentissima Batavia a tan
longínquas partes del Brazil jusgue a obligacion despedirme de los mios com este Tratado
72
LEMOS, M., op. Cit. P. 361. 73
ROTH, Cecil, A Life of Menasseh ben Israel, The Jewish Pub. Soc. of América. Philadelphia, 2ª edição,
1945, p.52-3. Aproveito o ensejo para agradecer a Alberto Dines, meu amigo e colega, que me forneceu de
sua preciosa biblioteca o exemplar de Roth, bem como outros textos, sem os quais não teria levado a efeito
este modesto estudo. 74
Vossii Epistolae, I. 345. Apud ROTH, C., op. Cit., p.59-60; Gerardi Joannis, Vossii et Clarorum ad cum
Epistolae Collectore Paulo Colomesio, Londini, Typis R. R. et M. C. Impensis Adielis Mill, 1690, p. 344-345,
in Coppenhagen, J. H., op. Cit., p. 158. 75
Grotii Epistolae, p. 696, apud ROTH, C., op. Cit. p. 60; Hugonis Grotii Epistolae, Amstelodami, Ex
Typographia, P. et I Blaev, 1687, v. XI, p. 60, in Coppenhagen, J. H., op. Cit., p. 109.
34
theologico... (g. n.).”76
Na Epístola Dedicatória, escreveria com entusiasmo de “Lusitano
com animo Bataveo” que “de cinco capitanias son ya V.S. Señores; ganada Tamarica,
ocupada Parahiba, Rio Grande e Siara, hasta del Rio Real e ultra, se estiende ya el limite de
su jurizdicion”.77
Porém, Manasseh acabaria por ficar em Amsterdam e nunca chegaria ao Brasil,
em seu lugar viria, em 1642, hacham, seu velho colega de estudos e rival igualmente
talentoso, da comunidade de Amsterdam, Isaac Aboab da Fonseca, para ser o primeiro
rabino do Brasil.78
Antônio Vieira, que esteve em Amsterdan, em 1646 e 1648, e travou
conhecimento com ambos, ao ser solicitado a emitir sua opinião sobre as suas qualidades,
assim se expressou: “Menasseh diz o que sabe, Aboab sabe o que diz.”79
Vieira preocupado
com a reabilitação econômica de Portugal, via nos judeus e nos cristãos-novos uma força
propulsora indispensável à recuperação do império que viveria dias melhores antes da
presença negativa da instituição inquisitorial estabelecer-se naquele reino. Daí, em 1643,
quando Portugal já se libertara da Espanha, o seu famoso relatório endereçado ao rei
propondo recorrer ao capital dos cristãos-novos e judeus emigrados para ajudar a resolver a
situação financeira pela qual o país passava naquele tempo, e para tanto seria preciso
cercear os excessos da Inquisição em relação aos mesmos. Mal sabia ele que tais idéias o
colocariam mais tarde sob a suspeição e como uma das vítimas da Inquisição. O historiador
Antônio Saraiva lembra que, pouco tempo depois, Vieira proporia também a criação de
duas companhias mercantis, uma para o Oriente e outra para o Brasil, ambas respaldadas
pelo capital judaico.80
O texto no Sermão de São Roque diz: “O remédio temido ou
chamado perigoso são duas companhias mercantis, oriental uma, e outra ocidental, cujas
frotas poderosamente armadas tragam seguras contra a Holanda as drogas da Índia e do
Brasil. E Portugal com as mesmas drogas tenha todos os anos os cabedais necessários para
sustentar a guerra interior de Castela, que não pode deixar de durar alguns. Este é o remédio
por todas as circunstâncias não só aprovado, mas admirado das nações mais políticas da
Europa, exceto entre a portuguesa, na qual a experiência de serem mal reputados na fé
alguns de seus comerciantes - não a união das pessoas, mas a mistura do dinheiro menos
cristão com o católico - faz suspeitoso todo o mesmo remédio, e por isso perigoso.”81
No
Sermão de São Roque, pregado no aniversário do nascimento do Príncipe D. Afonso, em
1644, ele usa uma exegese notável aplicada às armas de Portugal: “Comporeis o escudo das
76
Conciliador, segunda parte, p. 2. Agradeço aqui o gentil atendimento das bibliotecárias da seção de Livros
Raros da Biblioteca Nacional, permitindo o uso destas obras originais nem sempre em bom estado de
conservação. 77
Na parte que trata do Livro dos Reis, ele insere uma epístola endereçada “aos mais nobres e magníficos
guardiães e membros da recém-formada congregação do Recife”, como bem lembra ROTH, C., op.cit., p. 58. 78
Ver sobre ele WIZNITZER, A., Os Judeus no Brasil Colonial, ed. Pioneira, SP, 1966, pp. 149-151. 79
ROTH, C., op. Cit., p. 164; WOLF, Joahann Christoph, Biblioteca Hebraece, Hamburg: Imprensis
Christiani Liebeszeit. 1715-1733, 4 v., v. III, p. 709: “Narrabat ille P. Vieiram... Menassem dicere quae sciat,
Aboabum autem scire, qua dicat...” in Coppenhagen, J. H., op. cit., p. 154. 80
SARAIVA, A. J., Antonio Vieria, Menasseh ben Israel et le cinquième empire, in Studia Rosenthaliana, v.
VI, no. 2, julho 1972, p. 25-57. Devo ao meu amigo estudioso dos judeus ibéricos na Holanda e da diáspora
sefardita Francisco Moreno de Carvalho a cópia desse importante artigo. Saraiva, que cita o Sermão de São
Roque, omite a fonte original que na verdade é a carta na qual lembra “o primeiro negócio que propus a sua
Majestade... foi que em Portugal, à imitação da Holanda, se levantassem duas companhias mercantis...”. Ver
VIEIRA, Cartas, ed. J. L. de Azevedo, Coimbra, 1925, v. III, p. 558-9. A idéia aparece esboçada no
conhecido memorial, que parece ser de 1641, dirigido ao Príncipe Regente. 81
In VIEIRA, Sermões, pref. e ver. Por P. Gonçalo Alves, Lello & Irmãos, Porto, 1959, v. III, t. VIII, p. 76-77
35
vossas armas, do preço com que eu comprei o generoso humano, que são as minhas cinco
chagas; e do preço do preço com que os judeus compraram a mim, que são os trinta
dinheiros de Judas... E se Deus compôs assim as armas de Portugal, se Deus não achou
inconveniente nesta união; que muito é que o imaginasse assim um homem?”82
A
preocupação de Vieira, “patriótica e econômica”, como diz Saraiva, tem também como
fundo uma convicção religiosa profético-messiânica, de influência bandarrista, e portanto
judaico-cristã, que leva a crer na unificação de destinos de Israel, isto é, dos judeus e
Portugal.83
É interessante notar que Menasseh ben Israel via na independência de Portugal
da Espanha, em 1640, e na conquista holandesa “cessando o antigo ódio”, uma
possibilidade de conciliação entre os dois países, em que “seguirá a desejada paz”, ambos
tendo em comum o sentimento de rejeição para com a Espanha.84
Vieira, no entanto,
prognosticando o destino de Portugal, falando da guerra de 24 anos no Brasil, descreve
como sendo um milagre da Providência o feito da frota mercantil do Brasil diante do
Recife, rendendo 17 fortes reais. E em espaço de três dias se recuperou o que se tinha
ganho em 24 anos e perdido para Nova Holanda.85
Vieira também tivera, em 1647, um
papel decisivo na mobilização de fundos, graças aos empréstimos de dois cristãos-novos,
Duarte da Silva86
e Antônio Rodrigues Marques - mais tarde perseguidos pela Inquisição -
que permitiram enviar ajuda militar ao Brasil.87
Mas sua concepção sobre a importância dos
judeus ou cristãos-novos para Portugal, assim como seu bandarrismo88
poderiam ter raízes
mais profundas, desde quando “portugueses” e “judeus”, para o restante do continente
europeu, eram tão sinônimos quanto na Idade Média o eram as palavras “mercator” e
“judaeus”. O fato é que o jesuíta que tanto fizera para o reino seria processado pela
Inquisição, em 1663, devido a um escrito de 1659 intitulado Esperanças de Portugal89
,
82
Sermões, pref. e ver. Por P. Gonçalo Alves, Lello & Irmãos, Porto, 1959, v. III, t. VIII. p. 79. 83
SARAIVA, A. J., op. cit., p. 32. 84
Conciliador, segunda parte, “Epístola Dedicatória”. 85
Sermão de São Roque, de 1644, ibid. p . 82. Vieira procura mostrar o quanto a Companhia Ocidental foi
vital para restaurar o domínio português no Brasil, com a participação do capital judeu ou cristão-novo, com
uma exemplificação a sua notável exegese que o leva a concluir que “a bondade das obras está nos fins, não
está nos intrumentos”, assim como “Deus era Deus quando sustentava a Elias por ministério de corvos,
como... por ministério de anjos”. 86
Ver BAIÃO, A. , Episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa, v. II, Seara Nova, Lisboa, 1953, p. 266-
386. Sobre a participação dele no comércio de Pernambuco, ver o importante estudo de Evaldo Cabral de
Mello, Olinda Restaurada (Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630-1654), Ed. Forense-Universidade RJ,
EDUSP, SP. 1975, p. 103. 87
A reação positiva causada aos portugueses em 1645 pela tomada de Dunquerque, que se encontrava em
mãos espanholas, pelos franceses, não iludiu Vieira, que via no evento conseqüências desastrosas para
Portugal, pois os holandeses teriam desse modo liberado sua esquadra para incursionar no Norte do Brasil.
Além da narrativa de SOUTHEY, R., História do Brasil, ed. Obelisco, SP, 1965, v. III, ver também VIEIRA,
Cartas, v. III, p. 561-563, ed. J. L. d’Azevedo, Coimbra, 1925. 88
Sobre Bandarra e seu profetismo, vide LIPINER, E., O Sapateiro de Trancoso e o Alfaiate de Setúbal,
Imago, Rio de Janeiro, 1993; também Gonçalo Anes Bandarra e os Cristãos-Novos, Trancoso, 1966, onde se
encontra no anexo as trovas de Bandarra, editadas em Barcelona em 1809. Ver Azevedo, J. L., História de
Antônio Vieira, ed. A. M. Teixeira, Lisboa, 1918-20, 2 v., e do mesmo autor A Evolução do Sebastianismo, 2ª
ed., Lisboa, 1947. 89
O título completo é Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, Primeira e Segunda Vida de El Rei
D. João IV escritas por Gonçalo Eanes Bandarra, ver sobre ele AZEVEDO, J. L., História de Antônio Vieira,
ed. A. M. Teixeira, Lisboa, 1918-20, 2 v., e do mesmo autor A Evolução do Sebastianismo, 2ª ed., Lisboa,
1947.
36
sofrendo outras acusações pelas quais seria condenado em 1667.90
Mas não deixa de ser
notável o cruzamento de idéias que viria criar a suposta influência de Menasseh sobre
Vieira, acusado de judaísmo, quando ao se examiná-lo, em 29 de novembro de 1666, em
Coimbra, na Casa do Oratório da Santa Inquisição, lhe foi perguntado em que livro leu, ou
que razão tinha para saber que os judeus admitiam ou reconheciam a redenção espiritual
por Cristo, se não a seguiam eficazmente. Ele responderá que “não leu em livro algum o
conteúdo na pergunta e nem na resposta acima dada; nem o ouviu de outras pessoas, mas de
um judeu público, circuncidado, chamado Menassés ben Israel, português natural de
Lisboa, segundo dizia, morador na cidade de Amsterdam, Holanda, havia 18 ou 19 anos, o
qual ali ensinava publicamente o judaísmo debaixo do nome de teologia”.91
Vieira ainda
dirá que estava ali numa estalagem provando a Menasseh a redenção espiritual de Cristo.92
A propósito desse fato, Antônio Baião traz, em apêndice final ao se estudo sobre o processo
de Vieira, a transcrição de um manuscrito do século XVIII em que um clérigo dizia ter
ouvido através de alguns religiosos da Companhia de Jesus, contemporâneos do Padre
Vieira, que este, na Holanda convencera um insigne rabino que o Messias esperado por eles
era Cristo Senhor Nosso, cujo primeiro advento ou vinda ao mundo em carne mortal
confessavam os cristãos, porém que o rabino por sua vez convencera o padre que o mesmo
Cristo, antes do último advento ao juízo universal, havia de vir outra vez ou em própria
pessoa, ou na de um seu substituto, para tomar posse do domínio e império universal
temporal que há no mundo, como verdadeiro filho de Deus, rei e senhor não só no
espiritual, mas também no temporal.93
Vemos, desse modo, que o contato de Vieira com
Menasseh, que supomos ser o “insigne rabino”, se transformou num debate teológico como
dos muitos havidos entre cristãos e judeus no passado e que gerou no decorrer do tempo um
gênero literário próprio. Porém há algo de inusitado nesse texto singelo que de imediato nos
chama atenção, ou seja, que ambos contendores acabaram por aceitar parte de suas mútuas
e supostas verdades religiosas.
Curioso é que um dos livros centrais que revelam a visão messiânica de
Menasseh ben Israel, publicado em 1650, em Amsterdam, traz como Título Esperança de
Israel (em hebraico Miqve Israel e em latim Spes Israelis). Nele, Menasseh apresenta a
história de Antônio de Montezinos ou Aaron Levi de Montezinos, um mercador que em 19
de setembro de 1644 aportou em Amsterdam vindo das Índias Ocidentais. A sua relación
ou narrativa dizia que há dois anos e meio, saindo do porto de Honda, nas Índias
Ocidentais, para viajar para Papian, na província de Quito, e passando por várias peripécias
em Nova Granada, incluindo a prisão pela Inquisição, teve contato com os índios da região
que acabaram se identificando com os hebreus, assim como ele mesmo havia revelado ser
hebreu da tribo de Levi.94
A intenção de nosso autor é mostrar que os judeus estão
90
O processo e suas circunstâncias é tratado por BAIÃO, A. , Episódios dramáticos da Inquisição
Portuguesa, 2ª ed., Seara Nova, Lisboa, 1936, v. I., p. 255-363. Recentemente os autos do processo de Vieira
na Inquisição foram publicados por Adma E. Muhana, ed. UNESP-FCEB, SP, 1995. 91
Processo de Vieira, ed. UNESP-FCEB, p. 201. 92
BARBOSA MACHADO, D., Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1741-1752, v. I, p. 417, afirma que Vieira
intentou converter a Menasseh ben Israel. 93
BAIÃO, A. , Episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa, Lisboa, 1936, v. I, p. 358. 94
Utilizei-me da edição fac-similada com o título Sobre el origen de los americanos da Editora Plata S/A.,
1974, da reimpressão de Madrid, 1881, de S. P. Junqueira, bem como da ed. Francesa, da Lib. Phil. J. Vrin,
Paris, 1979, com intr. trad. e notas de Henry Méchoulan e Gérard Nahon, que me foram cedidos por Alberto
Dines.
37
dispersos também no Mundus Novus, o que vai ao encontro da sua crença de que a
redenção messiânica ocorrerá quando o povo de Israel estiver espalhado pelos quatro cantos
do mundo. Daí seu esforço em convencer a Inglaterra de Cromwell, onde seu livro tivera
um eco formidável entre religiosos e visionários, em obter uma resolução do Parlamento
britânico para readmitir oficialmente a volta do judeus, após a expulsão em 1290, no tempo
de Eduardo I. Na interpretação de Menasseh, bem como na de outros exegetas que o
antecederam, entre eles Abraham ibn Ezra e o notável Isaac Abravanel, o nome do reino,
em francês “Angle-Terre”, era traduzido m hebraico por “Ktze-haaretz”, isto é, o fim da
terra, o que preencheria a expectativa messiânica segundo a profecia bíblica, apoiada em
Deut. 28:64 e em Daniel 12:7. Nesse sentido, os esforços de Menasseh foram coadjuvados
por um marrano, David Abravanel Dormido, cujos filhos viveram no Brasil e que, com a
reconquista de 1654, perderam seus bens e voltaram à Holanda. Dormido que vivia na
Holanda, transferiu-se para a Inglaterra e dirigiu ao governo inglês duas petições, numa das
quais narrava sua desventura pessoal solicitando a ajuda diplomática para recuperar o que
havia perdido no Brasil, e na outra descrevendo a opressiva atuação da Inquisição que
afugentava os marranos ao norte da Europa e portanto poderia beneficiar o país caso os
admitissem na Inglaterra.95
Mas não temos que confundir esse messianismo de Menasseh
com o que irá ocorrer nos anos 60 com o movimento messiânico de Sabetai Tzvi, fruto de
uma tradição proveniente da mística luriana (de Isaac Luria, 1534-1572) e dos círculos de
seus seguidores posteriores associados às reações ao crucial momento histórico das
perseguições de Bogdan Chmielnitzki, em 1648, na região da Europa Oriental. Por outro
lado, devemos considerar também o papel do quiliasmo cristão representado por Peter
Serrarius (1580-1669) e por Paul Felgenhauer (além de outros), autor do Bonum Nuntius
Israeli, em 1655, os quais fizeram parte do círculo de amigos de Menasseh. Muitos sábios
de Amsterdan, como de outros lugares da Europa, seriam contaminados pelo fervor
messiânico da época. Mesmo Isaac Aboab da Fonseca não escaparia ao fascínio que Sabetai
Tzvi iria exercer sobre esses homens, crendo que ele era o Messias tão esperado.96
Menasseh retoma em sua obra - daí a importância do testemunho de
Montezinos - o destino e a continuidade da existência da dez tribos perdidas de Israel,
destino que se incorporou ao messianismo judaico - desde o período do domínio romano na
Palestina e do Talmud97
atravessando a Idade Média – e em que o ato final da sua redenção
os levaria de volta à Terra Santa,98
o que daria o ensejo para o início do Quinto Império, ou
95
Ver ROTH, C., op. cit., p. 176-224 e 225-247, no qual me baseei. 96
Engana-se Saraiva, op. cit., p. 36, ao exagerar que o livro de Menasseh terá um papel importante na gênese
do movimento messiânico que desembocará na proclamação de Sabetai Tzvi como Messias, em Esmirna, em
1666. Para o conhecimento da sabataísmo indispensável se faz a leitura da obra de Scholem, G., Sabatai Tzvi,
o Messias Místico, Ed. Perspectiva, SP, 1995-1996, 3 v. 97
Sobre o messianismo medieval videl Falbel, N., Maimônides e o messianismo judaico medieval, in Anais
da IV Reunião da Soc. Bras. de Pesquisa Histórica, São Paulo, 1985, p. 153-158. Para uma visão geral do
messianismo judaico, vide as obras fundamentais de SILVER, A. H., A History of Messianic Speculation in
Israel, Beacon Press, Boston, 1959; SCHOLEM, G. The Messianic Idea in Judaism, N. Y., 1971,
SARACHEK, J., The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature, 2ª ed., New York, 1968;
AESCOLY, A. Z., Hatnuot haMeshichiot be Israel (Os movimentos messiânicos em Israel), Jerusalém, 1956
(hebraico). 98
A literatura apócrifa e pseudo-epigráfica judaica, entre eles e o texto conhecido como Baruch ( Siriaco) e o
de Ezra IV, ambos escritos aproximadamente entre 70-80 e 90-100 de nossa era, isto é, após a destruição do
38
seja, o de Israel. Aqui confluem as idéias de Vieira inspiradas pelo profetismo bem anterior
de Bandarra e seu contemporâneo, o falso messias David Reubeni e seu arauto Schlomo
Molco (Diogo Pires), ambos vítimas da Inquisição, e as de Menasseh ben Israel.99
No
Esperança de Israel, ele procurará provar que as dez tribos passaram ao continente pelo
estreito de Anian, ou pela China, e muitos são os testemunhos de que elas se encontram
espalhadas na imensidão do Novo Mundo. Ele surpreenderá o leitor ao mencionar que em
Pernambuco “ha poco mas de 40 años, oito tabajares” que se adentrarm naquele território,
após quatro meses de caminhada, encontraram, “una gente blanca, com barbas, de comercio
y policia...”.100
Podemos assim supor que a convicção messiânica nesse particular levantada
por Menasseh em seu livro era também compartilhada por membros da comunidade de
Pernambuco, independente da expectativa gerada pelos acontecimentos da época e pelo eco
que sua obra causara no mundo não-judeu. A idéia de que a população indígena americana
descendia das dez tribos perdidas de Israel não era nova, pois autores cristãos a adotaram,
porém a afirmação não da descendência, mas da existência das tribos originais com a língua
hebraica e a religião bíblica em várias partes do planeta101
é que poderia causar impacto e
entusiasmo no livro Esperança de Israel. Nele encontramos todos os elementos centrais da
escatologia messiânica judaica tradicional como o embate final do Messias ben Yoseph, ou
Efraim, que lutará contra as forças do mal de Gog e Magog, que morrerá, e ao qual
sucederá o messias triunfante, o Messias ben David. No processo de Vieira, acusado de
judaísmo, fica patente o quanto essa visão messiânica em sua essência era diferente da
cristã102
, o quanto o padre jesuíta era suspeito de estar sob influências das trovas de
Bandarra. Mas ao mesmo tempo enquanto na Holanda os dois representantes do Velho e do
Novo Testamento podiam, livremente, numa estalagem, intercambiar suas preocupações
espirituais e refletirem sobre a redenção da humanidade, ambos teriam que ter muita cautela
se quisessem faze-lo em Portugal, como bem provaria a experiência. Por mais paradoxal
que seja, o exílio, apesar da dolorosa nostalgia, compensava os seres humanos com a
prazerosa tolerância.103
Segundo Templo de Jerusalém, já se referem às 10 tribos. Ver KLAUSNER, J., Haraion hameshichi be Israel
(A idéia messiânica em Israel), ed. Massada, Tel-Aviv, 1950 (hebraico). 99
Para Vieira, o Quinto Império, apesar de universal, é o de Portugal, mas associado à idéia das duas nações,
a portuguesa e a judia, numa comunhão de destinos e sustentada na crença de que o messias anunciado por
Bandarra era D. João IV. 100
Esperança de Israel, p. 35-6. Além do mais usará de vasta literatura “geográfica” para apontar aqui e acolá
sinais e testemunhos da presença de Israel no continente americano e em outros. Sempre baseado em Daniel, a
exegese rabínica interpretará o primeiro império como sendo o da Babilônia, o segundo o Medo-Persia, o
terceiro o Grego e o quarto o de Roma. No Esperança de Israel, parágrafo XVII, p. 95-101, está implícita
essa exegese ao falar das imensas calamidades (profetizadas) sob as quatro monarquias, que inclui o tempo da
Inquisição e seus mártires, cujos nomes são lembrados. 101
Menasseh dedica boa parte de seu livro a demonstrar com testemunhos de viajantes que estiveram “nos
quatro cantos do mundo” e escreveram sobre a presença de tribos hebraicas nas paragens que visitaram. 102
No Processo de Vieira, ed. UNESP-FCEB, Anexos no. 46, p. 405-6, consta o seguinte: “A qualidade da
censura teológica provém da matéria da proposição, das provas e das refutações da mesma contra a fé e da
tendência para o erro contrário: portanto, a matéria desta proposição, as provas e a dedução são contra a fé
acerca da redenção espiritual de Jesus Cristo e tendem para o erro judaico contrário sobre a Redenção
temporal através do homem. Logo tornam àquele que alega, prova e deduz suspeito de judaísmo”. A lógica
aristotélica baseada no silogismo era uma arma eficiente nas mãos da Inquisição. 103
Gaspar Barléu (1584-1648), amigo de Menasseh, e autor do polêmico Epigrama dedicado a Menasseh ben
Israel em sua obra De Creatione Problemata (1635), em sua História dos Feitos Recentemente Praticados
39
Durante Oito Anos no Brasil, ed. Itatiaia, EDUSP, SO, 1974, p. 136, falando dos judeus no Brasil holandês,
se expressa desse modo: “A maioria do judeus foi da Holanda para o Brasil. Alguns de nacionalidade
portuguesa simularam a fé cristã sob o domínio do rei da Espanha. Agora, livres do rigor papista, associam-se
abertamente aos judeus, sob um dominador mais indulgente, prova evidente de que, pelo terror, se provoca a
hipocrisia e se criam adoradores da realeza, mas não de Deus”. Barléu escreveu a Cornélius van der Myle,
curador da Universidade de Leyden, uma carta de recomendação em 7 de setembro de 1633, em favor de
Menasseh, que desejava dedicar aos Estados da Holanda o seu Conciliador.
40
5. Sobre a presença dos cristãos-novos na capitania de São Vicente e a formação da
etnia paulista
A vinda dos cristãos-novos ao Brasil, que se deu efetivamente desde os
primeiros anos da colonização portuguesa, logo após a descoberta, foi estudada com certa
amplitude e riqueza graças aos processos inquisitoriais existentes no Arquivo da Torre de
Tombo, bem como os de outros acervos documentais.104
Porém, se fizermos uma avaliação
da pesquisa sobre o tema adotando um critério regional, veremos que poucos estudos se
referem à presença de cristãos-novos no litoral paulista e mais especificamente na Capitania
de São Vicente, excetuando-se os trabalhos fundamentais do historiador José Gonçalves
Salvador.105
Quais seriam os motivos para a ausência de pesquisa no tocante ao território,
importante para o desenvolvimento de São Paulo e porto de entrada para a colonização
interiorana do estado? À primeira vista nos parece que a resposta pode ser encontrada na
excessiva concentração dos pesquisadores na documentação inquisitorial, em cujos
processos referentes aos cristãos-novos são numericamente poucos os que tratam dos
judaizantes de São Vicente e da região paulista em comparação a outras localidades. Por
outro lado, sabemos que o acesso dos visitadores à região era complexo, assim como difícil
era separar a população litorânea do Planalto Paulista ou das terras de Piratininga que
efetivamente subiram a serra pelo Caminho do Mar para criar o núcleo de Santo André da
Borda do Campo. Devemos aceitar e concordar com os historiadores que afirmam a
imediata presença dos cristãos-novos que receberam a concessão de explorar
comercialmente o pau-brasil, como Fernando de Noronha, ou Noronha106
, e o papel que
desempenharam na cultura da cana-de-açúcar, que foi, de início, o principal produto da
economia colonial na faixa litorânea brasileira. Cristãos-novos, judaizantes ou não,
degredados ou não, passaram a ser um elemento colonizador de primeira importância na
terra de Santa Cruz, e quando se deu a Primeira Visitação do Santo Ofício nos anos de
1591-95, uma boa porcentagem dos denunciados aos esbirros da Inquisição era da progênie
judaica.
As denunciações da Bahia, da Primeira Visitação, mencionam cristãos-novos
da região de São Vicente e se especificam através da denúncia de uma Maria da Costa, na
qual se afirma que Francisco Mendes era cristão-novo, morador de São Vicente e “é da
geração de uns cristãos-novos que chamam os Valles”.107
Um Antônio do Vale, casado em
Portugal com Ana Garcia, homiziou-se no Brasil por crimes praticados no Reino e foi viver
104
A verdade é que a frota da descoberta de Cabral traz a figura extraordinária do judeu converso Gaspar da
Gama, objeto da monografia de Elias Lipiner: Gaspar da Gama, um Converso na frota de Cabral, RJ, Nova
Fronteira, 1987 105
Cristãos-Novos, Jesuítas e Inquisição, São Paulo, Pioneira, 1969; Os Cristãos-Novos: Povoamento e
Conquista do Solo Brasileiro: 1530-1680, São Paulo, Pioneira, 1976; Os Cristãos-Novos e o Comércio no
Atlântico Meridional, São Paulo, Pioneira, 1978. 106
Sobre ele ver J. G. Salvador, Os Cristãos-Novos e o Comércio no Atlântico Meridional, São Paulo,
Pioneira/MEC, 178, pp. 8, 38, 98, 166; Os Magnatas do Tráfico Negreiro, Séc. XVI e XVII, São Paulo,
Pioneira/Edusp, 1981, pp. 6, 20, 129. 107
Primeira Visitação do Santo Ofício: Denunciações da Bahia, p. 314.
41
em São Vicente, casando-se com a filha do capitão-mor, Jerônimo Leitão, e ele aparece nas
Denunciações do Santo Ofício relativas à Primeira Visitação ao Brasil.108
Quando teriam vindo? Difícil precisar, pois quando, em 1532, Martim Afonso de Souza
entrou no porto em São Vicente, dois anos após o estabelecimento das donatárias, já
encontrara habitantes europeus, que no dizer de Paulo Prado seriam “remanescentes de
naufrágios ou das viagens de 1501 ou 1503, das de d. Nuno Manuel, da nau Brêtoa, e de
Christovam Jacques, ou de outras anônimas...”.109
A figura controvertida e desconhecida do
Bacharel de Cananéia,110
com seu clã familiar que incluía Gonçalo da Costa, Antonio
Rodrigues, Mestre Cosme, Duarte Peres (ou Pires) e também a não menos controvertida
personalidade de João Ramalho. Este último, sobre o qual derramou-se muita tinta devido
ao suposto “kaf” de sua assinatura, é mencionado na carta de Tomé de Souza dirigida ao rei
d. João III, de 1º de junho de 1553, como natural de Coimbra e possuidor de uma prole
abundante com muitos descendentes.111
O fato é antes da chegada de Martim Afonso
encontramos núcleos de populações que as fontes lembram serem como náufragos,
desertores ou desterrados, além de viverem amancebados com mulheres índias,112
sem
informar exatamente quando chegaram.
Basílio de Magalhães, na sua Expansão Geográfica do Brasil
Colonial,113
falando da prole de João Ramalho e da geração mameluca que começou a
nascer antes da chegada de Martim Afonso de Souza, localizada em Santo André, frisa
desde logo ser produto do ajuntamento dos primitivos povoadores de São Vicente, Santos,
São Paulo, Itanhaém, Iguape e Cananéia. O insigne historiador observa, com ironia, que
houve aqueles ,e lembra a J.J. Machado de Oliveira que no se Quadro Histórico da
Província de São Paulo,114
pretendia distinguir do nome de paulistas o “nome odioso” dos
mamelucos tendo-os na conta de “mescla híbrida e impura”, apenas capazes de “feitos anti-
abomináveis à semelhança do que também havia de escrever sobre os produtos miscigêneos
da América o etnólogo germânico Hellwald”. Basílio de Magalhães arrebata dizendo que
“aquele ilustre escritor não queria que se confundissem os paulistas com os seus
descendentes de sangue caboclo como se houvesse algum desdouro em aquele povo
108
Denunciações da Bahia, 1591-1593, São Paulo, P. Prado, 1925, p. 355. V. Costa Pôrto, Nos Tempos do
Visitador, Recife, UFP, 1968, pp. 162-3; v. Elias Lipiner, Os Judaizantes nas Capitanias de Cima, SP,
Brasiliense, 1969, pp. 26-8. 109
Paulística, Rio de Janeiro, Ariel, Rio de Janeiro, 1934, pp. 44-5. 110
Interessante é a tentativa de Augusto de Lima Júnior, no artigo “Mineiros e Paulistas de Origem Judaica”
(in Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, vol V, 1958, pp. 146-58), artigo recheado de
incorreções e preconceito inconsciente, resultado visível do desconhecimento do judaísmo. Diz que Gonçalo
Costa ou Duarte Peres era judeu, ficando isso patente pelo nome Cananéia que dera ao seu pouso na nova
terra. Ele também adota o critério- errôneo- do nome para identificação de quem é judeu ou descendente de
judeu. 111
Idem, ibidem, p. 47. Provavelmente estabeleceu-se em Piratininga em 1513, vindo de São Vicente, e
fundou a povoação de Santo André da Borda do Campo. Ver o Livro de Tombo do Mosteiro de São Bento da
Cidade de São Paulo, editado por d. Martinho Johnson (São Paulo, 1977, p. 102), com as referências
bibliográficas, entre elas: A. de E. Taunay, “João Ramalho e Santo André da Borda do Campo”, in Rev.do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. XXIX, 1932 (Conferências Comemorativas do IV
Centenário da Fundação de São Vicente), pp. 41-91. 112
Luís, Washington, em Na Capitania de São Vicente (São Paulo, Itatiaia/Edusp, 1980), desenvolve esse
aspecto com excelente conjunto de provas e documentação histórica. 113
3.ª ed., Rio de Janeiro, Epasa, 1944, pp. 92-3. 114
2.ª ed., São Paulo, 1897, p. 87.
42
originar-se do conúbio de aventureiros e criminosos de toda espécie com as mulheres
indígenas”.115
É curiosa a tentativa do frei Gaspar da Madre de Deus, em suas Memórias
para a História da Capitania de S. Vicente,116
retrucando a Charlevoix e negando o papel
dos foragidos e banidos de várias nações de terem fundado São Paulo, limitando a sua
fundação apenas ao índios e jesuítas, além de João Ramalho e sua prole. Concorda, no
entanto, “que os moradores da Capitania de São Vicente, principalmente os de serra acima,
se esqueceram algumas vezes das Leis Divinas e humanas, respectivas à inteira liberdade
dos índios”. A questão dos mamelucos, resultado da mescla de povoadores, estava
subjacente na história do beneditino, em sua tentativa de “limpar” a formação da Vila de
Piratininga.
A preocupação com “a constituição étnica do tipo paulista” parece ter ocupado
a historiografia brasileira dos anos 30, ocasião em que Paulo Prado escreveu sua Paulística,
a qual Oliveira Viana contestou, em artigo no Correio da Manhã, com o mesmo critério
historiográfico, sobre a importância do “sangue hebreu na formação antropológica de
Piratininga” como sendo inferior ao dos outros elementos europeus de tipo ariano. O
biologismo próprio da época que se mesclou com os ingredientes ideológicos nazi-fascistas
provavelmente teve seu papel nesse tipo de pesquisa histórica, que, consciente ou
inconscientemente, se manifestava ao se abordar a presença dos cristãos-novos no Brasil.
A um dado momento, essa “ciência” se refere à necessidade de “pesquisas
antropométricas sobre os despojos dos bandeirantes”117
para se fundamentar o
conhecimento histórico, além da consideração das “tendências raciais”, que acompanha a
crítica que Paulo Prado faz a Oliveira Viana, adepto das mensurações cranianas, que a
ciência confessa insuficientes para uma classificação científica dos grupos humanos. Esse
tipo de historiografia que procura limitar a antropologia biológica para explicar os
fenômenos históricos não é de todo isento de preconceitos em relação aos judeus, assim
como em relação a outras etnias ou povos. E novamente o texto em questão, de Paulo
Prado, nos explica “a contribuição judenga [que] trouxe para esse caldeamento o elemento
inteligente, voluntarioso, irrequieto e nômade que outras influências mal explicam, e,
sobretudo, a rediviva preocupação de enriquecimento tão peculiar ao judeu e que em toda
parte assinala como pioneiro de civilização e progresso”118
. Se levarmos em conta que o
livro foi escrito no final dos anos 20, podemos entender a insipiência de tal historiografia
que fala da “psique coletiva das tribos de Israel”, comparando-a com a do povo paulista
115
Idem, ibidem, p. 93. Em nota de rodapé, o historiador lembra Pierre François-Xavier de Charlevoix
(Histoire du Paraguay, Paris, 1761), que dizia: “(...) de ce mélange il sortit une génération perverse dons les
desordres en tout sens furent poussés si loin, que l’on donna à ces métis le nom de Mamelucs, à cause de leur
ressemblance avec ces anciens esclaves des Soudans d’Egypte”.
116
3.ª ed., São Paulo-Rio de Janeiro, Ed. Weiszflog Irmãos, 1920, pp. 229-37. O saudoso prof. Alfredo Ellis
Jr., em sua importante obra Os Primeiros Troncos Paulistas (CEN, col. Brasiliana, vol. 59, 1976), apesar da
impregnação antropologista e etnologista, típico da historiografia da época, demonstra com conhecimento
seguro dos fatos o papel histórico positivo do mameluco, resultado do cruzamento racial que marcou a
formação da população paulista.
117
Idem, ibidem, p. 95.
118
. Idem, ibidem, p. 96 (grifos nossos).
43
“devido a seus aspectos semelhantes, e entre esses aspectos encontra-se a perseverança, a
tenacidade e o resistente arrivismo” (no sentido menos pejorativo da expressão), como nos
diz o autor, além da notável faculdade de adaptação utilitária que, de caçador de índios,
mineiro, de povoador e conquistador, converteu o habitante do planalto no moderno
“grileiro e bugreiro”119
. Por outro lado, o próprio conceito de raça, com o passar do tempo e
em nossos dias, sofreu radical transformação de conteúdo apoiado no próprio
desenvolvimento que as ciências humanas e biológicas tiveram até hoje. Mas, ainda na
década de 20, ao falar de São Paulo, Paulo Prado, ao mencionar a mescla de portugueses,
espanhóis, flamengos, franceses e italianos, frisava, ao mesmo tempo a “sensível dosagem
de sangue israelita” nela, concluindo que, mais do que em outro sítio da colônia, as
condições do meio e do isolamento perpetuaram essa endogamia tão importante para a
fortaleza biológica dos agrupamentos humanos. Mesmo décadas após, certos historiadores
não conseguiriam libertar-se da “miscigenação étnica” como elemento explicativo para as
características da população local.120
A verdade é que fazia parte da política colonizadora portuguesa fazer vista
grossa aos transgressores e malfeitores que, perseguidos pela justiça do reino, poderiam
optar por fugir a outras terras e se aventurar a ir viver na colônia para escapar da justiça.
Eram eles os que se aproveitavam do homizio junto aos que deliberadamente eram
degredados, como reza o alvará de 31 de maio de 1535, no qual “el-Rei ordenou que dali
em diante as pessoas que houvessem de ser degredadas para a ilha de São Tomé... fossem
degredadas para o Brasil”, assim como o alvará de 6 de maio de 1536, que condenava ao
exílio no Brasil “os moços vadios de Lisboa que andam na ribeira a furtar bolsas e fazer
outros delitos”121
.
Nas denunciações da Bahia, e durante a Primeira Visitação, transparece
claramente o quanto os cristãos-novos sentiram-se à vontade para judaizar na colônia
distante da Inquisição continental e mais ainda os que se encontravam na longínqua
Capitania de São Vicente e na Vila de São Paulo. Pelo teor das denunciações depreendemos
o quanto se mostravam seguros a ponto de não trabalhar no sábado, vestindo-se com roupas
limpas, blasfemando e expondo suas crenças e praticando o seu culto nas “esnogas”. Já
nesse tempo o número de cristãos-novos no Brasil era significativo, pois a partir de 1536,
quando se decidiu a instalação do Santo Ofício em Portugal, estes procuraram as terras
mais longínquas, isto é, as colônias de ultramar, assim como os países europeus e outros
continentes que os acolhessem, num verdadeiro êxodo que irá alterar a história da diáspora
judaica desde a destruição do Segundo Templo de Jerusalém. Mesmo que a conversão e a
aceitação do cristianismo fosse honesta, eles, os cristãos-novos, viviam na sociedade
portuguesa sob permanente suspeita de judaizarem, o que se pode comprovar pelo número
de processos havidos contra os mesmos e pela literatura antijudaica da época, que
119
Idem, ibidem, pp. 96-7.
120
Ver J. G. Salvador, Os Cristãos-Novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro (1530-1680), São
Paulo, Pioneira, 1976, p. 7: “Que características revelaria então? Julgamos nós, à luz da história paulista, que
seriam traços fisionômicos (sic!) maior resistência biológica, mais adaptabilidade ao meio, amor à liberdade,
extraordinária mobilidade e destemor, enfim”.
121
Doc. para a História do Açúcar, pp. 25 e 31, apud Costa Porto, op. cit., p. 154.
44
acentuava o quanto para os conversos era impossível deixar a sua antiga fé122
. Séculos de
ódio teológico, associado a outros fatores, que afirmavam a caeccitas judaeorum e a
obstinação do povo de cerviz dura, contribuíram acentuadamente para gerar esse
permanente clima de desconfiança em relação aos cristãos-novos, mesmo que fossem fiéis
à nova religião. Por vezes a saída do reino lhes era vedada, já que eles constituíam-se num
fator importante da economia e da sociedade portuguesa, e isso tornar-se-á mais patente nos
inícios do século XVII, quando terão que comprar sua licença para sair livremente de
Portugal, ou quando terão de obter outras mercês com o perdão geral que lhes outorgou
Clemente VIII, em 1604123
.
Portanto, não é de surpreender que na Segunda Visitação Inquisitorial ao
Brasil, do licenciado Marcos Teixeira, em 1618, se haja disseminado o pavor, não somente
entre os cristãos-novos na Bahia e adjacências, mas também entre os da região sulina, que
receberia um reforço dos foragidos do norte. Claro é que devemos distinguir na Capitania
de São Vicente as duas topográfias, isto é, da região litorânea e a do planalto, esta tendo
como barreira natural a Serra de Paranapiacaba, que devido a sua densa vegetação na época
dificultava o acesso aos lugarejos ou vilas que se encontravam em Piratininga. Mas o
intercâmbio entre os povoados do litoral e as terras do planalto era inevitável, constituindo-
se a Vila de São Paulo um lugar ideal para refúgio daqueles ameaçados continuamente
pelos membros do Santo Ofício. A fama dos cristãos-novos paulistas como implacáveis
predadores de índios, nesse tempo, estava estabelecida, e suas incursões provocavam
reações de parte dos clérigos e religiosos dos territórios vizinhos da região do Prata, que por
vezes solicitavam a instalação da Inquisição no Brasil, também devido a sua presença e ao
êxodo provocado pela visitação124
. Obviamente, à época seus interesses econômicos eram
bem mais amplos e voltavam-se também para a região do Peru e das minas de Prata de
Potosi, cujos mandatários tinham a mesma preocupação em relação aos portugueses que
por lá andavam.
Boleslao Lewin, em seu El Judio en la Epoca Colonial, cita a “Ley de Indias”,
de 1625 (Libro IX, Titulo XXVI), que se refere a isso: “Porque desde el Brasil entram por
tierra en la Província del Paraguay, e pasan a las del Perú muchos Estrangeros
Flamencos, Franceses y de otras Naciones (...)”. Do mesmo modo chama a atenção a Real
Cédula de 17 de outubro de 1602, que ordena que se faça sair os portugueses e estrangeiros
que teriam entrado na região do Prata sem licença:
“(...) En los puertos y partes de essa probincia tantos estrangeros y
especialmente ay muchos portugueses que an entrado por el rio de la plata y otras partes
con los navios de los negros y cristianos nuebos y gente poco segura en las cosas de
122
. Ver N. Falbel, “Um argumento polêmico em Vicente da Costa Matos”, in Em Nome da Fé (Estudos in
memoriam de Elias Lipiner), São Paulo, Perspectiva, 1999, pp. 91-113. Por vezes, propor-se-á sua expulsão,
assim como ocorreu entre 1621 e 1623, e outras ocasiões.
123
J.G. Salvador, Os Cristãos-Novos e o Comércio..., op. cit., p. 12; J. Lúcio Azevedo, História dos Cristãos-
Novos, 2.ª ed., Lisboa, Liv. Clássica Editora, 1975, p. 162.
124
Lafuente Machaim, Los portugueses en Buenos Aires en el Siglo XVII, B. Aires, pp. 103-4.
45
nuestra santa fee Catholica Judaiçantes y que en los puertos de las indias ay mucha gente
desta Calidad (...)”125
De fato, a preocupação com os judaizantes nas capitanias do sul levou a que
um religioso, frei Diogo do Espírito Santo, vigário na Casa de Nossa Senhora do Carmo,
solicitasse que o Santo Ofício promovesse a vinda de um visitador. Efetivamente, chegaria
em 1627 o licenciado Luís Pires da Veiga126
, credenciado para visitar os reinos do Congo,
Angola e Brasil. Além da Bahia e Rio de Janeiro, um visitador da Inquisição chegaria pela
primeira vez à Capitania de São Vicente, e podemos imaginar que isso obrigou seus
habitantes cristãos-novos a procurar refúgio em outros lugares. Assim mesmo, sabemos que
em 1628 ele se encontrava em São Paulo ouvindo denunciantes e confitentes, assim como o
fizera no Rio de Janeiro, onde várias pessoas foram denunciadas, seguindo, depois, para o
Espírito Santo127
.
A supervisão inquisitorial no sul continuaria com resultados, por vezes,
dramáticos para os judaizantes levados a julgamento em Lisboa, sofrendo os habituais
processos e procedimentos da maquiavélica e malévola instituição em Portugal. Contudo, o
papel econômico que os cristãos-novos desempenhavam, seja no reino ou nas colônias,
impedia, por vezes, a execução radical e persecutória da nefanda instituição, assumindo o
Estado uma atitude benevolente em relação aos cristãos-novos e fazendo vista grossa em
relação à heresia, quando se sobrepunham seus interesses imediatos. A história das relações
entre o poder secular e a Inquisição mostra o quanto elas oscilaram, em boa parte devido à
consciência – verdade é que despertada por alguns luminares – de que as restrições
impostas à “gente na nação” prejudicavam a sociedade e a economia portuguesa, mormente
quando, desde os inícios do século XVII, ela estava sofrendo a concorrência superior de
outros, e em particular do expansionismo mercantil holandês. Tanto no Oriente quanto no
Novo Mundo, a presença dos outros povos europeus se impunha apesar do pioneirismo
ibérico nas descobertas marítimas. E muitos foram os que viram na política persecutória aos
judeus e cristãos-novos de Portugal, e no conseqüente êxodo da península para outros
lugares a causa maior para a sua ruína, sem que pudessem impor o seu ponto de vista, a não
ser transitoriamente. A exclusão dos cristãos-novos da sociedade portuguesa como um
todo, restringindo sua participação em cargos públicos, impedindo a manifestação de seu
talento na administração em todos os seus aspectos, nas colônias e na metrópole, sem
dúvida teve um preço alto ao império colonial, pois a fuga de capitais importantes
esvaziava os cofres do tesouro real, além de outras conseqüências. Nesse sentido, a nobreza
reinol, que tinha naturalmente a dificuldade de se adaptar à nova mentalidade mercantilista
que acompanhava o ingresso da Europa na modernidade, deixando para trás o mundo
medieval que desdenhava a usura, a atividade mercantil e pecuária, prevaleceu na classe
dirigente do Estado Português até o século XVIII. Economistas do porte de Duarte Gomes
Solis, autor do tratado Alegación em Favor de la Compañia de la India Oriental, por volta
de 1621, propunha um plano para incrementar o comércio ultramarino, que na época se
125
B. Lewin, El Judio en la Epoca Colonial, B. Aires, Ed. Colégio de Estudos Superiores, 1939, pp. 51-2.
126
Ele não figura no Catálogo de frei Pedro Monteiro. Ver N. Falbel, O Catálogo dos Inquisidores de Frei
Pedro Monteiro e sua Complementação por um Autor Desconhecido, São Paulo, CEJ da USP, 1980.
127
ANTT, Inquisição de Lisboa, Contra os Cristãos-Novos, ms. n.º 24, apud J. G. Salvador, Cristãos-Novos,
Jesuítas e Inquisição, op. cit., pp. 108-9.
46
encontrava com entraves de toda natureza128
, assim como o faria o padre Antonio Vieira.
Este último, profundo conhecedor da mentalidade portuguesa, tinha visão da importância
do ativismo econômico dos cristãos-novos para a manutenção das conquistas ibéricas, e ao
intentar demonstrar isso incorreu no pecado de defesa dos “heréticos judeus” e suspeita de
judaísmo, levando-o ainda a ser processado pela Inquisição129
. Mas é preciso ainda lembrar
que o êxodo de judeus e cristãos-novos de Portugal não se restringiu apenas a homens de
negócio, pois abrangeu uma vasta gama de profissionais e artesãos que desempenhavam um
papel econômico importante na sociedade ibérica, ainda que a historiografia que trata do
assunto tenha por hábito focalizar os que exerciam uma atividade mercantil. Basta
examinar as profissões dos que foram processados pela Inquisição para se inteirar do
quanto elas abrangiam praticamente todos os ramos da atividade humana, das mais
humildes, entre elas a de curtidor, tecelão, alfaiate, sapateiro, ferreiro, coureiro, tratante e
outras, até as denominadas liberais, tais como professor universitário, médico ou físico,
advogado, além de clérigos e militares. A sociedade portuguesa, na metrópole e na colônia,
contava com a presença dos descendentes dos judeus conversos desde que foram obrigados
a aceitar o batismo, a partir de 1497. Era inevitável a penetração desse elemento
numericamente significativo em todos os aspectos da vida social ibérica, e do mesmo modo
que ocorreu na Espanha muito antes, devidos às conversões em massa no ano de 1391,
ocorreria posteriormente em Portugal, adicionado a um processo de mesclagem devido aos
casamentos entre famílias de cristãos-velhos e cristãos-novos, mesmo havendo de um lado
certo repúdio e de outro uma tendência endogâmica a fim de preservar sua identidade
religiosa. Porém, o repúdio se manifesta fundamentalmente a partir das restrições impostas
pelos estatutos de pureza de sangue, que limitavam a ascensão social daqueles que
possuíam “sangue infecto”. O famoso médico cristão-novo Ribeiro Sanches, em um
opúsculo escrito em 1735 intitulado “Origem da Denominação de Cristão-Velho e Cristão-
Novo em Portugal”, assim como d. Luís da Cunha no conhecido Testamento Político
dirigido a d. José, é de opinião que a instituição inquisitorial promove entre os perseguidos
cristãos-novos o judaísmo mais do que o refreia ou elimina130
. Ele dirá que “foi mais
notória a diferença entre cristão-novo e cristão-velho depois que se estabeleceu o costume
de tirarem inquirições, de todos aqueles que queriam entrar no Estado Eclesiástico, ou
cargos honrosos da República”, sendo originado tal coisa do decreto da Sé de Toledo, feito
no ano de 1547131
. Mas no distante Brasil a questão assumia proporções menos graves, e os
que aqui aportavam estavam dispostos desde o início a serem mais tolerantes e menos
preconceituosos, pois a realidade os impelia a seguir o impulso da vida e da sobrevivência,
128
Duarte Gomes Solis, Alegación em Favor de la Compañia de la India Oriental, ed. e pref. por Moisés
Bensabat Amzalak, Lisboa, 1955. Ver J. G. Salvador, Os Cristãos-Novos e o Comércio... (op. cit., pp. 16-7),
que chama a atenção ao fato de que Solis se referia ao Brasil, e não à Índia.
129
Ver Os Autos do Processo de Vieira na Inquisição (ed. transc., glossário e notas de Adma Muhana, São
Paulo, ed. UNESP-FCEB, (1995), e o seminal estudo de Alberto Dines, Vínculos do Fogo, I, (São Paulo,
Companhia das Letras, 1992), que se refere a Vieira com uma penetração original em seus escritos e
pensamentos; A. Baião, Episódios Dramáticos da Inquisição Portuguesa, I, Lisboa, 1936, pp. 205-316.
130
Christãos Novos e Christãos Velhos em Portugal, 2.ª ed, pref. de Raul Rego, Porto, ed. Paisagem, 1973.
131
Idem, ibidem, p. 36.
47
que o isolamento e a solidão do vasto território a ser colonizado acentuavam. Daí o
casamento com indígenas, bem como a bastardia com o elemento africano que começava a
se tornar mais presente à medida que a indústria açucareira ia se desenvolvendo e
assumindo um papel central na economia colonial132
.
O que vai caracterizar a atividade dos cristãos-novos em território brasileiro no
processo de povoamento e colonização é a economia açucareira, que demandava a mão-de-
obra escrava, no que implicava também a participação dos mesmos no tráfico negreiro que
os portugueses vinham fazendo há muito tempo no continente africano.
A multiplicação de engenhos de açúcar se estende do norte ao sul do território e
faz da colônia um grande centro de produção e exportador para a metrópole e todas as
nações com as quais Portugal comercializava133
. Mas, por outro lado, apesar da sua
importância, precisamos lembrar que São Paulo era um reconhecido centro de irradiação de
sertanistas para exploração e busca de minerais preciosos e de expedições bandeirantes,
atraindo para cá indivíduos de todas os lugares134
. O incremento maior deu-se durante o
período do governador d. Francisco de Souza, ainda que aventureiros e forasteiros, na
capitania, assim como em outros lugares, representassem uma parcela da população
instável que se aproveitava, temporariamente, das oportunidades para amealhar certa
fortuna e logo desaparecer. As Atas da Câmara de São Paulo mencionam a estes e por
vezes os seus nomes aparecem em uma única menção para nunca mais serem lembrados. O
levantamento extraordinário de Pedro Taques de Almeida Paes Leme em sua Nobiliarquia
Paulistana Histórica e Genealógica31352
nos fornece uma quantidade
considerável de nomes e famílias de cristãos-novos, não mencionados em seu livro como
tais, porém identificados posteriormente como vítimas da Inquisição, que apesar de tudo
não cessou de supervisionar a religiosidade sempre suspeita dos habitantes da colônia até os
dias do Marquês de Pombal.
132
C. R. Boxer, em O Império Colonial Português, Lisboa, Ed. 70, 1969, pp. 279-303, dedica atenção à
questão da “Pureza de Sangue” em toda a extensão do Império português.
133
J. Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Econômico, 3.ª ed., Lisboa, Livr. Clássica Editora, 1978, cap. “O
Império do Açúcar”, pp. 215-87. O caso de João Nunes, estudado por Sonia Aparecida Siqueira (Separata dos
Anais do V Simpósio Nacional dos Prof. Univ. de História, Campinas, 1971), é ilustrativo por se tratar de um
magnata do açúcar denunciado à Inquisição; ver E. de O. França, Engenhos, Colonização e Cristãos-Novos na
Bahia Colonial (Separata dos Anais do IV Simpósio Nacional dos Prof. Univ. de História, São Paulo, 1969).
Porém, para o estudo da presença dos cristãos-novos em Pernambuco, e sob o domínio holandês, e o papel
que tiveram na economia açucareira, são indispensáveis os trabalhos de José Antonio Gonsalves de Mello, a
começar do clássico Tempo dos Flamengos e a terminar com a obra Gente da Nação, Recife, Massangana,
1989.
134
Como bem demonstrou J. P. Calógeras, Formação Histórica do Brasil (Rio de Janeiro, Pimenta de Mello,
1930, p. 25), “S. Vicente e São Paulo, a antiga Piratininga, durante centenas de anos foram os postos
avançados donde irradiaram as expedições militares à procura da fronteira sulina (...) não somente em relação
aos hispanos, mas também em relação aos invasores franceses e holandeses”.
135
São Paulo, Itatiaia-USP, 1980.
48
6. Judeus em São Paulo: um pouco de sua história
A participação dos judeus cristãos-novos na colonização do território
descoberto por Portugal se deu desde o início, pois as perseguições ocorridas durante os
séculos XVI e XVII levaram a que abandonassem a península ibérica e, como um
verdadeiro “êxodo”, procurassem as terras do império colonial português, onde quer que se
encontrassem.
Sabemos que os cristãos-novos tiveram de imediato um papel econômico
importante no comércio da terra de Santa Cruz, e é conhecido o fato de terem sido eles os
primeiros a ser contratados para a exploração dos territórios descobertos, destacando-se
nesse sentido a figura de Fernando de Noronha, que desde os primeiros anos da descoberta
passou a mercadear com o pau-brasil, ainda que não temos qualquer prova segura de que
ele, pessoalmente, era cristão-novo. O mesmo estímulo foi dado a outros correligionários
seus, principalmente vindos de São Tomé e da Madeira, que constituíram em boa parte as
feitorias estabelecidas na costa brasileira.
Foi também esse elemento que desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar em
nossa terra, e por ocasião da primeira visitação do Santo Ofício, em 1591, muitos entre os
cristãos-novos seriam apontados como judaizantes perante os representantes da terrível
instituição.
Nos primórdios da história de São Vicente, os cristãos-novos encontrarão um
lugar seguro e servirão à colonização inicial do território paulista. As atas da Câmara de
São Paulo, de 1578, 1582, fazem referência à presença de “judeus cristãos” vivendo dentre
a população da vila. E nas denunciações da Bahia, durante a visitação do Santo Ofício, de
1591-93, encontramos a menção de cristãos-novos de São Vicente, entre eles Francisco
Mendes, “que é da geração de uns cristãos-novos que chamam os Valles em São
Vicente”.136
Podemos, assim, supor que o Planalto Paulista constituía um lugar ideal para
abrigar e proteger aqueles que eram perseguidos pela Inquisição ibérica. O sertão denso e
bravio e a própria atitude de tolerância da Companhia de Jesus, que incluía em suas fileiras
também descendentes da estirpe judaica e que deram os primeiros passos para a fundação
do núcleo formador da futura metrópole paulista, dava a eles a segurança necessária para
viver com uma tranqüilidade maior do que em outros lugares.
Na história paulista, São Vicente, que já aparecia em mapas desde 1502,
tornou-se um ponto de tráfico de escravos indígenas e lá, por esse tempo, se agrupavam
doze ou quinze europeus, portugueses e espanhóis que constituíram um centro inicial de
povoamento que se estendia das praias da ilha de Santo Amaro até Cananéia. Eram o
célebre bacharel, ainda não identificado , seus genros, Gonçalo da Costa, Antonio
Rodrigues, João Ramalho, Mestre Cosme, Duarte Peres ou Pires, e outros náufragos sem
nome...”137
Entre esses a afigura, até hoje enigmática, de João Ramalho, sobressai como
um personagem realcionado com os índio tupiniquins e tapuias. Sobre ele escreveu Tomé
de souza ao rei D. João III em junho de 1553: “...ordenei outra vila no começo do campo
136
Primeira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, Denunciações da Bahia (1591-1593), São Paulo,
ed. P. Prado, 1925, p.314. 137
Prado, P., Paulística, Rio de Janeiro, ed. Ariel, 1934, p. 45.
49
desta vila de São Vicente de moradores que estavam espalhados por ele e os fiz cercar e
juntar para se poderem aproveitar todas as povoações deste campo e se chama a vila de
Santo André, porque onde a sitiei estava uma ermida deste apóstolo e fiz dela a João
Ramalho natural do termos de Coimbra que Martim Afonso já achou nesta terra quando cá
veio. Tem tantos filhos e netos, bisnetos e descendentes dele o não ouso dizer a V.A., não
tem cã na cabeça nem no rosto e anda nove léguas a pé antes de jantar...” A verdade é que
pouco se sabe sobre ele, nem quando chegou ao Brasil e tão pouco seus antecedentes
ibéricos. Mesmo porque quando chegou o donatário Martim Afonso de Souza, em 1532, a
São Vicente, assim nos diz Washington Luís, o lugar “já era um porto conhecido, com lugar
marcado nos rudimentares mapas da época, uma espécie de pequena feitoria portuguesa, de
iniciativa particular, visitada por esquadras para o tráfico de escravos, onde se forneciam
vitualhas necessárias à navegação de longo curso, se construíam bergatins e se contratavam
línguas da terra.” 138
O próprio Martim Afonso que viera do sul e se deteve em São Vicente
elevano-a a vila e dando os primeiros passos administrativos da pequena povoação trouxera
consigo cristãos-novos para se estabelecerem na região ajuntando-se aos demais que já se
encontravam ali, tais como o bacharel, mestre Cosme, fernandes Melchior, Henrique
Montes e Francisco Chaves, conforme nos informa o historiador José Gonçalves
Salvador.139
Da aldeia de Santo André da Borda do Campo, núcleo onde viveu João
Ramalho, nasceria a cidade de São Paulo, pois em 1560 Mém de Sá transferiria seus
moradores para Piratininga, “lugar mais forte e mais defensável , e mais seguro assim dos
contrários como dos nossos índios...”, dessa forma se expressavam os moradores Jorge
Moreira e Joannes Alves em carta de 1561, dirigida à Regente D. Catarina. Os seus
descendentes seriam os mamelucos caçadores de índios, “peças” do comércio escravo e
caçadores de ouro e pedras preciosas. Esses cristãos-novos deram uma contribuição
decisiva para odesenvolvimento da vila de Piratininga e os seus nomes se encontram entre
as famílias que constituíram os seus núcleos dirigentes desde o século XVI, ou seja, dos
primórdios da fundação da vila. Com a descoberta das minas de ouro e prata do Perú, São
Paulo passou a ser uma via de acesso até aquele território que podia ser alcançado em uma
Segunda etapa através do Paraguai. Além do mais a industria açucareira em franco
desenvolvimento prometia riquezas a todos e estes fatores foram suficientes para atraírem
cristãos-novos que se aventuravam nessas regiões em busca de subsistência mas também , e
talvez acima de tudo, a liberdade que não usufruiam em outro lugar, contribuindo desse
modo à povoação do território.
Eram eles sertanistas, bandeirantes que desbravavam os sertões em busca de
minerais preciosos e que, devido às suas incursões em direção ao sul asseguravam aquelas
fronteiras de qualquer domínio espanhol. Somente assim podemos entender a relativa
tolerância das autoridades da época diante da destruição brutal das reduções jesuíticas
praticada por esses aventureiros impiedosos que apresavam os índios das missões. E não é
de estranhar que em vários documentos da época, escritos por jesuítas espanhóis, os
portugueses de São Paulo são vistos e identificados como hereges e judeus capazes de
cometerem as maiores barbaridades contra o gentio catequizado pelos inacianos.
Já em 1613, as atas da Câmara de São Paulo, se referem abertamente a
“cristãos-novos e homens da nação hebréia” mostrando, provavelmente, que havia não
138
Na Capitania de São vicente, São Paulo, ed. Itatiaia-Universidade de São Paulo, 1980, p. 65. 139
Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição, São Paulo, ed. Livraria Pioneira-Universidade de São Paulo, 1969,
p.187.
50
somente judeus batizados ou cristãos-novos, mas também aqueles que efetivamente
professavam a fé judaica.
O fato é que em 1625 o elemento cristão-novo no sul fazia notar a sua presença
ao ponto que um frade, Diogo do Espírito Santo, resolveu escrever à Inquisição a fim de
pedir sua interferência, o que levaria ao envio de um visitador , Pires da Veiga, a vir ao Rio
de Janeiro no ano de 1627.
Em suma, o povoamento das capitanias meridionais contou com uma presença
significativa de cristãos-novos e judeus, a começar do litoral, ou seja, São Vicente e Santos,
passando para o Planalto Paulista ou ao altiplano de Piratininga. Nesse mesmo contexto
temos de reconhecer o papel dos jesuítas na formação e povoação dos núcleos
populacionais paulistas, cabendo assinalar a presença de cristãos-novos entre os membros
da ordem, e em particular a figura do padre Leonardo Nunes, que fora à Bahia e enviado
posteriormente a São Vicente, subindo a seguir ao planalto. Foi ele o primeiro a pensar em
instalar na região entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, no ponto onde se ergueria São
Paulo, a casa e o colégio da Companhia de Jesus, o que se concretizaria com Manuel da
Nóbrega, em 1554.
A expansão de São Paulo se deve, também, em boa parte ao incremento
mineralógico na época de d. Francisco de Souza, que atraiu uma população ávida de
riquezas que a fantasia e a imaginação dos homens encontrava nas florestas, nas montanhas
e nas águas dos infindáveis rios. Os que eram mais realistas preferiam continuar cultivando
as suas fazendas, que começaram a circundar a periferia da capital paulista, e entre esses
senhores não faltava o elemento cristão-novo. Tal expansão agropastoril foi acompanhada
de uma intensa busca de mão-de-obra indígena, permitindo, assim, a cobertura de novos
caminhos pelo interior. As sesmarias acabaram levando o povoamento em direção aos vales
do Paraíba e do Tietê, advindo daí a criação de cidades como Mogi das Cruzes, que ficava à
entrada do vale, e isso devido à iniciativa de d. Francisco de Souza. Mogi das Cruzes seria a
primeira povoação naquela região, e após 1630 se sucederiam outras, tais como Taubaté,
Guaratinguetá, Jacareí, e várias outras, que contaram com a participação do elemento
judaico ou cristão-novo.
Por outro lado, a expansão caminhava em direção ao sul numa área extensa que
chegara às fronteiras do Paraguai, numa ação contínua de desbravamento da selva e de
fixação de novos povoados e vilas. Santana do Parnaíba seria uma das primeiras dessa
região, elevada a vila em 1625. Seguir-se-iam outras, e entre elas Sorocaba e Itú, todas elas
servindo de vias de acesso ao Paraguai e às regiões do Prata.
Portanto o devassamento do “hinterland”, obra de pioneiros, de gente indômita,
valente e corajosa, sem receio da vastidão e das distâncias a percorrer contou com a
participação ativa dos cristãos-novos sulinos. A atração das riquezas minerais , o mito da
Sabaraboçu, a serra dourada, existente nas capitanias da região atraiu e motivou as
expedições dos sertanistas e bandeirantes que, ao par da busca do ouro e pedras preciosas,
também se ocupavam com o preamento dos indígenas. Mas a medida que os
descobrimentos auríferos foram se estendendo também foi aumentando o número do
elemento escravo africano. As conseqüências desse surto mineralógico se fizeram logo
sentir. Houve um aumento populacional considerável com a implícita modificação na vida
social, econômica e administrativa dos povoados sulinos. O crescimentos populacional se
revelava pela criação de novas vilas e povoados e a implementação de novos métodos
administrativos. Novos caminhos foram abertos e a ligação entre as capitanias sulinas bem
51
como com as do norte tornaram-se mais fáceis como no caso de Minas gerais e Bahia, que
se fazia também através do rio São Francisco.
O “rush” mineralógico atraiu o elemento cristão-novo e não é de se estranhar
que na luta entre paulistas e “emboabas” se encontrava Manuel Nunes Viana, um cristão-
novo. Além do mais é bem possível que o recrudescimento da atividade inquisitorail no Rio
de Janeiro, a partir de 1705, que levou a uma perseguição tenaz aos judaizantes naquela
região tenha uma relação direta com a prosperidade da região vizinha.
Desse modo, encontramos entre os estrangeiros que começavam a visitar o país
e nele se estabelecer também os que professavam a fé judaica. Podemos observar entre eles
judeus ingleses, alemães, e na segunda metade do século uma acentuada imigração vinda da
Alsacia-Lorena, que acabou se organizando como uma comunidade própria. Não somente
na cidade de São Paulo eles de encontravam presentes, mas também se instalaram em
cidades do interior paulista tais como Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Rio Claro, Franca
e outras.8 Sua presença individual pode ser observada nessas cidades no decorrer de todo o
século XIX, e em lugares como Campinas chegaram a formar uma colônia significativa do
ponto de vista numérico e de sua atuação econômico-social. A sua ocupação é a mais
diversificada, e podemos dizer que na São Paulo pouco desenvolvida das primeiras décadas
do século passado – que Auguste de Saint-Hilaire descreve como possuindo uma população
limitada, com cerca de 20.000 habitantes, mas com edifícios públicos bem conservados,
com ruas largas e praças públicas9 –
tais imigrantes judeus vindos de vários países da
Europa introduziriam os hábitos de vida do Velho Continente, trazendo um aporte
civilizatório à província que recém saía de seu acanhamento colonial. E Saint-Hilaire nos
informa que “encontra-se na cidade uma profusão de lojas bem sortidas e bem instaladas,
onde se vê uma variedade tão grande de artigos quanto nas do Rio de Janeiro”, e,
profetizando, ainda dirá mais adiante: “o Brasil ainda deve continuar totalmente agrícola,
não tendo ainda alcançado a fase em que seria vantajoso instalarem-se nele grandes
indústrias. Entretanto, quando chegar essa época, é por São Paulo que se deve começar”.
Portanto, a cidade começava a atrair os imigrantes europeus que pouco a pouco introduziam
um comércio diversificado, que se assentava fundamentalmente sobre os produtos
importados da manufatura ou indústria européias.
Os judeus franceses trouxeram à cidade de São Paulo o bom gosto no vestir e
também o consumo do supérfluo, estabelecendo na capital paulista casas de jóias e afins.
Mas empreenderam a instalação de companhias de seguros, ateliês de fotografias, lojas de
calçados, fazendas e couros, etc. Outros eram importadores de alto vulto e acabaram
ascendendo na sociedade paulista pela sua riqueza e iniciativas sociais. É o caso do judeu
alemão Victor Nothmann, irmão de Maximilian Nothmann, que vivia no Rio de Janeiro,
bem como o de Frederico Glete, lembrados hoje pelos nomes dados a duas ruas da cidades.
Sobre os judeus alemães Glete e Nothmann, assim como seus confrades católicos ou
protestantes, nos relata Paulo Cursino de Moura no seu livro de evocações sobre São Paulo
de outrora:11
“Não foi ele (Glete) o primeiro germânico que teve a inspiração de contribuir
para o engrandecimento de São Paulo. Quando Glete se estabeleceu em São Paulo, a
colônia alemã aqui já era antiga e prestante. Mas, modorramente, ia acompanhando o andar
dos tempos e da civilização, como podia. De 1870 para cá, coincidindo com a vitória da
guerra Prussiana e com os primeiros arrancos do nosso progresso no governo provincial,
desse verdadeiro realizador – João Teodoro Xavier, de quem não nos cansamos de lembrar
–, o empreendimento alemão em terras paulistanas tomou vulto extraordinário. Em tudo e
por tudo. Em todos os ramos de atividade. Na administração e nas empresas particulares.
52
Pode-se dizer que os alemães foram desbravadores da rotina comercial em São Paulo. Até o
café deve sua assombrosa exportação de hoje a Theodor Wille, o extraordinário
comerciante alemão que em 1845 teve a glória de exportar diretamente para a Europa a
primeira saca de café da então província de São Paulo” (...) “As tentativas para o
abastecimento de água e para a rede de esgotos, obra de alemães. Arruamentos.
Calçamentos. Jardins Públicos. Em tudo, a experiência, o arrojo, a ambição do germânico
no São Paulo antigo.”
Da aldeia de Santo André da Borda do Campo, núcleo onde viveu João
Ramalho, nasceria a cidade de São Paulo, pois em 1560 Mem de Sá transferiria seus
moradores para Piratininga, “lugar mais forte e mais defensável, e mais seguro assim dos
contrários como dos nossos índios...”, assim diziam os moradores Jorge Moreira e Joannes
Alves em carta de 1561 dirigida à Regente d. Catarina. Os seus descendentes seriam os
mamelucos caçadores de índios, “peças” do comércio escravo e caçadores de ouro e pedras
preciosas.
Das filhas de João Ramalho várias casaram-se com cristãos-novos, entre eles
Lopo Dias, Pascoal Fernandes e Bartolomeu Camacho, e com as suas netas casaram-se
Manuel Fernandes e Cristóvão Dinis. Esses cristãos-novos deram uma contribuição
decisiva para o desenvolvimento da vila de Piratininga e os seus nomes se encontram entre
as famílias que constituíram seus núcleos dirigentes desde o século XVI, ou seja, dos
primórdios da fundação da vila. Com a descoberta das minas de ouro e prata do Peru, São
Paulo passou a ser uma via de acesso até aquele território, que podia ser alcançado em
segunda etapa através do Paraguai. Além do mais, a indústria açucareira em franco
desenvolvimento prometia riquezas a todos, e esses fatores foram suficientes para atrair
cristãos-novos que se aventuravam nessas regiões em busca de subsistência, mas também, e
talvez acima de tudo, da liberdade que não possuíam em outro lugar, contribuindo assim
para a povoação do território.
Eram eles sertanistas, bandeirantes que desbravavam os sertões em busca de
minerais preciosos, e que devido à penetração em direção ao Sul, asseguravam aquelas
fronteiras de qualquer domínio espanhol. Somente desse modo podemos entender a relativa
tolerância das autoridades da época perante as destruições selvagens das reduções jesuíticas
por parte desses aventureiros impiedosos que faziam o apresamento dos índios das missões.
E não é de se estranhar que em vários documentos da época, escritos por clérigos espanhóis
da ordem jesuítica, os portugueses de São Paulo sejam vistos e identificados como hereges
judeus capazes de cometerem as maiores barbaridades contra o gentio catequizado pelos
inacianos.
Já em 1613, as atas da Câmara de São Paulo se referem abertamente a
“cristãos-novos e homens da nação hebréia”, mostrando que havia não somente judeus
batizados ou cristãos-novos, mas também aqueles que não eram, ou seja, “homens da nação
hebréia”. O fato é que, em 1625, o elemento cristão-novo no Sul era tanto que um frade,
Diogo do Espírito Santo, resolveu escrever à Inquisição pedindo sua interferência direta, o
que levaria ao envio de um visitante daquela instituição, Pires da Veiga, a chegar ao Rio de
Janeiro em 1627.
A medicina, que foi uma ocupação judaica tradicional desde os tempos
medievais na península ibérica, assim como em outras regiões do continente europeu, teve
sua continuidade em terras brasileiras, e nas capitanias do Sul vamos encontrar cristãos-
novos exercendo a profissão de médicos. Alguns nomes que registram sua presença em São
Paulo são os do dr. José Serrão, genro de Fernão Dias Paes, dr. Antonio Vieira Bocarro,
53
Paulo Rodrigues Brandão e talvez outros que não conhecemos. Apesar de tudo, o Rio de
Janeiro, nessas primeiras décadas do século XVII, era mais favorecido por esses
profissionais, ao contrário de São Paulo, que ainda nesse tempo se ressentia pela falta de
médicos. Mas aqui e acolá, já na segunda metade daquele século, aparecem os esculápios
dr. João de Mongelos Garcez, Francisco Rodrigues Brandão, filho de Paulo Rodrigues
Brandão, dr. João Rodrigues de Abreu, Domingos Pereira da Gama e outros.
Também encontramos cristãos-novos, e em bom número, entre os que exerciam
a advocacia, assim como entre os funcionários da administração pública colonial, apesar de
nem sempre ser fácil sua identificação. O historiador José Gonçalves Salvador, em sua obra
já citada, afirma que eram cristãos-novos os advogados Antônio Camacho, o licenciado
Salvago, Geraldo de Medina, Belchior de Araujo e Luiz Fernandes Francês, todos eles
atuantes em São Paulo durante o século XVII.
A influência judaica em São Paulo ou a presença de cristãos-novos judaizantes
no planalto de Piratininga se faz sentir durante o século seguinte, isto é, no século XVIII,
pois muitos dos criptojudeus e seus descendentes aparecem nos processos da Inquisição
portuguesa nesse tempo, ainda que os mais antigos fossem os residentes no Rio de Janeiro e
adjacências.
A verdade é que, com o passar dos anos, os judeus ou os cristãos-novos
judaizantes de São Paulo foram perdendo o pouco da lembrança que possuíam a respeito do
judaísmo, uma vez que em certos momentos a fiscalização inquisitorial era extremamente
rigorosa no Brasil, e não poucos pagaram com a vida a temeridade de manter certos
costumes judaicos. As famílias se mesclavam com elementos cristãos-velhos. Aliás, desde
os inícios da colonização essa mescla se deu, e o sangue hebreu diluiu-se inteiramente na
composição populacional do planalto paulista ao ponto de podermos afirmar com segurança
que nos troncos paulistas tradicionais sempre podemos encontrar um vínculo com o
elemento cristão-novo. Nesse sentido, os trabalhos genealógicos de um Pedro Taques6 ou
de M. E. de Azevedo Marques7 e outros historiadores permitem-nos acompanhar as
ramificações ocorridas com essas primeiras famílias e sua descendência posterior, ou seja,
até o tempo em que os autores mencionados escreveram suas obras. Mas seus rastros como
judeus ou judaizantes já se haviam apagado inteiramente por essa época.
A grande mudança quanto à política imigratória relativa a judeus no Brasil em
geral, e por conseqüência em São Paulo, dar-se-á com o estabelecimento da família
imperial portuguesa em nosso território, a partir de 1808. D. João VI proclamará, em 28 de
janeiro daquele ano, a Abertura dos Portos às Nações Amigas, e com isso abrir-se-ão as
portas para uma nova imigração, que após a assinatura do tratado comercial com a
Inglaterra, em 1810, favorecia e incentivava o ingresso do elemento estrangeiro ao Brasil.
Além do mais, o artigo 12 do tratado comercial assegurava aos súditos britânicos a
liberdade de religião em território nacional, e portanto ninguém poderia molestá-los sob
esse aspecto.
Na história paulista, São Vicente, que já aparecia em mapas desde 1502,
tornou-se um ponto de tráfico de escravos indígenas e lá, nessa época, se agrupavam “doze
ou quinze europeus, portugueses e espanhóis que constituíram um centro inicial de
povoamento, que se estendia das praias da ilha de Santo Amaro até Cananéia”. Eram o
célebre bacharel, ainda não-identificado, seus genros, Gonçalo da Costa, Antonio
Rodrigues, João Ramalho, Mestre Cosme, Duarte Peres ou Pires, e outros náufragos sem
nome.
54
Entre esses, a figura até hoje enigmática de João Ramalho sobressai como um
personagem relacionado com os índios tupiniquins e tapuias. Sobre ele escreveu Tomé de
Souza ao rei d. João III em junho de 1553: “Ordenei outra vila, no começo do campo de
São Vicente, de moradores que estavam espalhados por ali, e os fiz cercar e juntar para se
poderem aproveitar todas as povoações deste campo, que se chama vila de Santo André,
porque onde a sitiei estava uma ermida deste apóstolo e fiz dela a João Ramalho natural do
termo de Coimbra que Martim Afonso já achou nesta terra quando cá veio. Tem tantos
filhos e netos, bisnetos e descendentes dele que não ouso de dizer a V.A., não tem cã na
cabeça nem no rosto e anda nove léguas a pé antes de jantar...
Tudo indica que este patriarca era um cristão-novo, cuja ascendência judaica
pode ser comprovada pelo “kaf” em sua assinatura e que mereceu a atenção de tantos
historiadores interessados em provar sua origem. A verdade é que não se sabe quando ele
chegou ao Brasil e nem de seus antecedentes ibéricos. Mesmo porque, quando chegou o
donatário Martim Afonso de Souza, em 1532, a São Vicente, nos diz Washington Luís em
sua obra, o lugar “já era um porto conhecido, com lugar marcado nos rudimentares mapas
da época, uma espécie de pequena feitoria portuguesa, de iniciativa particular, visitada por
esquadras para o tráfico de escravos, onde se forneciam vitualhas necessárias à navegação
de longo curso, se construíam bergatins e se contratavam línguas da terra”. O próprio
Martim Afonso de Souza, que viera do Sul e se deteve em São Vicente, elevando-a a vila e
dando os primeiros passos administrativos da pequena povoação, trouxera consigo judeus
ou cristãos-novos para se estabelecerem na região, ajuntando-se aos demais que já se
encontravam ali, tais como o bacharel mestre Cosme Gernandes Melchior, Henrique
Montes e Francisco Chaves, conforme nos informa o historiador José Gonçalves Salvador.
Portanto, o devassamento do “hinterland”, obra de pioneiros, de gente
indômita, valente e corajosa, sem receio de distâncias e sem temores, conforme a expressão
de José Gonçalves Salvador, contou com a participação ativa dos cristãos-novos sulinos. A
fama das riquezas minerais, o mito da Sabaraboçu, a serra dourada existentes nas capitanias
do sul atraíram e motivaram as expedições dos sertanistas e bandeirantes, que ao par da
busca de ouro e pedras preciosas, também se ocupavam com o preamento dos indígenas.
Mas na medida que os descobrimentos auríferos foram se estendendo, foi se dando em
número cada vez maior a introdução do elemento escravo africano. E como já havíamos
dito, as conseqüências desse surto mineralógico se fizeram logo sentir. Houve um aumento
populacional considerável, com a implícita modificação na vida social, econômica e
administrativa dos povoados sulinos. O crescimento populacional se mostrava pela criação
de novas vilas e povoados e o aperfeiçoamento dos métodos administrativos. Novos
caminhos foram abertos, e a ligação entre as capitanias sulinas, como destas com as do
Norte tornaram-se mais fáceis, como no caso de Minas Gerais e Bahia, que também se fazia
via rio São Francisco.
O próprio “rush” mineralógico atraiu o elemento cristão-novo, e não é de se
estranhar que na luta entre paulistas e “emboabas” se encontrasse a figura de líder do
cristão-novo Manuel Nunes Viana. Além do mais, há uma suspeita de que o
recrudescimento da atividade da Inquisição no Rio de Janeiro, a partir de 1705, e que
acabou por perseguir com tenacidade os cristãos-novos nessa região, tinha muito a ver com
essa prosperidade econômico-social. No fundo, eles eram um excelente prato à ganância
dos perseguidores, pois eram muitos e se destacavam como senhores de engenhos,
mercadores, funcionários públicos, além de se ocuparem com a exploração das minas
recém-descobertas.
55
Politicamente, eles tiveram muito a ver com o recuo da linha de Tordesilhas,
que estabelecia a divisão de terras descobertas entre Portugal e Espanha. O famoso
cartógrafo Pedro Nunes, cristão-novo, era zeloso em relação às conquistas de seu reino, e
em seus mapas incluía o Amazonas e a bacia do Prata entre os territórios portugueses,
ultrapassando em muito os limites do conhecido tratado. Assim, os exploradores
portugueses justificavam suas expedições sulinas em busca de índios e minérios. A guerra
permanente contra as “reduções” jesuíticas no século XVII alargou os caminhos para o sul,
e sabemos que, entre 1637 e 1641, a província do Uruguai se encontrava praticamente nas
mãos dos paulistas, ocupando-se o Tape (centro do atual Rio Grande do Sul) e o Guaíra.
A fundação da Colônia do Sacramento dar-se-ia para estabelecer os limites
sulinos do domínio português no Sul e o resultado das expedições onde os cristãos-novos
tomaram parte ativa. Entre os que participaram na colonização do Sacramento estavam os
cristãos-novos Brás Rodrigues Arzão e Vasco Pires da Mota. A Espanha acabaria
reconhecendo, em 1681, os direitos de domínio de Portugal naquela região. Em última
instância, esse foi o resultado do bandeirismo paulista, que constituiu o estilo de vida
peculiar dos inícios da colonização portuguesa, dos reinóis cristãos-velhos e cristãos-novos
Devemos ainda lembrar que os cristãos-novos de São Paulo tiveram um papel
de destaque em outras profissões que exigiam um conhecimento especializado e habilidade,
tais como a de mestres de fazer açúcares, físicos, barbeiros, boticários, atividades essas que
se concentravam em boa parte em mãos dos judeus vindos ao Brasil. A medicina que foi
uma ocupação judaica tradicional , desde os tempos medievais, na Península Ibérica assim
como em outras regiões do continente europeu, teve a sua continuidade em terrras
brasileiras e nas capitanias do sul vamos encontrar cristãos-novos exercendo a profissão de
médicos. Alguns nomes que registraram sua presença em São Paulo são os do Dr.José
Serrão, genro de Fernão Dias Paes, Dr. Antonio Vieira Bocarro, Paulo rodrigues Brandão e
talvez outros que não deixaram registro de seus nomes. Apesar de tudo o Rio de Janeiro,
nessas primeiras décadas do século XVII era mais favorecido com profissionais, em
oposição a são Paulo que ainda, nesse tempo, se ressentia pela falta de médicos. Mas aqui e
acolá, já na Segunda metade daquele século aparecem os esculápios Dr. João de Mongelos
Garcez, Francisco Rodrigues Brandão, filho de Paulo Rodrigues Brandão, Dr. João
Rodrigues de Abreu, domingos Pereira da Gama e outros. Também encontramos cristãos-
novos, e em bom número, entre os que exerciam a advocacia além de funcionários da
administração pública colonial, apesar de nem sempre ser fácil a sua identificação. Alguns
nomes são identificados como cristãos-novos tais como os advogados Antônio Camacho,
Geraldo de Medina, Belchior de Araujo e Luiz Fernandes francês, todso eles atuantes em
São Paulo durante o século XVII.140
A presença de cristãos-novos em São Paulo continuou no século seguinte, pois
muitos dos criptojudeus e seus descendentes aparecem nos processos da Inquisição
portuguesa desse tempo, ainda que os mais atingidos fossem os residentes no Rio de
Janeiro e adjacências. Com o passar do tempo eles acabaram por se mesclar com elementos
das famílias de cristãos-velhos, processo esse que já havia se iniciado desde o início da
colonização sendo que o sangue hebreu veio a diluir-se inteiramente na composição
populacional do planalto paulista, a ponto de podermos afirmar que nos troncos tradicionais
de Piratininga sempre poderemos encontrar um vínculo com o elemento cristão-novo.
140
V. Salvador, J.G., Os cristãos-novos, povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680), São Paulo,
ed. Pioneira-Universidade de São Paulo, 1976, p.226.
56
Nesse sentido os trabalhos genealógicos de um Pedro Taques141
ou de M.E. de Azevedo
Marques,142
e outros historiadores, permitem-nos acompanhar as ramificações ocorridas
com essas famílias e sua descendência posterior, ou seja, até o tempo em que os autores
mencionados escreveram suas obras. Mas os rastros de sua origem já se haviam apagado
por esse tempo.
O estabelecimento da família real portuguesa no Brasil, a partir de 1808, abriria
uma nova etapa na história do país e ao se proclamar em 28 de janeiro a Abertura dos
Portos às Nações Amigas abrir-se-ia as portas para uma nova imigração, que após a
assinatura do tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra, em 1810, iria favorecer o
ingresso do elemento estrangeiro no brasil. O artigo 12 desse tratado assegurava aos súditos
britânicos a liberdade de religião em território nacional e, portanto, ninguém poderia
molestá-los em razão de sua fé, que não era católica.
E mais adiante o cronista de São Paulo lembra os franceses e sua contribuição a
São Paulo em “outro terreno: o da elegância, o da moda, o da ‘coquetterie’, o da arte, o das
belas-letras”. Mas sabemos que não foi somente nisso. Apesar de tudo “todo mundo
conheceu”, diz Paulo Cursino, “de 1865 a 1877, os afamados perfumistas, cabeleireiros e
empoadores de postiços mágicos para as noitadas líricas do São José, estabelecidos com
suas lojas na mesma rua Imperatriz, já naquele tempo a predileta em matéria de elegância.”
“E as modistas? Uma penca. Todas francesas. Em 1865 eram existentes, em várias ruas do
Ouvidor, da imperatriz e de São Bento”. “Na música, Henri Louis Levy. Até hoje seu nome
é, na moderna metrópole, o centro de irradiação da mais prestigiada casa musical. Este, o
maior elogio ao seu grande valor artístico”.
Os franceses organizaram suas sociedades, e dentre elas fundou-se, por volta de
1881, a Sociedade Francesa “14 Julliet”, contando-se entre os seus membros de elite Cahen
Levy. Na música, Henri Louis Levy,12
que era clarinetista de talento e havia chegado ao
Brasil em 1948, ao falecer, em 1896, deixara um filho de talento que consagraria o nome
musical da família. Era Alexandre Levy, nascido em São Paulo, em 1864. Alexandre Levy
chegou a tocar piano para o imperador d. Pedro II e era um compositor prolífero que na
verdade encontrou sua inspiração na música popular brasileira. Morreu prematuramente em
pleno caminho da glória, ao 27 anos de idade. Outros Levy também se destacaram na
música, a começar pelo próprio irmão de Alexandre, Louis, e a terminar com o maestro
Edgard Levy. Nas artes plásticas e já no final do século XIX surgia o nome da pintora Berta
Worms, que conquistou o público amante da arte por seus retratos e pinturas. A influência
dos judeus franceses se fazia não somente no plano da moda, mas das belas-letras, músicas
e artes plásticas.
Mas é preciso lembrar que entre os imigrantes judeus também houve aqueles
que fizeram nome como profissionais liberais, e entre eles se destaca a figura do dr. Samuel
Edouard da Costa Mesquita, que era casado com uma das “três graças”, Mary Roberta
Amzalak. Dr. Samuel Mesquita veio ao Brasil em 1860 e exerceu a profissão de cirurgião-
dentista, contando-se entre seus clientes o próprio Imperador d. Pedro II. Mais tarde
mudou-se para São Paulo e na qualidade de dentista atendeu também em Campinas. Sabe-
se que, na falta de um rabino para a comunidade israelita de São Paulo, o dr. Samuel de
141
Pedro Taques de Almeida Paes leme, Nobiliarquia Paulistana Histórica e Geográfica, São Paulo, ed.
Itatiaia-Universidade de São Paulo, 1980, 3vol. 142
Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos e
Noticiosos da Província de São Paulo, são Paulo, ed. Itatiaia-Universidade de são Paulo, 1980, 2vol.
57
Mesquita preencheu essa função, oficiando as rezas nas festividades judaicas. Ele, bem
como seus descendentes e parentes próximos falecidos, encontram-se enterrados no
Cemitério dos Protestantes, em São Paulo.
Por outro lado, a participação desses imigrantes no desenvolvimento industrial
de São Paulo ainda no século passado pode ser lembrada pela figura singular do Visconde
de Sapucaí, Luiz Matheus Maylasky, que chegou ao Brasil em 1860, dirigindo-se a
Sorocaba, onde passou a residir. Sua origem- judaica- ainda não está totalmente
esclarecida, mas seu papel no desenvolvimento e criação da Companhia de Sorocaba e a
estrada de ferro Sapucaí com o intuito de escoar a produção algodoeira até o porto de
Santos lhe valeram o título que passou a ostentar. Foi homem de grandes iniciativas
econômicas, e na volta do século mostraria uma São Paulo com novas ambições
empresariais. Ainda como exemplo de iniciativas econômicas significativas para a
economia paulista brasileira, que foram dadas no século passado, e o espírito pioneiro que
as animaram, devemos lembrar a pessoa de Maurício Klabin, que aqui chegara em 1887 e
fundaria um novo setor industrial, o de papel e celulose.
Para finalizar, devemos dizer que, a partir do século passado, a imigração
judaica ao Brasil aumentaria significativamente e o estudo de sua participação na economia
e sociedade brasileiras em geral, e na paulista em particular, permanece como um
verdadeiro desafio aos cientistas pela sua extensão e importância.
58
7. Algumas questões concernentes à metodologia na pesquisa da história moderna dos
judeus e o conhecimento de suas fontes
Ao avaliarmos a bibliografia143
existente sobre a história dos judeus no Brasil,
salta à vista, de imediato, o fato de que boa parte da mesma concentra-se no estudo do
período colonial. Nesse sentido, podemos afirmar que a história dos judeus no Brasil, a
partir do período imperial até os nossos dias, está por ser feita e que pouco conhecimento
temos da formação recente das comunidades existentes atualmente, com a exceção de
poucos trabalhos de real valor escritos nas últimas décadas.144
Se, para o período colonial, o pesquisador da história dos judeus no Brasil
encontra as fontes que lhe interessam, em sua maior parte em arquivos europeus
conhecidos, mais especificamente os de Portugal e Holanda, no caso da história recente dos
judeus não encontramos arquivos organizados contendo o material específico vinculado a
esse período.
Ao contrário do que se passou na Argentina, onde o famoso YWO (Instituto
Científico Judaico145
) organizou há muitos anos uma seção local que reuniu o acervo
valioso relativo à historia recente dos judeus na Argentina, no Brasil chegou-se só
recentemente a organizar um Arquivo Judaico, com a preocupação de reunir e preservar as
fontes ligadas à história dos judeus no Brasil.146
Nesse sentido, estamos apenas dando os
primeiros passos e, neste ínterim, o pesquisador interessado na área deve, em boa parte,
abrir seu caminho pessoal de acesso às fontes.
143
V. Margulies, M. – Iudaica Brasiliensis, Ed. Documentário, Rio de Janeiro, 1974. A Iudaica Brasiliensis
teve continuidade graças a dedicação de Hugo Schlesinger que durante muitos anos compilou os títulos
relativos à judeus e judaismo publicados em nosso país sendo a última edição datada de 1992. Antecedeu a
essa bibliografia a de Basseches, B., Bibliografia das Fontes de História dos Judeus no Brasil, Rio de Janeiro,
1961. Basseches começara o seu trabalho ainda em 1957, quando publicou em 19 de setembro daquele ano na
revista Aonde Vamos? o seu Achegas para uma bibliografia da História dos Judeus no Brasil.
144
Primeiro a se preocupar com a história mais recente ou moderna dos judeus no Brasil foi o historiador
Jacob Nachbin, que permaneceu até agora desconhecido devido ao fato de ter publicado seus trabalhos em
ídiche. Em seguida o trabalho de Loewenstamm, K., Vultos Judaicos no Brasil, Vol. II, Ed. Monte Scopus,
Rio de Janeiro, 1956, o de Lipiner, E., A Nova Imigração Judaica no Brasil, in Breve História dos Judeus no
Brasil, Ed. Biblos, Rio de Janeiro, 1962, e ultimamente o de Egon e Frieda Wolff, Judeus no Brasil Imperial,
Centro de Estudos Judaicos da USP, São Paulo, 1975, além de outros. Raizman, I., que havia publicado uma
História dos Israelitas no Brasil, São Paulo, 1937 , publicada antes em ídiche em 1935, dedicado ao período
colonial, extremamente pobre e pouco fundamentado, daria uma contribuição importante ao publicar o seu A
fertl yohrhundert ídische presse in Brazil (Um quarto de século de imprensa judaica no Brasil) ed. Muzeum
le-Omanut ha-Dfus, Safed, 1968. Também o seu livro Iidische sheferishkeit in portugalischen loschen
(Criatividade judaica em língua portuguesa), Safed, 1975, apresentaria um material interessante sobre a
imigração contemporânea referente a sua criatividade literária.
145
YWO (Idischer Wissenschaftlecher Institut) foi criado em Berlim em 1925, instalando-se em Vilna, na
Lituânia, onde desenvolveu uma atividade científica ímpar no ambito da cultura ídiche. Com a Segunda
Guerra Mundial, o instituto transferiu-se para os Estados Unidos, estando sediada em Nova York.
146
Trata-se do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, criado em dezembro de 1976.
59
O problema torna-se mais complexo quando constatamos que grande parte das
fontes necessárias ao historiador, além de raras e dispersas, encontram-se escritas em ídiche
e, às vezes, até mesmo em hebraico, quando não em outras línguas pouco estudadas entre
nós e que exigem um aprendizado especial por parte do historiador.
Desde já, devemos observar que a história recente ou moderna dos judeus no
Brasil nada tem em comum com o período colonial, pois os cristãos-novos, assim como os
judeus sob o domínio holandês com a restauração do poder português, a partir de 1654147
,
não deixaram comunidades organizadas que as novas ondas imigratórias, a partir de 1808,
pudessem receber e lhes dar continuidade. O fenômeno de criptojudaísmo continuou
existindo, sem dúvida, após o século XVII e se manifestou no século XVIII em nosso
território, como podemos constatar pelos processos inquisitoriais portugueses. Mas os
cristãos-novos, ou criptojudeus, não legaram absolutamente nada aos judeus que
começaram a vir a partir do século XIX, mesmo porque não teriam nenhuma possibilidade
histórica de fazê-lo. Daí encontrarmos um largo hiato histórico entre os dois períodos e
nenhuma ponte de contato entre eles, sob esse aspecto. Destarte, a hipótese de certos
historiadores, da reconversão de cristãos-novos por ocasião da Independência do domínio
português, ainda está por ser demonstrada e não encontra nenhum apoio em qualquer
documento da época ou posteriormente, limitando-se o fato à imaginação de seus
autores.148
Importante chamarmos a atenção que para o estudo da imigração
contemporânea e suas etapas de desenvolvimento, passa a ser muito útil ao pesquisador
brasileiro consultar o Arquivo do YWO em Nova York, o qual reúne fontes sobre o
judaísmo brasileiro, assim como o Arquivo Sionista (Archion-Ha-Tzioni) e o Arquivo para
a História do Povo Judeu (Archion le-Toldot Am Israel), ambos em Jerusalém.
Entretanto, se os arquivos mencionados acima tratam especificamente da
documentação judaica, nada impede ao pesquisador encontrar fontes muito úteis e
importantes em arquivos gerais, dependendo do problema que se quer pesquisar, e em
especial, quando se trata de questões que se referem à esfera das relações dos judeus com a
sociedade mais ampla ou com instituições não-judaicas. Assim, por exemplo, pode-se
encontrar muito mais fontes a respeito do anti-semitismo nos arquivos gerais do que
propriamente nos arquivos judaicos. É suficiente que lembremos o simples fato de que o
número de periódicos em Língua Portuguesa publicados desde o século passado e que
fazem referência aos judeus é incomparavelmente maior do que o de jornais judaicos
publicados no Brasil (em língua ídiche ou em português) a partir de 1915, ano em que foi
publicado o primeiro periódico judaico em Porto Alegre.149
A verdade é que esses jornais e
periódicos, até agora, não foram devidamente utilizados, ainda que constituam um
manancial inesgotável a ser explorado para o estudo da história dos judeus no Brasil. Os
jornais em ídiche da década de 20 e 30, assim como os de língua portuguesa, são raros ,
147
Sobre o período em questão vide Wiznitzer, A. – Os Judeus no Brasil Colonial, Liv. e Ed. Pioneira &
Universidade de São Paulo, 1966.
148
Entre eles, Cecil Roth, que na Standard Jewish Encyclopaedia, pp. 352-3, escreve que, “em 1822, com a
Proclamação da Independência do Brasil, alguns marranos se reconverteram para o judaísmo...”; não sabemos
em que se fundamenta para fazer tal afirmação.
149
Denominado “Di Menscheit” (A Humanidade).
60
pois ninguém se preocupou em colecioná-los. Vários fatores contribuíram para isso. Entre
eles, podemos mencionar a falta de preparo da comunidade judaico-brasileira,relativamente
nova e formada, em sua maioria, de imigrantes recém-chegados ao país, preocupados
essencialmente com seu sustento e sobrevivência centrada inicialmente na criação de
instituições de auxílio aos recém-chegados.150
Não havia ainda suficiente longitude
histórica para valorizar a documentação ligada à vida comunitária, o que explica a perda
irreparável de material histórico de incalculável importância.151
Um relato ilustrativo de causas que levaram à destruição de documentação foi
o que ouvimos de certo morador de Recife. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial,
quando se pensava que as forças alemãs, vitoriosas no Norte da África, poderiam chegar ao
Norte do Brasil com muita facilidade, fez com que tal ameaça levasse a comunidade
judaica local a destruir todos os seus arquivos institucionais. Algo semelhante ocorreu
durante o governo de Getúlio Vargas, cuja posição xenófoba nesse período acarretou a
proibição da publicação de jornais em ídiche e criou certos receios quanto à manutenção de
documentação em língua estrangeira, o que levou, em parte, à destruição da mesma.152
Mas, outros fatores juntam-se ao que lembramos tais como a incúria de
secretários e diretores de instituições que jogaram fora material por ser apenas “papel
velho” e “ocupar espaço nos arquivos”, ou ainda calamidades inesperadas, tais como um
incêndio ou a interdição de prédios antigos que ao desabarem- como ocorreu no rio de
Janeiro- acabam soterrando arquivos institucionais comunitários, sem mencionar as perdas
resultantes de mudanças de sedes ou escritórios de entidades de um prédio para outro,
ocasião em que “não se perde tempo em transferir coisas sem valor”.
Resta saber ainda que, hoje em dia, uma nova ameaça à documentação em
língua ídiche advém do fato de que a nova geração nascida no Brasil não fala e nem lê a
língua de seus pais e avós e, portanto, em conseqüência de falecimentos, a tendência natural
é de se desfazer de coleções e bibliotecas particulares, que nem sempre são doadas a
instituições comunitárias para sua preservação. O mesmo pode ocorrer com os acervos de
certas entidades que encerraram suas atividades153
e não sabem o que fazer com seus
arquivos, pois o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade fez com que
determinadas instituições se tornassem anacrônicas, acabando por desaparecer.154
150
Tais instituições foram criadas em São Paulo e no Rio de Janeiro e, em pequenas proporções, existiram em
outros núcleos comunitários judaicos no Brasil. Em São Paulo, em 1915, surgiu a Sociedade das Damas
Israelitas (OFIDAS) e, em 1916, a Ezra. No Rio de Janeiro, encontramos equivalentes aos mesmos propósitos
nas sociedades Relieff ou Hilfs Farein, que tiveram um papel primordial na ajuda aos imigrantes.
Infelizmente, até agora não se escreveu a história dessas instituições.
151
No Rio de Janeiro ocorreu o desabamento de um prédio onde se encontravam as sedes de várias entidades
da comunidade judia local, soterrando seus arquivos, que se perderam para sempre.
152
Em 18 de junho de 1939, o Ministério da Justiça baixou a portaria de n.º 2.277, exigindo que os jornais e
publicações em língua estrangeira publicassem sua matéria com a respectiva tradução em português, sendo
que, em 1941, ficou proibida a publicação de jornais em qualquer língua estrangeira.
153
É o caso dos “Landsmanschaften”, que congregavam os judeus oriundos de uma mesma cidade ou país.
Assim, tínhamos organizações de judeus da Bessarábia, da Polônia e outros lugares.
154
Como exemplo ilustrativo, podemos tomar a Cooperativa do Bom Retiro, em São Paulo, que foi criada em
1928.
61
Além dos arquivos gerais (federais, estaduais, municipais) e dos “acervos”
documentais comunitários (com as ressalvas feitas acima), devemos considerar a existência
de arquivos complementares importantes, tais como os da Polícia, da Alfândega, da
Imigração ou Registro de Estrangeiros e da Junta Comercial, cuja documentação mais
antiga se encontra no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Por outro lado, os tabeliões e
cartórios civis constituem muitas vezes uma excelente fonte ao estudioso, principalmente
em cidades pequenas, onde o acesso a eles e a localização dos documentos registrados é
fácil.
Ainda em relação a jornais e periódicos, devemos lembrar que até agora não se
fez uma relação completa dos que foram publicados no Brasil e a importante obra de Isaac
Raizman “A fertel Iohrbundert idische presse in Brazil” (Um Quarto de Século de
Imprensa Judaica no Brasil) abrange apenas o período de 1915 a 1940, além de ser muito
incompleta, principalmente em relação aos jornais que foram publicados em português.
Seja como for, é a única no gênero relativa à imprensa judaica e serve de guia a quem
queira trabalhar com essas fontes.
O jornal judaico é rico em informações de toda ordem, pois espelha a vida da
comunidade sob todos os aspectos. Anúncios comerciais e profissionais, acontecimentos
sociais (noivados, casamentos, nascimentos, bar-mitzvot, aniversários), relatórios das
instituições comunitárias, eventos políticos, são normalmente noticiados, e não poucas
vezes encontramos elementos para a história de pequenas comunidades espalhadas pelo
interior do país, bem como para a história das comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Curitiba ou Recife. Além dos periódicos impressos ou autônomos, existiram
informativos vinculados a certas instituições, muitas vezes manuscritos ou mimeografados,
os quais servem de excelente material para o estudo de determinada entidade comunitária
pois ali encontramos particulares relativos às finanças, atividades culturais, comemorações
e personalidades centrais da instituição, seja ela uma sociedade beneficente, escola ou outra
instituição qualquer. Números comemorativos especiais foram publicados e constituem
pequenas histórias institucionais que, com o devido cuidado na seleção dos mesmos, podem
ajudar em muito aos pesquisadores e estudiosos. Ademais, podemos encontrar em jornais
de circulação nacional das décadas passadas, uma coluna ou seção dedicada à comunidade
israelita, como a do “Correio da Manhã” e outros.
No fundo, o método de pesquisa histórica tradicional obriga o historiador a
recorrer a essas fontes documentais que se encontram, por assim dizer, nos arquivos
convencionais acima citados. Mas, para o caso do estudo da história dos judeus, não é
suficiente percorrer os caminhos convencionais: por vezes, é necessário trilhar outros e até
mesmo improvisá-los, de certa forma. É o caso do método da entrevista gravada, adotado
na história oral, o qual penetrou pouco a pouco na metodologia da história contemporânea,
alcançando um nível elevado de desenvolvimento e sofisticação teórico-analítica para se
defrontar com os múltiplos e complexos aspectos da modernidade e da sociedade
contemporânea e seus eventos. Apesar das ressalvas que devem ser feitas e do cuidado
necessário na seleção dos dados resultantes de uma entrevista oral, em certos casos ela nos
fornece um material precioso e mesmo inédito, o qual, na medida em que for possível, deve
ser checado com a documentação existente ou outro tipo de fonte, vinculada direta ou
indiretamente com o assunto da pesquisa.
62
Ultimamente tem-se feito o levantamento dos cemitérios judeus espalhados no
Brasil, além das sepulturas de israelitas em cemitérios cristãos. Sabemos que a lápide
(“matzeivá”, em hebraico) contém dados informativos importantes sobre o indivíduo,
incluindo lugar de origem (país, cidade) e lugar de falecimento, e algumas vezes até a
profissão do falecido155
, dados importantes para quem estuda a imigração judaica, sua
trajetória e seu estabelecimento em nosso território. A própria forma da lápide permite
diferenciar os judeus por sua origem sefaradita ou asquenazita156
, assim como seus
símbolos distinguem um cohanita de um levita, supostamente descendentes da classe
sacerdotal e dos servidores do Templo de Jerusalém etc. Os dados contidos na lápide
ultrapassam muitas vezes o limite de uma informação individual, pois ela, freqüentemente,
serve para determinar ou confirmar um fenômeno coletivo ou global. Normalmente, no
Brasil, seja em cemitérios israelitas, seja em sepulturas em cemitérios cristãos, as lápides
contêm inscrições em hebraico e em português, não se restringindo somente a essas duas
línguas, pois as há também em ídiche ou, em francês157
, alemão158
e ladino.159
Daí a
necessidade do conhecimento do hebraico para quem trabalha no campo, ainda que seja
possível fazer um trabalho parcial apenas com o conhecimento do português e das línguas
europeias. Certas fórmulas tradicionais são usadas nas inscrições em hebraico, bem como
certas abreviaturas que vêm no final das inscrições das lápides. O estudo da fixação dos
judeus no interior de São Paulo e de outros Estados, em cidades onde não tinham
cemitérios, é facilitado pelo fato da lápide indicar o lugar de falecimento
independentemente do lugar em que se é sepultado. Como nas cidades interioranas não
havia cemitérios judeus, a não ser nas mais importantes,160
os judeus foram enterrados, em
sua maioria, nos cemitérios das capitais.
Apesar de tudo, quando pesquisamos, temos que contar com surpresas
inesperadas em “coleções” de papéis particulares, sobretudo naquelas pertencentes a
personalidades que tiveram um papel destacado na vida comunitária e nas suas instituições,
e que por esse mesmo motivo procuraram guardar documentos relativos à sua atuação e à
função que exerceram. É o caso de presidentes de sociedades, escritores ou rabinos, que
podem possuir documentos de valor histórico que ultrapassam os limites do judaísmo local.
155
A identificação torna-se possível pelos símbolos adotados para denotar a profissão do falecido, os quais
vêm esculpidos na própria lápide.
156
Os sefaraditas usam comumente a lápide horizontal e os asquenazitas a lápide vertical. O símbolo do
“cohen” (judeu da antiga linhagem sacerdotal) é o das mãos explanadas postas lado a lado, e o do levita
(descendente da tribo de Levi) é o jarro d’água.
157
As lápides dos judeus da imigração alsaciana têm inscrições em Francês, além do Hebraico.
158
As lápides dos judeus emigrados dos países da Europa Central costumam ter inscrições em língua alemã.
159
. O ladino é usado nas inscrições dos judeus sefaraditas, tais como os oriundos da África do Norte, como se
pode verificar nas lápides dos cemitérios judeus de Belém do Pará ou de Manaus, no Amazonas, onde essa
corrente imigratória se concentrou a partir do século XIX.
160
A guisa de exemplo temos as cidades de Franca e Campinas, no Estado de São Paulo, que podiam
construir e manter um cemitério judeu devido ao número de membros da comunidade judia local, além de
serem comunidades antigas.
63
Um exemplo ilustrativo do que estamos afirmando é a correspondência do Prof.David José
Perez, que se destacou como intelectual de projeção e respeitado na sociedade mais ampla .
Foi durante muitos anos um verdadeiro guia espiritual do judaismo brasileiro.161
Há casos
em que personalidades importantes tiveram o bom hábito de escrever suas memórias, nas
quais revelam sua atividade pública e comunitária. Ainda que o material registrado nas
memórias tende a dar uma visão excessivamente subjetiva dos acontecimentos, temos, por
outro lado, uma descrição de detalhes e ações que retratam a atmosfera particular que os
envolve, a qual os documentos oficiais não apresentam devido ao sua própria natureza. Isso
se verifica quando lemos o livro de memórias do Rabino-Mor do Rio de Janeiro na década
de 20 e 30, Isaías Raffalovitch, que marcou um capítulo importante na vida comunitária
judaico-brasileira daquele tempo162
, ou ainda os apontamentos das memórias de Jacob
Schneider, que fundou várias instituições comunitárias no Rio de Janeiro.163
No campo da
história cultural, certos livros de memórias organizados e publicados com uma intenção
didática em base da vivência particular de um ator ou de um teatrólogo, constituem
verdadeiros depoimentos sobre a vida cultural de determinadas instituições comunitárias e
dos judeus no Brasil. Um exemplo nesse sentido constitui a obra do ator e teatrólogo judeu
que viveu durante certo tempo no Recife e Rio de Janeiro, o notável Zygmunt Turkow.164
Do mesmo modo que reconhecemos a importância dos diários ou livros de viagens para o
conhecimento da história do Brasil, desde o período colonial, também na história dos
judeus temos uma importante literatura desse gênero, que possui, às vezes, um caráter não
somente descritivo, mas se detém em análises e avaliações de situações particulares e de
retratos psicológicos de personalidades importantes, registrando com cores variadas
homens e coisas. Boa parte desses viajantes são intelectuais, escritores ou literatos,
jornalistas e homens públicos do Velho Continente ou da América do Norte e outros
lugares, por vezes convidados e recebidos pelas comunidades e se detêm, durante certo
tempo, como hóspedes, para uma programação de caráter cultural ou de outra natureza
qualquer.
Esses viajantes, que lembram o incansável itinerante Benjamin de Tudela do
século XII, são excelentes observadores, que tomam conhecimento das coisas através do
contato direto com as questões e a vida dos judeus nos lugares que visitam, caracterizando
e comparando seus costumes e tradições locais sob uma visão de mundo , que transcende o
olhar limitado da própria comunidade. Essas impressões de viagens publicadas em forma
de livros ou artigos de imprensa em seus respectivos países, constitui material informativo
importante. Se fizermos um levantamento das personalidades que passaram por aqui, desde
os primeiros anos do século XX, ficaremos surpresos pelo número de jornalistas, artistas,
atores e diretores de teatro, poetas e escritores, cientistas, ativistas e diretores de entidades
internacionais, pensadores e representantes de correntes políticas de renome no mundo
161
O Prof. David José Perez, nascido no Brasil, era descendente de uma família de imigrantes de Tanger na
África do Norte 162
O livro de memórias do rabino I. Raffalovitch foi publicado em hebraico com o título “Tzíunim ve
Tamrurim” (Pontos e Sinais), em 1952, Tel-Aviv, Israel. 163
Jacob Schneider imigrou em 1903, e se destacou na criação de instituições importantes na comunidade do
Rio de Janeiro tendo desempenhado um papel primordial na organização do movimento sionista no Brasil.
164
Zygmunt Turkow, dedica sua obra “Schmusen vegn Theater” (Conversações sobre teatro), Ed. Unzer
Buch, B. Aires, 1950, ao grupo teatral com o qual conviveu no Brasil.
64
judaico, que de uma forma ou outra deixaram suas marcas na memória coletiva das
comunidades que visitaram, seja através de conferências ou outro modo de participação na
vida social e cultural local. A propósito, e em relação à história cultural, boa parte dos seus
rastros poderá ser seguida através das circulares, volantes e cartazes que divulgavam a
atividade de grupos teatrais e atores, conferencistas e músicos vindos de todas as partes do
mundo. Hoje, essa documentação é rara, pois poucos se preocuparam em colecioná-la;
contudo, ainda podemos encontrá-lo sob a forma de anúncios no jornais israelitas,
acompanhados freqüentemente de fotos dos atores, conferencistas ou músicos.
A partir da década de 20 surgiu uma literatura em língua ídiche que tinha como
tema central o encontro do imigrante com a terra brasileira e os conflitos individuais
decorrentes do processo de aculturação a uma nova sociedade. A bela natureza tropical, o
sol intenso e abrasador, a cidade grande, as cores e a multiplicidade de tipos humanos
foram motivo de deslumbramento do imigrante europeu, e ele expressou, em poesia e prosa
seus sentimentos e impressões na língua que lhe era familiar. Esse novo mundo que lhe
parecia encantado em comparação com seu lugar de origem o fazia esquecer as lembranças
amargas relativas à sua condição judaica daqueles países nos quais o anti-semitismo era
presente no seu cotidiano. Mas, a mesma literatura revela profunda solidão e o
desarraigamento do recém-chegado, assim como os esforços sobre-humanos para superar a
nostalgia motivada pela saudade do lar e dos familiares, pela quebra dos padrões
tradicionais e a incorporação de novos, a árdua luta pela sobrevivência em terra estranha, e
assim por diante.165
Assim sendo, apesar de se tratar de pura literatura ou ficção, ela não
deixa de ser uma fonte histórica que ajuda o pesquisador a desenhar contornos mais
precisos em relação a certos aspectos da vida do imigrante. Tal literatura não foi reunida e
nem sequer foi seriamente estudada pelo ângulo que apresentamos acima.166
A existência do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro fez com que indivíduos e
instituições começassem a fazer doações; amiúde, em decorrência da iniciativa da equipe
responsável, foram localizados acervos importantes para a história dos judeus no Brasil,
entre os quais encontramos apenas a título de ilustração, os seguintes:
a) coleção de documentos relativos a Jewish Colonization Association
(J.C.A.), que constituiu o arquivo dessa instituição no Brasil, tendo sido
doado ao Arquivo Histórico Judaico Brasileiro por resolução oficial da
central da organização em Londres. Os primeiros documentos datam de
1904.
b) coleção da Cooperativa Israelita do Bom Retiro, que reúne livros dos
sócios desde 1928 até sua extinção; livros de protocolos, fichas de
sócios, livros de contabilidade, etc.
165
O primeiro autor que publicou um livro sobre essa temática foi Aldolfo Kichinovski, cuja obra “Naie
Heimen” (Novos Lares) saiu a lume em 1932, no Rio de Janeiro. 166
A primeira coletânea, ainda que incompleta, foi reunida e publicada em 1956 com o título
de “Unzer Beitrag” (Nossa contribuição), no Rio de Janeiro. Em 1973, foi publicada na Argentina uma nova
coletânea sob o título “Brasilianisch” (Brasileiro), como parte da grande coleção de literatura ídiche no
mundo e na América Latina que vinha sendo editada pelo Ateneu Literário do Instituto Científico Judaico, em
Buenos Aires, sob a responsabilidade do falecido Samuel Rollansky. Mais recentemente Jacó Guinsburg, em
sua obra “Aventuras de uma língua errante”, ed. Perspectiva, São Paulo, 1996, publicou uma listagem da
produção literária em língua ídiche no Brasil cedida por mim ao seu autor. A minha intenção na coleta desse
material foi a de reunir tudo o que se produziu no âmbito da literatura do imigrante de língua ídiche em nosso
país.
65
c) coleção de documentos de escolas israelitas de Santos e Sorocaba, bem
como da Escola Luís Fleitlich e da Escola Theodor Herzl, ambas de São
Paulo.
d) coleção de documentos da Associação dos Israelitas Poloneses de São
Paulo.
e) coleção de documentos OFIDAS-Ezra, sociedades de beneficência dos
israelitas de São Paulo.
f) coleções particulares: Dr. Alfredo Hirschberg167
; Meyer Kucinski168
e
outras menores.
Além do mais, o Arquivo possui coleções de jornais e periódicos publicados
em língua ídiche e português, entre eles a revista “Aonde Vamos?”, que começou a ser
editada em 1943, no Rio de Janeiro e constitui uma fonte preciosa para o estudo da
comunidade judaica no Brasil.
A documentação do Arquivo, que com o passar do tempo enriqueceu-se com
um número considerável de fundos provenientes de outros Estados, estimulou a pesquisa da
história mais recente dos judeus em nosso território, e atualmente estão sendo elaboradas
teses sobre as diversas ondas imigratórias, a começar da marroquina ou norte-africana no
Pará e no Amazonas, e a imigração alsaciana no século passado. No entanto, resta ainda
muito a fazer nessa área de estudo e, à guisa de sugestão para futuros trabalhos e pesquisas,
antes de finalizar, aproveitamos a oportunidade para propor alguns temas que devem
merecer a atenção dos nossos estudiosos e historiadores para trabalhos ou monografias:
1) a história da imprensa judaica no Brasil, podendo ser estudada em separado a de
língua portuguesa e a em ídiche.
2) A história dos “landsmanschaften” (associações de imigrantes oriundos de um
mesmo lugar, cidade ou país). Tal pesquisa pode ser feita em separado nas diversas
cidades ou comunidades brasileiras.
3) história das sociedades de beneficência social e de ajuda aos imigrantes.
4) A história das comunidades israelitas interioranas, de cidades grandes e pequenas
nos vários estados.
5) israelitas e sua contribuição nos vários aspectos da vida brasileira (econômico,
científico, artístico-cultural, etc).
Parte dessas sugestões já foram aceitas e encaminhadas como projetos pessoais de pesquisa
de parte de estudantes interessados em desenvolver teses acadêmicas sobre tais temas.
167
Dr. Alfredo Hirschberg foi um destacado intelectual e ativista dos mais importantes da comunidade
israelita de São Paulo. Durante muitos anos foi editor da Crônica Israelita e participou na criação do Centro de
Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo.
168
Meyer Kucinski foi considerado um dos escritores mais representativos da língua ídiche no Brasil, e uma
de suas obras, “Zishe Breitbart” foi premiada nos Estados Unidos. Dirigiu, durante muitos anos, a seção
brasileira da YWO em São Paulo e reuniu ao redor de si um grupo de idichistas que contribuíram para a
difusão da cultura judaica européia em nosso solo.
66
8. O Marquês de Pombal e a Inquisição
Há 200 anos, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como
Marquês de Pombal, morria dramaticamente, após exercer cerca de duas décadas e meia de
verdadeiro poder absoluto, durante o reinado de d. José I, Rei de Portugal. Seu nome está
ligado à história dos judeus da Península Ibérica por ter dado “o golpe de misericórdia” na
ação da Inquisição portuguesa, eliminando as barreiras que diferenciavam socialmente
cristãos-velhos dos cristãos-novos.
A Inquisição, apesar de ter sido estabelecida pela Monarquia portuguesa
visando fins políticos atinentes aos interesses do Estado, nem sempre esteve em inteira
harmonia com ele, chegando mesmo a chocar-se com a instituição temporal. Desse modo,
podemos compreender a ação do Marquês de Pombal ao afirmar a soberania e a
subordinação do poder espiritual à Monarquia, procurando fortalecer o poder absoluto da
realeza. O Marquês já havia demolido, com esse fito, a Companhia de Jesus, e agora
voltava-se para a instituição inquisitorial, que voava com asas bem abertas sobre o Império
Português sem que nada a detivesse em suas arbitrariedades e desmandos.
Antes de Pombal, vozes importantes haviam levantado a questão, e muito antes
do vigoroso estadista , a veemência do Padre Antônio Vieira voltou-se contra a Inquisição e
seu obscurantismo que prejudicava os interesse da Monarquia, desprestigiando-a perante as
nações esclarecidas do continente europeu. Vieira não foi o único nem seria o último, pois a
Europa do século XVIII começava a olhar para o seu passado medieval e suas instituições
com uma demolidora visão crítica. Tal atitude era fruto do racionalismo que despertava e
não perdoava a existência de um Santo Ofício, castradora de mentes e fechada a novas
concepções e idéias.
A imprensa que se difundia como veículo primordial de comunicação, como
bem lembra Lúcio de Azevedo,169
passava a ser a inimiga terrível da Inquisição e dos
inquisidores. A divulgação dos execráveis espetáculos dos autos-de-fé e das perseguições
“religiosas” chocava profundamente a maioria das nações do continente, que procuravam se
apresentar como abertas ao Iluminismo, que despontara na sociedade européia. As
descrições sobre as perseguições foram cada vez mais sendo difundidas entre as nações e
as comunidades judaicas da Europa, e, em particular, na Holanda, Itália e Inglaterra onde
várias publicações saíram à luz relatando o que se passava na Península Ibérica . Na
Inglaterra divulgou-se, em 1722, a obra do judeu italiano David Neto, intitulada “Notícias
Recônditas e Póstumas do Procedimento das Inquisições de Espanha e Portugal com Seus
Presos”.170
Mas não somente autores judeus se ocuparam em difundir e criticar a nefasta
ação da instituição. Pensadores como Montesquieu,171
Voltaire172
e outros não a pouparam,
pois sua existência feria os ideais que tanto pregavam. A presença do Santo Ofício na
169
Azevedo, J. Lúcio, “História dos Cristãos Novos Portugueses”, Lisboa, 1975, p. 346.
170
Veja-se sobre ele em Kayserling, M., Biblioteca Española-Portugueza-Judaica, New York, 1971, pp. 98-
100.
171
No “Espírito das Leis”.
172
No “Cândido”.
67
Península Ibérica contrastava com as aspirações espirituais que surgiam no Velho
Continente.
POLÍTICA DEMOLIDORA
Contudo, não queremos crer que o duro e inflexível estadista tenha se guiado
por essas razões para dar início a sua política demolidora em relação ao Santo Ofício.
Razões outras o moveram a tal atitude, e, acima de tudo, as de ordem utilitária. É sabido
que sua posição perante a Inquisição era, em parte, de reconhecimento pelos serviços
prestados à religião, pois ele mesmo foi familiar do Santo Ofício, além de católico imbuído
de profunda religiosidade. Em edital da Mesa Sensória, de 12 de dezembro de 1769,
portanto, no período de sua administração, lêem-se palavras de elogio ao papel
desempenhado pela instituição inquisitorial: “Não havendo, entre todos os estabelecimentos
humanos, estabelecimento algum que tanto possa contribuir, e tenha efetivamente
contribuído, para defender e conservar ilibado, em toda a sua pureza, o sagrado depósito da
Fé e da Moral, que Cristo Nosso Redentor confiou a sua Igreja (...) É notório que os
apóstatas, e os demais réus de crimes capitais, em nenhum país são tratados com igual
benignidade depois de convencidos (...)”.173
O estudo da administração pombalina permite confirmar o quanto o marquês
soube usar a Inquisição em benefício de sua política e a do Estado. O caso mais ilustrativo é
o da luta que encetou contra a Companhia de Jesus, até que pôde levá-la à extinção em todo
o reino português, e que, na verdade, decorria do fato de os filhos de Ignácio de Loyola
constituírem um obstáculo a sua ação de estadista. Senão, vejamos o que ocorreu.
Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, no qual
se estabelecia a divisão política dos territórios descobertos e colonizados por ambos os
reinos. Pombal passou, de imediato, à execução de uma política para cumprir as cláusulas
do tratado e assegurar os interesses portugueses decorrentes do mesmo, e que, no julgar do
estadista, eram favorecidos pelo acordo. Nesse sentido, ele havia designado duas comissões
portuguesas para a demarcação das fronteiras, ficando a do Sul a cargo de Gomes Freire de
Andrade, futuro marquês de Bobadela, e a do Norte entregue a seu irmão, Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, que tinha sido nomeado capitão-general do Grão-Pará. As instruções
recebidas por Mendonça Furtado incluíam dispositivos tendentes a assegurar a liberdade
absoluta dos índios e limitação do poder temporal dos missionários.
Essa orientação, de todo modo, deveria permanecer secreta, incluindo, também,
idêntica política em relação ao governo do Maranhão, que na época já se encontrava
subordinado ao governador-geral do Grão-Pará. Formou-se, com esse fim, a Companhia de
Comércio do Grão-Pará e Maranhão, legalizada por decreto de 6 de junho de 1755, sendo
que a política pombalina em relação ao Norte do Brasil se concentrou em três aspectos
principais: 1.º) Atuação da Companhia; 2.º) Secularização da Administração dos Índios;
3.º) Liberdade dos Silvícolas.1746
Uma vez estabelecida a Companhia de Comércio, foi lhe atribuído o monopólio
da navegação, do comércio exterior e do tráfico de escravos no Pará e no Maranhão, e, em
seguida, tomaram-se as providências para se fazer um levantamento das atividades
173
apud Lúcio de Azevedo, op. cit., p. 347. 174
Simonsen, Roberto C., “História Econômica do Brasil (1500-1820)”, São Paulo, 1967, pp. 333-341.
68
missionárias naquela região. Já em 1757, colocava-se em execução a política de liberdade
dos indígenas e a eliminação do poder temporal dos missionários que reagiram contra a
orientação impressa pelo marquês. Pombal não era homem de se intimidar diante de tais
obstáculos, e com seu reconhecido gênio truculento, começou a passar a corda ao redor do
pescoço dos jesuítas, a começar pela supressão de suas côngruas da Fazenda Real, em
1758, e o início de sua expulsão dos territórios das missões, a partir de novembro de 1759,
quando foram embarcados ao reino dez jesuítas e seis missionários de outras ordens
religiosas, exilados por terem infringido as ordens do governador. A dureza de seu caráter
revelou-se no seu castigo imposto às vítimas, pois foram encerradas, durante dezoito anos,
até sua libertação, em 1777, quando ascendeu ao trono de Portugal d. Maria I. O Papa
Benedito XIV deu apoio a Pombal, e em abril de 1758, sob influência das circunstâncias,
expediu breve comunicado, reformando a ordem e indicando o Cardeal Saldanha como
reformador em Portugal. Este, por seu lado, não relutou em executar, com fidelidade, a
orientação que recebera de Roma.
O CASO MALAGRIDA
Sistematicamente, desmantelava-se a Ordem jesuítica e não se escolhiam os
meios para tanto, e, mesmo quando necessário, o futuro cerceador da atividade inquisitorial
se utilizava do Santo Ofício ao lhe denunciar o obstinado jesuíta Malagrida, em 1760. No
fundo, quando se tratava da supremacia do poder real frente ao poder eclesiástico, velha
disputa que remontava aos primórdios da Idade Média cristã, o marquês não deixava
margem a dúvidas.
No mesmo ano do affaire Malagrida, ou seja, em 1760, uma nau da Companhia
do Comércio, “Nossa Senhora de Arrábida”, levaria a Portugal 126 jesuítas que ainda se
encontravam no Maranhão, e eram colocados em vários cárceres, logo que aportaram em
Lisboa. Não foi essa única nau que trouxe os jesuítas como prisioneiros, pois em todas as
colônias marítimas portuguesas os inacianos foram perseguidos e sofreram as
conseqüências da determinação ferrenha do ministro do rei D. José.175
Mas o climax da destruição da Companhia de Jesus – e o marquês desejava,
politicamente, criar um símbolo – se atingiu no processo aberto contra o jesuíta Gabriel
Malagrida. Homem chegado à Corte e possuidor de grande prestígio popular devido ao fato
de ser considerado vidente e fazedor de milagres, além de se mostrar como religioso de
ascetismo extremado, Malagrida seria o alvo ideal para os propósitos políticos do marquês
de Pombal. O processo movido contra o jesuíta, no fundo, derivava do ódio pessoal do
marquês contra aquele que, durante o terremoto de Lisboa, em 1755, pregara ao povo e
escrevera num opúsculo, “O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto”, que era um castigo
pelos pecados humanos, e, portanto, feria frontalmente o desejo de extirpar as superstições
e o obscurantismo que, no pensar do ministro era um dos grandes males de Portugal. E o
despotismo esclarecido do ministro estava disposto a empregar todos os meios para
eliminar a influência clerical no reino, ponto importante de seus projetos de reforma, como
podemos constatar em toda a extensão de sua política administrativa, no que tange à
educação e ao sistema de ensino de Portugal, campo no qual o ministro provocou
175
Cheke, Marcus, “O Ditador de Portugal – Marquês de Pombal”, Lisboa, 1946, p. 166.
69
modificações profundas, a ponto de se poder dizer que, sob esse aspecto, ele iniciou nova
etapa da vida da nação portuguesa.176
O processo de Malagrida, que se deu após seu aprisionamento, juntamente com
os demais jesuítas, e que se fundamentou juridicamente numa correspondência apreendida e
bastante comprometedora incluindo-se um escrito de exaltação mística, elaborado pelo
“santo” durante o período em que ficou confinado e cujo título era “Vida de Santa Ana”, foi
levado adiante, nada mais nada menos do que pelo Santo Ofício, ou seja, por uma
instituição da própria Igreja, que deveria condená-lo não somente como criminoso, mas
como herege. Por outro lado, como em todos os cargos estatais importantes, também nos
cargos eclesiásticos o marquês tratara de impor seus parentes e achegados, para assegurar
seu domínio absoluto, e, portanto, à testa da Inquisição encontrava-se seu irmão, Paulo de
Carvalho, assegurando, desse modo, a condenação do jesuíta Malagrida. Essa política anti-
jesuítica não cessou e, em 29 de março de 1765, como nos refere Baião: “Houve um
momento em que, de parceria com o sábio d. Francisco Manuel do Cenáculo, fizeram (o
marquês de Pombal e o citado) uma denúncia ao Santo Ofício”. O caso parece ter sido
pouco importante, pois, segundo nosso autor, não teve seguimento, “bem ao contrário do
papel tristemente feroz que havia assumido, em 1760, quando, rancorosamente, denunciou
o célebre jesuíta Malagrida, onde, porém, foi figura primordial e nos aparece com aquela
energia indomável, tanto de seu feitio”.177
A ironia histórica está no fato de que a Inquisição era manipulada pelo ministro
do rei de Portugal para condenar um jesuíta considerado herético, quando, na verdade, era
filho fidelíssimo da Igreja. Por outro lado, é sabido que a política pombalina em relação aos
jesuítas culminaria numa desagregação das missões religiosas e de seu trabalho secular
exercido com os indígenas no Brasil, assim como em outros lugares, pois ficariam expostos
às ambições dos colonizadores e sem a devida proteção social que a organização dos
inacianos assegurava, em seu trabalho de catequese. E o próprio papa Clemente XIV, pelo
breve de 1773, aboliria temporariamente a Ordem.
REFORMAS LIBERAIS
Após a eliminação de seus oponentes políticos dentre a nobreza, que levou à
cruel execução dos Távoras e os que eram relacionados a eles, bem como à expulsão dos
jesuítas do Império Português, Pombal passaria a executar uma série de reformas liberais,
que o levariam a alterar o poder da Inquisição. Entre essas reformas encontra-se a
decretação de que os escravos que entrassem em Portugal ou em território português
ficariam livres, incluindo, entre eles, os filhos de escravos que viviam então em solo
lusitano. Na mesma linha política, proibiu o casamento entre as famílias fidalgas
portuguesas, que se autodenominavam “puritanas” e que tinham por hábito casarem-se
entre si. Também preocupou-se em alterar a dolorosa situação social das viúvas, proibindo-
as de se enclausurar devido à morte dos maridos, uma vez que a sociedade portuguesa as
via de maneira preconceituosa.
176
A coletânea sob o título “Documentos da Reforma Pombalina”, publicada por M. Lopes d’Almeida, vol. I
(1772-1782), Coimbra, 1937, revela em detalhes a política de reforma educacional inspirada por Pombal. 177
Baião, A., “Episódios Dramáticos da Inquisição Portuguesa”, vol. 3, Várias, Lisboa, 1938, pp. 7-39.
70
Para a consecução de seus objetivos políticos em relação ao Santo Ofício, ele
criaria, em 1768, a Real Mesa Censória, que passaria a ser um tribunal secular, com plenos
poderes para autorizar e proibir a circulação de livros importados ou escritos em Portugal,
substituindo, assim, a censura outrora desempenhada pela Inquisição. Mesmo assim,
Pombal nem sempre foi coerente, ou melhor, inteiramente liberal em relação ao arejamento
intelectual a que se propunha, pois, se de um lado a Mesa Censória autorizou muitas obras
que se encontravam no “Index Expurgatorum” e se permitiu a leitura de Voltaire, e dos
Enciclopedistas, introduzindo-se, assim, o criticismo às instituições tradicionais, tão
corrente na época, por outro lado deparava-se com leis como a de 12 de dezembro de 1769,
em que se proibia a leitura de Bayle, Rousseau e La Metrie, “por serem iníquos e capazes
de seduzir e corromper não só a mocidade, mas os espíritos fracos e superficiais, inclinados
à novidade”.178
Mas não resta a menor dúvida de que a ele se deve a introdução de uma
literatura nova, e, por conseguinte, as novas concepções que abririam as portas do
Iluminismo a Portugal, até então estagnado culturalmente e socialmente orientado por um
espírito onde se associavam fanatismo, preconceito e modorra intelectual.
Em relação as cristãos-novos, seu primeiro passo – o de eliminar as diferenças
estabelecidas entre os conversos e seus descendentes e as consideradas famílias “puras” –
foi decisivo. Era, na verdade, acertar a luta contra o preconceito contra aqueles que
carregavam a pecha de suspeitos, mesmo que batizados há várias gerações, por terem
algum antepassado condenado pelos tribunais inquisitoriais. E num país, como diz o
escritor Latino Coelho em sua biografia sobre o marquês de Pombal, “onde, segundo
insuspeitas autoridades, entre elas Alexandre de Gusmão, a grande maioria dos habitantes
descendia de judeus, sem excetuar a própria dinastia de Bragança, a injuriosa distinção
entre os cristãos de raça pura e os de raça infecta era, nas mãos do obscuro fanatismo ou da
malquerença pessoal, um terrível instrumento de afronta e de vingança, como na época do
terror revolucionário, um meio funestíssimo de macular pessoas inofensivas e respeitáveis
com a tacha de suspeitas e indicadas à pública animadversão. Contra este abuso
escandaloso, arremate resoluto o legislador”179
. Assim, o alvará de 2 de maio de 1762
começará abolindo os róis das fintas dos cristãos-novos, que obrigavam aos descendentes
dos conversos a pagar tributos e donativos especiais e particulares, que não eram imputados
aos assim chamados cristãos-velhos. E, muitas vezes, não havia nenhum fundamento para
certas famílias estarem incluídas nas listas das fintas, uma vez que eram acusadas por
maledicência de falsários e denunciantes, assim como por aqueles que tinham o interesse de
diminuir a própria contribuição pela maior derrama de dinheiro e, ao mesmo tempo,
satisfazer seu maus sentimentos, aumentando o número dos que deviam carregar o signo
infamante de cristãos-novos. Em 1768, Pombal ordenou a destruição das cópias das
relações das fintas, apagando, desse modo, os vestígios formais que pesavam sobre pessoas
e famílias inteiras dos conversos, que viviam carregando uma velha e dolorosa mácula. O
zelo do legislador foi a tanto que ordenou submeter a exame os livros de genealogias e se
eliminarem deles “as notas de que resultasse dano ao crédito das famílias nobres”.180
Era
uma forma de atacar as famílias “puritanas”, que evitavam toda e qualquer mescla com
outras que, aos seus olhos, eram consideradas impuras. Sabemos que o marquês impôs, por
178
Cheke, op. cit., p. 229. 179
Latino Coelho, J. M. “O Marquês de Pombal”, Lisboa, 1905, p. 244. 180
Lúcio de Azevedo, op. cit., p. 350.
71
decreto, sua miscigenação, no prazo de quatro meses, de modo que os filhos núbeis das
mesmas fossem obrigados a contrair casamento com aquelas que, até então, eram
excluídas.181
Na carta de lei de 25 de maio de 1773 ele historia a existente distinção entre
cristãos-velhos e cristãos-novos, dizendo que tal diferenciação foi introduzida em Portugal
pelos jesuítas – seu eterno “bode expiatório” – e com a finalidade de excluir do trono
português o pior do Crato, que diziam ser descendentes de judeus. Lembra bem o legislador
que os judeus foram protegidos e receberam favores dos reis de Portugal, desde os séculos
medievais, mencionando os nomes de judeus que privaram como conselheiros, tesoureiros
e médicos das Cortes de d. Fernando e d. João I. Lembra, também, que d. Manuel, que tanto
perseguiu os judeus e os forçou a se batizarem, em março de 1507 ordenou que os recém-
convertidos à fé católica fossem considerados, em tudo, cristãos-velhos, sem que sofressem
qualquer discriminação. Da mesma forma, o rei d. João III, que introduzira a Inquisição em
Portugal, também confirmou, pela lei de 16 de dezembro de 1524, as prescrições de seu
antecessor. E, após apologizar os judeus que continuam até hoje em sua fé, Pombal ordenou
que as leis de d. Manuel e d. João III continuassem vigorando, enquanto que as posteriores
fossem consideradas anuladas. Penas graves seriam impostas àqueles ousassem apodar as
pessoas de origem judaica com qualquer designação depreciativa ou renovar a ofensiva
distinção. Aos clérigos que não obedecessem à nova regulamentação, seria imposto o
castigo do extermínio ou exílio fora do reino; aos nobres, a perda dos ofícios e bens da
coroa e das ordens militares; e aos peões contraventores seriam impingidas as penas do
açoite e do degredo perpétuo para Angola.
RETOMADA DE DIREITOS
Já no ano seguinte, em 1774, Pombal cuidava de dar maior amplitude à lei que
abolia a diferenciação entre cristãos-velhos e os cristãos-novos, eliminando-se a infâmia
com que eram atingidos os que apostatavam, pois, pela nova lei, uma vez confessado o
delito, eles podiam se reconciliar no Santo Ofício e se tornavam capazes de exercer toda e
qualquer dignidade ou ofício, sem falar de seus descendentes. O novo Regimento da
Inquisição, aprovado pelo alvará de 1º de setembro de 1774, foi redigido e englobava as
novas disposições, sendo decretado em nome do Inquisidor Geral e Regedor das Justiças,
Cardeal da Cunha, arcebispo de Évora, sucessor do irmão do marquês de Pombal.
Novamente, na introdução do Regimento se acentua o papel maléfico e deturpador que os
jesuítas tiveram em relação ao Tribunal do Santo Ofício, “pois parece-nos impossível que
os Regimentos e disposições fundamentais, que tinham dado as normas para o Governo do
Santo Ofício, se conservassem na sua primitiva pureza, sem que deixassem de se
181
Pelo que nos informa o historiador Latino Coelho, op. cit., p. 247, “tinham os fidalgos, na igreja paroquial
de Santa Engracia, uma confraria do Santíssimo em que, segundo o compromisso e o costume, somente podia
ser admitido cristão-velho, sem nunca se entender o contrário... Assim era que poucas famílias da mais
soberba e poderosa fidalguia, a dos marqueses de Angeja, de Valença, dos condes de Vilar Maior do
Monteiro-mor do reino e outras mais, formavam entre si como uma cerrada congregação, fora da qual as
estirpes mais novas na aparência andavam apodadas com o nome injurioso de cristãos-novos”.
72
contaminar, pelo decurso do tempo, com os malignos influxos da sobredita (Sociedade de
Jesus)...”.182
No mesmo Regimento, ainda se faz sentir que a Inquisição, que fora criada pela
autoridade real ou por instância de D. João III e com bula de Paulo III, em 1536 – e
portanto, diz o texto, como um Tribunal da Coroa –, acabou com o tempo devido “ao
esforço da malignidade jesuítica, que tudo transfigurou e confundiu, fazendo crer, pelo
progresso de suas intrigas e maquinações, que aquele mesmo Tribunal, ereto e regimentado
pelos dois senhores reis, dom João III e dom Sebastião, era puramente eclesiástico”.183
Novamente, o marquês fazia questão de mostrar a subordinação do poder espiritual ao
poder temporal, e assim definia claramente a instituição inquisitorial como instrumento do
Estado e a seu serviço, como, de fato, acabaria sendo doravante, a fim de evitar o “abuso
que se sustentou até o felicíssimo Governo del rei meu senhor (José II), que, pela nomeação
que em nós fez para a dignidade de Inquisidor Geral, reuniu e reivindicou aquela regalia
usurpada a sua real Coroa, havia quase dois séculos, na conformidade da dita carta, a nós
dirigida pelo mesmo senhor, em 15 de novembro de 1771.”184
Terminava, assim, a
autonomia daquela instituição que fora todo-poderosa no reino de Portugal, que inspirava
verdadeiro terror somente ao se pronunciar seu nome.
O historiador Lúcio de Azevedo traz, como exemplo ilustrativo dos novos
tempos, o fato de que um Antônio Soares de Mendonça, negociante que abjurou em forma
no auto público de 16 de outubro de 1746, apesar disso, foi agraciado em 8 de maio de
1775, ou seja, após a publicação do novo Regimento da Inquisição, com o hábito de
Cristo.185
Tal acontecimento dificilmente teria ocorrido em tempos anteriores.
Por outro lado, ainda que reconheçamos, desde o início, que o Marquês de
Pombal, acima de tudo, guiava-se pela Raison d’État para nortear sua política em relação à
Inquisição, não deixa de ser válido o questionamento sobre a verdadeira atitude pessoal, e
aqui frisamos o termo “pessoal”, frente aos judeus e cristãos-novos. Sabemos que não é
uma pergunta fácil de ser respondida, pois, na Inglaterra, onde chegara em missão
diplomática, em 1738 escrevia, em despacho a Marco Antonio de Azevedo Coutinho, a
quem sucedia, os seguintes termos: “posso dizer V. Exa. que é raro entre nós (em Portugal)
o homem da nação (hebréia) que não esteja com os olhos no caminho para estas partes
(Inglaterra e países de livre culto), e que somente se dilatam nos nossos domínios até
fazerem os grossos cabedais que nelas acumulam, se antes de os juntarem os não faz sair
desse reino o medo da fogueira. Tudo quanto ganham, ou antes extorquem, com artifícios
que eles têm por justos sendo detestáveis, vem nos paquetes, para ficar na Inglaterra e
passar à Holanda, assegurar-se nas mãos de seus depositários, amigos e parentes. Como
consideram a pátria onde gozam a liberdade, e o desterro onde têm o castigo ou a sujeição,
para estas terras, em que esperam estabelecer-se, procuram todas as vantagens e todos os
interesses, maquinando contra os países, seus adversos, toda a ruína, e não perdoando a
182
Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado com o real beneplácito e régio
auxílio pelo eminentíssimo e reverendíssimo senhor Cardeal de Cunha, dos Conselhos do Estado e Gabinete
de Sua Majestade e Inquisidor Geral nestes Reinos e em todos os seus Domínios, Lisboa, 1774, p. 1. Todas as
citações do texto são feitas na ortografia atual. 183
ibid, p.3. 184
ibid, p. 5. 185
Lúcio de Azevedo, op. cit., p. 352.
73
meio algum de os dissipar e empobrecer, por injusto e ilícito que se considere. (...) Daqui
tem resultado a dificuldade de evitar o contrabando e os domínios de Espanha. São imensos
os cabedais, que, naquele negócio, têm ganhado os judeus destas partes. (...) Este foi um
dos meus grandes receios, desde que suspeitei o projeto de irem ao rio da Prata: saber eu o
muito que eles desejavam estabelecer-se nas vizinhanças do Brasil, onde asseguram que
hão de ter, em cada cristão-novo, um destro furão, desencovar a furto os interesses, que não
podem hoje prosseguir”.186
Verdade é que Pombal, nesse período, estava preocupado com a ameaça ao
comércio português nas possessões do império colonial lusitano, e, principalmente, pelo
contrabando que, a seu ver, era fator que poderia levá-lo à ruína e onde os judeus tinham
também certa participação.
186
2 de janeiro de 1741. Col. Pomb, Cód. 656, apud Lúcio de Azevedo, J., “O Marquês de Pombal e a Sua
Época”, Rio de Janeiro-Lisboa, 1922, pp. 22-23.
74
9. A imigração israelita à Argentina e ao Brasil e a colonização agrária
Ao traçarmos um esboço comparativo da imigração judia à Argentina e ao
Brasil, saltam à vista de imediato as profundas diferenças existentes entre ambas.
Desde que a Argentina declarou sua independência, em 9 de julho de 1816, ou
seja, três anos após a eliminação do Tribunal da Inquisição em seu solo, devido à resolução
da Assembléia Constituinte de 24 de março de 1813, tornou-se viável uma imigração
judaica àquele país. De fato, a presença israelita, aberta e declarada, remonta àqueles
mesmos anos, que com o passar do tempo formam um núcleo populacional considerável, ao
ponto de se organizar, já em 1862, uma Congregação Israelita de Buenos Aires com judeus
alemães, franceses, ingleses e sefaraditas.187
Porém, o grande surto imigratório, essencialmente proveniente da Europa
Oriental, começaria verdadeiramente nos anos 80 do século XIX. Na verdade, esse
processo imigratório judaico, que no plano universal da história dos judeus foi considerado
o maior, levou a um deslocamento de milhões de seres humanos que se dirigiram à Europa
Ocidental, à América do Norte e aos países latino-americanos, especialmente à Argentina.
A razão fundamental desse processo imigratório se encontrava na situação e condições dos
judeus que viviam na assim chamada Zona de Residência do Império Czarista,
caracterizada por uma grande concentração populacional sem meios de subsistência. O
judaísmo dos países da Europa Ocidental, sabedores do que se passava com seus irmãos
nos territórios da Rússia monárquica, mobilizaram-se para encontrar as soluções que as
circunstâncias ofereciam, considerando-se a imigração a países de população escassa que
demandavam uma mão-de-obra colonizadora como o melhor caminho para a salvação
daquela massa humana que vivia na mais extrema miséria. Quanto à Argentina, a partir de
1881, o seu governo demonstrou interesse e estava aberta para receber imigrantes e de fato
sua administração designou, em agosto daquele ano, um agente na Europa com essa
finalidade, estabelecendo “contato com pessoas importantes de São Petersburgo, para tratar
de induzir essa população a trasladar-se ao nosso país sob o amparo e a proteção de nossas
leis...”
Os incidentes antijudaicos de 1881 na Rússia estimularam essa atuação dos
agentes de imigração, que também receberam um apoio de personalidades e instituições,
entre as quais se encontrava a Alliance Israelite Universelle, fundada em 1860 com a
finalidade de incrementar a emancipação e o progresso dos israelitas e prestar ajuda aos
necessitados devido às perseguições anti-semitas onde quer que elas se manifestam.
Já em 1881/2, a Alliance teve um papel importante em orientar a imigração
judaica saída da Rússia “pogromista” aos Estados Unidos ao mesmo tempo em que se
ensaiava a formação de núcleos imigratórios à Argentina, o que de fato veio a ocorrer em
1884. Poucos anos após, em 1889, chegavam à província de Santa Fé cerca de oito famílias,
que se estabeleceram em um lugar denominado Monigotes-Vieja, para mais tarde se
estabelecerem como colonos na famosa colônia de Moises Ville, fundada pela Jewish
Colonization Association. O verdadeiro início da colonização judaica na Argentina se dá
efetivamente em Moises Ville com parte do grupo de famílias, cerca de 110, que saíram da
187
Klein, Alberto, Cinco siglos de historia: una crónica de la vida judía en la Argentina, C.J.A., Buenos Aires,
1976, p. 12.
75
Podolia, e após muitas aventuras e desventuras, conseguiram chegar àquele país para se
dedicar ao trabalho agrícola.188
O passo mais significativo para incrementar a colonização de judeus na
Argentina foi a criação da Jewish Colonization Association, em 24 de agosto de 1891, em
Londres, como uma sociedade anônima de caráter filantrópico e com um capital inicial de
dois milhões de libras esterlinas, doados em quase sua totalidade pelo Barão Hirsch.189
Este
último, comovido pela situação em que se encontravam os judeus em vários países
europeus e asiáticos, assumiu boa parte da iniciativa da criação de uma entidade que
pudesse encaminhar os seus irmãos de fé ao trabalho da terra. De outro lado, em fins de
1889, o Dr. Guilherme Loewenthal, submeteu ao Barão Hirsch um projeto de colonização
judaica na Argentina, onde via a possibilidade de organizar anualmente uma imigração de
5.000 pessoas provenientes da Rússia, considerando ainda que essa colonização não deveria
possuir apenas caráter filantrópico, mas permitir que os colonos lutassem pela sua
independência econômica e chegassem a ela pelo árduo trabalho do campo.
Entre os artigos da J.C.A. consta que ela visa “facilitar a imigração dos
israelitas dos países da Europa e Ásia, onde são reprimidos por leis restritivas e estão
privados de direitos políticos, para outras regiões do mundo onde possam gozar desses e
demais direitos inerentes ao homem. Estabelecer para tanto colônias agrícolas em diversos
territórios da América do Norte e do Sul, bem como em outros lugares. Promover e
sustentar estabelecimentos de educação, adestramento e fomento que permitam melhorar as
condições materiais e morais dos judeus pobres e necessitados”.
O governo russo da época autorizou o funcionamento de um Comitê Central da
J.C.A. em São Petersburgo, bem como filiais nas províncias. De outro lado, o governo
argentino, em 1900, reconheceu a J.C.A. como uma “Associação civil com fins
filantrópicos”. A fim de se evitar uma saída desordenada de grandes massas e sem o devido
preparo para encaminhá-las a trabalhos produtivos, fez o Barão Hirsch publicar e difundir
uma circular pedindo que os interessados em emigrar se inscrevessem nos devidos comitês
estabelecidos para tanto, advertindo ao mesmo tempo que não poderia arcar com a
responsabilidade sobre aqueles que se aventurassem a imigrar por conta própria.
O projeto de colonização do dr. Guilherme Loewenthal foi bem aceito pelo
Barão Hirsch, que na ocasião resolvera enviar uma comissão de inquérito sob a chefia
daquele. A comissão, ao chegar em fins de 1890 a Moises Ville, lá encontrou 68 famílias,
que ocupavam 4.350 hectares de terra. O Dr. Loewenthal organizou no lugar uma
“Sociedade Cooperativa de Agricultores em Moises Ville”, a primeira entidade que usava o
nome “cooperativa”, o que caracterizaria a colonização agrária judaica na Argentina. Os
membros da sociedade constituída eram locais e ao mesmo tempo receberam o primeiro
apoio financeiro, de 15.000 francos, do Barão Hirsch. Em um relatório escrito pela
comissão sobre a situação da colônia consta que “os judeus russos são inteligentes e com
seu entendimento eles aprendem em pouco tempo e procuram ser auto-suficientes o mais
rápido possível”...190
188
Gabis, A. e Senderev, M. Moises Ville, Buenos Aires, 1964.
189
Baron Maurício de Hirsch, Museo Judío de Buenos Aires, B.A., 1974. 190
Sobre os inícios da colonização agrária judaica na Argentina, importante e indispensável é a leitura do
estudo de Pinchas Bizberg, Oif di schpuren fun iidicher vanderung in 1889-1902 (Nos rastros da imigração
judaica em 1889-1902) in “Argentiner Iwo Shriftn”, 2, B. Aires, 1942, pp. 7-46, e em particular o volume 9-
76
Nesse ínterim, o incremento e o estímulo dado à colonização dos judeus russos
na Argentina encontraram um apoio relativo no próprio governo russo, que permitiu uma
ação efetiva de propaganda, com o apoio de personalidades influentes do judaísmo local, e
a criação de comitês que se dispõem a mobilizar e selecionar o elemento humano disposto
ao trabalho agrícola. Por outro lado, a J.C.A., a partir de 1891, estabeleceu uma
representação em Buenos Aires, que se nos primeiros anos se revezou com certa
freqüência, a partir de 1893 se estabilizou com dois diretores que permaneceram em função
durante 10 anos contínuos, David Cazes e Samuel Hirsch. Ambos os diretores procuraram
amenizar as condições para o recebimento dos novos colonos, procurando planejar os
detalhes e o modo que deveria reger o estabelecimento dos grupos imigrantes antes mesmo
de chegarem ao país. Em 1894 começaram a chegar os primeiros grupos da nova imigração
que se organizou na Rússia, principalmente saídos das aldeias e da zona rural, com certa
experiência no trabalho da terra. Assim, em 1894 chegaram 286 almas, que fundaram a
colônia Lucienville, em Basavilbaso na província de Entre Rios. Com essas famílias se
encontrava também um representante de um grupo de judeus oriundos da Lituânia e que
deveria seguir logo após à Argentina para se estabelecer em Moises Ville. Seu nome era
Noah (Noé) Kaciovich191
e era a pessoa indicada, devido ao respeito que inspirava, para
exercer uma posição de incremento à colonização de judeus vindos de seu lugar de origem.
Com esse fim, ele viajou duas vezes à Europa, conseguindo trazer vários grupos
colonizadores formados com um elemento humano de primeira qualidade para o trabalho
agrícola, estabelecendo-se na região próxima a Moises Ville, que com vários colonos
passou de 91 famílias em 1896 a 250 em 1902. Nesse ínterim, foram fundadas colônias
agrícolas em outras regiões sob a orientação e ajuda direta da J.C.A.192
Até o ano de 1925,
aproximadamente, a J.C.A. continuará criando novas colônias, desenvolvendo
paralelamente um trabalho social que permitirá estabelecer uma rede escolar para as
crianças, bibliotecas, sinagogas, clubes e organizações de juventude, dando assim a
possibilidade aos colonos de ter uma atividade cultural significativa na língua ídiche e em
espanhol.
A agropecuária constituiu-se na principal atividade econômica das colônias,
mas de início muitos exerciam, para poderem sobreviver, o trabalho remunerado como
assalariados dos fazendeiros, seja em trabalhos ligados ao cultivo da terra ou como
profissionais especializados em várias manufaturas.
As colônias agrícolas na Argentina, desde o início, tinham um planejamento de
unidades agrícolas familiares que variavam de 30 até 100 hectares, dependendo de sua
localização, composição humana e tipo de cultura adotada. Porém, o seu sucesso se deve,
em primeiro lugar, à adoção do cooperativismo que foi introduzido desde os primórdios da
colonização judaica, a começar da Sociedade Agrícola de Moises Ville, fundada em 1908,
10, 1964, da mesma coleção, dedicado ao 75.º aniversário da colonização judaica na Argentina e que reúne o
melhor material histórico sobre o tema. 191
Sobre ele e sua atuação, bem como sobre os primeiros grupos imigratórios em que teve uma participação
ativa, importante é o volume publicado pelo IWO das memórias de Noé Kaciovich com o título “Mozesviler
bereshis” (Os começos de Moises Ville), B. Aires, 1947.
192
A difícil e por vezes trágica situação das primeiras colônias argentinas foi descrita por Peretz
Hirschbein em seu livro ,verdadeiro documento sobre esssa colonização, Fun vaite lender:
Argentine, Brazil, Yuni, November, 1914, N.Y.,1916, reed.N.Y., Book Renaissance, 2012.
77
além de outras mais. Em 1925 constituiu-se a Fraternidad Agraria, que reunia sob seu teto
23 cooperativas agrícolas existentes nas colônias judias argentinas, e não é de surpreender
que dez anos mais tarde, em mais de 20 colônias da J.C.A., se cultivassem 650.000 hectares
de terra, o que representava 2% do total das terras cultivadas na Argentina.193
A colonização agrícola judaica na Argentina conseguiu, desse modo,
sobreviver, apesar da atração que a vida urbana exercia e naturalmente levava muitos a
abandonar o campo que sempre exigiu sacrifícios daqueles que se dispunham à
colonização, como podemos constatar pela leitura do clássico de Alberto Gerchunoff, “Los
gauchos judíos”.
A contribuição judaica à agricultura Argentina foi significativa, pois, além de
se manifestar na organização cooperativa, introduziu cultivos que até então eram
desconhecidos naquele país, tais como o girassol e a alfafa, que devido ao seu sucesso
passaram a ser cultivados em larga escala.194
Também as cooperativas introduziram a
industrialização dos produtos agropecuários, tais como a manteiga e outros derivados do
leite, com o devido respaldo financeiro de instituições bancárias que se foram criando com
o tempo, entre elas o Banco Comercial Israelita, cuja central se encontrava em Rosário.
A mesma J.C.A., e pelos mesmos motivos, encetou uma colonização agrícola
judaica no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, com uma distância de tempo de 10 anos,
aproximadamente, após o da Argentina. É preciso dizer que, para o imigrante europeu
daquela época, o Brasil era menos conhecido do que a Argentina e não despertava tanto
interesse e tanta atração quanto aquele país. Por outro lado, o governo brasileiro, ao
contrário do argentino, não se dispôs a uma atividade propagandística para atrair o
elemento judeu da Europa à colonização agrícola.195
Portanto, o projeto de colonização da J.C.A. no Rio Grande do Sul ficou em
boa parte sob sua própria responsabilidade. Mesmo a comunidade judia local ou a brasileira
não teve, a partir de 1904, quando chegaram as primeiras famílias, qualquer participação
significativa no projeto, a não ser os poucos privilégios concedidos pelo governo do Estado.
A J.C.A. adquiriu de início cerca de 5.767 hectares de terra em Pinhal, na
região de Santa Maria, distante 25 km daquela cidade. Da Argentina viria o representante
193
Sobre o papel do cooperativismo na colonização agrária judaica da Argentina vide os vols. 2 e 9-10 dos
“Agentiner Iwo Shriftn”, mencionados na nota de rodapé 4 e o artigo de S. I. Horwitz, Di cooperatives in di
yidiche colonies in Argentine (As cooperativas nas colônias judaicas da Argentina) in “Argentiner Iwo
Shriftn”, 1, B. Aires, 1941, pp. 59-116.
194
Sobre a contribuição judaica à agricultura argentina, merece destaque o estudo valioso de José Lieberman,
Aportes de la colonización agraria judía a la economía nacional, C.J.A., Buenos Aires, 1976. O mesmo autor,
cientista de renome em nosso continente e membro do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA)
da Argentina, também escreveu outras obras importantes sobre o tema acima, bem como sobre a colonização
judaica naquele país.
195
Nesse sentido, devemos observar que bem antes da atuação da J.C.A. houve tentativas e projetos de
colonização agrícola com imigrantes judeus no Brasil e houve, em 1891, o envio de um conhecido jornalista
europeu, Oswald Boxer, que em nome de uma entidade alemã trouxe um projeto ao governo brasileiro da
época, para que aceitassem imigrantes judeus dispostos ao trabalho da terra. Lamentavelmente, Boxer
contraiu febre amarela enquanto aguardava em S. Paulo qualquer manifestação oficial a respeito, vindo logo a
falecer sem poder realizar o seu intuito. Descobrimos após várias buscas que fora enterrado no Cemitério dos
Protestantes (ao lado da Consolação) e temos em nosso arquivo cópia de seu atestado de óbito.
78
da J.C.A., Dr. Eusébio Lapine,196
engenheiro, que desde 1903 preparava as condições
materiais para o recebimento das 38 famílias vindas da Bessarábia, na época integrada à
Rússia, e que chegariam no ano seguinte à primeira colônia denominada Philippson.197
Apesar da fertilidade da terra, as grandes e densas florestas constituíram um
sério obstáculo na formação e desenvolvimento da colônia, pois antes de tudo necessário se
fazia limpar o terreno para poder cultivá-lo.198
Como em outros lugares, a J.C.A. assumia as despesas de viagem e distribuía a
cada colono cerca de 25 a 30 hectares de terra,199
além de uma moradia, instrumentos de
trabalho agrícola, duas juntas de boi, duas vacas, um cavalo e um auxílio monetário
variável de acordo com o número de pessoas da família, durante o período em que não
pudessem ser autônomos. A importância investida em cada colono deveria ser devolvida
em um prazo variável de 10 a 20 anos, com juros, porém considerando-se que seu débito
deveria ser reduzido no caso de ser prejudicado por calamidades climáticas ou por
gafanhotos. De outro lado, a J.C.A. deveria arcar com todas as despesas referentes à
administração e serviços públicos, incluindo-se a educação das crianças da colônia.200
196
Eusébio Lapine foi considerado na Argentina um modelo de mau administrador pela sua conduta arbitrária
e pouco humana em relação aos colonos endividados, sendo, portanto, alvo de crítica acérrima por parte do
diretor do periódico “Di Folks Schtime” (A Voz do Povo) Abraham Vermont, que esteve à sua testa durante
os anos de 1898, quando foi fundado, até 1914, ano em que encerrou suas atividades. Sobre isso escreveu
Baruch Hochman, Materialen tzu der geschichte fun der idicher colonizatzie un agrar-cooperatzie in
Argentine (Documentos para a história da colonização e cooperativismo agrário israelita na Argentina) in
“Argentiner Iwo Shriftn”, 9-10, Buenos Aires, 1964, pp. 5-107. Sobre Vermont e seu jornal escreveu Pinhe
Katz no seu “Idische Jornalistik in Argentine”, (A imprensa judaica na Argentina) in Geklibene Shriftn,
volume V, pp. 39-58.
197
Em homenagem a Franz Philippson , na época vice-presidente da J.C.A., e banqueiro que presidia
companhias de estradas-de-ferro na Argentina e Rio Grande do Sul.
198
Pelo que apuramos no Livro Copiador n.º 1 (1903-1905), manuscrito que hoje se encontra no Arquivo
Histórico Judaico Brasileiro, Eusebio Lapine ficaria até fins de 1903 preparando as instalações para o
recebimento dos novos colonos, o que não incluía o desmatamento. Em janeiro de 1904, ele já se encontrava
em Buenos Aires, talvez por razões de doença, sendo substituídos por J. Bezchinsky e David Hassan, que no
entanto continuavam a escrever-lhe pedindo conselhos e orientação.
199
Em carta-relatório de 11 de junho de 1904, David Hassan escrevia a Lapine dizendo que
“desgraciadamente el plane no dice cuales lotes son de 25 H o 30 H. Como no tengo aviso todavía de la salida
de los colonos, creo que Va. tendrá tiempo de contestar, sino, haré como en Argentina, por sorteo, así opina
Sr. Behzhinsky”. Livro Copiador n.º 1, arquivo da J.C.A., p. 86, no A.H.J.B.
200
O primeiro professor seria o dr. León Back, que atuou como professor e subdiretor da “École Horticole et
Professionelle du Plessis-Piquet”, nos arredores de Paris. Chegou a Philippson em 5 de junho de 1908,
instalando ali uma escola mista. V. o artigo de sua autoria sobre a imigração judaica no Rio Grande do Sul, na
Enciclopédia Rio-grandense, 5.º volume. Importante é a consulta do livro de Eva Nicolaievsky, Israelitas no
Rio Grande do Sul, ed. Garatuja, P.A., 1975, que foi um dos primeiros trabalhos sobre a colonização judaica
no Rio Grande do Sul, ainda que tenha um caráter de homenagem e conservação da memória dos primeiros
judeus chegados naquele estado, e portanto não fundamentado em uma pesquisa científica sobre a
documentação disponível no Brasil ou em arquivos do exterior. Anos após surgiriam outros estudos,
abordando outros aspectos dessa colonização, que ainda está a espera de seu historiador. Entre os trabalhos
mais recentes se encontra o de Jeff Lesser , Jewish colonization in Rio Grande do Sul (1904-1925), Estudos
CEDHAL, n. 6, São Paulo, 1991.
79
As dificuldades iniciais se apresentaram com a qualidade da terra reservada
para o cultivo e que se revelou pouco fértil, obrigando os colonos a se empenharem em um
duro trabalho de desmatamento da cerrada floresta existente na região. Com muito trabalho
e sacrifício passaram a cultivar trigo, milho, feijão, amendoim, bem como hortaliças e
árvores frutíferas. Entre os cultivos, o sucesso maior foi o fumo, que os colonos
introduziram em Philipson com sementes trazidas da Bessarábia e que vingou muito bem
na região, a ponto de ser procurado por compradores de Porto Alegre e São Paulo, devido à
excelente qualidade do produto.Na verdade, os colonos de Philippson foram os primeiros
que introduziram o cultivo do trigo e do fumo (turco) em escala maior e que, mais tarde,
passaram a ser importantes na agricultura sulina, especialmente o primeiro.
Com o aparente sucesso da primeira colônia a J.C.A., em dezembro de 1909,
adquiriu uma fazenda denominada “Quatro Irmãos”, com uma extensão de 93.850 hectares
na região de Passo Fundo. Assim como foi feito com Philippson, os preparativos para o
recebimento de novo colonos foram iniciados com uma certa antecedência, e quando os
primeiros colonos chegaram, em 1911 a “Quatro Irmãos”, já encontraram os lotes divididos
e com moradias onde ficar. Alguns de seus primeiros colonos vieram da Argentina, onde
tinham passado por uma experiência agrícola como assalariados nas colônias daquele país,
e outros vieram da Bessarábia. Em 1913 receberam um grande reforço com a vinda de 150
famílias da Rússia. Já nessa segunda colônia cada família recebia um lote 150 hectares
além de moradia, galpão, 14 vacas, 4 bois, 1 touro, 2 cavalos, 1 carroça, 1 arado e outras
ferramentas para o trabalho agrícola. Os juros sobre o valor da terra eram baixos, 4% ao
ano, pagáveis em 20 anos, e o resto da aplicação de capital deveria ser pago em 13 anos. A
tendência dessa colônia era fundir o trabalho agrícola com a pecuária, daí o maior número
de cabeças de gado e, em particular, o leiteiro. Os primeiros anos de “Quatro Irmãos” foram
promissores, e às vésperas da Primeira Guerra Mundial ela contava com 350 famílias,
muitas delas vindas espontaneamente e por conta própria, para se dedicarem ao trabalho da
terra. Além do trigo, do milho e outro cereais, os colonos também empreenderam o cultivo
da mandioca, que puderam industrializar com ajuda da J.C.A.
Até 1923, “Quatro Irmãos” se apresentava como uma colônia progressista que
confirmava as possibilidades de uma colonização agrícola judaica no Brasil. Porém, nesse
mesmo ano estourou a revolução no estado sulino, o que provocou a verdadeira ruína do
empreendimento. A colônia ficou sujeita à arbitrariedade do banditismo local que se
infiltrava constantemente na região e atingia a propriedade, e os próprios colonos, ao ponto
de desanimarem e abandonarem as suas terras para procurar um lugar mais seguro nas
cidades ao redor e em Porto Alegre. Os roubos contínuos de gado, dinheiro, ferramentas e
objetos de casa acabaram arruinando a muitos que tinham investido anos e anos de
trabalho, sem que o governo local pudesse impedir com eficiência a penetração dos
bandidos.201
Tal situação perdurou durante o agitado ano de 1924, levando a J.C.A. a
fundar no Uruguai uma colônia com elementos saídos de “Quatro Irmãos” com o nome de
“19 de abril”, perto da cidade de Paissandu. A situação dos colonos em fins daquele ano de
1924, conforme telegrama recebido pelo representante da J.C.A. no Brasil, da sua
administração em Erebango e publicado no “Dos Idiche Vochenblat” (O Semanário
Israelita) de dezembro, era terrível, pois com a saída do exército os colonos foram
201
“Jewish Colonization Association” Rapport, Paris, 1926, pp. 56-87. O relatório trata dos anos de 1923 e
1924.
80
obrigados a fugir e nas condições mais difíceis, ocorrendo acidentes e encontrando-se sem
proteção alguma.
Apesar dos contratempos, a J.C.A. persistiu em seus projetos de colonização e
envidou esforços no sentido de renovar a imigração judaica à colônia “Quatro Irmãos”, que
na verdade era formada de quatro núcleos incluindo Quatro Irmãos, Baronesa Clara, Barão
Hirsh e Rio Padre. A vinda, em dezembro de 1923, de um representante da J.C.A., o
renomado rabino Isaías Raffalovich, que se instalou no Rio de Janeiro, propiciou a
continuidade do projeto de colonização, pois sua influência junto à comunidade, bem como
junto às instâncias governamentais e principalmente junto à direção da J.C.A. na Europa
permitiu a adoção de uma política de auxílio mais efetivo aos colonos. Sobre esse aspecto,
foi muito importante a iniciativa de fortificar a Sociedade de Beneficência para Amparo de
Imigrantes, Relief, existente no Rio de Janeiro, que passou a cuidar dos mesmos e
encaminhá-los às colônias do Sul. Raffalovich, com os fundos da J.C.A., preocupou-se
também em criar escolas, trazer professores para que os filhos dos colonos pudessem
receber uma educação adequada, ainda que vivessem no campo. Curiosamente, a J.C.A.
passou a ter um papel primordial no desenvolvimento de uma rede escolar judaica no
Brasil, pois as primeiras escolas, também dos centros urbanos, foram subsidiadas por ela.202
Em 1926, uma nova leva de imigrantes chegava aos núcleos de “Quatro
Irmãos”, dirigindo-se as primeiras 30 famílias ao núcleo Barão Hirsh,203
após um período
de promoção e propaganda de colonização agrária do qual o jornal “Dos Idiche
Vochenblat” (O Semanário Israelita) era veículo único no Brasil, além dos esforços
fundamentais e decisivos que se faziam na Europa, em especial na Lituânia e Letônia204
. A
J.C.A. arcava novamente com todos os gastos e dessa vez reduzia a dívida dos colonos,
com um ônus de juros de 5% ao ano, dívida essa que deveria ser paga em 20 anos. Além do
mais, os colonos receberiam cinqüenta hectares de terra, dois hectares de meio de floresta já
cortada, dois cavalos, duas vacas, moradia de três quartos, estábulo e implementos
agrícolas. Durante um ano, o colono podaria um e meio hectare de floresta, podendo vender
a madeira no mercado de fora e ficar com o ingresso decorrente do negócio. Os núcleos
planejados em “Quatro Irmãos” deveriam conter uma escola, uma sinagoga, biblioteca, que
seriam mantidos pela J.C.A. durante os três primeiros anos, após os quais seriam de
responsabilidade dos colonos.
As sociedades filantrópicas judaicas, HIAS (Hebrew Immigration Aid Society),
com sede em Nova York, a J.C.A., com sede em Paris e Londres, e a EMIGDIREKT
(Emigrations-Direktion) de Berlim, coordenadas mais tarde com o nome de HICEM,
tiveram um papel importante no encaminhamento e no apoio aos novos imigrantes que se
dirigiam aos países da América do Sul, assim como a outros. Em Porto Alegre, sob a
202
V. a respeito nosso estudo “Subsídios à história da educação judaica no Brasil ”, in Herança Judaica, n.º
47, setembro de 1981, pp. 53-63.
203
. “Dos Idiche Vochenblat” de 23/05/1926 e 04/06/1926.
204
“Dos Idiche Vochenblat” de 06/11/1925. Já em 4 de setembro de 1925 o “Dos Idiche Vochenblat”
anunciava que chegaria ao Brasil o inspetor geral da J.C.A. na Argentina, dr. David Zvi, que havia
anteriormente passado um ano em Quatro Irmãos para preparar as condições para uma nova imigração. O
mesmo periódico de 9 de outubro do mesmo ano, em entrevista com Gregorio Yochpe, que esteve na Europa
durante cinco meses, acentuava “o início da segunda imigração em Quatro Irmãos”.
81
direção do dr. León Back, formou-se um “Comitê pró Imigrantes Israelitas”, em 1927,
vinculado ao HICEM e que se encarregava de receber os imigrantes a bordo dos navios,
hospedá-los e encaminhá-los para o trabalho produtivo, seja na cidade ou no campo. Em
toda a parte onde havia comunidades israelitas, nas grandes e pequenas cidades brasileiras,
organizaram-se comitês semelhantes para que pudessem enfrentar a grande onda
imigratória, que perdurou durante os anos 20 e parte nos anos 30.
A filosofia imigratória do HICEM referente ao Brasil foi definida em carta ao
dr. Raffalovich e publicada no “Brazilianer Idiche Presse” (Imprensa Israelita Brasileira),
periódico que surgira naquele mesmo ano em continuação ao Dos Idiche Vochenblat, e se
resumia em cinco pontos: a) os primeiros imigrantes a virem ao Brasil devem ser os que
possuem qualificação profissional e estão aptos à colonização agrícola; b) os que não
possuem profissões deverão ser preparados profissionalmente nas estações experimentais
que as associações criarão nos países de emigração e imigração; c) a fim de facilitar a
absorção do imigrante, serão criadas sociedades de empréstimo e também setores de
passagens de navios que possibilitem ao imigrante trazer sua família; d) criar-se-á os meios
para que o imigrante estude a língua do país, pela realização de cursos noturnos; e)
organizar-se-á em cada lugar um escritório ou agência de trabalho.205
Os resultados com a nova colonização mostravam-se promissores, e em fins de
1927 e inícios de 1928 informes otimistas diziam que a criação de uma cooperativa agrícola
no núcleo Baronesa Clara dera muito certo e que se levaria o empreendimento a outros
setores. Ao mesmo tempo, da estação de Erebango se informava que as 70 famílias do
Barão Hirsh e Baronesa Clara obtiveram uma compensadora safra agrícola, produzindo
1.500 sacos de trigo, exportando 8 vagões de milho no valor de 33 contos de réis e
possuindo todos os campos de alfafa, erva-mate, vinhedos e árvores frutíferas.206
Lamentavelmente, em relação à colônia “Quatro Irmãos” ocorreria uma nova
catástrofe, com a revolução de 1930 que provocou novas invasões de estranhos com graves
conseqüências, sendo os prejuízos materiais e morais dos seus moradores enormes. O
desânimo que desabou sobre os colonos provocou, mais uma vez, o abandono dos núcleos
agrícolas e a ida aos centros urbanos, que sempre constituíram, em potencial, um atrativo
que se revelava ainda mais forte em tempos difíceis e tempestuosos.
A política do Estado Novo em restringir a imigração de um modo geral, e a
judaica em particular, pois novos ventos de caráter anti-semita207
bafejavam em nosso país,
levou a que as colônias sofressem uma diminuição de sua população, e partes das glebas
foram passando a outros colonos não-judeus. A J.C.A. continuou zelando por seu programa
de colonização, mas os tempos não eram favoráveis a sua incrementação devido aos fatores
mencionados anteriormente. Uma última experiência faria a J.C.A. no Brasil ao tentar abrir
205
“Bazilianer Idiche Presse” de 10/06/1927. Durante todos os meses desse mesmo ano a propaganda da
J.C.A. dirigida aos interessados em se colonizar permaneceu ativa através desse órgão de imprensa.
206
“Idiche Folktzeitung” de 23/12/1927 e 28/02/1928.
207
O epígono do nazismo no Brasil, Gustavo Barroso, além de traduzir a “literatura” anti-semita européia ao
português, foi um autor prolífero de pasquins impregnados de sandices e ódio antijudaico, que envenenou
mentes e contribuiu para criar uma atmosfera até então desconhecida no país em relação aos imigrantes
judeus. Uma reação ao anti-semitismo se deu com a publicação do livro “Por que ser anti-semita?”, em 1933,
com a colaboração das melhores forças intelectuais de nosso país.
82
uma nova colonização, agora no Estado do Rio de Janeiro, em Rezende, quando em 1936
sugeriu ao governo brasileiro a formação de uma colônia agrícola de imigrantes judeus
oriundos da Alemanha. A razão do projeto obviamente se justificava pela perseguição que
os judeus estavam sofrendo na Alemanha nazista e que culminaria no Holocausto com o
extermínio de milhões de seres durante a Segunda Guerra Mundial. Procurava-se na época,
antes que a grande tempestade desabasse sobre o povo judeu, salvar aqueles que estavam
diretamente ameaçados pela besta nazista, que desde de sua ascensão ao poder mostrava
seus verdadeiros desígnios. O Brasil, assim como outros países sul-americanos, encontrava-
se na época indefinido quanto a sua política externa em relação ao Eixo, ou mais
propriamente em relação à Alemanha, que procurava exercer sua esfera de influência
também nessa parte do mundo. E não faltavam grupos que viam a Alemanha nazista com
certa simpatia. Por outro lado, tal situação se refletia na política imigratória brasileira, que
discriminava os judeus, como atestam vários documentos emanados diretamente de
gabinetes governamentais. Por um motivo ou outro, o governo acabou por aceitar o projeto
Rezende, mas sem qualquer participação no mesmo.
Porém, devemos, nesse ponto, nos deter com mais vagar para examinar de
perto a política imigratória brasileira dos anos 30 em relação aos judeus, e nesse sentido, as
mudanças havidas de uma década para outra foram radicais. Pela lei Epitácio Pessoa, de 6
de janeiro de 1921, que regulava a entrada de imigrantes, fazia-se referência aos
indesejáveis tais como doentes, velhos, criminosos, e a nova lei de 1925 passava a exigir
dos imigrantes uma documentação mais complexa. Além disso, ao entrarem no país ou na
cidade do Rio deveriam ser internados em quarentena na ilha das Flores. Mas apesar dessas
exigências e o critério de seleção adotado, podemos dizer que a imigração nesses anos era
livre e não continha elementos discriminatórios em relação à nacionalidade ou de outro tipo
qualquer. Mas nos fins de 1927 uma personalidade judaica da Argentina, M. Regalsky,
escritor e redator do “Dos Idiche Tzeitung” (O Jornal Israelita) de Buenos Aires, em visita
ao Ministro da Agricultura, em 28 de dezembro daquele ano para tratar de assuntos
relativos à imigração, ouviu de sua boca algo que prenunciava “novos tempos”. O Ministro
lhe declarou que o governo resolvera não organizar nenhum movimento de imigração e
tampouco contratar operários estrangeiros, “não devemos dar privilégio à imigração judaica
e nesse sentido não devemos tampouco considerar os pedidos da J.C.A., porém mantemos
uma atitude positiva em relação à livre imigração e não fazemos distinção entre
nacionalidades. Também não temos nenhuma instrução, em particular, para paralisar
qualquer ingresso de judeus ao Brasil”.208
A primeira parte da declaração do Ministro
orientaria, futuramente, a política imigratória do governo. Em 1934, novas resoluções
governamentais relativas à imigração instituíam o sistema das “cartas de chamada”, que se
aplicava em boa parte a trabalhadores rurais, profissionais contratados, proprietários de
terras capitalistas. Isso permitiu que boa parte dos judeus alemães, que procurava sair do
inferno nazista, entrasse em nosso país como turistas e conseguisse licença de permanência
no momento em que demonstrasse se enquadrar nas categorias previstas acima. Mas muitos
esgotavam os seus vistos de permanência e se viam obrigados a sair para outros países,
como Paraguai, Uruguai ou outro qualquer, a fim de regulamentar sua permanência
posteriormente, ou nunca mais. No mesmo ano de 1936, as “cartas de chamada” foram
substituídas pelas “cartas de autorização”. Mas a lei de 1934 incluía outros itens, entre eles
208
“Brazilianer Idiche Presse” (Imprensa Israelita Brasileira) de 16 de dezembro de 1927.
83
a proibição da entrada de analfabetos, mas o mais importante fixava a cota anual de entrada
de estrangeiros a 2 % do número total de cada nacionalidade ingressa no país durante os
últimos 50 anos. Getúlio Vargas, pelo visto, tinha a intenção de bloquear a imigração e
mesmo um projeto de Henrique Doria de Vasconcelos para abrir as portas e eliminar os
entraves existentes, em 1936, caiu por terra, pois no dia 10 de novembro de 1937 o
presidente fechava as portas do Congresso e começava a reinar abertamente um critério
anti-semita na seleção dos imigrantes ao nosso território. Tudo isso ficou claro quando, em
novembro de 1948, pouco mais de três anos após o término da Segunda Guerra Mundial,
começava-se a publicar no jornal “O Estado de São Paulo” uma longa série de artigos sobre
a questão imigratória com o título “A batalha contra a imigração”. No sexto artigo da série,
intitulado “A circular secreta contra os judeus”, punha-se à luz a circular secreta de n.º
1.249 que emanava do gabinete do Ministério de Relações Exteriores dirigida às missões
diplomáticas e consulados de carreira e às autoridades de imigração e policiais, cujo teor
transcrevemos na íntegra:
Ministério das Relações Exteriores
Rio de Janeiro
Circular secreta n.º 1.249
Às missões diplomáticas e consulados de carreira e às autoridades de imigração
e policiais.
S.P.
Entrada de israelitas em território nacional.
O Ministério das Relações Exteriores em vista do que foi decidido pelo
Conselho de Imigração e Colonização, resolve baixar novas instruções relativas
ao visto consular em passaportes de estrangeiros de origem semita, o qual
deverá ficar exclusivamente circunscrito aos seguintes casos e dentro das
normas abaixo estabelecidas:
a) portadores de licença de retorno em plena validade;
b) turistas e representantes de comércio. A autoridade consular verificará,
com a atenção devida ao ato, de que poderá vir a ser responsável, e
pelos meios que julgar mais próprios, a condição de verdadeiro turista
ou representante de comércio, cuja estada no Brasil em hipótese alguma
poderá ser superior a seis meses. Uma declaração neste sentido será
anotada no passaporte, junto ao visto, pela autoridade consular, a fim de
vedar a qualquer autoridade policial brasileira a alteração da
classificação do estrangeiro, prevista no artigo 163 do decreto n.º 3.010,
de 20 de agosto de 1938. Além disso, a autoridade consular não aporá
visto sem que o interessado tenha apresentado declaração oficial de que
poderá regressar dentro de um ano, sem impedimento algum, ao país
onde tenha residência.
c) até 31 de dezembro de 1938, cônjuge ou parentes consangüíneos, em
linha direta até o 2.º grau do estrangeiro que esteja residindo legalmente
em território nacional. A prova far-se-á perante a autoridade consular,
mediante atestados expedidos pelo “Serviço de Passaporte” do
Ministério das Relações Exteriores.
84
d) cientistas e artistas de reconhecido valor internacional, a critério da
autoridade consular, que justificará, no entanto, o visto, por ofício, à
Secretaria do Estado das Relações Exteriores.
e) técnicos requisitados oficialmente pelos governos dos estados para fins
exclusivamente de utilidade pública. Essa requisição deverá obedecer a
uma lista das diferentes profissões, a ser estabelecida pelo C.I.C., e só
será válida depois de visada pelo “Departamento de Imigração” e
“Serviço de Passaportes” do Ministério das Relações Exteriores.
f) capitalistas ou industriais que desejem fundar empresas ou sociedade no
Brasil. Deverão provar perante a autoridade consular a transferência de
um capital mínimo de 500.000$000 (quinhentos contos de réis) por
intermédio do Banco do Brasil. Ao visto deverá preceder consulta à
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, com o comprovante
apresentado pelo interessado, de que se trata de fato de capital
estrangeiro existente no exterior. Os capitalistas ou industriais a que se
refere esta alínea deverão provar ao Serviço de Passaportes do
Ministério das Relações Exteriores, com o comprovante apresentado
pelo interessado valido, dentro do prazo de um ano, a contar da data de
sua entrada no País, que empregaram o capital referido nas empresas ou
nas sociedades em questão. Se esta exigência não for satisfeita, será
dado um prazo para as aludidas pessoas deixarem o território nacional.
1) Com exceção dos turistas e representantes de comércio (temporários),
bem como dos portadores de visto de retorno, todos os outros casos
deverão ser incluídos na cota dos 20 por cento, de que trata o artigo 11
do decreto n.º 3.010, de 20 de agosto de 1938.
2) As autoridades consulares enviarão à Secretaria de Estado das Relações
Exteriores, mensalmente, uma relação de todos os vistos concedidos a
estrangeiros de origem semita. Dessa relação constará o nome,
nacionalidade, idade, profissão, porto de destino e a qualidade do
pedido de concessão de visto.
3) Tanto os vistos como as anotações deverão ser assinados tão somente
pelos titulares efetivos do posto e selados com selo seco, consular, sem
exceção.
4) Além das obrigações já referidas, a autoridade consular, ao examinar
um pedido de visto em passaporte de origem semita, não se alheará ao
dever de selecionar e fiscalizar, nem dispensará a satisfação das demais
origens legais, previstas na lei de imigração e seu regulamento.
Fica revogada a circular secreta n.º 1.127 expedida pelo Ministério das
Relações Exteriores, em 7 de junho de 1937, somente naquilo em que
contrariar as disposições desta resolução.
Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1938.
a) Aranha
A.N.A.
M 3.714 – 29-9-38
A circular secreta de n.º 1.127 lembrada no final da que acabamos de
transcrever, expedida pelo Ministério das Relações Exteriores, de 7 de junho de 1937,
85
proibia a concessão de vistos em passaportes de indivíduos de origem semita, mas com a
ressalva de que, tratando-se de pessoas de destaque na sociedade e no mundo dos negócios,
os consulados deveriam consultar a Secretaria de Estado antes de recusar.209
Sobre esse período tenebroso da história da imigração judaica no Brasil temos ainda que
nos reportar a um desabafo de consciência do ministro Hélio Lobo em artigo que publicou
de Genebra em dezembro de 1947 no “Jornal do Comércio”, do Rio de Janeiro: “Não tinha
o abaixo-assinado (Hélio Lobo) boa lembrança do tempo em que, sentado pelo nosso país
na Comissão Intergovernamental de Londres, instituída pela Conferência de Evian, em
1938, se viu em posição de esquerda perante os seus colegas e perante o sentimento de
cooperação internacional, de que antes nunca abdicara o Brasil. Estávamos no início de um
regime que, num país de mistura de raças de que se orgulharia, inspira-se em preocupações
oriundas do nacional-socialismo alemão. De modo que, enquanto as instruções eram
negativas em relação aos israelitas expulsos pelo Reich, entravam estes às centenas no
Brasil, mediante o pagamento de dez mil cruzeiros por cabeça a intermediários pouco
escrupulosos”.210
Os que eram inaptos do ponto de vista financeiro tiveram que ficar sem
visto. Em um jornal israelita, o “San Pauler Idiche Tzeitung”, de 10 de agosto de 1938,
temos uma confirmação de desabafo tardio do ministro Hélio Lobo, mas agora apenas
como uma notícia que informava sobre a posição do Brasil, através de seu representante
(Hélio Lobo) na Conferência Internacional de Refugiados, onde se transcreviam suas
palavras: “Como resultados das condições de desemprego que se assinalaram em 1938, o
governo de meu país viu-se forçado a limitar a imigração e a proteger o mercado interno...
Foi em resultado de condições insustentáveis que o governo brasileiro resolveu, no ano de
1934, fixar a cota anual...” O mesmo periódico lembrava, meses antes, em seu número de 8
de maio de 1938, que entre exigências do consulado brasileiro em Berlim havia a definição
da religião e raça aos que se dirigiam a ele para solicitação de vistos. Também é ilustrativo
da linha adotada pelo governo do Estado Novo a posição manifesta do seu ministro da
Justiça, Francisco Campos, sobre a imigração israelita, publicada no mesmo periódico em
seu número de 21 de janeiro de 1938. A opinião pública, ou melhor, os que a manipulavam,
usava da imprensa para mostrar o quanto a imigração israelita era indesejável, tal como
podemos verificar em artigo publicado no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 29 de
janeiro de 1938, no qual o articulista se mostrava antagônico à imigração de israelitas da
Romênia. Tudo isso ocorreria em um tempo em que na Alemanha as Leis de Nuremberg
tinham sido declaradas como parte da nova ordem do Reich, a Kristallnacht vitimava
milhares de judeus material e espiritualmente, e se projetava a “Solução Final” dos judeus
na Europa e onde se pudesse alcançá-los, para a glória da raça ariana, seus seguidores e o
Fuhrer, que tanta admiração havia causado em alguns países sul-americanos.
É preciso dizer, também, que em 18 de abril de 1938, pelo artigo 3 do decreto
383, dava-se o prazo de 30 dias para que todas as instituições estrangeiras se legalizassem,
proibindo-se também o uso de qualquer outra língua que não o português nas escolas ou nas
atividades culturais. Xenofobia e anti-semitismo confundiam os judeus alemães com
209
V. Dines, Alberto, Morte no Paraíso, ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1981, p. 228.
210
Cit. na série de artigos publicados em 1948 em “O Estado de São Paulo”, com o título “A batalha contra a
imigração”.
86
alemães adeptos ou simpatizantes do nazismo no Brasil, e não faltavam interessados em
confundi-los.
Houve outras facetas, não menos “interessantes”, relativas à imigração judaica
em outros países da América Latina, e não somente ao Brasil, tal como uma notícia de um
jornal norte-americano que informava sobre um acordo que seis países – Brasil, Uruguai,
Paraguai, Perú, São Salvador e Bolívia – fizeram com o Vaticano para permitir a imigração
de “conversos” aos seus respectivos territórios.211
Isso ocorreria em 1940, isto é, quando a
máquina de extermínio dos judeus na Europa já se encontrava bem acelerada. Um dos
países que assinaram esse acordo – a Bolívia – elaboraria, dois anos após, em 1942, um
plano único e inédito em nosso continente, o da expulsão dos judeus de seu território! E
novamente isso ocorria em um ano em que ninguém desconhecia ou tinha dúvidas sobre a
catástrofe que atingira o judaísmo europeu.
Mas voltemos a Rezende, que foi considerada a última experiência agrícola empreendida
pela J.C.A. em solo brasileiro. No álbum-mapa, feito em julho de 1936, do levantamento da
área adquirida pela J.C.A., lemos que ela possuía 400 alqueires geométricos e constituía um
conjunto de várias glebas de terra denominadas Fazenda Lambary, Castello, Santa Clara,
Barra e São Sebastião, de propriedade do coronel Abílio Marcondes de Godoy. A compra
custou à J.C.A. 1.100 contos de réis e o levantamento técnico-topográfico foi feito pelos
engenheiros Israel Max Roussine e D. Rosenblum, ambos sob as expensas da J.C.A. Temos
duas descrições da colônia, sendo a primeira decorrente da visita do interventor do estado
do Rio, o comandante Amaral Peixoto, em abril de 1938212
, e a segunda feita, nada mais
nada menos, pelo Presidente da República, o sr. Getúlio Vargas, em junho do mesmo ano e
publicadas no “San Pauler Idiche Tzeitung”. Além do mais, em janeiro daquele mesmo ano,
publicava o jornal “A Tarde”, do Rio de Janeiro, um artigo acerca da colonização e do
projeto. Transcrevemos o relato das duas visitas mencionadas, uma vez que uma
complementa a outra: “A colônia é para 30 famílias, mas por enquanto tem apenas quinze.
Já estão prontas as restantes quinze casas com todos os apetrechos necessários e em
condições de receber habitantes. O governo não gastou ali um tostão, toda a instalação da
colônia foi feita por uma instituição judaica formada na Europa, com sede em Paris, que
comprou as terras, construiu pontes, saneou a zona, etc. Cada colono recebe, ao chegar,
além dos instrumentos necessários ao serviço da agricultura, sementes, galinhas e quinze
vacas leiteiras. Tudo está calculado matematicamente. No início a colônia dá déficit, no
segundo ano o déficit é menor, no terceiro a receita cobre as despesas e no quarto e quinto
anos o lucro deverá ser bastante para compensar o capital empregado. Trata-se de um plano
qüinqüenal cuja execução tem dado resultados em outros países. Passados os cinco anos, as
novas colônias serão instaladas, tudo de acordo com o plano traçado pela instituição acima
referida. Nessa colônia há uma escola onde o ensino é ministrado somente em Língua
Portuguesa. É chefiada por um engenheiro judeu alemão, tendo notado o interventor
Amaral Peixoto que o trabalho ali é admiravelmente disciplinado e que os colonos gozam
de todo o conforto. Aparecendo no local à hora do almoço, viu a alimentação do pessoal,
gabando o asseio que notou em nossa colônia. Ao retirar-se, prometeu interessar-se junto ao
211
“San Pauler Idiche Tzeitung” de 8 de abril de 1940.
212
“San Pauler Idiche Tzeitung” de 10 de abril de 1938.
87
ministro do Exterior no sentido de obter a permissão necessária à entrada das quinze
famílias que faltam para completar a colônia em apreço”. A segunda visita, a do presidente
da República, acompanhado pelo ministro da Agricultura, Fernando Costa, o interventor
Amaral Peixoto e outras pessoas é noticiada no S.P.I.Z. de 3 de junho, com uma nota que
diz que “o presidente foi recebido pelo administrador da colônia, I. Aizenberg. A colônia
foi fundada há dois anos e conta com 16 famílias. A sua capacidade é de 40 famílias”.
Posteriormente, no mesmo periódico, em 8 de agosto e em 26 de outubro, temos mais um
relato da visita do presidente que inicia com o título “Um exemplo de organização agrária,
a colônia agrícola Fazenda da Barra, em Rezende”. “O diretor da colônia é austríaco. Está
sendo redigido um relatório da colônia para ser apresentado à direção geral: cada família
que chega tem direito a um lote com uma casa, um pequeno estábulo, um galinheiro e
outras instalações, além dos instrumentos de uso individual na lavoura. As máquinas
maiores como arados, trator, etc. são cedidas a cada colono conforme as vão necessitando.
O lote assim distribuído é pago pelo colono em prazos dilatados e toda a produção é
calculada pelo agrônomo, de maneira que o colono não perde tempo com tentativas sujeitas
ao fracasso. A base da produção é o leite. O gado é meio-estábulo, de maneira a não exigir
muita terra de pasto e aumentar a produção de leite. Pequenos sítios conservam a forragem.
Outras atividades como horticultura, pomicultura, etc. são acessórias, sobretudo nos
primeiros tempos. Os colonos da Fazenda da Barra já são os maiores fornecedores de leite
do município. Quanto aos outros produtos, os fretes não causam prejuízos, porque eles
embarcam em caminhão e o caminhão traz os produtos diretamente ao mercado,
eliminando o atravessador. No primeiro ano foram plantados no conjunto dos lotes
colonizados 75,6 hectares de milho, 59,4 de mandioca, 36,2 de feijão, 18,4 de arroz, 0,5 de
batata doce, 2,2 de batata inglesa, 0,6 de amendoim, 14,9 de capim imperial. A forragem é
o que mais preocupa o colono. Resolvido esse problema, resta o da formiga, que absorve as
energias do colono”. O relato terminava dizendo que a colônia tinha 16 famílias e uma
escola primária brasileira, tendo a fazenda já medidos e demarcados lotes para mais de 80
famílias.
O que aconteceu com a colônia agrícola judaica de Rezende? A resposta não é
difícil de se dar. Os imigrantes judeus alemães que deveriam chegar para completar as 15
ou 16 famílias iniciais não vieram, e os lotes da J.C.A. acabaram passando a outras mãos.
Não era um tempo fácil para os imigrantes judeus entrarem no Brasil, como já havíamos
demonstrado longamente mais acima, e assim a última tentativa de colonização agrícola da
J.C.A. redundaria em fracasso, apesar de que no Rio Grande do Sul a colonização de
“Quatro Irmãos” subsistiria durante muito tempo e alguns de seus descendentes
continuaram a exercer uma atividade agrícola várias décadas após, mesmo até os nossos
dias.
Porém vejamos agora a imigração judaica ao Brasil e à Argentina sob o ângulo
estatístico a fim de termos uma idéia do movimento migratório, sua distribuição no tempo e
sua avaliação quantitativa, ainda que devemos observar que poucos são os estudos e poucas
as fontes que permitem a coleta de dados numéricos referentes a ambos os países.
Segundo a tabela demonstrativa sobre a imigração judaica no Brasil e
Argentina durante os anos de 1906-1918, publicada na Algemeine Enziclopedie,213
temos os
seguintes dados:
213
Algemeine Enziclopedie, vol. Yidn, Paris, 1939, pp. 441-482.
88
Ano Argentina Brasil Ano Argentina Brasil
1904 4.000 - 1921 4.095 -
1905 7.516 - 1922 7.198 -
1906 13.500 - 1923 13.700 -
1907 2.518 - 1924 7.800 -
1908 5.444 - 1925 6.920 2.624
1909 8.557 - 1926 7.534 3.906
1910 6.581 - 1927 5.584 5.167
1911 6.378 - 1928 6.812 4.055
1912 13.416 - 1929 5.986 5.610
1913 10.860 - 1930 7.805 3.558
1914 3.693 - 1931 3.553 1.940
1915 606 - 1932 1.801 2.049
1916 - - 1933 1.962 3.317
1917 - - 1934 2.215 4.010
1918 - - 1935 3.169 1.759
1919 280 - 1936 4.261 3.450
1920 2.071 - 1937 - -
Estes dados não são oficiais e foram tirados dos relatórios da J.C.A., HIAS ou
HICEM, entidades que cuidavam da imigração judaica em todo o mundo. Pinhe Katz, no
seu livro “Fuftzik yohr yidn in Argentine214
(50 anos de judaísmo argentino), repete a cifra
extraída da J.C.A., que mostra que, em 1904, entraram 4.000 imigrantes judeus, em 1905 –
7.516; 1906 – 13.500; em 1907 – 2.518, confirmando os dados da “Algemeine
Enziclopedie”. Segundo o relatório da J.C.A. publicado em 1908, calculava-se a população
judaica na Argentina entre 35.000 a 40.000 almas, das quais viviam em Buenos Aires cerca
de 15 a 16 mil, 13.000 nas colônias da J.C.A. e o restante em outras cidades daquele país.
Em um estudo de I. Dijour, Die Judische Auswanderung aus Polen215
(A
emigração judaica da Polônia), encontramos a seguinte estatística referente à imigração
judaica da Polônia à Argentina e ao Brasil:
No período de 1921 a 1925 em 1926 em 1927
Argentina 17.500 4.750 1.932
Brasil 2.000 1.376 676
No artigo “Di arbeit fun ‘HIAS-ICA-Emigdirekt’ in yohr 1928”216
(O trabalho
da HIAS-ICA-Emigdirekt no ano de 1928), vemos que a imigração de 1928 na Argentina
foi de 7.000, enquanto que ao Brasil chegaram 4.055, passando pelos representantes da
sociedade acima mencionada no Rio de janeiro, em Santos, Bahia e Pernambuco.
214
Geklibene Schriftn, vol. IV, B. Aires, 1946, p. 52. 215
In “Die jüdische Emigration”, Feb. Marz, Berlin, 1928, pp. 1-5. 216
in “Di Yidiche Emigratzie”, n.º 2, Berlin, 1929, pp. 106-111.
89
E ainda no artigo “Di algemeine un idishe emigratzie fun Poilen far di yohren
1927-1928”217
(A emigração geral e judaica da Polônia no ano 1927-1928), temos a
seguinte tabela comparativa da emigração polonesa:
em 1928 Argentina Brasil
Geral 22.007 4.402
Judaica 4.805 1.190
em 1927 Argentina Brasil
Geral 20.189 3.376
Judaica 4.113 1.095
Todos esses estudos permitem deduzir certa estatística sobre a emigração vinda
à Argentina e ao Brasil, já que a Polônia constituía a grande fonte emigratória a ambos os
países.
Na segunda metade de 1928, nota-se na Argentina a criação de certas
dificuldades para a aceitação de imigrantes. De início elas são dirigidas contra pequenos
comerciantes e também artesãos, com a finalidade de desviar a imigração da cidade de
Buenos Aires, que contava com 2 milhões e meio de habitantes, enquanto que o geral da
população em todo o território era de 10 milhões. Em seguida, criaram-se novos obstáculos
a livre imigração restringindo-a a aceitação apenas de trabalhadores rurais, ou daqueles
considerados necessários, ou ainda os que possuíssem 150 dólares além das despesas de
viagem.
Isso prejudicou a imigração judaica, ainda que o novo governo eleito
posteriormente trouxesse novas esperanças. Em todo caso, as limitações do governo
argentino, nesse ano, levaram a desviar a imigração ao Brasil.
Os relatórios do Relief no Rio de Janeiro, que se encarregava de receber,
orientar e ajudar os imigrantes israelitas que chegavam ao Brasil e que tinham agências
com as mesmas incumbências em outras cidades do território nacional, confirmam em boa
parte as cifras relativas ao ingresso de pessoas sob o seu cuidado e registro, o que
representava apenas uma parte dos imigrantes judeus entrados em nosso país, ou seja,
aquela parte que vinha sob a coordenação e arranjo dos órgãos internacionais, tais como
HIAS, a J.C.A. e a Emigdirekt. A estatística sobre essa imigração começa a ser publicada
pelo Relief a partir de 1925 e é divulgada na imprensa judaica, em língua ídiche, até 1926
no jornal “Dos Idiche Vochenblat” e em 1927 no jornal “Brazilianer Idiche Tzeitung”. Se
considerarmos que muitos imigrantes israelitas não imigravam ao Brasil via essas
instituições e tampouco eram recebidos e registrados no Relief, porém vinham por conta
própria, podemos deduzir que os números acima estão próximos da verdade. Os números
do Relief confirmam também que a maioria dos imigrantes da década de 20 vinha da
Polônia e Rússia. Senão vejamos: no relatório do Relief, referente ao ano de 1925,
encontramos que ingressaram em nosso país 312 judeus, dos quais 141 vindos da Polônia,
112 da Rússia e o restante de demais países (Romênia, Áustria, Checoslováquia, Hungria,
Alemanha, etc). Em 1925, a imigração registrada no Relief atingia uma média mensal de 55
para o primeiro semestre e 150 para o segundo semestre. Em 1927, a média mensal de
217
in “Di Yidiche Emigratzie”, n.º 2, Berlin, 1929, pp. 205-211; n.º 6-8, 1929, pp. 337-341.
90
ingresso de imigrantes seria de 45 almas. Lamentavelmente, não temos a continuação dessa
estatística, pois o B.I.P. deixaria de ser publicado no fim de 1929, e os demais jornais que
surgiram a partir de 1927 deixaram de publicar sistematicamente os dados relativos ao
Relief, ainda que aqui e acolá possamos colher alguma informação estatística sobre a
imigração judaica no Brasil.
Ainda sobre a imigração judaica no Brasil e Argentina, bem como sobre a
imigração judaica em geral, importante é o estudo de Jacob Lestchinsky, talvez a maior
autoridade no assunto, publicado em 1944 no Yivo Bletter,218
e onde se admite que de 1840
a 1924 entraram em nosso país 71.360 israelitas e na Argentina 223.540, segundo a
seguinte distribuição de tempo:
Argentina Brasil
1840-1880 2.000 500
1881-1900 25.000 1.000
1901-1914 87.614 8.750
1915-1920 3.503 2.000
1921-1925 39.713 7.139
1926-1930 33.721 22.296
1931-1935 12.700 13.075
1936-1939 14.789 10.600
1940-1942 4.500 6.000
Nesse período, ou seja, de 1840 a 1942, o movimento migratório de judeus a
todos os países foi de 3.916.988 almas, representando a imigração à Argentina 5,7 % do
total da imigração ao Brasil, 1,8 % em relação ao total. Os Estados Unidos representam
71,5 do total dessa imigração, que resultou no ingresso de 2.801.890 de judeus, em todo
aquele período, em território norte-americano.
Para concluirmos nosso estudo devemos resumir as causas do fracasso da
J.C.A, fracasso relativo, pois sabemos dos beneficiários significativos que a colonização
agrícola judaica trouxe tanto à Argentina quanto ao Brasil, porém no sentido de não haver
tido uma continuidade e expansão da obra que havia iniciado em ambos os territórios nos
finais do século XIX e nos inícios do século passado.
Sabemos que na Argentina a colonização agrícola trouxe resultados
satisfatórios sob o aspecto da produtivização dos judeus que imigraram àquele país, além
dos dourados benefícios que trouxe à agricultura e à economia de lá. Porém, no Brasil os
efeitos foram menores. Da colonização encetada no Rio Grande do Sul desenvolveram-se
posteriormente núcleos urbanos que se contam entre as cidades existentes naquela região.
O isolamento das duas colônias sulinas, devido à falta de estradas adequadas
que permitissem a comunicação com outros núcleos populacionais e favorecessem o
218
“Yidiche vanderungen in di letzte hundert yohr” (Migrações judaicas nos últimos cem
anos), in Yivo Bletter (Journal of the Yiddish Scientific Institute), New York, vol. XXIII, january-february,
1944, n.º 1, pp. 41-54. Para a imigração judaica à Argentina no século XIX encontram-se estimativas no
importante artigo de A. L. Schusheim, L’Toldot ha-ishuv haiehudi b’Argentina” (Para a história dos judeus na
Argentina), in Sefer Argentina, B.A., 1954, pp. 27-65.
91
escoamento dos produtos agrícolas até os mercados de consumo; a mata ou a floresta densa,
que exigia um grande emprego de mão-de-obra para desmatamento e abertura de clareiras
para obtenção de terras agrícolas; os graves distúrbios dos anos de 1923 e 1924, que
levaram os agricultores ao abandono das colônias em troca de lugares mais seguros; a
atração dos jovens pelas cidades; a falta de continuidade na imigração do elemento humano
disposto à atividade agrícola; e, posteriormente, a própria política imigratória adotada pelo
governo brasileiro, a partir da década de 30, foram fatores decisivos para a desagregação
das colônias. Também não podemos omitir, como causa importante e muitas vezes até
decisiva em relação ao abandono de colonos e sua decepção, a inclemência do clima, que
em certos momentos destruía tudo o que havia sido feito pelas mãos dos agricultores, e as
catástrofes provocadas por nuvens de gafanhotos, perante os quais o colono se mostrava
impotente e sem meios para combatê-los.219
Há que considerar que, ao contrário do que ocorreu, em parte, na Argentina, as
colônias brasileiras não tiveram nenhum respaldo governamental, necessário à atividade
agrícola de um modo geral, principalmente em períodos de calamidade. Por outro lado, no
estudo da colonização judaica encetada pela J.C.A. na Argentina e Brasil, fica patente que
apesar do “know-how” da empresa colonizadora e a disponibilidade de recursos a serem
aplicados nos projetos da entidade, nem sempre sua administração foi suficientemente
qualificada para enfrentar os problemas que o empreendimento requeria. Muitos de seus
administradores se mostraram pouco humanos e inábeis em lidar com os colonos, que
necessitavam de orientação técnico-agrícola e compreensão, o que nem sempre
encontraram entre aqueles que eram encarregados de fornecê-la. Na história da colonização
judaica, principalmente na Argentina, os choques entre a administração e os colonos
também tem o seu capítulo, e não podemos desconsiderá-lo como fator negativo no
desenvolvimento da colonização agrícola.220
Também em nossas colônias sulinas não faltaram atritos, justificados ou não,
entre colonos e a administração local da J.C.A. Sobre uma manifestação organizada dos
colonos logo nos primeiros tempos de Philippson, temos um relato literariamente delicioso
de Melech Reicher, que testemunhou o acontecimento como colono que era em Philippson.
Ele descreveu os sofrimentos e as terríveis dificuldades de adaptação, no início daquela
colônia agrícola, provocados também pela inércia administrativa ao ordenarem aos colonos
que cercassem seus hectares de terra com cercas feitas de madeira a ser extraída da floresta,
que ficava a certa distância das propriedades agrícolas e exigia um esforço descomunal de
homens e bois para abrir caminho até lá. E assim narra o que aconteceu: “Os mais
destacados entre os colonos convocaram uma assembléia geral na Sinagoga e lá tomaram
uma resolução: todos os participantes deveriam ir diretamente protestar frente a
administração. Naquele mesmo dia, com gritos e alardes, marcharam mais de 60 colonos no
largo caminho que levava da colônia até a linha de trem. Cavaleiros montados sobre seus
219
Um dos poucos e comoventes depoimentos humanos que retrata a vida dos colonos de Philippson
encontramos no livro de Frida Alexander, “Filipson”, Fulgor, São Paulo, 1967. O relato, escrito em ídiche por
M. Reicher, um ex-colono, foi publicado no “Velt-Spiegel” (Espelho do Mundo), 6-7, nov/dez, 1939; 8,
janeiro, 1940; 11, maio, 1940; 12, agosto, 1940; 14, dezembro, 1940.
220
Bizberg, P., “Konfliktn zvischn di yidiche colonistn in Argentine um der localer YCA-administratzie”
(Conflitos entre os colonos judeus e a administração local da J.C.A.), in Argentiner IWO Shriftn, n.º 4, 1947,
pp. 85-107.
92
cavalos que passavam pelo local paravam e observavam admirados e boquiabertos com a
curiosa procissão de idosos judeus, que marchavam com suas longas barbas e casacões
negros, armados com varas nas mãos. O edifício da administração ficava no ponto mais alto
da colônia, em cima de uma colina, e quando o administrador observou de longe o
numeroso grupo de manifestantes, de imediato cerrou as portas e janelas e enviou seus dois
capangas com cães policiais em sua direção. Os colonos, aquecidos com um pouco de
bebida alcoólica e também com a mágoa provocada por uma longa semana de espera,
daquela vez não se assustaram com os caboclos. Com altas vozes, brados e xingamentos,
começaram a bater com as varas nas portas fechadas, esperando que o administrador se
apresentasse, pois eles não queriam lhe fazer mal algum, uma vez que os judeus não eram
bandidos. Pálido e assustado, o administrador foi obrigado a sair para se mostrar aos
colonos acompanhado de seus dois guarda-costas e seus cachorros. Com as mãos trêmulas,
ele tirou da gaveta de sua enorme escrivaninha um papel com a rubrica do escritório central
de Paris, e com um sorriso açucarado, fez conhecer aos colonos que “justamente hoje” ele
recebera de Paris uma ordem para que desse a eles arame farpado para cercar as
propriedades, zinco para cobrir os telhados das casas recém-construídas e galpões, e
também aumentar para cada família o subsídio mensal. Nesse dia, os colonos voltaram a
suas casas com o espírito elevado, alegres, e relataram às mulheres sobre o corajoso
confronto e a vitória obtida”.221
Devido a todos os fatos mencionados anteriormente, vários setores da opinião
pública judaica assumiram uma atitude hostil contra a J.C.A., atitude essa que encontrou
forte expressão na imprensa judaica, tanto na geral quanto na do Brasil, mas que nem
sempre foi isenta de razões ideológicas correntes na época, e que por vezes via com
pessimismo projetos de colonização na Diáspora, ou ainda, em oposição a ela, depositava
maior fé na produtivização dos judeus nos centros urbanos, visando a formação de um
proletariado industrial para a “normalização” de sua estrutura social.
Contudo, todas essas críticas e pontos de vista, na devida distância do tempo,
empalidecem e se tornam pouco significativos frente à gigantesca obra social e humana
realizada por um casal de barões, que no seu extremado idealismo, substituiu o amor por
um filho prematuramente falecido pelo amor a todos os filhos de Israel.
221
In “Velt-Spiegel”, n.º 8, janeiro, 1940, pp. 6-7.
93
10. A Contribuição dos Imigrantes Israelitas ao Desenvolvimento Brasileiro.
A presença dos israelitas no Brasil se faz sentir desde o início da descoberta
portuguesa, pois os cristãos-novos – ou marranos – vindos da Península Ibérica tomaram
parte ativa no processo de colonização da terra brasileira. Sabemos, também, que no
período da dominação holandesa, entre 1630 e 1654, esses mesmos cristãos-novos, que até
então cultivavam um judaísmo às escondidas, passaram a comportar-se abertamente como
fiéis de sua religião, organizando-se em comunidades próprias e mantendo um contato
íntimo com seus correligionários da Holanda. Isso até que os exércitos portugueses
expulsaram o invasor holandês de nosso solo, fazendo com que os judeus abandonassem
Recife para não se sujeitarem novamente, às ameaças da Inquisição.
Com a saída dos holandeses, os judeus que permaneceram em solo brasileiro
tiveram que esconder novamente suas origens religiosas, acabando por se mesclar à
população local. Seus descendentes se encontram entre muitas famílias tradicionais
brasileiras, em cujas veias corre muito sangue daqueles israelitas dos tempos coloniais.
Após um hiato histórico de vários séculos e somente com a transferência da
corte portuguesa ao Brasil, em 1808, seguida da Abertura dos Portos às nações amigas e ao
Tratado de Aliança e Amizade de fevereiro de 1810, pelo qual se assegurava aos
estrangeiros residentes no Brasil liberdade de consciência e de culto religioso, é que
começamos a notar a presença de israelitas que se declaravam como tais, sem o temor da
perseguição inquisitorial.
Entre os primeiros que chegaram no início do século passado encontravam-se
israelitas de várias procedências: ingleses como os Nathan, os Samuel, e Leão Cohn, cujo
filho Francisco foi comandante das tropas do Rio de Janeiro na Guerra do Paraguai;
alemães como os Moretzsohn, e seus descendentes, como os Salomon e Wallerstein;
gibraltinos como a famosa família Amzalak, que conta hoje com uma descendência
ininterrupta de 150 anos, cujos filhos se destacaram em vários campos da atividade humana
ou seja social, econômica, militar e cultural.
Começava, assim, um novo capítulo na longa presença judaica no Brasil, pois já
nas primeiras décadas do século XIX iniciava-se uma verdadeira onda imigratória de judeus
vindos da África do Norte, de Tanger e Marrocos, que se estabeleceram no Norte do país,
ou seja, no Pará e no Amazonas. Esses israelitas, portadores de uma longa tradição religiosa
e espiritual, cujas raízes remontam à Península Ibérica, constituirão os núcleos pioneiros
que se embrenharão na selva amazônica, percorrendo os rios da grande bacia fluvial e
criando pequenas comunidades nos lugares mais longínquos daquela região, em Cametá,
em Itacoatiara, em Obidos, chegando até a fronteira do Peru. As comunidades de Belém e
Manaus cresceram e floresceram graças ao trabalho e à atividade daqueles imigrantes que
vieram contribuir decisivamente para o desenvolvimento daquela região. Os Benchimol, os
Bentes, os Levy, os Zagury, os Cohen, os Ben-Athar, os Perez, entre muitas outras
famílias, deram homens de destaque na vida econômica, política, militar, científica e
cultural da nação. Essa migração também chegou a outros Estados: ao Rio de Janeiro, a São
Paulo e outros lugares, participando no processo de aculturação notável que caracterizou o
melting-pot imigratório singular e proporcionou a formação da nação brasileira.
À corrente imigratória marroquina seguiu-se na segunda década do século XIX,
procedente do continente europeu, uma nova onda imigratória. Pois, em 1848, a Europa
94
vivia um grande movimento nacionalista, corretamente denominado Primavera dos Povos,
e cujo objetivo último era alcançar a emancipação dos povos que viviam sob o domínio de
outros. Em decorrência desses conflitos nacionalistas israelitas da França, da Áustria, da
Alemanha e outras regiões se dispuseram a deixar seus países. Eram seres que procuravam
a paz e a liberdade que não podiam usufruir em seus lugares, uma vez que o anti-semitismo
secular, em tempos de crise social, revelava habitualmente hedionda face , impelindo os
israelitas a procurar um lugar seguro e para sua sobrevivência.
A guerra Franco-Prussiana de 1871 motivou a que muitos israelitas das regiões da Alsácia e
Lorena, incorporadas à Prússia, se dirigissem ao Brasil, constituindo uma verdadeira
corrente imigratória, cuja contribuição cultural e econômica ainda está para ser avaliada.
Seus nomes estão, hoje, afixados em várias ruas de São Paulo, tais como os Netter, os
Burchard, os Nothmann e muitos outros que se destacaram como os empreendedores de
iniciativas econômicas e sociais de grande significado nacional, e que acabaram, eles e seus
descendentes, por se integrar na sociedade brasileira com extraordinária facilidade. Os
imigrantes alsacianos que se estabeleceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas
e outros lugares trouxeram o bom gosto e o refinamento no modo de trajar, introduzindo as
casas de modas e joalherias ao mesmo tempo que empreenderam projetos industriais em
setores que começavam a despontar em nosso país. Sua contribuição cultural não foi menos
importante nas artes plásticas, onde aparecem os nome de Gaston e Berta Worms, assim
como na música, na qual se destaca o nome de Alexandre Levy. Os alsacianos promoveram
o intercâmbio comercial com a Europa, exportando café e importando maquinarias para
indústria nascente em nosso território.
Uma nova corrente imigratória iniciar-se-ia no fim do século passado, devido às
perseguições que os judeus estavam sofrendo na Rússia, a partir do ano de 1881, e onde
vivia uma grande população de israelitas em péssimas condições econômicas e sociais.
Servindo de bode expiatório a um regime de desmandos de um império que estava se
deteriorando e que se caracterizava por um feroz anti-semitismo. Os judeus da Rússia,
Ucrânia, Bessarábia, Polônia, Lituânia, Galitzia, pressionados pelas circunstâncias, foram
abandonando aqueles territórios em busca de novas oportunidades na Europa ocidental e
nas Américas. Ao mesmo tempo, as comunidades judias dos países da Europa Central e
Ocidental começaram a procurar meios para amenizar o êxodo dos seus irmãos da Europa
Oriental no Brasil. Para tanto, foi enviado ao nosso país um jornalista alemão, Oswald
Boxer, para tratar das possibilidades de estabelecer colonos judeus no Brasil, mas não pôde
levar adiante seu projeto devido às circunstâncias políticas que reinavam em 1891, ano de
sua vinda ao Brasil. Quando ainda se encontrava na cidade de São Paulo, aguardando
melhores tempos para negociar o projeto de colonização, acabou morrendo de febre
amarela.
No mesmo ano de 1891, foi dado um passo muito importante no sentido de
encontrar uma solução para os sofrimentos dos judeus da Europa Oriental, com a criação da
Jewish Colonization Association (J.C.A.), sob a iniciativa do magnânimo benfeitor de seu
povo, o Barão Maurício de Hirsch, e a cooperação de alguns israelitas proeminentes da
França e da Inglaterra. A J.C.A. projetou uma colonização agrícola judaica na Argentina e
no Brasil, sendo que a partir de 1900 foi enviada uma comissão de estudos ao Rio Grande
do Sul a fim de verificar as condições ideais para a realização daquele projeto. De fato, a
comissão de estudos votou um parecer favorável, e já em 1901 viria um agrônomo, Dr.
Eusébio Lapine, para visitar várias zonas gaúchas e comprar terras em Pinhal, no município
de Santa Maria, onde em 1904 instalar-se-ia a primeira colônia agrícola israelita no Rio
95
Grande do Sul, com o nome de Philippson, em homenagem ao vice-presidente da J.C.A.
daquele tempo.
A J.C.A. pagava as despesas de viagem e entregava a cada colono um lote de 25
a 30 hectares de terra para cultivo, incluindo campo de pasto e mata, uma casa para
moradia, instrumentos de trabalho, 2 juntas de boi, 2 vacas e um cavalo. Enquanto não
pudessem viver do produto das colheitas, dava-lhes um suprimento em dinheiro, variável de
acordo com o número de pessoas da família. O colono devia reembolsar essa importância
dentro de um prazo de 10 a 20 anos, acrescida de juros módicos. As despesas com a
administração, escola, funcionalismo, serviços públicos, etc, eram feitas pela J.C.A. sem
nada debitar na conta dos colonos. Philippson não foi a única colônia agrícola fundada pela
J.C.A., pois devido ao sucesso da primeira, essa sociedade de colonização resolveu
comprar, em 1909, a fazenda “Quatro Irmãos”, com 93.850 hectares de terra, no município
de Passo Fundo. Os primeiros colonos israelitas chegaram entre 1911 e 1912, provenientes
da Argentina e outros lugares, principalmente da Bessarábia. Em 1913, chegou da Rússia
mais um grupo de 150 famílias. A colônia cresceu a ponto de, nas vésperas da Primeira
Guerra Mundial, atingir o número elevado de cerca de 350 famílias.
Os colonos dedicavam-se à criação de gado, ao cultivo de milho e de vários
cereais, principalmente o trigo, que até então era desconhecido na região. As dificuldades
não foram poucas, pois tanto o solo quanto o clima lhes eram estranhos. A densa floresta,
predominante na região, que implicava num desmatamento penoso, as pragas de
gafanhotos, o isolamento dos grandes centros, devido à falta de estradas, foram fatores que
levaram em boa parte ao abandono da terra. E, em 1923, o desastre sobreveio com a
revolução sulina, pois muitos assaltantes e ladrões, dizendo-se revolucionários, invadiram a
colônia Quatro Irmãos e arrebataram tudo o que a colônia possuía, desde o gado até objetos
de toda natureza. Apesar de tudo, o ânimo dos colonos não esmoreceu, e ainda que muitos
abandonassem o lugar, outros viriam da Europa para se instalar em Quatro Irmãos,
composta de vários núcleos colonizadores, a saber: o de Barão Hirsh, Baronesa Clara e Rio
Padre.
Da colonização sistemática de israelitas no Rio Grande do Sul surgiram as
comunidades judias das cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Erexim, Cruz
Alta e outras menores, pois os colonos imigrantes de Philippson e Quatro Irmãos acabaram
juntando-se aos poucos israelitas que já viviam naqueles centros urbanos.
Desde os primeiros anos do século XX e as vésperas da Primeira Guerra
Mundial verificou-se um aumento gradativo da imigração judaica ao Brasil. Nas grandes
cidades do país, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife,
Salvador e outras, já às vésperas de 1914, organizavam-se as comunidades israelitas,
atendendo ao imperativo da corrente imigratória que começava a engrossar. Organizavam-
se as primeiras entidades de ajuda e beneficência para receber os imigrantes, procurando-se
ampará-los materialmente e espiritualmente e assegurando a sua integração à vida no país.
Paralelamente às instituições de ajuda mútua e beneficência de amparo aos
imigrantes, as comunidades israelitas fundaram escolas para seus filhos, sociedades
culturais, com o objetivo de facilitar a absorção dos recém-chegados e permitir seu
enraizamento no solo brasileiro. Ao mesmo tempo, desenvolviam uma atividade cultural
intensa, com a formação de bibliotecas, grupos de teatro, clubes literários, fundando,
também os primeiros periódicos, que atraíram poetas, escritores, jornalistas e artistas que
passaram a formar a “intelligentsia” local.
96
Nesse ínterim, principalmente entre as duas grandes guerras mundiais, a
população judaica no Brasil cresceu significativamente, acrescida da onda imigratória
procedente da Europa Central, de fala alemã, atemorizada pelo nazismo, que a partir de
1933 ascendia ao poder e dava início a uma política de confinamento e marginalização dos
judeus na Alemanha . Nessas décadas, as colônias israelitas de São Paulo, Rio de Janeiro e
de outras capitais de nosso território davam uma imensa contribuição ao progresso do país,
apresentando-se como um elemento criativo em vários setores, no comércio, na indústria, e
destacando-se em várias atividades profissionais, como médicos, engenheiros, professores,
pesquisadores e cientistas. As gerações já nascidas no Brasil, filhos daqueles imigrantes que
vieram sem outra coisa senão a esperança de reconstruírem suas vidas num solo benigno
que os acolheu de braços abertos, constituiu um elemento dinâmico que revelou talento e
aptidão em toda a extensão das atividades humanas num país que estava dando passos
importantes e decisivos em seu desenvolvimento.
As correntes imigratórias israelitas não cessaram com a Segunda Guerra
Mundial, pois com o término da catástrofe, que resultou no holocausto de milhões de almas
do povo judeu, muitos dos sobreviventes do inferno hitlerista procuravam lugares não
manchados com o seu sangue para esquecer o pesadelo pelo qual haviam passado. Ao
Brasil chegaram para reconstituírem suas vidas, num clima de liberdade, de humanidade,
sem discriminações de qualquer espécie, podendo, assim, através de uma atividade
produtiva intensa, provar do que eram capazes, beneficiando a nova pátria que haviam
encontrado em nosso território, fechando, na distância de vários séculos, o círculo que
havia se iniciado desde a descoberta em 1500, quando começaram a aportar nesses tempos
coloniais, os cristãos-novos perseguidos e degredados da Península Ibérica.
AJUDA DE BARÃO JUDEU
Em Viena, na ocasião em que exerceu uma missão diplomática, no ano de
1745, e onde iria encontrar sua esposa, Leonor Daun, ele, passando por sérias dificuldades
financeiras, seria socorrido pelo banqueiro judeu português, barão Diogo de Aguilar, que
fora para a Alemanha como foragido, por medo da fogueira, ou, como diziam ainda alguns,
por dilapidações da venda de tabaco, porquanto no reino exercera a atividade de contratante
desse produto. Diogo de Aguilar acabaria prestando os mesmos serviços ao imperador
Carlos VI, e, em retribuição, receberia o título de nobreza. E não é de se estranhar que o
relacionamento com o barão judeu português, assim como com outros residentes em
Londres que o auxiliaram eficientemente sob o aspecto financeiro, em suas missões
diplomáticas, tenha influído decisivamente para mudar suas opiniões a respeito dos filhos
de Israel e o tenha levado a retribuir, mais tarde, as benesses que recebera daqueles anos.
Mesmo antes de Pombal vir a Viena, o conde de Tarouca tomara, a serviço da
legação portuguesa, um outro foragido da terra portuguesa, o assim chamado Cavaleiro de
Oliveira. E, além do mais, não era raro que cristãos-novos ou judeus de seu tempo,
perseguidos no reino pelo Santo Ofício, acabassem servindo com seu talento, no
estrangeiro, as embaixadas portuguesas, tal como fizera Jacob de Castro Sarmento, médico
do ministro em Londres.
Pombal teria, ao sair da Península, entrando em contato com os países europeus
mais adiantados, visto e sentido o clima de tolerância e liberdade em relação aos judeus na
Inglaterra, na Holanda, no Império Austro-Húngaro e nos próprios Estados Papais, onde
gozavam de inteira liberdade. Tal situação era chocante e contrastava terrivelmente com o
97
que se passava em Espanha e Portugal, onde o Tribunal do Santo Ofício dominava e
supervisionava as mentes da nação. Também observava o quanto a instituição inquisitorial
prejudicava o reino, pois fácil era notar o papel positivo exercido pelos judeus, na Holanda
e na Inglaterra, na crescente atividade econômica daqueles países, enquanto que Portugal,
devido ao seu fanatismo, os perdia, juntamente com seus bens e riquezas. Possivelmente,
tudo isso o tenha levado a meditar sobre o caminho a seguir em relação ao Santo Ofício e às
perseguições constantes sofridas pelos cristãos-novos portugueses. Houve também aqueles
que explicaram a ação pombalina, e ainda em seu tempo, com calúnias tais como o de ter
recebido dos judeus cerca de 500 mil cruzados, acusações que eram lembradas em alguns
versos satíricos da época.
Porém, e acima de tudo, inegável era que o corajoso estadista dera “o golpe de
misericórdia” no monstro que atormentou o judaísmo peninsular, durante alguns séculos, e
o fez de tal modo que seus últimos estertores nem sequer foram mais ouvidos.
98
11. A Religião e a Imigração Israelita no Brasil
A história da Diáspora judaica tem como núcleo central a comunidade religiosa
organizada ao redor de sua instituição fundamental, isto é, a sinagoga.
Desde os primórdios a comunidade sinagogal foi condicionada por dois fatores
que atuaram simultaneamente, a saber: o fator externo, consistindo no meio ambiente ou a
sociedade mais ampla, onde os judeus viviam, e o fator interno, que expressava as
necessidades bem como o caráter particular de determinado agrupamento judaico onde quer
que se localizasse.
A literatura histórica sobre a vida e a organização comunitária judaica abrange a
diáspora desde a Antigüidade, incluindo-se os centros mesopotâmicos e da Ásia Menor,
bem como a imensa extensão geográfica sob os domínios grego e romano, passando pela
Idade Média (oriental e ocidental) e os períodos mais recentes, Moderno e Contemporâneo.
Ao estudarmos essa rica produção histórica, vemos que no seu conjunto “elas se
conjugam à semelhança de um mosaico, que esboça uma linha contínua de forças e
aspirações da nacionalidade judaica dirigida a si mesma, mesmo em condições de dispersão
e afastamento, dificílimas para manter-se unida e preservar tradições de autonomia
governamental”.222
Portanto, quando falamos em comunidade judaica temos a lembrar, antes de
tudo, que nos referimos a instituições que remontam, por vezes, desde a antigüidade, e são
herança de um passado histórico, criativo e sempre renovador, cujo eixo principal de
sustentação passa a ser a sinagoga.
A sinagoga não é apenas o lugar ou edifício para a realização do culto e do ciclo
anual litúrgico com os seus valores religiosos e espirituais, e que exige para tanto um
quorum mínimo de dez varões, acima dos treze anos de idade, para dar validade ao serviço
divino. Mais do que isso, a sinagoga, no passado, e ainda no presente, serviu, e serve, de
centro catalisador da vida comunal e pode ser o foro de expressão para todo tipo de
manifestação social da minoria judaica, onde quer que ela se encontra. Ao seu redor
organizaram-se os vários moldes e instituições da vida comunitária, procurando atender a
suas múltiplas necessidades, seja no campo educacional, beneficente, jurídico, cultural e os
demais.
Assim sendo, podemos compreender que o imigrante judeu no Brasil, assim
como em outros lugares, procurou assegurar em primeiro lugar o edifício onde pudesse
expressar seus anseios religiosos e encontrar o calor humano junto aos seus conterrâneos,
que o acolhiam e o orientavam no país onde se instalara. Boa parte dessas sinagogas, nas
primeiras etapas da imigração contemporânea, a partir do século XIX, eram casas ou salões
alugados ou improvisados, uma vez que a falta de recursos impedia a aquisição de edifícios.
Somente mais tarde, com a melhora e ascensão econômica das comunidades, é que se
passou a construir templos próprios, com a contribuição e o esforço coletivo dos membros
que as compunham.
222
A melhor coletânea sobre o tema, com ênfase no período medieval, foi organizada pelo saudoso professor
da Universidade Hebraica de Jerusalém, Haim Hilel Ben-Sasson, Há-Kehilá ha-Yehudit be-Yemei há-
Beinaim (A comunidade judaica na Idade Média), Soc. Histórica de Israel, Jerusalém, 1976.
99
Uma vez existindo a sinagoga, deveria haver uma autoridade religiosa, que às
vezes antecedia a construção do templo ou era providenciada posteriormente.
Na religião judaica não é obrigatório ser o ofício litúrgico conduzido por uma
autoridade religiosa qualificada formalmente, ou seja, um rabino, porém, qualquer membro
da comunidade que tenha o conhecimento suficiente da religião e da liturgia estará apto a
servir de chantre e condutor do serviço divino. E, de fato, sabemos que em boa parte, o
serviço religioso das comunidades judaicas recém-instaladas e espalhadas pelo território
nacional era conduzido por “leigos” inteirados das tradições e capazes de ler os textos
sagrados. O conhecimento das tradições e dos fundamentos da religião judaica deve ser
uma herança transmitida de pais a filhos e de geração a geração, pois é parte da formação
que a criança judia deve ter como futuro membro da comunidade. Porém, desde o início
os imigrantes das diversas levas imigratórias que aportaram ao Brasil, procuraram dar um
significado mais profundo e rico a sua vida espiritual, trazendo rabinos de outros países, da
Europa, do Oriente Médio, da África do Norte e mesmo da Argentina, que tinha uma
população judaica numericamente maior e mais desenvolvida sob o aspecto comunitário.
Esses rabinos, além de exercerem funções sinagogais, atendiam as necessidades do
cotidiano, no qual a sua presença se faz imprescindível, desde casamentos, circuncisões,
bar-mitzvot e em todos os atos que exigiam sua orientação religiosa.
Quem foram os primeiros rabinos no Brasil e quais foram as primeiras
sinagogas brasileiras? Não é uma pergunta fácil de se responder, pois se de um lado temos
alguns elementos, os poucos documentos que nos fornecem nomes e lugares ainda não são
suficientes para desvendar e desfazer as inúmeras dúvidas que pairam nesse segmento
particular da história da imigração judaica em nosso país.
No período colonial temos vários testemunhos de que os cristãos-novos
judaizantes faziam esnogas, e essa expressão denotava que eles se reuniam em algum lugar
para promover um culto judaico, que poderia ser motivado por qualquer uma das
festividades judaicas ou para rememorar tradições que os “marranos” e seus descendentes
costumavam observar, longe dos olhos daqueles que poderiam delatá-los aos esbirros da
Inquisição. Sabemos com certeza que havia lugares onde seguiam uma rotina estabelecida
ainda na Península Ibérica, em que certas casas de adeptos do judaísmo serviam de ponto
de encontro para a realização de cerimônias religiosas e para o estudo do judaísmo sob a
orientação de uma personalidade mais culta e esclarecida, que poderia ser denominada de
rabi. Essas esnogas clandestinas são lembradas nas denunciações durante a Primeira
Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, quando comparece à mesa da Visitação, na
Bahia, um cristão-velho de nome Manoel Braz, que testemunha ter conhecimento de que
“em casa de Diogo Lopes Ilhoa, cristão-novo, mercador nesta cidade, se fazia esnoga com
ajuntamento de judeus, e que quando uns estavam dentro fazendo a esnoga, outros andavam
de fora vigiando”223
. Também em outro lugar se menciona que em casa de Antônio Tomas,
mercador, cristão-novo “se faziam muitos ajuntamentos de cristãos-novos como ele e
diziam que faziam esnogas”224
. Nas denunciações da Primeira Visitação mencionam-se
também os lugares onde se faziam esnogas, e na Bahia a esnoga de Matoim é referida como
tendo existido “há vinte anos” na casa do cristão-novo Heitor Antunes “onde se ajuntavam
cristãos-novos e judaizavam e guardavam a lei judaica”225
. Em Camaragibe, em
223
Denunciações da Bahia, 1591-1593, Série Eduardo Prado, São Paulo, 1925, p.420. 224
Idem, Ibidem, p.489. 225
Idem, Ibidem, pp.277,382,392,475,537.
100
Pernambuco, é lembrado que teriam existido “há quarenta anos” e onde “havia esnoga onde
se juntavam os judeus desta terra e faziam sua cerimônia”226
. Além do mais, na Primeira
Visitação, temos menções de judaizantes, que devido ao seu preparo e conhecimento, se
destacam entre os cristãos-novos, tal como vemos em uma denúncia que se refere a João
Nunes, onde o denunciante “presumiu sempre mal do dito João Nunes e, geralmente, ouviu
dizer na dita capitania de Pernambuco que ele é o rabi da lei dos judeus que nela há”227
. Em
outro lugar das denunciações da Primeira Visitação encontramos que o padre Francisco
Pinto Doutel denuncia ao Visitador que “de vinte anos a esta parte é fama pública na dita
Vila de Olinda e Capitania de Pernambuco que Jorge Dias de Caja, cristão-novo calceteiro,
defunto que haverá dois anos é falecido, era o rabi e sacerdote dos judeus na dita
Capitania”228
. O mesmo clérigo lembra ainda que certa vez os cristãos-novos do engenho
de São Martinho, por impedimento de Jorge Dias de Caja, se dirigiram a um João Dias
“para que lhes pregasse de sua lei judaica”229
, fazendo o papel de rabi, mas este se recusou,
e por isso recebeu o devido castigo. Ainda em Pernambuco, Francisco Roiz Navarro
também é acusado de reunir às sextas-feiras membros de sua família e judaizantes para
fazerem esnoga230
.
Nas denunciações da Bahia, também entre 1591 e 1593, lemos que em casa de
“Gomes Fernandes, o denarigado, se fazia esnoga depois que desta cidade se foi para
Lisboa Rui Teixeira, cristão-novo, em cuja casa se fazia a dita esnoga”231
.
Em Salvador aparecem outras denúncias de se fazerem esnogas na casa de
Antônio Tomas e também na do boticário Dinis D’Andrade232
, conforme o texto da
Visitação de Heitor Furtado de Mendonça. Na Segunda Visitação, de Marcos Teixeira, em
1618, vemos o mesmo tipo de denúncia, agora contra o judaizante Gonçalo Nunes, que
reunia às sextas-feiras “alguns homens da nação em sua casa, que é na rua de trás da
cadeia”233
.
Efetivamente, a existência de rabinos e edifícios construídos com a finalidade
de servir ao culto judaico e oficialmente reconhecidos pelas autoridades governamentais
deu-se no período do domínio holandês na região do nordeste brasileiro, onde se
constituíram, em Pernambuco, duas comunidades, a “Tzur Israel” no Recife e a “Maguen
Abraham” em Maurícia, e não é nenhum absurdo supor que espaços provisórios para o
culto judaico poderiam existir nas demais regiões ocupadas pelos batavos, como Paraíba
ou Itamaracá, na medida que tivessem pequenos núcleos israelitas.
Durante o domínio holandês vieram os notáveis rabinos Isaac Abuab da
Fonseca e Moisés Rafael de Aguilar234
, que tinham uma formação religiosa adequada e
226
Denunciações de Pernambuco, 1593-1595, Série Eduardo Prado, São Paulo, 1929, p.75. 227
Denunciações da Bahia, p.449. 228
Idem, Ibidem, p.522. 229
Idem, Ibidem, p.522. 230
Denunciações de Pernambuco, p.481. 231
Denunciações da Bahia, p.292. 232
Idem, Ibidem, p.467. 233
Livro de Denunciações do Santo Ofício na Bahia no ano de 1618, Anais da Biblioteca Nacional, vol.
49,1927 (1936), p.97. 234
Sobre eles e sua atuação há uma vasta bibliografia de importantes autores, entre eles J. Mendes dos
Remédios , Os Judeus Portugueses em Amsterdam, Coimbra, 1911; A. Wiznitzer, Judeus no Brasil Colonial,
ed. Pioneira, São Paulo, 1966; J.Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos Novos Portugueses, Liv. Clássica
Editora, Lisboa, 1975; M. Kayserling, Biblioteca Española-Portugueza-Judaica, Ktav Pub. House, N. York,
1971.
101
eram sábios de prestígio considerável entre os judeus de Amsterdão. O primeiro descendia
de uma verdadeira dinastia rabínica da Península Ibérica, todos eles sábios e eruditos que
deixaram seus nomes gravados na história religiosa dos judeus peninsulares.
A sinagoga do Recife235
parece ter sido construída a partir de 1637, ainda que
desde 1636 tenhamos notícias sobre a existência do culto sinagogal naquela região.
Em Maurícia sabemos que havia uma sinagoga na residência de um
correligionário daquela comunidade conhecido como Josua de Haro236
. Também temos
notícias sobre rabinos de outras comunidades, ainda que não existissem prédios
consagrados como sinagogas, mas tão-somente casas particulares adaptadas para esse fim.
Na Paraíba serviu de rabino Moisés Peixoto237
, que era capitão; em Itamaracá, o sábio
Jacob Lagarto238
.
Com a expulsão dos holandeses, em 1654, e a conseqüente saída dos judeus que
viviam sob o seu domínio, supomos que os cristãos-novos espalhados em várias regiões do
território brasileiro deveriam continuar “fazendo esnogas” ou judaizando como antes, e o
maior indício dessa sua aderência ao judaísmo encontramos nos vários processos
inquisitoriais dos judeus brasileiros, onde é freqüente a denúncia de se reunirem para
judaizar, e isso até os meados do século XVIII.
Podemos dizer que o judaísmo, assim como foi praticado abertamente durante o
domínio holandês deixou de existir até os inícios do século XIX, quando com a vinda da
família real e a Abertura dos Portos às Nações Amigas inaugura-se uma nova fase da
imigração judaica no Brasil. A Inglaterra aproveitou-se dessa proclamação para estabelecer
um tratado comercial em 1810, onde se especificava na cláusula número 12 que aos súditos
britânicos dar-se-ia inteira liberdade religiosa, colocando-os, assim, numa situação de
imunidade em relação a qualquer tentativa de perseguição de parte do Santo Ofício
formalmente existindo em Portugal, ainda que decadente e pouco atuante. Foi o início para
a vinda de judeus, como viajantes, e seu estabelecimento como imigrantes em solo
brasileiro.
A partir desse início de século XIX encontramos duas correntes imigratórias
judaicas que se dirigiram uma em direção à região centro- sul, incluindo o Rio de Janeiro e
o Espírito Santo, compostas em sua grande maioria de elementos europeus
predominantemente ocidentais, e a que se dirigiu em direção ao norte, Pará, Amazonas e
adjacências, originária da África do Norte, que teria uma expressão numérica bem maior do
que a primeira que se caracterizava por seu caráter expontâneo em oposição a essa última,
premida pela força das circunstâncias. Portadora de um judaísmo extremamente
conservador e adstrito à “Torá”, construiu a sua primeira sinagoga Shaar Haschamaim
(Porta dos Céus), em Belém, onde se concentrava uma numerosa comunidade judaica239
.
Tudo indica ser esta a primeira sinagoga construída no Brasil após o período do domínio
holandês. Quem foi o seu rabino não podemos até o momento dizer com certeza. Mas
235
Wiznitzer, A., A Sinagoga do Recife Holandês (1630-1654), in revista Aonde Vamos?, 28 de maio de
1953, p.7; Lipiner, E., Reminiscências esculpidas em pedra, in Comentário, ano IX, v.9,n.3, 1968, pp.212-
220; Mello, J.A. Gonsalves de, A sinagoga do Recife holandês, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Rio de Janeiro, n.149 (358):1-121, jan.-mar.,1988, pp. 52-56; Dantas, L., A primeira sinagoga das
Américas, in D. O. Leitura, São Paulo, 136, 12 de setembro de 1993. 236
Wolff, E. e F., A Odisséia dos Judeus de Recife, C. E. J., São paulo, 1979, p.143. 237
Sobre ele vide Roth, C., A History of the Marranos, Hermon Press, N.York, pp. 287 e 335. 238
Idem, Ibidem, p.289. 239
Até agora não encontramos fontes que confirmam as diversas datas aceitas para sua fundação.
102
tratando-se de uma comunidade reconhecidamente ortodoxa sob o aspecto religioso, onde a
educação das crianças para a aquisição de uma formação religiosa era obrigatória, não lhes
faltariam membros preparados para oficiar os serviços religiosos, seja durante as
festividades ou casamentos, circuncisões, enterros, etc. As instituições comunitárias
estabelecidas no norte tinham seus modelos estratificados secularmente, no Marrocos, bem
como em outras regiões da África do Norte, e estavam impregnadas de um élan religioso
próprio daquele judaísmo.
Posteriormente construíram uma outra sinagoga, a Eshel-Abraham (Sicômoro
de Abraão), cuja data de edificação não deixa de ser controversa, assim como a da Shaar
Hashamaim, pois varia de 1826 a 1892, passando ainda por 1889 e outras datas.
Por outro lado, a imigração européia do Rio de Janeiro nas primeiras décadas
do século XIX, ao contrário do que aconteceu com os sefaraditas do norte, não tiveram a
possibilidade de construir uma sinagoga própria, e pelo que tudo indica, também não
possuíam rabino, bem como se ressentiam pela falta de elementos preparados para dirigir
qualquer ofício divino, pois eram originários de comunidades aculturadas à civilização
européia ocidental, onde o laicismo impregnou a vida comunitária judaica, o que não
ocorreu com o judaísmo tradicionalista da África do Norte, fechado em si e sem os atrativos
culturais imperantes no Velho Continente. Um documento interessante e comprobatório do
que se passava com os imigrantes europeus asquenazitas, sob o aspecto religioso, é uma
carta-resposta datada de 30 de junho de 1839 do rabino Salomon Hirschell, de Londres, a
Isey Levy, que havia solicitado orientação para a realização da cerimônia de casamento de
sua irmã, dispondo-se a ser o oficiante devido à inexistência de um rabino naquela
comunidade. Salomon Hirschell, em sua carta-resposta, dá um verdadeiro retrato da
situação religiosa no Rio de Janeiro ao dizer: “(...) ao mesmo tempo, como israelita e
professor de religião, não vejo com bons olhos o estado de coisas no Rio de Janeiro. O
senhor escreveu que não existe Kahal (a comunidade organizada) nem hazan (chantre), e
que os poucos Yehudim (judeus) no Rio não estão ainda em condições de formar uma
congregação. Pelo seu pedido de efetuar pessoalmente a cerimônia, devo deduzir que não
há sequer um Schochet (magarefe ritual), e, conseqüêntemente, sua comida é treifá (não-
pura, do ponto de vista religioso). Assim, por ocasião da festa de casamento, depois de ter
pronunciado as bênçãos prescritas e agradecendo ao Deus dos seus pais pela graça de ter-
nos dado os Mandamentos, irão sentar-se para saborear comida proibida pelos Seus
Mandamentos. Isso é uma flagrante violação da Lei, o que muito me doeria se fosse
inevitável. Mas, não sendo uma necessidade da qual não se possa escapar, sinto muito mais
o fato, e devo demonstrar o grande pecado que está sendo cometido, porque seria possível
mandar vir um Schochet que iria substituir, em alguns aspectos, o rabino do qual V. S. tanto
necessita”.
Mais adiante, o rabino instruiu Isey Levy como proceder em relação à
cerimônia de casamento, lembrando a necessidade de um minian (dez varões judeus) para
dar validade ao compromisso, o compromisso da Ketubá (certidão de casamento) e outros
detalhes240
. As preocupações religiosas de Isey Levy repetir-se-ão no decorrer da história
da imigração judaica no século XIX e ainda em parte nas primeiras décadas de nosso
século, pois no momento em que as comunidades darem seus primeiros passos
240
Wolff, E. e F., Os Judeus no Brasil Imperial, C. E. J., São Paulo, 1975, pp. 52-55; Wiznitzer, A., Os
primeiros judeus no Brasil Império, in Aonde Vamos?, n. 730, 20 de junho de 1957, foi o primeiro a se referir
a essa carta.
103
institucionais, deverão recorrer inevitavelmente à ajuda externa no sentido de conseguir um
rabino, um mohel (pessoa autorizada para praticar a circuncisão) ou mesmo um shochet.
Somente com a intensificação da imigração é que essa situação seria sanada.
A criação de entidades comunitárias e sua organização possibilitou uma vida
religiosa mais completa e favoreceu a vinda de rabinos de fora.
No Rio de Janeiro temos a informação de que nos meados do século passado
formou-se a União Israelita Shel Guemilut Hassadim241
, de início composta por judeus
marroquinos, porém passando mais tarde a aglomerar imigrantes asquenazitas europeus.
Podemos supor que logo após teriam aberto uma sinagoga, pelo que tudo indica, em um
salão alugado especialmente para o serviço religioso. Essa sociedade não foi a única
naquele tempo, pois temos conhecimento da União Israelita242
, fundada em 1870 e que
tinha um caráter filantrópico, porém, não deixando de se preocupar com a vida religiosa dos
judeus residentes naquela cidade. Também no Rio de Janeiro do século passado existiu uma
Sociedade Israelita do Rito Português243
, que é lembrada na imprensa carioca em 1888
devido a um protesto de seu presidente, Benjamin Benzaquen, que não aceitou “a eleição de
Solomon D’Abrahan Pariente para Rabbino da Synagoga”, e considerou “nulla essa
eleição, que só podia ser feita pela Escola Rabbinica, e só podia recair em quem a tivesse
cursado, pois assim dispõe o respectivo regulamento”, o que nos leva a supor que o tal
rabino não tinha a qualificação formal, a necessária smichá, para ser aceito pela
comunidade, e, portanto, diz o autor da comunicação, o verdadeiro “Rabbino é o sr.
Abrahão Hachuel, cidadão brasileiro naturalizado”. Por outro lado, essa querela interna
demonstra que nas últimas duas décadas, e talvez antes, tanto no norte do Brasil quanto no
Rio de Janeiro, já havia rabinos qualificados para orientar os imigrantes em sua vida
religiosa.
Em São Paulo a atuação era outra, pois o famoso dentista Samuel Eduard da
Costa Mesquita improvisou-se como rabino na pequena comunidade judaica existente então
na década de 1870. Somente em 1897, conforme notícia encontrada no periódico “Archives
Israelites” daquele ano, verificamos que os judeus imigrantes da Alsácia-Lorena e de outros
lugares constituíram-se em comunidade por iniciativa de um membro da família Worms,
que já decidira providenciar a vinda de um schochet da Hungria, de nome Salomão Klein,
que também exercia funções rabínicas, abrangendo a orientação sobre a pureza da
alimentação244
.
Se considerarmos o aspecto legal das sinagogas existentes durante o período do
Império não vemos que elas possuíam um status jurídico pleno, pois a Constituição Oficial
do Estado de 1824, segundo seu artigo 5, na verdade permitia às outras religiões atuarem
em residências ou edifícios “sem a forma exterior de templo”, situação essa que mudaria
apenas com a República.
O crescimento paulatino da imigração judaica, a partir dos fins do século XIX e
inícios do atual, vinda principalmente dos países da Europa Oriental, se mostra
extremamente importante para o desenvolvimento de uma vida religiosa mais profunda e
estável entre os imigrantes. Devemos, nesse sentido, acentuar que os judeus da Polônia,
241
Wolff...pp.236-40. 242
Idem, Ibidem, pp.286-88. 243
Idem, Ibidem, pp.257-8. 244
Falbel, N., Crônica do Judaismo Paulista, in Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil, F.I.E.S.P., São
Paulo, 1984, p. 107.
104
Romênia, Rússia, e da Europa Oriental como um todo, em particular nos pequenos centros
urbanos e nos pequenos lugarejos, mantiveram-se, durante séculos naquela região,
concentrados em núcleos populacionais com vida social própria e limitado contato com a
população cristã. O mundo espiritual-religioso judaico manteve-se intacto, principalmente
na região rural onde os judeus viviam em suas próprias aldeolas, o shtetl, disseminadas em
uma extensa área geográfica. De certa forma o movimento “hassídico” surgido nos meados
do século XVIII havia impregnado o judaísmo da Europa Oriental com uma religiosidade
popular e pouco formal, mas com uma intensidade emotiva ímpar, e nesse sentido o rabi
hassídico tinha um poder enorme sobre sua gente, fazendo com que a vida comunitária
estivesse, em boa parte, dependente de sua orientação. Portanto, os imigrantes que vieram
daquela região se preocuparam em estruturar sua existência no país para o qual imigraram,
mantendo sua identidade judaica através da religião, mesmo que houvesse grupos
influenciados por ideologias seculares, socialistas ou nacionalistas. Enquanto isso, a velha
imigração dos países da Europa Ocidental do século XIX se assimilara profundamente,
deixando poucos vestígios, e seus descendentes se converteram, com o passar do tempo, ao
cristianismo, ou permaneceram indiferentes à religião245
.
O mesmo, ainda que em menor grau, e devido a outras causas, teria ocorrido
com a imigração judaica marroquina da região amazônica. Mas, esta última resistiu ao
poder dissolvente do tempo, apesar da grande miscigenação havida entre seus
descendentes, conseguindo subsistir como comunidade religiosa até os nossos dias.
Para um levantamento inicial das sinagogas e rabinos, a partir dos inícios do
século passado, mesmo tendo a certeza de que os dados apresentados não são exatos e estão
longe de serem completos, devemos considerar duas fontes, sendo a primeira fruto de
interesse jornalístico do talentoso João do Rio, cognome de Paulo Barreto, que publicou em
1904 um livro sob o título “As religiões no Rio”, onde inclui um capítulo interessante sobre
as sinagogas e a vida religiosa dos imigrantes judeus vivendo na capital da República. A
imprecisão e o desconhecimento da religião judaica levaram o autor a fazer um relato
duvidoso, mas parte do que ele nos conta pode ser aproveitado para uma primeira
referência sobre a questão na cidade do Rio de Janeiro. Ele lembra a composição da
comunidade segundo os lugares de origem dos imigrantes, tais como os judeus franceses,
quase todos vindos da Alsácia-Lorena, marroquinos, russos, ingleses, turcos, árabes e
também os “armênios”, que supomos serem “romenos”, além de outras.
João do Rio menciona duas sinagogas, uma na rua Luís de Camões, 59, e outra
na rua da Alfândega, 369. A primeira ele diz ser do “rito argânico”246
, “entra-se num
corredor sujo, onde crianças brincam. Aos fundos fica a residência da família. Na sala da
frente está o templo, que quase sempre tem camas e redes por todos os lados”. Esta
descrição revela de certa forma a pobreza do templo que não contrasta com o da rua da
245
Nas “Memórias” de Jacob Schneider, um dos veteranos ativistas comunitários que chegou no início do
século passado , se reporta ao fato significativo de que a primeira Torá recebida pela associação Centro
Israelita do Rio de Janeiro, fundada em 1 de outubro de 1910, com judeus de origem asquenazita, em sua
maiorria, foi ofertada por Herbert Moses e era oriunda de uma associação de judeus da Alsacia-Lorena.V.
Falbel, N., Jacob Schneider e a comunidade judaica no Brasil, in Herança Judaica, setembro, 1982, n. 50,
p.57. 246
Esse “rito” é desconhecido e ,sem dúvida, trata-se de uma provável “criação” do autor. Cremos que ele
deveria ter confundido com a palavra “ortodoxia”, ou “rabínico”, em contraposição à “karaíta”, seita judaica
que remonta ao século VIII e que rejeita a “tradição oral”. Utilizamos obra de João do Rio da edição da Ed.
Aguilar, Rio de janeiro, 1976.
105
Alfândega, que o autor diz ser “muito mais interessante” e “ocupa todo o sobrado do
prédio, que é vulgar e acanhado”.
Além do mais, o nosso autor lembra o nome dos respectivos rabinos ou
chazanim (chantres). O da primeira era David Hornstein, que “cursou a Universidade
Talmúdica, (certamente uma ieshivá, ou escola talmúdica) é poliglota, professor,
correspondente de vários jornais escritos em hebreu e rabino diplomado na religião
judaica”. O outro é lembrado apenas sob o nome de Moisés e dono de “uma face espanhola
e um ar bondoso”. A pobreza desse último leva o nosso jornalista a concluir o seu pequeno
relato com uma frase reveladora da situação e das condições em que vivia, no início do
século, a maioria da imigração judaica: “nós estávamos apenas numa sala estreita que fingia
de sinagoga, no fim da rua da Alfândega (...) Mas, nem por isso o fervor religioso era
diminuto, pois enquanto o chasan lia, com os pés juntos, sem mover sequer os olhos, com
uma voz ácida tremendo no ar, todos tinham nas faces sorrisos de satisfação”.
A Segunda fonte, digna de maior crédito, apesar das ressalvas que fazemos
adiante, encontra-se no periódico “A Columna”, fundado pelo professor David José Perez,
em 1916, em um artigo publicado sob o título de “O Mosaismo no Brasil” de autoria de
Justiniano de Meyrelles, importante funcionário da Diretoria de Estatísticas que forneceu os
dados levantados em relatório daquele departamento, apresentado ao ministro da
Agricultura, Indústria e Comércio, no ano de 1915247
. Os quadros estatísticos publicados no
247
“A Columna”, n. 14, fevereiro de 1917, pp. 20-2; n. 15, março de 1917, pp.37-9. A melhor coletânea sobre
o tema, com ênfase no período medieval, foi organizada pelo saudoso professor da Universidade Hebraica de
Jerusalém, Haim Hilel Ben-Sasson, Há-Kehilá ha-Yehudit be-Yemei há-Beinaim (A comunidade judaica na
Idade Média), Soc. Histórica de Israel, Jerusalém, 1976. 247
Denunciações da Bahia, 1591-1593, Série Eduardo Prado, São Paulo, 1925, p.420. 247
Idem, Ibidem, p.489. 247
Idem, Ibidem, pp.277,382,392,475,537. 247
Denunciações de Pernambuco, 1593-1595, Série Eduardo Prado, São Paulo, 1929, p.75. 247
Denunciações da Bahia, p.449. 247
Idem, Ibidem, p.522. 247
Idem, Ibidem, p.522. 247
Denunciações de Pernambuco, p.481. 247
Denunciações da Bahia, p.292. 247
Idem, Ibidem, p.467. 247
Livro de Denunciações do Santo Ofício na Bahia no ano de 1618, Anais da Biblioteca Nacional, vol.
49,1927 (1936), p.97. 247
Sobre eles e sua atuação há uma vasta bibliografia de importantes autores, entre eles J. Mendes dos
Remédios , Os Judeus Portugueses em Amsterdam, Coimbra, 1911; A. Wiznitzer, Judeus no Brasil Colonial,
ed. Pioneira, São Paulo, 1966; J.Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos Novos Portugueses, Liv. Clássica
Editora, Lisboa, 1975; M. Kayserling, Biblioteca Española-Portugueza-Judaica, Ktav Pub. House, N. York,
1971. 247
Wiznitzer, A., A Sinagoga do Recife Holandês (1630-1654), in revista Aonde Vamos?, 28 de maio de
1953, p.7; Lipiner, E., Reminiscências esculpidas em pedra, in Comentário, ano IX, v.9,n.3, 1968, pp.212-
220; Mello, J.A. Gonsalves de, A sinagoga do Recife holandês, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Rio de Janeiro, n.149 (358):1-121, jan.-mar.,1988, pp. 52-56; Dantas, L., A primeira sinagoga das
Américas, in D. O. Leitura, São Paulo, 136, 12 de setembro de 1993. 247
Wolff, E. e F., A Odisséia dos Judeus de Recife, C. E. J., São paulo, 1979, p.143. 247
Sobre ele vide Roth, C., A History of the Marranos, Hermon Press, N.York, pp. 287 e 335. 247
Idem, Ibidem, p.289. 247
Até agora não encontramos fontes que confirmam as diversas datas aceitas para sua fundação.
106
referido artigo dão uma idéia, senão exata, pelo menos aproximada da vida religiosa dos
judeus brasileiros na primeira década e meia do século.
Devemos, antes de tudo, chamar a atenção para o fato de os quadros estatísticos
também revelarem os números dos membros afiliados às várias comunidades espalhadas
pelo território nacional, batizados (na verdade, circuncisões), casamentos, cerimônias,
fúnebres, festividades e reuniões culturais, sem no entanto podermos daí inferir o
verdadeiro número da população judaica em cada lugar mencionado, uma vez que nem
todos estariam afiliados às sinagogas ou comunidades selecionadas. Também os dados
apresentados foram fornecidos através de informação oral, sem que seu autor pudesse fazer
uma verificação mais precisa em outras fontes.
Por outro lado, temos outras fontes com a mesma informação histórica que
apontam vários erros existentes nos dados que nos fornecem os quadros que publicamos
nestas páginas.
Antes e após a Primeira Guerra Mundial, a imigração judaica se intensificou,
fazendo com que as comunidades crescessem e se desenvolvessem significativamente. O
processo de ascensão econômica e o conseqüente aumento no nível de vida dos imigrantes,
que prosperaram devido a sua dedicação extraordinária ao trabalho, levou também à
construção de sinagogas mais adequadas e dignas ao culto religioso, ao mesmo tempo,
adequadas para centralizar os eventos da vida comunitária.
QUADRO A
SEDES
Sinagogas
Datas da
Fundação Estados e
Distrito Federal
Cidades
Distrito Federal Rio de Janeiro Centro Israelita do Rio de Janeiro 1 Out. 1910
Centro Israelita Marroquino 24 Set. 1911
Pará Belém Sinagoga Dedicação de Abraham 1889
247
Wolff, E. e F., Os Judeus no Brasil Imperial, C. E. J., São Paulo, 1975, pp. 52-55; Wiznitzer, A., Os
primeiros judeus no Brasil Império, in Aonde Vamos?, n. 730, 20 de junho de 1957, foi o primeiro a se referir
a essa carta. 247
Wolff...pp.236-40. 247
Idem, Ibidem, pp.286-88. 247
Idem, Ibidem, pp.257-8. 247
Falbel, N., Crônica do Judaismo Paulista, in Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil, F.I.E.S.P., São
Paulo, 1984, p. 107. 247
Nas “Memórias” de Jacob Schneider, um dos veteranos ativistas comunitários que chegou no início do
século passado , se reporta ao fato significativo de que a primeira Torá recebida pela associação Centro
Israelita do Rio de Janeiro, fundada em 1 de outubro de 1910, com judeus de origem asquenazita, em sua
maiorria, foi ofertada por Herbert Moses e era oriunda de uma associação de judeus da Alsacia-Lorena.V.
Falbel, N., Jacob Schneider e a comunidade judaica no Brasil, in Herança Judaica, setembro, 1982, n. 50,
p.57. 247
Esse “rito” é desconhecido e ,sem dúvida, trata-se de uma provável “criação” do autor. Cremos que ele
deveria ter confundido com a palavra “ortodoxia”, ou “rabínico”, em contraposição à “karaíta”, seita judaica
que remonta ao século VIII e que rejeita a “tradição oral”. Utilizamos obra de João do Rio da edição da Ed.
Aguilar, Rio de janeiro, 1976. 247
“A Columna”, n. 14, fevereiro de 1917,
107
Sinagoga Porto do Céu 1824
Rio Grande do
Sul
Passo Fundo Centro Israelita 1912
Porto Alegre Sociedade União Israelita 1 Out. 1910
Santa Maria da
Boca do Monte
Centro Israelita 1905
São Paulo São Paulo Comunidade Israelita de São Paulo 21 Jan. 1912
108
QUADRO B – ANO DE 1911
SEDES
B
a
t
i
z
a
d
o
s
Casamen
tos
Cerimôni
as
Fúnebres
Festi
-
vida-
des
Reuniõe
s
cultuais
Pessoas
filiadas
à
sinagog
a
Estados e
Distrito
Federal
Cidades
Distrito
Federal
Rio de Janeiro
(1)
- 1 - 11 104 80
Rio de Janeiro
(2)
4 1 - 6 19 42
Pará Belém 17 8 15 18 (3)
2.190
(4)
400
Rio Grande
do Sul
Porto Alegre 10 - 3 9 52 (5)
50
Total 31 10 18 44 2.365 572
ANO DE 1912
SEDES
B
a
t
i
z
a
d
o
s
Casamen
tos
Cerimôni
as
Fúnebres
Festi
-
vida-
des
Reuniõe
s
cultuais
Pessoas
filiadas
à
sinagog
a
Estados e
Distrito
Federal
Cidades
Distrito
Federal
Rio de Janeiro
(1)
- 1 - 11 104 80
Rio de Janeiro
(2)
9 1 - 6 19 42
Pará Belém 17 8 15 18 (3)
2.190
(4)
400
Rio Grande
do Sul
Porto Alegre 7 3 5 9 52 (5)
50
São Paulo São Paulo (6) - - - 9 52 100
Total 34 16 22 69 2.456 705
109
Observações:
(1) Centro Israelita do Rio de Janeiro. O presidente declarou não lhe ser possível
informar sobre batizados e cerimônias fúnebres.
(2) Centro Israelita Marroquino.
(3) As sinagogas Dedicação de Abraham e Porta do Céu realizam diariamente três
reuniões culturais.
(4) Elevam-se a 650 as pessoas residentes em Belém que aceitam o monoteísmo judaico.
(5) Incluindo as pessoas que seguem o judaísmo, embora não filiadas à Sociedade União
Israelita, eleva-se o total de 244.
(6) Segundo declaração da Delegacia de Estatística em São Paulo, não foi possível obter-se
informações dos batizados, casamentos e cerimônias fúnebres, porque a comunidade
israelita ainda não estava inteiramente organizada.
Tal é o resultado da primeira tentativa feita pela 4ª Seção da Repartição de
Estatística para incluir na estatística religiosa o monoteísmo judaico.
Fazemos os melhores votos para que, desbravando o terreno as futuras publicações da
repartição a que servimos, possam apresentar dados completos sobre o judaísmo, e para
isto basta que as comunidades israelitas atendam ao apelo que cordialmente lhe fez a
Diretoria Geral de Estatística.
Já em 1916 notamos em São Paulo o lançamento da pedra de fundação de uma sinagoga
mais imponente e veremos que, com o correr dos anos, os templos erguidos para o culto
judaico são arquitetonicamente mais sofisticados, seguindo modelos europeus e com um
planejamento especial visando atender as necessidades da comunidade local.
Do mesmo modo , no Rio de Janeiro, também em 1916, será construída a sinagoga Beth
Yaacov, que na verdade era uma associação que visava entre outros fins construir uma nova
sinagoga , o que de fato ocorrerá posteriormente.
A década de 20 e as subseqüentes contratará com os modelos iniciais lembrados acima e se
destacará por uma preocupação cada vez maior em criar instituições de ensino ou escolas
com a finalidade de educar as novas gerações, nascidas no Brasil, nas tradições religiosas
judaicas para dar-lhe uma formação adequada, não poupando, nesse sentido, esforços e
meios para atingir esse escopo.
Para finalizar, devemos observar que a multiplicação de sinagogas, além de ser fruto do
crescimento natural da imigração, é resultado da tendência em se agrupar em comunidades
de origem. Assim, se explica o fenômeno do surgimento de “landsmanschaften” ou
associações de caráter socio-cultural e de auxílio mutuo que agrupam imigrantes oriundos
de mesma região, que procuram seguir os seus costumes e o seu ritual peculiar do lugar de
origem. Trata-se da conhecida inclinação do imigrante recolher-se entre os seus
conterrâneos como uma forma de sentir-se protegido frente um novo meio no qual deverá
se adaptar para sobreviver. Entre outras cousas a comunidade religiosa preenche o vácuo
inevitável que se forma pela ruptura com o passado vivido em outro lugar e o novo no qual
o imigrante veio a se fixar.
110
12. “A Vós, meu senhor, o Rei...”
Como já havíamos afirmado em outra oportunidade,248
o conhecimento de d.
Pedro II da Língua Hebraica havia despertado profunda admiração entre os judeus
europeus, e portanto, não causa estranhamento o fato de se encontrar no Arquivo do Museu
Imperial uma carta escrita em Hebraico, dirigida ao Imperador, a qual até agora
permaneceu desconhecida aos estudiosos da biografia do real hebraísta e sábio brasileiro.249
O autor da carta, que data de 1880, era um professor de Hebraico da
Universidade de Pisa que escreveu em tom laudatório, comparando o nosso Imperador ao
rei Salomão, símbolo da sabedoria bíblico-judaica, e ofereceu a ele um livro de sua autoria
sobre o famoso poeta e filósofo medieval, Yehuda Halevi.250
O professor de Pisa, ao
escrever a d. Pedro, firmara-se em Hebraico como Yehoshua Le-Beit (da casa de) Baruch, e
seu nome italiano era Salvatore De Benedetti. Dizia-se amigo do prof. Michele Ferrucci251
que, ao viajar ao Brasil, levara exemplares de seu livro ao Imperador. Dos conhecimentos
de Hebraico de d. Pedro II ele soube anteriormente através de um outro amigo, Pereira de
Leon, secretário do Museu do Cairo, que tivera contato com o imperador brasileiro por
ocasião da visita do mesmo ao Egito, fato que também foi mencionado na carta.
O interessante é que o autor da carta escrevia Hebraico cursivo, em escrita
“Raschi”, o que não torna fácil sua leitura, a não ser para alguém que domine bem a língua
e conheça esse tipo de alfabeto252
, o que não cremos que fosse o caso particular de d. Pedro
II. A prova que temos, e que nos permite fazer tal afirmação, é um manuscrito, também
inédito, e pertencente ao Arquivo do Museu Imperial, sem data, o qual consiste de
apontamentos de termos hebraicos extraídos do Livro dos Salmos e do Gênesis, com as
respectivas traduções e observações em Inglês, Latim, bem como com termos comparativos
em Grego, utilizado, sem dúvida, para efeitos de estudo e de aprendizagem do Hebraico
pelo monarca.253
Os caracteres que d. Pedro traçou nesse manuscrito, a fim de transcrever as
palavras hebraicas, pertencem à chamada “escrita quadrada”, a qual, realmente, é mais fácil
para o estudioso dessa língua. Esse manuscrito constitui, na verdade, um glossário do
primeiro salmo do Livro dos Salmos e dos dois primeiros capítulos do Livro do Gênesis.
Não resta a menor dúvida de que o Imperador seguiu o “método tradicional” para o estudo
do Hebraico, o qual partia da leitura do Velho testamento e sua comparação ou
acompanhamento com traduções em outras línguas. Esse método justifica-se mais ainda em
248
No artigo intitulado “Uma Carta de um Rabino Francês ao Imperador d. Pedro II”, publicada na revista
“Herança Judaica”. 249
A carta, bem como os glossários dos Salmos e do Gênesis, me foram cedidas pelo casal de historiadores
Egon e Frieda Wolff, que os encontraram no Arquivo do Museu Imperial. 250
O poeta e filósofo Yehuda Halevi, que viveu na Espanha (1075-1141), escreveu o famoso tratado teológico
Ha-Kuzari, no qual narra a conversão do reino Cazaro ao judaísmo. Salvatore de Benedetti traduziu a obra
poética de Yehuda Halevi ao italiano, e esta foi remetida a d. Pedro II. 251
Sobre o prof. Michele Ferrucci, não conseguimos apurar algo que pudesse levar a sua identificação e
tampouco conseguimos saber qual fora sua missão no Brasil. 252
O alfabeto “Raschi” é assim chamado por ser o tipo de escrita adotado nas glosas tradicionais do Velho
Testamento, de autoria do notável exegeta R’ Schlomo Itzhaqi (cujo acróstico é Raschi), que viveu na França
no século XI. 253
V. os textos ilustrativos anexos a este estudo.
111
vista do fato de que d. Pedro era um leitor apaixonado da Bíblia,254
e tudo indica que o
manuscrito que contém o glossário dos capítulos do Gênesis e do Salmo I corresponde ao
estudo preparatório para as versões latinas que o Imperador faria de alguns livros do Velho
Testamento, entre os quais do próprio Livro dos Salmos.255
Na busca de elementos para identificar o autor da missiva ao Imperador, isto é,
prof. Salvatore de Benedetti, encontramos junto à Universidade Hebraica de Jerusalém um
periódico de caráter cultural, impresso na Itália no século passado, o qual nos proporcionou
dados importantes. Trata-se do “Il Vessillo Israelitico”, que começou a ser publicado em
Casale em meados do século XIX, mais precisamente em 1852, que a partir de 1877, pelo
menos, ou talvez antes, recebia a colaboração de nosso professor, conhecido na Itália de seu
tempo como um excelente orientalista.256
De fato, Salvatore de Benedetti aparece citado como um dos participantes de
um Congresso de Orientalistas, realizado em Florença na Itália em 1878, ao lado de nomes
de destaque nessa área. Pelos artigos por ele publicados no “Il Vessillo Israelitico”,
delineia-se como um estudioso profundo e um conhecedor erudito do judaísmo.257
Além do
mais, também é um homem voltado para as questões atuais, e sobretudo àquelas que
concernem à vida comunitária judaica na Itália.258
Em 1881, o professor de Hebraico e orientalista, recebeu do ministro da
Educação Pública o título de Cavaleiro da Coroa da Itália, conforme notícia divulgada no
“Il Vessillo Israelitico”, e que mereceu uma nota biográfica, a qual permite traçar o perfil
da surpreendente atividade intelectual de nosso missivista.259
Conforme nos informa o autor da nota biográfica, De Benedetti foi reconhecido
como estudioso de Literatura Semítica e como notável literato italiano por escritores como
De Sanctis, Vanucci, e orientalistas como Renan, Steinschneider, Derenbourg, Dukes,
Neubauer e outros, todos eles nomes representativos em seu tempo, com os quais manteve
contato intelectual.
Já em 1852, De Benedetti publicou um Annuario Israelitico e encetou sua
tarefa como tradutor de obras hebraicas para o Italiano. Entre essas traduções encontram-se:
Cancioneiro Sacro de Yehuda Halevi, publicado em 1871, livro que remeteu a d. Pedro II;
História de Rabi José, filho de Levi, lenda talmúdica traduzida e publicada no Annuario
della Società Italiana per gli Studii Orientali, 1872; A Lenda Hebraica dos Dez Mártires,
publicada no mesmo Annuario em 1873; Vida e Morte de Moises, lenda hebraica, Pisa,
1879.
Além desses trabalhos, devemos lembrar que foi autor de inúmeros artigos e
comentários, bem como de resenhas bibliográficas que escreveu para o “Il Vessillo
254
V. a respeito a monografia de Loewenstamm, Kurt, O Hebraísta no Trono do Brasil: Imperador d. Pedro II,
Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1956. 255
Conforme Loewenstamm na obra acima citada, p. 11. 256
No “Il Vessillo Israelitico”, 1877, pp. 66-67, aparece uma relação de “Cattedre di Lingua Ebraica e affini
nelle Università e negl’Instituti Superiori del Regno d’Italia”, onde se encontra, entre outras cátedras (na
Univ. de Florença, na de Pádua, na de Roma), a cátedra de Língua Hebraica na Univ. de Pisa, sob a orientação
do prof. De Benedetti. 257
Os temas de seus artigos no “Il Vessillo” versam sobre o Talmud e assuntos históricos, como por exemplo,
o artigo sobre o reino dos Cázaros, concernente à obra de Yehuda Halevi. 258
Pode-se observar esse seu traço de caráter pelos comentários e necrológios escritos para o “Il Vessillo
Israelitico”, 1879, pp. 176-178; 1880, pp. 208-210; pp. 239-242; pp. 273-275. 259
“Il Cav. prof. Salvatore De Benedetti”, in “Il Vessillo Israelitico”, 1881, pp. 309-310.
112
Israelitico”. Parece-nos que a beleza de suas traduções do Hebraico revelam um domínio
lingüístico tão notável que não é de se estranhar que nosso autor tenha chamado a atenção
dos literatos italianos de seu tempo, pois tudo indica que “pochi davvero sanno meneggiare
la bella lingua italiana com il De Benedetti”.260
A CARTA AO IMPERADOR
Ao
Imperador Rei Pedro de Alcântara
Paz e benção, prestígio e glória,
Não vos admireis, por obséquio, Meu Senhor, o Rei, se um anônimo
insignificante como eu, jamais conhecido por V. S., um homem que permanece na
obscuridade, sem luz e glória, tenha a ousadia de se apresentar diante de V. S. com um
regalo e oferte a V. S. o fruto de sua mente. Pois qualquer pessoa poderá repreender-me
dizendo: quem és tu para te apresentares a um Rei respeitado e glorificado em toda a Terra,
o qual chama a Sabedoria de minha irmã e é amigo da Inteligência e a convida e fá-la
sentar-se com ele em seu trono real? Acaso poderás tu entrar no palácio de um rei tão
grande como d. Pedro vestido de andrajos? Acaso não sabes que não se comparece diante
de um rei a não ser em traje suntuoso?
A Vós responderei, Meu Senhor, o Rei, que bem sei, Meu Senhor, o Rei, que a
Sabedoria, a Modéstia e a Justiça são irmãs, por conseguinte, confio intimamente que vossa
destra me apoiará e que vossa modéstia me favorecerá, e, também recordo as palavras dos
antigos sábios de Israel: “O amor ultrapassa as medidas”, e não ignoro que vosso amor
pelas ciências é infinito, e que entre as ciências que estudais e que apreciais sobremaneira
está a ciência da Língua Hebraica, na qual está escrito o Testemunho de Deus, que é fiel e
instrui o tolo, e que toda letra e sinal dele, seja muito ou pouco, seja elevado ou vil, valem
aos vossos olhos como uma preciosa dádiva, e nisso creio sem me envergonhar.
Lembrai-vos, Meu Senhor, o Rei, quando fostes ao Egito, há alguns anos, para
pesquisar as antigüidades daquela terra, falastes com um sábio italiano, um escritor da
sociedade dos estudiosos dos anais do Egito, Cav. Pereira de Leon, secretário do Museu
Egípcio, e ele, que me é muito caro, admirou-se ao ver o vosso grande conhecimento da
Língua Hebraica e dos livros dos sábios de Israel, e escreveu-me os seus pensamentos, e,
quando lhe enviei o meu livro sobre Yehuda Halevi, aconselhou-me dizendo: Manda-o ao
Imperador, Rei do Brasil, e ele realmente o apreciará, e então não tive a coragem de fazê-
lo, pois temi que isso seria considerado uma ousadia.
Porém, parece-me que hoje a vontade de Deus abriu-me uma porta, pois o meu
estimado e caro amigo, prof. Cav. Michele Ferrucci, foi ao vosso Reino a fim de realizar
um trabalho precioso e grandioso. Tomei a coragem e enviei-vos, Meu Senhor, o Rei, dois
livros, frutos da minha mente, a fim de honrar e glorificar-vos, como desejava.
E agora, Meu Senhor, o Rei, aceitai a minha saudação, que vos é levada, não a
desprezai, perscrutai o pensamento do jovem que a envia. Pois eu vos considero um rei
260
Assim se expressa o autor da nota biográfica sobre De Benedetti, mencionada acima.
113
igual ao Rei Salomão, pois seguis os caminhos dele e vos abençôo com todo o meu
coração. E ao meu Deus elevo a minha súplica dizendo: Abençoai – Vós, que dais ao
homem o saber e que ensinais ao homem o discernimento – o Rei d. Pedro de Alcântara,
que ama o Saber e busca a Inteligência, ajuda os sábios em seus feitos, e sob cujas asas
abrigam-se os doutos; Deus da Luz, abençoai-o Rei que ama a Luz, dai a ele e a sua esposa,
nascida em nossa terra, longa vida, e que vivam os seus anos em bem-aventurança.
Paz a Vós, d. Pedro, paz a vossa casa, paz ao vosso reino e a tudo o que é
vosso.
Com respeito do coração de vosso servo que se prostra diante de Vós.
Yehoshua da casa de Baruch
Professor de Língua Hebraica
Cognominado
Dia 12 do mês de schvat ano 5640
Della Maestá Vostra umilissimo devotissimo Salvatore de Benedetti, prof. Di
Lingua Ebraica nella R. Universitá di Pisa.
/===/
Devemos lembrar que D.Pedro II realizou uma viagem a Itália em 1877 quando teve a
oportunidade de entrar em contato com o tradutor da Divina Comédia ao hebraico, o sábio
judeu-italiano S.Formiggini, em 1869, que era um dos diretores do “Corriere Israelitico”,
editado em Trieste. No Arquivo Nacional no Rio de Janeiro encontra-se uma carta do
redator-chefe daquele periódico, S. Curiel, enviada ao Imperador em 22 de setembro de
1877 juntamente com o número do “Corriere Israelítico” que fazia referência à sua viagem
e a sua pessoa. A carta permaneceu inédita até 18 de maio de 1944, ocasião em que foi
publicada por Ernesto Feder, na revista Aonde Vamos?. Por revelar o contato de D. Pedro
II com personalidades do mundo judaico e seu interesse pela cultura hebraica reproduzimos
in totum essa interessante carta.
“Senhor!
O augusto e venerado nome de Vossa Majestade ressoa cercado de simpatia não só nas
terras que tem a ventura de estar sob seu cetro paternal mas em toda a parte onde há um
coração que sinta e um espírito que pense.
Em verdade o nome de Vossa Majestade Imperial significa amor e caridade, igualdade e
justiça, instrução e trabalho e portanto universal bem estar.
O “Corriere Israelitico” que há dezesseis anos se fundou em Trieste não é o último entre os
fervorosos admiradores de Vossa Majestade.
Ele tem acompanhado com o máximo interesse a recente viagem de Vossa Majestade e é
constante leitor dos seus atos magnânimos.
O devotadíssimo autor destas linhas, diretor do mencionado periódico, refratário a
encômios srvís, prometeu dedicar a Vossa majestade no último número um artigo em que
lhe manifesta a sua alta consideração.
Vossa Majestade, que já se dignou exprimir a sua bnevolência e indulgência a um dos
diretores do “Corriere Israelítico”, o Cavaleiro dr. Formiggini, autor da tradução hebraica
114
de Dante, não deixará certamente, na sua insigne bondade, de felicitar também ao subscritor
desta, dignando-se receber benignamente o exemplar anexo do seu jornal.
Invocando ao Deus Sebaot, glória, prosperidde e alegria para Vossa Majestade, para a
augusta Família Imperial e para todo o seu feliz Império, comovido repito:
Senhor, na tua força se alegrará o rei; E na tua salvação quão grande será o júbilo? O desejo
do seu coração lhe concedeste; E a petição dos seus lábios não lhe negaste.
Pois o premunes de bençãos excelentes; Pões-lhe na cabeça coroa de ouro fino; Pediu-te a
vida e lhe deste para todo o sempre.
Grande é a sua glória na tua salvação; Honra e magestade pões sobre ele.
E com isto protra-se aos pés do seu trono, Senhor, rendendo a Vossa Majestade todas as
homenagens do seu respeito.
Trieste, 22 de setembro de 1877
o atento servidor de Vossa Majestade
A. di S. Curiel
Redator-chefe do “Corriere Israelítico”
O Imperador respondeu a essa carta num ofício ao Visconde de Porto Seguro, que
representava o Brasil na Corte austriaca, que nada mais e nada menos era o nosso
historiador Varnhagen.
115
13. Uma imigração de judeus ao Brasil em 1891
Sabemos que o período que compreende o reinado de Alexandre III (1881-1894)
que ascendeu ao trono do Império Russo, logo após o assassinato de seu pai, foi em
particular difícil para a minoria judaica que vivia naquele território. A política
governamental autocrática do novo imperador na verdade não se diferenciou a de seu pai e
não fugiu a tradição anti-judaica que a caracterizou no passado. No entanto iniciativas para
impor reformas sociais conflitantes, propostas ainda no período anterior, continuaram e
parte delas ameaçavam os antigos privilégios da velha nobreza russa que se opunham às
novas medidas governamentais e procuravam explorá-las a seu favor. Porém outro aspecto
,dessa política governamental do novo imperador é sua perseguição aos grupos ou minorias
que representavam religiões diferentes incluindo-se entre elas as seitas existentes na Rússia,
tais como os Unitários, os Luteranos, nas províncias ocidentais, e os Lamaistas Kalmuques
e os Buriatos nas orientais. Mas, acima de tudo os judeus foram alvo de intensa
perseguição. A imprensa, assim como as organizações revolucionárias que despontaram
naquele período foram eliminadas e silenciadas. Ao mesmo tempo as terríveis condições
sociais revelaram-se durante a fome que grassou no ano de 1891, associada à profunda crise
agrária que atingiu aquele imenso território. A grave onda de pogroms que se seguiu ao
assassinato de Alexandre II em 1881, e anos seguintes, nos quais o judeu se transformou no
bode expiatório de todos os males da Rússia, repercutiu no período seguinte no qual o Czar
havia designado comissões para investigar as causas dos distúrbios, comissões que
chegaram a conclusão que tudo isso era devido a “exploração judaica”. Em 1882 eram
publicadas as “Leis Temporárias” que proibiam os judeus de viverem em aldeias e
restringiam os limites de residência em cidades maiores e menores. Também se restringia,
por uma lei de 1886 , à 10% o número de estudantes judeus nas escolas secundárias e nas
universidades situados na Zona de Residência e 3-5% fora dela. Impunha-se, desse modo, o
numerus clausus que atingia diretamente a educação e a formação profissional dos jovens
judeus que procuravam meios para estudar no exterior. Ao mesmo tempo , em 1891, os
judeus começaram a ser expulsos de Moscou e as leis discriminatórias não se restringiram
somente àquela cidade mas estendeu-se a outras causando um verdadeiro exôdo para outros
lugares. O clima anti-semita atingiu seu auge alimentado pela imprensa conservadora que
seguia a orientação política de Pobedonostsev , o chefe do “Santo Sínodo”, que
representava o corpo governamental da Igreja Ortodoxa russa. Sua esperança, tal qual ele a
formulou era que “um terço dos judeus se converteria, um terço morreria e um terço
abandonaria o país”. Efetivamente o abandono do país já havia começado.
A quase totalidade da emigração dirigiu-se aos países do Ocidente e em particular aos
Estados Unidos que recebeu a maior parte dessa imigração. Porém, pude constatar que o
Brasil também recebeu uma leva de cerca de 280 imigrantes vindos no ano de 1891, ano em
que a JCA (Jewish Colonization Association foi criada, pelo Barão Maurice de Hirsch, e
deu início à colonização de judeus russos na Argentina.
O nosso conhecimento sobre essa imigração ao Brasil era nulo, e se havia alguma
suposição sobre a vinda de judeus nesse tempo ela se restringia, possivelmente, a uma ou
outra família sem termos, no entanto, qualquer certeza ou elemento comprobatório. Em
busca de um ponto de partida para a pesquisa usei o nome da família Zlatopolsky, que sabia
ser uma família “antiga”, e de fato no computador do arquivo do Museu da Imigração,
116
surgiu o nome de Jacob Zlatopolsky, como imigrante vindo com o navio Ibéria ,via
Southampton, ao Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1891 e chegou a São Paulo em 10 do
mesmo mês. De resto foi examinar o Livro de Matrícula dos Imigrantes entrados na
Hospedaria do Estado de São Paulo.261
Jacob, que na relação dos imigrantes é designado
como sendo alemão, chegou solteiro ,com 24 anos, e passado certo tempo ele aparece
como empresário bem sucedido juntamente com C. Manderbach como “fabricantes de
livros em branco, impressores e negociantes em papelaria e artigos de escritório... de ótima
reputação, não só no Estado de São Paulo, mas também nos Estados de Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina, Goiás e todo o norte do Brasil. Os seus estabelecimentos , onde
trabalham mais de 100 operários, encarregam-se de qualquer trabalho de impressão,
encadernação, fabricação de livros em branco, envelopes, blocos, etc. Importam papéis em
larga escala; são os únicos agentes no brasil das maquinas de escrever marca “Adler” e
únicos depositários no país dos tipos de impressão de fundição “Gentzsch & Heyse”, de
Hamburgo. O armazém e oficinas estão situados à rua de são bento, 31, num prédio cujos
fundos vão até à rua Libero Badaró, 54.A casa foi fundada em 1899.O Sr. Manderbach,
cidadão alemão, está no Brasil há 20 anos e há 16 se ocupa de impressão e papelaria. O Sr.
Zlatopolsky, nascido no sul da Rússia, há 22 anos se acha no Brasil; sempre se ocupou
deste ramo de negócio e desde o ano de 1908 faz parte da firma C. Manderbach & Cia.”262
Sabemos, porém, que em 25 de maio de 1909, ele escreveria a Central do Fundo Nacional
Judaico, sediado em Colônia, na Alemanha, uma carta com o timbre da empresa Klabin
Irmãos referente a atividade sionista em São Paulo, sobre a qual diz ser inexistente, exceto
as campanhas para o mencionado fundo.263
O nome de Jacob Zlatopolsky e sua família
aparece no periódico “A Columna” relatando um festival realizado em benefício dos
correligionários vítimas da Primeira Guerra Mundial.264
O navio Ibéria, pertencente a
Pacific Steam Navigation Company, viajou 24 dias, saindo de Liverpool, conforme os
dados que temos no registro do movimento na Repartição Central das Terras e
Colonisação.265
O número de passageiros judeus que desembarcou no Rio em 7 de junho,
para passar pela quarentena da Ilha das Flores é de 221, incluindo mulheres e crianças. Em
São Paulo, procedentes em sua maioria absoluta do Rio, viriam 218 pessoas, no dia 10 de
junho, contando com alguns poucos que vieram com o navio Argentina (família Levine
composta de 4 membros, chegada em 1/6/1891, procedente de Hamburgo) e com o navio
Strassburg (um casal e um passageiro). Comparando as relações de passageiros que
desceram no Rio de Janeiro e os que desceram em São Paulo, logo vemos que em sua
maioria eram os mesmos, havendo uma diferença de 52 nomes do Rio que não constavam
na lista de São Paulo e 61 nomes de São Paulo que não constavam na lista do Rio. Assim
sendo podemos calcular que chegaram, aproximadamente, cerca de 280 pessoas no total,
261
No Livro no. 23, correspondente ao período de 26 de maio a 29 de junho de 1891. Surpreendentemente
estão registrados 218 imigrantes que os identifiquei como judeus , sem designação religiosa específica, tal
qual encontramos nos Livros correspondentes à imigração de 1905. 262
Impressões do Brazil no Século XX, Lloyds Greater Britain Publishing Company Ltd., London, 1913, p.
700. Ele aparece na galeria de retratos dos empresários paulistas na p. 711. 263
Arquivo do Central Zionist Archives, Jerusalém, doc. KKL 1/18. 264
“A Columna” ,3 de novembro de 1916, p.186 e “A Columna”, 1 de dezembro de 1916, p.198, no qual a
redação assinala “os importantes serviços prestados pelo Sr. Jacob Zlatopolsky e sua Exma. Família,
ornamento da boa sociedade israelita de S.Paulo, por ocasião do festival pró-vítimas realizado a 15 de outubro
último. Podemos afirmar que em grande parte a ele e à sua Exma. Família se deve o bom êxito desse festival.” 265
RV 45, referente ao navio Ibéria, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.
117
ainda que alguns nomes parecem ser alterados em sua grafia original. A lista do Rio inclui
as profissões dos passageiros que ,como já dissemos, saíram de Liverpool, constando que
eram em sua maioria trabalhadores sem profissão definida, com exceções de alguns aos
quais se indica ser alfaiate, vidraceiro, sapateiro, comerciante, etc. A designação da
nacionalidade na lista dos imigrantes de São Paulo aponta como sendo a maioria de
alemães e poucos austríacos e poloneses, enquanto que na do Rio de Janeiro divide-se entre
russos e alemães e alguns poucos austríacos e romenos. Porém na lista de São Paulo parte
dos que aparecem como alemães são denominados russos na lista do Rio, o que nos leva a
concluir que efetivamente em sua maioria eram russos de origem e que teriam emigrado da
Rússia para a Alemanha266
, seguindo daí para a Inglaterra. Na mesma data chegaria o navio
Strassburg ao Rio de Janeiro , via Bremen, Alemanha, no qual viria uma grande leva de
russos cristãos267
com destino para o Estado do Paraná, constituindo uma imigração
organizada com fins de colonização agrícola promovida pelo governo.
Qual teria sido o destino desses imigrantes? É uma questão permanente, que se levanta,
naturalmente, ao estudioso da imigração judaica no Brasil em relação às levas mais
antigas. Como sempre , não temos uma resposta segura para a mesma, pois, para tanto
temos de saber o quanto de descendentes deixaram, se permaneceram no país, ou se
aventuraram a outros lugares.
Somente uma pesquisa minuciosa sobre cada família poderá nos dar uma resposta. No
entanto há fortes indícios de que o processo de assimilação e aculturação das imigrações do
século passado XIX, abrangendo a dos judeus marroquinos, a dos alsacianos e as primeiras
levas provenientes da Europa Oriental, se deu numa escala bem maior, deixando poucos
traços de sua identidade de origem.
Porém tudo indica que a narrativa que encontramos na obra do famoso dramaturgo e
escritor de língua ídiche Peretz Hirschbein pode nos dar uma resposta ao enigma sobre essa
imigração. Transcrevo literalmente o que nos relata Hirschbein em seu livro “FunVaite
lender:Argentine, Brazil, Yuni,November 1914” , pp.177-8: “ No ano de 1890 agentes do
governo brasileiro começaram a difundir notícias entre os imigrantes judeus na Inglaterrra,
que no Brasil se recebe gratuitamente terra e para a terra dinheiro, moradias, animais e tudo
o necessário; que no Brasil corre leite e mel e por isso quem quizer viajar será levado para
lá com dignidade às custas do governo. Também informaram que é importante que tenham
uma grande família; quanto mais pessoas que alguém possua em sua casa mais terra
receberá.
A propaganda teve grande influência. Ainda no mesmo verão partiu do porto de Liverpool
o navio “Himbéria”(sic) levando acima de 1.000 almas judias. A maior parte era de alfiates,
tintureiros (passadores sw roupas). O que tinha pequena família emprestava, antes de viajar,
algumas filhas ou filçhos de algum bom amigo. Viajaram com a certeza de encontrarem sua
felicidade. Em 5 de julho chegou a primeira parate ao Brasil nacidade portuária de Santos e
de lá foram levados à São Paulo. Os levaram a grande Casa dos Imigrantes pertencente ao
governo, e os dias amargos tiverram início:
Na Casa dos Imigrantes encontraram um grupo de polacos que fugiram dos lugares nos
quais os judeus deveriam seer enviados. Uma que o governo indicou o lugar disponível e
selvagem:- Isto vocês recebem, e a partir daí vocês devem ajudar a si mesmos.
266
Alguns nomes sugerem que são famílias judias alemãs, ou russas que ficaram certo tempo na Alemanha,
assim como ocorreu com outros que viveram certo tempo na Inglaterra e acabaram adotando nomes ingleses. 267
Aparecem sob a designação de “católicos”, mas provavelmente são ortodoxos.
118
Mais do que terra eles não deram. Isso eles souberam por mrio dos poloneses que naquelas
terras que querem mandá-los predomina a febre amarela e pessoas falecem como moscas.
Entrementes chegou um segundo navio com imigrantes e logo após um terceiro. O
n´[úmero de judeus atingiu a cifra de 4.000 pessoas. As pessoas não queriam se deslocar da
Casa dos Imigrantes. Doenças começaram a surgir.Crianças faleceram. E quando os
responsáveis vieram e viram como as mães judias se encontram sentadas sobre o chão e
choram por suas pequenas crianças recaiu sobre eles um medo dos judeus e os temendo
expulsaram a todos eles da Casa dos Imigrantes.
O resultadfo logo ficou claro:
Uma parte que possuía meios voltou apressadamente para a Europa, outra continuou
viagem para a Argentina; uma parte se dirigiu a Santos para trabalhar no porto e morreram
de febre amarela. E uma parte se aproximou de um grupo de judeus ricos e estáveis que se
ocupavam com o tráfico de escravas brancas.Alguns foram trabalhar em plantações de café
e ali desapareceram seus rastros. Somente algumas dezenas encontraram de alguma forma
um caminho e hoje em dia ocupam um lugar respeitável na sociedade.”268
Apesar da discrepância de data da vinda dessa imigração que para Hirschbein deu-se no ano
de 1890 e nossa documentação comprova que foi 1891, bem como a enorme diferença entre
o número de imigrantes, 4.000 para Hirschbein e o número bem menor que apuramos nas
fontes citadas em nosso trabalho, além da distorção do nome do navio que trouxe a primeira
leva, seguramente podemos concluir que trata-se da mesma imigração. Pena é que
Hirschbein não nos declina sua fonte de informação mas certamente ele a recebeu
oralmente de pessoas que estiveram envolvidas com essa ou tomaram parte nessa
imigração.
I- Lista do Livro de Matricula de Imigrantes (no. 23 de 26 de maio de 1891 a 29
de junho de 1891)- (Arquivo do Museu da Imigração- São Paulo), incluindo-se
os imigrantes que não constam na lista do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,
e II- os imigrantes desta cidade que não constam na lista de São Paulo.
268
Hirschbein,Fun vaite lender: Argentine,Brazil,Yuni,November,1914,N.York, 1916, red. Book
Renaissance,N.Y., s.d., pp.177-8.
119
I- Imigrantes de São Paulo
Família Nome Idade
p.97
Stein George 19
Harry 21
Sandberg Robin 38
Frida 28
Israel 12
Mania 9
Emilio 5
Tanaberg Maunci 41
Sarah 26
Wolf 2
Meyer 1
(?) Bethin Bethise 25
Golder Angel 25
Polly 22
Rosenzwig Isac 18
(?) Travwis Marko 26
Mania 24
Clara 6
Abrahamson Morris 30
Emily 30
Isac 1
Levin Salomon 24
Sarah 22
Morris 30
Lea 18
Jacob 21
Goldberg Salomon 22
Etty 23
Joseph 20
Spion Harris 30
Lillie 27
Adolf 24
Broun Harris 22
Edith 20
p.99
Goldberg Morris 18
Morris 20
irmão Captam 21
cunhado Simon 23
cunhado, Isaac 32
120
Abrahamson
cunhado Meyer 19
Truhpand Filipe 42
Gidle 35
Alter 8
cunhado, Baher Jacob 24
Harrison David 18
Levy Morris 34
Misja 32
Julius 17
Serlang ou
Seshansky
Isaac 24
Sarah 20
cunhado Pinchos 20
Charles 20 ou
24
Lavetzky Abraam 36
Milli 28
Louis 13
Barikohansky Isaac 23
irmão Filippe 17
Fidler Harris 26
Deine 24
Lena 1
irmão Abraam 20
irmão Morris 20
Liberman Abraham 24
Sarah 22
Bernstein Samuel 22
Malkes Harris 26
Anna 26
Jacob 5
irmão Samuel 32
primo Benjamin 23
Mann Abraham 38
Ester 33
Rebecca 10
Max 5
Hyman 1
Marck 19
p.101
Harris Salomon 38
Rachel 35
Max 36
Katz Mendel 27
121
Rebecca 24
Harris Salomon 21
Leon Gabrielen 20
Zlatopolsky Jacob 24
Kenefsky Stroime 21
Herman Louis 23
Pagoda Joseph 26
Fanny 22
Salomon 3
Rebecca 1
irmão Natan 19
Popitz Isac 30
Belle 28
Pearl 8
Maier 7
Fegge 3
Izkovitsch Jacob 25
Zatz 31
Popitz Aaaron 23
mãe Haia 54
Glück Salomon 36
Hanna 37
Gretschen 12
David 14
Goldberg Jacob 26
Fanny 20
Julia 2
Isaac 1
Hornstein Harris 32
Esther 32
Sarah 12
Nathan 5
Irmão Simon 20
Zobolsky Israel 37
Becker Harris 19
p.102
Parresky Hyman 19
Anna 18
Bensky Malkes 22
Pagora Newton 19
Leah 18
Meyer Margolin 25
Blume 20
irmã Jenny 18
122
Schaye Henrich 27
Clara 25
Herman 2
Block Isaac 21
Mary 20
Lirvein Arron 26
Etha 21
irmão Max 24
irmão Nathan 18
Morritz, austríaco Benjamin 24
Fanny 20
irmão David 18
irmã Anna 19
David 4
Sarah 1
agregado Jacob 22
primo Heine 21
Freiman, polaco
eio com o
Strassbug
Abraam 24
p.103
Harris Salomon 36
Rachel 34
imã May 32
Charles 14
Galinsky, polaco
veio com o
Strassburg
10/6/1891
Rock 35
Julia 33
Weisbrod Zelick 43
Berry Jacob 22
Cohen Nathaniel 21
irmão Wolf 22
Barman Abraham 20
Goldstein Louis 24
Jenny 21
Elias 2
Rubin Max 24
Sarah 23
Imigrantes do Rio de Janeiro que não
123
constam na lista de São Paulo
Levine Marks 19
Danilovitch Barett 22
Mann Israel 5
Mandaley, inglês Israel 29
Levy Morrys 34
Sarah 32
Julius 17
Margoliz Meyer 25
Blume 20
Genny 18
Matiliski Samuel 20
Betsy 20
Libschitz Josef 30
Bekka 28
Abraham 10
Wolf 5
Luindios (?) Heinrick 26
Golefax Job 23
Barischansky Isaac 23
Philip 19
Baer (?) Emma 16
Fredericka 18
Bukovitch Louis 25
Limein (?) Harris 26
Elka 21
Maks 24
Sandburg Bethise 25
Gahulen Leon 20
Bronie Harris 22
Edith 22
Karanski Chaim 21
Schwarz Wolf 36
Rosa 26
Herman 3
Isaacson Simon 32
Max 21
Louis 22
Sandling Morritz 41
Sarah 26
Wolf 21
Meyer 2 m
Josef 25
Reuben 34
Frieda 28
124
Israel 11
Max 8
Milly 5
Baschavsky Nathan 26
Anna 26
Makovsky Louis 25
Harriet 18
Alfred ?
14. Oswald Boxer e o projeto de colonização de judeus no Brasil
Entre os muitos projetos de colonização de judeus no Brasil, no século passado,
destaca-se o de iniciativa de uma associação alemã que se organizou com a participação dos
membros da comunidade judaica de Berlim e que se intitulou “Deutsches Central Komitée
fuer die Russischen Juden”, em 28 de maio de 1891. A nova associação visava coordenar e
organizar a ajuda prestada aos refugiados judeus da Rússia Czarista que na época
abandonavam o território sob seu domínio, devido a expulsões, discriminações e
impossibilidade de sobrevivência material. O grande movimento migratório de judeus
daquela região levou a que as comunidades dos países da Europa ocidental se
preocupassem com o destino de seus irmãos e se mobilizassem a fim de prestar a ajuda
necessária para que pudessem encontrar em outros lugares – especialmente em países com
programas de colonização – um modo de vida digno, e não se acotovelassem nas cidades e
capitais européias, vivendo apenas da ajuda e caridade dos demais.
Além da associação mencionada acima, criaram-se outras associações
importantes, tais como a “Baron Hirsch Fund”, em Nova York, e a “Jewish Colonization
Association”, fundada pelo Barão Maurício de Hirsch em 24 de agosto de 1891 e que teria
um papel primordial na colonização agrícola judaica na Argentina e no Brasil, assim como
em outros lugares.
O Brasil, desde o século XIX, foi visto como um país que poderia absorver
uma imigração considerável e, portanto, também as associações que tratavam de colonizar
judeus voltaram seus olhos nessa direção, aproveitando sugestões de entidades e pessoas
que tinham um bom conhecimento do lugar. Nesse ano de 1891, o “Brasilianische Bank für
Deutschland”, com a participação de uma companhia de investimentos financeiros, o
“Disconto Gasellschaft”, dirigiu-se a um comerciante judeu do Rio de Janeiro, Maximilian
Nothmann, para que preparasse um memorando sobre as possibilidades de colonizar judeus
no Brasil, uma vez que ele era uma pessoa respeitada e de confiança para aquelas entidades
alemãs com as quais mantinha contato, devido a sua ampla atividade econômica no Rio de
Janeiro, em São Paulo e também em Buenos Aires.269
O relatório de Maximilian Nothmann apresentava perspectivas otimistas de
investimento em qualquer projeto de colonização voltado ao nosso território, no qual previa
um desenvolvimento industrial em todos os ramos da atividade humana. Nothmann
269
Sobre Maximilian Nothmann foram levantados alguns dados pelo casal Egon e Frieda Wolff, no seu livro
“Judeus nos primórdios do Brasil República”, Rio de Janeiro, 1979.
125
propunha a criação de uma companhia de colonização sob o nome de “Kolonisation
Kompanie Europa-Amerika”, que deveria investir nos primeiros anos muito capital e
preparar as condições materiais para a absorção.
A previsão de Nothmann, caso se realizasse o projeto, era de que poderiam
entrar no primeiro ano cerca de 1.000 imigrantes por mês, no segundo 2.000 e no terceiro
até mesmo 4.000.
Para cumprir esse objetivo e estudar as condições locais a associação berlinense
enviou ao Brasil um jornalista – ainda que jovem, pois contava na ocasião apenas trinta e
um anos de idade – com certo prestígio e com bom relacionamento nos círculos políticos
europeus. Além do mais, ele era amigo de um outro jornalista, e escritor, que acabaria
sendo uma personalidade central do despertar nacionalista judaico do fim do século XIX,
ou seja, o fundador do sionismo político, Theodor Herzl.270
Em 16 de setembro de 1891, a “Deutsches Central Komitée” designou uma
comissão de colonização (Kolonisation Komission) que viu o Brasil como um país mais
adequado para a realização de seus projetos devido aos fatores seguintes :
a) não havia anti-semitismo;
b) condições políticas estáveis e um país em desenvolvimento;
c) um clima favorável;
d) possibilidades de subsistência através da agricultura;
e) condições de trabalho apropriadas à resistência física dos colonos;
f) possibilidades de concretização sob o aspecto econômico.
De acordo com os relatórios enviados do Rio de Janeiro por Oswald Boxer,
sabemos que ele se encontrou com Maximilian Nothmann e outras pessoas interessadas em
sua missão, entre os quais os irmãos Haas, Isidore e Marx, donos de uma companhia de
270
Encontramos no “Central Zionist Archives de Jerusalém” (pasta HN VIII/110) uma carta em alemão
datada de 24 de novembro de 1892 dirigida a Theodor Herzl a qual transcrevemos abaixo. Ela revela uma
correspondência havida entre ambos, quando Boxer se encontrava no Brasil. A carta foi expedida do Rio de
Janeiro através do “Bank für Deutschland”:
“Caro Theodor,
Recebi hoje sua carta datada de 3 deste mês. Todas as suas anteriores chegaram às minhas mãos,
porém duvido que V. tenha recebido as minhas duas anteriores.
Recebi com alegria e orgulho a notícia de sua nomeação para o cargo de correspondente em Paris do
“Neue Freie Presse”, tão honrosa que compensa em muito a ti pelas mágoas que seu amor próprio
possa ter sofrido em várias ocasiões. Eu tive conhecimento da vaga, e pensei comigo: seria a coisa
certa para Theodor. Porém, não pensei que você fosse candidatar-se para o cargo, nem tampouco que
a “Neue Freie Presse” fosse levar a oferta a sua casa. É justamente nisso que vejo o reconhecimento
de teus serviços, e isso não pode ser subestimado. Você encontrará nesse terreno enormes
dificuldades, mas você pertence àquela raça que tudo pode, quando necessário. Eu poderia compor
um pequeno catecismo das minhas ricas experiências como correspondente, mas toda teoria é, em
tais situações de vida, muito pobre, e embora seja muito antiga e respeitável, é sempre ridicularizada
pela prática da vida e do momento. Confio em que você vencerá, ainda que seja uma batalha difícil, e
deve preparar-se para tanto. Escrever-lhe-ei sobre mim em uma outra ocasião! Eu também cheguei a
um ponto que é necessário mostrar que se sabe o que se quer. Mas quem não é homem, nunca o será,
e quem o é, resolve as coisas com facilidade. Pois, veremos. Tudo de bom, e escreva-me logo. Eu
também escreverei tantas vezes quantas puder.
Seu
O.”
126
importação, que também se preocupavam com questões ligadas à colonização, e estavam
em contato com a “Alliance Israèlite Universel”, uma das associações judaicas mais antigas
da Europa que cuidava de emigração e beneficência, onde quer que ela fosse solicitada,
além de múltiplos aspectos da vida judaica. Os irmãos Haas haviam conseguido do
Governador do Rio de Janeiro uma concessão de terras em Angra dos Reis sob a condição
de que a propriedade passaria às suas mãos mediante a colonização de pelo menos 500
famílias. Nesse sentido, eles já se encontravam em contato com a A.I.U., antes da vinda de
Boxer ao Brasil. Quando este chegou com seu projeto, eles, de início, sentiram que
poderiam sofrer certa concorrência, mas acabaram propondo ao enviado de Berlim que
comprasse por 500.000 francos os direitos que possuíam para empreender o projeto de
colonização local.
Boxer procurou entrar em contato com as autoridades governamentais, a fim de
expor seus planos, e nesse sentido encontrou-se com o Barão de Lucena, bem como com o
Ministro da Agricultura, Amaro Cavalcante, que prometeram o devido apoio ao seu projeto
de colonização. Além do mais, Boxer percebeu que deveria também levar sua missão aos
Governos Provinciais, que na Nova República tinham um poder autônomo decisivo nessas
questões, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.271
Mas, a crise que começou a assolar o país com a dispersão do Parlamento por
Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891, não parou, e a troca de ministros e
governadores que se sucedeu durante esses eventos interrompeu os contatos que já haviam
sido estabelecidos. Assim mesmo, ele continuou procurando por terras apropriadas à
colonização, viajando para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, quando a revolução
de 23 de novembro de 1891 o forçou a voltar ao Rio de Janeiro. Porém, em dezembro
daquele ano, Boxer voltaria a São Paulo para continuar com seus esforços de realização do
projeto. Em relatório enviado a Berlim e datado de 28 de dezembro, ele diz que aos judeus
colonos está assegurado o direito de exercer sua religião e a igualdade em todos os sentidos,
devido à Constituição da República, e dizia ter encontrado apoio para o mesmo em todas as
camadas. Boxer considerou que São Paulo deveria ser o lugar indicado para a colonização
de judeus, uma vez que havia notado e soubera de que outros imigrantes europeus, alemães
e escandinavos, tiveram muito sucesso naquele Estado. A proximidade dos mercados, a
fertilidade do solo, bem como a indústria e a manufatura seriam fatores que assegurariam o
sucesso do empreendimento. Ele recomendava, em seu projeto, que se iniciasse a
colonização com 200 famílias apenas, para evitar possíveis abandonos, sendo que 150
famílias deveriam dedicar-se à agricultura, à manufatura e à indústria, como trabalhadores,
enquanto as restantes deveriam trabalhar nas plantações de café de fazendeiros particulares,
como assalariados, ao par de um cultivo auxiliar adicional de auto-sustento, mantendo-se
sob a supervisão da companhia colonizadora, que os representaria perante seus
empregadores. Para Boxer, isso seria um teste que possibilitaria verificar se eles estavam
aptos a trabalharem nesse ramo da economia brasileira, e também provar a possibilidade de
absorção de uma significativa leva imigratória no país. Por ser uma imigração nova e para
evitar o fracasso, Boxer pedia que se fizesse uma seleção rigorosa do primeiro grupo,
271
Parte dos elementos relativos à missão colonizadora de Oswald Boxer devemos ao estudo do Prof. Haim
Avni, “Amerika Latinit uBaiatam shel Yehudei Russia b’Schnat 1891 – Schnat geirush Moskva” (América
Latina e o problema dos judeus na Rússia no ano de 1891 – ano da expulsão de Moscou), in Divrei ha-
Congress ha-Olami ha-Chamishi le-Madaei ha-Yahadut (Atas do Quinto Congresso de Ciências Judaicas),
vol. 2, Jerusalém, 1972.
127
levando-se em conta sua experiência agrícola e sua capacidade física. Ao mesmo tempo,
pedia que viessem quatro judeus russos, conhecedores da língua alemã, que pudessem
auxiliá-lo no momento em que tivesse de receber o primeiro grupo de colonos, tendo fixado
sua chegada para abril de 1892.
Mas, toda a missão de colonização de Oswald Boxer não levou a nenhum
resultado prático, pois a fatalidade quis que o jovem jornalista contraísse febre amarela,
vindo a falecer em 25 de janeiro de 1892, sendo enterrado no Cemitério dos Protestantes de
São Paulo272
.
Sua morte deixou consternado o pequeno círculo de seus amigos e frustrou
todas aquelas autoridades governamentais que levaram a sério seu plano de colonização.
Em 26 de janeiro daquele ano, o Diário Popular de São Paulo expressava o sentimento geral
daqueles que o conheceram: “Vítima de febre amarela, infecção com a qual veio do Rio há
dias, faleceu ontem, nesta capital, o distinto cidadão austríaco Oswald Boxer. Enviado pelo
Comitê Central de Berlim que cuida da colocação dos israelitas russos, e pelo Barão de
Hirsch, o ilustrado jornalista que acaba de falecer, nos poucos dias que esteve entre nós,
captou gerais e dedicadas simpatias; a sua morte, que lamentamos profundamente, causou
sincero pesar no círculo de amigos, e vai, talvez, prejudicar muito São Paulo, que está a
ponto de perder sua corrente imigratória que para aqui caminhava. À sua família, em
Vienna d’Áustria, enviamos os nossos sinceros pêsames”.
272
Não se sabia o lugar e o cemitério onde fora enterrado até localizarmos o livro de registro de óbitos, Livro
C-3, folha 127, do Registro Civil de Santa Efigênia.Fora sepultado no Cemitério Protestante, ao lado do
Consolação. O registro de óbito diz que “aos 27 de janeiro de 1892, compareceu Emília Blattman e declarou
que à rua da Conceição número seis, às seis horas da tarde, faleceu no dia vinte e cinco do corrente Osvald
Boxer, natural da Áustria, com trinta e dois anos, agente de Imigração, solteiro, filho legítimo de Maurício
Boxer, de tifo amarelo”.
128
15. As muitas histórias do major Eliezer Levy
Uma das pessoas que mais se destacaram no judaísmo paraense como homem
voltado às questões sociais e comunitárias relativas à imigração israelita no norte do país
foi o major Eliezer Levy.
Nascido em 29 de novembro de 1877, Eliezer Levy descendia de uma
tradicional família sefaradita, que por parte da mãe incluía a dinastia rabínica dos Dabela
entre eles o rabi Eliezer Dabela, cognominado a Luz do Ocidente (Ner há-Maarabi).273
Viveram em Casablanca e em Rabat, Marrocos, antes de emigrarem para Belém do Pará,
em 1870.
Eliezer Levy fez seus primeiros estudos em Gurupá, onde seu pai, Moyses
Isaac Levy, atuava no comércio. Em 21 de março de 1900, casou-se em Cametá, com
Esther Levy Benoliel, filha de David e Belizia Benoliel, de família ilustre do Marrocos.
Ainda muito jovem, estabeleceu-se no comércio participando como titular da firma E. Levy
& Cia. – Comissões e Consignações, e, a partir de 1910, fez parte da diretoria da Maju
Ruber Company, presidida pelo Comodoro Benedit. Gerenciou ainda a firma italiana de
navegação C.B. Merlin.
Eliezer Levy ingressou na Guarda Nacional e chegou ao posto de coronel,
ainda que fosse sempre conhecido como major Levy. Advogado, foi ativo na política local,
sendo prefeito três vezes: do município de Macapá (que até 1943 esteve ligado ao Estado
do Pará), de Afuá (Pará) e novamente de Macapá (foi o primeiro prefeito da capital, onde
ficou de 1933 a 1947).
Entre 1918 e 1926, Eliezer Levy atuou como advogado no escritório de
Francisco Jucá Filho, Procurador-Geral da República, e Álvaro Adolfo da Silveira,
deputado estadual e chefe do Partido Conservador. Ainda que ele pertencesse ao Partido
Republicano Federal desde a sua fundação. Apesar das divergências políticas, sua amizade
com os colegas de trabalho teria futuramente importância decisiva na posição brasileira
durante a votação na ONU para a criação do Estado de Israel.
Segundo sua filha, a escritora Sultana Levy Rosenblatt, o jornal sionista que
Levy fundou em 1918, o “Kol Israel” (A Voz de Israel), assim como os serviços de
datilografia das instituições da comunidade judaica, eram realizados sempre naquele
movimentado escritório de advocacia, colocando, portanto, os problemas do nacionalismo
judaico e do movimento sionista na pauta das discussões daqueles advogados.
Oswaldo Aranha
Todos os partidos políticos foram extintos em 1937, mas pouco tempo depois
foi fundado o Partido Social Democrático, chefiado no Pará por Magalhães Barata. Eliezer
Levy ingressou no novo partido e passou a ter uma posição de destaque, tornando-se grande
amigo daquele líder, conseguindo ao mesmo tempo trazer seu velho companheiro, o
273
A referência sobre Eliezer Dabela encontra-se na obra de Abraham I. Laredo, Les noms des juifs du
Marroc, C. S. I.C.-Instituto B. Arias Montano, Madrid, 1978, p.483.
129
advogado Álvaro Adolfo da Silveira, ao mesmo partido. Este último seria eleito mais tarde
senador da República pelo PSD. Álvaro Adolfo foi designado para fazer parte da comitiva
que acompanharia Oswaldo Aranha à ONU, como seu assessor político.
Sultana Rosenblatt relata que “na hora da votação para o reconhecimento do
Estado de Israel, Álvaro Adolfo sentiu que conhecia minuciosamente o assunto, sem se
lembrar bem como e por quê. Após uma retrospectiva, passou por sua lembrança o
escritório da rua 13 de Maio, onde Eliezer trabalhava e onde se discutiam assuntos sobre a
criação de Israel. Álvaro Adolfo era coordenador da votação e conseguiu descobrir três
países que votariam contra: pediu a Oswaldo Aranha que suspendesse a sessão, e após
vários dias de trabalho na conquista dos adversários, conseguiu dobrá-los. Continuada a
votação, o resultado foi: “mais dois votos favoráveis e um em branco (...)”, o que levaria a
criar a maioria necessária para a formação de um Estado Judeu.
A narrativa dele é confirmada em um aparte na Câmara dos Deputados do Rio
de Janeiro, em 15 de maio de 1973, feito pelo Dr. João Menezes, sobrinho e filho de
criação de Álvaro Adolfo da Silveira e seu sucessor no escritório de advocacia e no Partido
Social Democrático. João Menezes, em seu aparte no discurso do deputado Rubem Medina,
disse que “o Pará tem ligação com a criação do Estado de Israel. Revelo o fato neste
instante, ao plenário da Câmara, para que faça parte do esplêndido discurso de V. Exa. O
Sr. Álvaro Adolfo da Silveira, ex-senador pelo Estado do Pará, foi o homem que, em
companhia de Oswaldo Aranha, e designado por ele, coordenou a votação da criação do
Estado de Israel. Há um fato interessante em tudo isso. Quando voltava das Nações Unidas,
Oswaldo Aranha, em trânsito em Belém do Pará, recebeu homenagem das mais carinhosas
da colônia israelita, que lhe ofereceu uma corbeille de flores em reconhecimento do
trabalho que havia feito. No discurso de agradecimento declarou aos israelitas do Pará que
cometiam grave erro: “aquela homenagem deveria ser tributada ao senador Álvaro Adolfo
da Silveira, o homem que havia coordenado tudo na ONU para a criação do Estado de
Israel. Este é o aparte que desejava dar, com as minhas homenagens àquele grande povo”.
Ajuda aos imigrantes
A atividade comunitária de Eliezer Levy correu paralelamente a sua
participação política. Desde cedo, teve a preocupação de ajudar os imigrantes judeus que
vinham do Marrocos que o procuravam para resolver seus problemas legais, assim como
dirimir desavenças pessoais (o major falava o dialeto “harbia”). Seu nome está ligado à
Sinagoga, ao Comitê Israelita do Pará e à Associação Beneficente Israelita.
Em 1918 fundou a associação sionista “Ahavat Sion” (Amor a Sião), que
constituiu-se na primeira organização do gênero na região do norte brasileiro.
Anteriormente, em maio de 1917, ele tentara criar uma entidade que propagasse as idéias
sionistas naquela lugar, mas sem sucesso, conforme relatou na carta a Chaim Weizmann,
em 20 de novembro de 1919.274
A diretoria do Comitê “Ahavat Sion” tomaria posse em 5 de outubro de 1918,
tendo como presidente A. Ribinik que se destacaria mais tarde como um ativista do
movimento sionista em Maceió; Menassés Bensimon, vice-presidente; Eliezer Levy,
secretário; José Bensimon, tesoureiro. O periódico “Kol Israel” descreve entusiasticamente
274
A carta a encontrei no Central Zionist Archives e faço referência ao seu conteúdo em outro lugar de meu
trabalho.
130
a noite da posse da diretoria, na qual se realizou uma “conferência de propaganda sionista
pelo rev.o sr. Isaac Wolfinson”. Usaram da palavra Menassés Bensimon e Eliezer Levy
“que em felizes improvisos, mostraram bem os deveres do cidadão perante a sociedade e a
necessidade de vermos um dia restaurada a pátria dos nossos maiores”. A nota do “Kol
Israel” informava, com a graça e o estilo da época, que na abertura e no encerramento da
sessão “um coro de 30 gentis senhoritas e meninos cantaram o Hino Nacional Sionista
acompanhado por uma orquestra composta dos srs. J. Nahmias, A. Benoliel e senhorita
Alita Levy”, esta última filha de Eliezer Levy.
A criação do Comitê “Ahavat Sion” coincidia com a proximidade do armistício
que seria assinado entre as nações beligerantes da Primeira Guerra Mundial em 11 de
novembro de 1918.
“Salve Palestina Livre”
Em 1º de dezembro do mesmo ano celebrava-se em Belém do Pará o grande
acontecimento, e entre outras solenidades organizava-se na capital paraense um cortejo de
carros alegóricos, onde a comunidade judaica expressaria seus sentimentos nacionalistas
com um carro que levava o nome “Palestina” que o “Kol Israel” descrevia estar decorado
com “uma bela ornamentação de festões de flores, levando ao centro, em suntuosa cadeira,
uma senhorita ricamente trajada como uma hebréia da antiga Jerusalém. Sobre sua cabeça
repousava uma coroa de louros e de seus braços pendiam algemas partidas, simbolizando a
Palestina livre. À destra empunhava uma riquíssima bandeira de seda, com as cores azul-
celeste e branco, e ao centro o escudo de David. Atrás do carro levando o estandarte,
grande número de sócios do Comitê “Ahavat Sion” e da “Associação Beneficente
Israelita”. Na histórica foto que assinala o evento, encontram-se o major Eliezer Levy,
Abraham Ribinik, veterano ativista comunitário, e Halia (Alita), sua filha mais velha. A
faixa que se encontra na frente do carro trazia a frase “Salve Palestina Livre.”
O “Kol Israel” se definia como “jornal independente de propaganda sionista”,
“órgão do Comitê Ahavat Sion” e foi outra das iniciativas de Eliezer Levy. Seu primeiro
número saiu em 8 de dezembro de 1918.
Por ser um periódico da comunidade judaica, o “Kol Israel” servia de
informativo social dos acontecimentos locais: viagens à Europa, noivados, casamentos,
nascimentos, bar-mizvot, circuncisões, aniversários, etc. Tudo isso ao lado de anúncios
comerciais e notícias do cotidiano da vida das comunidades do norte do Brasil. Tudo indica
que o jornal durou até o ano de 1926, ou, talvez, um pouco mais, apesar de encontrarmos
alguns números correspondentes apenas até o ano de 1924.
Elizer Levy se correspondia com David J. Perez com o qual manteve uma
longa amizade e a quem admirava. Talvez o encerramento das atividades do “A Columna”,
de David José Perez, em fins de 1917, tenha levado Eliezer Levy a criar seu periódico com
a finalidade de dar continuidade à divulgação dos ideais sionistas. A troca de cartas com
Perez confirma nossa convicção de que ele se propôs a continuar o trabalho interrompido,
devido as circunstâncias, do notável professor do Colégio Pedro II.
Ensino de Hebraico
131
Durante a presidência do major Levy, a Sociedade Beneficente Israelita criou o
Externato Misto, com curso primário completo e- além do programa oficial- aulas de
costura, prendas domésticas, bordados à mão e ensino da língua hebraica “pelos métodos
mais modernos adotados na Europa”. Aos alunos mais necessitados, a escola fornecia não
apenas o material escolar, como também roupas e calçados.
O Externato Misto Dr. Weizman (foi assim que se chamou) foi inaugurado em
15 de novembro de 1919, com a presença do governador Lauro Sodré. Informa o “Kol
Israel” que “recitaram belas poesias as meninas Amália e Stella Levy”. Sultana ainda
lembra da poesia de J. Eustáquio de Azevedo, “Salve Palestina!”, dedicada ao major Levy:
“A visão sacrossanta mal encobre/ o sonho de Israel/ E as pombas do Carmelo
alvissareiras/ Hão de levar-lhes lindas mensageiras/ Da vitória o laurel”.
Nova Geração
Preocupado com a educação da juventude, o major Levy fundou o Grêmio
Literário e Recreativo Theodoro Herzl, em 6 de dezembro de 1919. Finalidades do grêmio:
reunir a nova geração em torno de valores espirituais e permitir a aproximação mútua. Em
20 de agosto de 1923, fundou a Biblioteca Max Nordau. Em seu discurso de inauguração,
explicou que a entidade era “um lugar onde a mocidade poderá obter conhecimentos sobre
sua origem e orgulhar-se de pertencer a uma raça altiva e tenaz, que tem dado ao mundo
uma prova de civismo e que com seu profundo conhecimento nas ciências, artes e letras,
tem concorrido para o progresso da civilização”.
Seu envolvimento na política – prefeito de Macapá entre 1932 e 1947,
convenceu o presidente Getúlio Vargas a transformar o município em Território do Amapá.
Contudo ele não diminuiu sua atuação comunitária judaica. Em carta a Jacob Schneider de
19 de setembro de 1945, o sheliach da Organização Sionista Mundial, dr. Yuris, descrevia
Eliezer Levy como “um fervoroso sionista e o mais valioso ativista de Belém, destacado
judeu sefaradita, respeitado tanto pelos sefardim quanto pelos asquenazitas...e dos
veteranos nacionalistas de Belém, que há 20 ou 30 anos passados publicou um jornal
sionista.” Eliezer e Esther Levy tiveram 13 filhos. A primogênita Halia (Alita) morreu aos
25 anos. Outra filha, que tomou o mesmo nome, também morreu na infância. Os
descendentes, filhos e filhas, continuaram a tradição que dele herdaram – fidelidade a seu
povo, seus valores e honradez pessoal e maassim tovim, isto é altruísmo e caridade.
132
16. O 1.º Congresso Israelita no Brasil
Um dos momentos mais importantes para o movimento sionista mundial, e
também para o brasileiro, e que o levou, sem dúvida, a tomar um impulso considerável, foi
a Declaração Balfour em 2 de novembro de 1917. Alguns meses antes, o diretor da “A
Columna”, David J. Perez, em artigo publicado em agosto de 1917, sob o título “Em
Marcha”, imbuído de convicções sionistas, explicava a necessidade de se reunir um
Congresso Judaico no Brasil, cuja realização já era anunciada no mesmo periódico sob o
título de “1.º Congresso Israelita no Brasil”. Nessa notícia relatava-se que em 14 de julho
reuniram-se “vários membros da colônia israelita desta cidade para tratar de levar a efeito
uma grande manifestação de solidariedade nacional com seus irmãos de raça, que ora se
agitam em todo o mundo em prol da reconstituição definitiva e firme de sua histórica pátria
judaica no território da Palestina”. Essa reunião se realizou na sala da Biblioteca Scholem
Aleichem por iniciativa de Jacob Schneider, Júlio Lerner, Max Fineberg, Sinai Feingold e
outros. Visto que David Perez se encontrava enfermo, “A Columna” foi representada por
Álvaro de Castilho.275
“que foi aclamado pelos presentes, escolhido presidente da reunião e
encarregado de expor os motivos da sua convocação”. A abertura de Álvaro de Castilho e
sua análise sobre a situação do movimento sionista mostra o quanto ele estava imbuído dos
seus ideais, e, ao mesmo tempo, revela uma mente politicamente lúcida pela percepção do
momento histórico que o judaísmo estava vivendo naqueles dias. “A Columna” resume
suas palavras, dando ênfase às idéias que expôs na ocasião:
“O Sr. Álvaro de Castilho abordou primeiramente o estudo da situação da
Palestina perante a política internacional no presente momento, mostrando a concordância
que há entre as justas aspirações de Israel e as conveniências estratégicas e econômicas das
potências beligerantes, quer aliadas da Inglaterra, quer da Alemanha. Em seguida, ponderou
que, para a satisfação do nobre ideal do sionismo, não era bastante contarem as massas
judaicas com a simpatia e o apoio dos grandes estadistas nas cortes internacionais, que
brevemente terão de examinar e julgar os direitos dos povos, e sim que urgia manifestarem-
se essas mesmas massas coletivamente, como grandes parcelas de um todo considerável,
pelo órgão dos seus delegados mais competentes e esforçados. Este, a seu ver, era bem o
rumo que impunha ao movimento que se iniciava naquele dia e, se bem compreendera os
objetivos reais dos propugnadores da entusiástica assembléia ali reunida, não podia deixar
de exprimir o seu mais sincero apoio e a mais perfeita adesão à idéia da convocação de uma
outra assembléia, mais elevada e com plenos poderes perfeitamente definidos, para
manifestar pública e oficialmente o pensamento dos israelitas no Brasil acerca dos destinos
de sua raça a se constituir em estado na Palestina. Urgia, pois, de acordo com a opinião já
manifestada pela minoria, providenciar no sentido de se assentarem as bases para
organização e funcionamento do 1.º Congresso Israelita no Brasil.
275
Álvaro de Castilho nasceu em Paraíba do Sul em 29 de janeiro de 1878 e faleceu em 30 de outubro de
1947. Cursou o anexo da escola Politécnica do Rio de Janeiro até os dezesseis anos, vindo a trabalhar mais
tarde na Prefeitura e na Câmara Municipal do Distrito Federal. Exerceu o cargo de diretor do Patrimônio
Nacional a pedido e foi adepto da religião Nova Jerusalém até o dia de sua morte. Álvaro de Castilho foi
colaborador íntimo de David Perez e juntamente com ele fundou o periódico “A Columna”, podendo ser
considerado, devido a sua atuação em favor do sionismo e da comunidade judio-brasileira, como um dos
“hassidei umot ha-olam” em nosso país.
133
“As últimas palavras do Sr. Álvaro de Castilho foram cobertas por uma salva
de palmas. Fizeram-se ouvir ainda outros oradores dando expansão aos seus sentimentos
nacionalistas.
“Em seguida, sob a mesma presidência do Sr. Álvaro de Castilho, procedeu-se
à eleição do Comitê Organizador que tem de superintender os trabalhos preparatórios do
Congresso.276
“Foram eleitos por unanimidade de votos: presidente, Isidoro Kohn; vice-
presidente, Samuel Galper; primeiro-secretário, Ambrósio M. Ezagui; segundo-secretário,
Benjamin Snitkovsky; tesoureiro, Lázaro Duek; vice-tesoureiro, Marcos Nigri; membros do
conselho fiscal, Moysés Mussafir, Marcos Fineberg, Jacob Schneider e Sinai Fiengold.”
IDÉIA PREPARATÓRIA
A verdade é que o Congresso não chegou a ter uma atuação efetiva, mais serviu
como idéia preparatória para a criação de uma Organização Sionista mais ampla que
expressaria os sentimentos nacionalistas do judaísmo brasileiro. O comitê organizador do
1.º Congresso recebeu cartas de solidariedade de vários lugares e Estados como Bahia, São
Paulo, Araraquara, Curitiba, Pará, Amazonas, Pernambuco, Ceará e outros. Em Curitiba
fundou-se um comitê regional que deveria tratar dos assuntos relativos aos programas do
Congresso naquele local, sob a responsabilidade de Max Rosenmann, Baruch Schulman e
Júlio Stolzenberg. A imprensa brasileira não deixou de anunciar por várias vezes a intenção
de reunir o congresso e divulgou amplamente a idéia na sociedade brasileira. Em 11 de
novembro de 1917, a Tiferet Sion, no Rio de Janeiro, recebeu um telegrama assinado por
Sokolov e Weizman, que informava sobre o conteúdo da conhecida Declaração Balfour
cujo teor era o seguinte:
“O governo inglês fez a seguinte declaração:
“O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na
Palestina de um governo nacional para o povo israelita e empregará os seus melhores
empenhos para facilitar o cumprimento desse objetivo, ficando claramente entendido que
nada se fará que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não
israelitas na Palestina, ou os direitos políticos adquiridos pelos israelitas em outro país.
“É conveniente fazer pública esta declaração, na presente ocasião, de modo a
ficar bem divulgada. (Assinados) Sokolov-Weizmann.”
Sinai Feingold, que substituiu a Júlio Stolzenberg na presidência da Associação
em 1916, convocou uma assembléia presidida por David Perez. Nessa assembléia ficou
resolvido que se mandaria uma mensagem de agradecimento a Sua Majestade britânica, por
intermédio de seu ministro, e que seria apresentada a solidariedade da colônia israelita do
Brasil por uma comissão formada por David J. Perez, Isidoro Kohn e Jacob Schneider. A
mensagem era a seguinte:
“Exmo. Sr. Ministro de Sua Majestade Britânica no Brasil – Ao impulso de
poderosa ação emocionante causada pela comunicação oficial que os Leaders do Sionismo
276
Duas circulares foram publicadas, uma em português e outra em ídiche, esta última manuscrita pois não
havia tipografia com caracteres hebraicos no Rio de Janeiro daquele tempo. Pela carta do Comitê
Organizador, em ídiche, assinada por Benjamin Snitkovsky e dirigida ao Comitê Paranaense pró-Congresso
Israelita do Brasil, vemos que se formaram comitês de apoio em vários lugares.
134
se dignaram de nos fazer, comunicação essa que encerra a mais esperançosa das
promessas que têm alimentado o longo peregrinar do Povo Hebreu, nós os israelitas desta
capital, interpretando igualmente o sentimento dos do Brasil, vimos até V. Exa. apresentar-
vos o mais sincero agradecimento, hipotecando nossa inteira solidariedade ao governo de
S.M., solidariedade com que de há muito conta o governo britânico por ter sido sempre o
paladino dos povos oprimidos. É sabido que, depois da volta dos judeus à Inglaterra, sob a
égide de Manassé Ben Israel, no governo de Cromwell, nunca mais esse país deixou de nos
proteger e concorrer com sua poderosa ação para minorar os males que sofríamos em
outros países, quando não podia de todo eliminá-los. Finalmente, coroa a sua política, que
neste momento é a da maioria dos aliados, assegurando-nos a restauração da antiga Sião.
“A colônia israelita no Brasil não é grande e forte como a sua co-irmã dos
Estados Unidos, mas sente como essa o mesmo entusiasmo, e desvanecida apresenta ao
Magnânimo Monarca que está à frente dos destinos da Grã-Bretanha a sua humilde
dedicacão afeiçoada, assim como todo seu fraco esforço.
“Esperando que V. Exa. se dignará de transmitir a Sua Majestade Britânica e
ao seu governo as expressões deste nosso agradecimento, subscrevendo-nos com a mais
alta estima e consideração.
“Assinaram esta mensagem: o Presidente da Assembléia Sionista que
deliberou sobre a atitude a tomar, e mais os Presidentes da Tiferet Sion, do Comitê
Organizador do Primeiro Congresso Israelita no Brasil, da União Guemiluth Hassadim
(do Rio), do Comitê Pró-vítimas do Centro Israelita, da Beth Jacob, da Machziqué Hadath,
da Biblioteca Schalom Aleichem, da Hadat Israel, da Ezra Israel, da Israelita Syria,
representante da Guemiluth Hassadim de Itacoatiara – Amazonas, e dos indicados para
esse fim pelos israelitas de vários Estados”.277
277
“A Columna”, n.ºs 21, 22, 23, 24, set, out, nov, dez. de 1917.
135
VISITA AO EMBAIXADOR
“Em 3 de novembro de 1917 (ele se enganou, pois foi no dia 11) recebemos
telegrama de Londres assinado – Weizmann-Sokolov, comunicando a declaração Balfour,
pedindo que enviássemos agradecimentos ao Rei e, também, que fôssemos agradecer o
Embaixador da Inglaterra no Brasil. Esse telegrama nos causou grande alegria. Vimos nele
o começo da realização do sonho judaico, a profecia de Herzl. Também os não-sionistas
participavam dessa alegria. Preparamos um memorandum com assinaturas de 15
instituições (queríamos dar a impressão de grande coletividade) pedindo uma audiência ao
embaixador da Inglaterra, o qual pediu o nome das quinze, mas confirmou somente dois
nomes: do Dr. Perez e o meu nome. Lá chegando, fomos recebidos pelo próprio. Na
demorada visita citou os nomes de eminentes judeus ingleses: Disraeli, Montefiore e outros,
comentando a Declaração Balfour, afirmando que o povo inglês era muito amigo dos
judeus. Externamos nossa imensa satisfação em contar com tão bons amigos como os
ingleses e lhe entregamos um memorandum dirigido ao Rei. Também entregamos uma
cópia do mesmo a uma agência americana de notícias, que o publicou nos mais importantes
jornais do país.
“Neste mesmo dia, o Deputado Maurício Lacerda, no seu longo discurso na
Assembléia, comentou a Declaração Balfour – sendo calorosa e demoradamente aplaudido
por todos os deputados.
“No transcorrer da guerra, o exército inglês, sob o comando do General
Allenby, entrou em Israel (naquele tempo Palestina) tendo à frente uma Legião Judaica.
Isso foi um grande acontecimento e bastante alegria para os judeus do mundo todo.
Lacerda, na ocasião, numa das reuniões do Senado e da Câmara, propôs saudar a Inglaterra
pela vitória de Allenby e pela Declaração Balfour, cuja proposta foi aceita com
unanimidade. Isso, para nós, judeus brasileiros, foi um grande triunfo político, sobre isso
muito se comentou na imprensa judaica Argentina, criticando os dirigentes das
coletividades judaicas locais, que não estavam no nível, apesar de muito menor, da
coletividade judaica brasileira.”
IDEALISMO
A Declaração de Balfour ecoou com júbilo nas comunidades judio-brasileiras,
e em Curitiba, como já havíamos mencionado, formou-se uma nova associação sionista,
Shalom Sion, em assembléia de 2 de dezembro daquele ano. Na “A Columna” daquele mês
se relatava que a reunião foi aberta por Júlio Stolzenberg, que falou sobre a história do
sionismo e sobre o movimento atual, “mostrando que o grande ideal judaico está na véspera
de sua realização. Outrossim, leu o telegrama oficial do governo de Sua Majestade
britânica, transmitindo de Londres e endereçado à associação sionista Tiferet Sion no Rio
de Janeiro.”
A imprensa brasileira local, através do jornal “A República”, publicado em
Curitiba, difundiu a notícia da fundação da Shalom Sion. Também no norte do Brasil, no
Pará, surgia no ano seguinte, em outubro de 1918, uma organização sionista criada pelo
major Eliezer Levy com o nome de “Ahavat Sion”. Em carta dirigida diretamente ao Dr.
Ch. Weizmann, Eliezer Levy comunicava ao líder do sionismo mundial que, devido à
profunda admiração que sentia por sua pessoa e pelos ideais que representava, dera seu
136
nome a uma escola judaica que havia fundado naquele lugar.2784
A partir de 8 de dezembro
de 1918 criava um periódico em língua portuguesa de orientação netamente sionista com o
nome de “Kol Israel”. Esse período, que durou vários anos, não deixara de representar as
idéias de seu fundador, um idealista com profunda sensibilidade para captar o momento
histórico que o povo judeu estava vivendo, ainda que isolado e solitário na vastidão daquele
território.
278
A carta do major Eliezer Levy e a resposta de Weizmann encontramos no Archion Ha-Tzioni (Central
Zionist Achives) em Jerusalém, pastas Z 3/785. Falta um estudo sobre a importante atuação que teve na
história do sionismo no Brasil e o papel ímpar que desempenhou nas comunidades judias da região da
Amazônia.
137
17. Yehuda Wilensky e Leib Jaffe e o Movimento Sionista no Brasil (1921-1923)
Os primeiros anos da década de 20 seriam decisivos na formação das
instituições judaicas no Brasil e também na consolidação de um movimento sionista que
havia encontrado sua liderança natural na pessoa de Jacob Schneider e de outros ativistas, e
que agora se dispunham a uma ação mais organizada e abrangente no judaísmo
brasileiro.279
Uma das causas principais para essa movimentação seria o esforço dispendido
para a instalação do Mandato Britânico na Palestina e a atuação da Organização Sionista
Mundial ao redor do mesmo, e que seria objeto da Conferência de San Remo. No Brasil, já
no ano de 1920, apresentavam-se várias organizações sionistas, a saber, a mais antiga, a
Tiferet Sion no Rio de Janeiro; a Shalom Sion em Curitiba, fundada em 1917; a Ahavat
Sion em São Paulo, fundada em 1916; a Ahavat Sion, no Pará, fundada pelo Major Eliezer
Levy,280
em 1918; e a Associação Sionista de Porto Alegre, provavelmente na mesma data.
A Central Sionista em Londres mantinha uma correspondência com essas
entidades, e tudo indica que a Shalom Sion de Curitiba, sob a direção de Júlio Stolzenberg e
Bernardo Schulman se mostrava mesmo disposta a liderar o movimento, chegando a
escrever nesse sentido, em 26 de janeiro de 1920, uma longa carta a Londres, que por sua
vez transmitiu seu conteúdo ao Fundo Nacional Judaico, em Haia. Entre outras coisas, ela
se propunha a ser reconhecida como a sede central de uma Federação Sionista no Brasil,
argumentando que era a única organização que atuava continuamente em prol do
movimento, uma vez que, assim se expressava o missivista, "a Tiferet Sion, no Rio de
Janeiro, se encontra inteiramente adormecida.”281
A Central de Londres, com tato
diplomático e habilidade, respondia que não poderiam julgar sobre a questão sem terem o
conhecimento dos detalhes sobre as organizações Tiferet Sion no Rio de Janeiro, Ahavat
Sion no Pará e outras existentes no Brasil, e que deveriam compor futuramente uma
Federação Sionista no país. Nesse ínterim, dizia a carta, é preciso preparar material sobre o
assunto, e assim, no devido tempo "podereis resolver, com o acordo de todas as
associações, qual é o centro mais apto para sediar a Federação.”282
279
Sobre os inícios do movimento sionista no Brasil que antecede os anos 20 tratamos em outros lugares, em
especial no artigo “Early Zionism in Brazil, the Founding Years, 1913-1922 in American Jewish Archives,
vol. XXXVIII, n. 2, nov. 1986, pp.123-136. 280
A Ahavat Sion compoz a sua primeira diretoria em 5 de outubro de 1918, figurando como presidente
A.Ribinik (que criará mais tarde com a visita do Dr. Wilensky ao norte do Brasil duas associações sionistas
em Maceió), Menassés Bensimon, vice-presidente, Eliezer Levy, secretário, José Bensimon, tesoureiro. O ato
de posse teve lugar na Associação Beneficente Israelita com a presença da colônia local e com uma
conferência de Isaac Wolfinson. Na ocasião usaram da palavra Menassés Bensimon, Eliezer Levy e A.
Ribinik. O noticiário do Kol Israel, número 8 de dezembro de 1918, acrescenta que tanto na abertura quanto
no encerramento “foi cantado por um coro de 30 gentis senhoritas e meninos o Hino Nacional Sionista
acompanhado por uma orquestra composta dos Snrs. J. Nahmias, A. Benoliel e senhorita Alita Levy.” 281
Ha-Archion há-Tzioni, doravante abreviado como A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche de 26/1/1920.Como
parte do plano de se apresentar como o centro natural para uma Federação Sionista no Brasil foi publicado no
jornal Dos Idishe Folk, de Nova York, um artigo sobre a comunidade judaica do Paraná no qual se destacava
o papel de Júlio Stolzenberg em sua formação e na criação da entidade sionista local. V. A.Z. Z 4/2350, artigo
em ídiche. 282
A.Z., Z 4/2350, carta em hebraico de 18/3/1920. Em 17 de março de 1920 a Central de Londres escrevia ao
Bureau do Fundo Nacional, em Haia, sobre as pretensões da Shalom Sion mas observando que era “prematuro
e inoportuno o reconhecimento da mesma como Federação.” A.Z., Z 4/2350, carta em francês de 16/3/1920.
138
Também Maurício Klabin, que se encontrava nesse tempo em viagem pela
Inglaterra, entrava em contato com a Central em Londres interessado em obter ajuda e
orientação para o movimento que se mostrava bastante desperto.283
Em carta remetida pela Central de Londres vemos que em Porto Alegre havia
uma atividade sionista com a participação de Leib Bander, Simon Lerer, Lipe Valdman,
Tobias Krasner e outros.284
Apesar de tudo, essa correspondência revela o quão pouco se sabia sobre o
judaísmo brasileiro, e um exemplo ilustrativo encontramos em um relatório, pouco exato,
feito com base em uma entrevista com um comerciante conhecido do Rio de Janeiro,
Salomão Kastro, que se encontrava em Londres, em julho de 1920, e cujas informações
serviram ao Departamento de Comércio e Indústria do Executivo Sionista para obter dados
que lhe interessavam.285
Salomão Kastro, veterano morador no Rio de Janeiro, revelava aos
seus entrevistadores novidades que mostravam o quanto o judaísmo europeu estava pouco
informado sobre a comunidade brasileira.
A correspondência com a Central Sionista em Londres também revela que a
Tiferet Sion no Rio de Janeiro passou a ser considerada como a verdadeira força
organizadora do sionismo brasileiro, e em 1921 não havia mais dúvidas sobre a liderança
do grupo encabeçado por Jacob Schneider, o que levaria a preparar um programa de ação
visando unificar as diversas entidades estaduais em uma futura Federação nacional.286
Com esse objetivo mais amplo Jacob Schneider, David Perez e Eduardo
Horowitz tomaram a iniciativa de criar um periódico em língua portuguesa que
denominaram "Correio Israelita", que deveria difundir as idéias sionistas, além de servir de
informativo à comunidade, que naquela ocasião não possuía um órgão de divulgação no
Rio de Janeiro. Em Belém do Pará e sob a iniciativa do major Eliezer Levy já saia a luz,
desde 1918, um orgão, em vernáculo, que difundia as idéias sionistas naquela região, bem
como em outros estados brasileiros, intitulado "Kol Israel" (A Voz de Israel).287
Eliezer
Levy redigiu o periódico durante vários anos e, com isso, plantou a semente do
nacionalismo judaico no Norte, lutando ao mesmo tempo contra a corrente de apatia que
levava ao isolamento daquelas comunidades das demais existentes no sul do país. Talvez
devido a esse mesmo isolamento e à distância geográfica, que na época tinha um
significado maior devido à dificuldade de comunicação de uma região a outra, é que se
resolveu criar o "Correio Israelita" no Rio de Janeiro, paralelamente à existência do "Kol
Israel".
Em 13 de março de 1921 Jacob Schneider escrevia um bilhete a David Perez
pedindo-lhe que preparasse um artigo para o jornal que deveria sair em 16 daquele mês.288
O "Correio Israelita", sob a redação de David Perez e Eduardo Horowitz, perduraria até
1923, quando criar-se-ia, em novembro desse mesmo ano, o jornal "Dos Idiche
Vochenblat", (O Semanário Israelita) fundado por Aron Kaufman com o auxílio de um
283
A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche escrita por Maurício Klabin, em 22/10/1920 e resposta em ídiche do
Executivo Sionista em Londres de 25/10/1920. 284
A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche de 17/7/1920. 285
A.Z. Z 4/2350, relatório em inglês de 14/7/1920. 286
A.Z., Z4/2350, carta em hebraico de 23/10/1921; carta em hebraico de 26/10/1921; carta em inglês de
7/11/1921; carta em ídiche de 23/11/1921; carta em hebraico de 3/1/1922. 287
Sobre o major Eliezer Levy, vide nesta mesma coletânea o artigo “As muitas histórias do major Eliezer
Levy.” 288
Arquivo David J. Perez, microfilmes no acervo do autor.
139
grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Eduardo Horowitz, dotado de espírito nobre, homem
culto, com uma boa experiência de tipógrafo, se atiraria de corpo e alma ao
empreendimento. Ele havia chegado ao Brasil em 1916, vindo dos Estados Unidos, com
uma excelente bagagem de conhecimentos da cultura tradicional judaica e universal e um
bom domínio do hebraico. Desde o início ele se ligou a Jacob Schneider movido pelos
ideais nacionalistas e passou a participar ativamente na vida comunitária judaica do Rio de
Janeiro, onde fixou residência. Eduardo Horowitz apareceria como mentor intelectual do
movimento ao lado de Jacob Schneider e serviria como secretário geral durante os anos de
estruturação da Federação Sionista do Brasil desde o seu surgimento, em 1922. Até quase o
fim de sua vida ele seria o modelo do ativista dedicado à causa que adotara durante sua
juventude, ainda que tivesse sofrido revezes pessoais e mesmo a injustiça de não ter sido
devidamente reconhecido como o mais qualificado para certos cargos de representação do
movimento no Brasil por ocasião do surgimento do Estado de Israel e da formação do seu
corpo diplomático.
Mas, em 1921, muitas transformações iriam ocorrer com o nacionalismo
judaico no Brasil, pois Jacob Schneider e os que estavam próximos a ele procuravam obter
o cumprimento nesse tempo de uma promessa da Central Sionista em Londres para o envio
de um scheliach a esse país. A ocasião para se conseguir tal intento chegou quando por aqui
passou o dr. Alexander Goldstein, que vinha de volta de uma viagem à Argentina e parou
no Rio de Janeiro por algumas horas para se encontrar com os líderes sionistas locais.
Alexander Goldstein se encontrava na América do Sul em missão do Keren Hayessod,
fundado recentemente, por resolução da Conferência de Londres, em 1920.
A importância da passagem do Dr. Alexander Goldstein pelo Brasil consistiu
no fato de ter provocado uma verdadeira euforia entre os ativistas sionistas e
fundamentalmente entre os membros da Associação Sionista do Rio de Janeiro, o que pode
ser constatado pela carta que Jacob Schneider e Eduardo Horowitz remeteram a Bernardo
Schulman em 10 de julho de 1921, isto é, pouco antes da chegada dessa personalidade ao
Brasil. Alexander Goldstein, que se encontrava naqueles dias na Argentina, deveria fazer,
de acordo com a carta, uma visita às grandes cidades do país, e desse modo sugeria a
formação de um comitê de recepção ao escritor e representante do movimento sionista
mundial.289
Porém, essa prometida visita a Curitiba e às grandes cidades não ocorreu,
conforme carta de Eduardo Horowitz de 19 de agosto, do mesmo ano, escrita a Schulman,
justificando essa falta pelo fato do visitante ter feito apenas uma pequena parada no Rio de
Janeiro, “pois sua presença no Congresso Sionista é muito importante”. Assim mesmo,
dizia Eduardo Horowitz, "temos considerado juntamente com ele a possibilidade de se fazer
uma viagem pelo Brasil em beneficio do Keren Hayessod, e temos esperança que, após o
Congresso, o próprio Dr. Goldstein ou uma outra personalidade faça uma visita especial ao
Brasil. Nós também o solicitaremos por telegrama ao Congresso". A carta lembrava que em
conversa com o Dr. Goldstein ficou acertado da necessidade do Brasil ser representado no
Congresso, sendo o nome do veterano ativista de Curitiba, Júlio Stolzenberg, cogitado para
esse encontro.
O fato é que a passagem do Dr. Goldstein pelo Brasil resultou na vinda do
primeiro scheliach (enviado) ao país, e tratava-se nada mais nada menos do que de uma
personalidade de destaque do judaísmo europeu e mundial, o Dr. Yehuda Wilensky. Em
289
Documentação de Bernardo Schulman, no acervo do autor.
140
carta de 26 de outubro de 1921290
a Organização Sionista Mundial comunicava ao grupo
sionista do Rio de Janeiro que dentro de poucos dias Wilensky viajaria ao Brasil. Ele tinha
atuado no sionismo da Ucrânia e da Rússia, fazendo parte do Comitê Central da
Organização Sionista. Um telegrama remetido à Organização Sionista do Brasil informava
que sua primeira escala seria a cidade do Recife, em Pernambuco. Jacob Schneider, que
havia promovido a vinda do Dr. Wilensky poucos meses antes, presidindo a Organização
Sionista do Brasil, conseguiria que o país fosse representado no 12º Congresso Sionista em
Karlsbad, enviando o delegado brasileiro lembrado acima, o dedicado ativista Júlio
Stolzenberg. Nesse sentido, uma carta assinada por Jacob Schneider e Eduardo Horowitz,
de 10 de agosto de 1921, dirigida à Central em Londres, anunciava seu nome como
representante do Brasil ao Congresso.13291
Era, portanto, um ano de grandes expectativas
para o judaísmo brasileiro. Nesse ínterim Eduardo Horowitz escrevia, em 19 do mesmo
mês, a Bernardo Schulman de Curitiba, relatando que os 1.000 shekalim necessários ao
mandato de Júlio Stolzenberg já haviam sido remetidos por intermédio do Dr. Alexander
Goldstein a Londres, e pedia o auxílio do Merkaz Israel do Paraná para ajudar a Associação
Sionista do Rio de Janeiro a resgatar os dois contos de reis que haviam desembolsado para
obterem o mandato ao Congresso de Karlsbad.
Os preparativos para a vinda do Dr. Wilensky começaram com maior
intensidade desde outubro, e Jacob Schneider, já em inícios de novembro, se encontrava em
Pernambuco, conforme podemos verificar em carta escrita por Eduardo Horowitz a ele em
9 de novembro, informando-o sobre o que se passava no Rio de Janeiro e na comissão de
recepção ao sheliach do Keren Hayessod. A carta confirmava também que os sefaraditas e
seus ativistas, em particular Jacques Behar e David Levy, se encontravam muito animados
e já tinham alugado uma sede na Av. Mem de Sá, 181, para a sua associação, servindo a
mesma para as reuniões da comissão preparatória. É preciso lembrar que a Associação
Sionista do Rio de Janeiro, herdeira da Tiferet Sion, se encontrava constituída como uma
nova entidade à rua Senador Euzébio, 117-121, e sua diretoria era encabeçada pelo Dr.
David J. Perez como presidente honorário e um Comitê Executivo constituído das seguintes
pessoas: Jacob Schneider presidente; Eduardo Horowitz, secretário geral; A. Blank e F.
Bergstein, auxiliares; S. Linetzky, secretário de finanças; e Efraim Schechter, tesoureiro. A
expectativa da chegada do Dr. Wilensky havia tomado conta dos ativistas e das associações
que ansiavam em se apresentar bem organizadas perante o sheliach. Eduardo Horowitz, na
carta citada acima, refere-se com satisfação ao fato de já terem adquirido uma máquina de
escrever com tipos em hebraico, pois até então suas cartas eram manuscritas.
Vejamos, porém, como Jacob Schneider descreve em suas "Memórias" a
chegada do dr. Yehuda Wilensky ao Brasil:
290
A.Z., Z 4/2350, carta em hebraico de 26/10/1921. 291
A.Z., Z 4/2350, carta em hebraico de 10/8/1921. Em 16 de agosto a Associação Sionista mandava
telegrama confirmando a remessa dos shekalim para a indicação de Júlio Stolzenberg ao Congresso, cujo
nome aparece nos Stenographisches Protokoll des XIII Zionisten-Kongresses in Karlsbad. Londres
confirmava o recebimento dos shekalim em carta resposta de 23 de outubro, e expressava a satisfação de
encontrar o representante brasileiro no Congresso. V. A.Z., Z 4/2350, carta em hebraico de 23/10/1921;
telegrama em inglês de 16/8/1921. Em 1/9/1921 Júlio Stolzenberg remetia um cartão postal a David J. Perez,
desde Karlsbad e diretamente do XIII Congresso Sionista com os dizeres: “Respeitosas saudações do XIII
Congresso Sionista. Meu mandato desde ontem reconhecido, o entusiasmo aqui é indescritível. Sahlom, Júlio
Stolzenberg.” O cartão se encontra no Arquivo de David J. Perez. Sobre isso vide o artigo “Sionistas, o
primeiro encontro” nesta coletânea.
141
"Ficamos intrigados por escolherem Recife como a primeira estância, visto que
sabíamos não existir lá uma organização sionista. Assim, fizemos uma reunião urgente da
diretoria e resolvemos que eu próprio iria a Recife caso houvesse um navio aqui no Rio que
chegasse ali um dia antes da data de chegada do Dr. Wilensky, para poder preparar uma
recepção digna. Por sorte, havia um navio, que após seis dias me deixou no local de
destino. Ali encontrei uma coletividade de 70 judeus, os quais reuni e exigi
peremptoriamente que organizassem uma calorosa acolhida àquele enviado. No dia
seguinte, todos nós, homens, mulheres e crianças, dirigimo-nos em barcos enfeitados com
bandeirolas ao navio, e quando Dr. Wilensky nos viu, ficou emocionado e chorou.
Desembarcou do navio, abraçamo-nos e nos beijamos, e em seguida o
acompanhamos a um confortável hotel. Estava muito satisfeito em encontrar-me no Recife.
Ele nos contou sobre a fundação do Keren Hayessod e os altos fins desse fundo, e insistiu
em que cada judeu se cotizasse nesse dízimo, isto é, uma décima parte de suas posses. Os
judeus do Recife estavam felizes. Sentindo essa atmosfera, eu disse a eles que primeiro
fossem almoçar e depois conversaríamos. Na reunião, regateei com eles e exigi que o
primeiro se manifestasse com uma soma mínima de três contos de reis. Mas o mais rico
deles quis contribuir com a metade, aumentando em seguida para a importância estipulada,
e os outros o acompanharam. Em seguida fomos à casa de outras pessoas da coletividade
que não haviam comparecido ao encontro. Dois dias trabalhei no local com a comissão.
Conversei pacientemente com cada um daqueles judeus e assim conseguimos, na primeira
campanha da Magbit (Fundo comunitário) do Brasil, 70 contos.
Do Recife fomos a Maceió, onde residiam nove judeus, e ali arrecadamos 15
contos. Dali a Salvador, Bahia, de onde saímos com mais 30 contos, e em seguida voltamos
ao Rio.
No Rio, um grande navio repleto de judeus veio recepcioná-lo, e na primeira
conferência eles contribuíram à altura. Reunimos vários grupos e fomos de casa em casa,
mas poucos me ajudaram nessa campanha. Em particular se destacou Eduardo Horowitz.
Eu tive o privilégio da maior contribuição, isto é, 8 contos.
Do Rio fomos a São Paulo, onde houve muita dificuldade, pois não havia
nenhuma organização sionista.292
A presidência do Keren Hayessod foi assumida pelo Dr.
Horácio Lafer. Andei alguns dias em São Paulo junto com a comissão a fim de realizar a
Magbit. Maurício Klabin, em nome da firma, deu 40 contos.
De São Paulo, o Dr. Wilensky foi a Curitiba, de onde seguiu para a Argentina.
Três meses fiquei ausente de casa e de meus negócios, que ficaram aos cuidados de meu
irmão e dos empregados. Nessas viagens fundamos várias organizações sionistas, e assim,
com essa visita do dr. Wilensky teve impulso o movimento sionista no Brasil. Atraímos
novos adeptos e ficamos em contato com todas as organizações que haviam sido fundadas
no país.”
Em Curitiba e no sul do país acompanhou o dr. Wilensky o ativista Júlio
Stolzenberg, que já tinha atrás de si uma significativa folha de serviços em prol do sionismo
no Brasil.
O Dr. Wilensky compreendeu que sua missão no Brasil não deveria se restringir
à coleta de fundos para o Keren Hayessod ( Fundo de Colonização) , mas impulsionar o
movimento com a criação de novas associações. Desse modo, e sempre acompanhado de
292
Já havia uma associação sionista em São Paulo, denominada Ahavat Sion, fundada em 25 de julho de
1916, conforme carta de Rafael Chachamovitz no Arquivo de David J. Perez.
142
Jacob Schneider, o Dr. Wilensky aproveitou sua passagem pelos estados nordestinos para
criar uma associação sionista denominada "Hertzlia" no Recife, a associação "Gueulá" em
Maceió, a associação "Max Nordau" na Bahia, que passaram a se corresponder com a
Central Sionista em Londres e se tornaram ativas nas campanhas levadas a efeito naqueles
lugares."293
A missão do Dr. Wilensky alcançou pleno sucesso e deixou uma profunda
impressão no judaísmo brasileiro, sendo lembrado posteriormente como um capítulo
decisivo na história do sionismo no Brasil. 0 estímulo devido a sua presença se manifestou
também na capital do país, pois foi nesse mesmo ano de 1921 que se formaria a Sociedade
Sionista Benei Herzl, composta inteiramente do elemento sefaradita da comunidade do Rio
de Janeiro.294
Efetivamente, o esforço de aproximar os sefardim se manifestou em carta de
25 de novembro daquele ano escrita por Eduardo Horowitz a David Perez, na qual
informava ao ilustre professor que acabava "de receber um telegrama do sr. Jacob
Schneider informando que o vapor "Pari", trazendo os nossos ilustres hóspedes, entrará no
porto do Rio amanhã de manhã, às 8 horas. A recepção já está organizada, tomando parte
nela toda a colônia israelita, inclusive os sefardim. O comparecimento do sr. ao
desembarque é indispensável e irrecusável. A comissão de recepção se reunirá amanhã de
manhã às 7 horas no Cais Pharoux, Praça 15 de Novembro, e esperarei o sr. no mesmo
lugar e na mesma hora. Saudações e abraços, E. Horowitz."295
No sul, como já dissemos, o Dr. Wilensky seria acompanhado por Júlio
Stolzenberg, pois a longa ausência de Jacob Schneider de seus negócios particulares e do
Rio de Janeiro tornou-se altamente custosa e difícil, sob todos os aspectos. Daí sua
insistência junto a Júlio Stolzenberg para que este aceitasse a missão de acompanhar o
scheliach em Curitiba e em Porto Alegre. Em carta de 1º de dezembro de 1921,296
escrita
por Stolzenberg e endereçada a Eduardo Horowitz, secretário geral da Organização
Sionista, ele se refere ao assunto negativamente, considerando que não é o momento
propício para a visita do representante do Keren Hayessod naquele Estado, e isso por várias
razões, as quais enumera: 1º) os negócios no local andam muito mal, e pior se tornou a
situação dos judeus, de tal modo "que cada pessoa anda com a cabeça cheia de
preocupações"; 2º) faleceu na comunidade local uma criança, e pelo fato de ser uma
comunidade pequena, toda a Kehilá se encontra em luto, e assim, é impossível realizar
qualquer atividade; 3º) os membros da comunidade estão empenhados na construção de um
templo e um cemitério que tiram muitas energias, trabalho e dinheiro, e portanto, para a
campanha não se pode esperar muito sucesso, uma vez que os "doadores" são sempre as
mesmas 10 ou 12 pessoas. Do ponto de vista administrativo, continua o líder curitibano
com certo orgulho, "é sabido que nós somos um modelo de organização exemplar (...) e
293
A.Z., Z 4/2350, carta em hebraico de 25/11/1921, da Bahia anunciando a criação , em 24/11/1921 a
Associação Sionista “Max Nordau” com a assinatura de A. Chachamovitz, e endereço rua Genipapeiro, 1,
Salvador; carta em hebraico de 6/2/1922 congratulando-se com a nova associação da bahia; carta em ídiche de
22/11/1921 assinada por A. Ribinik relatando que o Dr. Wilwnsky saiu de Pernambuco e chegou a Maceió
onde fundou uma associação sionista com o nome de “Geulá". Dos 23 judeus residentes na cidade (entre os
quais 6 marroquinos) 22 inscreveram-se como sócios; carta em hebraico de 17/1/1922 confirmando a
formação da entidade; cartas em ídiche de 1/1/1922 e 26/2/1922 sobre o mesmo assunto; carta em hebraico de
22/12/1921 informando a formação de uma associação sionista denominada “Herzlia” em Pernambuco no dia
16/11/1921 sediada na rua da Imperatriz, 131, com assinatura ilegível, cartas em hebraico de 25/1/1922 e
2/2/1922 sobre o mesmo assunto. 294
Ilustração Israelita, n.1, agosto, 1928. 295
Arquivo de David J. Perez. 296
Arquivo de Jacob Schneider, documentação no acervo do autor.
143
possuímos, felizmente, uma liderança que se encontra sempre atenta para explorar todo
momento em campanhas em benefício do sionismo. Assim, por exemplo, pudemos aqui em
alguns momentos coletar cerca de um conto de réis para o Fundo Nacional, cuja soma lhe
enviaremos. Sentimos, eu, bem como os outros, que o Dr. Wilensky não consiga nos
visitar, mas devemos considerar que o momento é muito inconveniente (...) Espero que os
companheiros entendam a situação e não nos culpem (...) Lembranças respeitosas ao amigo
Schneider e ao Dr. Wilensky. Em todo o sul, afora Porto Alegre, não podemos contar com
qualquer outra cidade, mas Porto Alegre é muito desorganizada (...) porém, talvez se possa
fazer algo em favor do K. H. e de sua organização interna. Para mim, é impossível ocupar-
me com o assunto, pois os negócios que possuo ficaram durante muito tempo abandonados,
e assim não me permitem o tempo livre necessário para tanto. Eu me permiti, meu amigo, a
excessivas concessões, e agora tenho que pagar o devido tributo".
Apesar de tudo, Júlio Stolzenberg acabaria por aceitar a missão em acompanhar
o Dr. Wilensky, e em carta de 13 de dezembro do mesmo ano297
dirigida a Jacob Schneider,
após dizer que “estive respondendo somente agora porque me encontrava em viagem no
interior por razões comerciais”, ele agradece a "lição" que Jacob Schneider havia lhe dado
em carta anterior, do dia 9 daquele mês. A resposta de Stolzenberg, um tanto sensibilizado,
mostra que a missiva enviada pelo líder do sionismo brasileiro foi para pressioná-lo a
aceitar o encargo da recepção e acompanhamento do Dr. Wilensky, dando a entender que
ele havia tocado em seus sentimentos sionistas. Stolzenberg relata que para demonstrar sua
fidelidade para com o ideal nacional judaico voltou a Curitiba e encetou uma campanha de
propaganda entre os seus correligionários, acrescentando que Wilensky poderia vir, e
expressando que ficaria sumamente contente se viesse juntamente com ele". Mais ainda,
dizia ele em sua carta: "Não posso assegurar de antemão um grande sucesso material,
porém asseguro, sim, um sucesso cordial, caloroso e moral". Por fim, recomendava que o
Dr. Wilensky fosse após o dia 22 ou 23 daquele mês, pois ele se encontrava impossibilitado
de estar em Curitiba antes daquela data. Também Max Rosenmann, decano da comunidade,
se encontrava em viagem, e acrescenta que já havia estabelecido um comitê para tal
finalidade, sugerindo assim que Wilensky viajasse de Santos a Paranaguá, de navio, para
poder esperá-lo nesse porto a fim de seguir para Curitiba. Portanto, Stolzenberg acabara
aceitando a incumbência de guiar o Dr. Wilensky no sul do país, graças à firme orientação e
autoridade de Jacob Schneider. Lamentavelmente, não temos muitos elementos para saber
com exatidão sobre a permanência do sheliach no sul do país e a atividade exercida nas
comunidades de Curitiba e Porto Alegre, com exceção de uma carta de 23 de abril de 1922,
assinada por Leão Bonder e Jacob Becker, respectivamente presidente e secretário do
Keren Hayessod em Porto Alegre, carta essa dirigida a Jacob Schneider .298
Entre outras coisas, temos a menção e a confirmação que nessa data o jornal
Correio Israelita era enviado àquela cidade, pois o missivista lembra que ele conseguiu 25
assinantes para o mesmo, “(...) remeterá os endereços posteriormente ao pagamento, pois
conhecemos a nossa comunidade, e o Dr. Wilensky também a conheceu sob esse aspecto,
no pouco tempo em que esteve entre nós. E nós concordamos com a opinião que externou
sobre o judaísmo do Brasil, bem melhor e antes do protesto que vocês publicaram em seu
jornal contra ele, ainda que seja um jornal que possa ser lido por não-judeus, o que não é,
talvez, nada agradável a todos nós. Desculpe-me!”.
297
Arquivo Jacob Schneider, carta em ídiche. 298
Arquivo Jacob Schneider, carta em ídiche.
144
Assim, tudo indica que o Dr.Wilensky saiu do Brasil sem ter satisfeito suas
expectativas, que deveriam ser extremamente elevadas para as limitadas condições do
judaísmo brasileiro. O Dr. Wilensky voltaria anos mais tarde para uma segunda viagem ao
Brasil e passaria a se corresponder assiduamente com Jacob Schneider e a liderança sionista
em nosso país. Como prova de que houvera um quiproquó no final de sua desejada e
esperada schlichut, temos uma carta de Wilensky, agora já consul honorário do Chile em
Jerusalém, carta essa escrita de Santiago, em 28 de abril de 1927 dirigida a Jacob Schneider
e Eduardo Horowitz, e que se inicia com as seguintes palavras: “O tempo cura todas as
feridas e eu suponho que ela já curou e apagou a raiva que vocês carregaram em relação a
minha pessoa. Espero que vocês, durante esse tempo, tenham compreendido que eu não
podia deixar de fazer o que fiz”.299
A “raiva” não era tanta quanto aparentava ser, pois ainda em julho de 1922
Wilensky seria nomeado pela Organização Sionista do Brasil como delegado para o
Congresso Sionista daquele ano, conforme o mandato assinado por Jacob Schneider e
Eduardo Horowitz.300
E ainda que tivesse ocorrido algum desentendimento com o
representante do Keren Hayessod, o resultado final de sua missão foi muito bom, pois
constituiu um verdadeiro ponto de partida para um novo impulso do nacionalismo judaico
no Brasil.
O entusiasmo que a schlichut do Dr. Wilensky despertara no judaísmo
brasileiro e seu movimento sionista traria frutos. Reflexos de tal despertar, além do que já
dissemos, podem ser também vistos pela formação do Centro Sionista no Rio, sob a
iniciativa da Associação Sionista do Rio de Janeiro, inaugurado em 1º de abril de 1922, à
rua Senador Euzebio, 132.301
O mesmo espírito se revela na criação de um novo jornal, Haemet (A Verdade),
sobre o qual pouco sabemos, em Belém do Pará, por iniciativa de Pepe I. Larrat e Abraham
Benoliel, periódico esse que se propunha também à propaganda sionista, tal como o Kol
Israel do major Eliezer Levy.302
Toda essa movimentação decorria também de um novo fato político associado
ao clima gerado pela perspectiva de instalação do mandato britânico na Palestina, que
apontara como alto comissário um judeu, isto é, Sir Herbert Samuel. Em 25 de maio de
1922, Jacob Schneider escrevia um bilhete a David Perez dizendo que “por motivo de
assunto político de alta importância e de muita urgência, o qual recebi agora de Londres,
devemos nos encontrar hoje para conferenciar. Peço marcar por escrito ou por telefone a
hora e o lugar de nosso encontro. Espero que o Sr. atenda ao pedido de Londres."303
Contudo, restava um grave problema após a criação de tantas organizações
locais ou estaduais, e esse era o de superar o isolamento das mesmas isoladas umas das
outras pelo extenso território nacional. O contato direto com a Central Sionista em Londres
não era suficiente para permitir um desenvolvimento normal e eficiente daquelas entidades
locais, e tampouco estimulava a criação de um movimento forte que pudesse ter uma
representatividade aceita no Brasil e no exterior. Além do mais, a liderança local nem
sempre captava e traduzia os verdadeiros anseios da comunidade, e, portanto, cisões ou
299
Arquivo Jacob Schneider, carta em ídiche. 300
A.Z., Z 4/2350, mandato em hebraico de 19/7/1922. 301
Arquivo David J. Perez. O convite de inauguração é assinado por Simão Dain. 302
Arquivo David J. Perez, carta de 14 de maio anunciando o envio do primeiro número do jornal. 303
Arquivo David J. Perez.
145
divisões poderiam enfraquecer as sementes que foram plantadas pelo Dr. Wilensky. Tal
situação ocorreu em Maceió, onde em curto prazo de tempo e devido a desentendimentos
formaram-se duas organizações em uma comunidade de vinte e nove pessoas.304
Por outro lado, o contato direto da Central de Londres não agradava a ela
mesma, assim como significava um dispêndio de esforços que poderiam ser poupados com
a existência de uma organização central. Nesse aspecto, a Central de Londres procurava
assumir uma atitude encorajadora para se chegar a tanto no Brasil, como podemos
comprovar pela correspondência mantida com o Rio de Janeiro sobre a questão dos
shekalim, que, se de início procurou contato com as novas organizações, logo a seguir
insistiu em afirmar a responsabilidade das campanhas à “Federação Sionista do Brasil”, em
vias de formação, mesmo que esta passasse efetivamente a existir apenas após o Primeiro
Congresso Sionista, que se realizou em novembro de 1922, na cidade do Rio de Janeiro.
Mas, apesar de todos os avanços, após o impulso dado por Wilensky, o
Executivo Sionista se queixava da falta de assiduidade na correspondência, bem como na
prestação de contas dos shekalim remetidos ao Brasil,305
mal que caracterizou a
organização durante todos os seus anos de existência, com altos e baixos dependendo da
composição humana de seus órgão diretivos.
Tudo indicava que na época, isto é, no ano de 1922, as diversas agremiações
sionistas locais se mostrariam dispostas a manter contato entre si, e tudo levava a crer que o
melhor seria criar uma organização central que pudesse aglutinar as associações dos
diversos estados brasileiros.
Portanto, Jacob Schneider e outros começaram a pensar e planejar a realização
de um Congresso Sionista de amplitude nacional, sendo que a data marcada para o conclave
era o dia 15 de novembro de 1922, data significativa para o Brasil, pois comemora a
proclamação da República. Em 8 de novembro, J. Schneider telegrafou à Central Sionista
comunicando o acontecimento.306
Graças ao fato de termos encontrado os protocolos do
congresso no arquivo de Jacob Schneider pudemos reconstituir as sessões havidas naquele
conclave e o temário das discussões das mesmas, que mencionaremos apenas de passagem.
A abertura do Congresso, que teve a participação de 39 representantes de 13
Estados, que falariam em nome de 14 associações sionistas, realizou-se de forma solene.
Jacob Schneider, presidente do Comitê Organizador, abriu com um discurso, discorrendo
sobre a formação do movimento no Brasil e colocando como objetivo de primordial
importância a criação de uma Federação Sionista, que deveria se ocupar da coleta de fundo
para os israelitas, vítimas dos pogroms; para a criação de uma verdadeira escola judaico-
brasileira; para a criação de uma biblioteca sionista e para a difusão das idéias do
movimento através do país.
Na ocasião falaram também Eduardo Horowitz e Jacques Behar, representante
da associação Benei Herzl do Rio de Janeiro. Entre outras resoluções, ficou decidido que
seriam feitas campanhas do Keren Hayessod, do Keren Kayemet, e que seriam estimulados
todos os aspectos da vida judaica local – social, educativo e cultural. O Congresso foi um
verdadeiro chamado para a atividade sionista. O resultado imediato do encontro foi a
criação de uma Federação Sionista, cujo Comitê Central seria localizado no Rio de Janeiro,
304
O Centro Sionista Agudat Achim dividiu-se e formou a Associação Sionista Gueulá sob a presidência de
A.Ribinik. V. A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche de 8/10/1922. 305
A.Z., Z 4/2350, cartas em hebraico de 20/4/1922; 10/7/1922; 8/8/1922. 306
A.Z., Z 4/2350, telegrama em inglês de 8/11/1922.
146
sendo eleitos: Presidente de Honra – Maurício Klabin; Presidente – Jacob Schneider; Vice-
Presidentes – Saadio Lozinski e David Levi; Primeiro-Secretário – Eduardo Horowitz;
Segundo-Secretário – Shalom Linetzki; Tesoureiro Geral – Efraim Schechter; Ajuda –
Boris Tendler; Keren Hayessod – Salomão Gorenstein; Conselheiros – Júlio Stolzenberg
(Curitiba) e Miguel Lafer (São Paulo), Conselho Fiscal – Simão Dain, M. Koslovski e A.
Harosh.307
Assim, com o surgimento da Federação Sionista como coordenadora das
atividades do movimento no país, inaugurava-se uma nova etapa da história do movimento
no Brasil.
Em abril de 1923 Jacob Schneider faria uma viagem à Palestina e ficaria encantado com o
país e o trabalho realizado pelos pioneiros judeus.308
Em 13 de setembro daquele ano ele
escrevia uma carta a Baruch Schulman, na qual dizia: “voltei há dois meses de minha
viagem à Terra Santa, e sente-se de imediato que lá é o Lar Judeu, pois tão orgulhoso, tão
seguro, tão livre e tão bem se sente o judeu nesse belíssimo país, mesmo que não seja seu
cidadão. A viva língua hebraica, as aldeias judaicas, a bela cidade de Tel Aviv, a juventude
, os chalutzim (pioneiros) e as chalutzot (pioneiras) , com seu trabalho inigualável, são os
melhores de nossa intelligentsia e não evitam os trabalhos dos mais pesados (...)”.309
Era a
sua primeira visita à Palestina antes da formação do Estado de Israel, o qual ele,
futuramente, conheceria pelas viagens que realizaria durante os anos de atuação no
movimento sionista. Mas os sentimentos e as marcas profundas que a viagem de 1923
deixaram em sua pessoa podem ser detectados no “Diário” que escreveu sobre a mesma,
que passa a ser um documento pessoal interessante pela descrição que faz da colonização
judaica naqueles anos.
A carta acima citada, escrita a Baruch Schulman, mostra-o animado com a presença do
scheliach da Organização Sionista Mundial, o escritor Leib Jaffe, que se encontrava no Rio
e, conforme a expressão do missivista, alcançara um grande sucesso em sua missão. Jacob
Schneider comunicava a Schulman que ele acompanharia o scheliach a São Paulo e de lá
Jaffe seguiria a Curitiba, esperando que a comunidade local o apoiasse ao mesmo tempo
que contava com a ajuda pessoal do ativista curitibano.
Na verdade, a vinda de Leib Jaffe ao Brasil partiu de uma resolução do 1º
Congresso Sionista no Brasil de 1922, o qual, conforme nos informa carta de Jacob
Schneider e Eduardo Horowitz dirigida à Central da Organização Sionista em Londres
datada de 11 de dezembro daquele ano, havia resolvido solicitar um sheliach para o período
de gestão da diretoria eleita, isto é, para o ano de 1923.310
A carta informava à Central que a
atividade para o Keren Hayessod deveria se dar no começo de 1923, como de costume, e
portanto se fazia necessária a sua vinda o mais rápido possível, para dar o apoio ao que
estava programado pelo movimento local. Os signatários da carta especificavam as
qualidades que deveria ter o enviado do movimento sionista, isto é, “um nome famoso no
mundo judaico, excelente orador de massas e que saiba línguas européias, em especial
307
O Comitê Central designado é mencionado no artigo de E. Horowitz “Vegen der Zionism in Brazil”
(Acerca do sionismo no Brasil) ,Dos Idiche Vochenblat (O Semanário Israelita), novembro de 1924. 308
Pelo Diário de viagem de Jacob Schneider, sabemos que a data de saída do navio do Rio foi em 10 de
abril, e a sua volta pelo porto de Alexandria foi em 25 de maio daquele mesmo ano. O Diário está escrito num
caderno de 150 páginas, manuscrito em ídiche, e se encontra entre sua documentação ou Arquivo. 309
Arquivo de Bernardo Schulman, carta em ídiche, no acervo do autor. 310
A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche.
147
francês e espanhol, para que o scheliach possa aparecer perante assembléias de judeus
sefaraditas, cujo número é muito grande no Brasil, e sua maioria fala espanhol ou francês”.
Acrescentava-se ainda que o novo scheliach deveria seguir o roteiro do primeiro, ou seja, o
do dr. Wilensky, visistando em primeiro lugar o norte do Brasil, a começar de Pernambuco.
E já em 10 de março de 1923 Jacob Schneider escrevia a Baruch Schulman cobrando o
compromisso assumido durante a realização do 1º Congresso Sionista no Brasil por Júlio
Stolzenberg e Max Rosenmann de cumprirem com sua cota para a campanha do Keren
Hayessod, e na mesma carta informava que “em janeiro já esperávamos um novo sheliach
especial, mas precisamos esperar por L. Jaffe, que está visitando a Argentina. Também há
10 dias recebemos uma carta, onde se relata a terrível situação financeira do executivo e de
Eretz Israel e, portanto, resolvemos começar o trabalho para o ano de 1923. Nesse sentido,
organizamos uma noite de Purim e proclamamos a campanha para o Keren Hayessod para
o ano presente”.
Jacob Shneider apelava para a boa vontade de Shulman “juntamente com
Stolzenberg” para que empregassem a maior energia no trabalho e cumprissem sua
obrigação para com o povo judeu. Nessa mesma carta, ele notificava que em 10 de abril
partiria para a Romênia, onde deveria visitar seu pai, e seguiria para a Palestina, pedindo
que durante sua ausência se dirigisse a Eduardo Horowitz.311
Efetivamente, Leib Jaffe deveria chegar em fins de junho, e nesse ínterim, o movimento
sionista no Brasil procurava cumprir suas obrigações de venda dos shekalim para terem um
representante no 13º Congresso Sionista, que deveria realizar-se em agosto do mesmo ano.
Nesse sentido, Saadio Lozinski, que substituía a Jacob Schneider na presidência da
Federação Sionista do Brasil, juntamente com E. Horowitz, escrevia em carta de 9 de maio
que esperavam a vinda de Leib Jaffe para que pudessem atingir a cota de shekalim imposta
pela Central Sionista em Londres.
O segundo sheliach do movimento sionista mundial ao Brasil, Leib Jaffe, era
um intelectual e conhecido homem de letras que atrairia, sob esse aspecto, também a
atenção do limitado número de intelectuais do judaísmo brasileiro e criaria laços de
amizade mais profundos com alguns deles, amizade que se revela na correspondência que
manteve após seu retorno ao velho continente e, mais tarde, à Palestina. Leib Jaffe, que
passara anteriormente pelo Chile, Argentina e Uruguai, seria recebido no Rio de Janeiro em
audiência especial pelo presidente Arthur Bernardes, obtendo um estrondoso sucesso na
capital carioca. O jornal do major Eliezer Levy, Kol Israel,312
publicava uma nota sobre sua
presença no Brasil, informando que o sheliach visitara São Paulo, Bahia e Recife,
transcrevendo ao mesmo tempo dois artigos publicados na imprensa baiana sobre o
visitante, um no “Diário da Bahia” e outro no “A Tarde”.313
O sucesso de Leib Jaffe no Rio também é confirmado por uma carta pessoal de
15 de setembro de 1923 de Leon Schwartz, ativista comunitário, a Baruch Schulman, seu
amigo, que tece elogios entusiásticos à personalidade do scheliach, recomendando-o ao seu
amigo de Curitiba: “Parece-me que você conhece o meu ceticismo em relação à idéia
sionista, ainda que eu nunca tenha me recusado a dar qualquer apoio, uma vez que sou parte
do meu povo. Estive viajando na ocasião quando o senhor Jaffe chegou por aqui. Fui lhe
311
Arquivo de Bernardo Schulman, carta em ídiche. 312
Kol Israel, 17 de dezembro de 1923. 313
O artigo do A Tarde terminava comunicando que “Leib Jaffe faria uma conferência na Sociedade
Beneficente Israelita da Bahia sobre o tema “A nova Palestina”.
148
dar as boas-vindas como se deve fazê-lo a um talmid-chacham (estudioso e sábio) (ele é
um escritor em ídiche, russo e hebraico) logo que voltei para cá. Devo-lhe dizer a verdade:
saí muito feliz desse encontro com Jaffe. Encontrei-o várias vezes e todas as vezes me senti
feliz. Esse homem possui uma bela alma, é melancólico, não esfuziante e nem vulgar, com
boa formação, e realmente um idealista.
É desnecessário pedir-lhe, amigo Schulman uma atenção especial de nossos
amigos que amam nosso povo e se orgulham de suas melhores personalidades. Você
passará bons momentos com o senhor Jaffe e sentirá um verdadeiro prazer em ficar em sua
companhia”.314
Em cartão postal de 4 de outubro, Leib Jaffe agradecia a Schulman pelo
sucesso que alcançara em sua campanha em prol do Keren Hayessod na cidade de Curitiba,
e “pelo bom relacionamento para com a minha pessoa e a vossa hospitalidade”.315
O
próprio Schulman confirmaria esse sucesso e a grande repercussão do trabalho de Jaffe em
Curitiba em carta que remetera a Leon Schwartz, em 26 de setembro do mesmo ano, e onde
confidenciava o quanto lhe agradara a personalidade de Jaffe e os excelentes resultados da
presença do scheliach no Paraná, ainda que a ele, Schulman, lhe tenha custado grandes
sacrifícios pessoais para preparar um comitê de recepção e programar sua estadia naquele
lugar.316
Também Jacob Schneider elogiava o trabalho de Schulman em carta de 12 de
outubro escrita a ele, e se mostrava satisfeito pelo sucesso obtido por Jaffe em Curitiba.
Ainda acrescentava que o sheliach havia melhorado sua saúde ao chegar ao Rio e que
partira para a Bahia no dia 3 daquele mês.317
Do mesmo modo, a Federação Sionista do
Brasil, em carta de 3 de novembro daquele mesmo ano, assinada por Jacob Schneider e E.
Horowitz, reconhecia oficialmente o grande serviço que ele havia prestado ao movimento,
“e nos deixou sumamente satisfeitos ao saber que não esperastes as nossas instruções e
tomastes a iniciativa dos preparos e tudo o necessário para que o sucesso de Jaffe e do
Keren Hayessod fosse garantido”.318
O Centro Israelita do Paraná era alvo dos maiores elogios pelo trabalho
desempenhado por seu presidente Baruch Schulman, mas apesar de tudo, sabia-se que
questiúnculas de caráter pessoal não deixavam saborear plenamente o sucesso alcançado. Já
em fevereiro de 1924, a Central do Keren Kayemet escrevia a Stolzenberg e Schulman
pedindo que as desavenças pessoais ou de grupos fossem evitadas, a fim de não prejudicar
o trabalho em favor daquela entidade e em nome da causa sionista, asseverando que tais
rumores que chegaram até seus ouvidos depunham contra a moral do movimento.319
Não somente dissidências locais ocorriam, mas também a própria central do Keren
Hayessod em Londres provocava situações ambíguas pela atuação direta e contato com as
sociedades sionistas dos diversos Estados, com a grave conseqüência de quebrar a unidade
e a disciplina da Federação Sionista do Brasil, o que levou a Jacob Schneider e E. Horowitz
a escreverem uma longa carta àquela entidade, na qual expunham a questão com toda a
314
Arquivo Bernardo Schulman, carta em ídiche.León Schvartz, nessa carta, promete visitar Curitiba dentro
de 18 a 20 dias, porém não sabemos se o fez. 315
Arquivo Bernardo Schulman, carta em ídiche. 316
Arquivo Bernardo Schulman. Por essa carta ficamos informados que Leib Jaffe ficou em Curitiba até as
vésperas do dia 26 de setembro quando partiu acompanhado por Schulman a Paranaguá para embarcar no
“Flandria” que zarparia em direção ao norte do país. 317
Arquivo Bernardo Schulman, carta em ídiche. 318
Arquivo bernardo Schulman, carta em ídiche de 3/11/1923. 319
Arquivo Bernardo Schulman, carta em hebraico de 13/2/1924.
149
clareza: “Meses atrás, nos comunicamos com o escritório Central da Organização Sionista
em Londres solicitando para que se escrevesse a todas as sociedades sionistas do Brasil
que, em matéria de atividades sionistas, fundos, etc., se comunicassem com o Comitê
Central da Federação Sionista do Brasil, que é o único foro autorizado a ser contatado e
cuja orientação deve ser acatada. Fomos obrigados a exigir isso da parte do escritório
Central devido ao fato de nosso Comitê Central ter tido grandes dificuldades, impedindo
que realizássemos um trabalho sistemático. Devido ao lamentável capricho ou outra
qualquer causa, uma certa sociedade se arvora ao direito de se dirigir diretamente a
Londres, e nos deixa inteiramente ignorantes do que se passa. Devido a esse estado de
coisas, o trabalho do Keren Hayessod foi prejudicado mais do que tudo, pois cada
sociedade ou comitê comunicou-se com o K.H. em Londres e remeteram a ela todas as suas
obrigações, enquanto o Comitê ignorava tudo o que se passava, mesmo que tenha tido o
papel principal em toda a campanha. Até agora nos é impossível controlar o trabalho das
diversas sociedades (...)A conseqüência de tudo isso é a plena desordem que prevalece
nessas sociedades. Nenhuma contabilidade existe e em alguns lugares é impossível
compilar sequer as listas dos contribuintes ao K.H. (...). A Central em Londres, em vez de
fortificar a autoridade da Federação e ajudar a disciplinar e sistematizar o trabalho para
termos o controle da situação e podermos ganhar a inteira confiança da população judaica
no Brasil, deu, recentemente, certos passos, talvez involuntariamente, que dificulta nosso
trabalho e que nos leva de volta à situação existente anteriormente. O telegrama que vocês
nos mandaram, bem como a Pernambuco e Bahia, a respeito da imediata remessa dos
valores coletados para o K.H., sem considerar o valor de câmbio, também prejudicaram o
nosso trabalho, pois as mencionadas sociedades não se sentem ligadas a nós inteiramente e
à nossa orientação, uma vez que possuem uma relação direta com o escritório em
Londres.”320
No final, os responsáveis pela Federação pediam à Central de Londres que
escrevessem novamente a todas as sociedades sionistas do Brasil com as quais ela havia se
comunicado anteriormente para que doravante se comunicassem somente com o Comitê
Central no Rio, seguindo sua orientação, e que as somas coletadas fossem remetidas
somente através dela.
Corria assim o ano de 1924 e Jacob Schneider encetaria uma viagem à Europa
no final daquele mesmo ano, encontrando-se em novembro em Londres, onde seria
entrevistado por elementos da Organização Sionista Mundial. O resumo da entrevista revela
que ele prestara informações gerais sobre a comunidade judio-brasileira, incluindo dados
estatísticos sobre a sua população, modo de atuação da Federação Sionista e suas
atividades, e uma rápida caracterização dos grupos políticos.321
Já nesse ano se encontrava
no Brasil o rabino Isaías Raffallovich, que havia desembarcado no Rio de Janeiro em
dezembro de 1923 como representante da J.C.A. (Jewish Colonization Association) em
nosso país e que desempenharia um papel importante na vida comunitária judaica, seja sob
o aspecto da criação de uma rede escolar, beneficência e amparo ao imigrante, seja em
relação à atividade sionista. Raffalovich vivera na Palestina durante muitos anos e viera
com seus pais ainda no século XIX, quando se davam os inícios da colonização com
imigrantes vindos da Rússia Czarista, naquela região e, portanto, estava imbuído de ideais
sionistas desde a sua juventude.322
No Brasil a preocupação em desenvolver uma
320
A.Z., Z 4/2350, carta em ídiche, com tradução ao inglês, de 21/12/1923. 321
A.Z., Z 4/2350, relatório em inglês sobre a entrevista feita em 2/11/1924. 322
Veja-se sua autobiografia com o título Ziunim veTamrurim (Marcos e Etapas), Tel-Aviv, 1952.
150
comunidade assentada em bases estáveis, dar o apoio aos imigrantes que chegavam em
número cada vez maior, também passou a ser uma preocupação do movimento sionista
local, que colocava suas forças e meios para acolher aqueles que necessitavam de ajuda.
Daí ser difícil separar, na época, idéias nacionalistas e a própria vida comunitária em
formação. Já nesses anos havia uma preocupação de se aproximar a nova geração da
atividade comunitária, assim como atraí-la ao movimento nacionalista, e, na verdade, o
primeiro apelo feito nesse sentido foi o de Leib Jaffe durante sua passagem em território
brasileiro, e que levou à criação de uma organização juvenil de nome Cadima.323
Outro aspecto dessa renovação do movimento sionista é a criação do Grupo
Ativo do Centro Sionista do Rio de Janeiro, que visava dar maior ímpeto à atividade
nacionalista judaica naquela cidade.324
Em suma, podemos considerar os primeiros anos da década de vinte como uma
etapa decisiva na fixação e no desenvolvimento do movimento sionista no Brasil, tendo
como causa principal a atividade exercida por Yehuda Wilensky e Leib Jaffe como
enviados da Organização Sionista Mundial.
323
Ilustração Israelita, n. 1, agosto, 1928. A Enciclopédia Judaica, ed. Tradição, Rio de Janeiro. 1967, verbete
Cadima, se equivocou ao atribuir a iniciativa a I. Juris. 324
Sobre o Grupo Ativo vide o artigo de E. Horowitz “Di grindung fun a Aktive Grupe” (A fundação de um
Grupo Ativo), no Dos Ìdiche Vochenblat, n. 44, 12 de setembro de 1924 e n. 45, de 19 de setembro do mesmo
ano. No programa do Grupo Ativo constam sete itens:1) organizar o elemento positivo do Rio ao redor do
sionismo; 2) despertar seus membros para sua identidade nacional; 3) posicionar-se frente a todas questões
atinentes à vida judaica; 4) atuar para o renascimento do lar nacional judaico em Eretz Israel; 5) contribuir
para a organização do judaismo brasileiro; 6) atuar no âmbito da cultura nacional judaica; 7) preocupar-se
com a educação da juventude.
151
18. Os Protocolos do Primeiro Congresso Sionista na Brasil (1922)
Entre os valiosos documentos do arquivo de Jacob Schneider, um dos
fundadores do movimento sionista brasileiro, encontramos os Protocolos referentes ao 1.º
Congresso Sionista no Brasil, cujo texto, lamentavelmente incompleto, consiste em 17
folhas, tamanho ofício, datilografadas em íidiche. Faltam ao maço de folhas numeradas as
de 1 a 3, as de 5 a 6 e uma ou duas folhas finais que corresponderiam à parte de
encerramento formal do Congresso. Portanto, o texto se encontra conservado quase na
íntegra, reproduzindo os debates havidos, de modo resumido, em todas as sessões
programadas naquele encontro.
Mas antes de entrarmos no conteúdo dos Protocolos devemos historiar o
desenvolvimento do sionismo pouco antes da realização do Congresso em 1922.
O sionismo no Brasil, que nesse tempo já contava com quatro organizações
atuantes: a Tiferet Sion, no Rio de Janeiro; a Shalom Sion, em Curitiba; a Ahavat Sion, em
São Paulo e a Ahavat Sion no Pará, foi assumindo cada vez mais papéis diretivos da vida
comunitária do judaísmo brasileiro. Tudo indica – e a documentação comprova – que a
Shalom Sion em Curitiba, Paraná, sob a direção de Júlio Stolzenberg e do escritor Baruch
Shulman, mostrou-se disposta a liderar o movimento nacionalista do país, chegando mesmo
a escrever nesse sentido, em 26 de janeiro de 1920, à Central-Sionista em Londres, que, por
sua vez, comunicou ao Bureau Central do Fundo Nacional Judaico em Haia. Entre outras
coisas, ela se propõe a ser reconhecida como centro de uma Federação Sionista no Brasil,
pois “nós somos atualmente a única organização sionista no Brasil que trabalha
continuamente para o sionismo sob todos os aspectos”, pois a “Tiferet Sion, no Rio de
Janeiro, ficou inteiramente adormecida”...
A resposta da Central de Londres foi bastante diplomática para não ferir a
sensibilidade da organização, ao mesmo tempo que visava harmonizar as diversas entidades
e principalmente a Tiferet Sion. Devemos também observar que na segunda metade de
1920 existia também uma organização sionista em Porto Alegre – que mantinha contato
com a Central de Londres – que iniciou suas atividades naquele mesmo ano.325
No ano de 1921, o movimento sionista no Brasil assinalava pela primeira vez
sua presença em um congresso sionista, o 13.º de Karlsbad, enviando um delegado em seu
nome, o já conhecido e respeitado ativista Júlio Stolzenberg. Em carta assinada por Jacob
Schneider e Eduardo Horowitz, de 10 de agosto de 1921, dirigida à Central da Organização
Sionista em Londres, comunicava-se o nome de Júlio Stolzenberg como delegado do Brasil
ao Congresso, bem como a venda de 1.000 shekalim, correspondentes ao seu mandato, que
foram entregues às mãos do dr. Alexander Goldstein, que se encontrava de passagem pelo
Rio de Janeiro.
No decorrer desse movimento positivo, o momento sionista no Brasil seria
beneficiado imensamente com a vinda, em 1921, de um sheliach de alto nível e profunda
experiência política, bem como dono de um magnetismo pessoal, homem de grande
presença e excelente orador: o Dr. Yehuda Wilensky.A shlichut do dr. Wilensky se deu
325
Há-Archion há-Tzioni (Central Zionist Archives), Z 4/2350, carta em hebraico de 17/7/1920 e carta
dirigida a Curitiba de 25/8/1920. Quanto aos fatos mencionados desta primeira parte de nosso estudo o leitor
poderá encontrar as fontes documentais citadas em nosso estudo sobre a missão de Yehuda Wilensky e Leib
Jaffe no Brasil, que faz parte da presente coletânea.
152
devido a um pedido feito ao dr. Alexander Goldstein, que vinha de volta de uma viagem à
Argentina e parou no Rio de Janeiro por algumas horas para se encontrar com os líderes
sionistas locais, e era uma missão em nome de Keren Yayessod, fundado por resolução da
Conferência de Londres, em 1920. Em carta de 26 de outubro de 1921, a Organização
Sionista comunicava ao Rio de Janeiro que dentro de poucos dias viajaria ao Brasil o Dr.
Wilensky. Ele era, também, um dos ativistas sionistas da Ucrânia e da Rússia e membro do
Comitê Central da Organização Sionista, com um passado rico em feitos em favor do
judaísmo russo. Antes de sua chegada, a Organização Sionista no Brasil tinha recebido um
telegrama sobre a sua vinda, que informava ser sua primeira escolha no país a cidade de
Recife, em Pernambuco. Ele percorreria o Brasil de norte a sul criando associações
sionistas nas comunidades menores nas quais ainda não havia nenhuma entidade
nacionalista. Conforme já descrevemos em outro lugar de nosso trabalho a estadia de
Wilensky no Brasil deu um grande estímulo aos adeptos do sionismo e permitiu dar um
novo passo em sua organização.
Tudo indicava que no ano de 1922 as diversas agremiações sionistas locais se
mostrariam dispostas a manter contato entre si, e tudo levava a crer que o melhor seria criar
uma organização central que pudesse aglutinar as associações dos diversos Estados
brasileiros.
Portanto, Jacob Schneider e outros da Tiferet Sion começaram a pensar e
planejar a realização de um Congresso Sionista de amplitude nacional, sendo que a data
marcada para o conclave era dia 15 de novembro de 1922, data significativa para o Brasil,
pois comemorava a Proclamação da República. Em 8 de novembro, J. Schneider telegrafou
à Central Sionista comunicando o acontecimento.
A abertura do Congresso, no qual participaram 39 representantes de 13 Estados
que falariam em nome de 14 associações sionistas realizou-se de forma solene. Jacob
Schneider, presidente do Comitê Organizador, abriu com um discurso, discorrendo sobre a
formação do movimento no Brasil e colocando como objetivo de primordial importância a
criação de uma Federação Sionista, que deveria se ocupar da coleta de fundos para os
israelitas, vítimas dos pogroms; para a criação de uma verdadeira escola judaico-brasileira;
para a criação de uma biblioteca sionista e para a difusão das idéias do movimento através
do país.
Na ocasião falaram também Eduardo Horowitz e Jacques Behar, representante
da associação Benei Herzl do Rio de Janeiro. Entre outras resoluções, ficou decidido que
seriam feitas campanhas do Keren Hayessod, do Keren Kayemet, e que seriam estimulados
todos os aspectos da vida judaica local – sociais, educativos e culturais. O Congresso foi
um verdadeiro chamado para a atividade sionista. O resultado imediato do encontro foi a
criação de uma Federação Sionista, cujo Comitê Central seria localizado no Rio de Janeiro,
sendo eleito como presidente de honra Maurício Klabin (São Paulo); presidente – Jacob
Schneider; vice-presidentes – Saadio Lozinski e David Levy; primeiro-secretário – Eduardo
Horowitz; segundo-secretário – Shalom Linetzki; tesoureiro-geral – Efraim Schechter;
ajuda – Boris Tendler; Keren Hayessod – Salomão Gorenstein; conselheiros – Júlio
Stolzenberg (Curitiba) e Miguel Lafer (São Paulo); conselho-fiscal – Simão Dain, M.
Koslovski e A. Harosh.
Assim, com o surgimento da Federação Sionista como coordenadora das
atividades do movimento no país inaugurava-se uma nova etapa da história do movimento
no Brasil. Vejamos agora o conteúdo dos protocolos do encontro que se realizou entre os
dias 15 e 21 de novembro de 1922.
153
Antes dos discursos de abertura do Congresso foi redigido um longo telegrama
dirigido ao presidente da República, no qual se agradecia ao Brasil e ao seu povo por terem
apoiado a Liga das Nações na resolução referente ao mandato britânico na Palestina, bem
como pela acolhida dada aos imigrantes judeus que tanto contribuíram para o progresso do
país desde os tempos coloniais até o ano em que se comemora o centenário de sua
independência. Assinaram o telegrama em nome da comunidade da Capital Federal,
Salomão Gorenstein; de São Paulo, Maurício Klabin; Paraná, Max Rosenmann; Porto
Alegre, Alter Weksler; Santa Catarina, José Margalith; Pernambuco, Jacob Schneider;
Bahia, José Diamante e Boris Tendler, Alagoas. Após a leitura do telegrama cantaram as
crianças da escola Maguen David o hino nacional, entusiasticamente aplaudidas pelo
público presente. Após o mencionado discurso de Jacob Schneider, o secretário do Comitê
Provisório. E Horowitz, relatou sobre os objetivos do sionismo e seus inícios no Brasil,
discurso importante pelo seu conteúdo histórico, uma vez que ele descreve os primórdios
do movimento e sua organização em terra brasileira. E, logo a seguir, deu-se a leitura do
relatório financeiro pelo senhor S. Linetzki, compreendendo as contribuições do Keren
Hayessod, e também do Keren Kayemet.
Em seguida, Jacob Schneider agradeceu o apoio de seus colegas de todas as
cidades em nome do Comitê Provisório e propôs que se fizessem de imediato as eleições
para o Presidium do Congresso. O senhor Grinberg pediu a palavra e propôs que o
Congresso expressasse um agradecimento ao Comitê Provisório pelo trabalho realizado, o
que foi aceito com aplausos pelo público presente.
Em seguida, o presidente do Comitê de Nomeações, o senhor Max Rosenmann,
leu a proposta de nomes para o Presidium do Congresso constituído de: presidentes: 1)
Maurício Klabin; 2) Júlio Stolzenberg; 3) Jacob Schneider; 4) Saadio Lozinski; vice-
presidentes: 1) Eduardo Horowitz; 2) Jacques Behar, cujos nomes foram aceitos pelos
delegados presentes.
Maurício Klabin abriu a sessão agradecendo a honra com que fora agraciado
juntamente com seus colegas de presidência, desejando sucesso ao Congresso.
O primeiro relator dessa sessão foi Júlio Stolzenberg, que falou sobre o
sionismo em Curitiba, dizendo que a atividade comunitária teve início em 1910, com a
participação do fundo eleitoral para a fundação de um Clube Sionista no Parlamento
Austríaco. Ele também nos diz que, em 1912, foi fundada a Shalom Sion326
e que após a
conferência de San Remo, em 1920, a comunidade viveu em festa e foram arrecadados 10
contos de reis para o Fundo Nacional. Ao terminar o seu relatório, o senhor Max
Rosenmann trouxe uma proposta da Comissão de Resoluções para que se considerasse
criada a Federação Sionista do Brasil, de modo que o Congresso já pudesse atuar como um
encontro da nova entidade, o que foi aceito pelos presentes. Ao se apresentar uma moção de
agradecimento ao senhor Ribinik pela sua atividade em Maceió, gerou-se um debate sobre
se caberia agradecer a um indivíduo ou não e, nessa ocasião, Jacob Schneider, pedindo o
uso da palavra, fez referências elogiosas ao senhor Ribinik, apoiando a moção proposta por
um grupo de delegados. Mas, por fim, ficou acertado, por proposta de Júlio Stolzenberg,
que a Comissão de Resoluções formulasse, como resolução geral do Congresso, o
agradecimento a todas as organizações que contribuíram para o trabalho sionista.
O presidente da sessão propôs um debate sobre o relatório do Comitê
Provisório, e ainda que o delegado Dain se tenha oposto a um debate crítico – alegando que
326
Júlio Stolzenberg diferenciará entre esta fundada em 1912 e a Shalom Sion fundada oficialmente em 1917.
154
até então a atividade sionista no Brasil baseara-se em iniciativas individuais e, portanto,
ninguém teria o direito de criticar essas pessoas –, acabou por prevalecer a opinião do
presidente do Comitê Provisório, Jacob Schneider, de que a crítica deveria ser feita.
Stolzenberg foi o primeiro a abrir o debate em tom crítico e colocou em dúvida
a autoridade do Comitê Provisório, “pois ele também tinha uma orientação clara de parte do
Executivo Sionista de organizar uma Federação sionista brasileira”, apesar – esclarece o
orador – de nos últimos tempos não ter podido estar próximo à atividade e, de todo modo,
merece o Comitê Provisório agradecimento pelo que realizou. Tomaram parte nesse debate
ainda os senhores Linetsky, Horowitz, Lozinski, Stolzenberg e Margalith, acusando o
último o Comitê Provisório de nada ter feito em relação à educação judaica. Jacob
Schneider foi o último a falar nesse debate, respondendo às críticas feitas e argumentando
que o maior problema de seu Comitê foi a falta de voluntários para as tarefas que tinham
pela frente, e que de nenhum modo procuraram tomar para si honrarias ou autoridade, pois
sempre estiveram dispostos a entregá-las a outros. Quanto à educação judaica, ainda o
movimento sionista era o mais ativo nas comunidades, onde quer que elas existissem. Com
isso, o debate geral foi encerrado, mas não antes de se aprovar uma moção de apoio ao
Comitê Provisório.
SHEKEL E SHEKEL-ZAHAV
Na mesma sessão, Eduardo Horowitz tratou da importância e papel do “shekel”
e do “shekel-zahav”, relatando o que foi feito durante esse tempo e o que se deveria fazer
futuramente a esse respeito. Tomaram ainda parte no debate vários delegados, até que se
aceitou levar as propostas de Eduardo Horowitz à Comissão de Resoluções. Nesse ínterim,
a Biblioteca Scholem Aleichem do Rio de Janeiro convidava os delegados da sessão a
participarem de um programa literário dedicado ao escritor Anski, autor do “Dibuk”. Outro
acontecimento curioso ocorrido nessa sessão foi o delegado Jacques Behar protestar pelo
fato de os debates se realizarem em ídiche, língua que ele e seus colegas sefaraditas não
entendiam e, portanto, era-lhes difícil acompanhar os temas em questão. O debate gerado
por essa última questão foi o suficiente para que se aprovasse uma resolução indicando o
delegado Miguel Lafer como tradutor, para resumir em português os assuntos tratados. A
sessão encerrou-se com uma proposição feita por Júlio Stolzenberg para que o Congresso
homenageasse o falecido Max Fineberg, que tanto lutara para o sionismo no Brasil. O
Congresso levantou-se em sua honra e às 12:00 horas encerrava-se a sua primeira sessão.
A segunda sessão teve início no sábado à noite, no dia 18 de novembro, e ela
teve por tema a questão do “shekel” e “shekel-zahav”. Foram tomadas as seguintes
resoluções sobre o “shekel”: 1) todo sionista, pertencente ou não a qualquer organização,
tinha por obrigação apoiar anualmente a campanha do “shekel”. 2) o preço do “shekel” no
Brasil para o ano de 1923 seria de 5 mil réis.
Sobre o “shekel-zahav” foi resolvido 1) que se desse apoio ao “shekel-zahav”,
uma vez que ele era importante para a organização sionista para cobrir suas despesas; 2) ele
tinha o valor de uma lira esterlina e era voluntário, e não dava a seu contribuinte nenhum
privilégio especial, assim como não liberava ninguém de contribuir com o “shekel” regular;
3) o Comitê Central da Federação Sionista do Brasil ficaria autorizado, após conhecer as
condições de cada lugar, a propor a cada organização sionista a obrigação de criar um
grupo de contribuintes para o “shekel-zahav.
155
Seguiu-se um debate a essas proposições com a participação dos senhores
Lozinski, Grinberg, Horowitz, Schneider, Dain e outros, até a aceitação das resoluções
propostas acima. O senhor Dain, em seguida, relatou sobre o Keren Hayessod e sua
atividade em Eretz Israel, ao mesmo tempo que resumiu o que foi feito nesse sentido no
Brasil, finalizando com uma série de recomendações a respeito.
A terceira sessão do Congresso teve início às duas horas no Domingo, dia 19
de novembro, sob a presidência de Júlio Stolzenberg, que pediu a Eduardo Horowitz para
apresentar as resoluções propostas sobre o Keren Hayessod. O senhor Dain acrescentou
uma resolução adicional às formuladas para que as entidades e comitês se apressassem em
terminar a cobrança das contribuições referentes ao ano de 1922 e para que o Comitê
Central pudesse receber relatórios exatos de cada lugar, possibilitando, assim, a
participação na reunião de diretoria do K.H., que deveria ter lugar ainda naquele ano.
Durante os debates, em que tomaram parte M. Klabin, J. Schneider, E. Horowitz, S.
Lozinski, S. Dain, Linetski e Fridman foram levantadas várias proposições, entre as quais a
de se convidar um sheliach para vir ao Brasil, e com esse fito o senhor Lozinski informou
que soubera da possibilidade de Shmariahu Levin327
ir à Argentina, podendo-se, nesse caso,
pedir que visitasse o Brasil. Após a intervenção de R. Horowitz, que não via nenhuma
possibilidade de uma pessoa vir e atuar nos dois países, o debate passou a uma fase mais
aguda quando J. Stolzenberg propôs que se consignasse em ata que a minoria se opôs a
convidar um sheliach de Londres. M. Rosenmann e outros investiram com veemência
contra tal proposição até que fosse retirada em nome de uma norma de disciplina de
sujeição natural de uma minoria, a vontade da maioria, que caracteriza toda instituição.
Logo a seguir, passou-se a um novo tema relatado pelo senhor M. Fridman, ou seja, a
campanha do Keren Kayemet, explicando seus objetivos e o que representaria na
reconstrução e na colonização agrária de Eretz Israel.
Vários foram os delegados que intervieram no debate, que girava ao redor da
“caixinha” (na qual se depositavam moedas para a instituição) do Keren Kayemet,
recomendada entusiasticamente por S. Lozinski e onde o senhor Tendler mostrou que o
fracasso anterior se devia às poucas famílias existentes no Brasil. O senhor Lafer apontou o
valor educativo da “caixinha” e o senhor Grinberg considerou que a “caixinha” era onerosa,
portanto se opôs a ela. M. Klabin achou importante trabalhar-se no Brasil para o “Yaar
Herzl”, para o qual ele próprio já fizera alguma coisa, e, acrescentando, disse ser vital o
reflorestamento em Eretz Israel, obra para a qual ele já deixara uma soma com a particular
intenção de se comprar terras para esse fim. Ele gostaria que os israelitas do Brasil
apoiassem e participassem de tal empreendimento. Nesse sentido, recebeu o apoio do
senhor Behar, que propôs que o “Yaar Herzl” fosse plantado, em nome da comunidade
brasileira, no sul de Eretz Israel, para que se ganhasse terreno no deserto. O senhor Klabin
esclareceu que o sul de Eretz Israel não possuía terras apropriadas para o plantio de árvores,
mas que a resolução ficasse postergada para outra oportunidade. Foram tomadas as
seguintes resoluções sobre Keren Kayemet naquela sessão: 1) o Congresso apelou para que
os judeus no Brasil apoiassem o K. K. em todas as ocasiões, seja em festas de caráter
particular ou coletivo; 2) recomendou ao C. Central organizar para todo o Brasil um Dia
das Flores em favor do K. K.; 3) recomendou ao C. Central estudar com o senhor Klabin a
questão de plantar no “Yaar Herzl” um bosque em nome dos israelitas do Brasil.
325 Schmariahu Levin (1867-1935) foi um dos ativistas dos inícios do movimento sionista e a partir de 1920
passou a representar o Keren Hayessod percorrendo vários países em sua função.
156
Ainda na mesma sessão foram discutidos assuntos concernentes ao orçamento
da Federação Sionista, dos estatutos da nova entidade cujo projeto foi lido por E. Horowitz,
e no final dessa sessão, os delegados do Congresso foram convidados a visitar no dia
seguinte pela manhã a única escola existente no Rio de Janeiro, a Maguen David.
EDUCAÇÃO JUDAICA
A quarta sessão deu-se na segunda-feira à tarde, sob a presidência de M. Klabin
e tinha como tema de debate “problemas gerais judaicos”. Em primeiro lugar, foi tratada a
questão de ajuda e beneficência social, tema que mereceu uma longa apreciação por parte
do senhor M. Koslovski, que se referiu à necessidade de dar ajuda aos israelitas de além-
mar; também falou dos sofrimentos dos judeus na Ucrânia, propondo que fossem enviados
pacotes com alimentos e vestimentas. Além disso, recomendou que se apoiasse a formação
de cozinhas para crianças famintas naquela região, tirando-se porcentagens de outros
fundos locais, e se criassem grupos femininos para todos esses fins.
O debate se estendeu a outros aspectos da vida judaica, com a participação de
um grande número de delegados, e entre os nomes que ainda não mencionamos
encontramos os do senhor Shapira, o senhor Gewertz, o senhor Letichevski e o senhor
Krell. Entre os aspectos abordados encontrava-se a participação dos sionistas no “Relief”
(Sociedade Beneficente de Amparo ao Imigrante) , a criação de uma Comissão Central de
Ajuda para todo o Rio de Janeiro e com a participação de todas as entidades existentes
naquela cidade. A opinião geral dos presentes em relação ao assunto em debate foi de que o
elemento sionista, por ser mais consciente, deveria, e de fato o fez até agora, tomar parte
das instituições de ajuda e beneficência social comunitárias, ainda que esse não fosse o
escopo da organização.
O Congresso Sionista de 1922 dedicou uma parte de seu temário à questão da
educação judaica no Brasil, e cremos ser um dos primeiros encontros, a nível nacional,
onde a questão mereceu um exame amplo, razão pela qual traduzimos o texto dos
protocolos, dessa parte, na íntegra.
“O senhor Lozinski328
apresenta um relatório profundo sobre a educação
judaica em geral, e em particular sobre a educação judaica no Brasil. O orador é a favor de
uma educação judaica tradicional com o hebraico como única língua reconhecida nos
estudos judaicos.
“O senhor Stolzenberg recebe a palavra e apoia as recomendações do senhor
Lozinski e apresenta as seguintes resoluções:
“Uma vez que a questão da educação judaica é uma das mais importantes no
Brasil, resolve o Congresso Sionista recomendar à comunidade judio-brasileira criar
escolas, onde além de uma cultura universal, recebam as crianças judias uma educação
moderna nacional-hebraica e religiosa. A proposta recebe o apoio de outros.
“O senhor Behar é contra uma educação religiosa. É contra também o Ídiche e
somente quer uma educação nacional-hebraica.
328
Saadio Lozinski foi um dos primeiros professores no Brasil, senão o primeiro a lecionar numa escola
judaica, a Maguen David, excluindo-se os professores que lecionaram em Philipson desde que a colônia foi
implantada pela JCA, em 1904, e Júlio Itkis, em São Paulo, que lecionava num Talmud Torá, em 1916.
157
“O senhor Klabin interfere em favor da religião. O senhor Harosh fala sobre
educação nacional e ele é decididamente a favor do hebraico e contra o ídiche, propondo
uma resolução nesse sentido.
“O senhor Margalith dá inteiro apoio à educação religiosa. O senhor Gewertz
diz que a verdade sobre a educação judaica ainda não foi dita. A criança judia necessita de
meios para se ligar e unir com todo o judaísmo e esse meio é a língua ídiche. A educação da
criança judia deve assumir outras formas. A religião não tem mais lugar na educação.
Ídiche e educação social são os elementos fundamentais na formação da criança israelita. É
preciso preparar a criança judia para ser um membro útil da nova sociedade que está
surgindo.
“O senhor Horowitz é contra extremismos na questão da educação da criança
judia. Considera que a questão no Brasil ainda é muito delicada. Devem-se levar em conta
todos os elementos que possam ser úteis para uma educação nacional e racional.
“Propõe uma resolução para que o hebraico seja considerado como a língua
principal nos estudos judaicos, mas também o ídiche tenha o seu lugar na educação da
criança judia.
“O senhor Krell propõe que a resolução a ser tomada pelo Congresso formule
que é necessário uma escola judaica em geral, mas que se deixe a cada lugar definir o
caráter da escola.
“O senhor Dain, em um breve discurso, se refere aos problemas abordados e
manifesta o seu apoio ao reconhecimento do ídiche como um elemento da educação
nacional judaica.
“O senhor Rosenmann acentua a importância da educação religiosa no Brasil e
traz exemplos do interior, onde o elemento religioso salvou as crianças judias da
assimilação certa.
“O senhor Schechter demonstra que as crianças judias no Brasil falam o
português e não acha conveniente exigir um esforço adicional com o aprendizado do ídiche.
O hebraico deve ser ensinado, pois essa é a nossa língua nacional, mas o ídiche não tem
importância sob o aspecto nacional para que se sobrecarregue as crianças com o seu ensino.
“O senhor Schneider pede para que não se assustem com o assunto da educação
religiosa, pois é um elemento importante para determinarmos grupos, e quase todos os
nossos amigos receberam uma educação religiosa. É evidente que isso não os prejudicou.
Possivelmente, se não tivessem recebido essa educação que eles tanto temem hoje, não
estariam presentes como delegados desse Congresso. O orador também lembra que em
todos os novos países as crianças judias falam a língua da terra, e não é fácil fazê-las falar a
língua ídiche, e também não é conveniente. Todos os esforços devem ser feitos em relação
ao hebraico, a língua nacional de todos os judeus, em todas as gerações.
“O senhor Grinberg observa em relação ao discurso do senhor Schneider que
não a educação religiosa, mas a educação nacional é que trouxe os delegados ao Congresso.
“Os debates foram encerrados e passa-se às decisões. A maioria vota a favor da resolução
do senhor Stolzenberg. O representante da Biblioteca Sholem Aleichem declara que se
abstém de votar. Após as votações, o senhor Morgenstern apresenta uma petição da
comissão da Biblioteca, que se declara pronta para apoiar toda iniciativa para educação
judaica, mas que não se ocupará das outras questões que ela não considera de sua
competência.
“A sessão encerrou-se às 3:00 horas da manhã.”
158
UM ÚNICO JORNAL
A quinta sessão do Congresso teve início na terça-feira, às duas horas, e tinha
como tema assuntos gerais judaicos. Abriu a sessão M. Klabin, dando a palavra a E.
Horowitz, que se referiu à imprensa judaica no Brasil, cujo conteúdo é importante, pois ele
esboçou uma pequena história da imprensa judaico-brasileira. Ele lembrou a atividade de
Josef Halevi,329
insistindo para que todos os delegados se levantassem em sua homenagem,
e prestou esclarecimentos sobre o “Correio Israelita”, único jornal comunitário na época.
Durante os debates levantou-se a necessidade de se criar uma imprensa ídiche, apesar das
dificuldades materiais para tanto. A tendência geral do debate, que teve a participação de
um bom número de delegados, foi a criação de um jornal em duas línguas, ídiche e
português, o que na verdade representava uma proposta de conciliação das várias
tendências existentes no Congresso. Além do mais, foi resolvido reunir representantes das
instituições do Rio para se discutir sobre a criação de um periódico.
Na mesma sessão viu-se também a necessidade de recomendar a criação de
bibliotecas nas cidades onde havia comunidades judias, e vários outros assuntos
concernentes à vida judaica no Brasil.
No mesmo dia realizou-se a sessão de encerramento presidida por M. Klabin,
que em seu discurso transmitiu saudações de Eretz Israel, onde estivera recentemente em
visita. Suas palavras foram registradas nos protocolos do Congresso: “A terra é bela, é boa,
rejuvenesce, e seus filhos fazem tudo o que podem. E seus filhos em todo o mundo devem
lhes dar todo o apoio possível.”
O debate inicial dessa sessão girou ao redor do apoio que se devia dar ao Banco
Colonial como instituição financeira do movimento sionista e seus objetivos de colonização
da Palestina. As resoluções gerais adotadas nessa sessão de encerramento foram: 1) O I
Congresso Sionista no Brasil congratulou-se com a Liga das Nações na ratificação do
mandato sobre Eretz Israel, no qual vê o reconhecimento dos povos as aspirações nacionais
do povo judeu; 2) resolveu saudar o Executivo Sionista e em especial os Drs. Weizmann e
Sokolov, que através de esforços excepcionais e sacrifícios, impuseram a vitória das nossas
aspirações nacionais entre os povos; 3) agradeceu ao grande estadista Lord Artur Balfour
por seu inigualável serviço à causa judaica; 4) declarou-se solidária à proclamação do Vaad
Leumi, que representava a população judaica de Eretz Israel, no seu apelo aos árabes da
região para se unirem com seus irmãos judeus em sua reconstrução; 5) saudou o Fundo
Nacional Judaico por ocasião de seu 20.º aniversário e recomendou a todos os sionistas no
Brasil um trabalho com redobrado esforço para atingir seus fins; 6) solidarizou-se com a
resolução do Congresso a fim de unir todas as forças judaicas para o trabalho de
reconstrução de Eretz Israel; 7) agradeceu profundamente a todos aqueles que ajudaram até
então no progresso do movimento sionista no Brasil; 8) apelou para que todos os judeus do
Brasil unissem suas forças para o trabalho sagrado de reconstrução de Eretz Israel; 9)
exigiu que os judeus do Brasil ajudassem seus irmãos da Europa Oriental e Central, vítimas
da guerra e das hostilidades inumanas de parte de seus vizinhos, e não economizassem
meios para aliviar seus sofrimentos; 10) apelou a todos os judeus do Brasil para que dessem
a seus filhos, além de uma formação universal e brasileira, uma educação judaica; 11)
329
Foi o fundador do primeiro jornal judaico no Brasil, publicado em ídiche em Porto Alegre em 1915
denominado “Di Menscheit” (A Humanidade). A mençaõ do seu nome nesse ano de 1922 antecede a de Jacob
Nachbin ,feita em 1929. V. de minha autoria o livro “Jacob Nachbin”, Nobel, São Paulo, 1985.
159
apelou a todas as organizações judaicas e instituições no Brasil para coordenarem suas
atividades e criarem um judaísmo unificado.
Os Protocolos terminam com essas resoluções da sessão de encerramento, mas
as últimas frases, da página 22 (última dos Protocolos) indicam que o senhor Boris Tendler
leria algo- infelizmente não sabemos seu conteúdo- uma vez que não temos a continuidade
do texto em nossas mãos. Supomos que já se anunciava o encerramento formal do
Congresso.
O Primeiro Congresso Sionista no Brasil foi, sem dúvida, um grande evento
para a comunidade que começava a participar dos acontecimentos do movimento sionista
mundial, após a Declaração Balfour de 1917.
160
19. O Sionismo e os Judeus no Brasil ( Este artigo foi escrito em de 1980 e a visão que apresenta sobre a comunidade e a sociedade brasileira
corresponde ao que se passava naquela década.)
A participação dos judeus e dos cristãos-novos nos primórdios da História do
Brasil, ou seja, no período colonial, já foi suficientemente estudada na medida em que
muitos autores publicaram a documentação dos arquivos europeus, e principalmente aquela
existente em Portugal e na Holanda. Paradoxalmente, a história dos judeus do Brasil no
período mais recente, compreendendo a fase da Independência, do Império e da República,
em outros termos, do início do século XIX até os nossos dias, é relativamente pouco
conhecida. Sob o ponto de vista histórico, poucos trabalhos têm trazido contribuições
significativas para o conhecimento dessa História. Entre esses últimos devemos mencionar
os de Elias Lipiner330
, que em numerosos artigos publicados em vários periódicos judaico-
brasileiros e estrangeiros tratou de múltiplos aspectos da vida e da história da comunidade
judio-brasileira. Outro autor que tratou do assunto é Isaac Raizman, cujo trabalho escrito
em ídiche sob o título “A Fertl Iorhundert Idische Presse in Brazil”,331
publicado em 1968,
levantou importantes elementos sobre a história mais recente da comunidade judia no
Brasil. Na década de 50, Kurt Loewenstamm,332
ainda que apresente muitos erros, teve o
mérito de se preocupar com a história dos judeus no período imperial, fazendo um estudo
sobre certos judeus que se destacaram na atividade política e econômica do país. Mas, ao
nosso ver, a contribuição mais significativa dos últimos anos para o conhecimento dos
judeus no período moderno foi feita pelo casal de historiadores Egon e Frieda Wolff, que
pela primeira vez fizeram um levantamento de fontes não levadas em consideração por
estudos anteriores. Esses dados permitiram que fosse revelada uma história, até o momento
desconhecida, dos judeus no período imperial, o qual se estende desde o início do século
XIX até os primórdios da República. O vasto material recolhido por esses incansáveis
pesquisadores durante vários anos de trabalho ainda está para ser elaborado pelos futuros
estudiosos da história dos judeus no Brasil. O ponto de partida de sua obra, que ainda está
sendo escrita, é o volume “Judeus no Brasil Imperial”, publicada pelo Centro de Estudos
Judaicos da Universidade de São Paulo, em 1977333
.
Podemos fixar como marco cronológico do início da história dos judeus no
Brasil no período moderno a data de 28 de janeiro de 1808, quando d. João VI, ao
transferir-se com sua corte de Portugal para o Brasil, proclama a Abertura dos Portos às
Nações Amigas, ato cujo significado econômico fará com que muitos estrangeiros sejam
atraídos ao Brasil. Um dos primeiros países interessados em se aproveitar da nova política
330
Um trabalho mais extenso, com o título de “A Nova Imigração Judaica no Brasil” foi publicado por Elias
Lipiner no livro “Breve História dos Judeus no Brasil”, de Salomão Serebrenick, ed. Biblos, Rio de Janeiro,
1962. 331
Além desta obra, Raizman publicou um livro importante no qual se destaca a parte relativa à criatividade
literária dos judeus no Brasil, sob o título “Ídiche Shereshkeit in Lender fun Portugalischen loschen”,
Muzeum LeOmanut , Sfat, 1975. 332
Kurt Loewenstamm, “Vultos Judaicos no Brasil”, Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1949-1956, 2 vol. 333
Egon e Frieda Wolff prepararam, em continuação a esse estudo, um trabalho sob o título “Judeus nos
Primórdios do Brasil- República”, compreendendo o período de 1889 a 1903, editado pela Biblioteca Israelita
H. N. Bialik, Rio de Janeiro, 1981 (a data não consta).
161
régia foi a Inglaterra, donde saíram os primeiros imigrantes, e entre eles também judeus. A
fim de favorecer esse processo, foi estabelecido um tratado de Aliança e Amizade, em
1810, no qual, entre outras coisas, garante-se aos estrangeiros e aos súditos ingleses a
liberdade de consciência e de culto. Tal artigo era necessário e ganhou importância, visto
que, durante séculos, a Inquisição havia incutido uma mentalidade própria e discriminatória
em relação àqueles que não exerciam a fé católica, e assim assegurava-se a anglicanos e
judeus a manifestação livre de suas crenças religiosas.
A partir dessa época podemos encontrar, entre os imigrantes ao Brasil, judeus,
que vinham isoladamente, e não somente da Inglaterra, mas também de outros lugares, tais
como a Alemanha, França, Prússia, Áustria, Hungria. E, por outro lado, encontramos a
significativa imigração marroquina e argelina.
Poderíamos estabelecer alguns marcos históricos importantes que causaram o
surgimento de certas ondas imigratórias judaicas no Brasil, ainda no século XIX, além da
imigração individual e esporádica do início daquele século. A turbulência na Europa de
1848, que vivia agitações revolucionárias, bem como a “Primavera dos Povos”, fez com
que muitos procurassem refúgio e depositassem esperanças no novo continente e nos países
que só então estavam começando a ingressar na história. Entre esses imigrantes
encontramos também muitos judeus da Alemanha, Áustria, Hungria, França, os quais,
cientes dos motivos políticos, também aspiravam encontrar meios de subsistência,
aparentemente mais fáceis do que os encontráveis em solo europeu. O mito da América já
se havia arraigado na época, e para os imigrantes judeus, assolados também pelo anti-
semitismo que tradicionalmente acompanhava os movimentos políticos e de emancipação
nacional na Europa, fez com que se encarasse o novo continente como a Terra Prometida.
Do mesmo modo, a Guerra Franco-Prussiana também deu motivos para que
muitos judeus partissem da França – principalmente da Alsácia-Lorena, cedidas à Prússia –
e viessem a se estabelecer no Brasil, no fundo não por motivos judaicos, mas antes pelo
fato de se sentirem patriotas franceses. Por outro lado, a formação de uma Alemanha
imperial e sua expansão econômico-comercial, associada a uma inversão de capitais no
exterior, fez com que essas firmas exportadoras instalassem filiais e enviassem agentes ou
representantes, entre eles muitos judeus, que vieram engrossar a população israelita
existente no Brasil.
O caso especial da imigração marroquina, que se iniciou realmente nas
primeiras décadas do século passado e que se instalou, em boa parte, no norte do Brasil, na
região do Pará e do Amazonas, está igualmente associado a acontecimentos locais
relacionados com o judaísmo da África do Norte, bem como à atração que o continente
desconhecido exercia para os estrangeiros.
A outra etapa importante da vinda dos judeus ao Brasil no período moderno está
associada ao grande processo imigratório gerado pelos acontecimentos na Europa Oriental,
mais especificamente na Rússia czarista de 1881, os quais motivaram a saída de dezenas de
milhares de judeus daquela região. Embora a maioria se dirigisse aos Estados Unidos,
muitos judeus também procuraram se estabelecer no Brasil. Também datam dessa época os
planos de colonização de judeus em território brasileiro, e entre esses devemos lembrar o da
sociedade alemã Deutches Central Komitee fuer die Russischen Juden, que em 1891,
enviou o jornalista Oswald Boxer, amigo de Theodor Herzl, para verificar in loco a
possibilidade de estabelecer uma imigração de judeus neste país. Ainda antes da missão de
Oswald Boxer, encontramos uma série de projetos de colonização de judeus no Brasil, a
162
partir das últimas décadas do século XIX, que antecipavam o projeto de colonização efetiva
da Jewish Colonization Association,.
Essa organização, fundada pelo Barão Hirsch, encetou um grande
empreendimento de colonização no sul do Brasil, a partir de 1904, e suas primeiras colônias
agrícolas foram Philippson,334
Quatro Irmãos, com seus núcleos Baronesa Clara, Barão
Hirsch no Rio Grande do Sul.
A partir da Primeira Guerra Mundial e logo após houve um aumento
significativo da imigração judaica ao Brasil, e podemos afirmar que os atuais centros de
vida comunitária judaica formaram-se tendo como origem essa última leva imigratória, seja
no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, ou outras cidades capitais dos mais
importantes estados brasileiros. Essa imigração provinha quase que inteiramente dos países
da Europa Oriental, porém, por outro lado, com a ascensão do nazismo, ela foi engrossada
pelos contingentes provenientes da Europa Ocidental, sobretudo dos países de fala alemã.
Essa imigração continuou ininterruptamente até a Segunda Guerra Mundial, não obstante a
política governamental brasileira na época da ditadura de Getúlio Vargas, que limitava e
restringia a entrada de judeus no Brasil por vários motivos, entre os quais a tendência a
nutrir simpatias políticas em relação ao Eixo.
A imigração mais recente, e que data dos anos que se seguiram à Segunda
Grande Guerra procedeu fundamentalmente da Europa e dos países do Oriente Médio, bem
como da África do Norte, esta última decorrente do conflito árabe-israelense e suas
conseqüências, desde que o Estado judeu foi proclamado, em 1948.
As origens da vida comunitária e seus elementos constitutivos – Costumava-
se pensar que os judeus vieram ao Brasil somente em nosso século e, ainda é muito comum
entre aqueles que lidam com o tema a falácia histórica de que a kehilá neste país teve
origem no mesmo período. A verdade é que, já na primeira metade do século passado,
encontramos entidades de caráter comunitário, tais como a União Shel Gemilut Hassadim,
fundada aproximadamente em 1846, e posteriormente a União Israelita do Brasil, fundada
em 1870, a qual reunia judeus das mais variadas origens, entre eles ingleses, alemães,
franceses, húngaros e outros da Europa Oriental. Porém, podemos considerar a formação
“atual” da comunidade judaica como datando da Primeira Guerra Mundial, quando a
maioria das suas instituições se definiram, seja aquelas de caráter cultural, filantrópico, de
ajuda mútua, assim como as religiosas e educativas. Boa parte dessas instituições
comunitárias originariamente procuravam imitar o caráter que aquelas possuíam na Europa,
pois seus fundadores, imigrantes do Velho Continente, somente podiam adotar moldes
organizacionais vivenciados e conhecidos por eles como eficientes em seu solo de origem,
os quais pouco a pouco iam sofrendo a influência da sociedade brasileira que os rodeava.
Em São Paulo conhecemos a fundação da Sociedade das Damas Israelitas, em
1916, e da Sociedade Ezra, fundada em 1915, como sociedades filantrópicas que tinham
por finalidade acolher os imigrantes europeus e fornecer-lhes os primeiros elementos de
subsistência e ajuda financeira, a fim de se adaptarem ao novo país. Tais sociedades, se
observarmos atentamente sua formação, foram criadas pelas famílias veteranas – algumas
no fim do século passado – que ascenderam economicamente dentro da sociedade brasileira
e procuravam ajudar seus irmãos que acabavam de se instalar no Novo Mundo. Ao lado
334
Sobre Philippson, temos o livro de memórias escrito de forma amena e no esstílo de uma narrativa pessoal
de Frida Alexander, “Filipson”, ed. Fulgor, São Paulo,1967. Outras memórias pessoais foram publicadas e
estudos acadêmicos estão sendo feitos sobre este mesmo tema.
163
dessas instituições de ajuda e de assistência social, formaram-se organizações de imigrantes
oriundos de um mesmo país ou de uma mesma cidade, tais como o Polisher Farband, o
Bessarabisher Farband e outras. Essas organizações, as “landsmanschaften”, tiveram um
papel importante não somente do ponto de vista de assistência social e financeira, mas
também no desenvolvimento da atividade cultural judaica, fundamentalmente em ídiche,
fato que ajudou a preservar os valores do judaísmo europeu e do schtetl através de círculos
de estudos literários, da formação de grupos teatrais, da organização de bibliotecas e outras
atividades.
Porém, à medida que a vida comunitária, com suas entidades e organizações,
se desenvolvia, e suas necessidades se completavam, foram penetrando, paralelamente, as
correntes de pensamento que se originaram no mundo europeu. Essas correntes também
penetraram nas comunidades brasileiras das grandes cidades como São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e outras, cujas populações judaicas, desde o início dessa imigração
após a Primeira Guerra Mundial, se concentravam, por razões práticas, em determinados
bairros, tais como Bom Retiro, Bonfim, a Praça Onze, e assim por diante. Sem dúvida, tal
concentração populacional em um bairro próprio permitia que fosse levada uma vida
judaica centrada nas instituições fundamentais, a começar pela proximidade da sinagoga,
da escola, e permitia, mais do que tudo, a convivência diária entre os que habitavam no
bairro e participavam dos eventos ligados à existência da comunidade.
Para resumirmos, dois elementos tiveram um papel determinante no
desenvolvimento da vida comunitária, sendo o primeiro o crescimento da população judaica
que se efetuava na medida em que a imigração, após a Primeira Guerra Mundial,
aumentava consideravelmente. O segundo elemento determinante situa-se na infra-estrutura
econômica da comunidade que inicialmente era formada por imigrantes que enfrentaram os
primeiros anos de pobreza dos recém-chegados a um país estranho e que, às custas de
esforços e da força de vontade, conseguiram ascender a posições econômicas mais elevadas
e estáveis, cujas conseqüências marcaram também o seu ser judaico e seu estilo de vida.
Nesse processo de ascensão econômico-social, pode-se observar aspectos positivos, como
também aspectos negativos do ponto de vista comunitário-judaico. Nesse sentido, enquanto
o imigrante ganhava o seu sustento como clienteltchik, vivendo modestamente sob o
aspecto econômico, apoiava-se em seu grupo social-religioso e se mantinha fechado dentro
do mesmo. Porém, após progredir economicamente e ter estabelecido sua própria casa
comercial ou sua indústria (os judeus, de modo geral, em sua fase inícial, se concentraram
no ramo têxtil) e começar a participar do processo de desenvolvimento econômico da
sociedade brasileira como um todo, já não sentia necessidade de se apoiar em seu próprio
grupo social-religioso, “emancipando-se” de sua tutela e aproximando-se mais dos valores
da sociedade mais ampla e do seu modo de vida. Por outro lado, a ascensão econômica dos
judeus permitiu a criação de instituições comunitárias mais ricas, partindo daquelas
estritamente necessárias para a sobrevivência (sociedades filantrópicas) para a criação de
clubes esportivos e sociais que nada tinham a perder em relação às melhores organizações
desse tipo do meio que os circundava. Da mesma forma, foram fundadas escolas judaicas
integrais, que procuravam proporcionar educação judaica e geral do nível mais elevado e
equiparado com as melhores instituições do país, seja do ponto de vista das condições
materiais e das instalações, seja do ponto de vista do conteúdo.
Porém, o preço da ascensão econômica foi maior no tocante à preservação dos
valores tradicionais judaicos e à preservação do estilo de vida que caracterizava a existência
dos judeus na Europa Oriental, mais especificamente a vida do schtetl. A mudança ou a
164
saída do judeu do seu “bairro” para viver em lugar melhor localizado e mais privilegiado,
ou em uma residência melhor ou mais suntuosa, também levou-o a se afastar do “habitat
original” dos seus primeiros anos de imigrante, dos comentários e mexericos do bairro
judeu, da língua ídiche falada nas ruas, do contato com os acontecimentos cotidianos de seu
grupo, diminuindo, portanto, o “elan” que o vinculava a ele. Então, seu judaísmo deveria
ser mantido através de um esforço consciente e pessoal, que em muitos deles nem sempre
era encontrado. Um dos aspectos desse esforço era o fato de mandar os filhos para uma
escola judaica, o que nem sempre ocorria em proporção desejável para a preservação do
judaísmo local.
Um fenômeno sintomático e ilustrativo desse processo, ao qual poderíamos
chamar de assimilacionista, porém não deliberado – ainda que nem sempre a ascensão
econômica levasse o judeu a deixar de sê-lo ou assimilar-se – foi o gradual abandono da
cultura ídiche pela segunda geração de imigrantes, ao mesmo tempo que os órgãos de
expressão dessa cultura, tais como jornais, livros e teatro desapareciam paulatinamente da
vida judaica brasileira. O primeiro jornal em ídiche, “Die Menscheit”, fundado em 1915 em
Porto Alegre, teve no seu rastro uma seqüência de periódicos em ídiche publicados no Rio
de Janeiro e São Paulo, os quais reuniam uma inteligentsia judaica ativa e irrequieta. Ao
redor de um jornal concentravam-se e formavam-se grupos culturais que muitas vezes
chegavam a produzir literatos, cujas obras foram escritas em ídiche, hoje esquecidos,
juntamente com os periódicos, as editoras e as gráficas que as publicaram.
De modo melancólico, esses jornais foram perdendo seus leitores e, em São
Paulo, o último desses periódicos deixou de sair no último ano, após quase três décadas de
existência. Com exceção daquelas existentes na cidade do Rio de Janeiro, que outrora
reuniu as instituições culturais mais significativas por ser a capital do país até a construção
de Brasília, e que mantém até hoje dois jornais em ídiche, assim como duas bibliotecas335
com importantes acervos nessa língua (que não encontram mais leitores), as demais
fecharam e desapareceram sem deixar rastro.
Por outro lado, com o correr do tempo, as instituições comunitárias locais
passaram a se organizar em federações estaduais e confederações nacionais, principalmente
em decorrência da necessidade freqüente da comunidade judaica de ter que assumir
posições globais perante questões internas, bem como externas, imprescindíveis num país
onde a instabilidade política caracterizou seus governos em sua existência histórica.
Um dos traços marcantes das instituições comunitárias no Brasil, assim como
em outros lugares, foi o agrupamento de judeus ao redor delas, segundo suas afinidades
ideológicas que traduziam fielmente as ideologias que imperavam no judaísmo europeu.
Em outras palavras, poderíamos dizer que todas elas estavam representadas de uma forma e
de outra, e concentradas ao redor de uma ou de outra instituição, seja ela de caráter cultural
ou de outra índole qualquer. Bundistas e assimilacionistas, de direita ou de esquerda,
sionistas de todo os matizes, encontravam-se nas instituições comunitárias assumindo
posições “políticas”, de acordo com suas doutrinas e orientações, em relação às questões da
comunidade e frente aos problemas da vida judaica. Boa parte dessas correntes já estava
organizadas nas primeiras décadas do século XX por ocasião da vinda da grande leva
imigratória.
O sionismo no Brasil – Não podemos dizer exatamente quando e quem
formou os primeiros núcleos sionistas no Brasil, mas dos poucos dados obtidos em uma
335
A Biblioteca H.N.Bialik e a Bilioteca Scholem Aleichem.
165
pesquisa que ainda está dando seus passos iniciais, sabemos que no início do século, em
Belém do Pará, no norte do Brasil, o centro da imigração marroquina, se encontravam
sionistas que se correspondiam com outros da Europa, inclusive com Max Nordau, que teve
uma influência muito grande, como pensador e humanista, também sobre a intelectualidade
brasileira não-judia daquele tempo. Historicamente, sabemos do encontro mantido em casa
de Jacob Schneider, conhecido como um dos veteranos do movimento sionista no Brasil,
encontro que se realizou em março de 1913, no Rio de Janeiro, que visava organizar um
dos primeiros grupos sionistas naquela localidade. Ao redor do jornal “A Columna”,
publicado em Português em 1916, e orientado por um intelectual de prestígio – David José
Perez – agruparam-se também sionistas, que se identificaram com essa orientação dada ao
periódico por seu fundador.
No Rio de Janeiro, que na época polarizava a vida judaica no Brasil, fundou-se
um grupo de caráter sionista, que atuou em campanhas do Keren Kayemet (Fundo Nacional
Judaico) bem como participou, em 1916, na fundação do comitê brasileiro do American
Jewish Joint Distribution Comitee (JDC). Esse grupo de nome Tiferet Sion também se
beneficiou das campanhas, mostrando-se ativo na defesa da política sionista, em oposição a
outras correntes da comunidade e participando até mesmo de acontecimentos ligados ao
movimento sionista mundial.336
Tomamos conhecimento da existência, no mesmo ano, de uma escola judaica
sob a orientação de Saadio Lozinski, que era um ativista na Associação Scholem Aleichem,
fundada em 1915, mas tinha suas raízes na religiosidade do movimento Mizrachi. A partir
de 1921, começaram as campanhas do Keren Hayessod, com a vinda de um enviado
especial, Y. Wilensky.
A Federação Sionista do Brasil foi fundada em 1922 após um encontro de
delegados que representavam as várias organizações, sob a presidência de Maurício Kablin.
O primeiro presidente foi Jacob Schneider. Seu secretário Eduardo Horowitz, que fora um
dos fundadores do Tiferet Sion, destacou-se também como jornalista e colaborador de um
dos primeiros jornais em ídiche o “Dos Idische Vochenblat” (O Semanário Israelita),
fundado em 15 de novembro de 1923. No número comemorativo do primeiro ano de
existência desse jornal temos um artigo de Horowitz sobre o sionismo no Brasil, sob o
título, “Vegen Zionism in Brazil” (Acerca do sionismo no Brasil). Do mesmo modo,
podemos encontrar outros artigos sobre esse tema nos quais se revelam a existência e a
atuação de grupos sionistas em várias cidades do país.
Nesse período encontramos a comunidade claramente dividida em duas
tendências ideológicas que se debatiam e degladiavam: o sionismo e o “progressismo”. A
disputa não se realizava apenas no plano ideológico; visava, acima de tudo, conquistar
posições políticas de influência institucional dentro da comunidade. Algumas das
instituições que inicialmente não tinham nenhuma conexão com ideologias esquerdizantes
acabaram sendo tomadas pelos adeptos dessa linha, como ocorreu com a Biblioteca
Scholem Aleichem do Rio de Janeiro, na época. A luta político-partidária transcorria
intensamente também dentro do próprio movimento sionista, sendo que os partidos
encontravam seus líderes naturais entre os mais ativos recém-imigrados, bem como entre os
veteranos da comunidade. Sabemos que certos intelectuais judeus vindos da Argentina
haviam sido os primeiros a introduzir o conhecimento das correntes políticas dentro do
sionismo. Entre estes estava a figura de Aron Chachamovitz, que pertenceu ao movimento
336
Em São Paulo sabe-se da existência, na mesma época, de um Centro Sionista Ahavat Sion.
166
Poalei Zion da Argentina, e se instalou em Porto Alegre, combatendo e criticando certos
aspectos da atividade da JCA no Rio Grande do Sul.
O partido Poalei Zion foi fundado em inícios de 1927, em Porto Alegre, e logo
em seguida participou das demonstrações de 1º de Maio daquele ano, ao lado dos
socialistas italianos daquela cidade sulina. Podemos imaginar que tal atitude não tenha
agradado à maioria dos sionistas, que na época era representada pelos Sionistas Gerais. O
movimento Poalei Zion se propôs a fundar escolas judaicas onde se lecionaria em hebraico,
mesmo contra a vontade de certos pais de alunos, que eram favoráveis ao ensino do idioma
ídiche, fato que passou a ser um elemento de disputa entre sionistas e não-sionistas, ainda
que, a rigor, entre os primeiros também se encontrassem adeptos do ensino do língua
ídiche, ao lado do hebraico.
A vinda ao Brasil, em 1927, de Aaron Bergman, como enviado especial para o
Poalei Zion local, foi de grande importância para o desenvolvimento do movimento
sionista. Bergman fora secretário-geral do Poalei Zion na Polônia e se destacava por seus
dotes intelectuais. Ao chegar ao país, criou um Comitê Central do Poalei Zion no Rio de
Janeiro, transferindo o centro de atuação do partido para aquela cidade, ainda que possamos
encontrar em outros lugares alguns núcleos do mesmo. Esses, geralmente, eram formados
de poucos elementos mais intelectualizados vindos da Europa. Bergman teve a preocupação
de atrair e formar grupos de jovens, organizando seções juvenis de apoio à ação partidária
da Poalei Zion. Uma dessas organizações juvenis, talvez a primeira a ter um objetivo e uma
ideologia sionista definidos, formou-se em 1928, sob a orientação do Poalei Zion, no Rio
de Janeiro, com o nome de Hatchia. Desta organização saíram os primeiros chalutzim
(pioneiros) do Brasil, que emigraram à Palestina em 1934. O Hatchia havia se formado
como uma biblioteca independente, quando a tradicional Biblioteca Scholem Aleichem foi
se transformando num centro de atuação dos progressistas, acabando por cair em mãos
deles. Em 1924, antes do Hatchia, já existia no Rio de Janeiro uma organização juvenil de
nome Cadima, que tinha um caráter eminentemente sionista e que se dedicava a campanhas
em prol de fundos nacionais, bem como à atividades de caráter cultural. Essa organização
desapareceu em 1928, dando lugar a outras.
A divisão entre progressistas e sionistas na comunidade daquele tempo
suscitou, às vezes, experiências curiosas, como a de criar um partido de “centro”, como o
foi no caso da tentativa frustrada do Dr. Moisés Rabinovitch com o jornal “Mir um Zei”
(Nós e Eles), de 1930, que teve pouca duração.
Além do Poalei Zion existiram, na década de 30, vários partidos, que vão desde
o Linke Poalei Zion (Operários de Sião de esquerda, fruto de uma cisão havida no Poalei
Zion, em 1920) até o Brit Trumpeldor ou Revisionistas (representando a direita radical no
sionismo) , aliás, bastante ativos em assuntos comunitários e do movimento sionista. Uma
das primeiras manifestações de massa do sionismo no Brasil, com cerca de 2.000 pessoas,
foi realizada no Rio de Janeiro, em 1929, após os ataques árabes aos judeus da Palestina. O
intuito da manifestação era pedir a interferência do governo brasileiro junto à Inglaterra
para que esta tomasse uma posição ativa frente aos distúrbios que estavam ocorrendo na
região.337
No final da década de 30 e às vésperas da Segunda Grande Guerra,
encontramos a comunidade brasileira estruturada com suas organizações básicas prontas
337
A respeito desse acontecimento já escreveu Samuel Malamud no verbete “Zionism in Brazil”, na
Encyclopaedia of Zionism and Israel, vol. 1, Herzl Press and McGraw, N. York, 1971.
167
para atender às suas necessidades nos seus mais variados níveis e aspectos, sejam
econômicos, sociais, culturais e, em parte também políticos. Porém, a mudança política no
Brasil, ocorrida com a ditadura de Getúlio Vargas, provocou uma significativa interrupção
no seu processo de consolidação. Nos anos 1938-41, o governo de Vargas decretou o
encerramento de todas as atividades políticas de estrangeiros e proibiu a publicação de
jornais e revistas em línguas estrangeiras.338
Esse foi um rude golpe para a vida cultural
judaica, bem como para as instituições comunitárias e em particular para o movimento
sionista. Tal situação perdurou até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando em 1945, a
proibição contra as atividades sionistas foi revogada.
A comunidade judia após a Segunda Guerra Mundial – A Segunda Guerra
Mundial deu um grande impulso ao desenvolvimento econômico do Brasil, pois os esforços
de guerra dos aliados necessitavam da colaboração e da matéria-prima do país que, por sua
extensão territorial, era privilegiado em riquezas naturais e estava geograficamente afastado
dos campos de batalha. O grande surto industrial e comercial brasileiro, mais
particularmente o de São Paulo, fez com que os judeus participassem dessa prosperidade
material e se empenhassem ambiciosamente no processo de ascensão econômica.
Paralelamente ao processo de crescimento econômico e material, a comunidade
sofreria uma mudança espiritual profunda ao tomar conhecimento gradativo da tragédia que
havia atingido o judaísmo europeu durante os anos da guerra. O impacto do Holocausto
atingiu profundamente a todos, como indivíduos e como corpo coletivo, provocando uma
nova postura em relação à nacionalidade. O choque foi maior na medida em que o judaísmo
brasileiro- assim como em todo o mundo e em particular na América Latina- não estava
preparado para a enormidade da destruição e da catástrofe, devido à distância geográfica e à
escassez de informações sobre o que acontecera na Europa. Quando despertamos do
pesadelo, a realidade pareceu-nos incomensuravelmente pior do que poderíamos imaginar.
O significado do Holocausto levou anos para ser inteiramente compreendido e a ferida
aberta no corpo da nacionalidade judaica sangrava cada vez mais, desde o momento em que
se tomava ciência do que sucedera. A dor marcou aquela geração que ela própria não havia
passado pelo inferno europeu, e da dor nasceu a disposição pessoal de se entregar à causa
judaica e conseguir, a todo custo, criar um Estado Judeu, para que nunca mais se repetisse
aquela tragédia, única em suas dimensões na história milenar de nosso povo.
A partir de 1945, o sionismo renasceu com ímpeto nunca visto nas ruas
judaicas das cidades brasileiras e foi a mola-mestra na vida comunitária. Ao mesmo tempo,
a luta na Palestina contra o Mandato Britânico, naqueles anos de grande tensão espiritual e
nacional, indicava que grandes coisas estavam para acontecer, sendo impossível ficar
indiferente ao que se passava; ao contrário, era preciso participar ativamente, pois estavam
em jogo grandes decisões históricas que definiriam o destino do povo judeu para sempre.
Grande porcentagem da juventude judia alinhou-se ao redor dos movimentos
juvenis que surgiram em território brasileiro. Possuíam as mesmas características
ideológicas daqueles que existiram na Europa antes da guerra e estavam vinculados aos
corpos partidários que os representavam politicamente nos órgãos e instituições do
movimento sionista, em nível local e nacional. E, a parte da juventude judaica que não
338
A 18 de abril de 1938 foi baixado um decreto-lei que proibia aos estrangeiros qualquer atividade política
sob pena de deportação. No ano seguinte, em 18 de junho de 1939, foi baixado o decreto n. 2277 exigindo que
os jornais e publicações em línguas estrangeiras publicassem ao lado de cada artigo a resepctiva tradução ao
português.
168
estava afiliada aos movimentos juvenis sionistas encontrava-se vinculada a outros
movimentos, entre os quais aqueles de tendência progressista. A polêmica ideológica
interna entre os diversos movimentos juvenis, e entre estes e aqueles que não se
encontravam no campo sionista, naquele tempo, era acirrada pelos acontecimentos
decisivos que ocorriam na Palestina e refletiam a difícil busca de caminhos e as
encruzilhadas políticas que a mediná baderech (o Estado judeu prestes a surgir)
enfrentava, a fim de atingir o seu objetivo final. Viviam-se os dias de chevlei Maschiach,
(das dores de parto que preanunciavam a vinda do Messias) e cada grupo se julgava eleito e
único, legítimo predestinado a ser parteiro da história judia, quando não da história
universal.
Boa parte dos movimentos juvenis judaicos adotaram uma posição definida, e
ao mesmo tempo exigente, em relação à “chalutziut” (pioneirismo) e para tanto criaram
“hachsharot” (centros de preparação) no estilo dos movimentos chalutzianos europeus,
atendo-se estritamente a seus ideais educativos. Nesse tipo de movimento enquadravam-se
o Hashomer Hatzair, Gordónia, Dror-Hechalutz Hatzair. Todos eles surgiram logo após a
Segunda Guerra Mundial, ainda que o primeiro começou atuar ainda nos anos 30, com a
rígida exigência da “hagshamá atzmit” (isto é, a auto-realização), e visavam criar
“kibutzim” (colonias coletivas) próprios na Palestina, mais tarde Israel, para transformar
em realidade o seu sonho nacionalista. Mesmo movimentos como o Betar (Brit
Trumpeldor) daquela época adotaram uma linha chalutziana, embora não tivessem “elan”
ideológico para tanto.
Uma das conseqüências positivas desse renascimento sionista no Brasil foi o
despertar na juventude – filhos dos imigrantes que representavam a segunda geração, já
nascida no Brasil – o interesse intelectual pelo estudo do judaísmo em todas as suas
manifestações, a começar pelo estudo da língua hebraica, bastante estimulado pelo próprio
movimento. A influência desse despertar levou à modificação do currículo das escolas
judaicas tradicionais no sentido de dedicar maior número de horas ao estudo de matérias
judaicas, mudanças cujos resultados positivos seriam colhidos posteriormente. O hebraico
substituíra o ídiche definitivamente, e nas escolas, salvo aquelas dos progressistas, não se
ensinava mais esse idioma. Ao mesmo tempo surgiu uma literatura sobre assuntos judaicos,
escrita em português, língua que servia como veículo de expressão da nova geração, que
não conhecia outra, traduzindo-se obras históricas e literárias do ídiche e do hebraico.
O sucesso dos movimentos juvenis chalutzianos naquele tempo não se deveu
apenas ao fato deles coincidirem com movimentos históricos decisivos para o povo judeu,
mas também a outro fator que encontra sua explicação na situação da sociedade brasileira
em geral. Mais explicitamente, tratava-se da atitude crítica que o movimento juvenil e sua
ideologia sustentavam em relação à sociedade e seus valores, atitude essa que ia de
encontro à natural rebeldia da adolescência e da juventude e da sua sensibilidade em
relação aos problemas sociais que não poderiam deixar de ser percebidos no meio ambiente
em que viviam. Daí a grande atração que a ideologia sionista-socialista exercia sobre aquela
juventude, pois ela sintetizava os sentimentos e os ideais próprios daquela geração.
Nesse ínterim, em fins de 1945, os dois partidos sionistas mais influentes, o
Poalei Zion e os Sionistas Gerais, preparavam o caminho para fundar uma Organização
Sionista Unificada, tendo como base a afiliação individual e não somente a de grupos ou
organizações. Assim foram renovadas as Organizações Sionistas Unificadas nos diversos
estados brasileiros, sendo que, mais tarde, elas seriam representadas na Organização
Sionista do Brasil. Por volta de 1946 criou-se o Comitê Político, que tinha por finalidade
169
mobilizar a opinião pública brasileira em favor do sionismo e, nesse sentido, o Comitê
organizou demonstrações de massas com a participação de judeus e intelectuais brasileiros,
com a finalidade de chamar a atenção para o que se passava na Palestina e receber as
adesões da comunidade, bem como do público brasileiro. Como resultado de tal conjuntura,
organizou-se na época um Comitê Pró-Palestina, formado por intelectuais influentes e de
renome da sociedade brasileira, tais como prof. Ignácio Azevedo do Amaral, presidente do
Comitê. Um de seus membros importantes era o Senador Hamilton Nogueira, identificado
com a causa judaica e seu defensor, aclamado na época pelo discurso que fez no
Parlamento, sugerindo que o Brasil apoiasse a proposta do Presidente Truman para que
100.000 judeus refugiados fossem admitidos na Palestina.
Importante e decisiva foi a intervenção da Organização Sionista do Brasil no
debate que se dava nas Nações Unidas sobre a partilha da Palestina. Esta, através dos seus
membros, e com a ajuda do ministro Horácio Lafer, judeu e membro do governo, conseguiu
que fosse mantido um encontro com o Ministro do Exterior e uma delegação de
representantes dos vários partidos do Parlamento, para que o Brasil assumisse uma posição
favorável à partilha. Do mesmo modo, houve contatos com o representante do Brasil na
ONU, que na ocasião presidia sua Assembléia Geral, o Embaixador Oswaldo Aranha, cuja
atitude de simpatia para com os judeus foi importante para a decisão histórica da partilha.
Até hoje o papel desempenhado pelo representante brasileiro nas Nações Unidas é
lembrado como um gesto que marcou o destino das relações entre Brasil e Israel, ainda que
a realidade política atual seja bem diferente e o Brasil tenha votado, recentemente, junto
com outros países, a favor da moção condenando o sionismo como racismo.
Durante o período que transcorreu, desde 1945 até os dias de hoje, pode-se
dizer que o sionismo fortificou-se do ponto de vista de sua organização interna; que além
dos movimentos juvenis chalutzianos, que forneceram contingentes de imigrantes para
formar alguns kibutzim brasileiros em Israel, também cresceu com a formação de entidades
femininas como a WIZO e as Pioneiras (Pioneer Women), que desenvolveram uma
atividade sionista imensa na coletividade judaica durante todos esses anos. Além do mais,
o contato com Israel e sua cultura aprofundou-se com a presença de enviados daquele país
para auxiliar em vários setores da vida comunitária judaica, e em particular no setor da
educação e na rede escolar judaica. Mas apesar do seu desenvolvimento e das conquistas
realizadas na mobilização da opinião pública brasileira em favor do sionismo no Brasil
entre os anos que se sucederam ao fim da Segunda Guerra Mundial até a criação do Estado
de Israel, e seus primeiros anos de vida, o “período heróico”, o sionismo, posteriormente,
entraria em sua fase de estabilização.
O sionismo na realidade brasileira atual – Antes de analisarmos a situação
atual do sionismo no Brasil, em primeiro lugar cabe esclarecer uma questão que tem-se
levantado em discussões sobre o tema, em Israel ou em outros lugares: freqüentemente
costuma-se falar da América Latina como uma unidade do ponto de vista judaico-
comunitário. Porém, não há nada mais errôneo do que encarar o judaísmo daqueles países
sob um único prisma, tendo uma única história e uma única sociologia. Do ponto de vista
metodológico, toda pesquisa tão generalizadora tende a cometer sérios enganos quanto à
realidade na qual vive e atua o movimento sionista, assim como quanto às condições de
vida nas comunidades judaicas locais. Cremos que o Brasil apresenta características que o
diferenciam da Argentina, que por sua vez, diferencia-se do México ou de qualquer outro
país latino-americano. Pois, mesmo sob o aspecto histórico, em cada país encontramos
diversificantes sócio-econômicos, culturais e políticos. Grosso modo e de imediato,
170
podemos notar as diferenças entre a América Portuguesa (Brasil) e a América Espanhola,
ou ainda, entre a América do Sul e a América Central e suas pequenas repúblicas. Por outro
lado, o estudo da formação de cada comunidade, de seu processo de imigração e
aculturação local, leva-nos a concluir claramente que elas devem ser estudadas em separado
para um melhor conhecimento de sua natureza, assim como para a caracterização de seu
movimento sionista local.
Não é preciso dizer que, em suas origens, o sionismo nasceu no continente
europeu em decorrência de uma realidade judaica que não encontramos na América Latina,
e particularmente no Brasil. Mas, como vimos acima, o sionismo foi transportado, poder-
se-ia dizer, como uma herança cultural dos judeus imigrantes do Velho Continente e
também como parte da própria história moderna do nosso povo, a qual incorporou-se à
vivência do judeu identificado.
Se o sionismo encontrou um solo fértil e seu apelo foi atendido, ele o foi na
medida em que o judeu se identificava com o destino do seu povo e na medida em que a
própria história o levava a despertar para a procura de uma solução para a difícil situação
em que se encontrava como minoria nacional entre as nações. Assim sucedeu na Europa
em vários lugares e em vários tempos, até a grande catástrofe do Holocausto. Mas o
“sionismo catastrófico” pouco sentido tinha, e tem, num país como o Brasil, onde não
chegou a enraizar-se um movimento anti-semita e ameaçador, tanto no passado como no
presente, ainda que o anti-semitismo revele seu semblante, vez por outra, aqui e acolá. Está
claro que para aqueles que estudam a sociedade brasileira e o regime que a caracteriza,
nada impede que haja mudanças bruscas na sua aparente “estabilidade”, determinada em
boa parte pelo fato de haver um grande surto econômico, e por outro lado, pelo fato dela se
apoiar num regime politicamente forte. Se em outros lugares do continente ocorreram, por
vezes, mudanças bruscas e suas conseqüências fizeram-se sentir sobre as comunidades
judias, nada impede que o mesmo possa ocorrer no Brasil, pelo menos como uma hipótese
teórica que podemos aventar. Mas tal linguagem, muitas vezes empregada pelos
profissionais do movimento sionista no Brasil, não encontra muito eco nos corações dos
judeus locais, pois o cotidiano, com toda sua força, anula facilmente o efeito de tais
“profecias”. Até mesmo a lembrança do Holocausto apagou-se da memória da nova
geração e não tem para ela nenhum significado existencial mais profundo, além do
lamentável fato de muitos terem pouco conhecimento sobre o que se passou durante a
Segunda Guerra Mundial.
Portanto, as análises e os prognósticos feitos pelos adeptos do sionismo
“catastrófico” não podem servir como alimento ideológico para a nova geração judia, pela
simples razão que se sentem bastante integrados na sociedade brasileira, a ponto de repetir
os slogans tradicionais sobre a capacidade de “integração e assimilação dos estrangeiros”
na terra brasileira, que foi essencialmente formada por imigrantes, ou ainda outros sobre
sua “gente boa que é incapaz de um gesto discriminatório, seja em relação ao negro ou em
relação a outro indivíduo qualquer”, como costumamos ouvir.
Portanto, o chamado ao sionismo e do movimento sionista deve ser diferente
do acima mencionado. Além do mais, o período que atualmente o Brasil está vivendo é um
período de regime centralizador e, em boa parte, otimista em relação ao futuro da nação e
sua posição política no continente; fortifica-se, assim, o sentimento de que nada poderá
abalar a segurança dos judeus. O atual nacionalismo brasileiro é estimulado
deliberadamente pelo governo através de uma campanha intensa e sistemática, onde todos
os meios de comunicação são requisitados; esse nacionalismo não se mostra xenófobo em
171
relação às suas minorias nacionais, mas apela para uma participação ativa nos problemas do
país. Nesse sentido, o sionismo poderá ser encarado como uma questão de dupla fidelidade
por parte dos judeus e, ultimamente, algumas manifestações próximas a essa interpretação
apareceram na imprensa, ainda que expressas como opiniões individuais, ao se tratar da
questão da posição do Brasil frente ao conflito no Oriente Médio.
Nos últimos tempos, tais opiniões têm recebido o estímulo de uma política
governamental voltada ao mundo árabe. Obviamente isso se deve a interesses econômicos
que o país em desenvolvimento sustenta em relação a certos produtos de exportação,
alimentando a esperança de conquistar o mercado árabe, africano e do Terceiro Mundo em
geral. Por outro lado, a política petrolífera árabe em relação a um país que depende desse
produto para sua sobrevivência leva à submissão moral, que, embora criticável, é, na
realidade inevitável. Ademais, a propaganda árabe, que por vezes penetra por vias indiretas,
causou a divulgação de idéias antijudaicas e anti-sionistas, segundo modelos conhecidos em
outros lugares, mais precisamente na Argentina, que serve de centro estratégico para tais
atividades na América do Sul.
O anti-semitismo, que, normalmente, foi repudiado pelo brasileiro médio e
esclarecido, não deixou de existir isoladamente em grupos de direita e de esquerda,339
e,
nesses últimos tempos, a “nova esquerda” mescla, consciente ou inconscientemente,
argumentos anti-semitas quando assume uma postura crítica e de condenação do sionismo e
de Israel, aliado aos estereótipos de ser reacionário e joguete do “imperialismo”. Essa
posição da “nova esquerda” caracteriza hoje, em geral, a visão assumida pela classe
estudantil e certa intelectualidade, que tende igualmente a encarar – em nível nacional – os
judeus como identificados com o regime dominante, devido a sua posição classista e ao seu
nível econômico- novamente um estereótipo que a realidade contradiz.
Sob esse aspecto, o movimento sionista no Brasil e a comunidade judaica em
geral enfrentam hoje uma situação em que o estudante universitário judeu, influenciado
pelo clima ideológico reinante nas universidades do país, acaba assimilando a mesma
convicção da esquerda sobre Israel e o nacionalismo judaico. Ultimamente, o abismo
existente entre o que essa juventude universitária judaica chama de “establishment
comunitário”, ou seja, a liderança sionista que está à testa das entidades ou instituições
comunitárias durante muitos anos sem se renovar, tem se aprofundado cada vez mais,
passando a ser um sério motivo de preocupação por parte daqueles que acompanham de
perto a vida comunitária.
Na verdade – e ainda que seja doloroso dizê-lo – o movimento sionista não
encontrou até agora o caminho certo para enfrentar o grande desafio da juventude
universitária, cuja crítica radical leva a encarar com suspeita e desprezo toda atividade
comunitária, como se fosse uma ocupação de “burgueses” alienados da realidade social
brasileira. Tais conceitos têm sido expressos em debates públicos organizados e dirigidos à
juventude judaica.
Assim sendo, podemos falar em dois tipos de assimilacionismo. O primeiro, já
mencionado acima, é aquele caracterizado pela vontade do judeu de integrar-se à sociedade
que o rodeia, tendo em vista uma ascensão econômica e social, que é facilitada pela quebra
de barreiras culturais e religiosas. Mas nesse caso não é obrigatório que a sua identidade
339
O movimento integralista no Brasil, que teve certa influência em certos círculos intelectuais e políticos na
década de 30, propagou idéias anti-semitas inspiradas no nazi-facismo europeu, através de seu porta-voz
Gustavo Barroso.
172
judaica desapareça pois não há nenhuma relação direta entre o nível socio-econômico de
que desfruta o judeu e sua identificação nacional-religiosa. O segundo, que a nosso ver é
mais perigoso e destrutivo, é aquele cuja base é a negação do judaísmo e de seus valores em
nome de pretensos ideais de transformações sociais universais, como se ambos fossem
excludentes. A história do sionismo já conheceu na Europa, há muito tempo, esse tipo de
formulação dicotômica, e sabemos muito bem que os teóricos do sionismo socialista
preocuparam-se em eliminar as contradições aparentes que atormentavam as gerações
anteriores.
Berl Katzenelson lembra, com muita ênfase, na sua história do movimento
obreiro judeu (volume 11 de seus escritos, na edição hebraica ), como parte de sua geração
acabou atirando-se nos braços da “Grande Revolução”, ou seja, a Revolução Russa, que por
sua vez, acabou atraindo muitos da “pequena revolução”, ou seja, o nacionalismo judaico
que aspirava criar um Estado próprio na Palestina. Aparentemente, estamos assistindo no
meio da juventude judaica o retorno da velha discussão que se traduz em uma postura
assimilacionista apoiada em ideologias de esquerda, mas que não se diferencia de outro
assimilacionismo qualquer.340
O fato é que o movimento juvenil judaico tradicional já não
possui a força de outrora, e o seu total esvaziamento leva o estudante judeu a procurar
satisfazer suas inquietudes em associações ou grêmios de caráter geral. É claro que o
contato entre jovens judeus e não-judeus, em um país onde não encontramos uma manifesta
discriminação ou preconceitos em relação às minorias nacionais ou religiosas, constituindo-
se numa sociedade multicultural e aberta, apresenta uma outra face, que é a do melting-pot
onde as diferenças de identidade nacional se anulam e na qual abre-se uma via para o
casamento misto, que cresce numa proporção assustadora entre os membros da nova
geração, perplexa e insegura frente a um mundo em mudança.
Sem pretendermos entrar a fundo na questão341
, antes de finalizarmos devemos
fazer ainda algumas considerações em torno do sionismo como ideologia, assim como é
visto pela diáspora brasileira e por boa parte daqueles que se sentem identificados com o
movimento. Aos olhos da maioria, na verdade, o sionismo passou a significar mais um
movimento de identificação política e prática com o Estado de Israel e seus problemas
diários e, não mais a velha aspiração maximalista de solucionar a “questão judaica” através
da “redenção” (gueulá) resolvendo desse modo o problema de seu destino histórico-
nacional, tal como foi formulado por pensadores em seus primórdios. A atuação sionista
após a criação do Estado Judeu, no turbilhão dos problemas que se apresentam com sua
própria existência política , deixaram no esquecimento e ofuscaram as grandes causas, o
leitmotiv e as raízes ideológicas do movimento. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário
lembrar, revelar e divulgar suas raízes e fundamentos, o que exige do próprio movimento a
criatividade indispensável para formar novos marcos educativos apropriados visando esse
objetivo. Em outros termos, se hoje nos encontramos diante da necessidade de uma revisão
espiritual e de uma adaptação dos valores do pensamento sionista tradicional, por outro
lado, temos a obrigação de transmitir fielmente a herança deixada pelos fundadores do
340
Ultimamente, com a abertura democrática, ocorrida um pouco antes e após as eleições de 1978, tais
discussões passaram a ser mais públicas e frequentes. 341
Uma das tentativas mais significativas para o estudo crítico da diáspora foi feita com a realização dos
seminários no Beit Hanassi (Casa Presidencial) sob a epígrafe de The Continuing Seminar on World Jewry
and the State of Israel, em jerusalém, sob a orientação do Prof. Moshe Davis. Também o judaismo latino-
americano foi estudado por especialistas interessados nessa área.
173
movimento, uma vez que, nas circunstâncias em que vivemos, precisamos, no que diz
respeito à nova geração, começar freqüentemente do próprio começo.342
342
Um passo positivo dado pela Organização Sionista Mundial foi a criação, nos últimos anos, dos
Seminários de liderança em alguns países da América Latina, inclusive o Brasil.
174
20. História Oculta: como se lutou para a criação do Estado de Israel
A década de 40 foi particularmente marcante para o povo judeu e, na vida das
nações contemporâneas, pelos acontecimentos que serviram de turning point em seu
destino e trajetória histórica. A Segunda Guerra Mundial e a conseqüente destruição das
comunidades judaicas da Europa fortaleceram a convicção e confirmaram a necessidade da
criação de um Estado judeu que o movimento sionista organizado vinha apregoando desde
o século XIX.
As vicissitudes do movimento nacionalista judeu, com derrotas e vitórias,
desde que adotou o caminho da luta política para o seu reconhecimento e para que sua
bandeira fulgurasse junto à das demais nações, constituiu-se numa saga sem precedentes
durante décadas, desde o Congresso de Basiléia de 1897. O sionismo tornou-se uma força
criativa e transformadora do espírito de um povo submisso às leis e à ordem de governos e
poderes que apenas toleravam – quando toleravam – os filhos de Israel. Aos poucos, e
simultaneamente com a colonização da terra de seus antepassados, o nacionalismo judaico
provocou o renascimento da língua hebraica, instituiu uma formidável rede educacional,
gerou uma nova literatura e tornou multidões produtivas, o que alterou, em boa parte, sua
própria estrutura social. A diáspora assumiu a consciência de sua transitoriedade e passou a
mobilizar-se para realizar o que até então era apenas “saudades de Sião”.
Os anos que antecederam a formação do Estado – e me refiro aos anos
cruciais da última grande guerra e seus trágicos resultados – foram decisivos na história
política sionista, pois exigiram uma grande estratégia que envolvia esforços em várias
frentes de combate.
De um lado, a grande tarefa de expulsar da Palestina o domínio britânico com
o seu Mandato, que, em dado momento, revelou sua face imoral em relação à imigração
“ilegal” dos sobreviventes da guerra na Europa. Além do político, esse esforço também se
expressou no plano militar, que recrudesceu enquanto teve que enfrentar o agressivo
nacionalismo árabe, cada vez mais inconformado com a visível perspectiva do surgimento
de um Estado judeu na região.
De outro lado, a hora exigia um grande esforço de arregimentação espiritual e
material, na Palestina e na diáspora, pois se sabia ser o momento singular para o retorno da
soberania perdida há dois mil anos. As comunidades judias fervilhavam ideologicamente e
os matizes do partidarismo judaico europeu, que haviam se definido muito tempo antes,
foram transportados também para as Américas. Dessa forma, a chamada “rua judaica” dos
centros urbanos do país, de norte a sul, vivenciava forte tensão frente a expectativa de se
cumprir um sonho milenar, expectativa essa que se repetia, em boa parte, nas comunidades
de outros continentes, refletindo correntes políticas que abrangiam concepções extremadas
de direita e esquerda, passando por posições moderadas, com todas as suas nuanças. Desde
as primeiras décadas do nosso século, o Brasil tinha um movimento sionista organizado.
O surgimento de associações sionistas assim como dos movimentos juvenis
judaicos, que representavam as alas jovens dos partidos políticos tradicionais, foram, em
boa parte, fruto dessa mesma expectativa naqueles anos. Dror, Haschomer, Hatzair, Betar,
Hanoar Hatzioni, Benei Akiva e outros agrupamentos estavam tomados pela atmosfera,
verdadeiramente messiânica, quanto ao desenlace que as ideologias sionistas previam para
aqueles anos. Além das tentativas feitas por certas personalidades em obter o apoio político
oficial do governo brasileiro à causa sionista, sobre a qual falaremos adiante, a participação
175
efetiva da comunidade brasileira se deu com o incentivo à imigração a Eretz Israel que os
agrupamentos juvenis chalutzianos empreenderam dirigindo-se para kibutzim e outras
formas de colonização agrícola. Verdade é que já em 1932, membros do movimento juvenil
“Hatchia”, existente no Rio de Janeiro e precursor do Dror, partiram para a Palestina e se
integraram à sua colonização agrícola.
Além do mais, as campanhas de ajuda à imigração dos sobreviventes do
Holocausto, ao futuro Estado judeu e para a compra de armas para a guerra, que
inevitavelmente eclodiria logo após a proclamação do Estado judeu, em maio de 1948,
encontraram eco favorável dentro das comunidades brasileiras, assim como em todo o
judaísmo mundial.
Essas campanhas promovidas por instituições locais tinham, de fato,
orientação e o estímulo de representantes do movimento sionista mundial, da Agência
Judaica e de organizações filantrópicas e assistênciais como o Joint e a Hias, que
desempenharam um papel vital no resgate, salvação e reconstrução da vida judaica onde se
fazia necessário.
Enviados especiais do movimento sionista, com sua retórica inflamada,
atraíam multidões ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O mesmo ocorria nos salões das
principais cidades brasileiras. Escritores e intelectuais judeus da Argentina, entre eles
Alberto Gerchunoff, Leo Halpern, Moisés Senderey, bem como de outros países, visitavam
o Brasil numa campanha de esclarecimentos dos ideais nacionalistas entre os seus colegas
não-judeus.
As campanhas de defesa, em nome da Haganá, tiveram um efeito aglutinador
enorme ante a multiplicidade de partidos e associações com ideologias contrárias umas das
outras. Basta lembrar que o impacto causado na opinião pública pelo martirológio judaico
mundial ainda estava muito presente nas multidões que se reuniam nos grandes comícios
promovidos nas cidades brasileiras, em particular em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre, que aglutinavam verdadeiras multidões. Foi quando o “Poalei Sion” (Operários de
Sião), os “Alguemeine Zionistn” (Sionistas Gerais), o “Heirut”, e mesmo os assim
denominados “Progressistas” e outros grupos nem sempre exatamente definidos como
sionistas, mas com um orgulho judaico que o momento histórico despertava, estavam
irmanados pelas mesmas esperanças e aspirações de soberania política do povo judeu.
A vida partidária e a disputa ideológica haviam criado órgãos de imprensa que
serviam de veículo às concepções dos múltiplos agrupamentos judaicos, que tinham sido
silenciados oficialmente pelo governo brasileiro, em 1941, o qual proibira a publicação de
periódicos em língua estrangeira. Restaram, naqueles anos, poucos jornais judaicos em
língua portuguesa, que assumiram um papel importante na divulgação dos acontecimentos
internacionais e pela informação do que se passava nas diversas comunidades espalhadas
por todo o país.
Em São Paulo, sob a orientação do Dr. Alfred Hirscheg, tivemos a “Crônica
Israelita”, além de alguns boletins partidários incluindo-se entre eles o da Organização
Sionista Unificada. Após 1945, no Rio de Janeiro, impôs-se a revista “Aonde Vamos?”,
fundada em 1943 pelo combativo e incansável Aron Neumann, que soube colocá-la à
disposição de todos aqueles que atuavam nas associações comunitárias. Também em Porto
Alegre e Curitiba boletins locais serviam como informativos e formadores de opinião.
A imprensa brasileira, que naqueles anos estava pouco preparada para
entender o que se passava no Oriente Médio e a questão da Palestina, afundava num mar de
desinformação, confundindo seus leitores com uma avalanche de notícias desencontradas.
176
Essas eram muitas vezes manipuladas por mãos invisíveis, ou bem visíveis, dos partidários
da visão pró-árabe sobre a questão, o que tornava a imprensa judaica um instrumento vital
de informação para as comunidades.
Já em 1947 estabeleceu-se um “Comitê Pró-Haganá”, sob a orientação da
Organização Sionista Unificada do Brasil, que ressurgira em 1946, após a queda da
ditadura de Getúlio Vargas, período em que tivera de encerrar oficialmente suas atividades.
O Comitê reunia representantes de todos os partidos que se identificavam com o
nacionalismo da época. Formou-se também, em 1947, um Comitê Brasileiro Pró-Palestina,
para informar a opinião pública brasileira e obter o apoio do Brasil na votação da
Assembléia da ONU, que deveria aprovar a partilha da Palestina e a criação de um Estado
judeu, em 29 de novembro de 1947. O movimento sionista atuava junto aos governos dos
países-membros das Nações Unidas para conseguir obter os votos da maioria, o que iria
coroar décadas de luta política e de realização colonizadora na Palestina. Nesse sentido,
formou-se um Comitê Mundial Pró-Palestina. O Comitê brasileiro, afiliado ao Comitê
Mundial e em contato com outros dos países da América Latina com o mesmo objetivo, foi
decisivo na histórica sessão da Assembléia da ONU presidida por Oswaldo Aranha.
O Comitê Brasileiro Pró-Palestina era composto por homens ilustres, como o
prof. Inácio Azevedo do Amaral, reitor da Universidade do Brasil, o senador Hamilton
Nogueira, homem de destaque nos meios católicos; intelectuais, jornalistas e políticos,
como José Lins do Rego, Celina Padilha, Maria Luiza Azevedo Cruz, Flora Possolo, Eloi
Pontes, Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, Carlos Luiz de Andrade Neves,
Deputado Carlos Vergal, Tito Lívio de Santana e outros. O seleto grupo que o formava não
se limitou a discursos. Imbuído da importância de sua missão, passou a uma opção prática
de esclarecimento editando um boletim e ampliando o número de adesões para a causa
sionista em todo o país. Na ocasião, deveria realizar-se uma Conferência Interamericana
dos Ministros de Relações Exteriores, com a presença de representantes de todo o
continente, ocasião em que o Comitê Brasileiro poderia influir e prestar um serviço
relevante junto aos delegados presentes. Ao mesmo tempo, poucos meses antes de
novembro de 1947, procurava-se conquistar o apoio dos partidos políticos no governo e
compor uma delegação para dialogar com o Ministro do Exterior Raul Fernandes sobre a
posição brasileira em relação à questão palestina.
O resultado final da votação na ONU foi favorável à criação do Estado judeu.
A aprovação final lançou novos desafios ao povo judeu logo após o ato de proclamação de
sua independência e afirmação de sua soberania sobre o território que lhe coube na partilha,
em 14 de maio de 1948.
Porém iniciava-se uma nova fase devido a invasão e os atos bélicos encetados
pelos Estados árabes contra o seu novo vizinho, sendo que e as conseqüências dessa Guerra
de Independência mudariam significativamente o panorama político da região até os nossos
dias. Tratava-se de um duelo de vida e morte que decidiria a existência de Israel e que,
novamente, implicava a ajuda concreta de toda a diáspora e da comunidade judaico-
brasileira. Podemos afirmar, com segurança, que nesse capítulo pouco conhecido, e que, em
parte, permanece oculto para a história contemporânea, a comunidade não decepcionou.343
343
O autor publicaria o livro “Manasche, sua vida e seu tempo, ed. Perspectiva, São Paulo, 1996, no qual
apontaria o papel da comunidade judio-brasileira na mobilização de fundos para defesa do Estado de Israel
durante a sua guerra de Independência.
177
21. Prefácio à brochura “Osvaldo Aranha”
Passados são muitos anos desde que a sessão histórica da Assembléia das
Nações Unidas, presidida pelo estadista Oswaldo Aranha, aprovou a resolução de criar de
um Estado Judeu na Palestina. A atuação do eminente brasileiro para que surgisse o atual
Estado de Israel gravou-se nos anais da história milenar do povo judeu e será lembrada
pelas gerações presentes e futuras com um eterno sentimento de gratidão. Sem dúvida,
Oswaldo Aranha já faz parte da história judaica e é personagem central de um de seus
capítulos decisivos, o que justifica plenamente a publicação de sua biografia pela Federação
Israelita do Estado de São Paulo, sob a iniciativa de seu presidente, Dr. José Knoplich.
A bem da verdade, ainda resta muito por fazer sob o aspecto da pesquisa
histórica relativa ao período de atuação de Oswaldo Aranha como Ministro do governo de
Getúlio Vargas, que adotou uma postura negativa em relação à imigração judaica no Brasil
no período do Estado Novo.
Sabemos que o todo-poderoso Presidente, naqueles anos sombrios, inclinava-
se claramente a um filogermanismo comum a muitos governos sul-americanos. O
militarismo alemão era muito apreciado e muitas vezes compartilhado com entusiasmo
pelos círculos militares em nosso continente e, portanto, não é de estranhar que também
assimilassem o vírus anti-semita apregoado pela ideologia nazista desde sua ascensão na
Alemanha, entre as duas guerras mundiais.
No Brasil, a introdução de idéias e preconceitos antijudaicos se intensificou
com a expansão do integralismo, que endossou conceitos do pensamento político
nazifascista europeu. A Alemanha chegou a dar o apoio direto e o estímulo, através de
agentes e organizações nazistas locais, à difusão do anti-semitismo em nosso país, assim
como em outras partes do continente. Nas colônias de fala alemã no sul do Brasil,
associações e partidos ostentavam abertamente sua identificação com a ideologia
nazifascista e sua aspiração de criar uma Nova Ordem. Por outro lado, enquanto o Brasil
não se definiu a favor dos Aliados durante a II Guerra Mundial, tais elementos recebiam o
apoio tático do governo getulista, que empregava em sua política a figura tétrica de Filinto
Müller, que perseguiu e entregou à Gestapo Olga Benário, cuja morte certa não seria difícil
de prever na sua condição de judia e comunista. Porém, quem se importaria naqueles
tempos por uma “judia comunista”, quando, logo após, o governo vedava o ingresso de
uma imigração judaica, ameaçada na Europa, através de circulares secretas assinadas e
emanadas do gabinete do Ministério de Relações Exteriores? O teor dessas circulares, que
publicamos em outro lugar344
, não deixa margem a dúvidas sobre sua orientação
discriminatória quanto à imigração que ela deveria acolher. O nome Aranha assina esses
documentos, mas não podemos estabelecer com exatidão quem os inspirou, pois a
atmosfera xenófoba e pró-nazista vinha impregnando os círculos governamentais e aquele
Ministério, anos antes de o mesmo assumir sua direção, e na prática ela se fazia presente
desde a ascensão do ditador gaúcho ao poder.
344
Estudos sobre a Comunidade Judaica no Brasil, ed. Fed. Israelita do Est. de São Paulo,
São Paulo, 1984, pp. 50-54.
178
O jornalista e escritor Fernando Morais, que publicou recentemente a
magnífica e comovente biografia de Olga Benário Prestes, retratará a atmosfera anti-semita
predominante no Ministério das Relações Exteriores, presidido pelo Ministro José Carlos
de Macedo Soares, e a descarada intimidade de seu embaixador em Berlim, José Joaquim
Moniz de Aragão, com o serviço secreto alemão e com a Gestapo, que lhe forneceram os
elementos de identificação de vários comunistas alemães que atuaram na intentona de 1935,
incluindo os de Olga, que na expressão do embaixador, “é de raça israelita”. No informe,
dirigido ao seu Ministro, o embaixador brasileiro faz questão de relatar que ele tem
“...procurado exercer uma severa vigilância no serviço de vistos em passaportes de
viajantes que se destinem a portos brasileiros. Na maioria, esses indivíduos são judeus e se
apresentam como turistas, exibindo passagens de 1.ª classe e certificados bancários, quase
todos concedidos pelo Iwria Bank, desta capital. Deve ser considerado que as aludidas
passagens são, na maioria dos casos, tomadas em vapores franceses, cujo custo é inferior
ao que cobram as companhias alemãs de navegação para a classe única ou mesmo de
segunda classe. É estranhável que certos indivíduos, mesmo sendo sapateiros, alfaiates,
marceneiros etc., se intitulem genericamente comerciantes e pretendam ser considerados
como turistas, e embora exibam passagens de ida e volta, não consta que nenhum deles
tenha regressado do Brasil. Nessas condições, tratei de saber exatamente detalhes sobre o
Iwria Bank, e pela investigação procedida posso afirmar que se trata de um banco israelita
bastante suspeito, pois parece se ocupar principalmente dos interesses financeiros dos
proprietários e profissionais israelitas que aqui residem. Não há dúvida de que esse banco
tem agido ilegalmente, facilitando a evasão de capitais de judeus para o estrangeiro, e há
fundada suposição de que também opere no sentido de transferir dinheiro para a
propaganda comunista, principalmente da Tchecoslováquia e possivelmente para outros
países.
Nessas condições, determinei, e espero merecer aprovação de Vossa
Excelência, que nosso Departamento Consular não mais aceite garantias bancárias
daquele estabelecimento. Rogo a Vossa Excelência levar o que precede ao conhecimento
de nossas autoridades competentes, salientando o caráter estritamente confidencial com o
qual me foram transmitidas as aludidas informações”.345
Nada mais eloqüente do que esse
documento para expressar o ranço anti-semita, naquele tempo definido pelo binômio “judeu
comunista”, que infestava toda a nação, atingindo também os órgãos de imprensa a favor ou
mesmo contra o governo do ditador Vargas, que não se importava de ter como auxiliares de
Filinto Müller torturadores nazistas, vindos da Alemanha para colaborar com a política
brasileira.
Era o tempo lúgubre da deportação de uma menina de 17 anos de nome Genny
Gleizer e também do fantasioso plano Cohen, que justificou a criação e os desmandos do
Estado Novo. “Judeus comunistas”, mesmo quando não eram, nem um e nem outro,
justificaram, ou melhor, deram o argumento para a torpe orientação governamental em
relação à política imigratória referente a judeus, que mostrava bem quão nefasta era a
influência do Mein Kampf em nosso meio.
Mas os tempos mudaram, ainda que jamais possamos esquecer a tragédia que
se abateu sobre o judaísmo europeu e a indiferença ou a frieza com que vários governos
345
Morais, F., Olga, Ed. Alfa-Omega, São Paulo, 1985, p. 173.
179
sul-americanos trataram o assunto da imigração judaica naqueles anos em que o destino de
milhões de seres humanos estavam selados. Quanto um gesto de humanidade poderia ter
salvo centenas ou milhares, sem a necessidade de comprarem a peso de ouro um salvo-
conduto para continuar vivendo.
O nome de Oswaldo Aranha, que foi a figura central na lembrada votação na
Assembléia das Nações Unidas, está associado ao membro da delegação brasileira que
participou naquele momento histórico da criação de um Estado Judeu: o senador Álvaro
Adolfo da Silveira, que, segundo vários testemunhos, foi particularmente ativo na
articulação do apoio de certos países latino-americanos à votação favorável às aspirações
do movimento sionista. Não será demais repetir o que já escrevemos em outro lugar ao
falarmos do major Eliezer Levy, que nas primeiras décadas de nosso século, difundiu entre
os judeus do norte os ideais sionistas, fundando associações e um jornal, em 1918, com o
nome de “Kol Israel” (A Voz de Israel), que era preparado no escritório de advocacia
compartilhado pelo major Francisco Jucá Filho, procurador geral da República, e Álvaro
Adolfo da Silveira, na cidade de Belém do Pará.
Segundo testemunhos que temos em mãos e o próprio depoimento do senador
aos filhos do major Eliezer Levy, que veio a falecer em janeiro de 1947, ele, na hora da
votação para o estabelecimento do Estado Judeu, sentiu que conhecia minuciosamente
aquele assunto, sem se lembrar como e por quê. Então, parou para refletir, fez uma
retrospectiva de onde provinha estar por dentro desse caso e, como em um filme, em sua
mente (palavras textuais de Álvaro Adolfo ditas aos filhos de Eliezer Levy) passou a
lembrança do seu escritório da rua 13 de Maio, onde Eliezer Levy trabalhava com ardor
patriótico e a convicção inabalável de ver concretizada a fundação do Lar Judaico. Álvaro
Adolfo aí enfrentou a luta com o mesmo entusiasmo do amigo daquela época, atirando-se
ao trabalho com mais intensidade, como coordenador que era da votação, e pôde, assim,
descobrir que três países iam votar contra; pediu a Oswaldo Aranha que suspendesse a
sessão e, após vários dias de trabalho na conquista dos adversários, conseguiu dobrá-los.
Continuada a votação, o resultado foi mais dois votos favoráveis e um em branco, o que
levaria a criar a maioria necessária para a formação do Estado Judeu.
A narrativa acima é confirmada em um aparte na Câmara dos Deputados do
Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1973, feito pelo Dr. João Menezes, sobrinho e filho de
criação de Álvaro Adolfo da Silveira e seu sucessor no escritório de advocacia e no Partido
Social Democrático. João Menezes, em seu aparte no discurso do deputado Rubem Medina,
disse que “o Pará tem ligação com a criação do Estado de Israel. Revelo o fato neste
instante, ao plenário da Câmara, para que faça parte do esplêndido discurso de V. Exa. O sr.
Álvaro Adolfo da Silveira, ex-senador pelo Estado do Pará, foi o homem que, em
companhia de Oswaldo Aranha e designado por ele, coordenou a votação da criação do
Estado de Israel. Há um fato interessante em tudo isso. Quando voltava das Nações Unidas,
Oswaldo Aranha, em trânsito em Belém do Pará, recebeu homenagem das mais carinhosas
da colônia israelita, que lhe ofereceu uma corbeille de flores em reconhecimento do
trabalho que havia feito. No discurso de agradecimento declarou aos israelitas do Pará que
cometiam grave erro: aquela homenagem deveria ser tributada ao senador Álvaro Adolfo da
Silveira, o homem que havia coordenado tudo na ONU para a criação do Estado de Israel.
Este é o aparte que desejava dar, com as minhas homenagens àquele grande povo”.346
346
Depoimento escrito fornecido ao autor pela escritora Sultana Levy Rosenblatt, residindo atualmente nos
Estados Unidos.
180
Contudo, e apesar de nossas observações, devemos destacar que o trabalho do
Dr. Moysés Eizerik passa a ter uma importância especial para a nova geração, que apenas
ouviu menções passageiras sobre Oswaldo Aranha e sua atuação política no âmbito
nacional e internacional, sem ter tido a oportunidade de conhecer mais de perto sua rica e,
ao mesmo tempo, controvertida personalidade histórica.
181
22. Crônica do Judaísmo Paulista
Até há bem pouco tempo, acreditava-se que a comunidade judaica de São
Paulo tivera início com a imigração vinda da Europa Oriental nas primeiras décadas de
nosso século347
. Mas, à medida que se pesquisa e aprofunda os conhecimentos sobre a
história dos judeus no Brasil, verifica-se que a presença dos correligionários em terras
paulistanas, ainda que posterior à da comunidade do Rio de Janeiro, remonta também ao
século XIX.
Na verdade, pode-se falar em comunidade organizada, o que é bem diferente da
presença individual de judeus, em São Paulo, como algo já existente nos fins daquele
século, pois sabe-se, através de notícia publicada no periódico francês “Archives Israélites”,
de 1897, que os israelitas, imigrantes da Alsácia-Lorena e de outros lugares, constituíram-
se em comunidade por iniciativa do senhor Worms.348
Além do mais, tal comunidade
providenciava a vinda – diz a notícia – de um schoichet (magarefe) da Hungria, de nome
Salomão Klein, que também exerceria funções rabínicas, incluindo a orientação sobre
cashrut (alimento de acordo com os preceitos judaicos) e o culto propriamente dito. Com
otimismo, o periódico comunicava, também, que já existia um açougue casher funcionando
ad hoc, e que as autoridades ou o presidente do Estado haviam autorizado a criação de um
cemitério particular para a comunidade judaica, que estava em franco desenvolvimento.
Lamentavelmente, nada se sabe desse cemitério, nem sequer onde se localizava. Por outro
lado, sabe-se que, a partir de 1870 aproximadamente, atuava na comunidade de São Paulo,
como rabino, Samuel da Costa Mesquita, cuja lápide encontra-se no Cemitério dos
Protestantes.349
Mas, da comunidade alsaciana do século passado, nada restou.
CHEGADA PELO INTERIOR
A atual estrutura comunitária de São Paulo, tal como a conhecemos hoje em
dia, com suas instituições de beneficência, culturais, esportivas e sociais, é fruto da
imigração deste século, seja ela provinda da Europa Oriental, dos países do Oriente Médio,
da África do Norte ou da Europa Central. Em parte, os imigrantes dos países da Europa
Oriental começaram a chegar em São Paulo via cidades do interior e, principalmente, de
Franca, onde, desde o fim do século XIX, encontravam-se famílias judias ali radicadas. São
essas as velhas famílias da comunidade paulista que desempenharam, ao lado dos
moradores que vieram diretamente à Capital, um papel primordial na formação das
primeiras instituições judaicas, assumindo responsabilidades de toda natureza para permitir
a acolhida decente dos seus irmãos que vinham em busca da sorte na nova pátria. Entre eles
estavam os Tabacow, os Klabin, os Nebel, os Soibel, os Teperman e vários outros.
Pioneiros também na vida econômica da futura grande metrópole, da megalópole
347
Mesmo estudiosos, como Meyer Kutchinsky, tinham noção errônea acerca da imigração moderna ao
Brasil, como se pode verificar em seu estudo “Dos literarische schafen fun yidin in Brazil”(A criação literária
dos judeus no Brasil) , Argentiner YWO Schriften, B.A., 1945, pp. 189-197. 348
Não sabemos exatamente de que membro da importante família Worms se trata. 349
A respeito dos cemitérios de São Paulo vide de Egon e Frieda Wolff, Sepulturas de Israelitas II, Cemitério
Comunal Israelita, Rio de Janeiro, 1983.
182
incontrolável, geraram, na sociedade brasileira local, atitude de respeito e dignidade em
relação ao nome “judeu” ou “israelita”, coisa que nem sempre aconteceu em outros lugares.
Jacob Schneider, que marcou capítulo fundamental na história do sionismo do
Brasil, narra, em suas “Zichroines” (Memórias), que, ao sair da Bessarábia, dirigiu-se
diretamente à cidade de Franca, onde sabia viverem judeus aparentados seus, e onde foi
calorosamente acolhido, isso em 1903, pela família Tabacow, da qual recebeu ajuda para
dar seus primeiros passos no país.350
Entre as poucas fontes que restaram para o estudo da
vida judaica nos primeiros anos ou décadas de nosso século, encontra-se o periódico “A
Columna”, publicado no Rio de Janeiro nos anos de 1916-1917 pelo eminente professor
David José Perez, e é ali que podemos encontrar notícias sobre a comunidade paulista, bem
como sobre suas instituições naqueles anos. Em artigo publicado no órgão acima
mencionado, em 1916, que leva o título “Impressões de São Paulo”, o carioca e presidente
da primeira Organização Sionista no Rio de Janeiro, Max Fineberg, falando da comunidade
judaica da cidade que acabara de visitar, disse: “Tenho para mim que as instituições que lá
encontrei, ainda que menos numerosas que as do Rio de Janeiro, são, ao menos na
aparência, melhores e mais belas” e “a vida israelita de lá é mais interessante do que aqui.
Os nossos correligionários não pretendem emigrar do país e, na maioria dos casos, levam
suas famílias para se fixar definitivamente em São Paulo e se incorporar como cidadãos da
Nação brasileira”. Continuando com suas impressões, Max Fineberg arremata: “Não
poucos deles encontrei gozando de consideráveis fortunas, satisfeitíssimos com a vida nessa
Capital, ao contrário da maioria dos que tenho encontrado no Rio de Janeiro, que, logo que
adquirem algum pecúlio, tratam só de voltar para os países de onde vieram”. Sem dúvida, o
senhor Max exagerava em suas apreciações, mas, de qualquer modo, temos impressão de
que em São Paulo havia uma comunidade estável, enraizada na sociedade local e
participante em sua vida.
SOCIEDADES REÚNEM A ELITE
Entre as instituições que são mencionadas e que desapareceram com o tempo,
encontram-se a Sociedade Philo Dramática, que reunia a gente culta da comunidade. “Os
seus sócios”, diz Fineberg, “em números de cem e pertencentes às classes mais inteligentes,
têm por objetivo a propaganda da boa literatura clássica, da música e do drama entre seus
correligionários, e organizam concertos e espetáculos dramáticos, cujos resultados têm
sido, até agora, os mais promissores de um belo futuro”. Além dessa Sociedade, menciona-
se a Biblioteca Israelita, que reúne um acervo em língua ídiche e hebraico com uma
freqüência significativa de leitores de todas as origens. A vida cultural de São Paulo pode
ser ilustrada pela notícia que lemos, em “A Columna”, de novembro de 1916, que se refere
à realização de “um brilhante concerto no salão do Conservatório de Música, em benefício
dos nossos correligionários de além-mar, que estão sendo sacrificados pelas condições de
guerra”, e cujo programa consistia:
350
Jacob Schneider relata, em suas “Zichroines” que, em 1903, “chegaram a Sokoron três judeus, que
moraram quatro anos no Brasil... Sabia que, no Brasil, numa pequena cidade de nome Franca, morava um seu
parente, Tabacow, e isso reforçou mais ainda sua decisão de imigrar ao Brasil”.
183
“I PARTE
1) SIMONETTI – Madrigal – srtas. Luiza Klabin e Vida Aschermann; srs. Horácio e
Jacob Lafer.
2) CHOPIN – 2 Estudos – sr. João de Souza Lima.
3) WAGNER – Lohengrin, Marcha nupcial – Quarteto – srta. Klabin; srs. Horácio e
Jacob Lafer.
II PARTE
4) Conferência pelo dr. David J. Perez (d’A Columna).
III PARTE
5) a) SAINT SAENS – Los sinos de las Palmas.
b) LISZT – Rhapsodia – srta. Ottilia Machado Campos.
6) DIAZ – Arioso da ópera Benvenuto Cellini – sr. Roger Mesquita.
7) BEETHOVEN – Concerto em cadência de Joaquim – sr. Prof. Carlos Aschermann.
Ao piano, o sr. Prof. Souza Lima.
Em seguida, passou-se à tômbola e leilão de objetos ofertados para o mesmo
fim humanitário.
Os bilhetes de ingresso foram vendidos ao preço de 10$000 cada um, por
distintas damas da nossa colônia nessa cidade, notando-se, entre elas, as exmas. sras. d.
Bertha Klabin e filhas, e d. Golda Tabacow. Auxiliaram-nas nesse trabalho os srs.
Fischman, Weissman e Alexandre Algranti, nosso dedicado correspondente nesse Estado.
Entre as pessoas presentes, notamos as famílias Klabin, Tabacow, Levy, Lichtenstein,
Worms, Zlatopolsky, Dranger, Gordon, Schneider, Lerner, Kaufman, Nebel e muitas outras
cujos nomes, infelizmente, não podemos nos recordar.
Dentre os que tomaram parte na acquisição de objectos por occasião do leilão,
lembramo-nos dos srs. Maurício Klabin, Isaac Tabacow, Hugo Lichtenstein, Salomão
Klabin, Miguel Lafer, Milman, J. Weissman, José Kaufman, Jacob Zlatopolsky, Nahum
Lerner, Nebel, Gersin Levy, R. Gordon, Fischman, Teperman, H. Kadicseviz, Muchnik,
Alexandre Algranti e Beresovski.”
Corriam os anos da Primeira Guerra Mundial e, em certas regiões da Europa
Oriental, desde a Romênia, até a Rússia, os judeus estavam sofrendo terrivelmente com o
conflito que destruiu aldeias e cidades, provocando enorme deslocamento populacional e de
graves conseqüências econômico-sociais. Nessas circunstâncias, as comunidades judaicas
de todo o mundo mobilizaram-se para prestar auxílio aos seus irmãos e, no Brasil, formou-
se, em fevereiro de 1916, um Comitê Brasileiro de Socorro aos Israelitas Vítimas da Guerra
(correspondendo ao americano Jewish Relief Committee), com representantes das
sociedades cariocas.
Em São Paulo, à semelhança do que foi organizado no Rio de Janeiro,
constituiu-se também um Comitê, sob a presidência de Bernardo Nebel, recaindo o cargo
de tesoureiro em Golda Tabacow. As instituições paulistas eram representadas no Comitê
da seguinte forma: pela Comunidade Israelita, Jacob Schneider e David Beresovski; pela
184
Sociedade Ezra, Isaac Ticker e Salomão Lerner; pelo Talmud-Torá, Isaac Weissmann e
Miguel Jaroslavsky; pela Biblioteca Israelita, Simão Gomievsky e Nakem Resnik; e pelo
Clube Philo Dramático Musical, Rodolfo Gutner e Maurício Levkovitch.
Pelo visto, eram essas as entidades comunitárias existentes na época em São
Paulo, faltando somente na relação acima a Sociedade Sionista Ahavat Sion, da qual temos
conhecimento através de várias notícias que o professor David J. Perez publicou em seu
periódico “A Columna”.
Em outubro de 1916, David Perez era convidado por Maurício Klabin,
“sustentáculo do sionismo no Brasil” – como é denominado no citado periódico – a
proferir conferência na capital paulista, sendo calorosamente recebido por todas as
sociedades e, entre elas, mencionava-se a Ahavat Sion, representada pelo ativista Rafael
Chachamovitz, seu secretário.
TEM INÍCIO A BENEFICÊNCIA
Das sociedades beneficentes em São Paulo, destaca-se, como primeira, a
Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, fundada em 15 de junho de 1915, e tomando
parte na direção Clara Klabin, Berta Klabin, Olga Netter, Regina Bertman, Clara Ticker,
Esther Zippin, Nessel Lafer, Golda Nebel e Golda Tabacow, que abriram caminho para a
participação da mulher judia na vida comunitária e, como modelos de personalidades
femininas irrepreensíveis, seriam imitadas por suas descendentes e muitas outras. O
objetivo da Sociedade era “angariar donativos e promover meios de arrecadar auxílios para
socorrer pecuniariamente as famílias necessitadas, assim como proporcionar-lhes
assistência médica, em caso de doença”.
O primeiro clínico que a Sociedade empregou e que recebeu os maiores elogios
dos que o conheceram, pela integridade e competência profissional, foi o Dr. Walter Seng.
A essa Sociedade, seguir-se-ia a Sociedade Israelita “Amigos dos Pobres”, Ezra, fundada
em 20 de maio de 1916, que desempenhou papel fundamental na absorção da imigração
israelita, que cresceu com o término da Primeira Guerra Mundial. Nas relações dos
imigrantes recebidos pela Ezra, vê-se a grande diversidade de profissões dos recém-
chegados, apontando-se o lugar de origem e sua procedência social, encontrando-se, entre
eles, marceneiros, alfaiates, açougueiros, agricultores, vindos da Polônia, Romênia, Rússia,
Hungria, Lituânia e de todos os cantos da velha Europa. Durante décadas e décadas, e até
nossos dias, as sociedades beneficentes judaicas cumpriram fielmente seu papel, que
poderíamos definir como gerador de uma comunidade sã, auto-suficiente, digna e com uma
população enraizada no território brasileiro.
Entre os fundadores da Ezra, encontravam-se José Kauffmann, José Nadelman,
Salomão Lerner, David Berezovsky, Isaac Tabacow, Jonas Krasilchik, Bóris Wainberg,
Ramiro Tabacow, Isaac Ticker e muitos outros.
A vida religiosa da comunidade paulista desse tempo estava confinada a
algumas poucas sinagogas, que não passavam de casas improvisadas para a realização do
culto e, nesse sentido, é mencionada “a sinagoga da rua da Graça”, assim como outras, até a
construção do Templo Beth-El e o lançamento da pedra fundamental da sinagoga da rua
Capitão Matarazzo, n.º 18 (fundos com o Tocantins), no Bom Retiro, isso a 31 de dezembro
de 1916.
O Centro Israelita, que era a sociedade responsável pela iniciativa, convidava,
nessa data festiva para a comunidade paulista, o professor David J. Perez para ser o orador
185
principal da festa. Noemia Kutner, filha do primeiro vice-presidente da sinagoga, Nachum
Lerner, lembra-se até hoje, comovida, como declamou uma poesia em hebraico, ao lado da
figura magistral do redator de “A Columna”. Judeus e não-judeus acorreram ao Bom Retiro
para participar do evento, cuja iniciativa partia de um grupo de abnegados que formavam
sua diretoria: Luiz Rosenberg, presidente; Nachum Lerner, vice-presidente; Salomão
Lerner, tesoureiro; David Fridmann, vice-tesoureiro; Bóris Wainberg, secretário; Bóris
Schwartz, vice-secretário. Nesses anos de formação do judaísmo paulista, prestavam seus
serviços rabínicos à comunidade o Dr. Emílio Mesquita e o rabino Joseph Couriel, para os
sefaraditas, e para os asquenazitas, rabino Marcos (Mordechai) Guertzenstein, que marcou
época como guia espiritual da comunidade.
Mais tarde, seguir-se-iam outros, e na década de 30 atuariam entre nós o
inesquecível rabino Jacob Braverman, autor do “Chelek Yaacov”, e o rabino Zalmen Levin,
que tinha vindo de Jerusalém para desempenhar papel importante na vida religiosa de São
Paulo. Além da Sociedade Philo Dramática, a vida cultural judaica também foi animada por
grupos teatrais, formados por amadores que encenavam peças dos autores clássicos da
língua ídiche e que participavam dos eventos comunitários, dando sua contribuição
artística. Entre eles, encontramos o Grupo de Amadores “Scholem Aleichem”, que, na
fundação da Ezra, encenou “Dos Pintele Yid”, tomando parte do elenco, como “atores” e
“atrizes”, pessoas boas das famílias paulistanas, sob direção de Samuel Kleiman.
PRIMEIRAS ESCOLAS JUDAICAS
Desde o início da imigração, a preocupação dos chegados ao Brasil com o
futuro de seus filhos levou a que fundassem escolas judaicas e em São Paulo a primeira
escola foi fundada a 15 de fevereiro de 1916, com o nome de Talmud Torá, “com
freqüência, em abril daquele ano, de 23 alunos, 20 do sexo feminino e 3 do sexo
masculino”, sendo seu professor de hebraico, Júlio Itkis.3515
Mais tarde, em 1922, surgiria a
Escola Renascença, que tinha uma visão pedagógica mais avançada e atrairia pela
qualidade do ensino e de seu corpo docente os filhos dos israelitas da nova imigração. A
Escola Renascença seria a grande incubadora do judaísmo paulista, pois por ela passaram
várias gerações que lá aprenderam a língua, a história, a literatura e receberam um cabedal
de conhecimentos sobre as tradições do povo de Israel. Foi de lá que saíram, também,
professores e educadores para outras instituições de ensino judaico da cidade, cuja
comunidade, de início concentrada no bairro do Bom Retiro, começava a se espalhar em
outras direções, exigindo, portanto, a criação de novas escolas.
Assim é que se originaram escolas judaicas de todos os níveis no Cambuci,
Brás, Vila Mariana e outros lugares da grande metrópole, constituindo, posteriormente,
uma verdadeira rede de ensino, com tendências diversas, desde ortodoxas a liberais, e que,
no seu conjunto, são motivo de orgulho do judaísmo local.
Com o sensível aumento da população judaica na cidade, começaram a se
formar os partidos que representavam as ideologias importadas do mundo europeu e que
encontram sua representação mais universal na própria sociedade brasileira, na qual
poderíamos encontrar os mesmos confrontos e concepções na busca de uma sociedade ideal
e de uma humanidade melhor. A “rua judaica” participa, também, desses conflitos,
351
Mencionado em “A Columna”, em vários lugares.
186
alinhando-se com adeptos das mais variadas tendências de esquerda e direita, mas sobre-
tudo o que vai caracterizar o seu partidarismo é a imitação do que existia nas comunidades
judaicas do Velho Continente. O imigrante, além da esperança, trazia também consigo o
“seu partido” ou a sua facção, seja ela do Bund, Poalei Zion, sionistas de todos os matizes
ou as ideologias de esquerda, não ligadas diretamente ao mundo judaico.
PARTIDOS POLÍTICOS
Era o “partido”, ao lado das organizações dos landsmanshaften, uma forma de
agremiação, de evitar o isolamento e a nostalgia do imigrante, e também uma possibilidade
para o ativismo cultural, necessário principalmente àqueles que eram inquietos e
intelectualmente preparados.
A existência das correntes políticas e ideológicas dentro da comunidade, se
nem sempre foi positiva para a unidade e desenvolvimento de suas instituições, era
inevitável e jogava um pouco de fermento ao cotidiano do clientelchik (mascate) , do
artesão, do pequeno comerciante, que tinha a oportunidade de se abstrair, no calor da
discussão e da polêmica, da luta pela sobrevivência diária. Foi esse o sal da vida do gueto
do Bom Retiro, das esquinas das ruas do bairro, onde sionistas e não-sionistas atracavam-
se, durante muitas horas em discussões, sem que pudessem chegar a algum acordo ou
alguma conclusão, e que terminavam sempre com a convicção íntima de que cada um dos
adversários tinha razão.
IMPRENSA EM ÍDICHE E PORTUGUÊS
Por outro lado, os “partidos” também preocupavam-se em traduzir os
pensadores judeus ao português para que as novas gerações se familiarizassem com a
literatura filosófico-política, o que serviu como fator de conhecimento e aproximação dos já
nascidos no Brasil à tradicional cultura judaica, bem como a sua expressão mais moderna.
Essas agremiações partidárias estimularam, ao mesmo tempo, o aparecimento, da imprensa
judaica da capital, em forma de jornais ou boletins. Capítulo pouco conhecido da vida
judaica paulista nas décadas de 20 e 30, é a atividade jornalística ou a imprensa em ídiche,
que procurava retratar os eventos mais importantes na comunidade e, servindo ao mesmo
tempo de órgão de expressão para as questões que a preocupavam, tanto em relação à
sociedade brasileira quanto em relação a si mesma. Isaac Raizman, que escreveu uma
história da imprensa judaica no Brasil, lembra que o primeiro periódico publicado em São
Paulo foi o “Idisher Gezelschaftlicher um Handels Buletin” (Boletim Social e Comercial
Judaico), em 1928, e foi financiado, em boa parte, por uma sociedade existente na época, de
nome “Agudat Achim”, que acabou, assim como o jornal, desaparecendo com o tempo.
No mesmo ano de 1928 surgia um outro periódico e, dessa vez, sob iniciativa
de Marcos Frankenthal, que tinha, nos primeiros anos da década de 20, estabelecido uma
tipografia denominada “Tipografia Palestina”, e, a partir do trabalho tipográfico, surgiu a
idéia de publicar um órgão ídiche que pudesse servir à comunidade. Nele figuravam como
redatores Yosef Rinski, Moisés Costa e Jacob Nebel, que, na época, representavam o
elemento culto e inteligente e, portanto, capacitado para tal objetivo. O seminário levava
como nome o pomposo título de “Idische Velt” (O Mundo Israelita), sendo que seu
conteúdo era atraente e variado, além de ser de bom nível. Lamentavelmente, também esse
periódico durou pouco tempo e foi substituído por uma folha em ídiche, que começou a sair
187
a partir de 1929, como anexo do jornal “Folha da Manhã”, que havia aberto o periódico à
publicação de seções em outras línguas faladas pelas diversas comunidades de imigrantes
residentes na metrópole paulista.
Marcos Frankenthal, em 1931, criaria um periódico, com a ajuda de Elias
Amstein e José Nadelman, que perduraria durante muitos anos, com o nome de “San Pauler
Idiche Tzeitung” (Jornal Israelita de São Paulo), com amplo noticiário sobre os
acontecimentos sociais da comunidade paulista e com bom corpo de colaboradores, que
viam naquele órgão uma oportunidade ímpar de se apresentarem como literatos e
jornalistas, e entre eles encontrava-se o historiador Isaac Raizman que atuou como redator
nos anos de 1933-1935. Raizman publicou em São Paulo, em 1935, sua “História dos
Israelitas no Brasil” (em ídiche sendo traduzida em 1937 ao português).
Pouco após a saída de Raizman da redação, viriam ocupar seu lugar Salomão
Steinberg e o conhecido historiador Elias Lipiner, além de contar com a colaboração de
Nelson Wainer, até encerrar suas atividades, devido à proibição de 1941, por parte do
Governo de Getúlio Vargas, de se editarem periódicos em língua estrangeira.
Claro está que o jornalismo judaico em São Paulo acabaria por se manifestar
também em português, e já em 1932 Fernando Levisky traria à luz o periódico “A
Civilização”, que contava com a participação do professor Silveira Bueno. Em seguida,
Nelson Wainer sairia com o “Páginas Israelitas”, e, em 1940, começaria a ser publicado o
periódico “Crônica Israelita”, que estava, de certo modo, ligado à Congregação Israelita
Paulista, fundada em 1936 pelos imigrantes da Europa Central, de fala alemã, cujo órgão
esteve sob a redação culta e inteligente do saudoso Dr. Alfred Hirschberg.
Em resumo, se olharmos para a comunidade, a partir do final dos anos 20,
veremos que, sob todos os aspectos, sejam eles religiosos, sociais, culturais ou econômicos,
a vida judaica local encontrava-se razoavelmente amparada por instituições. Mesmo o clube
esportivo Macabi e o já desaparecido Círculo Israelita, com seus tradicionais bailes (até de
Iom Kipur!), remontam àqueles anos, preenchendo os anseios e atendendo ao gosto e modo
de vida daquela geração. Muitas daquelas organizações ficaram obsoletas, e mesmo suas
funções anacrônicas, como foi o caso da “Laie SporCasse” (Caixa Econômica) , que, mais
tarde, seria a Cooperativa do Bom Retiro (fundada em 1928).
PREOCUPAÇÃO COM O NAZISMO
A grande mudança na atmosfera em que viviam os judeus dar-se-ia
gradativamente, com a penetração das idéias nazi-fascista no Brasil, onde, na sua versão
nacional, os judeus seriam vistos com suspeita pela sociedade ao redor, suspeita essa
estimulada, de um lado, por um governo que olhava com simpatia a política de conquista da
suástica e do fascismo no mundo, e, de outro, pela literatura anti-semita difundida por
elementos tais como Gustavo Barroso. Este fazia dos judeus o alvo fundamental de seus
ataques e via neles, imitando modelos europeus sobejamente conhecidos, os destruidores da
sociedade brasileira. Membros da comunidade paulista, para ele, eram os que manipulavam
a vida nacional, e é desse modo que, em sua imaginação doentia, os descreve nos livros “A
Sinagoga Paulista”, “A História Secreta do Brasil” e outros desse mesmo gênero. O anti-
semitismo entrava pelas portas dos fundos da sociedade brasileira, mas não deixava de
trazer novas preocupações à comunidade. Logo mais, viriam os anos sombrios da Segunda
Guerra Mundial, e o clima de luto que pairaria sobre o judaísmo mundial seria amenizado
188
apenas pelos ecos do que se passava no Oriente Médio, pelos esforços de tornar realidade a
criação de um Estado Judeu.
Esses últimos grandes e significativos eventos contribuíram decisivamente para
uma mobilização comunitária jamais conhecida anteriormente, o que explica o surgimento
de novas instituições nas décadas próximas a eles e que se manifestaram em todos os níveis
e camadas sociais, do mesmo modo que em toda as idades. Mas, a partir desse momento, a
comunidade passaria por transformações internas que merecem ser estudadas em uma
crônica referente aos nossos dias.
189
23. A Escola Israelita Brasileira Talmud Thora Beith Jacob (60 anos de
existência: 1933-1993)
Na história da educação judaica de São Paulo, o Talmud Torá foi a Segunda
escola, que perdurou até hoje, a ser fundada em nossa comunidade. Foi em julho de 1933,
que um punhado de judeus idealistas e impregnados de religiosidade tradicional resolveu
criar um estabelecimento que incutisse em seus alunos os valores espirituais e os preceitos
do judaísmo com os quais estavam familiarizados nas escolas da Europa Oriental. Entre
seus fundadores, encontravam-se Benjamin Rosset, Nataniel Vortsman, Pinchas Schleif,
Miguel Peiper, Samuel Z. Zilberstein, Simson Feffer, Israel Mandelbaum, além dos
saudosos Rabinos Jacob Braverman e Zalman Levin. Estabelecida de início na rua Newton
Prado com 47 alunos, sob o nome de Centro de Israel Talmud Torá Beth Jacob, contou de
imediato com a participação de pessoas que formaram suas primeiras diretorias e
preocuparam-se em reformar o velho casarão, adaptando-o às necessidade escolares.
De início, a escola possuía um programa escolar judaico que visava a
completar o currículo da escola oficial brasileira, mas, logo, após decidiu-se por um
currículo integral, ampliando, desse modo, o número de professores e atraindo mais alunos,
não somente do Bom Retiro, mas de outros bairros da cidade de São Paulo. Em 28 de
setembro de 1934, foi adquirido o imóvel da rua Tocantins, 296, onde foi construída a nova
escola, possibilitando, desse modo, a instituição ampliar seu programa de ensino e absorver
um número cada vez maior de alunos, que, na época, já se aproximava a 300.
Após alguns anos de trabalho e esforços de seus diretores, inaugurou-se, em
24 de janeiro de 1937, a nova sede, sob a direção de Tobias Grossman, Miguel Lafer,
Moisés Rechtman, Pinchas Schleif, Rabinos David Valt, Rabino Braverman, Rabino
Zalman Zinguerevitch, Miguel Citron, Marcos Fuks, Chaim Weitzberg, Julio Rubinstein,
Simon Feifer, Isaac Kleiman, Salomão Trajber, Benjamin Rosset, N. Voltzman e Majer
Zemel. A orientação do currículo judaico seguiu desde os primeiros anos a linha ortodoxa,
próxima ao programa “Yavne” do Hamizrachi, e, entre seus professores contavam-se Jacob
Levin, Zalman Lifpshitz, Chaim Epstein, Sheine Lifpshitz e Jona Levin, sob a direção do
Rabino Meier Szulim Oselka.
A Escola Talmud Torá esteve, sempre, sob a tutela da Sociedade Israelita
Brasileira de Ensino Talmud Torá, que em 1946, inauguraria sua Sinagoga à rua Tocantins.
Com o desenvolvimento da escola que, em 1957, compreendia três anos de
Jardim de Infância, quatro anos de Português e disciplinas gerais e ainda cinco classes de
ídiche e hebraico, concebeu-se a idéia de criar um ginásio que, de fato começou a ser
construído em 1963, passando a denominar-se Ginásio Israelita Brasileiro Talmud Torá.
O Talmud Torá formou centenas de alunos, e hoje comemora 60 anos de existência como
respeitável instituição de ensino e educação, sendo, sem dúvida, um dos orgulhos da
comunidade judaica de São Paulo, para a qual deu uma contribuição preciosa: homens e
mulheres identificados com seu passado, suas tradições e seus valores.
190
24. O Macabi de São Paulo e sua evolução
Antecedeu ao Macabi uma instituição esportiva com o nome de “Sport-Club”.
No ano de 1927, um de seus membros, Siegfried Weber, ousou entrar nesse clube com um
grande Maguen David no peito, e foi por causa disso expulso. Assim, ele resolveu,
juntamente com outros amigos, criar uma nova associação.
A fundação do Macabi em São Paulo, deu-se em 14 de dezembro daquele ano,
e entre seus iniciadores se encontravam o já citado Weber, Benjamin Flit, Adolfo Wolff,
Max Jagle, I. Raicher, P. Schuster e outros. O numero de sócios chegava a 80. A primeira
diretoria era constituída por Abraham Milstein, Israel Iampolski, Adolfo Wolff, Carlos
Weiss, Max Jagle, Siegfried Weber, Moisés Vainer, Dov Smaletz, Fernando Wolff, José
Timoner, Marcos Fankenthal, Saul Stracovski e Boris Skilnik.
O “Ídishe Folkstzaitung” (Jornal Popular Israelita), publicado no Rio de
Janeiro, em seu número de 13 de março de 1928, refere-se a uma concorrida assembléia
geral do clube que foi aberta por Max Jagle. A notícia resume o que se passou naquele
encontro informando que tomou a palavra o sr. Weber, que discursou sobre o tema “Turn
und Sport” (Ginástica e Esporte). O diretor Frankenthal criticou a comissão por levar a
língua alemã ao Macabi e manifestou seu protesto pessoal em razão de tal fato. O secretário
Wolff relatou em seguida as atividades da agremiação, havendo debates sobre o caráter
sionista que deveria imperar no clube, e com a participação dos srs. Smaletz e Waltz.
Afinal, foram eleitos Frankenthal e Yampolski como fiscais.
O Clube Esportivo Israelita-Brasileiro Macabi tinha sua sede no bairro do Bom
Retiro que, na época, passava a ser o centro residencial e comercial da imigração judaica
em São Paulo. Em seguida, foi adquirida a sede campestre da rua da Coroa (próxima ao
atual Shopping Center Norte). Seu espaço passou a ser o local preferido das entidades
comunitárias para a realização de eventos culturais e comemorações das festividades
tradicionais de Lag Baomer, que na verdade é uma festividade campestre, além de outras.
Elas atraíam multidões de pessoas e, em particular, os alunos das escolas judaicas e suas
famílias, que se deliciavam à sombra das árvores do clube.
Em 24 de março de 1928, houve ali uma festiva reunião com representantes de
todas as instituições: Círculo Israelita, Agudat Israel do Braz, Agudat Achim, Cadima,
Organização Sionista e os periódicos Ídishe Folkstzaitung e Brazilianisher Idishe Presse
(Imprensa Israelita-Brasileira) . Foi realizado na ocasião um desfile com acompanhamento
musical, atividades esportivas, a encenação de uma peça sob a direção de Max Jagle e
também um baile. Além dos 80 sócios, mais 25 se inscreveram naquela noite (conforme
notícia do Idishe Folkstzaitung de 30/3/1928).
As famílias dos bairros mais afastados – Brás, Lapa, Cambuci, Ipiranga, Penha
– cujas comunidades tinham, na época, vida própria ao redor de suas sinagogas, tiveram a
partir da fundação do clube, a oportunidade de se encontrar com amigos e parentes numa
singela atmosfera de confraternização. O Clube Macabi propiciava uma amálgama
espontânea de todas as pessoas que o freqüentavam, sócios e não-sócios, que de certa forma
voltavam para “o campo ou a vida campestre” de seus lugares de origem.
Aqueles dias felizes no campo do Macabi são inesquecíveis para todos aqueles que os vivenciaram, em especial para as crianças e os escolares da época, hoje avós de
criaturas da mesma idade, que brincavam, corriam e faziam travessuras ao redor das toalhas
estendidas no chão, sobre as quais se encontravam os sanduíches e pratos que de vez em
191
quando vinham beliscar. Quem poderá esquecer os dias ensolarados e o cair da tarde na rua
da Coroa?
Em 1939, uma comissão formada por Raphael Markman, Zvi Yatom, Max
Jagle, Rodolpho Schraiber, L. Zitman e outros, ficaria incumbida de reestruturar o Macabi,
conforme notícia veiculada no “Velt-Spiegel”(Espelho do Mundo) n.º 8, de janeiro de
1940.
Mais tarde o Macabi ficaria ligado aos destinos do Círculo Israelita, fundado
em 1928, e ao Centro da Organização Sionista, que realizaria parte de suas atividades no
clube.
O Clube Macabi destacou-se em várias modalidades esportivas e participou de
campeonatos nacionais e internacionais, revelando um bom número de atletas da
comunidade judaica. Os valorosos defensores do Macabi compareceram nas Macabíadas
Pan-americanas e Mundiais, e em torneios em países da América Latina e Israel.
Ao adquirir a área de 36.000 metros quadrados à avenida Nova Cantareira, o
Macabi já se encontrava entre os clubes tradicionais da cidade de São Paulo, e além de
esportes, também dava atenção às atividades culturais, como fizera, efetivamente, desde os
primeiros anos quando Max Jagle era o “regisseur” de um grupo dramático de língua
ídiche.
Nesse ínterim, outro clube judaico já se fazia presente na vida comunitária, mesmo assim os
“macabeus”, como sempre, mantiveram-se fiéis ao nome e patrioticamente agüentaram as
venturas e desventuras de seu clube, que acima de tudo, escreveu as páginas mais belas da
história da coletividade israelita de São Paulo.
192
25. Jose Nadelman e a história dos judeus em São Paulo
A história dos judeus em São Paulo, assim como no Brasil, apesar dos avanços
obtidos nos últimos anos com o surgimento de excelentes pesquisadores, ainda oferece um
campo amplo e fértil de trabalho aos interessados na área. Pois há o que fazer, se
considerarmos os poucos trabalhos existentes sobre as sucessivas levas imigratórias desde
os inícios do Brasil Independente, que se radicaram na grande extensão do território
nacional.
Mas o trabalho científico realizado nas instituições universitárias, e fora delas,
por historiadores que receberam seu adestramento profissional nos bancos escolares, deve
muito aos “cronistas” que intuíram a importância de se registrar eventos, acontecimentos e
pessoas. Sem os memorialistas ou cronistas, muito do que hoje sabemos ter-se-ia perdido
para sempre, uma vez que o pouco zelo para preservar arquivos institucionais e pessoais
caracterizou, em boa parte, as primeiras décadas da imigração judaica contemporânea. Isso
se explica por dois motivos fundamentais, entre outros, que são:
a) A maioria absoluta dos imigrantes era pobre e precisava concentrar sua atenção na
sobrevivência diária.
b) Poucos tinham formação suficiente para dedicar-se a criar uma instituição ou
arquivo destinado tecnicamente a esse objetivo; isso viria a ocorrer bem mais tarde,
o que não significa que não tivessem interesses culturais mais amplos, que
efetivamente se manifestou com a fundação de bibliotecas, periódicos, grupos
teatrais, ou sociedades congêneres.
Em São Paulo, desempenhou um papel decisivo como memorialista da
comunidade judia José Nadelman, um dos seus dedicados ativistas que esteve ligado à
formação de várias de suas instituições. Do mesmo modo que elas acabaram por
desaparecer, também seu nome ficou esquecido para as gerações posteriores.
Em busca de elementos para uma biografia, obtive da Chevra Kadisha de São
Paulo alguns dados pessoais a seu respeito. Pelo registro de óbito, consta que veio a falecer
em 31 de janeiro de 1948, com 66 anos de idade, e era natural da Rússia, filho de Jacob e
Anna, casado com Dvora, deixando dois filhos, Jacob e Elisa. A informação é
testemunhada por uma outra personalidade conhecida na comunidade, Francisco Teperman.
A certidão foi atestada pelo Dr. Moysés Barmack, e o corpo sepultado no Cemitério
Israelita da Vila Mariana.
Os anos de pesquisa sobre a imigração judaica no Brasil levou-me a conhecer ,
além de anotar durante minha leitura dos periódicos notícias esporádicas que aqui e acolá
podia encontrar sobre sua atuação na vida comunitária daquele tempo. Sabemos que ele
tomou parte na diretoria da Kehilat Israel, em 1913, que foi a primeira comunidade dos
imigrantes da Europa Oriental organizada em São Paulo e fundada um ano antes. Também
figurava como membro da primeira comissão diretora da Ezra, no cargo de vice-presidente,
conforme a ata de fundação, que se deu em 20 de maio de 19163521
. Durante a “gripe
352
“A História da Ezra”, p. 19. Seu nome aparece também no periódico fundado por David José Perez em
1916, “A Columna”, por várias vezes, no dois anos de sua existência.
193
espanhola” de 1918, quando se transformou a sinagoga Knesset Israel em hospital, ele
também foi um dos que ajudaram no cuidado dos internados3532
.
Lamentavelmente, não pudemos obter dados sobre sua vinda ao Brasil, pois
ele não figura no “Léxico dos ativistas sociais e culturais” de Henrique Iusim, cujo projeto
era preservar a memória dos veteranos da imigração judaica e do qual, a parte concernente
a S. Paulo e Rio de Janeiro, nunca chegou a ser publicada.
Porém, o seu íntimo conhecimento dos inícios da comunidade paulista se revela
na descrição que nos faz sobre o assunto em um artigo publicado no periódico “Velt-
Spiegel” (Espelho do Mundo) sob o título, “Alte um naie zichroines”, (Velhas e Novas
Recordações)354
. Ele nos narra que até 1910-12, a vida comunitária não passava de um
minian (o número de 10 pessoas necessárias para o culto sinagogal) nos dias de Rosh
Hashaná e Iom Kipur. Somente em 1913 registrou-se uma “Comunidade Israelita em São
Paulo”, que adquiriu uma casa na rua da Graça, para fundar uma sinagoga (Kehilat Israel).
Também foram criadas uma biblioteca e um clube social com um círculo filodramático, que
encenava peças teatrais com amadores e artistas profissionais que passavam pela cidade.
Na mesma sinagoga funcionava uma pequena escola. Mais tarde, construiu-se
uma outra sinagoga, pois a primeira ficara pequena. Havia necessidade de alugar-se
temporariamente um salão, onde os novos imigrantes ficariam apartados dos outros, os
mais ricos, que continuaram na rua da Graça. Assim, surgiu a “Knesset Israel”, na rua
Tocantins. Ele ainda nos informará que em 1914, nos inícios da guerra, veio a São Paulo o
dramaturgo Peretz Hirshbein, devido a que um dos líderes da época, Abraham Kaufman, já
se encontrava muito doente e veio a falecer logo após355
. Ficamos sabendo pelo mesmo
artigo que o dramaturgo hospedou-se na casa de Isaac Tabacow, à rua Três Rios 55, e todas
as noites ele era visitado por pessoas da comunidade, enquanto, durante o dia, percorria a
cidade. Deu duas conferências em São Paulo, uma das quais no Teatro Lira, no Largo
Paissandú. Quando deixou o Brasil, a caminho de Nova York, seu navio foi afundado por
um cruzador alemão. Ele foi salvo, com os demais passageiros, e levado para o Pará, de
onde seguiu viagem.
Nadelman ainda nos dará outros detalhes sobre o desenvolvimento da
comunidade nos anos seguintes. Sua atuação na Ezra foi duradoura e, na assembléia de 31
de agosto de 1930, ele seria eleito presidente, tomando parte posteriormente em várias
diretorias. Sua fidelidade a essa entidade de ajuda ao imigrante o levou a ser seu porta-voz,
enviando à imprensa local notícias sobre o que se passava na mesma356
. Nadelman era
considerado uma pessoa culta para os imigrantes da época, e o historiador Isaac Raizman,
em sua obra “Vinte e cinco anos de imprensa judaica no Brasil”357
, confirma que ele era
353 Id., p. 35.
354 . “Velt-Spiegel”, nº 12, agosto, 1940, p. 16.
355 Peretz Hirshbein escreveria uma narrativa em seu livro “Fun Vaite Lender” (De terras longínquas) sobre a
morte de Abraham Kaufman. 356
Em artigo publicado no “San Pauler Idische Tzeitung”, de 21 de outubro de 1937, ele se refere, em um
artigo sob o título de “Di Ezra farzamlung” (A assembléia da Ezra), à disputa para a presidência entre José
Teperman e Benjamin Kulikovsky. 357
. “A Fertl-Iorhundert Idische Presse in Brazil”, ed. Muzeum le-Omanut há-Dfus, Safed, p. 150.
194
oriundo da Bessarábia e que emigrara aos Estados Unidos e passou a viver em Nova York,
trabalhando como cortador em uma oficina de roupas.
Encontramos Nadelman atuando em outro momento importante da vida judaica
na capital paulista ao participar da fundação, e servir como redator, do jornal “San Pauler
Idishe Tzaitung” (Gazeta Israelita de São Paulo), juntamente com Marcos Frankenthal, que
era seu diretor, e Elias Amstein, que ocupou o cargo de administrador do jornal. Sua
dedicação ao novo periódico, desde que começou a sair, em 22 de outubro de 1931, como
semanário, foi exemplar. Já em 1933, saía duas vezes por semana, e no final do mesmo ano,
quando Raizman passou a ser seu redator, devido à saída de Nadelman, o jornal já era
publicado três vezes por semana358
.
Apesar do seu afastamento, Nadelman chegou a publicar alguns artigos, dentre
eles um necrológio de valor histórico sobre a pessoa de Isaac Tabacow por ocasião de dez
anos de seu falecimento, que ocorreu em 6 de julho de 1930. Aqui, temos mais um texto,
curto, mas rico de informações, com o qual o notável memorialista nos agracia ao descrever
a trajetória de vida daquela figura ímpar que foi Isaac Tabacow359
. Porém, a maior
contribuição que Nadelman deu aos historiadores da imigração judaica de São Paulo foi a
“Gueshichte fun Ezra, 1916-1941” (História da Ezra), editada pela tipografia Frankenthal
em 1941, e com ela conseguiu salvar do esquecimento os primórdios da imigração israelita
em nosso Estado360
. Porém, considerando o que vimos mais acima perceberemos que
Nadelman estava imbuído da importância de registrar a memória da imigração e era, de
fato, o homem talhado para escrever essa história.
A “História da Ezra” contém bem mais do que a história da instituição que teve
um papel decisivo e vital na ajuda e amparo aos que aportavam em busca de um novo
destino e um novo lar. Em suas 174 páginas, além das ilustrações, o nosso cronista retrata a
formação das primeiras organizações comunitárias e os passos gradativos que a
comunidade foi dando para atender a suas necessidades religiosas, econômicas, sociais e
culturais. Desfilam nesse livro os nomes das primeiras famílias de imigrantes da Europa
Oriental que serviram de alicerce às instituições que surgiram naqueles anos.
358
O “San Pauler Idische Tzeitung” continuou existindo, apesar das suas freqüentes mudanças em sua
redação, na qual se sucederam Salomão Steinberg, Elias Lipiner, Nelson Weiner, além de vários outros, e o
próprio Frankenthal. O jornal encerrou suas atividades no ano de 1941, por ocasião da proibição de
publicação de periódicos em língua estrangeira pelo governo Vargas. 359
. “San Pauler Idische Tzeitung”, 26 de julho de 1940. Nadelman relata que Isaac Tabacow veio pela
primeira vez ao Brasil em 1890, e aqui permaneceu por cinco anos, voltando ao seu país de origem, onde se
casou com Olga Tabacow, para voltar pela segunda vez em 1897. Ele teve que vender em Hamburgo os
presentes de casamento que ganhara para comprar as passagens. Ao desembarcar em Santos, com fome,
entraram em um restaurante português e quiseram deixar um sobretudo, e o dono acabou por lhe emprestar 40
mil réis. Em São Paulo, viajaram com alguma mercadoria ao interior, chegando a Franca, onde alugaram um
enorme estabelecimento, com um aluguel de 30 mil réis ao mês. Eram os únicos judeus da zona da Mogiana.
Em 1909, ele, sua esposa e dois filhos vieram morar em São Paulo. Os anos de 1909-1914 foram os de maior
imigração, nesse período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Esses imigrantes, em sua maioria, vinham
da Bessarábia e a casa de Isaac os acolhia. Na prática, o ponto de referência dos imigrantes era a rua dos
Imigrantes 147, onde ficava a loja de Isaac Tabacow. 360
A idéia de elaborar a “História da Ezra” foi de Elias Amstein, um dos ativistas que participaram de sua
fundação, como parte dos eventos relativos à intenção de comemorar os 25 anos de existência da instituição,
que deveria: a) publicar um livro sobre a atuação da Ezra durante esse quarto de século; b) organizar um
banquete para a comunidade judaica (que, de fato, se realizou em 6 de julho de 1941) e cujo encerramento
seria um grande baile, bem adequado à vida social da época.
195
Quais foram as fontes das quais seu trabalho se serviu? Ele mesmo nos reporta
em um “esclarecimento importante”, que consta no livro, revelando as dificuldades com as
quais se deparou para realizar o seu intento: “os nomes, os documentos, datas e cifras
relativos à evolução histórica da comunidade judaica no Brasil em geral, e em particular em
São Paulo, nós os colhemos no arquivo da Ezra. Sabemos que nosso trabalho não está
completo, e com certeza omitimos fatos e acontecimentos, e é bem possível que muitos
participantes no desenvolvimento da comunidade não tenham sido, lamentavelmente,
lembrados. Mas isso é possível entender pelo fato de não existir em São Paulo nenhum
outro arquivo, com exceção do da Ezra, o qual, lamentavelmente, não foi bem cuidado em
seus primeiros anos de existência. E outras fontes que nos dessem maiores detalhes não
conseguimos encontrar. Sendo assim, certamente a comunidade nos desculpará”361
.
A verdade é que Nadelman, além do arquivo da Ezra, que se encontra hoje em
dia no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, pôde consultar e entrevistar boa parte dos
primeiros imigrantes judeus de São Paulo, ainda que alguns desses pioneiros já tivessem
falecido, tais como Isaac Tabacow e Maurício Klabin36211
. Mas o sucesso do seu trabalho se
deve à vivência pessoal e participação na vida comunitária, que lhe deu um conhecimento
íntimo da história que pretendeu narrar e o fez com honestidade e humildade, pois quase
nada falou de si mesmo e de sua atuação.
Poucos anos antes, em 1938, ele criticava, em artigo sob o título “Di Kultur
Konferenz”, publicado no San Pauler Idische Tzeitung, o representante do Brasil no
Congresso Mundial de Cultura Judaica, realizado em Paris de 17 a 21 de setembro de 1937,
que havia relatado inverdades sobre a comunidade brasileira, corrigindo-o e demonstrando
assim o quanto a conhecia36312
. Em 1946, encontramos José Nadelman como secretário
administrativo do Lar dos Velhos de São Paulo, ocasião em que se lhe prestou uma
homenagem ao completar 65 anos de idade. Naquele evento o escritor Menashe Halpern
sugeriu que se plantassem árvores no Yaar Herzl, em Jerusalém, em seu nome36413
. Tratava-
se de uma justa homenagem a uma pessoa que fizera muito pelo judaismo paulista ao
mesmo tempo que soube bem avaliar a importância da preservação de sua memória.
361
. “Gueshichte fun Ezra”, nota introdutória. 362
. Porém, veteranos das primeiras instituições puderam dar informações preciosas ao seu auxiliar Nelson
Weiner, um jovem jornalista que, por conhecer bem o português, tomou parte no projeto. Ele entrevistou
médicos e profissionais que não eram judeus, porém tinham atuado junto à Ezra e seu sanatório em São José
dos Campos, além de outras instituições comunitárias. Entre eles estavam os Drs. Jorge Zarur, Otávio Del
Nero, Oscar Tollens, Luís do Rego, Ribeiro da Luz, Caio Machado, Antonio Cândido Camargo, além do
professor Clemente Ferreira e do advogado Cristiano da Luz, do Departamento de Agricultura e Imigração.
Na época da publicação da “História da Ezra”, já havia falecido uma das personalidades benfeitoras da
comunidade judaica de São Paulo e que prestara serviços extraordinários como médico e diretor do hospital
Santa Catarina, o Dr. Walter Seng. Lembrado no livro em vários momentos da história da imigração, é a
quem José Nadelman homenageia com profundo sentimento de gratidão. 363
364
196
26. Uma colonização judaica no interior de São Paulo
Há alguns anos, encontrei um necrológio na revista Aonde Vamos? , n.152, de 14de março
de 1946, noticiando o falecimento de uma senhora que teria vivido em uma colônia no
interior de São Paulo denominada Nova Odessa. Tratava-se de Cecilia Karacik, viuva de
Jorge Karacik, um dos primeiros colonos judeus contratados pelo governo brasileiro para
uma colonização no interior do Estado de São Paulo. A notícia de falecimento ainda
informava que deixara os filhos Anita, casada com Estanislau Cherques, Dr. Raul e Dr.
Manoel Karacik. A notícia despertou certa curiosidade, pois, através de uma comunicação
feita em um congresso de história, realizado em 1980 na cidade de Franca365
, sabia que este
núcleo era formado por imigrantes russos. Nesse ínterim, outras leituras, não diretamente
relacionadas ao tema, fortificaram minha convicção de que o assunto deveria merecer uma
atenção maior, a fim de se constatar quais seriam esses imigrantes e sua origem. Passados
muitos anos, a idéia de proceder a uma verificação no arquivo do Museu da Imigração, me
levou a encontrar, para minha surpresa, uma longa lista de imigrantes judeus, que em levas
sucessivas, desde o ano de 1905 à 1906, se dirigem, não somente à colônia Nova Odessa,
mas a outras duas denominadas respectivamente Corumbatahy-Colônia Jorge Tibiriçá, na
região de Rio Claro, fundada em 1905 e Funil- Colônia Campos Salles, na região de
Campinas, fundada em 1897366
.
Sabemos pela história contemporânea dos judeus, do surgimento, na Rússia Czarista do
século passado, de uma sociedade denominada Am Olam (O povo eterno), que tinha como
finalidade a formação de colônias agrícolas judaicas nos Estados Unidos. A sociedade
tomou seu nome do título de um ensaio, escrito em hebraico, do destacado escritor do
Iluminismo judaico da Europa oriental, Peretz Smolenskin. A sociedade foi fundada em
1881, no mesmo ano do assassinato de Alexandre II que resultou em diversos ataques aos
judeus, e no início da grande emigração de judeus russos em direção ao ocidente. Seus
líderes Monye Bokal e Moisés Herder, ambos residentes em Odessa, eram idealistas e
aspiravam a colonização, sob a forma de comunas socialistas, dos judeus na América. Ao
mesmo tempo, que o movimento dos Biluim se voltava para um projeto de colonização
judaica na Palestina, com um programa nacionalista de voltar à terra de seus antepassados,
o Am Olam enviava, na primavera de 1881, um contingente de 70 profissionais, artesãos e
estudantes oriundos de Yelizavetgrad para a América, ao qual se sucederam novos grupos
entre 1881-1882, com centenas de pessoas das cidades de Kiev, Kremenchug, Vilna e
Odessa.367
Muitos dos imigrantes permaneceram em Nova York, mas assim mesmo
365
El Murr, V. Namestnikov, A escassez de fontes para o estudo da imigração russa em São Paulo, in
Memória da II Semana da História, 24-28 de outubro, 1980, UNESP, Franca, pp.387-397. 366
No livro Impressões do Brazil no Século Vinte, “impresso na Inglaterra para circular nos Estados Unidos
do Brazil e outros paízes estrangeiros”, Lloyd’s Greater Britain Publishing Company, Ltd., London, 1913,
p.199, encontramos um relato que faz referência às colônias “que ainda se acham sob a administração do
Estado: “Campos Salles “, a 54kms. Da cidade de Campinas, servido pela E.F. Funilense, fundado em 1897
com 20 famílias suissas e alemãs, hoje dividido em 234 lotes e povoado por mais de 1200 pessôas, que se
dedicam ao cultivo dos cereaes, canna de assucar, algodão batatas, mandioca, vinhas, legumes, etc.; “Jorge
Tibiriçá” , a 28 kms. Da cidade de Rio Claro, pela E.F. Paulista, fundado em 1905, dividido em 136 lotes
ruares, colonisados pelo sistema de meyação; “Nova Odessa”, assim chamado por só receber colonos russos,
a 31 kms. Da cidade de Campinas, servido pela E.F. Paulista, fundado em 1904 (sic) e dividido em 93 lotes,
em que se cultivam cereaes, batatas, mandioca, etc....” 367
V. Encyclopaedia Judaica, Keter Pub. House, Jerusalém, 1971, vol. 2, pp.861-2. Conforme Menes, A. ,
The Am Oylom Movement, in YIVO Annual of Jewish Social Science, Yiddish Scientific Institute, New
197
chegaram a criar quatro colônias, na Louisiana, no sul da Dakota e a mais duradoura, de
caráter socialista, fundada perto de Portland, no Oregon, em 1882, liderada por Pavel
Kaplan e William Frey com o nome de New Odessa, que resistiu até 1887, quando por
dissensões internas e desmoralização acabou desagregando-se. Ainda que houvesse um
esforço de Kaplan dar continuidade ao empreendimento, em forma de comunas urbanas, já
em 1890 elas haviam se dispersado. Parte de seus membros, de alto nível intelectual, e
imbuídos de sua missão ideológica, tiveram um papel importante nos meios socialistas de
Nova York. Esse mesmo elemento humano também ingressou na vida intelectual daquela
cidade e alguns de seus membros participaram na formação do teatro iídiche em solo
americano.368
Mas, apesar da coincidência do nome Nova Odessa, não temos, até o momento, a
possibilidade de estabelecer que a imigração vinda da Rússia ao Brasil a partir de 1905 seja
um desdobramento do movimento iniciado pelo Am Olam em seu tempo, ou então que seu
vínculo consiste apenas na lembrança de um nome ligado a uma iniciativa que houve no
passado. A verdade é que os anos de reinado do czar Alexandre III, sucessor de Alexandre
II assassinado em 1881, se destacam como um dos períodos de maior perseguição anti-
judaica na Rússia. Os ataques aos judeus se sucedem dos anos 80 ao início dos 90,
acompanhados de novas leis restritivas àquelas já existentes anteriormente, decorrentes,
também, do fato dos estudantes judeus serem identificados com o jovem movimento
revolucionário, que nesse momento já se define como socialista-marxista, sendo alvo de
ataques cruéis e violentos que visam silenciá-lo, momentaneamente.
Nessa última década do século XIX, intensificou-se a grande emigração de judeus em
direção ao ocidente e às Américas, sem qualquer interrupção, uma vez que a ascensão do
czar Nicolau II, em 1894, não modificou a postura do governo em relação aos judeus. A
partir daqueles anos, muitos dos judeus da Rússia, estabeleceram-se nos países da Europa
Central e Ocidental, assim como na Inglaterra. A preocupação das comunidades judias,
tradicionais nos países que estavam recebendo uma enorme leva de judeus do leste europeu,
levou a criação de instituições de ajuda e planos de colonização para outras regiões que
demandassem mão de obra agrícola. A fundação da Jewish Colonization Association, em
1891, por inicíativa do Barão Hirsch, e outros magnatas da época, tinha como motivo
central a tentativa de encontrar uma solução para estes problemas. De fato quando a JCA
adquire terras no Rio Grande do Sul para estabelecer colônia judias com judeus oriundos da
Rússia, começando por Philipson, em 1904, o Governo de São Paulo, com novo ímpeto
também projeta a vinda de “russos”, em 1905, para renovar e criar novas colônias no
interior do Estado.
Creio que a imigração ao Brasil, entre 1905 e 1906, está diretamente associada, e tem como
causa, o fundo histórico lembrado acima acrescido da onda de pogroms deliberadamente
York, 1949, vol. IV, pp. 9-33, o primeiro grupo se organizou em Odessa logo após os pogroms de 3 a 5 de
maio de 1881 que ocorreram naquela cidade. Manes trás elementos que permite aventar a hipótese que o Am
Olam acreditava ser possível criar um estado Judeu nos Estados Unidos. V. também Frankel, J., The Roots of
“Jewish Socialism” (1881-1892): From “Populism” to “Cosmopolitanism” in Essencial Papers on Jews and
the Left, ed. Ezra Mendelsohn, New York University Press, New York-London, 1997, pp. 58-77. 368
V. Gorin ,B., Di geschichte fun idichen theater, Max N. Meisel, New York, 1918-1923, vol.II, pp. 10-11.
Gorin relata que os membros do Am Olam, ainda na Rússia , usavam os espetáculos teatrais para levantarem
fundos para o movimento, e que na medida em que passaram a viver na cidade de Nova York, como
trabalhadores das oficinas e dos sweatshops, revelavam seus talentos em momentos de descontração e
cantoria nos próprios locais de trabalho.
198
orquestrada pelo governo russo, devido ao seu fracasso na guerra contra o Japão, em 1904-
5, e à eclosão da revolução do ano de 1905, decorrente, assim como estimulada pelas
derrotas militares. Logo após abril de 1905, quando, entre outros lugares, se deu o pogrom
de Zhitomir, com trágico resultado para a comunidade judaica local,369
chegariam ao Brasil
os primeiros judeus da Rússia para a nova colônia da Estação Vila Americana - Núcleo
Nova Odessa. 370
Oficialmente a colônia foi fundada pelo decreto 1286 de 24 de maio de
1905, baseado , no artigo 2 do decreto do Presidente do Estado de São Paulo, número 751,
de 15 de março de 1900. No artigo 1 deste decreto consta: “Fica creada na fazenda
“Pombal”, de propriedade do Estado, o Núcleo Colonial Nova Odessa, o qual poderá ser
exclusivamente destinado para localização de imigrantes russos, agricultores e constituídos
em famílias.” Na verdade o núcleo foi estabelecido em terras particulares compradas pelo
Governo, e alargado com a aquisição,ainda em março daquele ano, de uma fazenda anexa,
fazenda Pombal, situada à margem da Estrada de Ferro Paulista, e com terras adicionais
pertencentes a antiga fazenda Velha.371
Um levantamento dos nomes das famílias que chegaram, mostra que as primeiras levas de
colonos, em sua quase totalidade, eram formadas por judeus e que somente à partir do final
de 1905, isto é, dos últimos dias de dezembro daquele ano, começaram a chegar alemães,
austríacos, russos-letos, que professavam outras religiões. A colônia Funil-Campos Salles,
criada anteriormente, em 1897, teve como seus fundadores elemento humano não-judaico, e
segundo o Relatório da Secretaria da Agricultura, de 1903, encontravam-se no núcleo, entre
outras nacionalidades, 30 russos.372
Mas, em 1905, Corumbatahy-Colônia Jorge Tibiriçá e
Nova Odessa recebem os imigrantes judeus que chegam nos navios da Royal Mail Steam
Packet Company, especialmente contratada, em 3 de abril de 1905, pelo Governo do
Estado para trazer da Rússia, via Inglaterra, tais colonos. O fretamento dos navios, que
saem em sua absoluta maioria de Southampton e excepcionalmente de Cherbourg, com um
grande número de imigrantes que serão posteriormente levados às colônias, e também à
Capital, nos leva a crer que o governo do Estado, através de seus agentes, tinha ciência da
precária situação em que se encontravam os judeus da Rússia, situação esta que os impelia
à emigrar em direção ao ocidente na tentativa de se estabelecerem, sem que, em sua maioria
tivessem possibilidades de serem bem sucedidos, uma vez que não eram bem-vindos, seja
na Alemanha, Inglaterra ou outros lugares.373
O núcleo Dr. Jorge Tibiriçá foi criado pelo contrato datado de 25 de março de 1905,
estabelecido com a Companhia Pequena Propriedade, da qual o governo adquiriu a metade
369
Sobre esse pogrom, entre outras fontes, temos uma descrição fidedigna do líder do Bund Beinisch
Michalewich, no livro Beinisch Michalewich-Buch, ed.Kultur un Hilf u. n. Arthur Siguelbaum, Buenos
Aires, 1951, pp. 281-87. 370
Livro de Matricula de Imigrantes, no. 74, pp. 81-82, Arquivo do Museu do Imigrante, São Paulo. Os
imigrantes vieram com o navio “Magdalena” e deram entrada na Hospedaria dos Imigrantes em 8-9 de maio
de 1905. 371
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de 1905 - AE, pp. 142-3. Vide o Apêndice “Decreto
N. 1286 de 24 de maio de 1905” que especifica os artigos referentes ao Núcleo Nova Odessa, seu
planejamento econômico-agrícola e demais detalhes. 372
Relatório da Secretaria da Agricultura de são Paulo de 1903 - AE, pp.76-78. O núcleo estava composto de
brasileiros, alemães, franceses ,austríacos, italianos, suíços, suecos, portugueses e outros, num total de 892
colonos. 373
A sucessão dos navios com suas datas de chegada bem como a lista dos passageiros encontra-se no anexo a
este estudo intitulado “Lista dos Imigrantes Judeus nas Colônias do Interior de São Paulo e na cidade de São
Paulo”.
199
das terras da fazenda “São José do Corumbatahy”, com o propósito de retalhá-la
conjuntamente, com a outra metade, que ficou pertencendo àquela empresa. Pelo decreto
1320 de 30 de setembro de 1905, foram estabelecidas as condições para a concessão dos
lotes pertencentes ao governo. Por outro decreto, o de numero 1300 de 22 de agosto, foram
anexadas terras doadas pela Arthur Nogueira & Comp. para a colonização em Campos
Salles 374
. O núcleo Jorge Tibiriçá adotou um sistema diverso ao de Nova Odessa, isto é, o
da parceria entre o governo e o proprietário das terras. O Estado pagou a metade das terras
de propriedade particular, dividindo-a em lotes que foram distribuídos, alternadamente,
entre o governo e o outro proprietário. 375
Podemos identificar na criação dos novos núcleos, neste ano de 1905, uma renovação da
política governamental de colonização e a abertura à imigração, após um período de
estagnação que vai de 1897 a 1904, ano em que é retomado o ímpeto para encetar um novo
processo de colonização, mesmo porque, a demanda de mão de obra se fazia sentir na
economia paulista, a começar da área agrícola cafeeira. No Relatório da Secretaria da
Agricultura do ano de 1904 se nota que “o serviço de colonização está iniciado com a
aquisição, para serem divididas em lotes, de duas fazendas, ambas à margem da Estrada de
Ferro Paulista, uma exclusivamente do governo e outra por meação ou parceria com seu
antigo proprietário... É apenas um início, no qual se está, por assim dizer fazendo o ensaio
de novos moldes para a adoção de um plano de ação, mediante o qual se obtenham
resultados mais prontos e seguros”.376
Além do mais, criava-se um fundo para a
colonização, que deveria prover recursos financeiros para a retomada da política
governamental de facilitar a vinda de imigrantes. Ao mesmo tempo, instituiu-se um
Comissariado do Estado de São Paulo em Antuérpia, para a fiscalização dessa imigração e
para propagar o seu desenvolvimento.377
Quando, a partir de maio de 1905, os imigrantes começaram a chegar, eles puderam optar
em se dirigir a um dos três núcleos coloniais assim como também para a capital do Estado.
Pelo levantamento que fizemos das listas de passageiros judeus, que vieram neste ano até
os inícios de 1906, incluindo-se as mulheres e as crianças, temos a seguinte distribuição:
Nova Odessa - 82; Corumbatahy-Dr. Jorge Tibiriçá - 244; Campos Salles – 155; Capital e
Porto Zootechnico – 223, além de outros 20 que se dirigiram para o Rio Grande do Sul,
perfazendo o total de 723 almas. Os navios da Royal Mail Steam Packet Comp.
transportaram-nos nas seguintes datas: Magdalena, 8-9/5/1905; Aragon, 2/8/1905; Danube,
30/8/1905; Clyde, 17/11/1905; Magdalena, 21/12/1905; Thames, 27/12/1905; Clyde,
18/1/1906; Nile, 1/2/1906. As duas maiores levas de imigrantes vieram em 2/8/1905
(Aragon) e 30/8/1905 (Danube). É interessante notar que parte dos filhos dos imigrantes
vinham com a cidadania inglesa, indicando que muitas dessas famílias já se encontravam na
Inglaterra há vários anos, isto é, desde o século passado. Por outro lado devemos observar
que o número de imigrantes pode ser maior pois na listas de nomes que constam na Folha
374
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de 1905 - AE, p.126. 375
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de 1907- AE, pp. XXIV-V. Neste relatório se informa
sobre o restabelecimento da administração do velho núcleo de Campos Salles núcleo, que, sob esse aspecto,
devia estar abandonado. O esforço do Governo do Estado se manifesta nas “Instruções para a localização de
imigrantes nos núcleos coloniais Nova Odessa e Jorge Tibiriçá” de 30 de setembro de 1905. Vide Apêndice
com este título. 376
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de 1904 – AE, p.131.
377
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de l907 - AE, pp. XXIV-V.
200
de Pagamento, de agosto e outubro de 1905 da colônia Nova Odessa,378
aparecem nomes
que não constam nos Livros de Matricula de Imigrantes, pelo fato de serem registrados
somente os que se abrigavam na Hospedaria dos Imigrantes.
Porém, já no Relatório da Secretaria da Agricultura de 1905, publicado no ano seguinte, ao
se referir à Nova Odessa, encontramos expresso que “os primeiros imigrantes localizados
nesse núcleo não provaram bem. Eram das primeiras levas de imigrantes russos que não
dispunham de verdadeira aptidão para a lavoura (g.n...”379
O mesmo ainda dirá que “
corrigidos os defeitos de angariamento dos primeiros imigrantes vindos com destino a esse
núcleo, as levas que foram chegando no corrente ano [de 1906] garantiram logo o rápido
povoamento do núcleo, que vai já bastante adiantado.” E no relatório da mesma secretaria
do ano de 1906 lemos que “com a vinda dos imigrantes russos-letos, que começaram a
chegar em junho, pode-se considerar iniciada a fase de definitivo povoamento do núcleo.
Estes imigrantes, todos camponeses, mostraram , desde o primeiro dia, a maior ansiedade
por voltarem à vida rural que haviam deixado em sua pátria. Mostram o maior interesse em
se instalarem bem e de modo definitivo.”380
De fato, segundo os Livros de Matricula de
Imigrantes, correspondentes aos anos de 1906 e 1907, chegariam à Nova Odessa as famílias
de russos-letos, assim como alemães, austríacos e poloneses, além de russos-letos, em
Curumbatahy-Jorge Tibiriçá.381
Na documentação referente às colônias constatamos que a partir de junho de 1906 há uma
grande quantidade de solicitações de lotes de parte de russos-letos, lotes estes que
pertenceram antes aos primeiros colonos judeus. Assim, vemos uma solicitação de Carlos
Butkus, russo-leto, procedente de S. Catarina, recém-chegado, em cujo processo lemos que
“este lote já foi concedido a Abraham Aarons que o abandonou em 6 de junho do corrente
ano, e veio para São Paulo declarando ao Diretor do Núcleo não mais voltar por ser
negociante”382
. Entre os russos-letos que vieram diretamente aos núcleos encontramos
aqueles que estiveram anteriormente em Santa Catarina, entre eles, Carlos Triemer,
originário de Novgorod, que solicita lote em Nova Odessa, e que era residente em
Massaranduba, Santa Catarina.383
Do mesmo modo, o intérprete da Agencia Oficial, Julio
Malves, pede para reservar três lotes para os seus parentes que se acham em Santa
Catarina.384
O abandono dos imigrantes judeus se deu em curto espaço de tempo, pois não estavam
habituados ao trabalho agrícola, e mesmo aqueles que eram agricultores na Rússia não
conseguiram se adaptar às condições que deveriam enfrentar nas colônias brasileiras.
Talvez, boa parte dos que declararam ao imigrarem que eram agricultores, de fato, não o
378
Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem 7197. 379
Relatório da secretaria da Agricultura de São Paulo de 1905 - AE, p.143. 380
Relatório da Secretaria da Agricultura de São Paulo de 1906 - AE, p.193.
15 Livros de Matricula de Imigrantes- IMI, 77, pp.38-42; 78, pp.101,125, 156, 208,247; 79, p.19. 382
Documentação do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1906, caixa 46, ordem 7197, proc. No. 4, 8de setembro
de 1906 – AE. 383
Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem 7197, proc. no. 16, junho de 1906. 384
Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem 7197, proc. no. 29, 23 de setembro de 1906. É
curiosa a argumentação apresentada para esse pedido:”... quase todos me perguntam porque eu não tenho
chamado a minha gente para São Paulo e desconfiam o fato pensando que nós não temos intenção de comprar
terra em São Paulo e que nós se não voltamos para Rússia, vamos para a Argentina, onde eu tenho muito
conhecimento e alguns conhecidos. Se nós tiver aqui terra os imigrantes tinham muito mais confiança para
este país. E nós preferimos muito mais o Estado de São Paulo como a Republica Argentina...” Fiz a
transcrição do português exatamente como foi redigido no documento.
201
eram, o que pode ser verificado numa leitura das listas dos passageiros aos quais as
autoridades portuárias parecem atribuir aleatoriamente certas qualificações profissionais
sem que se as possa comprovar. Às dificuldades naturais do trabalho agrícola, associavam-
se os imprevistos climáticos como podemos verificar no relato do responsável pelo núcleo
Nova Odessa, Candido Albuquerque: “As chuvas tem concorrido também para impedir os
trabalhos assalariados por conta do núcleo, o que tem feito com que muito reduzida é a
quantia que cada colono recebe no fim do mês para a subsistência da família”. Outros
fatores também se associariam para provocar demandas e causar decepções, como as
ocorrências freqüentes de extravio de bagagem, como no caso de Shaia Hassik, sobre o
qual se relata ter feito “gravíssimas ameaças “ por estar sofrendo privações e grandes
prejuízos com a demora em receber suas bagagens, queixando-se contra o governo, que,
conforme ele próprio, propositalmente procura prejudicá-lo...”385
Pelo visto, ele não era o
único a reclamar, pois no despacho do mesmo processo, o funcionário responsável pelo
núcleo diz ter seguido para lá e tomado as providencias que o caso reclamava, “chamando a
ordem os turbulentos, explicando as causas da demora das bagagens reclamadas, fazendo o
pagamento dos dois meses passados e procurando satisfazer a alguns descontentes por
motivos privados, devido em parte a falta de conhecimento de nosso clima e sistema de
lavoura”. Contudo, é interessante observar que, ainda em inícios de 1906, alguns imigrantes
judeus, que de início se dirigiram à Capital, solicitaram lotes em Nova Odessa com a
intenção de lá se estabelecerem como colonos. Porém, são casos isolados.386
Outros
demonstraram sua intenção de trabalharem em suas profissões, como no caso de Marck
Schwarzman, concessionário do lote 31, que pede autorização para montar uma pequena
tenda de ferreiro junto a sua casa, ou no um lugar que mais convier à administração do
núcleo. Nas listas dos assalariados do núcleo encontramos vários imigrantes judeus
exercendo tarefas de toda ordem, vinculadas diretamente à administração de serviços de
atendimento aos colonos. 387
Certamente, a não adaptação dos colonos judeus naquelas colônias levou a um processo de
abandono dos lotes que haviam adquirido, e seu conseqüente exôdo para os centros urbanos
daquela região, bem como para São Paulo, cidade que havia recebido parte da mesma leva
imigratória do ano de 1905, e assim como para outros Estados do país. Os núcleos
populacionais judaicos de Rio Claro, de Limeira, Campinas, São Paulo, receberiam
imigrantes egressos daquelas colônias, como podemos verificar pela trajetória particular da
família de Benjamim Golovaty, que de Corumbatahy-Jorge Tibiriçá acabaria por se
385
Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem 7197, proc. No. 17, de 11 de março de 1906, em
nome do funcionário do Núcleo, Candido de Albuquerque - AE. Shaia Hassik havia solicitado novo lote
devido sua família ser composta por 6 pessoas, mas retiraria seu pedido por “não se sujeitar a pagar a casa
pelo seu preço, dizendo que se retirava do lote, digo do Núcleo, logo que termina a colheita dos cereais que
plantou, isto é, dentro de 30 dias mais ou menos”. Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem
7197, proc. No. 27, de 25 de maio de 1906. 386
Documentação do Núcleo Nova Odessa, caixa 46, ordem 7197, proc. No. 28, Simon Lerman de 9 de
janeiro de 1906; caixa 47, ordem 7198, proc. No. 15, Marck Shwarzman; proc. No. 16, Mendel Bendewsky;
proc. No. 17, Marck Pipman, todos de 8 de janeiro de 1906 e que tinham imigrado para a Capital. Mais tarde
encontramos que o lote 31 de Nova Odessa passará, a Johan Mastbracher, um russo-leto, que o solicitou em
22 de setembro de 1906, lote este “ocupado anteriormente por Marck Pipman que o abandonou há mais de
seis meses...” . Doc. do Núcleo Nova Odessa , caixa 47, ordem 7198, proc. No. 10, Johan Mastbracher de 22
de setembro de 1906. 387
Documentos do Núcleo Nova Odessa, caixa no. 46, ordem 7197, no. 1A.. ano 1906.
202
estabelecer em Rio Claro, vindo, mais tarde, seus descendentes à viver em São Paulo.388
A
figura de Benjamim Golovaty é um exemplo comovente dessa imigração, que em sua
maioria absoluta aportou em Santos no decorrer do ano 1905, vindos da Rússia via
Inglaterra. Ele chegou com sua família no navio Danube, que saíra de Cherbourg, e entrou
em Santos em 30 de agosto de 1905, ficando hospedado na Hospedaria dos Imigrantes de
São Paulo, para ser encaminhado à colônia Jorge Tibiriçá.389
Pelo processo de 9 de agosto
de 1906, no qual ele pede permutar seu lote 68 por outro, de número 54, que pertencera a
Jacob Viener , sabemos que ele fora diretamente àquele Núcleo.390
Sua solicitação é
justificada pela dificuldade de ir ao local de trabalho naquele lote, por se encontrar muito
afastado, o que dificulta aos seus filhos, que são pequenos, chegarem até lá e ajudarem-no
no trabalho. Além do mais, ele pedia para morar ainda mais um ano na casa do Governo. O
pedido foi indeferido porque no parecer dos administradores Golovaty queria usufruir, com
a troca, o desconto que havia sido dado ao ex-proprietário do lote 54. No parecer do
secretário da agricultura, a razão para o indeferimento se prende ao fato “de nem um e nem
outro dos interessados ter sequer iniciado suas residências nos lotes, tendo ambos se
contentado em usufruir os favores do governo sem nada [...] no sentido da localização”. Ele
acrescentará em nota final, que dá margem a várias interpretações, que “a seção parece
ignorar a que se destina as casas da colônia, por quanto[ ...] sejam guardadas pela simples
habitação de vadios e especuladores (g.n.)”
Em 16 de outubro de 1906 Benjamim Golovaty escreveria uma carta ao Secretario da
Agricultura, Dr. Carlos Botelho, na qual relata sua odisséia pessoal como colono e que ao
meu ver é um documento notável pelo seu conteúdo, que além de revelar o que se passou
com os colonos judeus, aponta a imensa gratidão ao governo brasileiro por tê-los trazido ao
país:
“Núcleo Colonial “Jorge Tibiriçá” Seção Ferraz
Ilmo. Exmo. Sr. Dr. Carlos Botelho
DD. Secretário da Agricultura
Eu, abaixo assinado colono russo residente na seção Ferraz a um ano e meio, venho por
meio desta a presença de V.Excia. esclarecer o seguinte: Fui eu um dos primeiros colonos
que cheguei a Ferraz com quarenta famílias mais ou menos,391
as quais fugiram, restando
apenas duas, sendo eu e Luiz Tamb.
Por infelicidade no ano passado não pude fazer plantação, devido ter ficado a minha família
toda doente e em estado grave. Lutei com todas as dificuldades, e afinal triunfei, achando-
se atualmente toda a minha família restabelecida, e gozando perfeita saúde. Durante este
período de um e meio ano, tive ocasião de estudar de perto este lugar, e fiquei satisfeito
388
Devo agradecer à D. Anna e seu filho Maurício Golovaty por esta informação sobre seu antepassado
Benjamim Golovaty. Maurício também doou gentilmente documentos relativos à sua família ao Arquivo
Histórico Judaico Brasileiro, enriquecendo desse modo o acervo existente em nossa instituição. 389
No registro do Livro de Matricula do Imigrante sua profissão consta como sendo alfaiate, e tendo 40 anos
de idade. Estava acompanhado de sua esposa Basse, 36 anos, o irmão Samuel, 22 anos, os filhos Joseph, 18
anos, Genne 11 anos, Chaike 1 ano, Simon, 7 anos, Feige 3 anos, Dweire 5 anos. 390
No respectivo processo, de no. 19, caixa 39, ordem 7190, de 9 de agosto de 1906, consta a frase “... do
qual desfruta a um ano sem nada ter pago ainda...” 391
Listei 244 judeus que se destinavam a colônia Jorge Tibiriçá de acordo com os Livros de Matricula de
Imigrantes. Possivelmente muitos desistiram antes e foram a outros lugares ou vieram para a capital de São
Paulo. Se considerarmos que o número médio de membros de uma família era composta de 4 filhos, além dos
pais, a cifra lembrada por Benjamin é perfeitamente correta.
203
porque conclui que estas terras da seção Ferraz são ubérrimas podendo afirmar que aqui
está o futuro do colono recém chegado, não exitando em escrever à minha terra natal a
Rússia fazendo ver o que é o Brasil. Desejando plantar este ano, e duplicar de ano para ano
a minha lavoura venho a presença de V.Excia. pedir de conceder-me o lote no, 54 da seção
Ferraz, o qual está vago, achando-me prevenido com a quantia de 150$ 000 para a primeira
plantação, digo prestação. Aguardo apenas a solução de V.Excia. para entregar já esta
quantia, e imediatamente iniciarei o serviço de preparar a terra para o plantio.
Toda e qualquer informação que V.Excia. deseje, estou pronto a prestar-lhe se quiser dar-
me a honra de interrogar-me.
A quantia de 150$000 é correspondente a decima parte do valor do terreno que é 1.500$000
e solicito de V.Excia. o despacho com urgência para evitar que passe o tempo do preparo da
terra.
Não devo terminar este requerimento sem primeiro prestar homenagem ao Governo
Brasileiro, representado na pessoa de V.Excia. por ter em tão boa hora nos retirado do
nosso país onde éramos oprimidos, colocando-nos neste pitoresco lugar, onde só vemos um
futuro risonho, e em um país de liberdade.
As famílias russas que abandonaram este lugar foram convencidos que aqui estava a ruína
do colono, e isto devido a não quererem plantar e esperar pelo resultado, o que não se deu
comigo que aqui estou a um ano e meio e tenho notado quanto é rico este solo.
Esperando ser atendido neste meu justo pedido, tenho a honra de me confessar de V.Excia.
um humilde admirador.
São Paulo, 16 de Outubro 1906
Benjamin Golovaty”392
Contudo, a carta enviada ao secretário da agricultura não surtiu o devido efeito, pois o
chefe responsável que recebeu o requerimento para o julgamento final o indeferiu nos
seguintes termos: “Já tendo sido indeferido a 10 de setembro último, idêntico pedido do
requerente, que segundo informação da Agência Oficial, em 23 de Agosto último, é judeu
russo da 1a. leva, nada fez como agricultor e viveu no núcleo como pensionista do Governo
do que como colono, parece não dever ser deferido o presente requerimento. Ferraz, Chefe
da 2a. 18. 10. 906.” Além do acôrdo dado a esse parecer pelo diretor geral da secretaria
da Agricultura, ainda encontramos um “informe” de que o pedido “poderá ser deferido se
não residir em casa do Governo, favor de que já usufruiu um ano.” Se lermos atentamente
este último parecer, perceberemos que o funcionário que o assina frisa que o requerente “é
judeu-russo da 1ª leva” , sendo que, na documentação compulsada por mim, é a primeira
vez que se faz referência à religião de um colono. Um outro aspecto digno de nota neste
parecer é a associação dessa designação à “1ª leva”, que era de fato composta de judeus,
confirmando desse modo o que já sabíamos, porém com uma clara evidência depreciativa –
e sabemos porque- para não ser atendido o pedido do requerente. A primeira leva, isto é dos
judeus-russos, não se fixara no solo e causara gastos ao Estado. Daí a rude observação que
“nada fez como agricultor e viveu no núcleo como pensionista do Governo do que como
colono”, o que não corresponde inteiramente à verdade.
392
A carta se encontra no processo, acima mencionado, em nome de Benjamim Golovaty. O nome Benjamim
ora parece com n final ora com m, do mesmo modo o nome Golovaty, aparece como Golovate e no Livro de
Matricula de Imigrantes como Golovatkin. Em todos os textos e citações dos documentos da época optei
transcreve-los com a grafia de nossos dias.
204
Podemos concluir, pela letra da redação dos indeferimentos, assim como pelas expressões
que encontramos no Relatório da Secretaria da Agricultura referente ao ano de 1906 e
outros indícios apresentados em nosso trabalho, que os imigrantes judeus trazidos pelo
governo do Estado de São Paulo, com a intenção de criar novos núcleos agrícolas e renovar
seu projeto de colonização, decepcionaram os seus planejadores, que viram neles um
elemento não apto ao trabalho agrícola, pois abandonaram, em relativo curto espaço de
tempo, aqueles lugares sendo substituídos por russos-letos e outras nacionalidades.
O fato surpreendente é que desconhecíamos inteiramente a existência dessa imigração,
numericamente significativa, no ano de 1905, vinda da Rússia e programada pelo governo
do Estado para uma colonização agrícola, o que nos leva a alterar nossa avaliação sobre a
presença dos judeus ashkenazitas em São Paulo, e também no Brasil, pois acresce uma
nova leva imigratória às muitas que já compõem a cronologia e o quadro histórico da
presença judaica no país no ano em que comemoramos os seus 500 anos. Se esses colonos
fracassaram como agricultores, certo é que não fracassaram, porém, como cidadãos que nos
centros urbanos, espalhados pelo território nacional, deram sua contribuição em outras
atividades econômicas, sociais e culturais, e se mantiveram, e assim foram vistos, como
comunidades exemplares aos olhos da ampla sociedade brasileira. *
* Este artigo representa a primeira etapa de um trabalho que deverá ter continuidade sob a
forma de um levantamento que deverá investigar o destino dos imigrantes que vieram nos
anos de 1905 e 1906, pesquisa que exige o emprego da metodologia da história oral.
Algumas questões são relevantes e entre elas a da aculturação e assimilação dessa leva
imigratória bem como a sua dispersão pelo território brasileiro e fixação em outros lugares.
205
Apêndice 1: LISTA DOS IMIGRANTES JUDEUS NAS COLÔNIAS DO
INTERIOR DE SÃO PAULO E NA CIDADE DE SÃO PAULO
1- Estação V. Americana – Núcleo Nova Odessa
Nome Idade Profissão Navio Data de Chegada
Chassik, Solomon Magdalena (Southampton-Santos) 8-
9/5/1905
Channe
Samuel
Henne
Shrage
Laibe
Karasik, Hirsh
Zipe
Anne
Plotkin, Leibe
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp. 81-
82 – MI]
Grinberg(?),Pinches 27 agricultor Aragon (South.- Santos)
2/8/1905
(Gomberg)? Sheindel 24
Welver (f.) 6
Golde 4
Lea 2
Luiz 6m
Krians, Abram 42 agricultor
Basse 40
Chaim 17
Blume 12
Harry 8
Rosa 6
Cohen, Zelik 27 agricultor
Sarah 22
Braine 5
Melman(?), Abram 27 agricultor
Spivack, Mechmie 39 cigarreiro
Esther 39
Itzick 18
Nome Idade Profissão Navio Data de Chegada
Zelik 16
Ephraim 11
Rifka 2
206
Gordon, Harris 32 sapateiro
Chane 28
Beckie 12 (inglesa)
Rive 11
Braime 9
Sarah 8
Abbe 5
Gankel 3
Meische 2
Kaminsky, Morris 48 agricultor
Schiffre 42
Berel 8
Chaike 6
Gudel 23 escoveiro
Gold, Abram 29 maquinista
More 29
David 11
Basa 9
Morris 7
Fanny 5
Lewis
Trachtman, Wolf 27 agricultor
(irmão) Mordche 30 agricultor
Baraum, David 23 agricultor
Cohen, Louis 52 agricultor
Stelmach, Pincos 24 carpinteiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp. 258-266
– AMI)
Aisik, Abram 45 sapateiro Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Heiman 21
Neeri 20
Povlotzky, Benzion 40 carpinteiro
Abram 23
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
(cunhada)Pesse 23
Sapossnik, Jossel 24 pintor
Said, Baruk 41 alfaiate
Chaie 38
Basheva 15
Benjamin 13
Peisach 11
Leibe 9
Slatt 5
207
Beile 4
Zerkassky, Leiser 26 tipógrafo
Cohen, Barnet 48 cocheiro
Lea 46
Sarah 19
Katty 14
Harry 11
Izaac 10
Rachel 6
Weiner, Abraham 26 doméstico Danube (South. – Santos)
30/8/1905 (?)
(Obs. Aparece registrado em lugar separado)
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75, pp. 14-
19 – AMI]
2- Corumbatahy – Colônia Dr. Jorge Tibiriçá
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Kapeloff, Nachan 24 agricultor Aragon (South. – Santos)
2/8/1905
Levcovitz, Lazar 30 agricultor
Spulansky, Nesske 24 agricultor
Krisensky, Janker 35 agricultor
Zelzer, Welvel 36 agricultor
Skolnik, Isaac 25 agricultor
Chaie 25
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Zemo 4
Sruel 6m
Rustein, Maier 28 agricultor
(irmão) Beisen 20 agricultor
Shmulovitz, Meier 30 agricultor
Gerwitz, Abram 23 vidraceiro
David 25
Rissa 23
Morris 4
Dinerstern, Abbe 26 agricultor
Gutler, Josse 20 agricultor
Divenoff, Samuel 22 agricultor
Kashitsky, Shie 46 agricultor
208
Moske 22
Liser 12
Itto 19
Chone 17
Dhasse 14
Reichet, Hersher 28 negociante
Rinkof, Barnet 22 agricultor
Beile 22
Sore 1e 6m
Mirodznik, Mindel 28 agricultor
Codnash, Elie 28 tapeceiro
Meier 25 tapeceiro
Fayngold, Lazar 27 agricultor
Broner, Chaim 24 cocheiro
Fanny 22
Rigler, Jacob 24 (austríaco) agricultor
Hella 21 (russa)
Seiff, Joseph 19 agricultor
Migdan, Aaron 24 padeiro
Cohen, Feivel 19 agricultor
Cass, Simon 25 agricultor
Belinsky, Moshe 23 agricultor
Rincoff, Samuel 23 agricultor
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Altshuller, Mike 24 quitandeiro
Hoshman, Jankel 28 agricultor
Sane 32
Itzkovitz, Jael 25 cocheiro
Bernstein, Samuel 28 agricultor
Pliskin, Sem 22 agricultor
Sternlicht, Sigmond 35 foguista
Weinstein, Leibe 24 agricultor
Gerschman, Harris 26 padeiro
Breiman, Mochke 21 agricultor
Gorin, Gersch, 25 agricultor
Weisman, Samuel 30 carregador
(mulher) Chaim(?) 24
Adler, Philip 24 agricultor
Pesse 24
Moses 4
Rose 3
(irmão)Hersch 20
Lea 22
Tulka, Phillip 26 agricultor
Rozenzveig, Hein 30 agricultor
209
Zaller, Duga 21 agricultor
Berman, Gudel 20 agricultor
Bliskin, David 25 agricultor
Tamb, Luis 27 agricultor
Estherman, Gdale 25 agricultor
Rincopf, Haim 21 padeiro
Thernafski, Harris 26 agricultor
Burstein, Abraham 20 agricultor
Abramowstzky, Jacob 23 (Romania) pintor
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp.258-
266- AMI]
Anilewitz, Max 24 alfaiate Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Eidel 35
Solomon 7
Chaim 6
Ila 4
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Leie 12
Anilewitz, Gersh 29 cigarreiro
Esther 23
Annie 3
Rosa 1
Anilewitz, Samuel 32 cigarreiro
Annie 18
Apperbaum, Samuel 33 curtidor
Golde 26
Ganker 4
Leie 3
Leib 1
Bersner, Paul 23 sapateiro
Bebak, Gersh 25 alfaiate
Masche 22
Bernstein, Davies 30 sapateiro
Zile 27
Sruel 10
Gerah 6
Feige 4
Elie 1
Bernstein, Mimel 27 sapateiro
Chave 25
Bernstein, Joseph 20 pintor
Milli 22
Charak, Leiser 35 quitandeiro
210
Rachel 34
Nuchem 11
Chave 9
Aaaron 5
Rosemblum, Abraham tecelão
Chaimovitz, Itzik 41 agricultor
(irmão) Noech 22 agricultor
Erenbaum, Gersh 36 sapateiro
Esther 40
Gena 17
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Jankel 16
Sore 10
Israel 7
Isaac 3
Bergstein, Sam 21 carpinteiro
Finkelstein, Gersh 28 agricultor
Feige 22
Ruben 1
Gottlieb, Joseph 36 funileiro
Marian 28
David 11
Nathan 1
Guttarz, Leiser 35 alfaiate
Mendel 3
( irmão) Welvel 21 alfaiate
Golovatkin, Benjamim 40 alfaiate
(Golovaty) Basse 36
(irmão) Samuel 22 alfaiate
Joseph 18
Genne 11
Chaike 1
Simon 7
Feige 3
Dweire 5
Cressman, Morris 38 negociante de fumo
Guide 34
Schlome 10 (ingleza)
Isaac 8 “
Fanny 5 “
Golde 3 “
Solomon, Louis 45 alfaiate
Jacobs, Abram 33 agricultor
Chave 34
Harry 13
211
Fanny 6
Aaron 5
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Zallel 1
Heiman 10
Dora 8
Krassnapolsky, Harris 28 quitandeiro
Ette 25
Itte 5
Chane 1
Gaetzke, Abraham 34 cordoeiro
Zesskiss, Meier 35 cordoeiro
Kossanovffsky, Solomon 31 alfaiate
Kisseloff, Woolf 33 plantador de fumo
Sheindel 29
Esther 10
Genne 9
Rosa 7
Chana 2
(irmão)Simon 22
Gussenbuncunh(?), Manes 21 plantador de fumo
Lerman, Philip 44 agricultor
Lea 36
Malke 19
Sore 17
Chaim 16
Gersh 13
Perrel 5
Sisse 3
Kahanovitz, Chaim 30 refinador
Dweire 27
Ebli 3
Rahinovik, Lazar 20 mascate
Rubin, Joseph 18 mascate
Lublin, Luiz 28 alfaiate
Katte 22
Annie 1
Moropolsky, Morris 33 ferreiro
Nome Idade Profissão Navio
Data de Chegada
Pesse 30
Jankel 14
Gittel 13
212
Braim 10
Leizer 2
Feivel 1
Nelves, Meier 29 mascate
Becca 29
Rosa 13
Barnett 10
Chaie 6
Hersch 1
Paperman, Ginrik 46 agricultor
Dora
Chaver, Abraham 31 carpinteiro
Galka, Israel 18 carpinteiro
Rashkowitz, Philip 22 engomador
Rosa 23
Itte 1
Raicher, Zeller 28 (austriaco) engomador
Sure
Meier(?)
Starrashelsky, Morris 29 alfaiate
Gittel 28
Chaim 1
Sheibel, Max 40 agricultor
Mashe 38
Jane 13
Chaime 11
Feige 1
Speiler, Samuel 29 agricultor
Mashe 24
Nissem 5
Rivke 3
Perrel 2
Bolgwevitz, Mettel 26 fabricante de vinho
Nome Idade Profissão Navio
Data de chegada
Saliff, Izaac 26 trapeiro
Sara 23
Meier 3
Weisman, Sruel 36 carpinteiro
Esther 28
Mordke 9
Elie 6
Waldman, Zecharie 29 carpinteiro
Ruchle 27
Hirsh 4
Shiel 2
213
Moshe 1
Rosenthal, Israel 27 sapateiro
Bekker, Simche 21 carpinteiro
Reize 20
Bekker, Joseph 20 carpinteiro
Bekker, Moshek 23 chapeleiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75, pp.14-
19-AMI]
Viener, Perle 26 agricultor Nile(South.-santos)
1/2/1906
Ette(chefe) 37
Jotta 16
Fanny 14
Esther 9
Hyman 6
Mary 2
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76 , p.
148- AMI]
3 – Funil- Colônia Campos Salles
Kassin, Nochen 22 agricultor Aragon(South. –
Santos) 2/8/1905
Nome Idade Profissão Navio
Data de chegada
Wernik, Hersch 33 agricultor
Feige 22
Beile 3
Abram 2
Koslowsky, Mendel 23 agricultor
Fradikin, Joseph 21 negociante
Schreibman, Morris 21 agricultor
Hurwitz, Wolf 21 agricultor
Ginsberg, Nathan 20 agricultor
Golabowsky, Philip 21 agricultor
Banker, David 34 mascate
Zerne
Sure
Dweire
Welvel
214
Kempner, Aisik 39 alfaiate
Sara 36
Millie 19 (inglesa)
Michel 17 (inglesa)
Morris 15 (inglesa)
Beny 13 (inglesa)
Henny 11 (inglesa)
Doris 9 (inglesa)
Sammy 7 (inglesa)
Joe 1 (inglesa)
Brendan, Barnet 24 barbeiro
Sanitz, Meschke 26 agricultor
Feldman, Samuel 35 agricultor
Sarah 35
Meier 11
Pellie 15
Sophie 8
Isidore 7
Morris 5
David 3
Freedman, Hersch 18 sem profissão
Etuni, Chaine 21 agricultor
Nome Idade Profissão Navio
Data de Chegada
Masche 22
Inersokin, Berri 25 pedreiro
Buserky, Berri 25 agricultor
Perel(?) 18
Wasilews, Gankel 29 agricultor
Kaminisky, Ellik 22 relojoeiro
Kairshinevitz, Abram 22 agricultor
Weinstein, Abram 23 agricultor
Levy, Wolf 20 alfaiate
Pinkus 18 alfaiate
Karasik, Moske 22 agricultor
Portnoi, Meier 28 agricultor
Gorki, Marco 24 agricultor
Newman, Isaac 19 (austríaco) sem profissão
Nimerofsky, Schmuel 25 ferreiro
Frichtenzmey, Israel 32 carregador
Zipenak, Isaac 23 agricultor
Zimmerman, Chaim 23 sem profissão
Rebeca 22
Zernim, Heshe(?) 28 agricultor
Ziesser, Elie 22 chapeleiro
Reische, Feiwush 18 agricultor
215
Cass, Simon 25 agricultor
Kopss, Bernardo 17 (austríaco) caixeiro
(irmão) Abram 14 caixeiro
Brenner, Abram 36 vendedor
Chesse 28
Freide 16
Nancy 12
Samuel 9
Lea 7
Sonne 3
Joseph 6m
Berezovsky, Simon 40 jardineiro
Mary 37
Meier 15
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Max 13
Polle 10
Jacob 8
Morris 3
Austrin, Salman 24 agricultor
Lipkin, Leibe 22 agricultor
Nachamovitz, Abram 22 agricultor
Chatz, Mordecai 21 agricultor
Zewill, Abram 29 agricultor
Karasik, Israel 22 cocheiro
Albert, Leibe 38 agricultor
Rabinovitz, Leibe 17 carniceiro
Fogel, Abraham 28 machinista
Leibe(?) 26
Masche 7 (inglesa)
Sarah 7 (inglesa)
Millie 3 (inglesa)
Rachel 2 (inglesa)
Keibel, Moshe 21 padeiro
Masch 21
Kushnir, Barnett 23 agricultor
Lackmovitz, (?)Mottel 29 agricultor
Karolinsky, Scholme 21 agricultor
Belenge, Chlone 28 agricultor
Kesler, Shlone 21 agricultor
Kanter, Meier 23 agricultor
Grabstein, Benjamin 33 (austríaco) tanoeiro
Blendel, Chaikel 34 agricultor
Iselberg, Welvel 38 agricultor
Rappeport, Max 35 mascate
216
Plotkin, Morris 25 agricultor
Rippin, Chone 27 agricultor
Obladsteine, Mosch 21 agricultor
Feldman, Benjamin 20 agricultor
Raffkuss, Mijchel 32 carregador
Press, Chainiss 21 mascate
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Dron, Hissen 28 agricultor
Medovai, Solem 21 ferreiro
Karlinsky, Elik 23 tecelão
Medovai, Zoller 23 ferreiro
Lipschitz, Salman 22 agricultor
Berman, Davies 21 sapateiro
Traub, Leibe 33 agricultor
Plakowitzky, Morduch 33 agricultor
Shiffrin, Morris 21 padeiro
Kalvan, Arje 32 cocheiro
Siflin, Aisak 25 caixeiro
Veivitz, Leizer 31 funileiro
Sternheld, Leib 25 (austríaco) agricultor
Kavernak, Slame 21 cocheiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp.258-
266- AMI]
Knussin, Solomon 43 agricultor B.G.Rezende- CCS Danube(Cherbourg-
Santos) 30/8/1905
Ronnik, Kalman 31 agricultor B.G. Rezende- CCS
Aisemberg, Chaim 31 agricultor B.G.Rezende-CCS
Boiarsky, Gersch 33 agricultor B.G. Rezende- CCS
Kaplan, Jankel 35 agricultor B.G. Rezende-CCS
Chaverman, Chone 32 agricultor B.G. Rezende- CCS
Estrin, Louis 32 carregador B.G. Rezende-CCS
Feingluss, David 24 agricultor B.G. Rezende- CCS
Zipol, Abraham 30 agricultor B.G.Rezende- CCS
Kalesnikoff, Sarah 35 alfaiate B.G.Rezende-CCS
Gersh 16
Simon 13
Rosa 10
Aaron 7
Leibe 4
Karasik, Gillel 32 sapateiro B.G. Rezende- CCS
Romilski, Morris 30 mascate B.G. Rezende- CCS
Michmovitz, Michel 31 ferreiro B.G. Rezende- CCS
Nuger, Eli 46 fabricante de carroça B.G. Rezende- CCS
217
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Weisman, Smuel 25 sapateiro B.G. Rezende- CCS
Sobarnik, Hussiel 21 sapateiro B.G. Rezende –CCS
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75, pp. 14-19-
AMI]
4- Cidade de São Paulo- Capital e Posto Zootechnico
Wiener, Abraham 27 rabino Aragon (South.-Santos)
2/8/1905
Idovitz, Salman 24 rabino
Barkoff, Melamed 41 agricultor
Chaie 38
Berel 18
Chane 16
Gittel 14
Ossher 12
Woolf, Josef 20 (inglesa) carpinteiro
Weis, Izidor 32 (romena) pedreiro
Said, Gersoh 19 agricultor
Perrell, (?) Jacob 25 agricultor Posto Zootechnico
Annie 20
Slotnik, Abram 32 vidraceiro
Wegner, Elie 48 alfaiate Posto Zootechnico
Slate 48
Benny 12 (brasileira)
(Gressel)Nessel 7 (inglesa)
Rebecca 18
Blume 16
Wegner, Heyman 28 alfaiate Posto Zootechnico
Gittel 29
Annie 4
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Itzchook 6m
Abrams, Louis 28 (inglesa) escriturário Posto Zootechnico
Rachel 28
Sarah 8
218
Max 7
Anny 4
Shlomovitz, Aisik 36 doméstico
Annie 34
Sore 15
Philip 13
Joe 10
Heyman 5
Fanie 2
Shapiro, Morris 23 cortador de lenha
Gellin (Yellin), Mendel 37 músico
Chais 40
Lea 11
Alter 8
Shimecke 8
Rozemberg, Israel 25 cocheiro Capital- Rodovalho Junior
Silverman, Jankel 24 tanoeiro
Freide 22
Pinkus 15
Golub, Abram 45 agricultor
Rachel 43
Simon 19 (inglesa)
Morris 17 (ingles)
Max 15 (inglesa)
Rubin 12 (inglesa)
Harry 4 (inglesa)
Guttmann, Mosche 19 encadernador Posto Zootechnico
Lapiz, Woolf 20 sem profissão Posto Zootechnico
Farb, Shie 23 marchante Posto Zootechnico
Elbaum, Manasche 23 comerciante
(irmão) Max 20
Dubov, Abraham 32 agricultor
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Cohen, Nochen 24 caixeiro
Nochame 23
Magram, Lebi 28 agricultor
(irmã) Itzhe
Weksler, Moshe 29 agricultor
Katz, Kushil 23 padeiro
Mostovitz, Lazar 28 alfaiate
Pahuker, Rebecca 36 (austríaca) cozinheira
Baron, Chaim 17 (inglesa) cocheiro
Largman, Itzchok 27 agricultor
Sore 24
Gossel 6m
219
Brook, Leibe 32 agricultor
Alexandroff, Susse 24 agricultor
Slate 22
Simon, Louis 26 cocheiro
Kernim, Ruben 22 barbeiro
Messer, Wolf 23 copeiro
Zulink, Itzick 22 agricultor
Kulesh, Morris 32 curtidor
Glasserman, Hune 33 agricultor Posto Zootechnico
Peishachovitz, Morris 29 carpinteiro Posto Zootechnico
Asman, Iste 21 padeiro
Moldener, Estke 19 sem profissão
Sisshaltz, Feibel 20 sapateiro
Becke 19 sapateiro
Kipnes, Lezer 28 sem profissão
Dutman, Kalman 35 agricultor
Horin (Hann), Simon 32 agricultor
Elke 22
Hershel 5
Shendel 3 (inglesa)
Mendel 6m
Goldberg, Abraham 30 (romena) cozinheiro
Becke 24 (russa) cozinheiro
Fisch, Abraham 24 sapateiro
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Merle 23
Needlman, Barnett 28 lavador de roupas
Ziniee 26
Anny 8
Morris 4
Nathan 3
Simon 1 e meio
Hengel, Mendel 26 mascate
Flanklin, Ruben 23 funileiro
Ette 20
Lea 1 e meio
Migdes, Samuel 27 agricultor
Needlman. David 26 lavador de roupas
Chaie 25
(cunhada)Fanny 24
Shulman, Nathan 22 sapateiro
Lea 22
Smarian, Abraham 24 acrobata
Sore 28
Scheindel 2
220
Smitts, Jacob 25 cozinheiro
Grutman, Leibe 28 ferreiro
Stern, Morris 27 agricultor
Lak, David 25 agricultor
Drunjinsky, Leib 22 serralheiro
Braustein, Nuchen 25 agricultor
Siber, Harris 20 carregador
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp.258-266-
AMI]
Baranowitz, Louis 28 cocheiro Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Becke 26
Jane 6
Grinspan, Jone 27 sem profissão
Sarah 21
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Shazavsky, Morris 27 cocheiro
Sure 27
Silberman, Jankel 42 padeiro
Mirien 44
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75 ,pp.14-19 –
AMI]
Raschkovsky, Isaac 36 agricultor Clyde (South.- Santos)
17/11/1905
Tauba 28
Chaia 6
Feiga 2
Motel 3
Malka 7m
Bonder, Israel 56 agricultor
Menucha 50
Josef 19
David 17
Kowaliwker, Meer 30 agricultor
Chane 29
Ruchel 4
Saibel 3
Esther 2
Brane 7m
Dragum, Israel 28 sem profissão
Chawe 27
Zipa 2
221
Borl 7m
Stolerman, Chume 68 sem profissão
Idis 48
Frede 21
Nisen 20
Lisa 17
Moses 16
Samuel 28
Chaie 23
Wele 2 e meio
Brana 1 e meio
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Leiser 6m
Berlin, Benjamin 30 sem profissão
Ruse 26
(irmão)Abram 20
Kuzi, Mendel 36 carpinteiro
Minza 28
Isaac 17
Masche 15
Blume 5
Sendor 1 e 5m
Seufer, Moses 19 carniceiro
Rose 19
Weintraub, Selick 35 fabricante de vinho
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75,
p.223 – AMI]
Selter, Salomon 47 agricultor Magdalena (South. -
Santos) 21/12/1905
(filha) Idel 22
Moses 19
Etel 16
Fuhrman, Elik 19 agricultor
Zwitel 20
Pipman, Benzion 23 agricultor
Bluma 23
Pipman, Mark 38 agricultor
Rebecca 36
Scheier 17
Zipre 15
Greschia 9
Jacob 6
Steinberg, Juda 44 agricultor
Feine 12
222
Israel 10
Anna 8
Lerman, Samson 33 agricultor
Debore 28
Josef 8
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Ewgenia 5
Baruch 7m
Lerman, Samuel 26 agricultor
Bendersky, Mendel 38 agricultor
Itte 30
Baruch 10
Pine 7
Freida 1
(irmão) Nisen 30 agricultor
(irmão) Mordche 26 agricultor
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, pp. 61-
62- AMI]
Kashitzky, Ishie 48 agricultor Thames (South.- Santos)
27/12/1905
Shloma 7
Schwarzman, Mark 42 agricultor
Feige 33
Ente 20
Rebecca 14
Moses 10
Maria 8
Burich 6
Gedalia 3 (obs. Esta última família aparece como católica, além
de outras, alemãs e austríacas, católicos que se dirigiram para as colônias Nova Odessa e
Corumbatahy)
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, p. 68 –
AMI]
Obodowsky, Sara 43 agricultor Clyde (South.- Santos)
18/1/1906
Boris 23
(nora) Mindel 20
Molie 18
Leib 10
Steinberg, Dwose 38 agricultor
Sone 20
223
Rosa 6
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, p.117 –
AMI]
Obs. O mesmo navio leva 3 famílias que se destinam ao Rio Grande do Sul:
Hoffman, Eduard 38 (alemão) agricultor conta própria
Paulina 36
Anna 16
Augusta 14
Hulda 5
Adalina 2
Wanda 6m (apesar dos nomes figuram como judeus)
Krieg, Daniel 40 (russa) agricultor conta própria
Bertha 35
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Heinrich 12
Emilie 9
Hulda 7
Anna 2
Reinhold 1 (apesar dos nomes figuram como russos)
Winarsky, Jacob 51 agricultor conta
própria
Rachel 50
Chune 19
Rebecca 21
Breine 15
Esther
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76 ,p.117 –
AMI]
LISTA DOS IMIGRANTES JUDEUS NAS COLÔNIAS DO INTERIOR DE SÃO
PAULO
E NA CIDADE DE SÃO PAULO
1- Estação V. Americana – Núcleo Nova Odessa
Nome Idade Profissão Navio Data de Chegada
Chassik, Shrage 40
obs. : o nome aparece como sendo acatólico
Schendol 40
Chassik, Solomon 5 Magdalena (Southampton-Santos) 8-
9/5/1905
224
Channe 8
Samuel 19
Henne irmão 19
Shrage
Laibe
Karasik, Hirsh
Zipe
Anne
Plotkin, Leibe
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp. 81-
82 – AMI]
Grinberg(?),Pinches 27 agricultor Aragon (South.- Santos)
2/8/1905
(Gomberg)? Sheindel 24
Welver (f.) 6
Golde 4
Lea 2
Luiz 6m
Krians, Abram 42 agricultor
Basse 40
Chaim 17
Blume 12
Harry 8
Rosa 6
Cohen, Zelik 27 agricultor
Sarah 22
Braine 5
Melman(?), Abram 27 agricultor
Spivack, Mechmie 39 cigarreiro
Esther 39
Itzick 18
Nome Idade Profissão Navio Data de Chegada
Zelik 16
Ephraim 11
Rifka 2
Gordon, Harris 32 sapateiro
Chane 28
Beckie 12 (ingleza)
Rive 11
Braime 9
Sarah 8
Abbe 5
Gankel 3
Meische 2
Kaminsky, Morris 48 agricultor
Schiffre 42
225
Berel 8
Chaike 6
Gudel 23 escoveiro
Gold, Abram 29 maquinista
More 29
David 11
Basa 9
Morris 7
Fanny 5
Lewis
Trachtman, Wolf 27 agricultor
(irmão) Mordche 30 agricultor
Baraum, David 23 agricultor
Cohen, Louis 52 agricultor
Stelmach, Pincos 24 carpinteiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp.
258-266 – AMI)
Aisik, Abram 45 sapateiro Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Heiman 21
Neeri 20
Povlotzky, Benzion 40 carpinteiro
Abram 23
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
(cunhada)Pesse 23
Sapossnik, Jossel 24 pintor
Said, Baruk 41 alfaiate
Chaie 38
Basheva 15
Benjamin 13
Peisach 11
Leibe 9
Slatt 5
Beile 4
Zerkassky, Leiser 26 tipografo
Cohen, Barnet 48 cocheiro
Lea 46
Sarah 19
Katty 14
Harry 11
Izaac 10
Rachel 6
226
Weiner, Abraham 26 doméstico Danube (South. – Santos)
30/8/1905 (?)
(Obs. Aparece registrado em lugar separado)
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75, pp.
14-19 – AMI]
2- Corumbatahy – Colônia Dr. Jorge Tibiriçá
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Kapeloff, Nachan 24 agricultor Aragon (South. – Santos)
2/8/1905
Levcovitz, Lazar 30 agricultor
Spulansky, Nesske 24 agricultor
Krisensky, Janker 35 agricultor
Zelzer, Welvel 36 agricultor
Skolnik, Isaac 25 agricultor
Chaie 25
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Zemo 4
Sruel 6m
Rustein, Maier 28 agricultor
(irmão) Beisen 20 agricultor
Shmulovitz, Meier 30 agricultor
Gerwitz, Abram 23 vidraceiro
David 25
Rissa 23
Morris 4
Dinerstern, Abbe 26 agricultor
Gutler, Josse 20 agricultor
Divenoff, Samuel 22 agricultor
Kashitsky, Shie 46 agricultor
Moske 22
Liser 12
Itto 19
Chone 17
Dhasse 14
Reichet, Hersher 28 negociante
Rinkof, Barnet 22 agricultor
Beile 22
Sore 1e 6m
Mirodznik, Mindel 28 agricultor
227
Codnash, Elie 28 tapeceiro
Meier 25 tapeceiro
Fayngold, Lazar 27 agricultor
Broner, Chaim 24 cocheiro
Fanny 22
Rigler, Jacob 24 (austriaco) agricultor
Hella 21 (russa)
Seiff, Joseph 19 agricultor
Migdan, Aaron 24 padeiro
Cohen, Feivel 19 agricultor
Cass, Simon 25 agricultor
Belinsky, Moshe 23 agricultor
Rincoff, Samuel 23 agricultor
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Altshuller, Mike 24 quitandeiro
Hoshman, Jankel 28 agricultor
Sane 32
Itzkovitz, Jael 25 cocheiro
Bernstein, Samuel 28 agricultor
Pliskin, Sem 22 agricultor
Sternlicht, Sigmond 35 foguista
Weinstein, Leibe 24 agricultor
Gerschman, Harris 26 padeiro
Breiman, Mochke 21 agricultor
Gorin, Gersch, 25 agricultor
Weisman, Samuel 30 carregador
(mulher) Chaim(?) 24
Adler, Philip 24 agricultor
Pesse 24
Moses 4
Rose 3
(irmão)Hersch 20
Lea 22
Tulka, Phillip 26 agricultor
Rozenzveig, Hein 30 agricultor
Zaller, Duga 21 agricultor
Berman, Gudel 20 agricultor
Bliskin, David 25 agricultor
Tamb, Luis 27 agricultor
Estherman, Gdale 25 agricultor
Rincopf, Haim 21 padeiro
Thernafski, Harris 26 agricultor
Burstein, Abraham 20 agricultor
Abramowstzky, Jacob 23 (Romania) pintor
228
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74,
pp.258-266- IMI]
Anilewitz, Max 24 alfaiate Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Eidel 35
Solomon 7
Chaim 6
Ila 4
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Leie 12
Anilewitz, Gersh 29 cigarreiro
Esther 23
Annie 3
Rosa 1
Anilewitz, Samuel 32 cigarreiro
Annie 18
Apperbaum, Samuel 33 curtidor
Golde 26
Ganker 4
Leie 3
Leib 1
Bersner, Paul 23 sapateiro
Bebak, Gersh 25 alfaiate
Masche 22
Bernstein, Davies 30 sapateiro
Zile 27
Sruel 10
Gerah 6
Feige 4
Elie 1
Bernstein, Mimel 27 sapateiro
Chave 25
Bernstein, Joseph 20 pintor
Milli 22
Charak, Leiser 35 quitandeiro
Rachel 34
Nuchem 11
Chave 9
Aaaron 5
Rosemblum, Abraham tecelão
Chaimovitz, Itzik 41 agricultor
(irmão) Noech 22 agricultor
Erenbaum, Gersh 36 sapateiro
Esther 40
229
Gena 17
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Jankel 16
Sore 10
Israel 7
Isaac 3
Bergstein, Sam 21 carpinteiro
Finkelstein, Gersh 28 agricultor
Feige 22
Ruben 1
Gottlieb, Joseph 36 funileiro
Marian 28
David 11
Nathan 1
Guttarz, Leiser 35 alfaiate
Mendel 3
( irmão) Welvel 21 alfaiate
Golovatkin, Benjamim 40 alfaiate
(Golovaty) Basse 36
(irmão) Samuel 22 alfaiate
Joseph 18
Genne 11
Chaike 1
Simon 7
Feige 3
Dweire 5
Cressman, Morris 38 negociante de fumo
Guide 34
Schlome 10 (ingleza)
Isaac 8 “
Fanny 5 “
Golde 3 “
Solomon, Louis 45 alfaiate
Jacobs, Abram 33 agricultor
Chave 34
Harry 13
Fanny 6
Aaron 5
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Zallel 1
Heiman 10
Dora 8
230
Krassnapolsky, Harris 28 quitandeiro
Ette 25
Itte 5
Chane 1
Gaetzke, Abraham 34 cordoeiro
Zesskiss, Meier 35 cordoeiro
Kossanovffsky, Solomon 31 alfaiate
Kisseloff, Woolf 33 plantador de fumo
Sheindel 29
Esther 10
Genne 9
Rosa 7
Chana 2
(irmão)Simon 22
Gussenbuncunh(?), Manes 21 plantador de fumo
Lerman, Philip 44 agricultor
Lea 36
Malke 19
Sore 17
Chaim 16
Gersh 13
Perrel 5
Sisse 3
Kahanovitz, Chaim 30 refinador
Dweire 27
Ebli 3
Rahinovik, Lazar 20 mascate
Rubin, Joseph 18 mascate
Lublin, Luiz 28 alfaiate
Katte 22
Annie 1
Moropolsky, Morris 33 ferreiro
Nome Idade Profissão Navio
Data de Chegada
Pesse 30
Jankel 14
Gittel 13
Braim 10
Leizer 2
Feivel 1
Nelves, Meier 29 mascate
Becca 29
Rosa 13
Barnett 10
Chaie 6
Hersch 1
231
Paperman, Ginrik 46 agricultor
Dora
Chaver, Abraham 31 carpinteiro
Galka, Israel 18 carpinteiro
Rashkowitz, Philip 22 engomador
Rosa 23
Itte 1
Raicher, Zeller 28 (austriaco) engomador
Sure
Meier(?)
Starrashelsky, Morris 29 alfaiate
Gittel 28
Chaim 1
Sheibel, Max 40 agricultor
Mashe 38
Jane 13
Chaime 11
Feige 1
Speiler, Samuel 29 agricultor
Mashe 24
Nissem 5
Rivke 3
Perrel 2
Bolgwevitz, Mettel 26 fabricante de vinho
Nome Idade Profissão Navio
Data de chegada
Saliff, Izaac 26 trapeiro
Sara 23
Meier 3
Weisman, Sruel 36 carpinteiro
Esther 28
Mordke 9
Elie 6
Waldman, Zecharie 29 carpinteiro
Ruchle 27
Hirsh 4
Shiel 2
Moshe 1
Rosenthal, Israel 27 sapateiro
Bekker, Simche 21 carpinteiro
Reize 20
Bekker, Joseph 20 carpinteiro
Bekker, Moshek 23 chapeleiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75,
pp.14-19-IMI]
232
Viener, Perle 26 agricultor Nile(South.-santos)
1/2/1906
Ette(chefe) 37
Jotta 16
Fanny 14
Esther 9
Hyman 6
Mary 2
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76 ,
p. 148- IMI]
3 – Funil- Colônia Campos Salles
Kassin, Nochen 22 agricultor Aragon(South. –
Santos) 2/8/1905
Nome Idade Profissão Navio
Data de chegada
Wernik, Hersch 33 agricultor
Feige 22
Beile 3
Abram 2
Koslowsky, Mendel 23 agricultor
Fradikin, Joseph 21 negociante
Schreibman, Morris 21 agricultor
Hurwitz, Wolf 21 agricultor
Ginsberg, Nathan 20 agricultor
Golabowsky, Philip 21 agricultor
Banker, David 34 mascate
Zerne
Sure
Dweire
Welvel
Kempner, Aisik 39 alfaiate
Sara 36
Millie 19 (ingleza)
Michel 17 (ingleza)
Morris 15 (ingleza)
Beny 13 (ingleza)
Henny 11 (ingleza)
Doris 9 (ingleza)
Sammy 7 (ingleza)
233
Joe 1 (ingleza)
Brendan, Barnet 24 barbeiro
Sanitz, Meschke 26 agricultor
Feldman, Samuel 35 agricultor
Sarah 35
Meier 11
Pellie 15
Sophie 8
Isidore 7
Morris 5
David 3
Freedman, Hersch 18 sem profissão
Etuni, Chaine 21 agricultor
Nome Idade Profissão Navio
Data de Chegada
Masche 22
Inersokin, Berri 25 pedreiro
Buserky, Berri 25 agricultor
Perel(?) 18
Wasilews, Gankel 29 agricultor
Kaminisky, Ellik 22 relojoeiro
Kairshinevitz, Abram 22 agricultor
Weinstein, Abram 23 agricultor
Levy, Wolf 20 alfaiate
Pinkus 18 alfaiate
Karasik, Moske 22 agricultor
Portnoi, Meier 28 agricultor
Gorki, Marco 24 agricultor
Newman, Isaac 19 (austriaco) sem profissão
Nimerofsky, Schmuel 25 ferreiro
Frichtenzmey, Israel 32 carregador
Zipenak, Isaac 23 agricultor
Zimmerman, Chaim 23 sem profissão
Rebeca 22
Zernim, Heshe(?) 28 agricultor
Ziesser, Elie 22 chapeleiro
Reische, Feiwush 18 agricultor
Cass, Simon 25 agricultor
Kopss, Bernardo 17 (austriaco) caixeiro
(irmão) Abram 14 caixeiro
Brenner, Abram 36 vendedor
Chesse 28
Freide 16
Nancy 12
Samuel 9
Lea 7
234
Sonne 3
Joseph 6m
Berezovsky, Simon 40 jardineiro
Mary 37
Meier 15
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Max 13
Polle 10
Jacob 8
Morris 3
Austrin, Salman 24 agricultor
Lipkin, Leibe 22 agricultor
Nachamovitz, Abram 22 agricultor
Chatz, Mordecai 21 agricultor
Zewill, Abram 29 agricultor
Karasik, Israel 22 cocheiro
Albert, Leibe 38 agricultor
Rabinovitz, Leibe 17 carniceiro
Fogel, Abraham 28 machinista
Leibe(?) 26
Masche 7 (ingleza)
Sarah 7 (ingleza)
Millie 3 (ingleza)
Rachel 2 (ingleza)
Keibel, Moshe 21 padeiro
Masch 21
Kushnir, Barnett 23 agricultor
Lackmovitz, (?)Mottel 29 agricultor
Karolinsky, Scholme 21 agricultor
Belenge, Chlone 28 agricultor
Kesler, Shlone 21 agricultor
Kanter, Meier 23 agricultor
Grabstein, Benjamin 33 (austriaco) tanoeiro
Blendel, Chaikel 34 agricultor
Iselberg, Welvel 38 agricultor
Rappeport, Max 35 mascate
Plotkin, Morris 25 agricultor
Rippin, Chone 27 agricultor
Obladsteine, Mosch 21 agricultor
Feldman, Benjamin 20 agricultor
Raffkuss, Mijchel 32 carregador
Press, Chainiss 21 mascate
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
235
Dron, Hissen 28 agricultor
Medovai, Solem 21 ferreiro
Karlinsky, Elik 23 tecelão
Medovai, Zoller 23 ferreiro
Lipschitz, Salman 22 agricultor
Berman, Davies 21 sapateiro
Traub, Leibe 33 agricultor
Plakowitzky, Morduch 33 agricultor
Shiffrin, Morris 21 padeiro
Kalvan, Arje 32 cocheiro
Siflin, Aisak 25 caixeiro
Veivitz, Leizer 31 funileiro
Sternheld, Leib 25 (austriaco) agricultor
Kavernak, Slame 21 cocheiro
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74,
pp.258-266- IMI]
Knussin, Solomon 43 agricultor B.G.Rezende- CCS Danube(Cherbourg-
Santos) 30/8/1905
Ronnik, Kalman 31 agricultor B.G. Rezende- CCS
Aisemberg, Chaim 31 agricultor B.G.Rezende-CCS
Boiarsky, Gersch 33 agricultor B.G. Rezende- CCS
Kaplan, Jankel 35 agricultor B.G. Rezende-CCS
Chaverman, Chone 32 agricultor B.G. Rezende- CCS
Estrin, Louis 32 carregador B.G. Rezende-CCS
Feingluss, David 24 agricultor B.G. Rezende- CCS
Zipol, Abraham 30 agricultor B.G.Rezende- CCS
Kalesnikoff, Sarah 35 alfaiate B.G.Rezende-CCS
Gersh 16
Simon 13
Rosa 10
Aaron 7
Leibe 4
Karasik, Gillel 32 sapateiro B.G. Rezende- CCS
Romilski, Morris 30 mascate B.G. Rezende- CCS
Michmovitz, Michel 31 ferreiro B.G. Rezende- CCS
Nuger, Eli 46 fabricante de carroça B.G. Rezende- CCS
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Weisman, Smuel 25 sapateiro B.G. Rezende- CCS
Sobarnik, Hussiel 21 sapateiro B.G. Rezende –CCS
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75, pp. 14-19-
IMI]
236
4- Cidade de São Paulo- Capital e Posto Zootechnico
Wiener, Abraham 27 rabino Aragon (South.-Santos)
2/8/1905
Idovitz, Salman 24 rabino
Barkoff, Melamed 41 agricultor
Chaie 38
Berel 18
Chane 16
Gittel 14
Ossher 12
Woolf, Josef 20 (ingleza) carpinteiro
Weis, Izidor 32 (romena) pedreiro
Said, Gersoh 19 agricultor
Perrell, (?) Jacob 25 agricultor Posto Zootechnico
Annie 20
Slotnik, Abram 32 vidraceiro
Wegner, Elie 48 alfaiate Posto Zootechnico
Slate 48
Benny 12 (brasileira)
(Gressel)Nessel 7 (ingleza)
Rebecca 18
Blume 16
Wegner, Heyman 28 alfaiate Posto Zootechnico
Gittel 29
Annie 4
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Itzchook 6m
Abrams, Louis 28 (ingleza) escriturario Posto Zootechnico
Rachel 28
Sarah 8
Max 7
Anny 4
Shlomovitz, Aisik 36 domestico
Annie 34
Sore 15
Philip 13
Joe 10
Heyman 5
Fanie 2
237
Shapiro, Morris 23 cortador de lenha
Gellin (Yellin), Mendel 37 músico
Chais 40
Lea 11
Alter 8
Shimecke 8
Rozemberg, Israel 25 cocheiro Capital- Rodovalho Junior
Silverman, Jankel 24 tanoeiro
Freide 22
Pinkus 15
Golub, Abram 45 agricultor
Rachel 43
Simon 19 (ingleza)
Morris 17 (ingleza)
Max 15 (ingleza)
Rubin 12 (ingleza)
Harry 4 (ingleza)
Guttmann, Mosche 19 encadernador Posto Zootechnico
Lapiz, Woolf 20 sem profissão Posto Zootechnico
Farb, Shie 23 marchante Posto Zootechnico
Elbaum, Manasche 23 comerciante
(irmão) Max 20
Dubov, Abraham 32 agricultor
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Cohen, Nochen 24 caixeiro
Nochame 23
Magram, Lebi 28 agricultor
(irmã) Itzhe
Weksler, Moshe 29 agricultor
Katz, Kushil 23 padeiro
Mostovitz, Lazar 28 alfaiate
Pahuker, Rebecca 36 (austriaca) cozinheira
Baron, Chaim 17 (ingleza) cocheiro
Largman, Itzchok 27 agricultor
Sore 24
Gossel 6m
Brook, Leibe 32 agricultor
Alexandroff, Susse 24 agricultor
Slate 22
Simon, Louis 26 cocheiro
Kernim, Ruben 22 barbeiro
Messer, Wolf 23 copeiro
Zulink, Itzick 22 agricultor
Kulesh, Morris 32 curtidor
Glasserman, Hune 33 agricultor Posto Zootechnico
238
Peishachovitz, Morris 29 carpinteiro Posto Zootechnico
Asman, Iste 21 padeiro
Moldener, Estke 19 sem profissão
Sisshaltz, Feibel 20 sapateiro
Becke 19 sapateiro
Kipnes, Lezer 28 sem profissão
Dutman, Kalman 35 agricultor
Horin (Hann), Simon 32 agricultor
Elke 22
Hershel 5
Shendel 3 (ingleza)
Mendel 6m
Goldberg, Abraham 30 (romena) cozinheiro
Becke 24 (russa) cozinheiro
Fisch, Abraham 24 sapateiro
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Merle 23
Needlman, Barnett 28 lavador de roupas
Ziniee 26
Anny 8
Morris 4
Nathan 3
Simon 1 e meio
Hengel, mendel 26 mascate
Flanklin, Ruben 23 funileiro
Ette 20
Lea 1 e meio
Migdes, Samuel 27 agricultor
Needlman. David 26 lavador de roupas
Chaie 25
(cunhada)Fanny 24
Shulman, Nathan 22 sapateiro
Lea 22
Smarian, Abraham 24 acrobata
Sore 28
Scheindel 2
Smitts, Jacob 25 cozinheiro
Grutman, Leibe 28 ferreiro
Stern, Morris 27 agricultor
Lak, David 25 agricultor
Drunjinsky, Leib 22 serralheiro
Braustein, Nuchen 25 agricultor
Siber, Harris 20 carregador
239
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 74, pp.258-266-
IMI]
Baranowitz, Louis 28 cocheiro Danube (Cherbourg-Santos)
30/8/1905
Becke 26
Jane 6
Grinspan, Jone 27 sem profissão
Sarah 21
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
Shazavsky, Morris 27 cocheiro
Sure 27
Silberman, Jankel 42 padeiro
Mirien 44
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75 ,pp.14-19 –
IMI]
Raschkovsky, Isaac 36 agricultor Clyde (South.- Santos)
17/11/1905
Tauba 28
Chaia 6
Feiga 2
Motel 3
Malka 7m
Bonder, Israel 56 agricultor
Menucha 50
Josef 19
David 17
Kowaliwker, Meer 30 agricultor
Chane 29
Ruchel 4
Saibel 3
Esther 2
Brane 7m
Dragum, Israel 28 sem profissão
Chawe 27
Zipa 2
Borl 7m
Stolerman, Chume 68 sem profissão
Idis 48
Frede 21
Nisen 20
Lisa 17
Moses 16
Samuel 28
240
Chaie 23
Wele 2 e meio
Brana 1 e meio
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Leiser 6m
Berlin, Benjamin 30 sem profissão
Ruse 26
(irmão)Abram 20
Kuzi, Mendel 36 carpinteiro
Minza 28
Isaac 17
Masche 15
Blume 5
Sendor 1 e 5m
Seufer, Moses 19 carniceiro
Rose 19
Weintraub, Selick 35 fabricante de vinho
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 75,
p.223 – IMI]
Selter, Salomon 47 agricultor Magdalena (South. -
Santos) 21/12/1905
(filha) Idel 22
Moses 19
Etel 16
Fuhrman, Elik 19 agricultor
Zwitel 20
Pipman, Benzion 23 agricultor
Bluma 23
Pipman, Mark 38 agricultor
Rebecca 36
Scheier 17
Zipre 15
Greschia 9
Jacob 6
Steinberg, Juda 44 agricultor
Feine 12
Israel 10
Anna 8
Lerman, Samson 33 agricultor
Debore 28
Josef 8
Nome Idade Profissão Navio Data
de Chegada
241
Ewgenia 5
Baruch 7m
Lerman, Samuel 26 agricultor
Bendersky, Mendel 38 agricultor
Itte 30
Baruch 10
Pine 7
Freida 1
(irmão) Nisen 30 agricultor
(irmão) Mordche 26 agricultor
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, pp. 61-
62- IMI]
Kashitzky, Ishie 48 agricultor Thames (South.- Santos)
27/12/1905
Shloma 7
Schwarzman, Mark 42 agricultor
Feige 33
Ente 20
Rebecca 14
Moses 10
Maria 8
Burich 6
Gedalia 3 (obs. Esta última família aparece como católica, além
de outras, alemãs e austriaca católicos que se dirigerm para as colônias Nova Odessa e
Corumbatahy)
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, p. 68 –
IMI]
Obodowsky, Sara 43 agricultor Clyde (South.- Santos)
18/1/1906
Boris 23
(nora) Mindel 20
Molie 18
Leib 10
Steinberg, Dwose 38 agricultor
Sone 20
Rosa 6
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76, p.117 –
IMI]
Obs. O mesmo navio leva 3 famílias que se destinam ao Rio Grande do Sul:
Hoffman, Eduard 38 (alemão) agricultor conta própria
Paulina 36
Anna 16
Augusta 14
242
Hulda 5
Adalina 2
Wanda 6m (apesar dos nomes figuram como judeus)
Krieg, Daniel 40 (russa) agricultor conta própria
Bertha 35
Nome Idade Profissão Navio Data de
Chegada
Heinrich 12
Emilie 9
Hulda 7
Anna 2
Reinhold 1 (apesar dos nomes figuram como russos)
Winarsky, Jacob 51 agricultor conta
própria
Rachel 50
Chune 19
Rebecca 21
Breine 15
Esther
[Fonte: Livro de Matricula de Imigrantes, 76 ,p.117 –
IMI]
243
26. Instituições Comunitárias de ajuda e amparo ao imigrante
israelita em São Paulo:
Da Sociedade das Damas Israelitas a UNIBES
Um dos capítulos significativos da história judaica no Brasil, e que deve
merecer a atenção dos pesquisadores interessados nessa área de estudos, é a formação e a
atuação das sociedades que foram criadas para facilitar a absorção do imigrante judeu
vindo, em particular, do Velho Continente ao nosso país. Por via de regra, as comunidades
israelitas, no momento em que se organizavam ou institucionalizavam nos centros urbanos
mais importantes do nosso território, entre outras instituições (sinagogas, escolas e demais)
procuravam criar uma entidade que devesse ter como finalidade facilitar a vinda e a
adaptação do imigrante ao novo solo onde ele deveria se radicar. Por vezes, tais instituições
mantinham contato com entidades congêneres de caráter internacional com ramificações
nos grandes centros europeus e nos Estados Unidos. Mas nem sempre isso era possível, e
nesse caso elas atuavam isoladas contando com a boa vontade e a ajuda dos membros
componentes da própria comunidade local. Excepcionalmente, poderiam até contar com o
auxílio ou participação de pessoas ou sociedades que não fossem judias, mas tais situações
eram raras, recaindo o ônus e a responsabilidade de apoio ao recém-chegado sobre as
instituições criadas especialmente para esse objetivo.
Em São Paulo, em 15 de junho de 1915, fundou-se a Sociedade Beneficente
das Damas Israelitas, que tinha como objetivo prestar auxílio e ajuda social aos imigrantes
necessitados, que começavam a vir em número cada vez maior a partir dos anos que
marcaram a Primeira Guerra Mundial e aos que imediatamente se seguiram. Ainda que não
possuamos uma estatística exata sobre a presença de israelitas no Brasil naqueles anos
(1915-1916), calcula-se esse número por volta de 3.000, e se no Rio de Janeiro, capital da
República, em 1916, calculava-se a presença de 100 famílias, podemos supor que em São
Paulo viviam não mais que a metade desse número, por se tratar de uma cidade de menor
atração para os imigrantes.393
A iniciativa para a criação da Sociedade das Damas Israelitas
foi tomada pelas senhoras pertencentes às famílias mais antigas que já haviam atingido um
nível econômico-social que permitisse suportar o peso financeiro da nova entidade. Entre as
iniciadoras encontramos Clara Klabin, Regina Bortman, Olga Netter, Olga Nebel, Olga
Tabacow, Clara Ficker, Esther Zippin, Nesel Klabin, às quais se juntaram Berta Klabin,
Riva Berezowsky, Polly Anna Gorenstein, Fanny Mindlin, Rosita Gordon, Sonia Azariah,
Mania Costa, Luba Klabin e muitas outras senhoras e senhoritas que carregariam e
desenvolveriam a novel Sociedade, levando-a a uma ampla atividade beneficente em favor
do imigrante.394
A assistência médica ampla, com auxílio de maternidade, também visava
atender a não judeus ou a quem recorresse à instituição. Durante a Revolução
Constitucionalista de 1932, em São Paulo, a Sociedade das Damas Israelitas contribuiu com
sua parte ao lado de outras entidades da ampla sociedade paulista.395
Entre os seus
primeiros médicos encontramos as personalidades altruístas do dr. Walter Seng e dr. L.
393
Essa avaliação estatística foi feita pelo redator de “A Columna”, Prof. David José Perez, no n. 6 de
2/6/1916.p.77.Outras fontes se aproximam a esses números, ainda que sejam pouco fundamentados.
Há indícios que levam a concluir que um número deveria ser maior. 394
“A Columna”, n.6 de 2/6/1916, p.78; n. 14 de 2/2/1917, p.27. 395
V. Falbel , N., Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil, F.I.S.E.S.P., São Paulo, 1984, pp. 131-133.
244
Lorch, que acompanharam durante muitos anos as atividades da Sociedade. Em 1935, a
Sociedade procurava criar uma creche para crianças israelitas, procurando, assim, ampliar
suas responsabilidades e sua atividade humanitária frente a comunidade, que nesse tempo já
reunia uma população numericamente mais significativa e já contava com outras
instituições, que foram surgindo à medida que se intensificava a vinda dos grupos ou
correntes migratórias judaicas de diversas origens, entre elas, da Alemanha, que passou a se
organizar em moldes próprios. Tal fato levou a Sociedade das Damas Israelitas a se fundir,
em 10 de junho de 1940, com o Lar da Criança Israelita e a Gota de Leite da Associação
B’nai B’rith. O Lar da Criança Israelita foi fundado em 1939 pelas senhoras Luba Klabin,
Fanny Mindlin, Bassia Dreizin, Mina Gantman, Genny Zlatopolsky, Dora Deutsch, Polly
Saslavsky, Riva Berezowsky, Alice Krausz, Luiza K. Lorch, Vera Proushan, Anny Zausner
e Rosa Zlatopolsky, e tinha como finalidade amparar e dar abrigo a crianças de 3 a 7 anos
cujas mães necessitavam trabalhar. Luba Klabin promoveu uma campanha para a compra
de um terreno na rua Jorge Velho, o que permitiu a inauguração do Lar em 12 de abril
daquele ano. Mais tarde, tornar-se-ia o Jardim Maternal da Ofidas. Ainda no ano de 1932
foi criada a Gota de Leite da Associação B’nai B’rith, pelas senhoras Luiza K. Lorch, Alice
Krausz, Anny Zausner, Fanny Mindlin, entre outras, que cuidava de recém-nascidos
fornecendo leite, remédios, enxovais, e contava com a orientação pediátrica do Dr. Ângelo
Candia, bem como com o respaldo da Sociedade das Damas Israelitas. Assim, a Ofidas –
Organização Feminina Israelita de Assistência Social, ao surgir, englobaria os serviços
sociais prestados pelas entidades anteriores, que a formavam através da sua união. Sua
atividade abrangia, além da assistência social propriamente dita, setores de gabinete
dentário, higiene infantil, roupas usadas, orientação profissional, chegando a ter, durante
certo tempo, um curso vocacional. Durante sua existência, a Ofidas foi presidida por Luiza
Lorch, Rachel Bacaleinik, Berta Fleitlich, Rosa Aizenberg, Fanny T. Felmanas, além de sua
primeira presidente-fundadora Luba Klabin. A doação de terrenos de propriedade de Rosa
Hottinger e Luba Klabin na rua Rodolfo Miranda permitiu a contrução do novo prédio
próprio, que foi inaugurado em 1960. Quando em 1969 instalou-se o Serviço Social
Unificado, compreendendo a Ezra, a Congregação Mekor Haim, a Congregação Israelita
Paulista, a Sociedade Cemitério Israelita, a Sociedade Brasil-Bessarabia, a Ofidas passou a
integrá-la como uma de sua instituições.
Posteriormente, outras fusões ocorreram com sociedades paralelas, até o
surgimento de uma entidade única que congregasse toda a assistência social e a atividade de
beneficência ao imigrante, assim como ao menos favorecido, sob um único teto.396
Por outro lado, a Ezra, ou a Sociedade Israelita Amigos dos Pobres – assim ela
se autodenominava na Ata número 1 da entidade – foi fundada em 20 de maio de 1916, e na
ata mencionada define seus objetivos como sendo “em especial, não deixar que peçam
esmola, auxiliar os pobres, doentes, e arranjar serviço aos que não têm, e ajudar também
materialmente, quando necessário”.397
Os fundadores novamente representam as famílias mais antigas de São Paulo,
sob a iniciativa de José Kauffmann, Benzion Zaduchliver, David Tridman, José Nadelman,
Isaac Tabacow, Israel Ticker, David Berezowsky, Salomão Lerner, Jona Krasilschik, Boris
396
Esses dados foram extraídos dos Livros de Atas da Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do acervo
do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 397
Livro de Atas da Ezra, no A.H.J.B.; periódico “A Columna, n. 6 de 2/6/1916, p. 78; n. 8 de 4/8/1916, p.
117; n. 14 de 2/2/1917,p. 27.
245
Weinberg, Jacob Schneider e vários outros ativistas da comunidade daquele tempo. O
princípio que regeu os inícios dessa sociedade era o mesmo da Sociedade das Damas
Israelitas, ou seja, o ônus financeiro recairia sobre os ombros dos sócios fundadores, além
da coleta entre membros da comunidade de São Paulo e outras cidades do interior. A
atividade e a coleta de fundos era realizada também com a organização e promoção de
eventos sociais, incluindo o teatro em ídiche, com a participação de artistas amadores, que
tinham, assim, a oportunidade de revelar seus talentos.398
Na publicação “História da Ezra”, esses artistas são lembrados com um
sentimento de gratidão por terem permitido a angariação de fundos necessários para o bom
desempenho da nova entidade. Os amadores chegaram a formar um pequeno grupo teatral
com o nome de “Scholem Aleichem”, em homenagem ao clássico escritor da língua ídiche.
Entre os artistas amadores encontramos Benzion Zaduchliver, Samuel Kleimann, Isaac
Meir Bronstein, Marcos Bronstein, Michel Berezowsky, Anchel Krasilschik, David Becker,
Chava Ticker, Fridel Zaduchliver, Sofie Bronstein e Fany Feldman.399
Poderíamos resumir dizendo que, nos primeiros anos de atividade da Ezra, ela
atingiu cinco objetivos, a saber: 1) ajudar pobres necessitados; 2) fornecer ajuda médica e
hospitalar a quem necessitava; 3) ajudar os imigrantes de passagem a chegar a seu destino;
4) fornecer empréstimos aos que se dirigiam à instituição; 5) visitar enfermos em suas casas
para ampará-los no que fosse necessário. Ao mesmo tempo, a Ezra passou a entrar em
contato com instituições internacionais que auxiliavam no encaminhamento da imigração
judaica em várias partes do mundo, tais como a J.C.A. (Jewish Colonization Association)
de Londres, a Emigdirekt na Alemanha e a Hias nos Estados Unidos. Mais tarde, essa
organizações se unificariam e coordenariam suas atividades sob uma única entidade, a
HICEM.
Em São Paulo, nos primeiros anos de existência, a Ezra pôde desincumbir-se de
suas responsabilidades de ajuda médico-hospitalar graças “a cooperação do Hospital Santa
Catarina, para onde encaminhavam as pessoas enfermas. Os tuberculosos eram orientados
para os sanatórios de São José dos Campos até que, mais tarde, fosse construído o sanatório
da Ezra, em 1935. Um dos momentos difíceis que a instituição teve que enfrentar foi a
ocorrência da “gripe espanhola”, que atingiu a população de São Paulo logo após o término
da Primeira Guerra Mundial e ceifou muitas vidas da população local. A Ezra mobilizou-se
para enfrentar a situação e transformou a sinagoga Knesset Israel, construída pouco antes,
em hospital e abrigo de enfermos. Médicos que serviam à Ezra e dois estudantes judeus da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, filhos do primeiro rabino de São Paulo
Mordechai Guertzenstein, Dr. Leão e Rebeca, ajudaram a salvar cerca de sessenta
enfermos, sendo elogiados por sua dedicação pelo próprio governador do Estado daquele
tempo, Altino Arantes, assinalando o papel importante desempenhado pela instituição de
beneficência e pela comunidade israelita para debelar a terrível epidemia.
Nos anos que se seguiram ao término da Primeira Guerra Mundial, a imigração
judaica no Brasil aumentou consideravelmente, devido também a restrições impostas por
outros países, entre eles a Argentina, que desde o século passado absorveu a maior parte da
imigração israelita que se dirigia à América do Sul, além dos Estados Unidos. Assim, a
398
“A Columna” n. 6 de 2/6/1916, no qual se menciona que foi levada à cena a opereta “Dos pintele yid” em
benefício da Ezra. Também em outros lugares do livro de Atas n. 1 da mesma entidade. 399
“História da Ezra e do Sanatório Ezra” (Geschichte fun Ezra un Sanatorie Ezra), São Paulo, 1941, pp.19-
20.
246
população judaica em nosso país foi crescendo, e a Ezra teve que se adaptar à nova
situação. Houve a necessidade de apressar o término de um salão da sinagoga Knesset
Israel para utilizá-lo como abrigo de imigrantes, que começavam a vir em maior número. O
término da guerra também permitiu que israelitas voltassem à Europa com o fim de trazer
suas famílias para a nova terra. A questão da imigração e da adaptação dos imigrantes
preocupava a todos, o que levou a comunidade a indicar condições para que procurassem
novos caminhos para a solução do problema. Desse modo, surge em 1924 uma Sociedade
Pró-imigrantes, sob a orientação do dr. Horácio Lafer e outros, que na verdade não poderia
arcar sozinha com os objetivos aos quais se propusera, e, portanto, teve que recorrer à Ezra.
Porém, com a chegada ao Brasil, no fim de 1923, do rabino Isaias Raffalovich, como
representante da J.C.A. entre nós, formulou-se, a partir daquele ano, uma política de
proteção e assistência ao imigrante que daria melhores frutos no futuro próximo e durante
os anos em que ela mais se intensificou. A própria Ezra mudaria seu nome para Sociedade
Israelita Beneficente e abarcaria uma gama múltipla de atividades comunitárias.
A atividade da Ezra estimulou a criação de uma Cooperativa de Crédito em
1928, ano em que também começou a atuar naquela organização o dinâmico empreendedor
Benjamin Kulikovski. A Cooperativa de Crédito visava fornecer os primeiros empréstimos
ao imigrante para permitir que se estabelecesse com algum negócio ou outro
empreendimento pessoal. Procurava-se, desse modo, criar para a imigração organismos
financeiros que pudessem ajudar aos que chegavam ao país a se enraizarem na sociedade
brasileira, impedir o seu fracasso e a conseqüente volta aos lugares de origem, como de fato
ocorria em anos e décadas anteriores. Nesse sentido, Raffalovich, em encontro em Paris,
no ano de 1928, procurou convencer a HICEM, recém-formada, a não abrir escritórios nas
grandes capitais ou centros de imigração, mas a aproveitar as entidades beneficentes e de
ajuda existentes para assumirem, com seu apoio, o papel orientador e executivo para a
absorção e encaminhamento do imigrante. A um dado momento, e graças ao contato com o
Ministério da Agricultura, a Ezra conseguiu, através do Dr. Cristiano da Luz, diretor do
Departamento de Fomento Agrícola e Colonização, que as passagens para o deslocamento
dos imigrantes fossem pagas pelo governo, o que representava uma soma respeitável para
os anos de grande imigração, durante a década de 20. Dr. Cristiano da Luz e seu filho e
médico Dr. Paulo Ribeiro da Luz colaboraram com a instituição israelita em sua atividade
imigratória, que havia aumentado, e a obrigou a mudar seu escritório (antes instalado em
uma sala da tradicional Escola Renascença) para um prédio que pudesse também abrigar
imigrantes, na rua Bandeirantes, 26, no Bom Retiro. Nesse tempo, em 1929, a Ezra também
alugou um armazém para guardar as bagagens dos imigrantes e providenciou a indicação de
um representante em Santos, que deveria acompanhar os que desembarcassem naquele
porto até São Paulo.
Um dos aspectos interessantes da ajuda prestada pela Ezra à absorção dos
imigrantes judeus foi o do ensino da língua portuguesa aos recem-chegados, cujos cursos
contavam com uma boa freqüência.400
A entidade procurou abrir novas oportunidades de trabalho, entrando em
contato com empresas e indústrias existentes na São Paulo daqueles tempos.
Desse modo, os imigrantes que chegavam podiam completar ou adquirir
conhecimentos profissionais e encontrar empregos mais rendosos. A própria Light and
Power Company, a Companhia Mecânica e outras empresas de vulto daqueles anos abriram
400
Livro de Registro dos Imigrantes da Ezra , no acervo do A.H.J.B.
247
suas portas para receber imigrantes que desejavam um aperfeiçoamento profissional e
emprego.
O ano de 1929 representou, em termos estatísticos, uma etapa de intensa
imigração, e exigiu uma especial arrecadação de fundos para que a Ezra pudesse atender a
suas finalidades. Para termos uma idéia do aumento sensível da imigração nesse ano e do
fardo financeiro que a entidade teve que carregar devemos nos deter no seguinte quadro
comparativo:
1928 1929
imigrantes registrados 680 1.611
imigrantes que receberam ajuda 270 1.065
imigrantes encaminhados 270 867
despesas com pensões 5.573$000 56.373$000
despesas gerais c/ imigrantes 3.742$000 20.044$000
despesas diversas 87.953$000 218.536$000
subsídios 27.632$000 114.060$000
ingressos de sócios 16.791$000 21.959$000
passagens grátis 80 224
cartas recebidas (p/ imig.) 476 4.873
cartas expedidas 513 1.073
receitas p/ imig. 120 294
No mesmo ano, em 15 de novembro, fundava-se uma outra instituição denominada
Linat Hatzedek, sob a iniciativa de Julio Kuperman, Simão Deutschman, Idel Tkatschuk,
Kuba Kuperman, Henrique Bidlovski, Bernardo Serson, Pierre e Max Schmiliver, Adolfo
Wolff e Leon Elinger. A finalidade da instituição, como seu nome o diz, era mobilizar
pessoas para pernoitar com enfermos e conseguir instrumentos e meios para que pudessem
levar uma vida normal. A família de Isaac Tabacow, em 1931, com a doação de um imóvel
na rua Ribeiro de Lima, permitiu que a instituição lá funcionasse até 1960. Posteriormente,
a Linat Hatzedek, que foi presidida por Salo Wissman, Adolfo Wolff e Samuel Mitelman,
transformar-se-ia na Policlínica, que acabaria por ser conhecida como a instituição médica
central da comunidade israelita de São Paulo e o braço auxiliar do trabalho de assistência
das Ezra até o ano de 1976, quando se incorporou à Ofidas.
A mudança da política imigratória brasileira com a ascensão de Getúlio Vargas no
cenário político nacional, a partir de 1930, que impôs as “cartas de chamada”, diminuiu o
número de imigrantes israelitas, ainda que não levasse a sua inteira estagnação.
Dificuldades bem maiores surgiriam com o Estado Novo e a política discriminatória
antijudaica do governo brasileiro durante aquele ano, compreendendo a Segunda Guerra
Mundial, e mesmo após o Holocausto.
Contudo, a atividade da Ezra não cessou durante aqueles anos, e a própria
instituição aperfeiçoou-se com a assessoria jurídica e orientação profissional do Dr. Oscar
Tollens, que teve um papel importante na legalização dos recém-vindos e nos
procedimentos para ajudar a fixação de vários imigrantes. A Ezra contou também com a
ajuda de uma sociedade de caráter cultural fundada em 1930 por Henrique Bidlovski, Max
Jagle, Mechel Zaltzman, Henrique Ostrovich, Max Altman e outros, sob o nome de
248
Associação dos Israelitas Poloneses, que na revolução daquele mesmo ano ajudou a mitigar
as necessidades dos mais pobres da população israelita de São Paulo, assim como o faria
em 1932.
A Ezra continuou sua atividade beneficente e de ajuda social em relação aos
imigrantes israelitas durante as décadas seguintes, antes e após a Segunda Guerra Mundial,
enfrentando os desafios de tempos difíceis e tormentosos para a humanidade em geral, e
para os judeus em particular, os quais, na sua longa trajetória histórica, se caracterizaram
como um povo migrante por excelência, encontrando, porém, no Brasil, uma instituição
humanitária impregnada de idealismo que não media esforços e sacrifícios para amparar
seus correligionários. Em 1976, formar-se-ia a UNIBES, União Brasileiro-Israelita do
Bem-estar Social, fruto da unificação das instituições Ofidas, Ezra e Linat Hatzedek, graças
à extraordinária visão comunitária de seus presidentes naquela época: Antonieta Bergamo,
Adolpho Berezin e Samuel Mitelman, alcançando-se, desse modo, a reunião total das
sociedades assistenciais da comunidade judaica de São Paulo. Desde a fusão, em 1976, a
UNIBES foi presidida por Antonieta Bergamo, Petronia Teperman e Anita Schwartz.
A UNIBES atende a todas as faixas etárias da população, desde crianças até idosos,
incluindo serviço social que visa reabilitação social e econômica, distribuição de alimentos
e roupas, o que também permite o funcionamento de um bazar permanente, cujo ingresso é
revertido em auxílio ao carente. A UNIBES possui um serviço de atendimento médico,
recebendo nesse aspecto a colaboração da FISESP, Federação Israelita do Estado de São
Paulo. Desse serviço médico faz parte a distribuição de remédios de sua farmácia e grupos
de apoio para terapia ocupacional de terceira idade e de atendimento psiquiátrico. A
preocupação e o zelo da instituição para com as crianças são expressos no trabalho
realizado pela creche Betty Lafer e os programas de complementação escolar que se
estendem até mesmo durante o período de férias escolares.
Ao fazermos um esboço histórico da beneficência social na comunidade judaica de
São Paulo, que completou seu 80o aniversário no ano de 1995, não podemos deixar de
expressar o sentimento que deve perpassar o coração e a mente de todos: de que as mãos
infatigáveis das mulheres e dos homens que a sustentaram e ampararam fizeram jus ao dito
talmúdico: “O mandamento de praticar a caridade pesa tanto quanto os outros todos
reunidos” (Baba Batra, 9b).
249
27. Subsídios à história da educação judaica no Brasil
Subsídios à História da Educação Judaica no Brasil
A história da educação judaica no Brasil ainda está por ser feita, uma vez que,
até agora, nenhuma pesquisa sistemática foi realizada, ainda que vários projetos nesse
sentido tenham sido propostos por instituições comunitárias e mesmo por indivíduos
interessados na questão, mas que, lamentavelmente, não chegaram a se concretizar.
Nossa intenção, além de voltar a chamar a atenção ao tema que permanece em
aberto aos pesquisadores, é dar pequena contribuição ao seu estudo, através de elementos
que colhemos fortuitamente na imprensa judaica e em outras fontes que mencionaremos em
nosso trabalho401
.
Coube à J.C.A. (Jewish Colonization Association), ao dar início, em 1904, à
colonização de Philippson, no Rio Grande do Sul, a criação de uma primeira escola judaica
no Brasil.402
Mas, antes de tudo, devemos entender que a preocupação da J.C.A. era atender
à vontade e ao desejo dos colonos em transmitir aos seus filhos os conhecimentos judaicos
necessários para que a nova geração soubesse a língua de seus pais, bem como as tradições
de seus antepassados. Dessa forma, o termo “escola” deve ser entendido como
complementação de estudos judaicos, que deveriam estar associados a conhecimentos
gerais básicos. Porém a partir dos estudos complementares judaicos dos primeiros anos,
chegaram os colonos de Philippson a estabelecer, mais tarde, verdadeira escola local,
reconhecida e supervisionada pelos órgãos educacionais do Estado. No interessante livro de
memórias de Frida Alexander,403
encontramos elementos para seguir essa evolução da
escola em Philippson, assim como tomamos contato com seus primeiros professores,
permitindo-nos ter uma idéia de seu currículo. Por não ter tido a intenção de fazer um livro
histórico, Frida Alexander não se ateve às datas, tão importantes para o historiador, o que
dificulta, de certa maneira, precisar o desenvolvimento da escola local. No capítulo em que
relata a festa de inauguração da escola, construída de madeira, menciona a vinda de um
professor de português, León Back,404
mas, em outro lugar, indica que as aulas de ídiche e
hebraico eram ministradas num anexo do chill (sinagoga) pelo rebe Abrão Waissman.405
Porém, logo em seguida, na mesma página, a autora escreve que, “quando a nova escola foi
inaugurada, dispondo de amplas janelas, tendo como professor de português um eminente
pedagogo, León Back, a quem breve juntar-se-ia o professor Israel Becker, para lecionar o
ídiche e o hebraico”, leva-nos a concluir que, de início, a escola era anexa à sinagoga, no
estilo do beit-hamidrash europeu apenas para o ensino do ídiche e do hebraico, mas,
401
Impomos ao nosso trabalho uma limitação cronológica até a década de 20, uma vez que nossa intenção, no
momento, é o estudo do início da educação judaica no Brasil. 402
A razão pela qual começamos com a J.C.A. deve-se ao fato de não sabermos absolutamente nada sobre a
educação judaica no século XIX, apesar das correntes imigratórias judaicas terem aportado em nosso território
nas primeiras décadas daquele século e aumentado nas últimas, principalmente a partir da imigração
alsaciana, em 1871. 403
Alexandr, Frida, “Filipson”, ed. Fulgor, São Paulo, 1967.
404 Op. cit., p. 31. 405
Op. cit., p. 37.
250
posteriormente, foi concluído um edifício apropriado a esse fim com a intenção de ter um
currículo mais completo.
O livro de Frida Alexander ainda é muito importante para conhecermos os
professores que lecionaram em Philippson, e, além dos já mencionados, aparece a figura
trágica do “Rebale”, que acabou morrendo no anonimato na selva que rodeava a região406
o
professor Idel Leib Averbuch, que exerceu também a função de bibliotecário da escola e
veio a morrer na flor da idade407
; o professor Usher Steinbruch408
, que lecionou ídiche e
hebraico como substituto do professor Becker; Marcos Frankenthal,409
que veio em um
momento em que a escola estava quase em abandono; e, por fim, o professor Abrão
Budin410
, que permaneceu durante muitos anos como diretor da escola e parece ter sido seu
sustentáculo. Lamentavelmente, pouco sabemos desses professores, com exceção da figura
de Marcos Frankenthal, que veio mais tarde a São Paulo e estabeleceu-se com a Tipografia
Palestina e fundou, em 1931, o periódico “San Pauler Idische Tzeitung”, que exerceu papel
cultural e social importante na vida comunitária judaica. Quanto ao professor Abrão Budin,
encontramos duas cartas de seu punho, escritas em português, ao professor David J. Perez,
e seu nome é mencionado várias vezes no jornal “A Columna” (1916-1917). O conteúdo
das cartas relaciona-se ao próprio jornal, sendo que, na primeira, manifesta ele suas
congratulações com o aparecimento do periódico, escrita com verdadeiro entusiasmo411
, e a
segunda trata de doação ao Comitê de Socorro aos Israelitas Vítimas da Guerra.412
PROGRAMA COMPLETO
Eva Nicolaiewsky413
, em seu livro “Israelitas no Rio Grande do Sul”, traz
algumas referências bibliográficas importantes sobre a escola judaica de Philippson, sendo
a primeira tirada da “Breve História dos Judeus no Brasil”, de S. Serebrenick e E. Lipiner,
onde se lê: “Em 1906, aproximadamente, foi organizada a primeira escola da Colônia
agrícola Philippson, com 50 alunos e 3 professores. Foi essa a primeira escola de ensino
judaico no Brasil”. Outra referência é extraída do artigo sobre a “Imigração Judaica no Rio
406
Op. cit., p. 102.
407 Op. Cit., d. 131-132. Uma foto do mesmo encontra-se no livro de Eva Nicolaiewsky, que mencionaremos
adiante em nosso trabalho. A atitude individual de um professor se revela nas palavras de Frida Alexander:
“O professor Idel Leib costumava reunir os alunos já prestes a terminar o curso, e com eles debater sobre os
livros e orientá-los na escolha de outros.” 408
Op. cit., p. 132-133. 409
Op. cit., p. 139 e 144. 410
Op. cit., p. 127 e seguintes. A autora descreve a personalidade do professor Abrão Budin nos seguintes
termos: “O professor Budin era impecável nas suas maneiras e no seu modo de trajar. Nunca se exaltava com
os alunos, ministrava as aulas com bondade e paciência. Quando algum aluno cometia alguma falta, as faces
do professor Budin se cobriam de rubor, um sorriso encabulado se esboçava no canto de sua boca, como se
fosse pedir desculpas à classe pela falta que não cometera”. 411
As cartas fazem parte da coleção de documentos microfilmados do arquivo do professor David José Perez,
cuja cópia nos foi cedida pelo Central Archives for the History of the Jewish People, em Jerusalém, graças à
atenção e gentileza do Prof. Haim Avni. As datas das cartas são 11/05/1916 e 03/07/1916. 412 Trata-se da instituição criada no Brasil em 1916, com a finalidade de atender às necessidades dos judeus
no continente europeu, que estavam sofrendo as agruras da Primeira Guerra Mundial. 413
Nicolaiewsky, E., “Israelitas no Rio Grande do Sul”, ed. Guaratuja, P.A., 1975.
251
Grande do Sul”, escrito pelo Dr. León Back414
, para a Enciclopédia Rio-grandense que
testemunha sobre si mesmo como professor: “Foi enviado pela J.C.A., de Paris, onde era
professor e vice-diretor da École Horticole et Professionelle, para Lisboa, a fim de aprender
ali o português e, posteriormente, para Philippson, onde chegou a 5 de junho de 1908,
instalando uma escola. As aulas da manhã e da tarde eram freqüentadas por cerca de 60
alunos. Nas últimas horas da tarde, funcionava uma aula para uns 20 adultos”.
Conforme instruções da J.C.A., os alunos, quase todos nascidos na Europa,
deviam ser educados como brasileiros. Por isso, a escola seguia os programas e adotava os
livros dos estabelecimentos públicos. Nas escolas só era admitido o uso da língua
portuguesa, com exceção do hebraico, ensinado nas aulas de instrução religiosa. Sabemos
pelo livro de Frida Alexander que também o ídiche era ensinado na escola.
Eva Nicolaiewsky ainda traz duas importantes menções sobre a escola de
Philippson, a primeira extraída de Ernesto A. Lassance da Cunha, que em sua obra
publicada em 1908, portanto bem próxima dos primeiros anos da colônia, escreve, à página
153: “Os colonos de Philippson são todos de origem russa e, na maior parte, já falam nosso
idioma. Na própria colônia existe uma escola particular para adultos e crianças, onde são
ensinados os idiomas português e hebraico”. A segunda referência é extraída do livro de
Hemérito José Veloso da Silveira, com o título “As Missões Orientais e seus Antigos
Domínios”, publicado em 1910, onde, à página 606, se lê: “A população de Philippson,
embora espargida por seus diversos lotes coloniais, embora entregue aos trabalhos nas suas
terras e indústrias dos lacticínios e outras, os israelitas não têm descuidado da instrução de
seus filhos. Na sede da colônia há aulas de português e hebraico, sustentadas pelos próprios
colonos”.
Eva Nicolaiewsky lembra mais dos professores que lecionaram em Philippson.
São eles, Chaim Ber Verba e José Pontremoli e, com razão, a autora observa que,
“considerando que as colônias possuíam de 25 a 30 hectares cada uma e que as moradias
foram edificadas dentro dessa área, é fácil imaginar o longo percurso a que estavam sujeitos
os alunos, atravessando campos, córregos, matos e defendendo-se das cobras, até atingirem
a escola”.
Outro aspecto interessante da escola é a composição mista de seus alunos,
incluindo católicos entre os mesmos, o que pode ser confirmado pela fotografia de 1908 e a
relação dos nomes dos alunos, publicada no livro de Eva Nicolaiewsky, em página não
numerada.415
Ao que tudo indica, a orientação imprimida pela J.C.A. à escola deveria ser a
de uma instituição que pudesse facilitar a adaptação dos filhos dos colonos ao novo país e
com padrões do mundo ocidental, afastando-se da mentalidade do schtetl, típico da Europa
Oriental.416
O caráter oficial da escola, reconhecida pelas entidades públicas do Estado, é
novamente comprovado por uma passagem no livro de Frida Alexander, quando relata que
“um acontecimento importante deixou marcada em Philippson a passagem do professor
Budin. Foi no fim do ano, pleno de atividades, quando, a convite do administrador Pereira e
414
Trata-se do professor León Back, a quem mencionamos anteriormente. 415
A mesma fotografia encontra-se na “Enciclopédia Judaica”, ed. Tradição, Rio de Janeiro, 1967. 416
É Preciso lembrar que a J.C.A. foi orientada por uma administração saída do judaísmo da Europa Ocidental
e tinha uma visão do judaísmo diferente da do schtetl.
252
do próprio professor Budin, tivemos uma comissão de examinadores enviada pelo Governo
do Estado, entre os quais João da Silva Belém, um dos luminares da pedagogia do Rio
Grande do Sul, e Walter Jobim, quem veio a ser, mais tarde, presidente do Estado”.417
EM QUATRO IRMÃOS
Com a instalação da segunda colônia da J.C.A., Quatro Irmãos, a partir de
1912, podemos supor que uma escola tenha se instalado no novo núcleo colonizador. Mas,
os poucos dados que temos são insuficientes para estabelecer alguma comparação com a
escola de Philippson, que a antecedeu. Tampouco sabemos com exatidão em que ano teve
início e quais professores lecionaram durante seus primeiros anos de existência. A única
fonte de informações importantes que pudemos obter foi o depoimento oral do insigne
professor Jacob Levin, que tanto contribuiu para a educação judaica no Brasil, pois foi
professor nos núcleos que formavam a colônia de Quatro Irmãos, a partir de 1929, e em
1935 tornou-se um dos educadores de destaque na escola Talmud Torá, fundada dois anos
antes em São Paulo, imprimindo-lhe orientação que a transformou num estabelecimento de
ensino exemplar em nossa comunidade.
Segundo o professor Jacob Levin, havia várias escolas na região de colonização
de Quatro Irmãos, que tiveram início em 1912. A mais antiga seria a de Quatro Irmãos
propriamente dita, pois, segundo seu depoimento, certos professores que atuaram em
Philippson, tais como Marcos Frankenthal e León Becker, passaram a lecionar na nova
colônia. Porém, formaram-se escolas nos núcleos de Barão Hirsch, Baroneza Clara e
Pampa,418
sendo que, a partir de 1929, o professor Jacob Levin, além de lecionar as
matérias judaicas (ídiche, hebraico, história judaica, Escrituras Sagradas ), tinha a função de
supervisor das escolas nessas colônias. Explica-se a existência de uma escola para cada
núcleo devido à grande distância existente entre um e outro ponto de colonização. Lembra
bem o professor Levin que, por essas escolas, passaram professores que, mais tarde,
serviram também como educadores nas escolas judaicas de outros Estados e de outras
cidades do Rio Grande do Sul. Entre eles, são lembrados o professor Jacob Faingelernt419
e
o professor Karolinsky, ambos conhecidos, pois tiveram atuação em outras escolas, assim
como os professores Aizik Matone, Blazer, Vitemberg, que não continuaram em seu mister
de mestres, voltando a seus lugares de origem ou passando a outras ocupações.
O significado dessas escolas para a educação judaica no Brasil ainda está por
ser avaliado, pois, como podemos depreender pelo depoimento do professor Jacob Levin,
417
Op. cit., p. 128. 418
Eva Nicolaiewsky, em seu livro, menciona também o núcleo de Rio Padre, mas não sabemos se havia
escola ou não nesse local. 419
Encontramos alguns traços semibiográficos no livro de Karakuschansky, S., “Aspektn funen idischen leben
in Brazil”(Aspectos da vida judaica no Brasil), ed. Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1957, vol. II, pp. 66-67.
Lamentavelmente, o excessivo “literalismo” do autor, que acompanhou de perto a vida judaica do Rio de
Janeiro, a partir da década de 20, e portanto poderia nos dar excelente testemunho do período, prejudica em
muito o aspecto histórico de seu trabalho, que se torna difuso no tempo e no espaço, carente de objetividade e
mesclado de apreciações pessoais, nem sempre corretas, sobre as personalidades que nos apresenta. Professor
Faingelernt lecionou em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e, por fim, no Rio de Janeiro. Devemos
lembrar, ainda, que o autor do livro acima citado dedica, no vol. I, um capítulo à educação judaica no Brasil.
253
elas serviram de incubadoras para a formação de professores para as escolas de outros
lugares e cidades do Brasil. O ensino, pelo visto, era eficiente, e o professor Jacob Levin
lembra com emoção daqueles pequenos lugarejos e de como as crianças falavam ídiche e
hebraico com fluência. A mesma observação ouvimos também no depoimento oral do
professor Abrão Kanas, que lecionou certo tempo nas colônias e, mais tarde, foi radicar-se
em Sorocaba. As escolas daqueles núcleos de Quatro Irmãos eram reconhecidas pelo
Estado e conferiam a seus alunos certificados com validade equivalente às demais.
As escolas tiveram apoio direto da J.C.A., seja sob aspecto material, seja sob
estímulo espiritual da parte de seu representante, o rabino Isaías Raffalovich, rabino-mor do
Rio de Janeiro,420
que aportou naquela cidade em dezembro de 1923. Seu interesse pessoal
na educação judaica o levou a viajar pelos Estados, criando escolas em vários lugares e
incentivando, com apoio material, seu funcionamento. Em especial, as escolas da J.C.A.
estavam sob sua responsabilidade, por força de sua função como representante daquela
instituição. Em seu livro “Tziunim ve-Tamrurim”421
ele retrata alguns aspectos relativos à
formação e orientação dada às escolas da época, em particular quanto à introdução do
estudo do hebraico ao lado do ídiche, que levou a que fosse atacado pelos “idichistas.”422
OUTRAS ESCOLAS
Podemos supor que na região da Santa Maria, onde se encontrava a colônia
Philippson, tenha existido uma escola judaica com crianças das famílias que deixaram a
colônia, pois, em 1915, já havia uma comunidade organizada. Mas nenhuma notícia
documentada encontramos que comprove a existência de qualquer escola. Por outro lado,
temos uma notícia concreta a respeito de uma escola na cidade sulina de Pinhal, notícia essa
publicada em 1917 no jornal “A Columna”, e que nos informa: “Em Pinhal, os alunos e
alunas israelitas da escola do sr. Professor Max Rosenberg representaram a peça “O Rei
Lear”, do conhecido israelita Jacob Gordin, em quatro atos com música. O espetáculo foi
representado pelos alunos e alunas de idade de 8 a 12 anos. Os trabalhos foram tão bem
executados que o público, nas passagens graves do drama, sentiu-se profundamente
emocionado, havendo muitas pessoas que não contiveram as lágrimas. Como ato final,
levaram uma comédia que fez rir a todos os assistentes. Ao mesmo tempo, foi recolhida
pelo sr. Dionísio Steinberg a quantia de 97$000 para as vítimas israelitas da guerra.
Tomaram parte no espetáculo os seguintes artistas: Jacob Soltz, Rebeca Soltz, Isaac Wolf,
Fani Sibemberg, Rachel Sibemberg, Miguel Schneider, filho de ...”423
Em São Paulo, temos como primeira escola o Talmud Torá Bet-Sepher Yvri,
assim chamado em “A Columna”, que em vários de seus números publicou uma série de
notícias que tratam desde a fundação da escola até seus primeiros avanços. Em março de
1916, Alexandre Algranti, representante do periódico mencionado, em São Paulo, em
conferência proferida em benefício da Biblioteca Israelita de São Paulo, expressava seus
votos “para que, em breve, seja organizado um festival como este, com o fim de se fundar
420
O rabino Raffalovich vinha da Inglaterra, onde serviu durante muitos anos como guia espiritual de
Liverpool. 421
Editado em 1952. 422
Op. cit., p. 186. 423
“A Columna”, n.ºs de set., out., nov., dez., 1917, p. 155
254
uma escola israelita nesta cidade, que conta com elementos seguros de vida, em virtude da
prosperidade de sua colônia”.424
No número de maio do mesmo ano, noticiava-se que, “a 25
de fevereiro próximo passado, fundou-se, na capital de São Paulo, um Talmud Torá, o
primeiro no Sul do Brasil de que temos notícia. A freqüência em abril era de 23 alunos, 20
do sexo feminino e 3 do sexo masculino”.425
Ainda no mesmo número se noticia que “a Sinagoga da rua da Graça, em São
Paulo, esteve muito concorrida durante o tempo de Pessach, sendo grande o número de
nossos correligionários que ali foram fazer suas orações. Todos os que ali estiveram nesses
dias prontamente contribuíram no limite de suas posses para a manutenção do Talmud
Torá”.426
Já em junho do mesmo ano, ou seja, poucos meses após a fundação da escola,
noticiava-se que o Talmud Torá Bet-Sepher Yvri desta cidade (São Paulo) estava
melhorando. “Conta, atualmente, segundo informações de seu diretor, com 44 alunos
inscritos, sendo 20 do sexo masculino e 24 do sexo feminino”.427
Alguns viajantes do Rio
de Janeiro que vieram a São Paulo para visitar as instituições da comunidade também dão
testemunhos da escola recém fundada e, entre eles, temos o de Max Fineberg, presidente da
primeira sociedade sionista no Brasil, a Tiferet Sion, que assim escreve: “...o Talmud Torá,
recentemente fundado, que vai prestando o inestimável serviço de instruir os filhos de
nossos correligionários na língua dos profetas e educá-los propriamente para que sejam tão
bons israelitas como brasileiros”.428
O secretário de “A Columna”, Ambrosio M. Ezagui, em artigo sobre São
Paulo, refere-se a Talmud Torá “que tem uma freqüência regular de alunos, sendo a nossa
doce língua lecionada pelo sr. Júlio Itkis, com resultados satisfatórios, como notei quando
tive a felicidade de visitar esse estabelecimento de instrução, em outubro do ano
passado...”.429
Quanto ao caráter da escola, as notícias que temos não permitem chegar a
uma conclusão definitiva, mas, aparentemente, era uma escola complementar de estudos
judaicos, que não abrangia currículo completo em português. O entusiasmo com a nova
escola é visível numa deliciosa notícia de “A Columna”, que nos informa que, “a 12 de
agosto, realizou um festival infantil em benefício do Templo Israelita em construção.
Compareceram muitas famílias da melhor sociedade, que concorreram para abrilhantar a
festa. Tomaram parte as seguintes crianças, que, dirigidas pelo professor Elias Carseh,
desempenharam a contento seus papéis: N. Lerner, quem recitou “Hamitcan bamitbar”;
Faelle Zippin, Nita Batbah e ‘Al Aior Bemizraim”; N. Lerner (canto), “Ura Ben liyakir”.
Constituíram o coro M. Kauffman e L. Naslavsky. Depois, organizou-se uma passeata, da
qual tomaram parte muita crianças que ostentavam as bandeiras brasileira e israelita.
Escusado será dizer que deixou a mais agradável impressão a todos os que assistiram a esse
ato”.430
Curiosamente, no ano de 1917, em Belém do Pará, parece ter havido esforço
comunitário em suprir, de alguma forma, conhecimentos judaicos aos seus filhos, pois se
noticia que “o sr. Manoel A. de Castro, diretor do Colégio Pará e Amazonas, acaba de criar
424
“A Columna”, n.º de março, 1916, p. 41. 425
“A Columna”, n.º de maio, 1916, p. 72. 426
“A Columna”, n.º de maio, 1916, p. 74. 427
“A Columna”, n.º de junho, 1916, p. 90. 428
“A Columna”, n.º de agosto, 1916, p. 117. 429
“A Columna”, n.º de fevereiro, 1917, p. 27. 430
“A Columna”, n.ºs de set., out., nov., dez., 1917, p. 151.
255
a cadeira de Língua Hebraica no curso suplementar dessa casa de instrução, para o qual
nomeou o professor Isaac P. Melul. Contou-nos que o sr. Artur Pinto, diretor do Colégio
Progresso Paraense, pretende também criar essa cadeira no seu instituto de ensino”.431
PROFESSOR EMINENTE
No Rio de Janeiro, ao que tudo indica, também existia uma escola do tipo
Talmud Torá de São Paulo, e talvez tenha mesmo sido criada anteriormente a daquela
cidade, ainda que não tenhamos nenhuma data que confirme tal suposição. Sabemos, sim,
que, em 1916, vivia no Rio de Janeiro um dos primeiros professores daquela comunidade;
este teria o papel decisivo na evolução do ensino judaico no Brasil: Saadio Lozinski. De
boa formação cultural, bem como de profunda erudição judaica e possuidor de élan
pedagógico, viera da Holanda para ser professor em nosso país. Não sabemos em que ano
chegou ao Rio de Janeiro, mas seu nome aparece no jornal “A Columna”, em relação à
primeira demonstração pública judaica, realizada no Rio de Janeiro em 1916, relatada por
Jacob Schneider em suas “Memórias”, nos seguintes termos: “Entre nós havia um
professor sionista – Saadio Lozinski, ao qual pedi que reunisse as crianças na Praça Onze
para que saíssem com bandeiras numa passeata. Convidei também os pais. Os
componentes do comitê do Joint tentaram impedir a realização da mesma e do pic-nic, mas
de nada adiantou. A juventude marchou da Praça Onze até a Quinta da Boa Vista e, com
eles, muita gente”.
Esse relato é confirmado pelo jornal “A Columna”, do qual citamos apenas um
trecho: “O dia 21 de maio (de 1916) foi, pois, um dia feliz à nossa gente. Mais de setenta
crianças israelitas, em formatura, partiram da Praça Onze de Junho, em debandada dos
automóveis, que as aguardavam um pouco abaixo, perto da Avenida do Mangue. As
bandeiras nacional e sionista, desfraldadas ao sopro da suave brisa, abriam o préstito. Às
duas horas da tarde, entraram na Quinta e, pouco a pouco, foram chegando carros e
automóveis conduzindo famílias e cavalheiros, até ser bem numerosa a concorrência, o que
tornou animadíssima a festa. Às quatro horas, pouco mais ou menos, principiou a execução
do programa. Os meninos cantaram o Hino à Bandeira, e, em seguida, o Hino Sionista, em
Hebraico”.432
Saadio Lozinski, de fato, era sionista convicto e tomou parte nos eventos
ligados ao início do sionismo no Brasil.433
Em sua correspondência com o professor David
J. Perez434
encontramos várias cartas em hebraico, mas sem qualquer relação com nosso
tema. Ele escreveu, em vários órgãos da imprensa judaica do Rio e São Paulo, inúmeros
artigos sobre educação, que, até agora, não foram reunidos, ainda que constituam material
excelente para o estudo da educação judaica no Brasil.
431
“A Columna”, n.º de março, 1917, p. 47.
432 “A Columna”, n.º de julho, 1916, p. 98.
433 Sua ligação com o primeiro grupo de sionistas do Rio de Janeiro é inegável, pois seu nome está vinculado
às primeiras associações, e em 1922, quando se formou a Federação Sionista do Brasil, ele foi seu primeiro
vice-presidente. Durante vários anos foi diretor da Escola Scholem Aleichem no Rio de Janeiro. 434
No microfilme do arquivo do professor David J. Perez, mencionado acima.
256
Experiência única relativa à educação judaica no país foi feita pelo major
Eliezer Levy, quem teve papel de destaque na criação do movimento sionista no Norte,435
ao fundar, na cidade de Belém do Pará, em 15 de novembro de 1919, o “Externato Misto
Dr. Weizmann”. Em carta dirigida a Weizmann, datada de 20 de novembro de 1919,436
ele
escreve “que não pode haver progresso sem instrução, e como nossa juventude é desprovida
dos mais rudimentares conhecimentos dos princípios de nossa religião, minha primeira
atitude (como presidente da Associação Beneficente Israelita) foi a de fundar uma escola
para crianças de ambos os sexos. O ensino da língua da terra e hebraico, e a orientação em
costura e bordado são inteiramente gratuitos, livros escolares e outros elementos
necessários ao ensino são também inteiramente gratuitos, assim como roupa e calçado para
os que necessitam realmente. A inauguração festiva da Escola teve lugar em 15 de
novembro. O governador do Estado presidiu a cerimônia e participaram em grande número
as famílias importantes e senhoras dos círculos sociais e comerciais mais proeminentes.
Essa escola profissional e geral tive a honra de denominá-la Externato Misto Dr. Weizmann
(Escola Dr. Weizmann para ambos os sexos), em homenagem ao senhor, pelos seus
esforços e imensa labuta em prol da causa do sionismo e da redenção de Israel. Estou certo
de que essa escola, sob os auspícios de um nome tão honrado e amado, terá futuro
brilhante, e nossos irmãos nela educados pronunciarão, diariamente, com alegria, seu nome,
e virão a reconhecer em sua pessoa o elemento mais forte na nova restauração de nossa
sagrada Eretz Israel. Ficarei imensamente recompensado pelos meus esforços se o senhor
aceitar essa homenagem e me enviar uma de suas fotografias mais recentes, de modo que
nossos alunos conheçam o patrono da Escola Dr. Weizmann, que honra a galeria dos
israelitas ilustres. Coloco à disposição meus modestos serviços nessa cidade, e aguardo a
honra de suas ordens. Com elevada estima e consideração, seu admirador e humilde servo,
Eliezer Levy”.437
Major Eliezer Levy, sionista convicto que era, havia fundado, em outubro de
1918, a organização sionista Ahavat Zion, em Belém do Pará, e, em 8 de dezembro do
mesmo ano, ele daria início à publicação de um periódico com o título de “Kol Israel”.
Nesse periódico encontramos mais elementos sobre o Externato Misto Dr. Weizmann, além
de algumas fotografias da escola reproduzidas naquele jornal. No número comemorativo do
segundo ano de existência do periódico, informava-se a inauguração da escola, “no dia 16
do mês passado (novembro)..., presidida pelo representante do exmo. Sr. Dr. Lauro Sodré,
governador do Estado, major Roberto Vasconcellos, ladeado pelo Dr. Heráclito Pinheiro,
inspetor escolar, representando o senador Paulo Maranhão, diretor do ensino primário; Dr.
Oscar de Carvalho, médico da Associação; Menasses Bensimon, presidente da Assembléia
Geral; Jacob A. Benchimol, presidente do Comitê Israelita; Raimundo Viana, delegado do
Grão-Mestre da Maçonaria; e major Eliezer Levy, presidente da Associação.
Recitaram belas poesias as meninas Preciada e Sultana Levy, o menino
Benjamin Sabá e as meninas Amália e Stella Levy”.
435
Fizemos em outro trabalho, ligado à história do sionismo no Brasil, uma avaliação do papel do major
Eliezer Levy na formação do nacionalismo judaico em nosso país. 436
Encontrada por nós no Central Zionist Archives (Ha-Archion Ha-Tzioni), em Jeruzalém, pasta Z 4/2350.
437Weizmann estava ausente da Inglaterra, pois havia viajado à Palestina, tendo o editor do “Zionist Bulletin”,
M. Landa, respondido à carta, em 9 de março de 1920, conforme verificamos na pasta Z 4/2350 do Central
Zionist Archives.
257
Mais adiante, temos uma descrição do currículo escolar, onde se diz que “o
externato compõe-se de aulas e do curso primário, tendo anexo um curso de hebraico,
prendas manuais, bordados à mão e à máquina de costura, para cujos fins tem bem montada
sala, com cinco máquinas Singer, bastidores, mesa de corte e todos os demais objetos
necessários. O número de alunos matriculados é de 70, aos quais é ministrado o ensino de
todas as disciplinas gratuitamente, fornecendo-se, também gratuitamente, todo o material
escolar; aos reconhecidamente necessitados, o estabelecimento fornece roupa e calçado. O
corpo docente é composto de duas professoras normalistas e uma adjunta para a escola
primária, um professor de hebraico, uma professora de costura e bordados e uma de
bordados à máquina. A freqüência média do Externato é de 60 alunos, sendo já notável o
aproveitamento por todos revelado, quer nas disciplinas do curso, quer nos trabalhos
manuais e à máquina”.438
No mesmo periódico, em outra página, aparecem os nomes dos
docentes Moises Binlolo, do curso de hebraico; Mme. Luza Cerdeira, da aula de bordados à
máquina; major Eliezer Levy, diretor do estabelecimento; senhorita Sara Zagury, do curso
primário; senhorita Ana Ismael Nunes, da aula de rendas à mão; e senhorita Annita Levy,
auxiliar dessa aula”.
A escola do major Eliezer Levy era realmente uma fundação notável pela
composição de currículo oficial, em nível de escola primária; currículo judaico, com o
ensino do hebraico, e currículo profissionalizante ou técnico, para as meninas poderem ser
donas de casa eficientes e prendadas. A fundação dessa escola era, no fundo, obra pessoal,
fruto de personalidade idealista e criativa, mas que, em tempos difíceis, encontrou-se
isolada e sem apoio para dar continuidade à idéia.43939
FORTALECIMENTO NOS ANOS 20
É na década de 20 que começa a se constituir a rede educacional judaica, assim
como a conhecemos hoje em dia. A primeira escola desse tipo, criada no Rio de Janeiro
com intenção de ministrar ensino oficial em português aliado a currículo hebraico foi a
escola Maguen David, cuja data de fundação apresenta algumas dificuldades para ser
fixada. Segundo o depoimento de Jacob Schneider, que foi um de seus fundadores, nos
relata em suas “Memórias”, que o início da escola ter-se-ia dado em 1920, mas na
“Enciclopédia Judaica” encontramos a data de 1922.440
A mesma escola passaria, a partir
de 1924, a denominar-se Colégio Hebreu-Brasileiro. Seu primeiro diretor foi o renomado
professor David J. Perez, quem imprimiu orientação nacionalista em relação ao estudo do
hebraico e o currículo judaico. Juntamente com o professor Saadio Lozinski, um dos
primeiros a compor seu corpo docente, devemos lembrar que, entre seus primeiros
438
“Kol Israel”, ano II, n.0 12, 16 de novembro de 1919.
439 O encerramento da escola e a indiferença da comunidade local quanto a sua continuidade nos
foram relatados, em carta comovente, pela filha do major Eliezer Levy, a talentosa escritora Sultana Levy Rosenblatt, vivendo atualmente nos Estados Unidos. 440
V. verbete Colégio Hebreu-Brasileiro. O fato de as crianças terem participado na
abertura do Primeiro Congresso Sionista no Brasil, em 1922, e seus delegados terem sido
convidados para visitar a escola nos leva a pressupor que ela já deveria existir antes do ano
de 1922.
258
fundadores encontravam-se Aaron Goldenberg,441
Alter Klein, Melech Lerman, David
Bilmes, Rafael Cohen, reunindo judeus asquenazitas e sefaraditas no mesmo
empreendimento. De início, a escola limitou-se a um primário, onde não havia lugar para o
ensino do ídiche, pois, como já dissemos, o hebraico reunia todas as tendências existentes
na comunidade.
Basta ler os Protocolos do Primeiro Congresso Sionista no Brasil, de 1922, para
constatarmos que as divergências nesse sentido não eram poucas.442
Somente a partir de
1925, quando ingressaram na diretoria da escola Leon Schwartz, Eduardo Horowitz, e,
como diretor de ensino assumiu o professor Saadio Lozinski é que a escola tomou novo
impulso. Mas, a luta entre o ídiche e o hebraico não terminou, pois, durante esse período até
o ano de 1928, enquanto a direção dos estudos judaicos estava nas mãos do professor Burlá,
o hebraico predominava de modo absoluto, criando certo descontentamento entre os pais,
que desejavam a introdução do ídiche. A partir daquela data, 1928, além de jardim de
infância, já começava a funcionar o primeiro ano ginasial, sob direção do professor I.
Eidelman, que possibilitou seu desenvolvimento positivo durante os dois anos em que se
manteve no cargo. I. Eidelman foi substituído por Y. M. Karakuchansky, que permaneceu
na direção da escola até 1932, ano em que o professor M. Fridman foi designado como
diretor da escola, cargo que ocupou durante muitos anos. Entre seus professores judeus, na
década de 30, encontravam-se os nomes de Tamar Fridman, Mordechai Reznick, Leib
Schmelzinger, Batia Katchalnik, Golde Levis, além de outros, a quem seria impossível
enumerar nos limites de nosso trabalho.443
Com a fundação da escola Maguen David, no Rio de Janeiro, começaria novo
capítulo na história da educação judaica em nosso país, capítulo esse que pretendemos
estudar em nosso próximo artigo.
441
Aaron Goldenberg é mencionado no livro de Karakuchansky, já citado, no primeiro volume, p. 9, como um
dos ativistas de grande iniciativa na vida comunitária do Rio de Janeiro. 442
No temário do Primeiro Congresso Sionista no Brasil, encontrava-se na ordem do dia uma discussão sobre
educação judaica, e os Protocolos registraram as opiniões dos participantes, revelando, assim, as posições
existentes quanto ao controvertido tema. Vide o artigo Os Protocolos do Primeiro congresso sionista no Brasil
nesta coletânea. 443
Uma das poucas e raras fontes que possuímos sobre a Escola Maguen David e outras escolas judaicas
fundadas na década de 20 é o número comemorativo dos dez anos de existência do periódico “Idische
Presse”, publicado em 19 de junho de 1935.
259
28. A presença israelita na Revolução de 1932
Ao se comemorar o 50.º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932,
nos perguntamos: qual foi o comportamento da então colônia israelita de São Paulo no
desenrolar dos acontecimentos?
Possuímos duas atas do Livro de Atas de Sessões Ordinárias da Sociedade
Beneficente das Damas Israelitas de São Paulo, cujo texto é explícito. Diz o seguinte:
“Aos onze de julho de mil e novecentos e trinta e dois, na sede social à rua 15
de Novembro 44, com a presença das diretoras senhoras Luba Klabin, Fanny Mindlin,
Anna Gorenstein, Riva Berezovsky, Rosita Gordon e Polly Saslavsky, foi aberta a sessão
pela presidente.
“Na Ordem do Dia, a presidente, em vista do tempo anormal, devido à
revolução, propôs que se angariassem donativos em dinheiro e mantimentos para que
fossem distribuídos entre as pessoas necessitadas da colônia, tendo sido essa proposta
aprovada por unanimidade. Constituiu-se uma comissão para esse fim, com as senhoras
Luba Klabin, Fanny Mindlin, Rosita Gordon e Anna Gorenstein.
“A senhora Fanny Mindlin propôs que a diretoria da sociedade se pussusse à
disposição do governo de São Paulo para qualquer auxílio que fosse necessário.
Resolveram enviar uma carta ao presidente do estado de São Paulo, bem como anunciar
pelo O Estado de São Paulo e Diário da Noite, pedindo à colônia israelita que enviasse
donativos para a sede das Damas Israelitas, a fim de serem enviados à Cruz Vermelha
Brasileira. Sendo aceita, a sra. Fanny Mindlin ficou incumbida de tratar a respeito.
“Em continuação, e de acordo com o resolvido na ata anterior, começou a
angariação de donativos em dinheiro e objetos para a Cruz Vermelha Brasileira. Ao mesmo
tempo, para ajudar os necessitados da colônia, cujo estado agravara-se devido ao
movimento revolucionário, ficou constituída uma Comissão de Socorro, composta das
diretorias da Sociedade das Damas Israelitas, em conjunto com a Sociedade Beneficente
Ezra e mais as senhoras Maria Bidlovsky, Esther Liber, Luisa Lorch, Mme. Zausner e
outras senhoras.
“Ficou instalado um posto de distribuição na sede da Sociedade de
Beneficência Ezra, à rua dos Bandeirantes, 20, onde seriam distribuídos mantimentos 3
vezes por semana (os artigos de primeira necessidade).
“Além dos diversos objetos, foi entregue à Cruz Vermelha 1:390$000 (um
conto, trezentos e noventa mil réis) em dinheiro.
“Por proposta da sra. Fanny Mindlin, ficou resolvido fazer capuzes para os
soldados com o dinheiro angariado entre a colônia israelita, de cujo feitio encarregou-se a
própria Comissão da Sociedade Beneficente das Damas Israelitas. Foram feitos 942
capuzes, entregues à Cruz Vermelha Brasileira.
“Em vista de haver-se acabado o dinheiro para a distribuição de mantimentos, a
Loja Moses Mendelssohn angariou gentilmente 19:270$000 (dezenove contos, duzentos e
vinte e sete mil). Graças a esse gesto, puderam continuar a distribuição, concorrendo,
assim, para minorar o sofrimento de inúmeras famílias durante longo tempo”.
No número 47 do jornal San Pauler Idische Tzeitung, de 8 de setembro de
1932, publicava-se um noticiário sobre a Revolução Constitucionalista que informava que
“todas as ações militares contra as forças constitucionalistas fracassaram, e os paulistas
260
mantêm suas posições em todas as frentes realizando de vez em vez contra-ataques sobre o
exército do governo provisório”. O jornal informava também que “em Itapira, a artilharia
anti-aérea, nesta semana, derrubou um avião que veio observar as posições
constitucionalistas”, e em São José do Rio Pardo os paulistanos, sob o comando do major
Romão Gomes, causaram grandes perdas ao inimigo, que em fuga, deixou uma grande
quantidade de munição.
O jornal fez referência ao movimento de contribuições em ouro mencionando
que “a população dá ao governo de São Paulo uma ajuda entusiasta, e os bancos que estão
autorizados a receber o ouro atenderam a muitas pessoas, que trouxeram jóias e outros
metais preciosos. Também foram entregues na Cúria Metropolitana mais de mil anéis de
ouro, trocados pelos de ferro. A Cruz Vermelha atua desde o primeiro dia em todos os
lugares das frentes militares, no interior e na capital, com a ajuda de várias comissões da
sociedade paulista dando todo o seu apoio. Uma rede de hospitais está espalhada em todas
as cidades do Estado para prestar ajuda aos soldados feridos, e em São Paulo foram criadas
muitas oficinas, onde trabalham mulheres e moças da sociedade, que preparam lençóis e
vestimentas para a Cruz Vermelha”.
Porém, o noticiário do San Pauler Idische Tzeitung nos é importante sob o
aspecto da ajuda prestada pela comunidade judaica de São Paulo à Revolução
Constitucionalista, pois, além das atas lembradas acima, não dispomos de outros
documentos senão o relato daquele periódico. Sob o título “Organização judaica de ajuda
Ezra”, relata o jornal que “os ingressos destinados à Revolução não foram suficientes, e
pelo fato de diminuírem mais ainda agora, fomos obrigados a nos dirigir à população
judaica para dar uma ajuda especial, que novamente mostrou sua boa vontade para com as
instituições de ajuda”. No mesmo lugar se noticia que foi criado um “Comitê de Ajuda”
(Fundo de Emergência), com a participação de todas as entidades, sob a supervisão da
“Representação Central”, e que “desde o início da situação atual começou a coletar
produtos alimentícios, que são distribuídos pela Sociedade das Damas Israelitas, no local da
Ezra, à rua Bandeirantes, 20. Para o Comitê de Ajuda, a soma coletada anteriormente não
foi o suficiente, uma vez que o estado (de guerra) está se prolongando e as necessidades da
população mais pobre estão crescendo de tal modo que a Comissão foi obrigada, mais uma
vez, a coletar um fundo para poder atender ao trabalho de repartir alimentos, como tem sido
feito até agora, e, nesse sentido, é importante que a comunidade judaica se prontifique
novamente a dar seu apoio a esse objetivo”.
Em um artigo de fundo do mesmo jornal, naquele mesmo número, intitulado
“A comunidade judaica e o trabalho de ajuda”, temos um balanço da atividade
desenvolvida pela mesma em prol da Revolução. O autor do artigo lembra que “todas as
nacionalidades estão prestando uma ajuda à Cruz Vermelha e outras entidades, e a
comunidade judia também o está fazendo, tanto em forma de grupos voluntários como
coletivamente, através do Comitê que se formou com a Ezra e a Sociedade das Damas
Israelitas (Froien-Hilfs-Ferein) e sob a orientação da “Representação Central”, constituindo
ao mesmo tempo o Comitê de Ajuda para criar os meios para a distribuição de alimentos
para a população judaica mais pobre”. Em seguida, o articulista destaca que a maior parte
do trabalho de ajuda deve-se inscrever em nome da Sociedade das Damas Israelitas, cuja
comissão passou a atuar desde o início e intensivamente, conseguindo juntar somas de
dinheiro e artigos diversos necessários e úteis à Cruz Vermelha em nome da colônia
judaica. Ele lembra também a doação dos 942 capuzes para os quais elas coletaram entre as
mulheres da colônia a 5 mil réis a peça. O artigo termina dizendo que importante seria que
261
as contribuições dos vários grupos individuais existentes fossem centralizadas, como ocorre
com outras colônias, mostrando assim “que toda a comunidade israelita está participando
desse grande movimento”. Podemos supor que o articulista fosse um dos três responsáveis
pelo periódico, ou seja, Marcos Frankenthal, José Nadelman ou Elias Amstein.
Como vemos, a comunidade, que em 1932 já se encontrava solidificada, com
instituições próprias e se apresentava com uma ou duas gerações de descendentes dos
primeiros imigrantes, não ficou indiferente aos sucessos revolucionários. Podemos verificar
que, além da Sociedade das Damas Israelitas, houve participação também de outras
instituições como a Ezra e a Loja Moses Mendelssohn.
262
30. A visita de Albert Einstein à comunidade judaica do Rio de Janeiro
Pouca atenção foi dada, por parte dos historiadores brasileiros,
444 ao fato de que
Albert Einstein, ao visitar o Brasil em 1925, tenha sido hóspede da comunidade judaica do
Rio de Janeiro, e que sua presença foi assinalada pela imprensa ídiche local, ou seja, pelo
único órgão existente naquele tempo, o “Dos Idische Vochenblat” (“O Semanário
Israelita”), fundado por Aron Kauffman.
Einstein fora convidado para vir ao nosso país pela Escola Politécnica e pelo
Clube dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Mas, sua vinda deve-se, em boa parte, à
intervenção do rabino-mor Isaías Raffalovich, que, em nome da comunidade judaica
brasileira, envidou todos os esforços para que o famoso cientista fosse seu hóspede. E foi
com a intenção de recepcionar Einstein que se organizou uma comissão de representantes
das instituições judaicas no Rio de Janeiro, que deveria programar suas conferências e
visitas durante o tempo de permanência entre nós. Curiosamente, é preciso assinalar,
mesmo em se tratando de visita tão importante, que não reinou total harmonia entre os
representantes das instituições, pois sabemos que a Biblioteca Scholem Aleichem retirou-se
devido a um pequeno desentendimento com seus delegados no primeiro encontro da
comissão organizadora, provocando uma celeuma que mereceu a atenção de um articulista
do “Dos Idische Vochenblat”.445
Einstein viria ao Brasil de volta de sua viagem da Argentina e do Uruguai,
onde estivera a convite de instituições científicas daqueles países, devendo chegar ao Rio
de Janeiro com o navio “Valdivia”, dia 5 de maio. Isaías Raffalovich, em seu livro
“Tziunim ve-Tamrurim”,446
relata que, bem antes, soubera que a Sociedade Cultural
Hebraica de Buenos Aires convidara o cientista a proferir uma série de palestras para o mês
de março de 1925, e que, portanto, se apresentava excelente oportunidade à comunidade
judaica do Rio de Janeiro para conhecer o “pai da teoria da Relatividade”. Assim sendo,
Raffalovich, de posse da preciosa informação, comunicou-se com o professor Inácio de
Azevedo Amaral, do Politecnicum do Rio de Janeiro, para notificá-lo da futura presença de
Einstein na Argentina, sugerindo que seria grande honra ao Brasil também recebê-lo.
Professor Amaral, de imediato, percebeu a importância do assunto e sugeriu convocar um
encontro com as autoridades universitárias e o rabino. Nesse encontro, o rabino-mór relatou
que Einstein estaria na Argentina e que seria altamente honroso também a nós convidá-lo, o
que, de imediato, levou uma resolução unânime dos presentes para que não se deixasse
escapar essa oportunidade. Raffalovich lembra que enviou um telegrama em nome da
Escola Politécnica e da Universidade, bem como em nome da comunidade judaica, a
Berlim, e, poucos dias após, Einstein respondia positivamente ao convite.
PRIMEIRA VISITA
444
1. Um artigo importante sobre a estadia de Einstein no Rio de Janeiro é de Caffarelli, R. V., Einstein e o
Brasil, in “Ciência e Cultura”, vol. 31, n.º 12, 1979. 445
“Dos Idische Vochenblat”, 77, 01/05/1925. 446
Editado em Tel Aviv, 1951.
263
Dia 21 de março, o cientista passaria pelo Rio de Janeiro, a caminho de sua
viagem à Argentina, sendo, então, recebido por autoridades da Universidade do Rio de
Janeiro, da Escola Politécnica, do Clube dos Engenheiros, e também pelo rabino Isaías
Raffalovich e representantes da Federação Sionista e da Kehilá (Comunidade) do Rio de
Janeiro. No mencionado livro de Raffalovich, encontramos uma descrição da passagem de
Einstein pelo Rio, cujos detalhes complementares estão em um artigo publicado no “Dos
Idische Vochenblat”.447
Assim escreve o dinâmico rabino: “Quando passou o navio que
levava Einstein, em meados do mês de março, e atracou no Rio, subiu uma delegação de
homens de ciência e também três representantes da comunidade judaica, para recebê-lo e
convidá-lo para um almoço no hotel mais luxuoso da cidade. A imprensa noticiou com
entusiasmo a visita do professor, e, pelo fato de eu ter entregue à Associação dos Jornalistas
essa notícia do convite, referiu-se a ele como ‘o grande homem de ciência judeu da
Alemanha”.
Pelo artigo publicado no “Dos Idische Vochenblat”, sabemos que, além do
rabino Isaías Raffalovich, subiram ao navio o representante da Kehilá, Isidoro Kohn;
Eduardo Horowitz, representante da Federação Sionista; e Leon Schwartz, que representava
o Grupo Ativo do Centro Sionista do Rio de Janeiro.
Além dos representantes da comunidade judaica, que foram os primeiros a
cumprimentar o cientista, subiram em seguida ao navio os professores Aluízio de Castro
Brandão, os doutores Paulo de Frontin e Alfredo Lisboa, e outros homens de Ciência do
Rio de Janeiro.448
Einstein desceu do navio acompanhado pela delegação de recepção e
passeou pela cidade até chegar ao Copacana Palace Hotel, onde lhe foi oferecido almoço.
Depois disso, o ilustre cientista, juntamente com seus acompanhantes, andou um pouco a pé
pela Avenida Central e Rua do Ouvidor, a caminho de volta ao navio.4496
Às quatro horas
da tarde, Einstein já se encontrava no navio que o conduziria à Argentina, após se despedir
dos representantes da comissão e dos grupos da intelectualidade brasileira que haviam
vindo conhecê-lo.
CONTATO MAIS DEMORADO
Já de volta da Argentina, Einstein, que era esperado dia 1.º de maio, chegou ao
Rio de Janeiro com o navio “Valdivia”,450
que atracou com certo atraso. No porto,
esperavam-no, além da comissão oficial de cientistas brasileiros, os representantes das
instituições judaicas, entre elas, Federação Sionista, Sociedade de Ajuda (Hilfs-Ferein-
Relieff), Centro Sionista do Rio de Janeiro, Sociedade de Ajuda das Damas Israelitas
(Froien -Hilfs-Ferein), além do rabino-mor, Isaías Raffalovich, e Isidoro Kohn. Nessa
recepção, Ofélia Kastro, em nome da Sociedade de Ajuda das Damas Israelitas, ofereceu-
lhe um buquê de flores.451
No programa oficial, estabelecido pela comissão de cientistas e professores,
incluiu-se, além das conferências e palestras nas instituições científicas locais, uma
447
“Dos Idische Vochenblat”, 72, 27/03/1925. 448
V. a respeito o artigo de Caffarelli, mencionado acima. 449
“Dos Idiche Vochenblat”, 72, 27/03/1925.
450 “Dos Idiche Vochenblat”, 77, 01/05/1925.
451 “Dos Idiche Vochenblat”, 78, 08/05/1925.
264
conferência especial à comunidade judaica do Rio de Janeiro, marcada para dia 9 de maio
no Automóvel Club do Brasil. “Dos Idische Vochenblat” anunciou, em página inteira, a
conferência e, nesse anúncio constavam os nomes de quase todas as entidades da
comunidade daquela época, a saber: Federação Sionista do Brasil, Sociedade de Ajuda
(Idischer Hilfs-Ferein), Sociedade de Ajuda das Damas Israelitas (Idischer Froien -Hilfs-
Ferein), Comunidade Israelita ( Idischer-Brazilianer Gemeinde), Agudat Benei Herzl,
Centro Sionista do Rio de Janeiro e Escola Israelita Brasileira.452
Na noite de sábado daquela data, mais de duas mil pessoas se acotovelavam
para ver e ouvir o famoso cientista, representantes da sociedade brasileira e israelita das
mais diversas origens, ocupações e profissões. O Rabino Isaías Raffalovich abriu a noite
com emocionantes palavras: “Estamos reunidos para prestar homenagem ao maior sábio de
nosso tempo, e estamos extraordinariamente orgulhosos pelo fato de esse gênio ser nosso,
um filho fiel de nosso povo e, como tal é que o saudamos. A presença do professor Einstein
entre nós é um acontecimento extraordinário, que será escrito com letras de ouro na história
da jovem comunidade judaica do Rio de Janeiro”.
Em seguida, usou da palavra o professor David José Perez, intelectual
respeitado, que falou em português. Fez uma apreciação sobre a Ciência no judaísmo, do
passado e do presente, e terminou seu discurso em francês, com palavras calorosas,
dirigidas ao homenageado. Em nome da Federação Sionista, falou Eduardo Horowitz, em
ídiche, mostrando uma outra faceta da personalidade de Einstein, não a do cientista, mas a
do humanista preocupado com a verdade e a vida da humanidade em geral, e a de seu povo,
em particular.
PARTIDÁRIO DO SIONISMO
Por fim, tomou a palavra o homenageado, que abriu sua conferência dizendo:
“Irmãos e irmãs”, e escusando-se por não concordar com todos os elogios à sua humilde
pessoa. Em continuação, Einstein deteve-se sobre a necessidade de haver solidariedade
entre os judeus na ajuda aos irmãos necessitados em vários lugares e, principalmente, ao
movimento sionista, na reconstrução de Eretz Israel. Felizmente, afirmou Einstein, o
mundo judaico adquiriu consciência de seu objetivos, no sentido do movimento sionista, e é
de se esperar que, cada vez mais, tal consciência se transforme numa força real.453
Suas
palavras calaram fundo no público presente, que, ao término do encontro, foi saindo
vagarosamente do salão do Automóvel Club do Brasil, comovido com a presença do grande
cientista que simbolizava, naquela noite memorável, não somente o genial criador da
452
“Dos Idiche Vochenblat”, 78, 08/05/1925. 453
“Dos Idische Vochenblat”, 79, 15/05/1925; 80, 22/05/1925; 81, 29/05/1925. A posição de Einstein em
relação ao movimento sionista era de total apoio, e sua identificação com o ideal de reconstrução nacional
judaica em Eretz Israel foi por ele expressa em muitas ocasiões, verbalmente e por escrito, como podemos
verificar no capítulo IV do livro recém-editado pela Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1981, com o
título “Como Vejo o Mundo” (Mein Veltbild”, original alemão). É de se notar a má-fé do autor da orelha do
livro, muito comum em certos “intelectuais” sujeitos às más influências do modismo anti-sionista, ao
escrever: “...Einstein, de exemplar senso de humanidade: partidário do entendimento entre os povos, convicto
defensor do judaísmo, mas nunca sionista, (g.n.), observador sagaz da sociedade que o rodeava”. Só podemos
deduzir que o autor redigiu o texto da orelha do livro sem lê-lo; do contrário, não se exporia a tamanho
vexame, deturpando inteiramente as idéias e contradizendo o próprio conteúdo dos escritos de Einstein.
265
“teoria da Relatividade”, mas o herói de seu próprio povo, tão legendário quanto os do
passado.
No dia seguinte, Einstein visitaria a Federação Sionista, que, na época, se
encontrava sob a presidência de Jacob Schneider. Na noite do domingo, foi organizada uma
recepção no Centro Sionista, na qual fizeram uso da palavra Jacob Schneider, Moisés
Koslovski, presidente do Centro, e o rabino Raffalovich. Einstein agradeceu a todos e
expressou sua satisfação de encontrar na comunidade tão intensa atividade em prol desses
ideais. A noite encerrou-se formalmente com a leitura, feita por Eduardo Horowitz, da ata
que relatou o encontro havido e as respectivas assinaturas dos membros que compunham a
mesa.
Apesar da discordância da Biblioteca Scholem Aleichem com o comitê
organizador, na mesma noite Einstein resolveu visitar aquela entidade, acompanhado pelos
presentes do Centro Sionista. Em nome da Biblioteca, saudou o visitante S. Feingold, que,
na ocasião, fez entrega ao cientista de uma coleção de livros especialmente encadernados e
o convidou a ser sócio-honorário da instituição.454
O famoso cientista partiria no dia seguinte com o navio “Cape Nort”, rumo à
Europa, despedindo-se das comissões de recepção e dos acompanhantes que estiveram com
ele durante todo o tempo em que permaneceu no Rio de Janeiro.
454
“Dos Idische Vochenblat”, 81, 29/05/1925.
266
31. Lasar Segall na imprensa iídiche. Artigos do próprio artista sobre
a “Arte Judaica”
A participação de Lasar Segall na vida comunitária judaica do Brasil pode ser
estabelecida a partir da década de 20, quando sua presença como artista judeu, e já
reconhecido mundialmente como pintor original e de uma criatividade ímpar, impôs seu
nome no noticiário da imprensa ídiche do Rio de Janeiro. As primeiras notícias que temos
de Segall, em um periódico de língua ídiche, encontram-se no “Dos Idische Vochenblat”,
fundado em 1923, ano em que o artista voltaria da Europa para radicar-se no Brasil. No
número de 25 de abril de 1924, se noticia que “Oscar Segall e seu irmão, Lasar Segall,
estiveram presentes na comemoração dos 10 anos de existência da Biblioteca Israelita de
São Paulo”. Informações desse teor, que mostram a participação do pintor em eventos
relativos à comunidade judio-brasileira, não são raras, e podemos encontrá-las em vários
periódicos em ídiche do Rio e de São Paulo. Em 1927, no periódico “Brazilianer Idische
Presse”, no Rio de Janeiro, Aron Bergman, seu redator, publicava três artigos sobre o
pintor, com ilustrações de suas pinturas reproduzidas naquele orgão, com os títulos de “Tzu
Gast beim Kinstler” (Visita ao Artista), “Di Melodie fun Pessimizm” (A Melodia do
Pessimismo), e o último, “Segall – kein Eretz Israel” (Segall- em direção a Eretz Israel).455
Aron Bergman, jornalista de alto nível e homem de projeção na vida comunitária, ficou
impressionado com a arte de Segall, não poupando elogios ao renomado artista, dedicando-
se, em seus artigos, a comentar a obra do pintor. No segundo artigo mencionado acima,
Bergman faz referência ao caráter judaico de sua pintura, acentuando que, apesar de tudo e
da ambientação do artista ao sol, ao calor e às cores da terra brasileira, “Segall não se
salvou do ambiente melancólico da Lituânia”. O título estranho que Bergman dá ao seu
último artigo explica-se pela idéia do autor, que crê na possibilidade de Segall desenvolver
uma arte nitidamente judaica somente... em Eretz Israel.456
Com a fundação do jornal “San
Pauler Idiche Tzeitung”, em 1931, que noticiava os acontecimentos relativos à comunidade
local, entre outras, encontramos notícias sobre a atividade do pintor. Em uma delas, Segall
encontra-se assinando uma lista de protesto sobre a controvertida questão da formação de
uma “Comunidade” (Kehilá), que provocou verdadeira celeuma entre os israelitas de São
Paulo.457
Mas, cremos que é no periódico “Velt-Spiegel” (“O espelho do Mundo”), que
começou a ser publicado em meados de 1939, que se pode encontrar significativos
depoimentos pessoais de Lasar Segall, que escreveu ídiche, sua “língua-mater”, vários
artigos sobre si mesmo, sua arte e sobre arte em geral. A razão para esses artigos escritos
por Segall, entre outras, é a de que ele era colaborador oficial daquele órgão e, de fato,
455
“Brazilianer Idische Presse”, 19/08/1927, 26/08/1927; 02/09/1927. 456
Aron Bergman era um sionista ativo e veio ao Brasil com a missão de criar o partido Poalei Zion e liderá-
lo, o que, de fato, ocorreu. Não é de se estranhar que ele visse em Segall um judeu que poderia desenvolver
sua arte em Eretz Israel, ainda que nos pareça uma idéia bizarra. 457
A polêmica surgiu em São Paulo, em meados de 1937, devido à idéia de se criar um órgão representativo
central da comunidade, fato que despertou a oposição de certas pessoas e instituições, mais pelo seu modus
faciendi do que pelo seu conteúdo. As velhas famílias da comunidade tinham uma posição sobre o assunto
que diferia da dos representantes da imigração mais recente. O periódico “San Pauler Idische Tzeitung”, em
vários de seus números, tratou da questão, publicando artigos que refletiam os vários aspectos da polêmica.
267
assim ele figura no número comemorativo, de agosto de 1940, juntamente com os demais
escritores, jornalistas e intelectuais que colaboravam com o periódico.
O fato de esses depoimentos ou artigos fornecerem elementos que podem
ajudar aos estudiosos da obra do pintor não somente a reconstituir o roteiro de sua
formação artística, mas também a elucidar certos conceitos de seu mundo estético é que nos
levou a traduzi-los, e também a publicar este artigo.
No número 2 do “Velt-Spiegel”, de julho de 1939, Segall publicou um artigo
com o título “Lazar Segall vegen zich” (Lazar Segall sobre si mesmo”), cujo texto
traduzido ao português foi publicado pela Revista Anual do Salão de Maio, n.º 1, 1939,
com o título “1912 –Depoimento”. Trata-se do mesmo texto e, portanto, não temos
necessidade de reproduzi-lo aqui,458
apesar de sua importância para a biografia artística de
Segall.
Outro artigo que Segall escreveu no “Velt-Spiegel”, de 4 de setembro 1939,
versava sobre o tema da arte judaica e foi publicado com o título “Existirt a Idische Kunst?”
(Existe uma arte judaica?). Nesse artigo, podemos encontrar parte da visão de mundo
artística de Segall, na medida em que ele procura meditar sobre a questão. Vejamos como
ele a desenvolve, no texto que traduzimos a seguir:
EXISTE UMA ARTE JUDAICA?
“Ao se contemplar quadros com motivos judaicos, de pintores judeus, se coloca
perante muitos a questão: existe uma arte judaica? Mas, devemos dizer que, segundo os
conceitos gerais sobre a arte, em geral, tais como arte francesa ou italiana, somos obrigados
a concluir que nenhuma arte judaica existe. Há quadros com pequenas cenas populares da
vida judaica, tipos judaicos com peiot (franjas laterais da cabeça) e motivos semelhantes,
que podemos encontrar em pintores judeus e que o público mais amplo aceita como sendo
arte judaica. Mas isso ainda não é arte judaica, e, em geral, nada tem a ver com arte. Isso
são apenas pequenos relatos, pequenas cenas folclóricas, que podem servir de anedota, mas
não podem ser vistos como arte.
Uma paisagem francesa, uma cena característica francesa, nada tem a ver com
arte francesa. A arte francesa somente pode ser reconhecida através da cor, das linhas, das
técnicas, como, em geral através da concepção da composição. Tudo isso, juntamente com
a atmosfera própria, criou, no decorrer do tempo, uma arte própria.
Podemos considerar os quadros com motivos judaicos, dos artistas judeus, arte
judaica? O que possuímos são artistas judeus, e não arte judaica. Artistas judeus se
mostraram primeiramente no século XIX, e hoje podemos contar muitos, tais como Pissaro,
na França; Josef Israëls, na Holanda; Max Liebermann, na Alemanha; Modigliani, na Itália;
Marc Chagall, Soutine e minha humilde pessoa, na Rússia. Esses artistas judeus, como
outros, tomaram parte ativa na criação e no desenvolvimento da arte em geral. Mas, eles
não criaram nenhuma arte judaica. Um pintor cristão pode pintar um motivo judaico, assim
como um pintor judeu pode pintar um motivo cristão. Exatamente como Rembrandt pinta
um rabino, assim Max Liebermann pinta um quadro de Cristo.
458
O texto se encontra também publicado no vol. II, Apêndice, da tese de Vera d’Horta Beccari, “Lasar
Segall. Esboço de um Retrato”, defendida na Universidade de São Paulo, em 1979, pp. 296-99.
268
Apesar disso, quando paramos em frente a um quadro de um artista judeu,
sentimos o específico judaico no amplo e profundo sentido da palavra.
O que é caracteristicamente judaico? É bem possível que seja o profundo
sentimento humano. Talvez a nota de contestação, ou de intimidade espiritual, ou ainda de
insatisfação com a estética ‘pura’ na arte. Essas qualidades foram introduzidas pelos artistas
judeus, enriquecendo com elas a arte universal.
Cada quadro possui um conteúdo, mas ele necessita se infiltrar nas linhas,
formas e cores, que são os elementos vitais para a concepção de uma obra de arte. Quando
estamos perante um quadro de Rembrandt, por exemplo, ‘Saul e David’, um conteúdo do
Velho Testamento judaico, não é em especial esse conteúdo que chama a atenção do
verdadeiro amante da arte, mas suas qualidades tecnopictóricas. Eu insisto em que um
quadro pode ter um conteúdo, e até acho que ele deva ter um conteúdo, mas ele precisa se
revelar nas cores, nas formas, através da necessária técnica pictórica, para criar um todo,
que chamamos de obra de arte.
Por que nós não temos uma arte judaica e por que ela não é criada?
É conhecido de todos que, de acordo com a tradicional lei judaica, é proibida a
reprodução da figura humana. Para se criar uma arte judaica própria, necessário se faz
existir, antes de tudo, uma atmosfera judaica, que seja apropriada e comum a todos os
judeus. Uma atmosfera como base para a total criação judaica, com uma técnica
inteiramente própria, assim como a encontramos na arte ornamental judaica, tal como
podemos vê-la nas ilustrações das velhas megilot, nos antigos e chamuscados candelabros e
nas velhas arcas sinagogais, onde se guardam os rolos da Lei, que, em seu conjunto,
podemos considerar uma arte artesanal judaica. Não seria, porém, isso um sonho? Assim
me parece e, segundo meus conceitos, ainda é um sonho. Ainda que não possamos, hoje,
destacar muitos artistas judeus que tomaram parte no desenvolvimento da arte no último
século, podemos, todavia, apontar muitos nomes judaicos entre os críticos e marchands que
descobriram e fizeram conhecer muitas obras de valor e muitos artistas, dos quais o mundo
não tinha a mínima idéia da existência, e que hoje são aceitos e vistos como os melhores
mestres da arte moderna. Esta é uma contribuição ímpar dos judeus no campo da artes”.
RECORDAÇÕES DO ARTISTA
No já mencionado número de agosto de 1940, encontramos um artigo com o
título “A kinstler dermont zich...” (“Um artista recorda...”), que representa belíssimo
depoimento sobre a infância de Segall e os motivos – se podemos empregar esta expressão
– que o levaram à pintura e à arte. Desse artigo damos a tradução que se segue:
“É interessante e significativo conversarmos com artistas sobre os primeiros
impulsos que os levaram à arte.
Quando o artista se mostra interessado em uma conversa desse gênero, começa
ele a se aprofundar em suas longínquas lembranças, para tentar explicar quando começou a
sentir o desejo de desenhar, pintar ou modelar. E começam a surgir as lembranças mais
preciosas. A mim, muitas vezes, se apresentou a oportunidade de conversar com colegas
sobre isso e, ao inquirirmos um ao outro, vinham à tona as lembranças sob sua verdadeira
luz.
Devo dizer que são muito interessantes em particular as lembranças daqueles
artistas que nasceram afastados de uma atmosfera artística e longe dela passaram sua
juventude. Tais lembranças são ricas em fantasia.
269
As primeiras impressões de artistas que foram criados em um ambiente
impregnado de arte e, já como crianças, respiravam o ar dos museus, são freqüentemente
mais realistas. Suas lembranças estão associadas com o que se apresentava nos museus.
No tocante a mim, lembro-me que, quando era ainda muito criança, me vi pela
primeira vez olhando através de pequenos pedaços de vidros coloridos, o céu, as pessoas,
os animais, e outras coisas mais, o que me deixou profundas impressões, que
permaneceram comigo para sempre e me perseguiram durante muitos anos, acabando por
se fixarem em minha fantasia.
Também me lembro que, ao freqüentar o heder, eu desenhava com lápis
coloridos, e, com meus desenhos, não raramente eu proporcionava ao rebe e seus talmidim
imensa alegria.
E, ao me interessar em procurar as causas da minha inclinação artística, vejo
que um papel importante desempenhou a atividade de meu pai como Soifer. O preparar o
pergaminho, compor as arquitetônicas letras hebraicas com o profundo negro da tinta pesou
fortemente em minha fantasia de criança e me provocou as primeiras impressões estéticas.
Ainda hoje, me causa imensa alegria quando admiro um traço ornamental desenhado pelo
meu pai sobre um pergaminho que restou e cujas letras já são difíceis de ler a olho nu. Sim,
foi isso o que, em minha primeira juventude, despertou em mim o desejo de desenhar e
pintar. E logo, esse desejo se transformaria em uma necessidade”.
Em entrevista dada à “Revista Israelita”, em outubro de 1933, Segall também
se referiu aos anos de sua infância na Lituânia e à influência que seu pai exercera sobre ele.
Ainda que não seja um depoimento diretamente escrito pelo artista, mas pelo jornalista que
o entrevistou, interessante é conhecê-lo, devido à semelhança com um trecho do texto que
publicamos anteriormente. Escreve o jornalista: “Lasar Segall fala-nos de sua infância no
Ghetto de Vilna, onde nasceu em 1890, de seu pai que era soifer (escriba) e escrevia em
pergaminhos as sagradas escrituras da Torá. Aqueles caracteres hebraicos em forma
quadrada, aquelas iluminuras e florões, que continham em cada traço e em cada ponto um
signo cabalístico e o mistério envolvente das Sagradas Escrituras, deixaram grande
impressão sobre o futuro artista. Foi nesses caracteres que teve, pela primeira vez, a noção
de forma e cor...”
Para terminarmos, devemos ainda mencionar que, em dois números do “Velt-
Spiegel”, novembro-dezembro de 1939 e janeiro de 1940, o artista escreveria extenso artigo
com o título “Kunst, Kinstler un Publicum” (“Arte, Artistas e Público”), no qual
desenvolve conceitos sobre arte ou estética de modo quase didático e, de certa forma, um
pouco diferenciados da maneira coloquial adotada nos artigos acima. Com o mesmo título,
Segall publicou, em português, um artigo na revista “Roteiro”, de 5 de agosto de 1939,
portanto, pouco antes da publicação do texto em ídiche no “Velt-Spiegel”, e, assim sendo,
não necessitamos traduzi-lo, uma vez que é conhecido dos estudiosos de sua obra.
270
32. O mascate Adolfo
O Mascate Adolfo
O nome de Adolfo Kischinevsky era na verdade Yudel. Ele nasceu em
Tiraspol, na Rússia, em 3 de dezembro de 1890.459
Filho de uma família com certas posses,
pôde estudar em Kischinev, um centro mais desenvolvido e com uma população judaica
mais numerosa, onde existia uma yeshivá que ele freqüentou, sob a orientação do rabino
Perelmuter. Em 1905 ingressou no movimento operário judaico, passando a militar nas
fileiras do Bund. Emigrou em 1909 para a Argentina e passou a trabalhar na profissão de
relojoeiro, ao mesmo tempo em que começou a participar como redator e colaborador em
alguns jornais locais, escrevendo crônicas satíricas e contos. Entre essas publicações
periódicas se encontravam o Der Tog (O Dia), Idische Tzeitung (Jornal Israelita), e o
periódico socialista Avangard (Vanguarda). Lamentavelmente, não conseguimos obter os
escritos correspondentes a esse período publicados sob os pseudônimos de “Melancolik” e
“Ish Yehudi”.
Em 1918 ele chegaria ao Brasil, fixando residência na cidade do Rio de Janeiro
e atuando em Nilópolis, onde chegou a presidir o Centro israelita local e tomou parte em
todas as iniciativas comunitárias.460
Quando, em 15 de novembro de 1923, foi criado o
jornal Dos Idische Vochenblat (O Semanário Israelita), no Rio de Janeiro, fez parte no
grupo de fundadores, participando ativamente em sua redação, colaborando sob o
pseudônimo de A. Ch. Halevi.2 Por ocasião de seu afastamento do periódico, pensou em
criar um órgão literário, o que de fato aconteceu em 1927, com o título de Di Neie Velt (O
Novo Mundo), saindo o primeiro número em 1º de março daquele ano. Em 25 de julho
anunciava-se que, a partir dessa data, em vez de ser mensal, passaria a ser quinzenal.
Porém, o jornal não duraria muito tempo, pois o último número seria publicado em
dezembro do mesmo ano. Uma segunda tentativa jornalística de Kischinevsky. seria feita
com o jornal Unzer Leben (Nossa Vida) que teria vida mais curta do que o anterior.461
Ambas as publicações se enquadram nas muitas tentativas feitas na história da imprensa
judaica no Brasil que fracassaram por falta de respaldo financeiro, estrutura administrativa
e apoio público, dependendo apenas da iniciativa e da boa vontade de seus fundadores e de
um mecenas ocasional.
A obra literária de Kischinevsky, além do que publicou nos periódicos
argentinos, e que nos é desconhecido, resume-se ao que apareceu nos jornais judaicos do
Brasil e reunida na coletânea de contos intitulada Neie Heimen (Novos Lares), que é objeto
de nosso trabalho. Na verdade, a temática central gira ao redor do clientelchilk, apoiada
numa visão crítica da sociedade que vai espelhar a personalidade de seu autor numa forma
de expressão próxima ao autobiográfico. O nosso autor exerceu a profissão de ambulante,
deixando sua antiga profissão de relojoeiro, e acumulou vivências que se refletem nos tipos
humanos, bem como na captação de sentimentos e situações que são narrados em seus
contos.
459
No periódico “Di Tzeit”, nov.-dez., 1939, n. 4-5, p. 27, menciona-se a data de 31 de março de 1890. 460
V. Malamud, S.,Recordando a Praça Onze, Liv. Kosmos Editora, Rio , 1988, p.78, onde se encontra uma
fotografia , do arquivo de Adolfo Aizen, na qual figura Kischinevsky participando no lançamento da pedra
fundamental da escola local, em 25 de novembro de 1928. 461
Falbel, N., Jacob Nachbin, Nobel, São Paulo, 1985, pp.29-56, se encontra o relato sobre a criação do Dos
Idische Vochenblat e a participação dos poucos intelectuais judeus-brasileiros no periódico.
271
O Neie Heimen saiu à lume em 1932 (ed. Yung Brazil, Nilópolis-Niterói),
porém os contos que compõem o livro já haviam sido publicados em 1927, em quase sua
totalidade, nos periódicos Di Neie Velt e Unzer Leben,462
e de fato foi a primeira obra em
ídiche a ser publicada em nosso país, estando seu autor inteiramente consciente do papel
que desempenhava na vida cultural judaico-brasileira. No epílogo do livro ele escreverá:
“Para mim resta a consolação de dar o primeiro passo, difícil e responsável, do mesmo
modo como o fiz no âmbito da imprensa judaica”.463
Kischinevsky faleceria,
prematuramente, de uma infecção generalizada, em 30 de janeiro de 1936.
As poucas fontes que temos para o conhecimento da biografia desse pioneiro
da literatura judaica não se referem à sua obra, fazendo exceção Izaac Z. Razman, que no
seu Idische scheferischkeit in lender fun portugalishen loschen (Criatividade judaica nos
países de língua portuguesa) fez algumas poucas referências ao conteúdo do Neie
Heimen.464
O escritor, de língua ídiche, Maier Kuchinsky, tratou da obra de Kischinevsky
em pinceladas amplas, ainda que sugestivas, sob o olhar da crítica literária, em dois artigos,
o primeiro publicado no Argentiner YIWO Schriftn, sob o título “Dos literarische schafen
fun idn in Brazil” (A produção literária dos judeus no Brasil),465
onde escreve que a obra
de K. “é uma modesta contribuição do mascate judeu à literatura”. Um pouco antes ele nos
dirá que, “a atmosfera literária que emana do livro é íntima, familiar e dolorosa”. Também
Kuchinsky vê na morte prematura de K. a perda de um escritor, que, quem sabe, teria dado
à literatura judaica o protótipo do judeu local como criação literária de um personagem com
vida própria.
O segundo artigo foi publicado na coletânea literária em língua ídiche Unzer
Beitrog (Nossa Contribuição) sob o título “Soziale dinamichkeit un literarische
statischkeit” (Dinamismo social e estagnação literária), 466
no qual o renomado escritor
analisa as temáticas presentes nas obras de alguns autores que escreveram em ídiche no
Brasil, a começar de K., até o seu tempo, isto é, década de 50.
O peddler aparece em vários autores, e segundo Kuchinsky, há uma clara
tendência para encará-lo como vítima e como um “fenômeno econômico”, acompanhado
sempre de uma apologética da “pedlereiada”, que chega a escamotear o momento social, o
cinismo materialista, a exploração, a impiedade e a auto-afirmação perante os colegas de
profissão quanto à qualidade de seus clientes. Ainda que o olhar crítico de Kuchinsky não
veja que através do fio que perpassa a temática da “pedlerai” chega-se a atingir o momento
moral da autocondenação, assim como ocorre no consagrado escritor Opatoshu, não resta a
menor dúvida que a leitura da obra de Kischinevsky revela com toda a potência, e ardor,
esse momento, como veremos adiante, e com as nuances e sutilezas psicológicas que
somente um bom escritor pode oferecer aos seus leitores. O destino encarregou-se de
truncar o talento que já se manifestara em seu primeiro livro e que poderia chegar a um
nível de desenvolvimento difícil de prognosticar, mas se mostrava latente em sua pena.
462
Sobre esses periódicos vide a obra de Raizman ,Isaac Z., A Fertl Yohrhundert Ydische Presse in Brazil
(Um quarto de século de imprensa judaica no Brasil), The Museum of Printing Art, Safed, 1969, pp.88-91. 463
Neie Heimen, p.157. 464
Ed. Museum le-Omanut há-Dfus, Sfat, 1975, pp.267-70. Um verbete sobre A.K. foi publicado no Lexikon
fun der Nayer Yidischer Literatur, New York,1963. Também no Léxico dos Ativistas Sociais e Culturais do
Rio de Janeiro, organizado por Henrique Iussim, que não chegou a ser editado, se encntra uma pequena
biografia que nada acrescenta ao verbete anterior. 465
N. 3, 1945, pp.189-196. 466
Ed. Monte Scopus, Rio de Janeiro, pp.153-62.
272
Uma segunda temática presente na desconhecida, ainda que exígua literatura
ídiche entre nós, e à qual Kuchinsky chamou a devida atenção no estudo acima
mencionado, é a que podemos denominar “o contraste entre o passado e presente”, e que se
manifesta essencialmente pelo permanente conflito entre a vida plena de santidade do shtetl
europeu frente o cinza do “agora” e do “aqui” no novo continente. Essa se insinua
levemente na obra de Kischinevsky, mas não chega a tomar inteiramente corpo e espaço
nas suas narrativas. Sob esse aspecto, destaca-se um elemento mais definido, que é o
desarraigamento angustiante vivenciado por alguns de seus personagens, que, em parte, os
leva a sucumbir, literalmente, no novo habitat, no qual não se adaptam, e em outros leva a
canalizar energias para o enriquecimento pessoal e o bem-estar material. Por outro lado,
não podemos considerar que o drama pessoal de alguns imigrantes, em sua gênese, ainda se
localizará nos lugares de onde saíram, seja qual for a causa que os motivou, e não faltaram
causas para tanto, sejam elas de ordem econômico-social ou psicológico-pessoal, no
continente europeu, onde se encontravam significativas populações judaicas, e em
particular na parte oriental. Nesse sentido, as chagas doloridas que o imigrante trazia
consigo ao novo continente nem sempre podiam encontrar remédio que as pudesse curar, e
cada recém-chegado deveria ter a sua história pessoal, o que invalida qualquer tentativa de
generalização. Literariamente, cada conto contém uma narrativa pessoal, e cada relato
encontra, ilumina e revela o seu tipo humano. Assim é com a coletânea de A. Kischinevsky.
Vejamos agora um pouco mais de perto a obra de K., e dando atenção em
particular ao personagem – ou personagens – do “mascate”, que se encontra presente em
quase todos os seus contos. Logo no início de sua coletânea, no conto “No esquecimento”,
a figura típica do clientelchik é introduzida no hábito rotineiro de sua existência: “Já pela
centésima vez, Isidoro dispôs os cartões de seus clientes, de cima para baixo, e novamente
de baixo para cima, e não chegou a nada. Ele se mostra nervoso e suas mãos revelam certo
tremor. Eis que ele já remexe os seus cartões há quase quinze anos; dia a dia ele os dispõe
pensativamente, tocando-os um por um como se fosse encontrar neles alguma coisa. Por
vezes à sua mente a lembrança de um ou outro cliente ao qual ele oferecia algum “achado”,
no caso de uma moça atraente o modo com o qual se lhe declarava e cobria de gracejos,
fazendo que ela lhe revelasse duas alvas fileiras de dentes brilhantes. Por vezes, suas mãos
se perdiam no busto da jovem, não encontrando nenhuma resistência de parte dela. Porém,
sentindo que seu corpo começava a incendiar-se com o calor do sangue brasileiro,
esgueirava-se rapidamente da casa onde se encontrava, sentindo atrás de si o
acompanhamento de um olhar cheio de desejo (...)”
O personagem de K., a um dado momento de sua vida, parece entrar num
processo de auto-avaliação, mirando para dentro de si, como que iniciando um ajuste de
contas com o seu modo de viver, um verdadeiro cheshbon hanefesh... “Nos últimos tempos,
uma secreta consciência começou a penetrar no seu cérebro, acreditando pouco em si e em
sua força, e, mais do que isso, não se alegrando com a ‘carreira’ que havia feito no
comércio ambulante que o levava a juntar centavo por centavo. Seu sorriso, irônico, pouco
a pouco ia desaparecendo de seu rosto, mesmo em momentos em que pessoas vinham
pedir-lhe dinheiro emprestado, e fixava seu olhar no solicitante ao mesmo tempo em que
negociava os juros. Hoje, debruçado já há duas horas sobre os seus cartões de cobrança,
sem saber por onde começar, suas lembranças o levam para longe, afastando-o do presente,
perturbando sua mente e o envolvendo em profunda melancolia. Não conseguindo
adormecer, seu pensamento vagava entre o passado e o presente, até que, não podendo mais
se conter, vestiu o casaco e saiu apressadamente à rua. Perambulou mecanicamente sob a
273
chuva, e enquanto passavam centenas de carros ao seu lado, questionava-se: ‘Onde foram
parar os melhores vinte anos de minha vida, dos quarenta que já vivi? Que almeja agora
minha alma?’”.
No seu passeio uma moça coquete passará por ele, chamando-lhe a atenção
“coquete no seu andar contado e gracioso, balançando seu corpo para cá e para lá, jogando-
lhe um olhar discreto acompanhado de um sorriso através do qual se revelaram uma fileira
de dentes branqueados incrustados em lábios, como se fossem morangos”.
O nosso herói, assim, é despertado para a vida, que até então estivera presa ao
dinheiro e para o qual havia canalizado todos os seus esforços. O próprio personagem
resumia a fórmula adotada que norteava sua atividade de mascate, mas que sintetizava
também o que fizera até o momento: “(...) Quanto mais clientes, mais cartões, mais contos
de fadas”.
A crise que o acomete leva-o a olhar para trás. Como ele pôde permanecer
cerca de quinze anos no Brasil, enterrado em seus cartões, esquecido de si mesmo, de seus
amigos, pais, que ainda viviam do outro lado do oceano e sobre os quais há muito tempo
não tinha sequer qualquer notícia? Isidoro acordaria no dia seguinte “e descobriria um belo
e iluminado mundo”. Pela primeira vez sentar-se-ia em um automóvel para pedir que o
levassem à avenida Atlântica, descortinando no caminho também os anos perdidos de sua
juventude, o que levava a um sentimento de profunda perda (...) A praia repleta de gente, as
ondas espumosas do mar, e a visão passageira de uma menina brincando com seu pai muito
significavam para o ambulante solitário de quarenta anos. Fizeram-no sentir o vazio e a
falta de sentido de sua vida. Tarde da noite voltou para casa, tocou em seus cartões, fez um
balanço geral e disse para si mesmo: “Sim, com algumas centenas de contos pode-se, ainda,
fazer a vida mais doce (...)”
Em outro conto intitulado “Em uma pequena cidade perdida (no mundo)” K.
retrata um personagem, Henrique (Hersh), que vive durante vários anos em uma pequena
cidade do interior, à qual chegara em suas andanças de clientelchik. A falta de outros judeus
no lugar, a vida monótona do lugarejo, cuja população se distrai “dando voltas nos fins de
semana ao redor do coreto da pracinha central, não demonstrando qualquer sinal de vida ou
alegria” o levam, em um dado momento, à inquietação, apesar da estabilidade econômica
adquirida com seu trabalho, trabalho esse que resultou numa loja de móveis. Seu
isolamento e o germe da solidão afloram constantemente, e nessas ocasiões encontra
refúgio na convivência com a mulatinha Virgínia. Assim mesmo algo permanente o
incomoda nesse lugarejo sem vida, onde não é possível tomar café com correligionários e
ter contato com instituições comunitárias, como o conhecido Relief (do Rio de Janeiro), que
semanalmente recebe novos imigrantes, e além do mais “trazem lembranças dos velhos
lares” europeus. Por fim, o único consolo que lhe resta, como ser afastado de tudo e de
todos, é o amor que sente por Virgínia, em cujo regaço afoga sua tristeza e desolação.
Nesse conto K. revela um aspecto da realidade vivida pelo ambulante judeu que chegava a
penetrar, na procura de seu sustento, os rincões mais longínquos, estabelecendo-se naqueles
para nunca mais sair, esquecido de tudo e de todos.
Em “Casa Paris”, o autor do Neie Heimen nos apresenta um jovem ambulante,
talentoso, plenamente identificado com seu meio de ganhar a vida e feliz com a profissão
que escolhera. Elik chega mesmo a elaborar uma idéia original a respeito de sua atividade,
a crença que Deus fez muito bem em criar o comércio ambulante e tê-lo escolhido como
seu enviado para oferecer às pessoas coisas que dele necessitam. Ele gaba-se, perante seus
colegas, da técnica e métodos de que se utiliza para “fazer” clientes e convencê-los a
274
comprar sua mercadoria. Cada cartão de cliente é sagrado e seu pensamento está
inteiramente voltado à ampliação de seu número, graças aos métodos originais que emprega
para atingir esse objetivo. Um deles consiste em bater em uma porta e se apresentar com
um cartão na mão no qual está escrito “Casa Paris”, a qual ele representa, o que é uma
honra para a pessoa por ter sido escolhido pela firma para ser procurado, pois isso denota
que é um bom cliente. Outro método “original” consiste em gritar em voz alta, ao passar
por algum lugar, para ser bem ouvido, o preço, absurdo, de um artigo, para logo ser
convidado a entrar à casa da primeira ouvinte e logo a seguir desfazer o “nó” do engano,
alegando que “a minha senhora” não ouviu corretamente o preço da mercadoria e
possivelmente confundiu o valor da prestação com o valor total.
Vivacidade e esperteza eram parte das qualidades necessárias ao ambulante
para vencer resistências e superar obstáculos a fim de atingir o objetivo final, isto é, realizar
a venda. E aqueles que fracassavam deveriam considerar-se não destinados à sagrada
missão. Mas certo dia ocorreu algo terrível a Elik. Ele simplesmente não fizera nenhum
cliente. Porém, já se encontrando no lugar onde residia, ouvira lá ruídos de um automóvel e
a voz de alguém procurando pela “Casa Paris”. Era uma dama ricamente vestida, um pouco
desorientada por não encontrar o estabelecimento procurado no endereço que tinha nas
mãos. “Dona Josefina”, exclamou o jovem ambulante, já com um tom apropriado para
eliminar qualquer dúvida em sua cliente, pedindo de imediato que ela entrasse no pequeno
cubículo atulhado de camas uma ao lado da outra e onde não faltavam cascas de bananas e
laranjas espalhadas pelo chão. Sem se perder, Elik foi logo dizendo: “aqui é a Casa Paris,
muito diferente das casas luxuosas da Avenida. Basta a senhora encomendar e logo
encontraremos a mercadoria desejada, sendo que, isso é o mais importante, sempre ela será
a mais barata”. Dona Josefina, ainda que um tanto decepcionada, encarou tudo com bom
humor e acabou por encomendar mais algumas peças ao seu fornecedor, que chegou a
acrescentar, quando sua cliente se afastava do local: “Não se esqueça, minha senhora, que a
Casa Paris encontra-se na quinta cama, do lado direito”. E para si mesmo, orgulhosamente,
proferia: “Graças a Deus, a Casa Paris é, de fato, uma firma”. O lado grotesco da situação
não impediu um final feliz, e não podemos deixar de observar que o autor, na sua
experiência pessoal de ambulante, deveria ter vivido o pequeno quadro que escreveu em
seu conto.
O entusiasmo pela profissão e os resultados que poderão advir da labuta do
ambulante encontram expressão em outro conto que tem como título “Isto ele não lhe
disse”. Aqui se trata de um pequeno mascate, que mal completara treze anos, e fora
chamado por seus tios a vir ao Brasil. Nada mais tentador do que esse chamado para um
menino que comia o pão da pobreza em seu lar perdido em algum canto da Europa
Oriental. Tio e tia já esperavam pelo sobrinho no cais do porto, bem vestidos e confiantes
em sua posição social. Não se passaram muitos dias para que eles revelassem ao jovem
recém-chegado que o segredo do sucesso se encontrava no comércio ambulante, ao qual
logo fizeram questão de introduzi-lo. Assim, Itzikl, acordou em um belo dia para
acompanhar o seu tio ao lugar onde deveria passar pelo ritual de iniciação para a
“peddlerai”, e que exigia um certo conhecimento e trato com comerciantes estabelecidos,
com gente, com clientes, etc. O tio tomara a iniciativa de bater às portas de futuros e
passados compradores mostrando as particularidades da nova profissão ao garoto. Já na
primeira casa saiu-lhe ao encontro uma senhora de cor, que o cumprimentou dizendo que
não tinha ainda recebido o pagamento em troca da roupa que lavara e, portanto, não poderia
no momento pagar-lhe sua prestação, uma vez que também o seu marido não ganhava além
275
do necessário para comer, e que voltasse outra vez. O tio se deu ao trabalho de explicar ao
sobrinho que a expressão “outra vez” significava um tempo indefinido e, portanto, poderia
ser o dia seguinte. O importante era deixar a preguiça de lado e voltar novamente a bater na
porta do cliente. Naquele dia bateu em uma segunda porta, com resultado positivo, pois
recebeu uma nota de vinte mil réis de uma cliente, uma jovem mulata que causou espanto e
admiração ao sobrinho. Na terceira vez a surpresa foi ainda maior, pois realizou-se uma
venda em que o tio recebeu no ato cinqüenta mil réis. Itzikl entrou em êxtase. “Veja você”,
disse o tio a Itzikl, ao saírem para a rua, “o Brasil é um país de ouro. Se trabalharmos,
temos. Precisamos apenas ter vontade, e desse modo podemos juntar dinheiro em
quantidade. Os brasileiros são excelentes pessoas, um povo querido, e pode-se negociar
com eles”. Itzikl já sonhava que em pouco tempo poderia trazer seus pais e toda a família
ao Brasil. As aulas do tio não pararam aí, pois ele ensinou as frases-chave em português, e
seu significado. Uma “leitura de expressões que deveriam ser interpretadas corretamente
para que não se perdesse nenhuma oportunidade de fazer negócio. Expressões tais como
“hoje não preciso nada” ou “não me amola”, deveriam ser interpretadas como acenos
positivos, e de nenhum modo com uma negação para um ambulante experimentado. O
sobrinho, atento, anotara as expressões e frases para não esquecê-las, e diariamente o jovem
ambulante voltava com bons resultados ao feliz tio, que mais feliz se sentia com o trabalho
do sobrinho. Mas uma expressão, muito ouvida, por sinal, o tio não lhe ensinara. Era “vai
embora, cachorro”, e ainda que ele não se atrevesse a perguntar seu significado, ela o
molestava ao ouvi-la. Até que um belo dia ele encontrara um jovem um pouco mais velho,
ao qual perguntou se poderia explicar-lhe o significado daquelas palavras. O jovem,
surpreso com o fato, disse-lhe: “a mim nunca disseram tais palavras, e talvez você seja tão
impertinente na maneira de vender que os clientes chegam a se enervar ao ponto de dizerem
“vai embora cachorro”. O jovem sobrinho, naquele mesmo momento, pegou seu caderno de
anotações para escrever a expressão que o tio não lhe ensinara.
O ambulante, no dia-a-dia de sua sobrevivência, nem sempre encontrará a
cordialidade esperada de seus clientes mas, assim nos mostra o autor, também será
machucado e humilhado pelos habitantes das “portas”, nas quais vai encontrar o seu
sustento.
“A solução” é um conto que narra a história de um ambulante com certa
educação, preocupado com questões sociais e identificado com as doutrinas socialistas, que
não o impedem de exercer a profissão de mascate e, portanto, participar da ordem
capitalista. Do mesmo modo, apesar de suas convicções, nada o impediu de se casar com
uma linda moça de casa burguesa, e de tão burguesa chegou a estudar piano, indo morar,
logo após o casamento, em uma casa confortavelmente mobiliada.
É um caso de dupla personalidade, pois Fischer, esse era seu nome, se
apresentava como um pregador radical em defesa do proletariado. Assim era até que num
determinado dia foi acometido por uma estranha sensação e seu cérebro tumultuou-se pelas
muitas dúvidas que o assaltaram. Perdeu a autoconfiança e mesmo o bom relacionamento
que mantinha com sua família. Incomodava-o a sensação de pregar o socialismo e ao
mesmo tempo explorar o próximo através de sua ocupação de ambulante, que o mostrava
muitas vezes insensível em relação ao seu devedor. Passaram-se dias e a má consciência de
ter sido pouco humano com os clientes o atormentava ao ponto de não poder mais suportar
tal situação e ficar sob o inteiro domínio dos sentimentos, que afloravam com tal
intensidade que lhe causavam verdadeiras alucinações. Até encontrar uma saída para essa
terrível situação, que foi a de rasgar os cartões das dívidas de seus clientes.
276
A verdade é que essa narrativa de K., assim como as demais, é inspirada na
imigração judaica de seu tempo que, entre outros elementos, trazia consigo idealistas que
tinham convicções sociais e mesmo um passado de militância política nos partidos e nas
correntes de esquerda no continente europeu.
A formação de associações e clubes nas décadas de 20 e 30 também tinha um
matiz ideológico que levava a quase multiplicação de entidades segundo o número de
convicções e doutrinas existentes entre os imigrantes.
Em outro conto, “O pequeno ambulante”, K. descreve um menino de onze
anos, recém-imigrado, vivendo apenas há um ano no país. O pequeno convive com meninos
brasileiros da mesma idade, que nos momentos de rixas e desavenças, o chamam de “russo”
ou “prestamista”. Quanto ao primeiro nome, ele não entende a razão, pois é judeu e não
russo; porém, em relação ao segundo, concorda que de fato é um vendedor a prestações,
ainda que não entenda por que é vergonhoso sê-lo. Sua mãe sempre o encorajara a
trabalhar, mesmo contra a vontade do pai, que o considerava muito criança. Diariamente,
após o café da manhã, Leibale, o pequeno ambulante, saía para o trabalho com a bênção
materna, e voltava no fim do dia para contar à sua orgulhosa mãe o quanto ganhara.
Entusiasmada, a mãe de Leibale lhe dizia que, se Deus quiser, ele será um “grande
clientelchik” e se tornará um dia proprietário de uma loja na Praça Onze. O pai, menos
otimista em relação à atividade do filho, ouvia igualmente suas façanhas, mas se mostrava
mais interessado em saber sobre os clientes, suspeitando sempre que entre eles talvez se
encontrassem “tzevekes” (“pregos”, que na linguagem dos ambulantes denota os maus
pagadores, ou caloteiros). Contudo, após o acerto de contas final com o pai, o menino saía
pulando de casa, com um pé só, para brincar com os seus coleguinhas, deixando atrás de si
o olhar da mãe orgulhosa que voltava a comentar com o seu esposo que Leibale seria um
“grande prestamista” e teria sua loja de móveis na Praça Onze.
Se no personagem Leibale a narrativa é feita com certa leveza e ironia, no
conto intitulado “Nachman”, que trata de um ambulante sem nenhum talento para o mister,
a atmosfera dramática que o envolve se faz presente. A narrativa gira em torno do
sentimento de impotência do personagem e sua incapacidade de sustentar a família. A
esposa do ambulante, para fazer frente às dificuldades do marido, trabalha e tem um sócio
que a persegue insistentemente, situação essa que não deixa de ser notada por Nachman. O
fracasso comercial, ou sua incapacidade em fornecer subsistência à família, levam o
personagem a fugir da realidade e entregar-se aos devaneios que o afastam do presente para
voltar ao passado: “Dez anos no Brasil nada lhe ensinaram, muito pelo contrário, ele se
tornou, a cada dia que passava, mais melancólico, e uma infinita saudade apossava-se de
sua alma. Sonhando, sempre via sua pequena aldeia, que se encontra no outro lado do
mundo, onde as pessoas se reconhecem e se entendem apenas com um sinal, sentem o
sofrimento um do outro, alegram-se com a alegria de seu próximo, e onde o murmurar de
uma melodia sem palavras era a língua espiritual com a qual todos se entendiam (...)”
K. era socialista, como vimos, e sua obra literária não se restringe à temática do
ambulante como o tipo social mais característico da grande onda imigratória judaica que se
sucedeu nos anos após a Primeira Guerra Mundial. Os humildes e necessitados são parte de
sua galeria de tipos, assim como aparece no conto Guemilut Hessed (nome comum de
instituições de caridade e beneficência entre judeus, que em hebraico significa caridade).
Um pobre ancião, ativista durante muitos anos na comunidade judaica, se encontra numa
situação de penúria pessoal que o leva a recorrer ao auxílio da Sociedade Guemilut Hessed.
Ao aproximar-se do local, ele reconhece, e é reconhecido pelos seus conterrâneos
277
responsáveis pela instituição e que, ironicamente, e por força do hábito, aproveitam-se do
encontro para pedir que colabore com a entidade com algum donativo. O pobre ancião, que
fora pedir ajuda, acabará, por ironia do destino e obrigatoriedade moral, ajudando.
O sentimento de revolta social é claramente enfocado no conto “Uma certa
máquina”, onde o personagem, Lipman, que trabalha como cobrador na Companhia de
Bondes, vive uma dolorosa situação com a mulher doente, nada tendo o que comer. A
máquina é o “capital”, que “se concentra em algumas mãos e que funciona em todo o
mundo. Na sua ação e ritmo absorve em sua engrenagem milhares, milhões de pessoas. Ela
os despeja com a mesma força, e no seu caminhar destroi tudo o que encontra pela frente,
atravessando rios, pântanos, engolindo florestas, famílias, povos, tudo!”
“Ela estabelece contratos mas de tal modo que o contratado não consegue
cumpri-los, e assim acabará sendo escravizado para sempre. A Companhia de Bondes
também pertence à máquina. Ele lhe paga um salário de fome, pois ela, a Companhia, sabe
que você a rouba, mas ela tem o domínio sobre você”. O discurso ultrapassa o limite do
literário para se tornar, em K., uma verdadeira proclamação de protesto social.
A dependência do recém-chegado para com o comerciante veterano, já
estabelecido, e para o qual deve trabalhar como prestamista, é descrita no conto “O
engano”. Zindel, o mascate não possui habilidades especiais para esse meio de ganhar o pão
de cada dia, e o comerciante para o qual trabalha se sente inconformado com os resultados
de seu dependente, chegando a recriminá-lo com palavras fortes: “Como? A ‘clientele’ no
Brasil já afundou! (...) Todo mundo negocia e somente você não consegue faze-lo. Eu
também fui um ‘clapper’ (o que bate em portas), mas diariamente trazia à minha casa dez
cartões (...) Como você pensa fazer a América desse jeito? (...) Houve tempos em que as
pessoas trabalhavam e de fato nada faltava (...)”.
O nosso personagem sobe o morro da favela da Saúde, pois lá é o “lugar” onde
atua, e onde também se pode avistar a bela paisagem do Rio. No alto do morro, salpicado
de pequenas casas com seus odores característicos e gordurosos, habitam seres na miséria,
umidade e lixo, sob tetos de zinco enferrujado, e também Maria, a mulata. Ela reside há
oito anos, juntamente com sua pequena filha. Seu marido havia morrido em uma briga e ela
vivia de seu trabalho como lavadeira. As vizinhas sabiam da amizade com o estrangeiro
“Zigmundo”, e ela o esperava naquele dia, como sempre.
Também, ele, Zindel, esperava aquele dia com ansiedade, pois lá se encontrava
seu refúgio, tão caro para quem nada mais esperava da vida, de uma vida cheia de
fracassos. Sonhos que se desfizeram durante os anos que vivia como ambulante no Brasil.
Estudos que não fizera, dinheiro que não conseguira, esperanças que se dissolveram.
Porém, em uma noite que passou com Maria, o patrão dera queixa à delegacia por seu
desaparecimento súbito, e esse foi o motivo que levou Zindel a devolver a mercadoria ao
comerciante. Com seu gesto, teve que sentir a amargura do sem-destino, dormindo em um
banco de jardim, para logo a seguir voltar ao seu refúgio, onde Maria o esperava. No
verdadeiro paraíso e para sempre respirar o ar da liberdade.
O contato entre dois mundos espirituais, o brasileiro cristão e o judaico é
tratado por K. em um conto, “Eles vivem em paz”, no qual a esposa judia, que adora e
cuida de um quadro no qual figura a Nossa Senhora da Conceição pertencente ao seu
marido. Porém sob o mesmo, mais abaixo, se encontra um ‘ner-tamid’, a que lembra ao seu
marido para renovar o óleo que contém. No encontro entre ambos, marido e esposa, o amor
e a convivência religiosa, permite o desenvolvimento de uma narrativa íntima na qual a
tolerância mútua se impõe. Mas atrás do idílio familiar esconde-se o passado trágico de
278
Serke, a mulher que fora tirada de seu lar no Velho Continente por um homem que a levara
para a Argentina para viver em um bordel, até conseguir se desvencilhar dele e fugir para o
Brasil, e aqui exercer sua “profissão” mais livremente, “numa rua onde pessoas iam para
cima e para baixo, e onde centenas de mulheres se mostravam nas janelas, conversando
umas com outras, inquirindo-se mutuamente sobre que seus pais e irmãos escreviam.” Até
que conhecera o seu “velinho”, que lhe dissera naquela ocasião: “Eu sei, Serke, que você é
israelita, mas isso pouco me importa. Não sou nenhum crente”. Mas quando o seu
“velinho” adoeceu, Serke teve que lhe comprar uma Nossa Senhora da Conceição, o que ela
fez de bom grado, pois ele havia feito uma promessa. E do mesmo modo que o velho se
satisfaz em servir ao seu Deus, que o retornou à vida quando se encontrava doente, assim
Serke se compraz em servir seu Deus judeu, que lhe dá saúde e que lhe permite levar uma
vida harmoniosa com o seu “velinho”. E as velas sabáticas, com o ‘ner-tamid’, sob o
quadro da Nossa Senhora da Conceição, mesmo que nada tenham em comum, vivem em
perfeita e cândida paz.
Passemos ao último conto do livro de K., intitulado “Moral”, que também foi
publicado na coletânea “Brazilianisch”, editada na Argentina,467
o qual traduzí
integralmente ao português para termos um texto literário mais completo de nosso autor,
pioneiro da literatura ídiche no Brasil.
“Encontrei-o em Juiz de Fora, na estação Leopoldina. Isso aconteceu em uma
manhã de inverno tipicamente brasileiro. A cidade se encontrava envolvida em uma pesada
neblina e um frio cortante penetrava até os ossos. Meu acompanhante, um jovem pálido e
semi-intelectualizado, fazia força para me convencer que o fato de me acompanhar até o
trem, em uma manhã tão fria, era devido à sua amizade sincera, uma vez que ficar deitado
até tarde debaixo dos cobertores é algo muito mais agradável.
Mas, de sua cabeça enterrada na gola de seu sobretudo e de suas frases
entrecortadas, compreendi que ele não revelava nenhuma disposição especial para tanto...
Ainda era cedo e nos dirigimos até o restaurante para tomarmos um café. Mal
tive tempo de levantar minha xícara até a boca quando o meu acompanhante deu-me um
puxão ao ponto de derramar meu café.
– O senhor está vendo? – disse-me quase num tom de segredo – Estás vendo
aquele tipo e pensarás que ele é um dos nossos, filhos de Israel? Tal figura certamente
ainda não terás visto aqui no Brasil. Contudo, isso é um judeu!
Fixei bem meu olhar naquela pessoa: ele usava um terno de três cores, surrado
e em alguns lugares rasgado. As calças eram de um amarelo típico de tecido local, o paletó
marrom-acinzentado, e seu colete de uma casimira impossível de saber a sua cor original.
Calçava um par de sapatos amarelos retorcidos e em um deles se via claramente um grande
buraco aberto – talvez uma simpatia contra calos.
– Sim, é um tipo original – disse eu ao meu acompanhante.
O sino tocou às três. Entrei no vagão juntamente com a figura estranha.
Além de minha curiosidade, o destino encarregou-se de nos fazer sentar um em
frente ao outro.
Eu tive tempo de observá-lo:
Seus olhos eram aquosos e úmidos e neles podiam-se ver pequenas manchas,
como se fossem pequenas gotículas de óleo; seu rosto, queimado do sol e vergastado por
467
Coleção de literatura ídiche sob a direção de Samule Rollansky. Ateneo Literario en el IWO, Buenos
Aires, 1973, pp.251-256.
279
profundas rugas, assemelhava-se a uma caricatura. Seu grosso lábio inferior pendia de
modo estranho. De tempo em tempo, seus lábios se retorciam como os de um ébrio.
O trem já andara uma boa distância e agora serpenteava ao redor de um morro.
Meu companheiro de viagem, sem qualquer motivo, soltou repentinamente:
– Um judeu? Certamente! Eu o vi conversando com aquele amarelo, eu o
conheço, seguramente deve ter falado sobre minha pessoa.
– Longe disso! Ele somente disse que viajaria comigo mais um judeu. Mas
assim como o indivíduo se comporta, do mesmo modo o coletivo também o faz – começou
ele a filosofar. Toda a coletividade judaica, e cada indivíduo, se habituaram à idéia de
contradizer! O que um diz o outro deve repelir.
– Não entendo exatamente o que queres dizer, mas se você se refere à moral
entre nós, sim...
Os olhos de meu viajante incendiaram-se de um modo terrível, interrompendo-
me as palavras e quase gritando:
– Moral! O que é para nós, judeus, moral? Quem é entre nós o juiz da
moralidade? Ach! – acompanhando a expressão com um forte gesto de mão.
Entendi que meu companheiro já havia se desiludido com a sociedade e por
isso mesmo se mostrava tão amargo.
Meu acompanhante, que já começara a me intrigar, movimentava os lábios
como se estivesse sedento:
– Moral, moral... poderias me dizer, meu amigo, o que significa isso na
verdade? Não será apenas uma cortina para cobrir a hipocrisia?
Repentinamente aproximou-se, sentou-se ao meu lado, e já em um tom
diferente, quase épico, começou a falar:
– Ouça o que vou lhe contar. É uma pequena experiência pessoal, e o senhor
tirará por si só as devidas conclusões.
“Em 1922, recebi de meu irmão que aqui se encontrava havia doze anos uma
passagem para que viesse ao Brasil. Não pensei duas vezes e logo me pus a caminho.
Quando desembarquei no porto do Rio de Janeiro, meu irmão já me esperava, e fomos
diretamente a Juiz de Fora. Não era a cidade de onde costumeiramente recebia suas cartas.
“Meu irmão apresentou-me um ambicioso projeto de trabalho que mal consegui
entender. Porém, percebi que deveria, o mais rapidamente possível, amadurecer no novo
país.
“E logo que isso ocorreu, meu irmão começou a insistir que ele gostaria de
viajar ao Rio. Transferiu-me a clientela e partiu apressadamente em direção ao Rio.
“Pelo que parece, o destino quis aprontar comigo uma brincadeira e conseguiu
atirar-me em seus braços (...) De um lado, ódio e amargura, e de outro – amor e sofrimento.
“Certa vez, andando com o meu pacote de mercadorias na rua, bati em uma
porta. Saiu uma mulher que aparentava vinte e três, vinte e quatro anos de idade, muito
linda. Assim que me viu ficou trêmula, me agarrou pelo braço e me introduziu em seu
quarto, derramando ao mesmo tempo copiosas lágrimas de seus olhos.
– Onde estivestes todo esse tempo, meu querido? Tantos anos, infinitos, esperei
por ti e sonhei contigo.
“Ela ria e chorava ao mesmo tempo. E em ambos, no riso e no choro, irradiava
a alegria de encontrar uma verdadeira felicidade.
“De início pensei que me encontrava perante uma mulher não normal, mas de
imediato me apercebi de meu erro.
280
“De suas meias-frases, que devido a sua imensa alegria não me pareciam
inteiramente claras, entendi que ela havia me tomado por meu irmão, com quem sou muito
parecido. Mais ainda, os três anos de afastamento deviam tê-la enganado. Também entendi
naquele momento que, ao levar-me a Juiz de Fora, e não ao lugar onde ele trabalhara
anteriormente, e sua pressa em partir para o Rio tinha uma relação com essa mulher.
“Subitamente ela me abraçou, beijando-me e envolvendo-me com carinhos.
Disse-me com um tom ingênuo e maternal:
– Vá, você é mau, nada dizes e nem perguntas... Ah, como ele é lindo... eu o
deixei com minha mãe. Eu lhe disse que traria o seu papaizinho...
“Em suas palavras não notei nenhuma mágoa, apenas amor e satisfação.
“Então, o que poderia eu lhe responder? Destruir sua felicidade? Não tive, em
primeiro lugar, coragem, e depois senti que teria, naquele momento, cometido um grande
crime. Além do mais, ela provocou dentro de mim um verdadeiro tumulto. Era dotada de
uma natureza brasileira. No rir e no chorar despertou em mim o desejo. Senti que em mim
se processava uma mudança, que algo despertava em minha alma. Em cada nervo, em cada
membro, se manifestava uma pequena chama que antes se encontrava sufocada, apagada, e
era preciso apenas tocá-la para que reavivasse. E ela, a chama, se agitava... despertava e
exigia.
“Precisei apenas estender os braços para que ela se entregasse inteiramente a
mim.
“No momento em que os nossos desejos se encontraram, caiu do bolso de sua
roupa uma fotografia. De início pensei que fosse algo diferente, mas logo, ao levantar a
fotografia, ela olhou para mim como se fosse culpada e com temor acrescentou: Ah: como
estás mudado!...
“Olhei a fotografia – era meu irmão. Comecei a compreender o que era, por um
lado, um elevado e sagrado amor em oposição a outro sentimento e leviandade.
“Começamos a viver juntos aberta e francamente, para nós mesmos, assim
como para a sociedade.
“Como poderia eu me conduzir de outro modo? Poderia eu manchar um amor
do qual emanava o divino?
Meu companheiro de viagem silenciou. Mas, com facilidade era possível
perceber que algo se passava em seu interior. Ele levara suas mãos ao rosto e com um
pesado suspiro continuou:
– Da sociedade judaica fiquei logo isolado, ainda que me acompanhem em
cada passo. Tanto faz, sempre lhes atirei ao rosto o que pensava e acabei me afastando de
todos. Não importa, porém o que me causou maior dor foi a carta que meu irmão me
escreveu ultimamente. Eu o envergonho. Ele não pode suportar a vergonha que lhe causo e
ao seu bom nome.
“Elaborei, de início, planos para desmascarar a hipocrisia de centenas de judeus
que tiveram ligações secretas com mulheres brasileiras. Mas nada disso fiz... e é de se
duvidar que a minha atitude teria qualquer resultado. Pois os hipócritas sabem dissimular
sua hipocrisia sob o manto da moral. Assim resolvi calar, e de fato silenciei...
“O que aquele amarelo lhe disse na estação? Ele lhe advertiu contra a minha
moral? – disse ele com um riso ruidoso.
“Diga-me, peço-lhe, o que é exatamente essa moral? Sabes, de algum modo,
onde a moral começa e onde ela termina”.
281
33. Uma carta do Rabino Avraham Itzhaq Ha-Cohen Kook no epistolário do Rabino
Jacob Braverman de São Paulo (1880-1939)
Em 1978, tivemos a oportunidade de examinar a correspondência que o conhecido rabino
da cidade de São Paulo, Jacob Braverman, manteve durante vários anos com colegas seus
de outros países, entre os quais, o Rav Kook, Rabino-Mor da Palestina naquele tempo.
A coleção de cartas do Rabino Jacob Braverman revela muito sobre sua
personalidade e o respeito e admiração internacionais que ele granjeou no exercício de sua
função como mentor de uma comunidade que estava em processo de sedimentação do
ponto de vista institucional e social. Entre os seus correspondentes, encontramos o Rabino-
Mor da Bessarábia, Rav Yehuda Leib Tzirelson; o Rabino Jacob Halsztuk de Ostrovza na
Polônia; o Rabino David Maler de Buenos Aires; o Rabino Mendel Mohnson de Nova
York; o Rabino Zalman Soroczkin de Lutzk, da Polônia; o Rabino Israel Halevi Zilbersintz
de Kazimir, da Polônia; o conhecido Rabino Mordechai Tzekinovsky, do Rio de Janeiro e
outros. Algumas cartas dessa ampla correspondência foram publicadas no livro “Sefer
Chelek Yaakov”, editado pelo autor em São Paulo em 1938,468
o qual também reúne as
drashot (sermões ou homílias), os discursos proferidos em ocasiões festivas e de
significado comunitário, bem como as perorações in memoriam de personalidades falecidas
ou que vieram a falecer em seu tempo. Ademais, devemos chamar a atenção dos estudiosos
para o fato de que o “Sefer Chelek Yaakov” parece ser o primeiro no Brasil a reunir um
conjunto de “Sheeilot u’Teshuvot, isto é, de responsa, pois até agora desconhecemos a
existência de outra coleção desse gênero tradicional de literatura rabínica que tenha sido
publicada no Brasil, por qualquer outro rabino.469
O estudo dessa responsa revela, como
toda a literatura desse gênero, aspectos da vida comunitária no Brasil e problemas
característicos dela.470
O Rabino Jacob Braverman nasceu na cidade de Securon, na Bessarábia, e fez
parte da grande leva de imigrantes judeus que saíram daquela região após a Primeira Guerra
Mundial para vir se estabelecer no Brasil. Em 1931, chegou, juntamente com sua família, a
São Paulo, onde já viviam conterrâneos seus. Ainda em Securon, começou, muito jovem, a
468
Sefer Chelek Yaakov, Ed. Baratz-Berstein, São Paulo, 1938. 469
Na verdade a primeira expressão da literatura de responsa relativa aos judeus no Brasil, porém não
publicada no Brasil, é a conhecida sheilta da comunidade de Recife ao Rabino Hayim Shabatai de Salonica,
feita em 1637 relativa à questão da oração da chuva. Arnold Wiznitzer escreveu a respeito um artigo na
revista “Aonde Vamos?”, n.º 498, 1953, p. 7; também do mesmo autor, “Os Judeus no Brasil Colonial”, Ed.
Pioneira, S.P., 1966, pp. 55-57; Emmanuel, I. S., New Light on Early American Jewry, in American Jewish
Archives, January, 1955, p. 5. Sobre a data do Responsum e o Rabino Hayim Shabatai, bem como os outros
acontecimentos ligados a Salonica naquele período, convém consultar as duas obras de Emmanuel I. S.,
Histoire de l’Industrie des Tissus des Israélites de Salonique, Thonon-Paris, 1935, p. 49 e Histoire des
Israélites de Salonique, Thonon-Paris, 1936, pp. 293-296. Wiznitzer,A. Os primeiros judeus no Brasil
Império, in Aonde Vamos?,n.730, 20 de junho de 1957,p.4 l ao falar de Isey Levi, judeu vindo da Inglaterra
ao Brasil, em fevereiro de 1838, mencionam que este escreveu ao rabino-mor de Londres da comunidade
ashkenazita, Salomon Hirschell, pedindo instruções sobre a cerimônia de casamento de sua irmã que ele
mesmo queria celebrar. Tudo indica que podemos considerar tal pergunta como uma sheilta ainda que, se
desconheça o texto da carta por ele enviada, mas apenas a reposta do rabino acima mencionado. Sobre o
mesmo assunto escreveram Egon e Frieda Wolff, Judeus no Brasil Imperial, C. E. J. –USO, São Paulo, 1973,
pp.53-6. 470
Certas sheiltot fazem referência a questões locais, tais como a validade do bar-mitzvá de um jovem que
não foi circuncidado, o enterro de uma mulher de má conduta em cemitério não-judaico, e outras.
282
exercer o rabinato, adquirindo um bom nome como guia espiritual de sua gente, graças ao
talento que desde logo demonstrou no exercício de sua função rabínica.
Ao chegar a São Paulo foi convidado a assumir o rabinato junto à comunidade
dos judeus oriundos da Hungria e também passou a atuar junto à Grande Sinagoga na Rua
Newton Prado, no Bairro do Bom Retiro, em São Paulo, onde, naquele tempo, se
concentrava a maioria da comunidade judia.
Descendente de uma família tradicional de schochtim (magarefes),471
o Rabino
Jacob Braverman aprofundou-se no estudo da halachá (jurisprudência rabínica), adquirindo
uma erudição excepcional no Talmude e na literatura rabínica, granjeando fama
internacional como sábio e estudioso da Lei. Basta folhear o seu “Sefer Chelek Yaakov”
para comprovar, através das repostas às questões que lhe foram apresentadas sobre assuntos
dos mais diversos, o seu domínio da halachá.
Infelizmente, o Rabino Braverman veio a falecer em 1939, com menos de
sessenta anos, após ter participado da fundação da Escola Talmud Torá e enriquecido
espiritualmente a vida da comunidade judia de São Paulo com seus conselhos, orientação e
sabedoria.
Ao examinarmos a correspondência acima mencionada, encontramos uma
carta, em hebraico, assinada por Itzhaq Matisis, cunhado do Rabino Braverman, datando de
6 de janeiro de 1933 e procedente de Tel-Aviv, missiva que chamou nossa atenção por seu
conteúdo, o qual passamos a transcrever em português:
“Tel-Aviv, 6 Schvat 5693, 6.1.33
Ao meu honrado cunhado e querido Rabino, esplendor de nossa família,
Provavelmente vocês ficarão surpresos com a carta, anexa a esta, do Rabino-
Mor de Eretz Israel, o sábio R’Abraham Itzhaq Ha-Cohen Kook. E eis como se desenrolou
este assunto: tenho, na cidade de Tel-Aviv, um amigo íntimo, um jovem culto, religioso e
estudioso, R’ Itzhaq Leib Berkman, que por sua vez, é próximo do Rav Kook. E aconteceu
que, contei ao meu amigo a situação difícil em que me encontro no tocante à terra que
recebi no Wadi Hawarit, visto que não tenho meios para dar início à plantação e à
construção, e caso não o faça, perderei o lote e não terei mais direito à terra. Contei a ele
sobre a carta que dirigi a você e sobre as grandes esperanças que deposito no pedido que
fiz a você. É claro que ele se alegrou muito, mas expressou seus receios de que, talvez,
posto que passou muito tempo desde que me viu, você não depositasse suficiente confiança
em minhas palavras, ou que não lhe fosse bastante patente a necessidade e urgência deste
assunto. E eis que meu amigo, embora se encontrasse em Jerusalém tratando de assuntos
particulares, foi, como de costume, à casa do Rabino [Kook] para lhe prestar uma visita, e
narrou-lhe todo o assunto, e conseqüentemente, o Rav houve por bem dar-lhe a carta que
se encontra anexa a esta.
471
O pai era conhecido pelo nome de Zisze Shoichet, em referência à sua profissão, exercida tradicionalmente
naquela família.
283
Antes de continuar, devo expressar minha surpresa e meu contentamento no
momento em que soube de meu amigo que, ao mencionar o seu nome perante o Rav Kook,
este revelou que o conhecia devido à troca de Scheeilot uTteshuvot (Responsa) entre vocês.
O Rav expressou a opinião de que, através da mencionada correspondência, ele sabe que
você é grande [sábio] na Torá e um homem de grandes virtudes, pois o rabino da
comunidade de São Paulo, Rabino Levin, que é originário de Jerusalém, expressa em suas
cartas ao Rabino Kook um grande respeito por sua pessoa e menciona o seu nome de
forma elogiosa. É compreensível que esse fato me tenha proporcionado grande alegria.
Na verdade, nada tenho a acrescentar à carta que lhe remeti há cerca de três
semanas. Durante este tempo realizou-se o parcelamento, a divisão da terra, e a mim
coube uma parcela de terra para o cultivo de árvores frutíferas, constando de 10 dunames
de terra boa e quatro dunames para construção (...) de estábulo, galinheiro e outras
dependências (...) e jardins. O terreno custou-me (...) mas com trabalho é possível (...)
Nesse ínterim, tornou-se mais evidente ainda a urgência de dar início ao trabalho no local
e o reconhecimento de que me faltam os meios para tanto. E a Organização Sionista,
apesar das belas resoluções tomadas nos últimos congressos, de colonizar os soldados
desmobilizados, esquivou-se de todas as preocupações e nada promete, nem sequer para o
futuro. Caso não obtenha sua ajuda, não terei a mínima possibilidade e perderei a terra,
pois muitosdos soldados desmobilizados exigem o seu direito sobre esta terra, e eles têm a
possibilidade de começar a trabalhar e investir dinheiro. Devido a esta situação, meu
generoso e honrado cunhado, peço que se empenhe com afinco, com todas as suas forças
para me tirar desta dificuldade, e, que Deus, abençoado seja, venha em sua ajuda. E eu,
com esperança e ansiedade, aguardarei sua resposta.
Minha esposa e meus filhos desejam shalom a você e a todos os seus. E
desejamos a todos vocês tudo de bom.
Seu cunhado que o estima
I. Matisis”
Nesta carta, I. Matisis escreve a sua irmã em ídiche sobre o mesmo assunto e
nos mesmos termos, mais resumidamente. Pela carta deduzimos que Matisis era um
soldado desmobilizado, e por outras fontes soubemos que havia sido um dos voluntários
judeus que partiram dos Estados Unidos para se alistar na famosa Legião Judaica que
combateu ao lado dos Aliados, durante a Primeira Guerra Mundial. Não é aqui o lugar para
esboçarmos um histórico da Legião Judaica e seu papel ao lado dos exércitos britânicos,
desde a sua formação em 1914.472
Porém, é importante assinalar que essa Legião era
constituída de três batalhões formados de voluntários da Inglaterra (38.º Batalhão), dos
Estados Unidos e do Canadá (39.º Batalhão) e da Palestina (40.º Batalhão), além de
voluntários de vários outros países que se engajaram em um ou outro desses batalhões. Eles
tiveram um papel significativo na libertação da Palestina do domínio turco, fazendo parte
do exército britânico que se encontrava na região, lutando bravamente até a conquista final
do território otomano. Com o início do Mandato Britânico na Palestina, os batalhões da
472
Sobre a Legião Judaica muitas obras foram escritas, entre as quais devemos lembrar a de Jabotinsky. V.,
The History of Jewish Legion; a do comandante Patterson, J.H., With the Zionists in Gallipoli; a de Gilmor,
E., War and Hope – a History of the Jewish Legion, e outras.
284
Legião Judaica permaneceram em nome das forças britânicas situadas naquela região, até
que os interesses políticos ingleses levaram a sua gradativa desmobilização, o que foi feito
em 1921, quando, por ocasião dos distúrbios árabes que eclodiram em Jaffa, o coronel
Margolin, comandante da Legião, interveio, sem para tanto obter permissão oficial, a fim
de impedir a matança de judeus que ali se viam ameaçados. Os ingleses aproveitaram-se do
fato e dissolveram a Legião Judaica, obedecendo a uma orientação já estabelecida
anteriormente pelo governo militar de Sua Majestade na Palestina. Com a desmobilização
dos soldados, o governo mandatário prometeu ajudar e facilitar o estabelecimento dos
mesmos em terras pertencentes a eles, mas nunca chegou a cumprir a promessa. Foi
somente quando os Congressos Sionistas estabeleceram uma linha de ação no sentido de
que a colonização dos desmobilizados foi possível, sobretudo quando o Fundo Nacional
Judaico (Keren Kayemet L’Israel) empenhou-se na compra de terras para realizar tal
objetivo.
Assim, em 1928 e 1929 o Keren Kayemet L’Israel comprou cerca de 8.000
acres de terra em Wadi Hawarit, situado na planície do Sharon, entre Hedera, ao norte, e
Natânia, ao sul, no Emek Hefer. Em 1932, foi fundada naquela região a colônia de
Avichail, por soldados desmobilizados da Legião Judaica, que receberam parcelas de terra
para cultivar.
Destarte, podemos compreender melhor o teor da carta de I. Matisis, que se
encontrava entre aqueles que haviam recebido uma pequena área de 14 dunames naquela
região do Wadi Hawarit. Contudo, ele se defrontava com dificuldades materiais para
adquirir os implementos agrícolas, bem como para dar início à construção das primeiras
instalações a fim de poder se instalar como agricultor naquele local. O pedido de ajuda ao
seu cunhado, o Rabino Jacob Braverman, decorria do fato de que Matisis se via na
iminência de perder sua pequena propriedade caso não a cultivasse e se dedicasse ao labor
agrícola, pois era essa a condição para a distribuição das terras, ou seja, para a colonização
da região. Conforme se depreende claramente da carta, Matisis dirigira-se anteriormente ao
cunhado expondo sua situação pessoal, porém, nesse ínterim, enquanto aguardava a
resposta ao seu pedido de ajuda, surgiu-lhe uma oportunidade para reforçar sua solicitação,
através da já mencionada carta do Rabino Kook, que ele tampouco esperava e que tanto o
surpreendeu e alegrou, pois não supunha haver qualquer conhecimento mútuo entre o
rabino da Palestina e o de São Paulo.
Ao lermos a carta de Matisis, chamou nossa atenção o uso de termos elogiosos
que o Rabino Kook emprega quando se refere ao Rabino Braverman, tais como “gadol ba-
Torá”, isto é, sábio no conhecimento da Torá, e isto, afirma Kook, ele depreendera da
Responsa (sheeilot u’Teshuvot) que ele manteve com o guia espiritual da comunidade de
São Paulo na década de 30.
Sabemos também que Matisis nasceu na cidade de Bar, na Podólia ucraniana,
em 1898. Em fins de 1913, emigrou aos Estados Unidos, país em que trabalhou em fábricas
e fazendas agrícolas. No final de 1917, apresentou-se como voluntário na Legião Judaica, e
ao se desmobilizar do Batalhão americano da Legião, dirigiu-se, já em 1920, a Gan
Schmuel para viver como chalutz (pioneiro) naquela colônia agrícola. Porém, não
permaneceu naquele lugar visto que os acontecimentos do país levaram-no a participar
como guarda em várias colônias e como trabalhador da estrada Tiberíades-Tzemach.
Contudo, devido a problemas de saúde, passou a trabalhar como funcionário do Serviço de
Assistência Médica (Kupat Cholim) da Histadrut, a Confederação de Sindicatos Obreiros.
Entretanto, não conseguiu permanecer por muito tempo nessa ocupação, apesar de ser
285
estimado por todos que entraram em contato com ele e o conheceram, pois seu sonho maior
era trabalhar a terra, viver no campo e tirar o seu sustento da agricultura. Daí a razão
porque ele se dirigiu a Avichail, colônia fundada pelos ex-soldados da Legião Judaica, onde
passou a viver com sua esposa, não obstante o seu delicado estado de saúde, que, com o
tempo, levou-o a se confinar em casa, ficando todo o encargo de levar avante a faina
agrícola sob a responsabilidade de sua esposa, Chaia. Para superar sua condição e sua
doença, Matisis começou a escrever crônicas, memórias, artigos e peças teatrais, publicados
pelos seus companheiros de Avichail.473
Além da mencionada carta, o Rabino Kook escreveu outras ao Rabino
Braverman, uma das quais encontra-se estampada no “Sefer Chelek Yaakov”.4747
Porém,
antes de finalizar, passaremos ao conteúdo da carta escrita pelo Rabino Kook ao Rabino
Braverman, escrita em um papel timbrado com dizeres em hebraico e “inglês”, na qual
consta o nome do Rabino-Mor de Eretz Israel, na cidade de Jerusalém, e cujo teor
traduzimos ao português:
“Dia 10 do mês de Shvat 5693
Ao honrado rabino, sábio conhecedor da Torá, etc., nosso Mestre, o
Rabino Jacob Braverman, que tenha longa e abençoada vida, Rabino
da comunidade de São Paulo, paz e bênção com muita estima.
Após desejar sua boa paz, eis que me vejo na obrigação sagrada de despertar
o coração de sua pessoa para requerer a sua bondade e ajudar, com sua influência, o
senhor Batri em favor de seu caro cunhado, o senhor Itzhaq Matisis, que atualmente reside
em Tel-Aviv. E ele está pronto a se estabelecer na organização (colônia) dos soldados
desmobilizados em Wadi Hawarit, aqui na Terra Santa. Conforme me foi informado por
pessoa digna de crédito, seu caro cunhado merece ser ajudado por Sua Eminência, e, com
sua influência junto a seus familiares que se encontram em sua comunidade. E isso também
é importante para a colonização de Eretz Israel e uma contribuição para o judaísmo por
parte da comunidade acima mencionada, que se renovará no futuro próximo com a ajuda
de Deus. E com isto, termino com bênçãos da Terra Santa, conforme os vossos e nossos
desejos.
desejando-lhe paz
Abraham Itzhaq Ha-Cohen Kook”
473
Escreveu alguns livros, entre os quais “Dramot” (Dramas) Avichail, 1950, e “Kasher” (Pureza ritual), Tel-
Aviv, s/ d. 474
Na p. 136, no Sefer Chelek Yaakov também encontramos um hesped (discurso fúnebre) por ocasião da
perda daquela luz que iluminou Israel durante muitos anos.
286
Quando nos detemos e meditamos sobre as palavras e o conteúdo da carta escrita pelo
Rabino Kook, notamos que ela é mais um claro testemunho documental da concepção
conhecida do famoso rabino quanto ao renascimento nacional judaico e à colonização na
Palestina; o texto é perfeitamente coerente com seu pensamento exposto ao longo de suas
obras. Sem pretendermos, nos limites deste artigo, estudar sua doutrina, basta que
examinemos sua atuação e um pouco de sua biografia para entendermos que a questão
abordada na carta tangia uma das cordas mais sensíveis de sua profissão de fé pessoal.
Nascido em 1865, na Letônia, de uma família de rabinos hassidim (da corrente
Pietista do século XVIII), e após ter recebido uma educação judaica tradicional, Kook
complementou seus estudos com literatura bíblica e hebraica, filosofia judaica e mística
(Cabala). Após exercer o rabinato em alguns lugares na região onde viveu, em 1904,
emigrou para a Palestina, onde passou a ser rabino em Jaffa. Sionista convicto, em que pese
a posição anti-religiosa sustentada por uma parcela desse movimento, esforçou-se em atrair
círculos de judeus religiosos e apoiar a causa do movimento nacionalista judeu. A partir de
1914, encontrava-se na Europa impossibilitado de voltar a Eretz Israel por causa da eclosão
da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo-se em Londres, onde atuou em prol do
sionismo naquele país. Ao voltar à Palestina, com o término da guerra, foi designado
Rabino-Mor de Jerusalém, e, em 1921, e foi eleito o primeiro asquenazita a usar esse título
no país.
Para entendermos suas concepções, é necessário lembrar que ele foi aluno de
uma ieshivá (academia talmúdica) famosa pelas personalidades religiosas que atuaram
dentro dela e pelos discípulos que saíram da mesma, entre eles, os escritores M.J.
Berdyczewski e H. N. Bialik. Na ieshivá de Volozhin, na Lituânia, teve como mentores
espirituais sábios rabinos do porte do Rabino Naftali Zvi Yehuda Berlin (Ha-Natziv) e
Rabino Haiim Halevi Soloveitchik. É provável que tenha sido influenciado também pelo
rabino de Bausk, Mordechai Elisberg, conhecido pelo papel que desempenhou no
movimento Chovevei Tzion (Amantes de Sião) e que despertou o interesse pelo
renascimento nacional judaico.475
Já nesse tempo, o Rav Kook passou a escrever e publicar
sobre o nacionalismo judaico e sobre o papel de Eretz Israel como lugar onde o povo judeu
poderá desenvolver suas qualidades para cumprir sua missão espiritual. Durante o período
em que viveu em Jaffa, produziu boa parte de sua extensa obra espiritual, na qual expôs o
seu pensamento religioso-espiritual sobre o renascimento judaico. Além de sua obra
espiritual, desenvolveu uma atividade protetora e de aproximação da população de
agricultores e obreiros das colônias judias existentes então no território palestinense.
Ademais, nesse período ele assume posições haláchicas cujo teor interpretativo chocar-se-á
com o judaísmo ortodoxo, em vista das inovações decorrentes de sua filosofia religioso-
nacional e da realidade da colonização judaica. No tratado “Etz Hadar”, escrito em 1907,
ele procura promover a venda de “etroguim” (citro que se usa na festa de Sucot) às
comunidades da Diáspora; e em 1909 permite aos chalutzim, sob certas circunstâncias,
trabalhar a terra durante o ano sabático, defendendo seu ponto de vista contra os ataques
das autoridades rabínicas ortodoxas, num tratado sob o título de Shabat Ha-Aretz, onde
procura demonstrar que seus argumentos vêm de encontro aos interesses da reconstrução da
475
O movimento “Chovevei Tzion” foi, na verdade, uma das manifestações mais importantes do sionismo
pré-Herzeliano.
287
Terra Santa. Ademais, esforça-se em aproximar e influenciar os pioneiros colonizadores da
Palestina a se manter dentro da observância religiosa.
Com o objetivo de granjear apoio à causa da reconstrução nacional, toma
algumas atitudes em relação aos círculos ortodoxos, e, em 1914, viaja a Frankfurt-sobre-o-
Meno a fim de participar em uma Conferência do movimento Agudat Israel476
para obter o
apoio dos ortodoxos à sua causa.
Após a Declaração Balfour, em 1917, resolveu fundar uma organização com o
nome “Degel Yerushalaim” (Bandeira de Jerusalém) que tinha por finalidade procurar
introduzir os ideais religiosos judaicos e suas leis no movimento de renascimento nacional,
enfatizando os aspectos espirituais, pois via no retorno a Eretz Israel o início da redenção
divina (atchalta di gueulá). Ao fundar a sua ieshivá em 1924, em Jerusalém, mais tarde
conhecida como Merkaz Ha-Rav, ele se propôs não somente a educar através do programa
tradicional de estudos talmúdicos, mas também conjugá-lo com o estudo da Bíblia, visando
formar professores e líderes espirituais para as comunidades. O espírito que imprimiu à sua
ieshivá desde a sua fundação e que teve prosseguimento após sua morte, em 1935,
(sucedeu-o na direção da ieshivá, seu filho, o Rabino Zvi Yehuda Kook, que a lidera até
hoje), era de total identificação com o sionismo. Daí o porquê de muitos de seus discípulos,
egressos de sua ieshivá, terem participando de modo significativo no movimento religioso
chalutziano e desempenhado importantes funções como professores e educadores em Israel.
As posições do Rabino Kook caracterizam-se, acima de tudo, por uma visão
que foge aos estreitos limites do partidarismo e dos interesses particulares, mas se elevam
sobre eles e vislumbram o “clal Israel” (o povo de Israel). Assim podemos entender sua
atitude em relação ao partido religioso Mizrachi, ao qual estava vinculado, e os choques em
que muitas vezes se encontrou com a própria ortodoxia, que nem sempre conseguiu
entender suas concepções. Apesar de tudo, nunca se deixou intimidar por oposições e
demonstrou ao longo de sua vida uma coragem moral exemplar ao assumir determinadas
posições.477
É conhecida a sua crítica aberta à administração britânica na Palestina, bem
como sua franca acusação às autoridades colonialistas pela indiferença criminosa que
manifestaram durante os distúrbios árabes de 1929. Por ocasião da polêmica árabe-judaica
em relação ao Muro das Lamentações, ele saiu em público para proclamar incisivamente
que os judeus nunca fariam concessões ao sagrado direito que possuem sobre essa última
ruína de seu sagrado Templo.478
No fundo, sua atitude em relação aos problemas seculares
emana da visão de mundo filosófico-religiosa que sustentava e em coerência com sua idéia
de existência harmoniosa entre o sacro e o profano, entre o homem e o universo, que ocupa
um lugar importante em seu pensamento.
Em sua concepção, os pioneiros que reconstruíram Eretz Israel, mesmo não
sendo religiosos, representavam uma fonte de energia criadora e renovadora da nação, e,
476
Na época, o Agudat Israel não era sionista. 477
O caso mais patente foi sua atitude de inocentar os acusados pelo assassinato do líder trabalhista H.
Arlozorov, colocando-se em franca oposição a uma parte da comunidade judaica na Palestina. 478
V. a respeito da política mandatária na Palestina: Yosef, B., HaShilton HaBriti BeEretz Israel, (O Mandado
Britânico na Palestina) Mossad Bialik, 1948.
288
nesse sentido, esses “heréticos” estão destinados a cumprir uma missão sagrada, pois,
devido à situação na qual se encontra a humanidade, a heresia é imanente à fé.479
Portanto, compreendemos que o Kook, convicto e fiel à idéia de renovação do
judaísmo e à restauração de seu povo na Terra Santa, não poderia ficar insensível ao pedido
isolado de ajuda de um soldado desmobilizado, que queria ser colono na região de Wadi
Hawarit.
479
No magnífico artigo de Rivka Schatz-Oppenheimer, Utopia U’Meshichiut beTorat HaRav Kook, (Utopia e
messiânismo no pensamento do Rabino Kook) in Kivunim, n.º 1, nov., 1978, pp. 15-27, esse aspecto da
doutrina do Rav é estudado pela autora num contexto mais amplo de suas idéias.
289
34. A Imprensa Ídiche como fonte para o estudo da história dos judeus no Brasil
Apesar da imigração dos judeus ao Brasil ter se iniciado nos primórdios do
século XIX, a corrente imigratória de fala ídiche, vinda dos países da Europa Oriental,
passou efetivamente a estabelecer-se entre nós a partir da última década daquele século.
Somente com o gradativo aumento da imigração judaica, às vésperas e durante
a Primeira Guerra Mundial, é que fundar-se-á o primeiro órgão de imprensa em ídiche, o
periódico “Di Menscheit” (A Humanidade), e isso devido à iniciativa de um jornalista
argentino conhecido como Josef Halevi. Este viera da Argentina para estabelecer-se em
Porto Alegre, cuja comunidade em boa parte era formada por ex-colonos da Jewish
Colonization Association (J.C.A.) que tinha, em 1903, dado início a uma colonização
agrícola judaica no Rio Grande do Sul, formando-se o primeiro núcleo com o nome de
Philippson. Mas devido a dificuldades de toda ordem, parte de seus membros foram-na
abandonando e dirigindo-se aos centros urbanos tais como Santa Maria, Porto Alegre e
outros. Claro é que a maioria da população de israelitas que formavam Porto Alegre tinha
uma origem diversa à dos saídos das colônias da J.C.A., mas de todos os modos essa
população abrangia uma maioria que falava a Língua Ídiche. Isaac Raizman, em sua obra
“A Fertl Yorhundert Yiddische Presse in Brazil”480,
menciona como uma das causas para a
criação de um periódico em ídiche o interesse dos imigrantes sobre o que se passava com
seus irmãos e parentes durante aqueles anos da guerra que assolava o continente europeu, e
dos países de onde emigraram.
Josef Halevi atuou na Argentina em vários periódicos, até decidir-se a chegar
ao Brasil – quando costumava vir a pé – e em 1915 criar o “Di Menscheit”, de pouca
duração, até que em 1920, o mesmo culto e estranho personagem partiu para uma nova
tentativa jornalística, com o “Di Idische Tzukunft” (O Futuro Israelita), que teve vida tão
efêmera como o primeiro.481
480
Editada em Safed, 1968, constitui a primeira obra do gênero sobre a imprensa judaica no Brasil. Mas o
pioneiro da história da imprensa judaica no Brasil foi o poeta, jornalista e historiador Jacob Nachbin, em uma
série de artigos sobre o Brasil publicados no Di Tzukunft (O Futuro) em julho de 1930. 481
Sobre Josef Halevi, além do que encontramos na obra citada de Isaac Raizman, existem os relatos de Katz,
Pinie, Idische literatur in Argentine (Literatura judaica na Argentina), Buenos Aires, 1947, pp. 33-37 e do
mesmo autor Idische jurnalistik in Argentine (Jornalismo judaico na Argentina), Buenos Aires, 1946, p.188;
208. Raizman cita ainda a Baruch Schulman, que escreve em suas memórias sobre o encontro que teve com
Josef Halevi, em artigo publicado no Der Naie Moment (O Novo Momento), São Paulo, 17 de novembro de
1950. Outra fonte sobre Josef Halevi também mencionada por Raizman é Michael HaCohen Sinai, pioneiro
do jornalismo argentino, mas infelizmente não cita em que obra desse autor se encontra a referência.
Curiosamente encontramos dois anúncios no periódico “A Columna”, números de agosto e setembro de 1916
sobre um tal de Josef Halevi, professor de hebraico, além de uma nota da redação dizendo que o próximo
número publicaria um artigo que o mesmo enviara. Tudo indica que se trata do mesmo personagem, o nosso
fundador dos dois primeiros periódicos em ídiche no Brasil. O primeiro historiador a fazer alguma menção
sobre Josef Halevi foi Jacob Nachbin em artigo publicado no jornal Idische Volktzeitung (Gazeta Israelita),
em 21 de maio de 1929,e já o denominava fundador da imprensa judaica no Brasil, exatamente como foi
designado no Primeiro Congresso Sionista no Brasil, em 1922, quando se lhe fez uma homenagem.
290
Um periódico que firmou perante a comunidade israelita, e dessa vez, no Rio
de Janeiro, criado por Aron Kaufman,482
em 1923, o “Dos Idische Vochenblat” (O
Semanário Israelita). Nele encontramos, além dos redatores Jacob Nachbin e Josef Katz,
um grande número de colaboradores, de várias cidades e estados, que testavam seu talento
escrevendo contos, poemas e transmitindo impressões sobre a vida de suas comunidades
locais. O “Dos Idische Vochenblat” durou até 1927, e em suas páginas temos um retrato da
vida dos judeus no Brasil, seja do ponto de vista interno de suas instituições comunitárias
ou do seu relacionamento com a sociedade brasileira mais ampla.
Aron Kaufman, a partir de 1927, mudou o nome de seu periódico para
Brazilianer Idische Presse (Imprensa Israelita Brasileira) e a razão era o fato de o periódico
ser publicado, então, duas vezes por semana. Mas este também pouco durou, pois em
novembro de 1929 saía seu último número.483
Nesse ínterim, e como uma cisão provocada
por divergências de orientação no periódico acima mencionado, criava-se o Idische
Vokstzeitung (Jornal Popular Judaico), no mesmo ano de 1927, com elementos que
pertenceram à redação do anterior. O Idische Vokstzeitung ficou sob a direção redacional
de Eduardo Horowitz e de uma equipe representativa, sob o aspecto intelectual, que incluía
os nomes de Shabatai Karakuchansky, o escritor Menasche Halperin e Aaron Bergman.
Esse periódico representou um papel importante na vida dos judeus do Brasil, pois era um
noticiário e um órgão de expressão de todas as tendências e movimentos, até ser fechado
em 1940 pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) de Getúlio Vargas, que
proibiu toda e qualquer publicação em língua estrangeira.
É preciso observar que, além desses periódicos e jornais que não fugiam dos
padrões de todo noticiário, foram publicados jornais literários que serviram para o fim
específico de divulgar a obra poética ou literária de escritores locais, assim como a dos
clássicos da literatura ídiche e até mesmo traduções, a essa língua, excertos da literatura
brasileira e universal. O primeiro jornal desse tipo saiu com o nome de Di Neie Velt (O
Novo Mundo), e era publicado, a partir de 1927, pelo escritor Adolfo Kyschinevski, autor
da primeira obra literária em língua ídiche no Brasil, em 1932, com o título de Neie Heimen
(Novos Lares).
Tais empreendimentos era resultado de indivíduos que tinham certo respaldo de
pessoas de boa vontade ou de algumas organizações comunitárias que estimulavam
intelectuais em suas iniciativas culturais, mas que, infelizmente, não tinham continuidade.
O mesmo escritor, Adolfo Kyschinevski juntamente com Natan Ferman, deu à luz um novo
jornal, em fins de 1927, com o nome de Unzer Leben (Nossa Vida), que manteve a mesma
linha do anterior mas tampouco teve longa duração. Do mesmo tipo de periódico, ainda que
diferenciados por pertencerem a um agrupamento juvenil que tinha fins sociais e culturais
foram os jornais ou boletins de nome Kadima (Para frente) e Di Yugend (A Juventude) dos
quais poucos números saíram à luz entre os anos de 1927 e 1929.
Outro tipo de jornal que caracterizou a imprensa ídiche foi o boletim
“partidário”, que representava certas correntes de idéias vigentes em determinados grupos
482
Aron Kaufman não era jornalista de profissão, mas relojoeiro, o que não o impediu de desenvolver com
talento a função de diretor, e mais tarde a de redator, de um periódico que marcou época na história da
comunidade israelita do Brasil. 483
Um relato detalhado, e até agora inédito, sobre o jornal se encontra na autobiografia de Aron Kaufman
“Zichroines un Derzeilungen” (Memórias e Narrativas).
291
da comunidade israelita. Tais correntes de idéias eram importadas do continente europeu
através dos próprios imigrantes, que as adaptavam às novas circunstâncias e criavam muitas
vezes disputas e polêmicas entre os habitantes dos bairros onde se concentravam os recém-
chegados, ao lado dos moradores mais veteranos. Não faltavam a essas polêmicas o tom
provinciano dos ataques pessoais aos líderes e ativistas comunitários que representavam
uma ou outra tendência “política”, na maioria das vezes confusa e pouco definida. Os
jornais Der Onhoib (O Começo) e o Di Kraft (A Força) representaram esse tipo de
imprensa, na década de 20, ambos publicados no Rio de Janeiro, além do jornal Mir un Zei
(Nós e Eles) de um imigrante, Dr. Moisés Rabinovich, que se dizia ter uma posição
partidária definida como “de centro”. Ele publicou apenas um único número e encerrou
suas atividades em 1930. Porém, entre todos esses periódicos, o que realmente teve duração
de vários anos, desde junho de 1931 aos fins de 1940, foi o Idische Presse (Imprensa
Judaica), dirigido por Aaron Bergman e um grupo de simpatizantes do partido trabalhista
judaico (Poalei Zion), que reivindicava os direitos dos trabalhadores judeus na Europa.
Quando o país voltou a um regime constitucional e permitiu a publicação de periódicos em
língua estrangeira, o Idische Presse voltou a circular, reunindo ao seu redor a
intelectualidade, incluindo escritores e jornalistas que chegaram ao Brasil antes e após a
Segunda Guerra Mundial. Em São Paulo, a comunidade judia era mais acanhada do ponto
de vista intelectual, pois sua formação se dera bem posteriormente à do Rio de Janeiro. Daí
a imprensa ídiche surgir somente na década de 20, mais exatamente no ano de 1928, com o
jornal Idischer Gezelschaftlicher un Handels Biuletin (Boletim social e comercial judaico).
E, de fato, como o nome indica, esse periódico tinha como finalidade atender a anúncios
comerciais, assim como servir de noticiário à comunidade local. Seguiu-se a esse último
jornal, também em 1928, de pouca duração, o Di Idische Velt (O mundo Israelita), sob a
direção de Marcos Frankenthal, que foi também seu impressor, pois possuía uma tipografia
que atendia a fins comerciais. Ao mesmo tempo, nos fins de 1929 e inícios de 1930 dava-se
na Folha da Manhã a possibilidade de publicar uma folha em ídiche, assim como em outras
línguas, como anexo ao jornal, obtendo pouco sucesso, de modo que o noticiário em ídiche
terminou naquele mesmo ano de 1930. O já mencionado Marcos Frankenthal, em 1931,
fundou um novo periódico, o San Pauler Idische Tzeitung (Jornal Israelita de São Paulo), e
dessa vez com um corpo redacional mais amplo. Em 1933, o historiador da imprensa
judaica no Brasil, Isaac Raizman, foi convidado a ser redator desse jornal, após ter atuado
no campo jornalístico durante muitos anos no sul, em Porto Alegre, e também no Rio de
Janeiro. Trabalharam nesse periódico, entre outros, Nelson Vainer e o historiador Elias
Lipiner. O jornal existiu até o ano de 1941. Assim como no Rio de Janeiro, também em São
Paulo foram publicados boletins literários redigidos por intelectuais de alto nível e de
excelente domínio do ídiche, destacando-se entre eles o Ha-Schachar (A Aurora), redigido
por Michael Zaltzman, que tivera a iniciativa dessa publicação em 1931.
Mas esses periódicos também tinham clara tendência partidária, e refletiam as
correntes ideológicas existentes na comunidade. O Ha-Schachar não foi o único jornal
desse tipo em São Paulo, pois em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, saía à luz
o Di Tzeit (O Tempo), sob a direção de Edgar Barreira de Matos, que redigia a parte em
português, enquanto Menachem Kopelman se encarregava da redação em ídiche. O
mensário recebeu a colaboração de poetas e escritores locais, que se expressavam em
ídiche, e durou até o ano de 1941, quando encerrou as suas atividades, assim como ocorreu
com as demais publicações que não fossem em português.
292
A rigor, a história da imprensa ídiche deveria incluir também as publicações
particulares das sociedades israelitas de todo tipo, que tinham por finalidade informar seus
sócios ou membros das atividades e das programações peculiares a cada uma delas, além de
servir de órgão de expressão individual aos que tivessem pretensões literárias. A
importância dessas publicações está no fato de permitirem um conhecimento mais íntimo
da vida dessas instituições e seus objetivos sociais ou culturais, porém com as limitações
naturais próprias a tais entidades. Por outro lado, também devemos considerar a existência
de publicações de tiragem única em comemoração a certos eventos comunitários ou
culturais, em especial aquelas dedicadas aos aniversários de entidades tais como escolas,
clubes ou sociedade de beneficência, e que nos fornecem subsídios interessantes para uma
história contínua, em ídiche, dos israelitas em nosso país.
A imprensa em ídiche continuou existindo até hoje, ainda que reduzida a um
único jornal, o Idische Presse (Imprensa Israelita) após o fechamento do Der Neier Moment
(O Novo Momento) fundado em 1950, em São Paulo. A causa principal para essa redução é
o fato de o ídiche ter sido relegado a segundo plano como língua de expressão das novas
gerações e descendentes dos imigrantes da Europa Oriental. Já em 1916 começaram a
surgir jornais e revistas em língua portuguesa criados por judeus de origem sefaradita, que
não falavam ou conheciam o ídiche.484
A importância dessas publicações como fonte para a
história dos judeus no Brasil é extraordinária, e por isso mesmo merecem um estudo
particular de parte dos pesquisadores interessados na área, já que o nosso escopo imediato é
o estudo da imprensa ídiche apenas.
Antes de entrarmos na avaliação da imprensa ídiche como fonte e sua
utilização prática para fins de pesquisa devemos observar que até agora não existe um
arquivo que reúna todo esse material, mas ele se encontra disperso em arquivos de Israel,485
Estados Unidos486
e Argentina,487
afora as coleções particulares de interessados que
procuraram preservar tais fontes da ação destruidora do tempo, no que nem sempre tiveram
sucesso. Infelizmente, a própria comunidade israelita despertou muito tarde quanto à
formação de um arquivo histórico no Brasil para preservar essa documentação.
Somente nos últimos anos é que se deu a formação do Arquivo Histórico
Judaico Brasileiro, que começou a se preocupar com a questão, e que procura, atualmente,
salvar o que restou. À primeira vista nos parece que o jornal é o documento único que pode
elucidar um evento ou certos aspectos da história dos judeus no Brasil, pois as sociedades
ou entidades comunitárias não se preocuparam em preservar seus arquivos, por vezes
deliberadamente destruídos devido a razões de economia de espaço ou serem considerados
inúteis. A análise de um periódico permite distinguir as partes que o compõem,
preenchendo funções e atendendo objetivos que podem ser não apenas informativos mas
políticos, sociais, econômicos, educativos ou culturais. Daí a necessidade de sabermos,
antes de tudo, quais os propósitos mais amplos do periódico, as concepções que o definem
484
. O primeiro jornal israelita em português foi fundado pelo professor David José Perez e Álvaro de Castilho
com o nome de “A Columna”, e durou dois anos (1916-1917). 485
Biblioteca Nacional junto à Universidade Hebraica de Jerusalém. 486
Arquivo do YIWO (Idischer Wissenschaftlacher Institut)- Instituto Científico Judaico, em Nova York. 487
Arquivo do YIWO, em Buenos Aires. O arquivo existiu até o atentado perpetrado contra a AMIA, quando
foi soterrado seu acervo ao ruir o prédio onde se encontrava. Devemos observar ao leitor que deverá não
esquecer que o artigo foi escrito há muitos anos atrás.
293
e regem sua redação, que grupo ou grupos sociais ele representa, e mesmo qual é seu
sustento econômico-financeiro.
As chamadas seções, que nos periódicos mais representativos são permanentes,
servem de roteiro técnico para fins de pesquisa, pois lá encontramos “sistematizados” os
temas ou as questões que visamos elucidar ou estudar em nosso trabalho científico. Em
certos periódicos cada entidade ou instituição comunitária tinha o seu canto fixo para
publicar relatórios, informes sobre suas programações, etc.
Os jornais eram sensíveis às questões que preocupavam a comunidade e a
opinião pública, apresentando em suas páginas os debates e as polêmicas que eclodiam em
cada lugar e em cada época.
Certos jornais davam espaço à informação não apenas local, mas de todas as
comunidades judias do Brasil, de norte a sul, e assim podemos acompanhar a história
particular das mesmas e o desenvolvimento de suas instituições, em informes que
indicavam seus começos até o presente.
Um aspecto pouco focalizado, mas não menos importante para o historiador, é
o anúncio comercial de um periódico, que nos fornece os elementos para uma história
econômica da comunidade retratando as etapas e profissões desse desenvolvimento. Mesmo
para as biografias de certas personalidades podemos encontrar dados interessantes, pois
suas páginas anunciam desde formaturas de profissionais até o estabelecimento de um
escritório ou consultório em seu nome, bem como sua participação em diretorias de
associações ou em eventos comunitários. E quando se trata de uma personalidade
conhecida, até os membros de sua família, seus aniversários, casamentos ou falecimentos
são noticiados.
Para finalizar, devemos, mais uma vez, lembrar que os periódicos em ídiche
refletiram com fidelidade a vida comunitária dos israelitas no Brasil, e através de seu
estudo adquirimos uma massa preciosa de informações para todo tipo de pesquisa.
294
35. Jacob Schneider e a comunidade judaica no Brasil
As “Memórias de Jacob Schneider”, além de dados colhidos junto aos filhos, permitiram
traçar o esboço da biografia do grande ativista nascido na Bessarábia e que imigrou ao
Brasil em 1903, aos 16 anos. Seu relato dos primeiros tempos no novo país, bem como da
então incipiente comunidade judaica, que começava a se organizar, constitui material de
interesse geral.
Jacob Schneider, chamado certa vez de “pai da comunidade”, e cuja biografia ainda está
por ser escrita, teve papel importante na formação da atual comunidade judio-brasileira. As
fontes para o estudo e o conhecimento de sua imensa atuação na formação do movimento
sionista no Brasil, bem como na criação das primeiras instituições comunitárias,
encontram-se dispersas pelos quatro cantos do imenso território nacional, se bem que, nos
últimos anos, tentamos reunir em nosso arquivo pessoal os testemunhos documentais que
permitissem traçar um perfil histórico de sua participação nos eventos mais significativos
da imigração judaica, a partir do início de século XX. No entanto, devemos assinalar que
alguns textos ajudaram decisivamente em nosso trabalho, a começar pelas próprias
“Memórias” de Jacob Schneider, já lembrado em outros artigos sobre a história dos judeus
no Brasil488(1)
. Além das “Memórias” merece ser lembrada a tentativa feita por Henrique
Iussim (Zvi Yatom) de organizar no seu “Léxico”489(2)
uma biografia do dedicado ativista,
que nunca chegou a ser publicada, mas cujo texto tivemos a possibilidade de adquirir,
juntamente com o arquivo pessoal de Jacob Schneider, que nos foi cedido por seus filhos,
Tziona Fucks e Eliezer Schneider. Graças ao material contido nesse arquivo é que pudemos
alinhavar certos fatos e juntar os elos que permitem esboçar sua biografia.
Jacob Schneider nasceu em abril de 1887, na aldeia de Barlidan, Bessarábia.
Seus pais, Moshe e Tzipora, eram muito pobres, mas abençoados com cinco filhos, dois
meninos e três meninas. Em suas “Memórias”, ele relata que o lar era verdadeiramente
judaico, seguindo os costumes e as tradições típicas do judaísmo da Europa Oriental.
Freqüentou o heder (escola de iniciação ao estudo da Bíblia hebraica) e, após o bar-
mitzva, passou a trabalhar, procurando ajudar no sustento da família. Impressionado pelas
dificuldades de subsistência ao seu redor, diria ele que “não somente meus pais eram
pobres, mas ao nosso redor toda a aldeia vivia na pobreza (...). Isto me levou a pensar
seriamente, ainda na minha juventude, em emigrar para a América”.
Sua atividade comercial começou ainda no lugar onde nascera, e assim ele o
narra: “Quando ainda estudava no heder, comecei a economizar dinheiro, e, de, copeque
em copeque que caía em minhas mãos, consegui juntar, ao terminar o heder, quinze rublos,
sendo esse o meu primeiro capital, com o qual comecei a fazer negócios, correndo tudo
bem. Sendo ainda jovem, plantava tâmaras, girassóis e melancias. Fazia plantações por
conta própria, bem como trabalhava para outros. Assim foi que, aos quinze anos, eu já era o
“rico da aldeia”, possuindo cerca de 200 rublos”.
Conforme seu relato pessoal, os pogroms do ano de 1903 influíram em muito o
seu ânimo. Naquele mesmo ano chegaram à cidade de Sokoron três judeus que haviam
residido no Brasil cerca de quatro anos, trazendo consigo consideráveis economias, o que o
488
489
295
levou a decidir-se pela imigração àquele país. Pitoresca e ao mesmo tempo elucidativa é a
narrativa, inédita até agora, de Jacob Schneider sobre sua vinda ao Brasil, a qual
reproduzimos na íntegra, por se tratar de um dos poucos depoimentos que temos de um
imigrante sobre a comunidade judaica nos primeiros anos de nosso século:
“Ao ouvir o que narravam, resolvi vir para o Brasil tentar a sorte. Sabia que no
Brasil, numa pequena cidade de nome Franca, morava um parente, Isaac Tabacow490(3)
, e
isso reforçou mais ainda a resolução de emigrar ao Brasil. Mas não foi fácil conseguir
realizar tal intento. Mamãe não concordou que seu querido caçula Yankale abandonasse o
lar tão cedo. Ela gostava muito de mim e não consentiu em me deixar viajar, ainda que
argumentasse que iria somente por quatro anos, com o objetivo de livrar a família da
pobreza. Apesar de seus rogos e constante choro, continuei obstinado e dei minha palavra
de que não me casaria no Brasil; porém, não consegui convencê-la. Cheguei a ficar doente,
mas, por fim, decidi viajar sem que minha mãe se despedisse de mim.
Um dos três judeus que tinham vindo do Brasil me esclareceu como chegar ao
meu destino e também à cidade de Franca. Meu irmão acompanhou-me até a fronteira, onde
iniciei a viagem, até chegar a Viena. Isso ocorreu em 1903, quando eu tinha 16 anos. Era
religioso, e como tal me comportei durante minha longa viagem, o que me causou grandes
dificuldades devido à comida, que não era casher. Ao mesmo tempo, eu era um rapaz de
aldeia maravilhado com os progressos do mundo ocidental. O gramofone pareceu-me o
maior dos milagres do mundo, além das outras coisas que observara e que, para mim, se
apresentavam como um milagre dos milagres. Em Viena, encontrei um grupo de imigrantes
que se dirigiam para a América, e com eles fui até Hamburgo, onde fiquei hospedado na
Casa dos Imigrantes, até o embarque do navio com destino a Santos, o que não foi nada
fácil. Em Hamburgo, venderam-me uma passagem para o navio Mendoza, que ia
diretamente à Argentina, sem fazer escala em Santos”.
IMPRESSÕES EM ALTO MAR
“Finalmente, chegou o dia em que embarquei no navio de nome ‘Argentina’, em
companhia de três alemães e um italiano, passando a ocupar uma cabina com seis camas.
Esfomeado – havia emagrecido muito, devido à permanência na Casa dos Imigrantes –,
gulosamente me empanturrei com pão, manteiga e café. E, durante os 31 dias de minha
viagem de navio, minha alimentação consistia de arenque, batata, cebola, manteiga, pão e
café. Quando o navio alcançou o alto-mar e começou a balançar, permaneci deitado por ter
ficado doente. Só então despertou em mim uma enorme saudade de casa, dos meus pais e,
principalmente, das sextas-feiras à noite. Lembrei-me de como costumava ir com meu pai à
sinagoga, cantava Lechu neranena (prece sabática), chegando em casa e dando a minha
mãe um alegre guit shabes (bom Sábado). A mesa sabática, tão iluminada e tão linda, com
as velas brilhando festivamente nos altos castiçais, e todos nós cantando enlevados o
Shalom aleichem, (a paz esteja convosco) rezando o kidush sobre o vinho. Os petiscos
sabáticos de minha mãe eram deliciosos, e cantando docemente as melodias sabáticas que
(...) aqui, no meio do grande e agitado mar, o meu coração se contraiu e tive vontade de
chorar!
490
296
“O mal-estar marinho agiu tão fortemente sobre mim que cheguei a pensar que
nunca veria o Brasil, imaginando que morreria e jogariam meu corpo ao mar. Assim fiquei
deitado, dia após dia, até que o navio atracou na cidade do Porto, em Portugal. Quando o
navio parou, já estava curado, e assim compreendi que minha doença era devido à viagem
do mar, o que me deixou mais aliviado. Tanto nessa cidade quanto em Lisboa embarcaram
muitos emigrantes portugueses, tornando-se a viagem mais animada, apesar de ainda sentir
saudades de casa. O italiano que embarcou comigo em Hamburgo e eu tornamo-nos
amigos, e ele até me deu a devida orientação quanto à maneira de viajar de Santos a Franca.
De Santos fui de trem e cheguei ao meu destino: Franca.
Em Campinas, encontrei a primeira comunidade judaica com a qual tive contato
no Brasil, pois meu amigo havia me falado sobre um estabelecimento comercial naquela
cidade, pertencente a um ‘russo’, de nome José Koifman. Entendi que o tal ‘russo’ bem
poderia ser judeu, e o procurei, conforme a orientação dada. A loja estava fechada, mas sua
moradia ficava junto ao estabelecimento e na janela se encontrava um casal. Com minhas
poucas palavras em português, perguntei: ‘Sr. e sra. Koifman?’. Recebendo a resposta em
ídiche, revivi. Sim, eram judeus, os primeiros que encontrei no Brasil. Indagaram de onde
vinha e para onde ia, e quando respondi que ia a Franca, à casa de Isaac Tabacow, ficaram
muito animados. Ficou evidente, durante a conversação, que tinham parentes em Sokoron, e
eram muito amigos de nossa família, e quando iam a Barlidan hospedavam-se em nossa
casa, sendo eles mesmos também amigos de nossa família. Pela manhã, Sholem Zisse, esse
era seu nome em ídiche, levou-me à estação ferroviária, explicando-me que Franca era o
ponto final da estrada de ferro, e assim prossegui, então convicto de que não era o único
judeu no Brasil.
No trem, pensei muito no que estava me aguardando e como a família Tabacow
me receberia. Eu não os conhecia e tampouco eles a mim. Na carta que lhes enviei de
Barlidan não pedi nenhuma resposta, pois temia que me mandassem ficar em casa. Mas, ao
mesmo tempo, supunha que Isaac e sua esposa Golda deviam ser pessoas boas e generosas,
pois costumavam enviar somas razoáveis de dinheiro para seus pais, irmãos e irmãs, ainda
vivendo na Rússia. De Hamburgo, havia escrito mais uma vez aos Tabacow, mas, com a
confusão da troca de navios, não tinha certeza se minha carta chegara a tempo, e tanto era
verdade que ninguém me aguardava na estação. Cheguei à noite e comecei a descer pela rua
principal da cidade, indagando às pessoas que passavam, com meu português vacilante,
‘aonde mora Isaac Tabacow?’ A resposta não a entendia, mas pelo gesto das mãos, podia
seguir adiante, até que, por fim, avistei a loja com o letreiro ‘Isaac Tabacow’. Ela ainda se
encontrava aberta e, ao chegar mais perto, ouvi que conversavam em ídiche. Logo entrei,
cumprimentando com guit uvent, ou seja ‘boa noite’. Na loja, pelo que me pareceu, estavam
sentados a esposa de Isaac, Golda, e seus dois irmãos, Leib, o mais velho, e Francisco, o
mais novo. Todos me receberam amigavelmente, o que muito me animou. Isaac não se
encontrava, pois tinha ido a São Paulo, a negócios.
Após essa calorosa recepção, me senti feliz. Ficamos até tarde da noite
transmitindo e recebendo lembranças da família, dos pais de Golda, dos irmãos e irmãs de
Isaac, ao mesmo tempo que conversávamos sobre outros assuntos da velha pátria e do novo
país. Indo dormir, no mesmo quarto do jovem Chico, tive uma surpresa: ele já se
encontrava há vários anos no país, mas os negócios não iam bem. Havia tentado a sorte na
América do Norte, mas voltara, e se encontrava trabalhando como empregado na loja de
Isaac. Contou-me que havia sabido através de um vizinho, também comerciante, que Isaac
aguardava a vinda de um jovem parente, e, dependendo de sua habilidade, lhe abriria uma
297
loja em sociedade com o Chico. Ouvindo tal coisa, adormeci feliz. Assim foi a primeira
noite em Franca. Acordei no dia seguinte, numa manhã ensolarada, sentindo-me
esperançoso e feliz. Entrei na loja e comecei a trabalhar, queria ser útil e aprender o
máximo. Por isso mesmo, alguns dias depois, quando Isaac voltou de São Paulo, sua esposa
contara que eu era um rapaz esforçado, inteligente e dedicado. Ele também testou minha
capacidade em aritmética e fui aprovado. Assim, em curto espaço de tempo, já trabalhava
em sociedade com Chico Tabacow, em nossa própria loja para a qual Isaac Tabacow
fornecia as mercadorias. A loja, que no começo enfrentava dificuldades, passou a melhorar
mais tarde. Depois de seis meses de vida no Brasil, enviei meus primeiros 50 rublos a meus
pais, o que constituiu para mim uma imensa alegria.”
NEGÓCIOS PROSPERAM
“Ainda nos primeiros dias, até estabelecer minha independência, enfrentava um
grande problema: continuava religioso e não querendo fazer as refeições num restaurante.
Porém, Golda Tabacow, ao verificar meu dilema, ofereceu-me comida em sua casa, pelo
que me senti muito grato.
Naquela época, viviam em Franca seis famílias judias e quatro rapazes
solteiros, sendo que todos eles receberam a primeira ajuda de Isaac Tabacow. Com o passar
do tempo, apareceram mais três famílias e três solteiros, de modo que a comunidade
formou-se com 16 homens, preenchendo desse modo, também o minian para as rezas.
Antes da formação dessa comunidade, alguns dentre os poucos judeus costumavam passar
os Iamim Noraim (Rosh Hashaná e Iom Kipur) em São Paulo, em casa de Maurício Klabin.
Também em São Paulo vivia, naquele tempo, um número reduzido de famílias judias e
alguns solteiros. Em algumas outras cidades do Estado de São Paulo, havia pequeno
número de judeus, e em outros Estados não tínhamos notícia da existência de judeus
europeus (...).
Até o fim do ano de 1909 chegaram parentes e conhecidos, e também grande
número de argentinos. À São Paulo veio da Argentina um judeu polonês e abriu uma loja
de quadros, que vendia a prestações, dando bom lucro, de modo que alguns judeus aderiram
ao mesmo ramo de negócios. Isaac Tabacow abriu em São Paulo uma loja idêntica, e, com
o tempo, ampliou-a, colocando também móveis, surgindo assim um comércio tipicamente
judaico no Brasil, do qual participaram muitos.
Por dois anos trabalhei com o sócio em Franca, mas depois continuei sozinho.
Os negócios iam muito bem, tornei-me bastante conhecido na cidade e também tinha bom
relacionamento com a mocidade cristã. Todo esse tempo enviei dinheiro à minha casa, para
que meu pai não tivesse necessidade de trabalhar. Em cinco anos fiquei rico, ou seja,
possuía 10 mil rublos, soma que sempre desejei alcançar, a fim de poder voltar à
Bessarábia. Porém, nesse ínterim, apareceu um sobrinho, filho de minha irmã mais velha,
que me criou um problema complicado e, de fato, não podia abandoná-lo. Abri uma loja
para ele, que não deu certo, e procurando ajudá-lo no sustento, abri uma loja de quadros no
Rio de Janeiro, para ele e mais um jovem, como seu sócio. Nesse meio tempo, resolvi
também mudar de Franca. Liquidei meus negócios em 15 de novembro de 1909 e segui
para o Rio de Janeiro. Encontrei a loja do sobrinho em péssima situação comercial e
precisei trabalhar sozinho, com muito afinco. Assim, a loja foi melhorando, pois me
empenhei com muito ardor e dedicação ao negócio.
298
Em 1909, vivia no Rio um judeu da Galitzia, Pressel era seu nome, com seus
três genros, e um judeu polonês chamado Hano Lent. Outros judeus asquenazitas não havia
e, para formar um minian para rezar, precisávamos completar com judeus marroquinos.
Alguns meses depois, vieram quatro jovens do Estado de São Paulo, Schloime e Moische
Bordman, Scholem Hoineff e Jerônimo Koifman. Assim foi que a comunidade asquenazita
aumentou. Naquele tempo, já havia no Rio um minian de judeus marroquinos, na rua São
Pedro, onde rezavam todos os sábados. E, durante alguns anos, existiu um minian de judeus
franceses, sendo que o pai de Herbert Moses era seu presidente. Mas, em 1909, dessa
comunidade restou somente o Sefer Torá, que ficou em poder do filho caçula de Moses.
Também viviam naquele tempo no Rio de Janeiro outros judeus 491(4)
.
Os negócios continuavam indo bem, mas a promessa de voltar à terra natal ia sendo
adiada. Abri outra loja na rua Senador Euzébio, 117, planejando ficar no Rio até 1910.
Minha mãe insistia nas cartas para que voltasse logo, pois sentia a velhice chegar e ainda
queria tornar a ver-me. Respondi que até o final daquele ano eu regressaria e lhe
proporcionaria alegrias pelos grandes sofrimentos que meu afastamento lhe provocara.
Mas, para minha imensa tristeza e profunda dor, ela não chegou a ler essa carta, pois meu
irmão, pouco tempo após, acabou me informado sobre sua morte. Um resfriado forte a
levaria rapidamente, no espaço de três dias. No Rio, podia rezar o Kadish somente aos
sábados, juntamente com os judeus marroquinos, e desse modo resolvi liquidar meus
negócios, ainda que corressem muito bem, e voltar para casa, o que levou um mês. Em 15
de agosto de 1910 deixei o Brasil.
VOLTA PARA CASA
“Logo no primeiro sábado de minha volta a Barlidan, ao me chamarem à Torá,
doei uma sinagoga às aldeias de Barlidan, Riznitze e Polode, pois eram umas próximas das
outras. A sinagoga foi construída rapidamente e levava o nome de minha mãe.
Característico é o fato da construção da sinagoga doada. Até aquela época, os judeus dessas
três aldeias rezavam na sala da casa de um judeu de nome Daniel. Este precisava casar a
filha caçula, pois não possuía meios, e devido a isso resolveu comprar essa casa com a
finalidade de transformá-la em sinagoga. Mas não concordei, pois não queria que a
sinagoga doada com o nome de minha mãe levasse alguém a ficar sem teto, de modo que
me escusei a participar como sócio nesse empreendimento. Devolvi o dinheiro arrecadado
pela comunidade para a compra da casa e adquiri do próprio Daniel uma parte do terreno,
onde então, ela foi construída. Assim, Daniel continuou com sua casa e a memória de
minha mãe não foi profanada. Tinha, nesse tempo, 23 anos. Após o ano de Kadish, resolvi
voltar ao Brasil, mas papai, meu irmão e minha irmã insistiram muito para que não o
fizesse, e assim continuei em Barlidan. Novamente tentei trabalhar na minha antiga
ocupação, alugando terras, plantando girassóis, mas não tive sorte. Mais tarde, comprei
uma grande casa em Mohilev-Podolski, que acabou rendendo bom aluguel. Grandes somas
de dinheiro distribuí a meu pai e a toda minha família, e também comecei a pensar
seriamente em meu futuro.
Em julho de 1912 chegou a Sokoron Abraham Kauffmann, de Santos, para
visitar os parentes e também a negócios. Ele estava informado de que navios iam de
491
299
Brutzki, saindo de Odessa, com destino à América Latina, aproveitando, assim, a
possibilidade de fazer exportação de mercadorias da Rússia e outros países europeus ao
Brasil. Ele propôs que entrasse de sócio, após ter tratado com um italiano muito rico para
que entrasse com uma enorme soma de dinheiro no negócio. Viajei a Odessa a fim de
verificar os detalhes relativos à saída dos navios e aderi à sociedade. Vendi a casa em
Mohilev, com a qual ganhei 3 mil rublos, e passamos a comprar várias mercadorias na
Rússia, França e Itália, carregando tudo para o navio. Voltei sozinho para o Brasil, com a
esperança de receber os grandes lucros que os navios nos proporcionariam. Para resumir,
do grande lucro resultou um grande prejuízo. Ao navio não foi permitido sair de Gênova, e
a mercadoria foi transferida para uma agência italiana, e até ela chegar ao Rio levou mais
de um ano. Também a documentação relativa a ela demorou a chegar, e quando afinal tudo
foi liberado, a maior parte estava estragada, e com o que sobrou não compensava pagar as
despesas de armazenamento, de modo que perdi tudo o que economizara. Nessa segunda
vez de minha vinda ao Brasil, me restavam 6 contos de réis. Com esse dinheiro, comprei,
novamente, minha antiga loja na Senador Euzébio e a denominei ‘Casa Sion’. Isso
aconteceu em fins de 1912.
Por ocasião de minha volta à Bessarábia, após o falecimento de minha mãe,
houve um verdadeiro entusiasmo nas circunvizinhas cidades de Sokoron, Yedinetz,
Britchon e outras, pois se dizia que economizara dezenas de milhares de rublos e todos
pensavam como um rapaz de 16 anos conseguira amealhar tanto dinheiro no Brasil. Grupos
de pessoas vinham ver-me, a fim de se informar sobre esse ‘maravilhoso país’ de nome
Brasil, procurando saber como se poderia viajar até lá, pedindo endereços a quem deveriam
se dirigir no local. Contei tudo o que sabia sobre o país e suas possibilidades. Dei-lhes os
endereços e muitos decidiram-se a viajar. Assim é que minha pessoa provocou larga
imigração de bessarabianos ao Brasil. Além do mais, naquele tempo, a entrada no país era
livre, isto é, até o ano de 1923, não se exigindo nem sequer a apresentação de passaporte.
Em agosto de 1912, ao voltar ao Brasil, a comunidade judaica se constituía,
aproximadamente, de 50 pessoas no Rio de Janeiro e um número idêntico em São Paulo. A
maioria desses judeus era constituída daqueles que haviam obtido informações sobre o
Brasil, ainda em Sokoron. Também encontrei uma pequena sinagoga na rua São Pedro,
onde costumávamos rezar aos sábados. Essa pequena sinagoga tinha o nome de Centro da
Comunidade Israelita do Rio de Janeiro, e seu presidente era um judeu polonês, Hano Lent.
Após os feriados judaicos, fui escolhido como secretário da mesma”.
Apesar de tudo, sabemos que desde o fim do século XIX vinham imigrantes
isolados da Europa Oriental, que desembarcavam no Brasil, por vezes não
intencionalmente, quando a caminho da Argentina e outros lugares. A comunidade
sefaradita já se encontrava estabelecida, e narra-se um fato de que em 1901, em Iom Kipur,
a mesma “emprestou” um dos seus membros para completar o minian dos asquenazitas. Na
verdade, o Centro Israelita do Rio de Janeiro (esse era o nome da entidade) foi fundado a 1º
de outubro de 1910, com a dominação hebraica de Merkaz Israel, contando com a
participação de judeus asquenazitas, incluindo-se entre eles alguns de origem francesa, que
constituíram significativa corrente imigratória no século anterior, mas que chegava ao
ocaso sob o aspecto comunitário. Seus estatutos foram publicados em 1911, em francês e
português, contendo a última página da publicação uma prece: Le Schlom há Mediná, pela
paz do país, em hebraico, e com respectiva tradução em português. Os fundadores do
Centro foram Simon Drenger, Samuel Leiman e Isaac Abrament. A primeira Torá foi
ofertada por Herbert Moses e era oriunda de uma associação de judeus da Alsácia-Lorena,
300
que havia se dissolvido, fato já lembrado anteriormente no relato de Jacob Schneider. Hano
Lent era seu presidente, e seu nome, bem como o de membros de sua família, aparece
várias vezes mencionado no periódico “A Columna”. Tudo indica que foi um dos primeiros
judeus a chegar ao Rio de Janeiro, no início do século XX ou talvez ainda no final do
século anterior.
AJUDA RECÍPROCA
“Naquele tempo”, narra Schneider, “começaram a chegar judeus da Polônia e a
comunidade começou a crescer. Entre esses novos imigrantes havia também pessoas que
não tinham ninguém no Brasil, e desde o primeiro dia que chegavam, necessitavam de
auxílio. Assim, precisávamos coletar diariamente pequenas somas para ajudá-los, o que se
tornava muito complicado. Em um belo dia, os judeus do Rio resolveram convocar uma
Assembléia Geral para fundar a primeira instituição judaica de auxílio ao imigrante, com o
nome de Achiezer. Isso ocorreu no mês de novembro de 1912. Fui eleito seu presidente;
Leo Wofsy, vice-presidente; Sinai Feingold, secretário; e alguns vogais, entre eles, Benzion
Snitkovsky, Fischel Grinberg, Boris Tcharni, Boris Tendler e outros.” Devemos observar,
que de acordo a Introdução do Léxico dos Ativistas Sociais e Culturais no Rio de Janeiro ,
aparecem também os nomes também de Tuli Lerner e José Lerner. “Todos os presentes
nessa reunião tornaram-se sócios, com a mensalidade de três mil réis. Eu não era apenas o
presidente, mas também o tesoureiro e cobrador das referidas mensalidades. Para recebê-
las, as fichas eram divididas entre nós, e fazíamos a cobrança durante a noite, porque
durante o dia essa gente estava trabalhando na rua e voltava aos seus quartos somente para
dormir. Sempre tinha em mãos grande quantidade de fichas e costumava visitar casa por
casa, e não raras vezes, chegava a acordá-los para a cobrança, mas, para minha sorte, alguns
moravam em grupos de quatro ou cinco pessoas.”
“A ‘Achiezer’ foi a primeira organização de beneficência judaica no Brasil e muito
ajudou os novos imigrantes a superar suas primeiras dificuldades econômicas, logo após
desembarcarem em um país tão grande e que lhes parecia ser tão estranho. Quando o
dinheiro das mensalidades não era o suficiente, a Achiezer fazia campanhas entre os mais
ricos, e se assim mesmo não fosse suficiente, organizavam-se espetáculos teatrais, sob
direção de Isaac Méier Bronstein, que descanse em paz! Essa ‘troupe’ tinha um objetivo
duplo: a) evitar que a comunidade freqüentasse o teatro das ‘mulheres alegres’; b) reforçar
o fundo monetário da Achiezer. Esses dois objetivos foram alcançados e ao mesmo tempo
foram descobertos excelentes talentos, que davam imensa satisfação à comunidade. Desse
modo, a Achiezer, além da atividade financeira, desenvolveu também atividade cultural e
social. Com o passar do tempo, fundou-se uma biblioteca, que constituiu a atual Scholem
Aleichem. Alguns meses após a fundação da Achiezer e da biblioteca, foi criada em São
Paulo uma biblioteca sob a presidência de Abraham Kauffman.”492
“Nossas atividades, seja no campo social ou no cultural, se intensificaram. Eu assistia
obrigatoriamente a todas as apresentações da ‘trupe’ dramática, para evitar que os artistas
492
Abraham Kauffman fundou a Biblioteca Israelita de São Paulo, em 1913, pouco após a criação da primeira
instituição judaica asquenazita na capital paulista com o nome de Comunidade Israelita de São Paulo ou
Kehilat Israel, com a seguinte diretoria: presidente Idal Tabacow, vice-presidente Abraham Kauffman,
secretário Jacob Nebel, vice-secretário Isaac Tabacow, tesoureiro Bernardo Nebel, vice-tesoureiro Israel
Ticker, fiscais Hugo Lichtenstein, Miguel Lafer e José Nadelman. Foi comprada uma casa na rua da Graça,
26, esquina da rua Correia dos Santos, na qual se instalou a sinagoga.
301
brigassem, e era necessário cuidar com zelo para que o trabalho seguisse seu ritmo normal e
em harmonia. Mais tarde, passamos a comemorar as festividades judaicas, a organizar
bailes, noites literárias e outros eventos, tudo isso numa excelente atmosfera judaica”.
Jacob Schneider passou a exercer verdadeira liderança na pequena
comunidade judaica, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e além de sua participação
na formação da sociedade Achiezer, ele daria o primeiro passo na fundação da Tiferet
Sion, que constituiu a primeira entidade sionista no Brasil. Foi em sua loja, Casa Sion,
que, em março de 1913, reuniram-se cerca de 15 jovens, sob iniciativa de pessoas cujos
nomes são lembrados nas “Memórias”, em uma narrativa curta sobre o acontecimento,
que já lembramos em outro artigo sobre a história do sionismo no Brasil e que passamos
a transcrever:
“(...) Apareceram em minha loja três jovens indagando se eu era judeu e
também sionista, pois viram a placa de fora da loja com o nome da firma, ‘Casa Sion’.
Um dos três jovens era Rabinovich, jovem sionista de Viena, o outro Margalith,
recentemente chegado ao Brasil e mais tarde residente em Belo Horizonte, e o terceiro
era o representante comercial de Rabinovich no Rio. Diante de minha afirmativa – e
como prova estava ali o nome de minha loja – , Rabinovich propôs reunir os jovens, que
por ventura julgássemos ser sionistas e simpatizantes, a fim de fundar uma organização
no Rio. Naquela mesma noite, convidei à minha casa 15 jovens, e após a explanação de
Rabinovich, resolvemos fundar a primeira organização sionista no Brasil, a qual
denominamos ‘Tiferet Sion’. Propuseram-me que eu fosse seu primeiro presidente;
porém, não aceitei, devido ao meu trabalho intensivo na Achiezer. Desse modo, o
presidente designado foi Sinai Feingold; Nachum Roitberg, secretário; Jacob Schneider,
tesoureiro; Benzion Snitkovski, Boris Tendler, Samuel Galper, Boris Tcharni, e outros,
vogais. De imediato, entramos em contato com a Organização Sionista Mundial, em
Londres, e começamos a coletar fundos para o Fundo Nacional Judaico”.
A Tiferet Sion desempenharia um papel importante no desenvolvimento do
sionismo no Brasil, e por ela passaram boa parte dos primeiros ativistas do movimento,
conforme já demonstramos em outro lugar.493
AMOR À PRIMEIRA VISTA
.
Em 1914, após a deflagração da Primeira Guerra Mundial, chegariam ao Brasil
o irmão mais velho de Jacob Schneider, Marcos (Mordechai), e sua irmã Leike. Isaac
Tabacow, nessa ocasião, já morava, juntamente com a família, em São Paulo. Jacob
Schneider, ainda solteiro, resolvera, juntamente com um amigo, Salomão Burdman,
viajar a negócios para a América do Norte, mas também passar pela Inglaterra, Eretz
Israel e mesmo Sokoron, a fim de encontrarem moças com as quais pudessem casar, o
que era usual na época. Porém, antes da planejada viagem, ele foi a São Paulo para se
despedir de sua irmã, dos bons amigos e da família de Isaac Tabacow. Durante os dias
em que se encontrava na casa de Tabacow, veio visitá-lo a viúva de um amigo, Eliezer
Constantino, que havia estado nos Estados Unidos e resolvera fixar residência no Brasil.
Eliezer Constantino falecera repentinamente, ainda antes de completar 50 anos, deixando
493
O primeiro presidente foi Sinai Feingold, seguindo-se a ele Max Fineberg, que, por sua vez, foi sucedido
por Júlio Stolzenberg. Este último ao mudar-se para Curitiba , ainda em 1916, foi novamente sucedido por
Sinai Feingold.
302
esposa e dois filhos, na época, um menino de 5 anos, o conhecido e futuro advogado
Marcos Constantino, e sua irmã, Cyla, que despertou no jovem Jacob Schneider um
amor à primeira vista. O noivado não tardaria a ser estabelecido, logo em seguida, e em
28 de julho de 1914, Jacob Schneider, juntamente com Salomão Burdman, embarcariam
em direção aos Estados Unidos, não sem antes terem sido homenageados com banquetes
oferecidos pela Achiezer e Tiferet Sion. A Primeira Guerra Mundial os surpreenderia
durante a viagem, que passou a ser verdadeira aventura pelo perigo que os espreitava,
pois podiam ser interceptados por navios inimigos. Ao voltar de sua curta viagem aos
Estados Unidos, Jacob Schneider traria sua futura esposa ao Rio, juntamente com sua
família, e se casaria em 15 de janeiro de 1915.
Naqueles anos da Primeira Guerra Mundial, em 1916, foi formado no Brasil
um Comitê de Socorro às Vítimas da Guerra, seguindo o modelo da associação Joint,
criada dois anos antes, nos Estados Unidos. Jacob Schneider se antecipara numa
primeira campanha pessoal de coleta de fundos com esse fim, conseguindo reunir, em
poucos dias, 1.600 réis, os quais remeteu ao Joint. Com a formação do Comitê, ele
impôs que parte do dinheiro arrecadado fosse também destinado às vítimas da guerra na
região de Eretz Israel, e mesmo com vozes discordantes, conseguiu impor seu ponto de
vista, organizando a primeira demonstração pública sionista no Rio de Janeiro, com a
participação dos membros da Tiferet Sion, crianças que carregavam bandeirinhas e
pessoas que aderiram ao ato público, conforme nos noticia o jornal “A Columna”.
O Comitê Brasileiro de Socorro aos Israelitas Vítimas da Guerra formar-se-ia
em fevereiro de 1916, com a seguinte composição: presidente, Max Fineberg; secretário, B.
Snitkovsky; correspondente, Sinai Feingold; tesoureiro, J. T. Lerner. Como membros do
Conselho figuravam Michel Duchowni e Fischel Choen (pela sinagoga Beit Yacov),494
D.
Feldman e J. Spector (pela Organização dos Sekuroner); J. Critz e S. Westel (pelos
Varsovianos); A Schneider e Ch. Morgenstern (pelos Libkoner); A. Gurfinkel e H.
Yampolsky (pelos Mohilever); B. Snitkovsky e S. Feingold. (pelos Yednitzer). O Comitê
reunir-se-ia à rua Senador Euzébio, 35, na residência de J. T. Lerner, tesoureiro da entidade.
Apesar de tudo, devemos considerar que, mesmo antes da constituição do Comitê,
campanhas individuais ou não-oficiais se fizeram, em dezembro de 1915/ janeiro de 1916,
por ocasião da transferência de um Sefer Torá para a sinagoga Beit-Yacov, e em fevereiro
do mesmo ano. Dia 26 de março de 1916 foi celebrado o Jewish Flag Day, que teve a renda
fantástica de 5 contos e 580 mil réis. Receberam destaque especial, devido à sua dedicação
pessoal para o bom sucesso desse dia, as senhoras Mittelman e Markenzon, e senhoritas
Aisen, Guerschenzon e Ester Lent.495
O nome de Jacob Schneider apareceria em várias das
campanhas efetuadas em prol do Comitê, conforme notícias publicadas no periódico “A
Columna”, tais como a da relação dos donativos recolhidos em reunião da Associação
Sekuron, na sinagoga Beit-Yacov, ou ainda no dia 14 de maio de 1916, quando se realizou
494
A sinagoga Beit Yaacov foi fundada em 1916 e seus estatutos foram regularizados a 15 de junho de 1916.
As finalidades da associação visavam: a) fundar e manter uma sinagoga; b) prestar auxílio moral e religioso a
todos os associados. A primeira diretoria e sócios fundadores foram: Salomão Izaksohn, presidente; Boris
Kuschnir, vice-presidente; Boris goldenberg, tesoureiro; Fischel Schsschnik, 1. Secretário; Joseph Spector, 2.
Secretário; Lipa Schechter, Joseph Fichman, Samuel Gerschensohn, Joseph Schoichet, David Handelmann e
Miguel Duchowni. Vide “A Columna”, 1 de setembro de 1916. 495
Filha de Hano Lent, contrairia matrimônio com Maurício Fineberg. V. “A Columna”, 28 de setembro de
1916.
303
a celebração do El maleh rachamin, em memória dos que morreram durante aqueles anos
na Primeira Guerra Mundial. Na mesma ocasião, foi feita uma contribuição ao Fundo
Nacional Judaico.496
Após a coleta, ainda foi feito um leilão de objetos e jóias oferecidos
por várias pessoas, onde também aparece o nome de Jacob Schneider. O Comitê de Socorro
aos Israelitas Vítimas da Guerra, que tinha sua central em São Paulo no Rio de Janeiro,
estimulou a formação de Comitês em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Curitiba497
e outros
lugares, onde as doações muitas vezes se faziam em nome pessoal, assim como em nome
de comunidades locais, incluindo-se as mais distantes, do Sul ao Norte extremos do país. O
evento a que nos referimos mais acima ocorreu em 21 de maio de 1916 e faz parte do início
do movimento sionista no Brasil, sendo descrito no “A Columna” nos seguintes termos:
“Mais de 70 crianças israelitas em formatura partiram da praça Onze de junho, em demanda
dos automóveis que as guardavam um pouco abaixo, perto da avenida do Mangue. As
bandeiras nacional e sionista, desfraldadas ao sopro de suave brisa, abriam o préstito. Às
duas horas da tarde, entravam na Quinta (da Boa Vista) e, pouco a pouco, foram chegando
carros e automóveis, conduzindo famílias e cavalheiros, até ser bem numerosa a
concorrência, que tornou animadíssima a festa. Às quatro horas, pouco mais ou menos,
principiou a execução do programa. Os meninos cantaram o hino à bandeira, e em seguida,
o hino sionista, em hebraico. Tiveram a palavra David J. Perez, que falou em português,
senhor Rotberg, secretário da Tiferet Sion, em hebraico, e senhor Schneider, em ídiche.
Seguiu-se o leilão, cujo resultado vem abaixo descrito. Seu produto é destinado a socorrer
os judeus que, na Palestina, ficaram sem recursos, em vista da situação anormal criada pela
guerra”.498
A atividade de Jacob Schneider no sentido de criar uma comunidade
organizada e em moldes mais avançados, além das tarefas imediatas no setor de
beneficência, levou-o a participar de uma idéia que surgiu na segunda metade de 1915, a da
criação de uma Comunidade Israelita. Em reunião de 13 de fevereiro de 1916 realizada no
Centro Israelita do Rio de Janeiro foi resolvido que a comunidade deveria “levantar um
templo com três partes para os devidos ritos (supomos o sefaradita, o centro-europeu e o
asquenazita da Europa Oriental), um cemitério para cujo fim já existe a devida licença, um
registro geral de todos os israelitas do Rio de Janeiro e tudo o mais que possa servir aos
interesses da religião”. Constituiu-se para esse fim um Comitê provisório com Alfredo E.
Kohn, Joseph Kompinski, David J. Perez, Teodor Badmann, Barros Tendler, Álvaro de
Castilho, Maurício Tangir e Jacob Schneider. Após esse encontro marcou-se uma nova
reunião do Comitê para 27 de fevereiro, “convocando-se todos os correligionários para
assisti-la e ser votada a diretoria definitiva”. Além de Jacob Schneider e os nomes
apontados acima estiveram presentes naquele encontro Isidoro E. Kohn, Salomão
496
“A Columna”, 2 de junho de 1916. 497
Nos números de 4 de maio e 1 de junho de 1917 do periódico “A Columna” lemos que “o Comitê Pró-
Israelitas Vítimas da Guerra de Curitiba não poupa esforços para angariar meios, a fim de socorrer nossos
irmãos de além-mar, assolados pela guerra. Há poucos dias, alguns amigos ofereceram ao Comitê os seguintes
objetos: um relógio de ouro, um alfinete de ouro com brilhantes, uma medalha de ouro, um anel de ouro e
uma cigarreira de prata. Para que se tornasse o mais rendoso possível, o Comitê resolveu fazer uma rifa de mil
bilhetes a 1$000, em cinco prêmios, sorteados pela Loteria de 28 de abril. Ao que soubemos todos esses
bilhetes foram vendidos. O Comitê paranaense é composto dos distintos correligionários: Max Rosenmann,
Bernardo Schulman, Samuel Friedman, Max goldstein, Moisés Goldenberg, Moisés Retchulsky e Bernardo
Rosenmann. 498
“A Columna”, 7 de julho de 1916.
304
Gorenstein e Samuel Galper.499
Parece-nos que a idéia de comunidade (kehilá) não
vingaria, pois não temos outras notícias de sua formação e tão pouco de sua continuidade.
Sabemos, sim, que em 1924 ela ressurgiria com um ímpeto bem maior devido à iniciativa
de Isaías Raffalovich, e também com a participação de Isidoro E. Kohn, mas novamente
para cair no esquecimento após provocar uma celeuma e uma forte oposição de parte de
grupos e instituições comunitárias.500
PROPULSOR DA BENEFICÊNCIA
Era Jacob Schneider a mola-mestra para a atividade de apoio à população
judaica na Palestina, e em todas as ocasiões seu entusiasmo contaminava os demais, como
podemos verificar num relato de “A Columna”, onde lemos: “Certamente, há de ser
agradável aos sionistas relembrar o dia 12 de junho, em que se celebrou o segundo
aniversário do interessante Israel, filho de Júlio Stolzenberg, mui digno presidente da
Associação Tiferet Sion. Acorreram à sua residência muitos amigos para felicitá-lo, e
dentre os que brindaram ao aniversariante notamos o professor Schvarz, Isaac Rotberg,
Max Fineberg, J. Schneider e Linetsky. Seguiu-se uma festa recreativa, em que se cantaram
várias canções nacionalistas, e foram recitados depois, por Adolfo Klang, vários
monólogos, para o que se apresentou caracterizado à feição. J. Schneider mostrou como, a
par de bom cantor, é conhecedor das danças russas. Esse mesmo Sr. J. Schneider, antes de
terminar a festa, fez ver aos presentes que no meio da alegria e felicidade não devemos
esquecer os nossos irmãos que sofrem a ação da guerra. Procedeu-se imediatamente a uma
coleta, que rendeu 82 mil réis para o Fundo de Socorro da Palestina, e 41 mil réis, entregues
ao Comitê Pró-vítimas. E terminou a festa ao som da Hatikvá e com votos de felicidades ao
menino Israel e a seus estimados pais”.501
Durante o ano de 1917, o Comitê de Socorro aos Israelitas Vítimas da Guerra
continuaria sua atividade, congregando ao seu redor os ativistas e as entidades
comunitárias, entre elas, as sionistas, que viam assim uma forma de ajudar os judeus em
Eretz Israel, que estavam sendo perseguidos atrozmente por Djemal Pachá e os Jovens
Turcos. No dia 13 de maio desse mesmo ano, realizou-se grande manifestação pública, com
o fito de angariar fundos, e novamente na Quinta da Boa Vista. Falaram na ocasião Álvaro
de Castilho e David J. Perez, e o jornal do Rio “Gazeta de Notícias” publicou uma nota
completa sobre o acontecimento, destacando que foram arrecadados cerca de dois contos de
réis, entre donativos, vendas de bandeirinhas, leilão de prendas e outros oferecimentos. Na
comissão organizadora, figura em primeiro plano Jacob Schneider, além de Sinai Feingold,
Samuel Hoinef, Tuli Lerner e Samuel Linetzky.502
O nome de Jacob Schneider está ligado também a um evento que teve grande
repercussão no judaísmo brasileiro, no ano de 1917, merecendo nossa atenção em artigo
publicado em outro lugar, sob o título “O 1º Congresso Israelita no Brasil”. Por iniciativa
de Jacob Schneider, Júlio Lerner, Max Fineberg, Sinai Feingold, e outros, reuniu-se em 14
de julho de 1917, na Biblioteca Scholem Aleichem do Rio de Janeiro, uma Assembléia,
com a finalidade de “levar a efeito uma grande manifestação de solidariedade nacional com
499
A documentação no Arquivo de David J. Perez aborda a questão em mais detalhes. 500
V. Falbel, N., Jacob Nachbin, Nobel, São Paulo, 1985, pp.78-82. 501
“A Columna”, 7 de julho de 1916. 502
“A Columna”, 6 de julho de 1917.
305
os seus irmãos de raça, que ora se agitam em todo o mundo em prol da reconstituição
definitiva e firme de sua histórica pátria judaica, no território da Palestina”. Na ocasião,
David Perez, diretor de “A Columna”, encontrava-se enfermo e foi substituído por Álvaro
de Castilho, que fez um discurso programático, sugerindo a formação do 1º Congresso
Israelita no Brasil. Foi eleito, na ocasião, um Comitê Organizador, sob a presidência de
Isidoro Kohn, composto de um vice-presidente, Samuel Galper; 1º secretário, Ambrósio M.
Ezagui; 2º secretário, Benjamin Snitkovsky; tesoureiro, Lázaro Duek; vice-tesoureiro,
Marcos Nigri; membros do Conselho Fiscal, Moisés Mussafir, Marcos Fineberg, Jacob
Schneider, e Sinai Feingold.
De todos os lugares houve manifestações de apoio à iniciativa, e em Curitiba
chegou-se a organizar um Comitê local, composto de nomes representativos daquela
comunidade, tais como Max Rosenmann, Bernardo (Baruch) Schulman e Júlio
Stolzenberg.503
Também a Imprensa brasileira comentou amplamente o fato, e o “Jornal do
Comércio do Rio de Janeiro”, em seu número de 20 de outubro, anunciava que “os
israelitas aqui domiciliados pretendem realizar brevemente, nesta cidade, um congresso
nacionalista, a que deverão concorrer todos os delegados dos diversos núcleos judaicos
disseminados pelo nosso país (...). Esse Congresso, que se deve realizar no próximo mês,
tem por fim tomar conhecimento das diversas resoluções que presentemente foram
discutidas pelo Comitê Central do Sionismo (o correto seria da Organização Sionista).
Como a guerra atual tem determinado grande movimento de concessões liberais para o
judaísmo em diversos países da Europa, os comitês regionais estão se reunindo para traçar,
em definitivo, a conduta dos israelitas no mundo inteiro”.504
O jornal “A Epocha”, da cidade de Serpa (Itacoatiara), no Amazonas,
reproduziria essa notícia com um intróito entusiasta: “Como é sabido, desde há muito se
aventa a grandiosa idéia do Sionismo (...)”.505
Portanto, o eco na Imprensa brasileira sobre
o evento se fazia ouvir de Norte a Sul. Devemos entender que o Congresso Israelita no
Brasil, além de congregar os judeus, visava fins políticos claros e estava intimamente
ligado à situação do nacionalismo judaico às vésperas da Declaração Balfour. E, de fato,
em nota sobre o Comitê Organizador do 1o Congresso Judaico no Brasil, publicada na “A
Columna”, onde se mencionam “as declarações de solidariedade de muitas localidades dos
Estados do Pará e Amazonas, assim como Pernambuco e Ceará”, se informa que “deixamos
de publicar as resoluções tomadas em relação ao Congresso, assim como a orientação a ser-
lhe dada e indicações para sua constituição porque seu principal objetivo, que era pedir o
apoio do Governo da República para nossas aspirações nacionalistas, votando pela
restauração da Palestina no Congresso da Paz, já foi conseguido desde que os Srs. Drs.
Gonçalves Maia e Maurício Lacerda, deputados, vão propor à Câmara uma moção de
solidariedade ao Programa de Wilson, relativo à Palestina. Também pelo mesmo motivo,
não tornamos pública a correspondência vinda do interior da República, e que não foi
pequena, onde há a mais expansiva manifestação de solidariedade aos nossos objetivos”.506
Em suas “Memórias”, Jacob Schneider confirma que idéia do Congresso
passava a ser secundária no momento em que, na tribuna da Câmara, se ouviram vozes a
favor da criação de um Estado Judeu na Palestina e levantando a questão do anti-semitismo
503
“A Columna”, set., out., nov. e dez. de 1917. 504
“A Columna” ,3 de agosto de 1917. 505
“A Columna”, set.; out.; nov. e dez. de 1917. 506
Idem, ibidem.
306
que grassava na Rússia e na Romênia. Para tanto, foi designada uma comissão, constituída
de Jacob Schneider, Eduardo Horowitz e David J. Perez, que se encontraram efetivamente
com Maurício Lacerda e lhe entregaram o material concernente às questões a serem levadas
ao público brasileiro. Lacerda o fez com brilho, assim como faria pouco tempo após, por
ocasião da Declaração Balfour, que também solicitou a atenção e participação dos judeus
no Brasil.
Em 11 de novembro de 1917, a Tiferet Sion, no Rio de Janeiro, receberia um
telegrama assinado por Weizman e Sokolow, comunicando aos sionistas do Brasil o teor da
Declaração Balfour e solicitando que se enviassem os agradecimentos ao rei inglês, ao
mesmo tempo que se promovesse uma visita ao embaixador da Inglaterra no Brasil,
transmitindo-lhe os sentimentos de gratidão do povo judeu pelo acontecimento histórico.
Uma comissão formada por Jacob Schneider, Isidoro Kohn e David Perez incumbiu-se da
visita programada, levando o memorando com assinaturas de 15 instituições, onde se lia,
em suas palavras finais, que “V.Ex. se dignará de transmitir à Sua Majestade Britânica e ao
seu Governo as expressões deste nosso agradecimento (...).507
Em outubro de 1917, o comandante das forças britânicas no Egito, que lutavam
contra os turcos, o famoso general Edmund Allenby, encetava ofensiva na Palestina e em
poucas semanas dominava a região de Jaffa e Jerusalém, entrando na cidade a pé, sob os
aplausos da população judaica, que o via como libertador. Mas a transferência de parte de
suas tropas à França, na primavera de 1918, levou a que seu avanço fosse interrompido.
Somente em setembro de 1918, com a vinda de reforços da Índia e do Iraque e com a
participação da Legião Judaica, que se havia formado durante esse período, renovou sua
ofensiva, e com a vitória de Megido, passou a perseguir os turcos, que batiam em retirada,
chegando a capturar Damasco e Alepo, tornando-se, posteriormente, governador militar da
Palestina.
A vitória das forças britânicas na Palestina, a captura de Jerusalém e a
Declaração Balfour levaram a que o judaísmo mundial sentisse a aproximação do
ressurgimento de Sion, e foi sob o título de “Ressurgimento da Judéia” que o jornal “A
Rua”, no Rio de Janeiro, publicou entrevista reproduzida pelo “A Columna”, feita com
David J. Perez, seu diretor, onde se lê: “A vitória alcançada pelas armas inglesas no Oriente
fez correr um frêmito de entusiasmo, não só por todo o mundo cristão, como também pelas
populações judaicas esparsas pela Terra. Não viram indiferentemente esse feito militar os
israelitas que há tanto tempo vêm trabalhando aqui pelo velho sonho de uma pátria
livre”.508
E em agradecimento à visita da comissão formada por David Perez e Jacob
Schneider (Isidoro Kohn não pôde participar da mesma) para levar mensagem assinada
pelas 15 organizações judaicas do Brasil, o embaixador britânico no Rio de Janeiro, Arthur
Peel, escrevia a David Perez, em 1º. de abril de 1918, uma carta, onde se lia: “Sir, with
reference to the interview which I had with you and Mr. Jacob Schneider, in December last,
at which you conveyed to me an address of congratulation from the Jewish Community in
Brazil on the capture of Jerusalem by the British Forces, I have received the instructions of
His Britannic Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign Affairs to inform the
signatories o this address that it has been duly laid before His Majesty, King George V, and
507
Idem, ibidem. 508
“A Columna”, ser., out., nov. e dez. de 1917.
307
the His Majesty desires me to convey an expression of His thanks for their message. I am,
Sir, your obedient Servant, Arthur Peel”.509
VOLUNTÁRIOS JUDEUS
A luta militar no território da Palestina, que estava associada à esperança de
realização do ideal sionista da criação de um Estado judeu naquela região, levou a que se
juntassem ao Exército britânico e à Legião Judaica voluntários judeus vindos de vários
lugares e países do mundo. Também da Argentina se apresentaram jovens, que, ao
passarem pelo porto do Rio de Janeiro na manhã de 9 de outubro de 1918, foram recebidos
com uma manifestação pública organizada pela comunidade judaica local, constituindo-se
num momento importante na história do judaísmo brasileiro. Em 10 de outubro daquele
ano, a “Gazeta de Notícias” informava sobre uma “bela festa da colônia israelita, em
homenagem aos seus compatriotas que seguem para a guerra” e que tinham chegado no
vapor “Demerara”, num total de 52 voluntários que iam se incorporar aos Exércitos aliados,
ora em luta pela causa da civilização e do Direito.
A manifestação foi organizada pela Associação Sionista Tiferet Sion, “que, à
tarde, pôs à disposição dos seus compatriotas diversos automóveis, improvisando assim
uma bela passeata pelo centro da cidade, à frente da qual ia um auto conduzindo uma
comissão de senhoras empunhando as bandeiras das nações aliadas. À noite, na sede da
associação, após a passeata, houve uma solenidade, tendo o Dr. David J. Perez, em
castelhano, saudado, em nome dos israelitas daqui, os voluntários patrícios, rememorando
fatos históricos de dois mil anos atrás, ocasião em que esse povo heróico deixara gravada
em letras de ouro toda a pujança de sua virilidade. Terminando, disse que o governo da
Grã-Bretanha, pela boca de seu representante aqui, mandava saudar os voluntários
israelitas”.
Ainda naquela ocasião, relata a “Gazeta de Notícias”, falaram o reservista do
Exército brasileiro, Gustavo Adolpho Bulle, do 52º batalhão de Caçadores, que fez uma
alocução cheia de entusiasmo e patriotismo; o Sr. Aron Attia, o Sr. Tavares Elias, em nome
da imprensa, e o voluntário Dr. M. Menchas, comandante do corpo de voluntários. Após a
cerimônia pública, o cortejo dirigiu-se para a rua General Câmara, 335, sede da Sociedade
Israelita Síria, onde os manifestantes, sempre aos vivas, se dissolveram. A “Gazeta de
Notícias” ilustra esse acontecimento marcante na vida da comunidade judaica do Rio de
Janeiro com fotografias da manifestação e dos voluntários.
No livro de memórias de um participante da Legião Judaica, publicado em
1938 em Montevideu com o título “Zichroines fun Idichen Legion” (Memórias da Legião
Judaica), de M. Krel, lemos a descrição da chegada do grupo de voluntários argentinos ao
porto do Rio de Janeiro: “Chegando ao Rio de Janeiro ficamos entusiasmados ao
encontrarmos uma orquestra e muitos judeus que vieram nos recepcionar. Levaram-nos em
automóveis, e em parada militar desfilamos pela bela avenida. A nossa apresentação em
uniforme e a parada causaram uma forte impressão, e o Brasil naquela ocasião havia
declarado guerra à Alemanha. O ódio a ela era grande, e a população local lotou as
calçadas, dizendo um ao outro: esses são soldados do exército judeu que vêm de todos os
cantos do mundo para conquistar a Palestina. A população brasileira se mostrou muito
509
No arquivo de David J. Perez encontram-se os textos da Mensagem , datada de 11 de dezembro de 1917,
bem como a resposta de Sir Arthur Peel. Na “ A Columna” encontra-se o texto em português.
308
amigável para conosco, e as pessoas se viam honradas em nos homenagear com bebidas,
levando-nos a visitar os belos lugares daquela cidade maravilhosa. A população judaica
rejubilava de alegria e sentia-se orgulhosa. Tratava-nos como algo precioso, e no tempo em
que intelectuais do mundo discutiam se nos éramos um povo ou não, passeávamos pelas
ruas brasileiras como uma parte do exército judeu. Nossa partida da Argentina e do Brasil
foi triunfal, trouxe orgulho à população judaica e prestou ao sionismo, com certeza, um
serviço valioso”.
Portanto, a passagem dos voluntários argentinos adicionaria muito ao
entusiasmo nacionalista entre os judeus brasileiros, que sentiam a transcendência dos
acontecimentos naquele fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Esse entusiasmo foi
crescendo desde que Sokolow e Weizmann remeteram o mencionado telegrama de
novembro de 1917, relativo à Declaração Balfour. A expressão desse nacionalismo que
despertava entre os membros da comunidade se revela através de dois documentos, que se
encontram no arquivo de David J. Perez, sendo o primeiro uma carta da Associação Tiferet
Sion, dirigida ao respeitado professor, e onde se relatava a realização, em 27 de novembro,
“devido aos telegramas ultimamente recebidos dos chefes sionistas de Londres”, que foi
eleito um comitê “Pró-Palestina” de nove pessoas, “para atenderem ao trabalho nacional
que é necessário neste momento. Esse comitê foi encarregado de convidar a representação
das sociedades israelitas, assim como outras de sua confiança”, e convocava David Perez
para assistir a um próximo encontro, que deveria se realizar em 2 de janeiro de 1918, na
Biblioteca Scholem Aleichem. Na ata manuscrita da reunião do dia 27 de novembro, na
qual se resolvia enviar a mensagem de solidariedade a sua Majestade Britânica,
mencionada acima, agradecia-se ao Governo inglês e “declara solicitar que determinem a
realização de seus ideais – o Estado Judeu na Palestina”. De outro lado, mais uma vez, a
voz de Maurício Lacerda se levantaria para marcar o evento, propondo na Câmara e no
Senado que se saudasse a Inglaterra pela vitória de Allenby e pela Declaração Balfour.
Jacob Schneider diria, em suas “Memórias”, que “isso, para os judeus brasileiros, foi um
grande triunfo político”, acrescentando que muito se comentou na imprensa judaica
argentina, criticando-se os dirigentes locais, “que não estavam à altura, ainda que fosse bem
maior, do que a comunidade judaica brasileira.”
Tiferet Sion, que era o núcleo mais ativo do movimento sionista no Brasil,
aproveitou para mandar mensagens aos ministros e representantes da Itália, Inglaterra,
França e Estados Unidos, bem como ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, pela
vitória dos Aliados, cujo texto dizia: “A Sociedade Sionista ‘Tiferet Sion’, interpretando os
sentimentos dos Israelitas do Brasil, envia a Vossa Excelência a expressão sincera do seu
júbilo pela vitória dos Aliados, à qual a política de V. Ex. associou os destinos desta grande
República, pátria benfazeja de inúmeros Israelitas, os quais confiam ainda que a
continuação dessa política lhes ampare a sua secular aspiração nesta aurora da liberdade
dos povos”.510
O término da Primeira Guerra Mundial anunciava novas esperanças à
concretização dos ideais nacionalistas judaicos, em muito estimulada pela negra miséria e
as terríveis vivências das populações judaicas espalhadas nas aldeias da Europa Oriental e
no extenso território do Império Czarista, que ruía fragorosamente durante aqueles anos de
batalhas sem fim.
O comportamento do Exército russo, se assim podemos denominar as hordas
indisciplinadas e brutais de cossacos que o compunham, que atacava impiedosamente a
510
Arquivo David J. Perez.
309
população judaica das aldeias e cidades por onde passavam, foi descrito em um texto
clássico pelo escritor Anski, que, naquela ocasião, testemunhou o anti-semitismo virulento
e cruel de oficiais e soldados, como médico de campanha que recebera licença para auxiliar
a diminuir o sofrimento e a dor daquela gente.511
O grande número de refugiados exigira
um esforço, por parte das organizações judaicas de todo o mundo, em dar assistência
àqueles que tinham perdido tudo e não sabiam como reconstruir suas vidas. Ao mesmo
tempo, o movimento sionista concentrava sua atividade na obtenção de seu objetivo
máximo, que era a formação de Estado Judeu, ou como a Declaração Balfour havia
formulado: um Lar Nacional Judaico para os milhões de judeus que tinham perdido seu lar
durante os anos de guerra.
CONFERÊNCIA EM SAN REMO
Em abril de 1920, resolveu o Conselho Supremo da Conferência de Paz de
Paris dos Países Aliados, que se reuniu em San Remo, outorgar à Grã-Bretanha o Mandato
da Palestina. Conforme essa resolução, o Conselho redigiu os termos do acordo de paz com
a Turquia, que passou a ser denominado, posteriormente, de Acordo de Sèvres, e que, no
seu item 95, incluía o texto da Declaração Balfour sobre a criação de um Lar Nacional
Judaico na Palestina.512
Naquele tempo, telegramas pedindo o apoio da Inglaterra para o
estabelecimento do Lar Nacional Judaico chegavam de todos os lugares, e os Governos do
Canadá e da África do Sul se dirigiram oficialmente ao governo inglês com esse objetivo.
Na ocasião, personalidades centrais do movimento sionista foram a San Remo,
para apresentar o ponto de vista sionista, e entre eles se encontravam Sir Herbert Samuel,
Zvi Peretz Chajes e Angelo Levi-Bianchini. Apesar das dificuldades e objeções,
principalmente dos delegados franceses presentes à Conferência, finalmente foram
aprovadas as decisões pró-sionistas.
Também o Brasil esteve representado na Conferência de Paz, com uma delegação chefiada
pelo senador Epitácio Pessoa. Jacob Schneider, em suas “Memórias”, lembra que “nós,
sionistas, decidimos procurá-lo para entregar-lhe um Memorando513
e pedir-lhe que
defendesse os interesses judaicos, e principalmente, que se concretizasse a Declaração
Balfour. Por telefone, pedi a Maurício Klabin, de São Paulo, bom sionista e pessoa
altamente conceituada no Brasil, que se incorporasse à nossa comissão na visita ao senador.
Ele atendeu ao convite, vindo no dia seguinte ao Rio e juntando-se a mim, ao Dr. Perez e
Horowitz (Eduardo). O senador prometeu que, na oportunidade, atenderia ao nosso pedido,
em nome da comunidade judaica, e cumpriu sua palavra. Dias após dia, acompanhávamos
as notícias dos jornais sobre o transcorrer da Conferência em San Remo, e com muita
satisfação e alegria recebemos a notícia sobre a outorga da administração da Palestina às
mãos inglesas. Nós, judeus do Brasil, sentimo-nos satisfeitos em cumprir nosso dever e
511
“Der yidischer churben fun Poilen ,Galitzie un Bukovine, fun tog-buch 1914-17” (A destruição do
judaismo da Polônia, Galitzia e Bukovina), Varsóvia, 1921. O volume faz parte dos “Geklibene Schriftn” de
Anski, e constitui um dos documentos mais significativos sobre a tragédia judaica , durante os anos da guerra
na Europa Oriental. 512
Sobre a Conferência de San Remo e as resoluções relativas à Palestina , veja-se o livro de autoria de
Bernard (Dov) Yosef, “Há-Shilton há-Briti be-Eretz Israel” (O domínio britânico na Palestina), Jerusalém,
1948. 513
O texto desse Memorando encontra-se no Arquivo David J. Perez.
310
fizemos o possível para ativar a representação política brasileira nas negociações da arena
política internacional, em favor de nosso povo e da causa sionista”.
Mas, apesar do otimismo de Jacob Schneider quanto à participação do Brasil na
Conferência de San Remo, sabemos, por carta enviada a Maurício Klabin pelo secretário
político do Executivo da Organização Sionista, que ela foi quase nula.514
Os ecos do resultado da Conferência de San Remo repercutiram em todo o mundo, e
também na comunidade judio-brasileira, chegando a atingir outras comunidades, além da
do Rio de Janeiro, conforme podemos verificar pelo convite impresso em Curitiba, em 1º
de julho de 1920, e assinado por Júlio Stolzenberg, Bernardo Schulman a Salomon Scop,
em que convidavam “a assistir à festa em regozijo pela vitória obtida pelo povo judeu na
conferência do Supremo Conselho em San Remo, ocasião em que a Palestina foi
reconhecida como Pátria Nacional Judaica. A festa realizar-se-á em 10 de julho, às 7 horas
da tarde em ponto, na Rua Barão do Rio Branco.”515
O jornal Comércio do Paraná, naquela ocasião, publicava um artigo sobre a
conferência de San Remo e a designação de Sir Herbert Samuel como o primeiro alto
comissário britânico na Palestina, elogiando a comunidade israelita de Curitiba “como em
todo o mundo se mantiveram em coesão, trabalhando em comum pelo grande ideal que os
animava num labor continuado e perene. Servia de núcleo para esta magnífica
conseqüência de esforços o Comitê Central Israelita composto dos senhores Max
Rosenmann, Júlio Stolzenberg, Bernardo Schulman, Julio Schaja, Samuel Friedman,
Miguel Flaks, Frederico Flaks, Slomon Guelman, Salomão Scop, Nathan G. Paciornik,
Bernardo Gertel, Moisés Rachulsky e Luiz Feinowitz, membros de destaque da colônia
(...)” É aos membros deste Comitê que apresentamos os nossos parabéns efusivos e efusivas
felicitações pelo ato do Conselho de S. Remo reconhecendo a Palestina como Pátria
Nacional Judaica.” O número de agosto de 1920 do jornal Kol Israel do major Eliezer
Levy, em Belém do Pará, dedicava suas linhas à conferência de San Remo, e um artigo
definia Herbert Samuel como o primeiro governador da Palestina Hebraica.
No Rio de Janeiro, a Tiferet Sion, ainda ligada ao acontecimento em San Remo,
imprimiu um convite, no qual pedia o comparecimento a uma “reunião especial não-
partidária de todos os membros da nossa colônia, que são conhecidos pelo seu interesse
pela sorte do nosso povo”, na Biblioteca Scholem Aleichem, no dia 1º de maio. O convite
começava com palavras enfáticas e impregnadas de orgulho e esperança: “Bateu a grande
hora! O Conselho Supremo das Nações, reunido em San Remo, resolveu criar na terra de
Israel um Lar Nacional para o povo judeu. Reunimo-nos, então, para deliberar os deveres
da nossa colônia e definir a nossa participação na reconstrução de nosso povo.” E o convite
terminava com a frase: “Que sejamos dignos do grande momento!”516
A vida judaica no Brasil do pós-guerra começou a sofrer modificação significativa
devido à imigração massiva que se dirigia ao Rio de Janeiro e outras cidades de nosso
território, engrossando, assim, a população judaica e exigindo a formação de instituições e
514
Central Zionist Archives, Z4/ 2350. O texto integral da carta é o que se segue: “3rd
November, 20. Senhor
Maurício Klabin, c/o The Consul-General for Brazil, 20, South Place, Finsbury, E.C.2. Sir, The Executive of
the Zionist Organization understand that you are desirous os ascertaining whether any part was palyed by the
Brazilian Delegation at the Pence conference in securing the recognition of the Jewish interest in Palestine. I
am directed to inform you that the Executive are not aware of any intervention in the matter on the part of
Senhor Pessoa and his colleagues. I, am, Sir Your obedient Servant, Acting Political Secretary. “ 515
Arquivo David J. Perez. 516
Arquivo David J.Perez.
311
sociedades que atendessem às necessidades da comunidade. Jacob Schneider, veterano
experimentado, assumiu papel de liderança na criação das instituições judaica do pós-
guerra.
A participação de Jacob Schneider na formação das instituições comunitárias
após a Primeira Guerra Mundial, quando o fluxo da imigração judaica no Brasil passaria a
ser considerável, nada mais era do que a continuação de sua atividade pioneira e de seu
espírito empreendedor, que se revelara logo nos primeiros anos de nosso século, ao pisar
em território brasileiro. Sua participação pessoal e seu nome encontram-se inscritos nas
primeiras Diretorias daquelas entidades, conforme atestam os documentos relativos à
história de sua gênese. Vejamos quais foram as entidades dentre as mais importantes
surgidas na época, e o papel desempenhado por Jacob Schneider no processo de formação
das mesmas.
Em primeiro plano, surgiu a necessidade de se criar um cemitério próprio, pois
os judeus que faleciam eram enterrados em cemitérios cristãos, e Jacob Schneider, em suas
Memórias, lembra que, em 1914, ao falecer um jovem judeu, ele teve de ser enterrado em
um cemitério não-judaico, o que levou um grupo de ativistas a se preocuparem em resolver
a questão de uma vez por todas. Ele relata que “o assunto levou vários anos, só em 1918
recebemos o alvará, sendo que o local era anexo ao cemitério cristão; no entanto, após uma
procura prolongada, encontramos outro lugar.517
Designou-se uma comissão de três pessoas
a fim de examinar o local e verificar o acesso por rodovia. O lugar agradou a todos e,
assim, resolvemos comprá-lo. Custou 25 contos de réis e, desse total, coletei pessoalmente
cerca de 70%.518
Fizemos uma cerca, construímos uma casa e compramos um carro
funerário, o qual foi vendido mais tarde, pois passamos, como até hoje, a fretar os carros da
Prefeitura.
Lembro-me que, por ocasião da compra do terreno, começaram a surgir
discussões sobre a questão quanto ao nome da entidade que figuraria na escritura. Existiam,
na época, duas sinagogas: a Centro Israelita (Merkaz Israel), a qual eu representava, e a
Beit Jacob. Propus que criássemos uma instituição com a finalidade específica de tratar
desses assuntos. E, assim, em 1920, fundamos a primeira irmandade funerária no Rio. E,
com o objetivo de mobilizar outros ativistas, evitei tomar parte na Diretoria, fazendo parte
tão-somente da comissão que angariava o devido numerário”. Sabemos que o terreno
adquirido para o cemitério judaico foi em Vila Rosali e seu primeiro presidente foi
Zidmund Chaimovitz, ainda que, anos antes, já existisse um cemitério dos judeus
sefaraditas e alemães, conhecido como cemitério do Caju.
Em 1920, a Achiezer, a primeira associação de ajuda ao imigrante no Rio, tinha
se dissolvido. E, por esse tempo, começava a se organizar uma nova entidade, que, em
1919, já era chamada Hilfs-Farein e, em 6 de abril de 1920, seria oficialmente reconhecida
com o nome de Sociedade Beneficente Israelita de Amparo ao Imigrante.519
O Hilfs-Farein
tinha como metas principais auxiliar, material e espiritualmente, os imigrantes, atendendo-
517
Em outro lugar de suas “Memórias”, Jacob Schneider relata que o advogado que tratava do assunto servia
também ao “elemento indesejado” e, em vez de passar a escritura ao grupo que estava adquirindo o terreno , o
fez em nome dos “tmeim”. Ele nos informa que a autorização obtida em 1918 era de um terreno próximo ao
cemitério católico , o que levou a procurar outro. 518
Jacob Schneider retifica, mais adiante, que o terreno custou 23 contos e que, dessa quantia ele coletou
40%. 519
Veja-se o Relatório e Balanço geral do ano 1928, ed. Gazeta Israelita, Rio, 1929.
312
os em suas necessidade iniciais, para se integrarem na sociedade brasileira e se tornarem
cidadãos produtivos e úteis. Ela se vinculava, na época, com sociedades do mesmo gênero e
de caráter internacional, que visavam promover a imigração judaica em países que os
pudessem receber e absorver. A vinda do rabino Isaías Raffalovich ao Brasil, em fins de
1923, permitiu que o Hilfs-Farein recebesse uma ajuda substancial dessas entidades
internacionais, a começar da J.C.A., ou seja, a Jewish Association Colonization, e,
posteriormente, da HIAS-HICEM-EMIGDIREKT. Jacob Schneider pertenceu também ao
grupo de iniciativa que promoveu as atividades do Hilfs-Farein. Por outro lado, sua esposa,
Cyla Schneider, já havia tomado parte em uma sociedade de senhoras israelitas de auxílio e
orientação às mulheres imigrantes, e isto em 1916, quando era importante que as moças que
aportavam em nosso país fossem protegidas e não tivessem nenhum contato com o
elemento indesejável. Sua primeira presidente, conforme nos informa Jacob Schneider, foi
Raquel Bergstein. Cyla Schneider faria parte do grupo fundador da Sociedade das Damas
Israelitas, (Froien Hilfs-Ferein), criada em 23 de dezembro de 1923, composto das
senhoras Sabina Schwartz, Sima Hoineff, Ofélia Kastro, Sara Tchornei e Sara Fineberg.520
Jacob Schneider tomaria parte, nesse tempo, também na fundação da escola
Maguen David, a primeira do Rio de Janeiro, e daria um apoio significativo a essa
iniciativa, que, já dois anos antes, começava a tomar corpo sob a iniciativa de alguns
ativistas do Rio, entre eles, Aron Goldenberg, grande entusiasta pela idéia, Leon Schwartz e
o professor David J. Perez, que foi o seu primeiro diretor.521
A Escola Maghen David seria inaugurada em 22 de abril de 1922 e contaria
também com o apoio da comunidade sefaradita, com a participação ativa de Taphael
Cohen, além de outros, tais como Alter Klein, David Bilmis e Wolf Kadichevitch, que
mobilizaram, juntamente com os demais, os meios para a realização do empreendimento.522
LÍDER NATURAL
Os primeiros anos da década de 20 seriam decisivos na formação das
instituições judaicas no Brasil, mas também na afirmação de um movimento sionista que
havia encontrado seu líder natural em Jacob Schneider, como já vimos anteriormente, e que
então se dispunha a uma ação mais organizada e abrangente no judaísmo brasileiro como
um todo.
Uma das causas principais para essa movimentação seria o esforço despendido
para a instalação do Mandato Britânico na Palestina e a animação da Organização Sionista
Mundial ao redor do mesmo, que seria objeto da Conferência de San Remo. No Brasil, já
520
A primeira diretoria, de 1923 a 1924, era composta de: presidente Sabina Schwartz; vice presidente Ofelia
Kastro; secretária Tuba Fridman; tesoureiras Enta Lerner e Tcharni Holtzman; colaboradoras Sara Tchornei,
Cyla Schneider, Sara Fineberg, Liza Tiomni, Zina diamante, Sima Hoineff, Mina Duval. V. Parnes, Ida e
Nelson Vainer, História da Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do Rio de Janeiro, Liv. Freitas Bastos,
Rio e São paulo, 1961. Na assembléia de fundação , em 23 de dezembro de 1923, estiveram presentes cerca
de 150 senhoras e foi criado o primeiros fundo, no valor de 5.165$00, uma soma significativa para a época.
Foi constituido o quadro social , com a contribuição mensal de cinco mil reis. A Sociedade desenvolveria uma
atividade social ampla, dando assistência às mulheres recém-chegadas, proteção às gestantes, assistência
médica domiciliar a mulheres enfermas e sua internação, criação de um Lar da Criança e, mais tarde, a criação
de um Asilo de Velhos. 521
No arquivo de David Perez encontram-se vários bilhetes de Aron Goldemberg, dirigidos a ele, solicitando
sua participação em reuniões do grupo de iniciativa para a criação da escola. 522
Ilustração Israelita, n.1, agosto de 1928.
313
no ano de 1920, apresentavam-se várias organizações sionistas, a saber, a mais antiga, a
Tiferet Sion, em São Paulo, fundada em 1916; a Ahavat Sion, no Pará, fundada pelo Major
Eliezer Levy, em 1918,523
e a Associação Sionista de Porto Alegre.
A Central Sionista em Londres mantinha uma correspondência com essas
entidades e tudo indica que a Shalom Sion de Curitiba, sob a direção de Júlio Stolzenberg e
Baruch Schulman, se mostrava mesmo disposta a liderar o movimento, como já nos
referimos em outro lugar, chegando a escrever nesse sentido, em 26 de janeiro de 1920,
uma longa carta a Londres, que, por sua vez, transmitiu seu conteúdo ao Fundo Nacional
Judaico, em Haia. Entre outras coisas, ela se propunha a ser reconhecida como a sede
central de uma Federação Sionista no Brasil, argumentando ser a única organização que
atuava continuamente em prol do movimento.
A Central de Londres, com tato diplomático e habilidade, respondia que não
poderia julgar sobre a questão sem ter o conhecimento dos detalhes sobre as organizações
Tiferet Sion no Rio de Janeiro, Ahavat Sion no Pará, e outras existentes no Brasil, que
deveriam compor uma Federação Sionista séria no país.
Também Maurício Klabin, que se encontrava nesse tempo em viagem pela
Inglaterra, entrava em contato com a Central em Londres, interessado em obter ajuda e
orientação para o movimento, que se mostrava bastante desperto.524
Em carta remetida pela
Central de Londres vemos que em Porto Alegre havia uma atividade sionista, com a
participação de Leib Bander, Simon Lerer, Lipe Valdman, Tobias Krasner e outros.525
Apesar de tudo, essa correspondência revela o quão pouco se sabia sobre o
judaísmo brasileiro, e um exemplo ilustrativo encontramos em um relatório, pouco exato,
feito com base em uma entrevista com Salomão Kastro, que se encontrava em Londres, em
julho de 1920, e cujas informações serviram ao Departamento de Comércio e Indústria do
Executivo Sionista para obter dados que lhe interessavam.526
Salomão Kastro, veterano
morador no Rio de Janeiro, revelava aos seus entrevistadores novidades que mostravam o
quanto a Europa ou o judaísmo europeu estavam pouco informados sobre o nosso país.
A correspondência com a Central Sionista em Londres também revela que a
Tiferet Sion no Rio de Janeiro passou a ser considerada a verdadeira força organizadora do
sionismo brasileiro e, em 1921, não havia mais dúvidas sobre a liderança do grupo
encabeçado por Jacob Schneider, que levaria a preparar um programa de ação visando
unificar as diversas entidades estaduais em uma futura Federação nacional.527
CRIADO UM PERIÓDICO
Como parte dessa entidade e visando um objetivo mais amplo, Jacob Schneider,
David Perez e Eduardo Horowitz tomaram a iniciativa de criar um periódico português, que
denominariam de “Correio Israelita”, e que deveria difundir as idéias sionistas, além de
servir de informativo à comunidade, que naquela ocasião não possuía um órgão de
523
A Ahavat Sion compôs sua primeira diretoria em 5 de outubro de 1918, figurando como presidente A.
Ribinik, Menassés Bensimon, vice-presidente; Eliezer Levy, secretário; José Bensimon, tesoureiro. 524
Central Zionist Archives, Z4/2350, carta em ídiche, escrita por Maurício Klabin, de 22/10/1920, e resposta
em ídiche do Executivo sionista em Londres, de 25/10/1920. 525
Central Zionist Archives, Z4/2350, carta em ídiche de 17/7/1920. 526
Central Zionist Archives, Z4/2350, relatório em inglês de 14/7/1920. 527
Central Zionist Archives, Z4/2350, carta em hebraico de 23/10/1921; carta em hebraico de 26/10/1921;
carta em inglês de 17/11/1921; carta em ídiche de 23/11/1921; carta em hebraico de 3/1/1922.
314
divulgação no Rio de Janeiro. Em Belém do Pará, e sob a iniciativa vigorosa e inteligente
do major Eliezer Levy, já saía à luz, desde 1918, um órgão, em português, que difundia as
idéias sionistas por aquela região, bem como em outros Estados brasileiros, intitulado “Kol
Israel” (“A Voz de Israel”). Eliezer Levy redigiu o periódico durante vários anos e, com
isso, plantou a semente do nacionalismo judaico no Norte, lutando, ao mesmo tempo,
contra a corrente de apatia que levava ao isolamento daquelas comunidades das demais
existentes no Sul do país.
Talvez devido a esse mesmo isolamento pela distância geográfica, que na época
tinha um significado maior devido às dificuldades de comunicação de uma região a outra, é
que se resolveu criar o “Correio Israelita”, no Rio de Janeiro, paralelamente à existência do
“Kol Israel”. Em 13 de março de 1921, Jacob Schneider escrevia um bilhete a David Perez,
pedindo-lhe para preparar um artigo para o jornal, que deveria sair em 16 daquele mês.528
“O Correio Israelita”, sob a redação de David Perez e Eduardo Horowitz, perduraria até
1923, quando surgiria, em novembro, o jornal “Dos Idische Vochenblat”, fundado por Aron
Kaufman, com o auxílio de um grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Eduardo Horowitz
dotado de espírito nobre, homem culto, com boa aparência de tipógrafo, se atiraria de corpo
e alma ao empreendimento. Ele havia chegado ao Brasil em 1916, vindo dos Estados
Unidos, com excelente bagagem de conhecimentos da cultura tradicional judaica e
universal e bom domínio do hebraico.
Desde o início, ele se ligou a Jacob Schneider movido pelos ideais nacionalistas
e passou a participar ativamente na vida comunitária judaica do Rio de Janeiro, onde fixou
residência. Eduardo Horowitz atuará como mentor intelectual do movimento ao lado de
Jacob Schneider, e servirá como secretário-geral durante os anos da estruturação da
Federação Sionista do Brasil, desde sua fundação, em 1922. Até quase o fim de sua vida,
ele será o modelo do ativista dedicado à causa que havia abraçado durante sua juventude,
ainda que tenha sofrido revezes pessoais e mesmo a injustiça de não ter sido reconhecido
devidamente como o mais qualificado para certos cargos de representação do movimento
no Brasil, por ocasião do surgimento do Estado de Israel e a formação de seu corpo
diplomático.
Mas, em 1921, muitas transformações iriam ocorrer com o nacionalismo
judaico no Brasil, pois Jacob Schneider e os que estavam próximos a ele procuravam obter,
nesse tempo, uma promessa da Central Sionista em Londres para o envio de um
representante qualificado ao nosso país. Como já vimos em outro lugar, a ocasião para se
conseguir tal intento chegou quando passou por aqui o dr. Alexander Goldstein, que vinha
de volta de uma viagem à Argentina e parou no Rio de Janeiro por algumas horas, para se
encontrar com os líderes sionistas locais. Alexander Goldstein encontrava-se na América do
Sul, em missão do Keren Hayessod, fundado recentemente, por resolução da Conferência
de Londres, em 1920.
Escrevemos em outro lugar o quanto a passagem de Alexander Goldstein determinou a
vinda do primeiro enviado pela Organização Sionista Mundial ao Brasil, o Dr. Yehuda
Wilensky, em 1921, que lançou os fundamentos para a criação de uma federação Sionista
do Brasil e a realização do Primeiro Congresso Sionista no país, em 1922, tendo Jacob
Schneider como protagonista central em ambos eventos.529
Em 1923 Jacob Schneider faria
528
Arquivo David J. Perez. 529
Sobre Yehuda Wilensky bem como sobre o Primeiro Congresso Sionista no Brasil vide os estudos
especifícos nessa mesma coletânea.
315
uma viagem a Romênia e a Palestina sobre a qual escreveu um “Diário” que retrata a
colonização na Terra Santa e os núcleos pioneiros que visitou encantado que estava com o
desenvolvimento que via em todos os lugares pelos quais passava. Ao voltar dessa viagem
entregou-se de corpo e alma e com redobrado entusiasmo a atividade sionista e trabalho
comunitário revelando uma energia impar no trato das questões que causava admiração
profunda aos que o cercavam. Ele continuaria ser um exemplo a todos que o conheceram e
conviveram com ele até o último dia de sua existência terrena deixando na memória do
judaismo brasileiro a lembrança de seu idealismo, fidelidade e amor a Israel, disposto a
todo sacrifício e pureza em suas convicções.
316
36. Identidade judaica , memória e a questão dos indesejáveis no Brasil
“Não profanes a tua filha fazendo-a prostituir-se; para que a terra não se prostitua e não
se torne incestuosa.” (Lev. 19:29)
A luta contra os traficantes de escravas brancas e a prostituição entre os judeus
foi importante para afirmar a identidade judaica desde o início da sua imigração no
continente sul-americano, e em especial na Argentina e no Brasil, onde os judeus eram
denominados “russos”, “turcos” e “polacos”, este último nome associado aos tmeim
(impuros) ou aos assim denominados chevre-leit (pessoal da sociedade ou do grupo), e,
portanto, evitado pelos judeus. O termo “polaco” passará com o tempo a ter a conotação de
traficante, ou cáften, assim como “polaca” equivalerá a prostituta aos olhos da população
não-judia.
Um dos melhores estudos sobre o tema do tráfico e da prostituição judia, de
autoria de Edward J. Bristow, Prostitution and Prejudice: The Jewish Fight against White
Slavery, 1870-1939,530
coloca o assunto sob uma ótica histórica correta, isto é, que o
combate encetado pelas comunidades onde quer que o fenômeno se fez notar foi uma
reação universal à exploração de mulheres por parte de criminosos que enlameavam o
nome judaico.
A atitude de autodefesa do povo judeu e sua identificação com o tráfico e a
prostituição passaram a ser uma preocupação comunitária desde o século passado, quando
se intensificou o processo imigratório da Europa Oriental em direção ao Ocidente,
paralelamente à grande concentração de judeus nos centros urbanos, onde viviam em
extrema pobreza. Se na Europa Oriental a prostituição judaica se concentrava nas grandes
urbes, tais como Varsóvia, Lodz e Odessa, por outro lado, o schtetl no qual vivia a maioria
da população judaica daquela região desconhecia sua existência factual, mesmo porque os
estilos de vida dessas aldeias não toleravam qualquer ruptura religiosa e moral que norteava
tradicionalmente essas comunidades, onde não havia lugar para tais “desvios”. A
prostituição era considerada uma transgressão grave desde os tempos bíblicos, uma vez que
também era identificada com o culto idólatra dos povos da região de Canaã e arredores, que
adotavam a prostituição como forma de culto aos deuses da fertilidade e que se conservaria
no mundo greco-romano da antigüidade. Nas comunidades medievais européias, a
legislação talmúdica era aplicada com todo rigor para qualquer transgressão dessa natureza
e a excomunhão, o herem, isto é, a exclusão do pecador, era a medida profilática
igualmente adotada. Por outro lado, o contato dos judeus com não-judeus sob esse aspecto,
eram proibidos, e judeus não poderiam freqüentar prostitutas ou casas de tolerância cristãs,
sob pena de morte ou severos castigos.
A emigração ao Ocidente, mais acentuadamente no século passado,
acompanhada da pobreza que levava mulheres a se prostituir sob a força das circunstâncias,
induzidas em boa parte por traficantes de escravas brancas, também contribuiu para a
formação de sociedades que procuravam combater esse mal. Na Inglaterra, nos inícios do século XX, onde a questão passava a ser preocupante para a comunidade devido à
530
Shocken Books, New York, 1983
317
concentração de um número expressivo de judeus e à existência de bordéis em mãos de
judeus, fora fundada uma London Society for Protection of Young Females, que procurava
proteger as possíveis vítimas do tráfico e combater os traficantes.
Bristow lembra que na década de 1820 um tal Ikey Solomon e sua esposa
montaram uma rede criminosa, que incluía uma cadeia de bordéis, e que o problema
“continuou através da década seguinte, e em 1837, o Rabino-mor, Salomon Hirschell,
obteve apoio da Sociedade Londrina para a Proteção de Jovens Mulheres”. Hirschel relata
que os traficantes de mulheres foram virtualmente excomungados da vida judaica. Quando
o tráfico de escravas brancas surgiu em outros lugares, após 1880, tal ostracismo social dos
traficantes pelos judeus decentes foi tentado em lugares distantes como Buenos Aires, Rio
de Janeiro, Johannesburgo, Constantinopla e Omaha. Ostracismo religioso, no entanto, é
uma sanção inócua numa era de secularismo, ao mesmo tempo em que a sociedade londrina
esforçava-se em processá-los.531
Mas a associação dos judeus com o tráfico e a prostituição nesse tempo
assumia uma nova faceta ao ser utilizado por facções anti-semitas como um argumento
político de grupos e partidos conservadores no Ocidente que formulavam o papel deletério
do judaísmo na civilização ocidental, como uma continuação da acusação medieval de que
os judeus demoniacamente visaram a destruição da sociedade cristã. Judeus eram vistos
como solapadores da moral e dos bons costumes cristãos e sem quaisquer escrúpulos para
explorar todos os meios para o seu enriquecimento material. O anti-semitismo alemão dos
anos 90 do século XIX fixava para o grande público a imagem do estrangeiro judeu
traficante de carne das mulheres cristãs.
Bem antes a literatura anti-semita na França, como os livros de Gougenot des
Moussean, Le Juif, Le Judaïsme et la Judaïsation, e de Edouard Drumont, La France Juive,
paradigmas da repelente literatura do gênero e impregnados de invencionices e rancor
inescrupuloso, também se referia à prostituição como parte da “moral” judaica. Com o
ingresso de judeus na prostituição e no tráfico, ao redor dos anos 60 e 70 do século XIX,
esse tipo de literatura passou a ser divulgada e aceita universalmente. Do mesmo modo,
quando o anti-semitismo dos anos 70 em diante, no Império Austro-Húngaro, adquiriu
dimensões maiores e transformou-se num movimento político organizado com Karl Lueger,
Franz Schneider e Ritter von Schönerer, os judeus eram associados com a prostituição e
vistos como etnicamente degenerados. De certa forma, procurava-se associar “o papel
destrutivo dos judeus” com a acusação de assassinato ritual, desde a Idade Média até o
presente, com outro meio de destruir e corromper a sociedade cristã: o tráfico e a
prostituição. E o efetivo envolvimento de judeus com estes últimos alimentava a
propaganda anti-semita, que generalizava a criminalidade e a perniciosidade da marginália
que fornecia argumentos aos grupos e partidos antijudaicos na Europa. Em particular em
Viena, a capital do Império Austro-Húngaro, os escândalos com traficantes e casas de
tolerância em posse de judeus passaram a ser amplamente difundidos com a clara intenção
de apontar os judeus como portadores do estigma da criminalidade, o que seria lembrado
por Hitler no Mein Kampf. Seria demasiado longo para os limites de nosso trabalho nos re-
portamos aos inúmeros lugares nos quais a associação entre judeus, genericamente
entendida como uma etnia ou “grupo alienígena à civilização européia”, e o tráfico de
531
Bristow, op. cit. p. 18. A verdade é que o "ostracismo religioso”, isto é, o herem, acompanhado do
ostracismo social, foi decisivo no combate aos traficantes e sua organização.
318
escravas brancas era acentuada pela propaganda anti-semita, do mesmo modo como
ocorreria um pouco mais tarde na Argentina e no Brasil.
O anti-semitismo moderno aproveitava-se dos fatos isolados e dispersos,
dando-lhes uma dimensão universal, e sob esse aspecto o judaísmo de nossos tempos
deveria enfrentar uma dupla frente de combate; a interna, para depurar as comunidades de
imigrantes desse elemento pernicioso para possibilitar uma identidade própria legal e aberta
onde quer que se encontrasse, e a externa, para evitar os estereótipos anti-semitas que
dificultavam a integração dos judeus na sociedade mais ampla.
Ativistas como Bertha Pappenheim e Sidonie Werner fundariam em 1904 uma
organização de mulheres, a Juedischer Frauenbund, com o objetivo de combater o tráfico
de escravas brancas, em especial de jovens da Europa Oriental. Sob a liderança de
Pappenheim, a organização expandiu-se rapidamente, e após 30 anos de existência,
agrupava cerca de 30.000 membros com 450 filiadas. Além do mais, visava a emancipação
da mulher através do sufrágio feminino nas eleições comunitárias, e acabou tendo uma
representação em foros nacionais e internacionais. Bertha Pappenheim fundou em 1914 um
instituto em Neu-Isenburg para mães solteiras, prostitutas e mulheres delinqüentes, e mais
tarde para crianças, dedicando-se a difundir a ética do trabalho social através de grupos de
estudo no Frankfort Lehrhaus. Ela viria a falecer em 1936, sendo substituída por Hannah
Kaminski (1887-1943), deportada e morta pelos nazistas durante a Segunda Guerra
Mundial.532
É sabido que as primeiras organizações operárias judaicas européias
ideologicamente definidas para o socialismo e ativas no combate ao capitalismo e seus
males também se engajaram na luta contra os traficantes de escravas brancas. Seus líderes
tinham consciência de que grande parte das causas para o surgimento do tráfico se
encontrava não somente no confinamento dos judeus devido ao anti-semitismo, mas a uma
política discriminatória adotada pelo Império Czarista e parte do Império Austro-Húngaro
que atingia a Rússia, Polônia, Bukovina, Galítzia, Romênia e outras regiões, gerando uma
multidão avassaladora de luftmenschen que procuravam desesperadamente sobreviver de
todas as maneiras e modos.
O processo de transformação dessas regiões da Europa Oriental, no século
XIX, confinados na Zona de Residência (Pale) onde viviam milhões de judeus que sofriam
as conseqüências da urbanização, a migração de massas do campo para a cidade, a
pauperização em grande escala, também nas cidades e no campo, acompanhado da
secularização e afrouxamento dos laços familiares contribuíram para o surgimento e
disseminação do fenômeno. Marginalidade, criminalidade, tráfico e prostituição parecem
ter um fundo sócio-econômico comum. Políticas econômicas governamentais que
deslocaram judeus de suas ocupações durante o século XIX em certas regiões, tais como a
Galítzia, que se emancipou da servidão em 1848, criaram uma situação extrema de
pauperização acentuada pela formação de monopólios de certos produtos, que antes se
encontravam nas mãos dos judeus e passaram ao Estado, tal como o comércio de bebidas
alcoólicas. Por outro lado, a industrialização em certas cidades do leste europeu abriria as
portas para a organização de um proletariado judeu que acorrera a essas novas
oportunidades de sobrevivência e trabalho. Foram também essas organizações operárias,
como já dissemos antes, desde que o Bund foi fundado, em 1897, que tentaram erradicar a
532
V. Encyclopeedia Judaica, Keter Pub. House, Jerusalém, 1971,vol.10,p-.462; v.13, p.68.
319
presença dos traficantes e da prostituição nessas cidades industriais. Um dos episódios
conhecidos de ataque direto aos bordéis e à prostituição de Varsóvia ocorreu em 1905, no
qual elementos do Bund tomaram parte e que ficou conhecido sob o nome de
Alphonsenpogrom.533
A atitude conhecida do Bund, desde sua fundação, não era somente criar
grupos de autodefesa contra os “pogromistas” que atacavam os judeus, mas também
criminosos de toda espécie. O fato é que na história do movimento operário judaico e na
vivência revolucionária de seus partidos e líderes, sabido era que a polícia empregava o
submundo dos cáftens e traficantes para romper greves e atemorizar operários, o que levou
o Bund, e mais tarde outros movimentos, a se envolver na luta contra eles. Interessante
notar que as prostitutas judias de Varsóvia cantavam uma canção popular que dizia: “Ó, os
cáftens são espiões, são provocadores, eles vão ao meetings para ouvir os discursos, e a
seguir vão contar à polícia”.534
A polícia czarista, a Ockrana, no início do século, parece ter
contribuído para disciplinar o emergente submundo judaico, taxando os bordéis,
organizando pequenas sinagogas para as prostitutas, cafetinas e cáftens e gente do
submundo para combater o Bund. O grau de organização dessa marginália nesse tempo era
tão elevado que não lhes faltavam uma corte rabínica para julgar disputas internas e sua
principal figura em Varsóvia, um tal Shilem Letzki, que era um dos traficantes poderosos
que faziam a ligação entre Polônia e Buenos Aires, era apelidado de Rei Shilem I.535
Durante a explosão contra os cáftens e traficantes de Varsóvia em 1905, que
levou à destruição de dezenas de prostíbulos, oito mortos e centenas de feridos, o Bund
soube diferenciar os criminosos de suas vítimas, isto é, prostitutas.
Nas memórias de um de seus militantes, A. Litwak, que em seu livro Vos
Gevesen (“O que aconteceu”), editado em Vilna em 1925, relata que o Comitê Central do
partido decidiu salvar as prostitutas e protegê-las, pois eram vistas como operárias
exploradas pelos criminosos.
Em outros lugares o movimento obreiro de todos os matizes ideológicos
defrontava-se com a questão com a mesma postura, assentada sobre a análise que o
capitalismo gerador da ampla miséria resultante da exploração desenfreada das massas
trabalhadoras leva à venda do corpo ou à prostituição das mulheres como meio de
sobrevivência material.
O processo emigratório da Europa Oriental a partir dos anos 80 do século XIX,
em direção ao Ocidente, foi motivado pela miséria generalizada que atingiu a população
judaica daquela região instalada na Zona de Residência (Pale), que de tempos em tempos
restringia através de leis a presença de judeus em certas partes de seu território. O
assassinato do czar Alexandre II renovou leis restritivas em maio de 1881 e contribuiu
significativamente para o deslocamento de mais de meio milhão de judeus que viviam na
zona rural para as cidades e centros urbanos, vindo a engrossar uma população já existente,
que ali vivia em péssimas condições e à mercê de uma política oscilante de expulsões e
tolerância para com aos judeus e seus direitos de residência, assim como de exercerem
certas ocupações. Além do mais, a situação agravou-se com os pogroms que se seguiram ao
533
Bristow, op. cit. p. 58. 534
Bristow, op. cit. p. 59. 535
Bristow, op. cit. 60, cita em nota de rodapé a obra de Stanislava Paleolog The Woman Police of Poland,
Ass. of Moral and Social Hygiene, London, p. 7.
320
assassinato do Czar, e que eram tolerados e incentivados pelos próprios governantes do
império.
A emigração judaica daquela região atingiu cifras elevadas, dirigindo-se em
boa parte às Américas, em sua maioria absoluta para a do Norte e bem menos ao Sul.
No continente Sul-Americano, como já dissemos, a Argentina e o Brasil
adotaram políticas de colonização de seus territórios que visavam atrair contingentes de
emigrantes europeus, por meio de propaganda, se bem que nem sempre idônea, que se
destacava pelas perspectivas que apontava àqueles que procuravam ali se estabelecer.
Nesses países, isto é, Argentina e Brasil, bem antes do início de uma imigração
judaica maior, ainda nos anos 70, traficantes de escravas brancas passaram a atuar na rota
de Buenos Aires e Rio de Janeiro. As duas capitais sul-americanas constituíam um único
eixo que, de acordo com as circunstâncias, levavam sua “mercadoria” de um extremo a
outro, pois estavam interligadas.
No Brasil, tanto quanto na Argentina, as primeiras notícias de sua atividade
remontam aos anos 60 e 70 do século XIX, e os autores que trataram mais recentemente do
tema, como o já citado Edward Bristow, Girardo Brá536
, na Argentina, e Ferreira da
Rosa,537
no Brasil, que publicou sua obra O Lupanar, ainda em 1896, apontam nomes
judaicos em ocorrências próximas àquele tempo. Quando uma prostituta, Klara Adam, em
22 de abril de 1880 publicou na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro uma carta na qual
denunciava a atividade dos cáftens, depreendemos por sua descrição a existência
assegurada de uma rede internacional de criminosos do tráfico de escravas brancas, que
passaria a ser mais conhecida sob a denominação de Zwi Migdal.538
Ferreira da Rosa em
seu livro menciona que o chefe de polícia Tito de Matos no Rio de Janeiro, em 1879, já
confirmava a atuação de uma organização de estrangeiros para aliciar mulheres para a
prostituição.539
Ferreira da Rosa falava claramente de “uma associação composta de judeus,
russos, alemães, austríacos e de outras nacionalidades”.540
Do mesmo modo em São Paulo,
naquele ano de 1879, o chefe de polícia João Augusto de Pádua Fleury constatava a
existência do comércio do lenocínio na cidade, e que os cáftens perseguidos na capital do
império estariam encontrando refúgio em São Paulo, além de Santos e Campinas.541
Esses
cáftens e aliciadores que na Europa tinham, naqueles anos 70, a Hungria e a Polônia como
seus centros de aliciamento, atuação e entreposto de “mercadoria”, deslocavam-se com
536
Brá, Gerardo, La Organización Negra. La Increíble Historia de la Zwi Migdal, B. A. Corregedor, 1983;
também La Mutual de los Rufianes in Todo es Historia, nº 121, junho, 1977. Victor A. Mirelman, La
Comunidad Judía Contra el Delito”, in Megamont nº 2, B. A., ed. Milá, 1987, pp. 5-32; Ricardo Feierstein,
História de los Judíos Argentinos, ed. Espejo de la Argentina, Planeta, B. A., 1993, cap. 8, pp. 269-303. 537
Ferreira da Rosa, O Lupanar, Rio, 1896. 538
Rago, Margareth, Nos Bastidores da Imigração: o Tráfico de Escravas Brancas in A Mulher e o espaço
público. Revista Brasileira de História vol. 9, 18, ANPUH, ed. Marco Zero, S.P., 1989, p. 177; V. Rago,
Margareth, Os Prazeres da Noite e Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo (1890-
1930), Ed. Paz e Terra, SP, 1991, p. 250; Evaristo de Moraes, Ensaios de Pathologia Social, Liv. Editora
Leite Ribeiro, Rio, 1921, p. 264. 539
Pelos nomes mencionados em sua obra inferimos que entre eles encontravam-se judeus. 540
Ferreira da Rosa, op. cit. p. 45. 541
Guido Fonseca, História da Prostituição em São Paulo, Ed. Resenha Universitária, SP, 1982, pp. 133-35.
321
inteira liberdade “no caminho para Buenos Aires”, que segundo as conveniências e a
perseguição policial, passava pelo Brasil, que era um dos centros da prostituição do pólo
sul-americano.
Guido Ferreira traz em seu livro542
o nome do traficante Izidoro (Israel)
Klopper, austríaco de nascimento, brasileiro naturalizado, que chegara a ser alferes da
Guarda Nacional, e em 1896 foi indicado por crime de lenocínio, fugindo para Buenos
Aires. Pelo visto, o número de traficantes pode ser avaliado como desprezível se
considerarmos a pequena população judaica daquela época. Na medida em que a emigração
judaica aumentou, as estatísticas das prostitutas então registradas sob as nacionalidades
russa, austríaca e polaca deveriam ser judias.543
Anos antes da Primeira Guerra Mundial,
em 1910, apesar do combate ao tráfico, cáftens e prostitutas judias estavam presentes na
vida do Rio, onde uma tal Bertha Schild tinha um bordel e seu marido, Jacob, um traficante
aliciador nascido em Lemberg, em 1867, com uma longa carreira criminal com
envolvimento em roubo e receptação, tinha uma parceria em Vilna com outro traficante,
Nathan Messinger de Brody, para abastecer e recrutar mulheres para o Brasil.544
E, de fato,
o levantamento dos túmulos judeus nos cemitérios antigos do Rio de Janeiro, São João da
Boa Vista e Francisco Xavier vem comprovar que uma organização de cáftens e prostitutas
é mais antiga e remonta ao século XIX, independentemente das conhecidas associações que
surgiriam no nosso XX, em boa parte fruto do isolamento decretado pela comunidade de
imigrantes, que passou a lutar por sua identidade própria e diferenciar-se dos “impuros” ou
tmeim. Bristow menciona que nos anos de 1890 um tal Marcus Rosen, que foi empregado
para cuidar de prostitutas, conseguiu para uma sinagoga improvisada nos dias de feriados
judaicos e que um vidraceiro local oficiasse as rezas, mas o mesmo veio a morrer de febre
amarela. Porém, quando Samuel Cohen, o secretário da Jewish Association for the
Protection of Girl and Womem visitou a América do Sul, em 1913, as coisas haviam
mudado, pois ele descobriu uma sinagoga para prostitutas e seus cáftens. Ele ficou chocado
pelo fato que o local era divulgado na imprensa como sendo a “congregação das mulheres”,
pouco antes dele chegar. Os judeus brasileiros sentiam-se ultrajados com essa situação,
assim como Cohen. O autor ainda nos relata que em uma ocasião, cerca de 1910, quando os
traficantes de escravas brancas caminhavam pelas ruas do Rio numa cerimônia de
dedicação de uma nova Torá para a sinagoga, eles foram atacados por uma multidão de
jovens da comunidade respeitável, que lhes arrebataram o rolo e puseram os indesejáveis a
correr.15
As perseguições encetadas no ano de 1913 na Argentina provocaram um
deslocamento maior desse elemento em direção ao Brasil, ainda que, aparentemente, as
autoridades daqui, atentas ao fato , procuravam impedir seu ingresso em território nacional.
Se considerarmos que na história da imigração judaica os judeus na Europa
Oriental começaram a se estabelecer, mais acentuadamente, a partir das duas últimas
décadas do século XIX, podemos, desse modo, entender que os primeiros esforços de
organização comunitária propriamente dita verificar-se-á nos inícios do século XX, e esse
esforço está associado à criação de barreiras e à total separação do nome “polacos ou
542
p. 138. Esse personagem é mencionado por Ferreira da Rosa. V. também Bristow, op. cit. p. 114, que se
refere a “associação dos cáftens”, e alguns de seus integrantes, entre os quais, dos 39 que foram expulsos do
Brasil em 1879, alguns eram judeus. 543
Guido Ferreira, pp. 140-43. 544
Bristow, p. 78.
322
polacas”545
. O mesmo fenômeno de criar uma identidade própria e diferenciada ocorreu na
Argentina, que através da J.C.A., a partir de 1891, trouxe levas organizadas de imigrantes
do leste europeu para a colonização agrícola naquele território. Para ilustrar esse esforço de
diferenciação, transcrevo a narrativa de um proeminente veterano judeu, militante de
esquerda que imigraria em 1906 à Argentina:
“Naqueles tempos, o nome ‘judeu’ na Argentina era muito exótico e polêmico.
Não se sabia e não se queria saber de judeus como uma identidade nacional; isso
combinava com o conceito de que uma nação é somente um grupo territorial em
determinado país com um governo próprio, porém, no mapa-múndi, tal nação judaica não
existia. Uma nação hebraica para eles sim era algo conhecido pelos seus livros escolares.
Também parte dos judeus não se dava conta de que os judeus eram uma nação. Sobre tal
coisa ou seja uma religião judaica a intelligentsia sim conhecia, mas a religião não lhe
interessava. Nem nas instituições governamentais, nem no mercado de trabalho e nem na
vida cotidiana se perguntava a que religião se pertencia. Por outro lado, a palavra judío sim
era popular, pois dela ouvira falar o imigrante latino, em particular o espanhol, e mesmo o
índio argentino. A palavra judio, na mentalidade do povo, era a expressão de uma ofensa,
um demônio, um peçonhento, um sanguessuga, um mau acontecimento (...) e assim,
durante muito tempo ocorriam casos cômicos, pois o trabalhador judeu da Polônia, por
exemplo, não podia habituar-se à idéia de ser um ‘russo’. E dizer que era um polonês ele
tinha vergonha, não somente porque sentia que isso não era verdade, pois não se reconhecia
uma nacionalidade polonesa (a Polônia naquele tempo estava dividida entre a Rússia
czarista, Alemanha e Áustria), porém devido ao fato de que sob o nome polonês se
apresentavam os caftens e as prostitutas, as ‘polacas’, pois estes teimosamente se diziam
poloneses. Então, um trabalhador da Polônia (e não somente um trabalhador, e não somente
da Polônia) se apresentava como (...) alemão, em espanhol aleman”.546
Mais adiante, ele nos relatará que “sob a iniciativa dos esestzovtzes (elementos
do Partido Social- Revolucionário), com M. Polak à testa, em 1908, deu-se início a uma
ação, na qual tomaram parte os poalei-sionistas, alguns anarquistas-individualistas,
sindicalistas, sionistas e apartidários denominados Yugend (Juventude), como uma
organização que se formou com a finalidade específica de combater diretamente os
traficantes de mulheres”.
“O Yugend atuava nos limites da coletividade judaica, onde o traficante era o
que distribuía caridade, benfeitor, filantropo, protetor da religião, ativista comunitário,
conselheiro e mantenedor e proprietário do teatro ídiche e dos artistas, a personalidade
respeitada pelo governo, e era senhor de um número de votos que se colocava à disposição
dos comitês eleitorais conservadores. A missão do Yugend era marginalizar o tráfico da
vida judaica, da rua judaica. Além da agitação pela palavra, oral e escrita, era freqüente
chegar-se ao confronto físico entre sócios do Yugend e os chevre-leit (literalmente,
significa ‘gente da turma’), assim como eram chamados os traficantes, nas praças Lavalle e
Larea, devido ao fato de os tmeim, uma parte deles famosos brigões ainda na Europa, serem
os primeiros a chegar às manifestações públicas do Yugend para brigar.”
“Uma guerra direta na rua judaica renovou-se quinze anos após, em 1923,
através de um comitê especial contra os tmeim. A luta era inteiramente independente do
545
Britow, op. cit., pp. 140-41. 546
Wald, P., In gang fun tzeiten (No passar do tempo), Buenos Aires, 1955, p. 360 (em Ídiche).
323
movimento operário e mesmo de operários. E, assim como a luta do ano 23 está vinculada
moralmente à de 1908, devemos acentuar que então a influência dos tmeim estava reduzida
a sua participação no teatro profissional judaico e indiretamente no repertório teatral. A luta
durou até que se decidiu que eles não teriam acesso ao teatro judaico, e não tiveram mais
influência, mesmo que fosse em qualquer lugar da rua judaica, e desapareceram da vida
social judaica sem deixar qualquer rastro. A lei, com sua coerção, obviamente ajudou para
que os traficantes fossem expulsos do país”.
Quando León Chazanovitch, o famoso líder poalei-sionista que chegou à
Argentina em 1909, em dezembro daquele ano fundou o Algemeiner Idisher Arbeiter
Ferband (União Geral dos Trabalhadores Judeus), unificando poalei-sionistas com outros
grupos, que além de criticar a administração da J.C.A., procurou, com a fundação do
periódico Broit um Ehrê (Pão e Dignidade) combater os traficantes. O jornal, que saiu em
1910, não teve continuidade, e em julho cessou de existir.
Em nota de rodapé, o autor, P. Wald completará seu relato dizendo que na
sociedade mais ampla já se havia encetado uma ação contra os traficantes de mulheres
através do “Comité contra trata de blancas”, no qual o então líder sionista S. I. Liachovitzki
era ativo, sendo que na Câmara de Deputados o único deputado socialista, Dr. Alfredo L.
Palácios, propôs um projeto para eliminar os traficantes.
Como já escrevi em outro lugar, o teatro foi de fato um dos espaços
importantes de disputa para a afirmação da identidade da comunidade dos imigrantes contra
os “indesejáveis”, e na Argentina ela teve seu momento crucial em 1926, com a
representação da peça Ibergus, de Leib Malach, que tratava diretamente do tema da
prostituição. O confronto com os “indesejáveis” no teatro ídiche resultou numa luta aberta
contra os mesmos para eliminar sua influência e sua presença física nos espetáculos, com o
apoio do tradicional periódico de Buenos Aires Di Presse e seu redator Jacob
Botochansky.547
A situação no teatro judaico da Argentina era sumamente grave, o que
podemos constatar pelo relato do grande dramaturgo e diretor de teatro, que atuou também
no Brasil, Zygmunt Turkow, que ao falar do ator e homem de teatro Kalman-Moshe Ebel,
nos relata que este foi um dos primeiros que levou a Buenos Aires uma trupe de atores, “no
tempo em que o teatro encontrava-se sob a tutela dos tmeim (...) Também seu teatro
precisou manter uma ligação com aquele tristemente famoso grupo, sem o qual nenhum
teatro judaico poderia contar com sucesso. Mesmo que sua viagem à Argentina lhe tenha
dado uma bela soma, ele sofria devido às acusações que lhe faziam de vários lados. Ele
abandonou o teatro juntamente com sua esposa, a prima dona Ella...”
Como no Brasil a comunidade defrontava-se com o mesmo problema, a
imprensa da época deu um farto noticiário a respeito do que se passava na Argentina.
Em 18/12/1925, no número 110 o Dos Idische Vochenblat do Rio de Janeiro,
fundado por Aron Kaufman em novembro de 1923, anunciava “que o judaísmo argentino
combate os tmeim: organizou-se um comitê para afastá-los do judaísmo argentino. A luta
começou no teatro, e se estende a todas as instituições do judaísmo argentino”. Alguns
547
Falbel, N., Jacob Nachbin, Nobel, SP, 1985, pp. 227-30, Leib Malach, que esteve no Brasil, coloca os
personagens do seu drama no Rio de Janeiro, e talvez durante sua estadia no Brasil tenha ouvido a “história”
que o motivou a escrever o Ibergus; idem, Estudos sobre a Comunidade Judaica no Brasil, SP, 1984, p. 167.
324
meses após, em 09/04/1926, no número 126, sob o título Di rufianische ideologie in idichen
teater in Buenos Aires (A ideologia rufianica do teatro judaico de Buenos Aires),
transcrevia do Di Presse o que se segue: “nosso colaborador L. Malach escreveu um drama,
Ibergus. Ele foi lido pelo regisseur do Idischer Teater, L. Sokolov, que apesar de lhe ter
agradado, considerou que tinha um defeito. Ela expressa a vida dos mercadores de escravas
brancas e desnuda inteiramente o nosso triste e conhecido ator-rufião na pessoa do herói –
Stare. Alguns atores, próximos ao mencionado Stare, começaram a intrigar, e após várias
mentiras e manobras, o Sr. Adolf Mide leu ele mesmo a peça e declarou que a peça é
bonita, mas não pode ser levada à cena, pois não se pode irritar os rufiões. Se Malach
concedesse modificar a peça ele a aceitaria. Ele, Mide, declarou isso na presença de Malach
e Botochansky, que deixaram o teatro. Depois o Sr. Mide nos visitou e começou a justificar
sua posição. Botochansky lhe disse que ele não vê como evitar que os rufiões deixem de
freqüentar o teatro, mas dar a eles privilégios, isso não! Mexer com outros é possível, sejam
eles rabinos, sapateiros, alfaiates, polícias, ministros, operários, mas os rufiões se os fazem
de personalidades intocáveis (...) de modo que o teatro está impregnado de uma ideologia
rufianica (...) B. afirmou que isso que acabara de dizer ele o escreverá no Di Presse, e
conclamará os leitores a uma luta contra essa ideologia. O Sr. Mide declarou, então: se
escreveres isto eu virei amanhã e atirarei para matar. Nós pedimos para que se retirasse e
comunicamos a ameaça à 7ª Delegacia. O subcomissário, Sr. Benites, convidou o Sr. Mide
à delegacia, onde ele novamente declarou: quem escrever contra mim eu matarei. O
comissário lhe disse, metade em ídiche: Usted a mechugener (...) e o prendeu. Os rufiões
são medrosos e se escondem em seus buracos (...) Seus defensores estão quietos e o Sr.
Mide foi libertado mais tarde. O teatro judeu da Pasteur 641 deverá demonstrar que não tem
apoio dos rufiões e defender sua honra, e o mesmo os seus artistas, cuja maioria não quer
ser incluído nos círculos dos tmeim. O Aktioren Ferein (Associação dos Atores) também
deverá dizer algo e possivelmente examinar a lista de seus sócios, entre os quais não faltam
schatnez (isto é, a mistura proibida de lã com linho). Toda a imprensa judaica deverá
manifestar-se contra a ideologia rufianica que domina com mão forte o Idischer Teater”.
Ainda no mesmo periódico publicava-se em 26/04/1926, no número 128, sob o
título “Arum der Kamf kegen der rufianer ideologie in idischer teater” (Ao redor da luta
contra a ideologia rufianica no teatro ídiche”), o Dos Idische Vochenblat manifestava seu
apoio à luta do Di Presse de Buenos Aires, lembrando o caso Tomachevski, ocorrido no
Brasil, que fora impedido de representar no Rio de Janeiro pela suspeita de ter apoio dos
tmeim.548
Anos mais tarde o próprio Botochansky escreveria um artigo publicado em
19/04/1940 no San Pauler Idiche Tzeitung, fundado em 1931 por Marcos Frankenthal, onde
narrava como os judeus da Argentina lutaram contra o tráfico de escravas brancas.
O autor relata que “os imigrantes, ao chegarem, eram recebidos pelos tmeim,
que os abrigavam e os ajudavam, talvez como uma espécie de remissão de seus pecados.
Mas os imigrantes, ao perceberem quem eram, começaram a se afastar deles ao mesmo
tempo em que os expulsavam dos bares ou casas de café que faziam parte da vida urbana na
548
Boris Tomachevsky veio com sua trupe ao Brasil em 1924 e se colocou na posição de não adotar qualquer
restrição ao público que freqüentava o teatro, pelo qual foi impedido de continuar com sua turnê no país. Ao
voltar, deu uma entrevista ao Forwerts americano, acusando todo o judaísmo brasileiro de traficantes de
escravas brancas.
325
Argentina. Também se os afastavam dos cemitérios, apesar deles serem os primeiros a ter
cemitério. Conseguiram afastá-los das sinagogas, dos clubes e cemitérios, menos do teatro.
Eles vinham vestidos com luxo, ouro e brilhantes, e sentavam-se nos lugares mais
importantes. A polícia os perseguia fazendo batidas no teatro, o que os obrigava a se
esconder nas cabinas dos artistas, que tinham muitas vezes um bom relacionamento com
eles. Também outros artistas os combatiam. A luta para tirá-los do teatro era difícil e
provocava um tumulto quando alguém se levantava e gritava: ‘rufiões, saiam do teatro’.
Eles sustentavam em boa parte os artistas e ditavam até as peças, pois as peças que os
criticavam não eram apresentadas. Entre elas, o melodrama Tzu schpeit (Tarde demais), de
Moshe Richter, e o melodrama Di veise shklafen (As escravas brancas)”.
“Em 1925, durante a encenação da peça de Rudolf Zaslavski, estourou uma
briga entre os judeus honrados e os tmeim”.
“A última batalha foi em 1926, quando Leib Malach escreveu uma peça,
Ibergus, contra os tmeim, que se passava no Brasil, mas que se sabia ser dirigida à
Argentina. Argumentaram que ela não deveria ser encenada, pois provocaria os tmeim. O
autor, B., que estava à frente das negociações, argumentou que os chevre-leit não deviam
ser os únicos a opinar sobre o assunto, pois se todos os outros podiam ser criticados, então
por que não eles, e isso ele escreveria na imprensa. B. foi ameaçado de morte se escrevesse,
mas ele não se intimidou e assim o fez. A batalha estava em franco progresso, e em 1926 o
2º Comissário de Buenos Aires (onde moravam os judeus) resolveu acabar com os
‘rufiões’, e o chefe daquela delegacia, Alsogarai, levou a sério a tarefa e os expulsou de lá.
Mais tarde, o governo argentino proibiu a prostituição, e com isso reduziu o problema. De
tudo isso sobrou um cemitério onde não se enterram mais homem (cáftens), e de vez em
quando aparece para ser enterrada uma prostituta”.
O teatro era um elemento central na vida cultural dos imigrantes e de suas
instituições, e a presença, e às vezes mais do que isso, a influência dos tmeim sobre
companhias e atores feria a sensibilidade daqueles que não queriam sentar-se lado a lado
com cáftens e prostitutas nas salas de espetáculos. Muitos são os relatos dos velhos
imigrantes das comunidades do Rio, São Paulo e Porto Alegre que retratam o esforço
organizado de pessoas que ficavam postadas nas casas de espetáculos para impedir a
entrada dos “indesejáveis”, provocando verdadeiros tumultos, e levando a intervenções da
policia a fim de esfriar os ânimos exaltados em alguma delegacia local.
A imprensa ídiche dos anos 20, em particular o Dos Idische Vochenblat, não
deu tréguas aos tmeim e convocava a comunidade para combatê-los, chamando a atenção
para os danos morais que causavam à mesma, que era confundida com esse grupo de
marginais, conspurgando o nome “judeu” na sociedade brasileira mais ampla como
sinônimo de traficante de escravos brancos.
Essa luta se fazia no mesmo teatro que apresentava ao público judaico, através
da literatura ídiche, a temática da prostituição e do tráfico de escravas brancas existente
entre os filhos de Israel, e serviu de veículo para despertar a consciência popular contra esse
mal. A começar da peça de Peretz Hirshbein, que esteve visitando o Brasil em 1914 e 1925,
escrita em 1906, intitulada Miriam ou Barg Arop (Descenso), e as do dramaturgo Moshe
Richter, Schklaven Hendler (Traficantes de escravas), de 1910, e o melodrama Tzu Schpeit
(Tarde demais), de 1913, a novela de Mendele Mocher Seforim, Vinchfingeril (O dedinho
mágico), escrita em 1865 e reelaborada em 1888, o Got fun nekome (Deus da vingança), de
Sholem Asch, escrito em 1907, além do famoso conto de Sholem Aleichem A mensch fun
Buenos Aires (O homem de Buenos Aires), escrito em 1904, e Di vaisse schklafen (As
326
escravas brancas), de Isidor Zolotarevsky, escrita em 1909, que dedicou ao tema várias
peças e despertou amplamente a consciência das multidões de fala ídiche para o problema.
Criava-se uma verdadeira suspeita em relação a pessoas que vinham da Argentina ou da
América do Sul para visitar seus lugares de origem na Europa Oriental devido aos rumores
sobre a vida indecorosa dos judeus daquele país.549
Na verdade, constatamos que nos inícios do teatro ídiche no Brasil,
companhias, ou trupes, que se apresentavam no Rio de Janeiro não distinguiam entre o
elemento decente e o indesejável, que provavelmente as apoiavam, e podemos encontrar em
certos cartazes dos anos de 1915 a 1917 o anúncio de espetáculos “em benefício das obras
do novo Cemitério Israelita de Inhaúma”.
A Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, isto é, a sociedade
dos cáftens e prostitutas do Rio de Janeiro da época, é que patrocinava em partes tais
espetáculos do repertório clássico do teatro ídiche.550
Posteriormente, as companhias
teatrais tomaram o devido cuidado e colocaram em seus cartazes os dizeres: “É proibida a
entrada ao espetáculo de elemento indesejável”. Mas até lá, a comunidade teve que travar
uma difícil luta para que a sociedade brasileira não identificasse a comunidade dos
imigrantes judeus com os cáftens e prostitutas que insistiam em se apresentar como parte da
mesma.
Nos anos 20, quando a imigração judaica cresceu e as companhias teatrais
começavam a vir ao país com maior freqüência, em sua passagem pela Argentina,
fortificou-se a decisão de expulsar o elemento indesejável do teatro ídiche. Quando o Dos
Idische Vochenblat, em 1924, anunciava que a companhia de artistas Gutovitch e Zipkus
encenariam a peça Dos Pintele Id no Club Ginástico Português, a redação se encarregou de
acrescentar que “esta trupe representa apenas para famílias, e considerando que o Rio
necessita de um teatro que atue somente para um público selecionado, portanto faz jus que
a colônia judaica se interesse por ela”.551
Os artistas visitantes também já estavam
conscientes e alertas para essa realidade, e podemos acompanhar passo a passo, pela
imprensa ídiche do Rio de Janeiro, o que se passou quando Boris Auerbuch, empresário e
ator do Idische Amerikaner Aktioren Companie, chegou ao Rio, em maio de 1925.
Representantes da comunidade que foram recebê-lo observaram que aqui se encontravam
artistas judeus que poderiam participar em suas apresentações “e que seu teatro deve ser
fechado àqueles que conspurgam o nome judaico, sendo que o capítulo Tomachevsky, que
desperta no público do Rio desprezo e raiva, foi de vez apagado”.552
Porém, ainda em 1927
o elemento indesejável tinha sua presença no teatro, e em uma entrevista o ator Abraham
Bren, que comemorava 25 anos de vida artística, acusava a indiferença do público judaico
do Rio por não dar o devido apoio e sequer lutar para que os indesejáveis deixassem de
549
V. a relação de suas obras em B. Gorin, Di Geschichte fun idischen theater (A história do teatro ídiche), 2a
ed., N.Y., 1923, pp. 264-5 550
Cartazes da grande Companhia Israelita de 12 de novembro de 1915, da peça Shulamis (Sulamita), de A.
Goldfaden, no Palace Teatro, e da grande Companhia Israelita H. Starr, de 27 de novembro de 1916, da
“opereta” de M. Meisel Mein veib’s man (O marido da minha mulher), no Teatro República, col. Nachman
Falbel. 551
DIV de 21/11/24, número 54. 552
DIV de 08/05/27, número 78.
327
freqüentar o teatro. Ele arrematava dizendo: “mas nós estamos dispostos a tirá-los, mesmo
se for a pauladas, para que vocês venham e freqüentem o nosso límpido teatro”.553
A visita de Viera Kanievska e Paul Breitman, ambos artistas famosos, ao Rio,
nesse mesmo ano, indicava claramente que sua companhia fora alvo de críticas por parte
do público judaico carioca, pois em entrevista ao Idische Folkstzeitung ambos queixavam-
se que “está se criando uma atmosfera ao seu redor devido à presença de certo público
indesejável nas últimas representações, culpando-se a empresa por isso. Nós, isto é, a
redação, lhes fez ver que com desculpas vazias nada se conseguiria, a não ser com atos,
para fazer com que limpem o teatro em que atuam, e que isso é de seu interesse”.55424
Poucos dias após os atores Kanievska e Breitman fariam uma declaração pública para a
comunidade, na qual afirmavam o seguinte: “Dois meses se passaram desde que
começamos o nosso teatro, e é um fato que o Rio precisa de um teatro limpo. E para isso,
ela, a comunidade, precisa lutar. Já nos dirigimos às sociedades para que elas controlem a
entrada do teatro, a fim de evitar a mescla do público. O Yugend Club foi o único a
responder e se prontificou para isso, e nossa vontade é que o teatro sirva apenas à parte
positiva da coletividade judaica.
Não temos medo daqueles ‘homenzinhos’ que fazem intrigas e desejam perturbar a
representação de aniversário de nosso diretor A. Bren, dizendo que o teatro está repleto de
linke (indesejáveis). Deixamos assim a colônia do Rio dizer sobre a questão e daremos no
dia 1º de janeiro de 1928 a última representação”.555
Nesse tempo, a comunidade dos
imigrantes já tinha estabelecido uma postura radical contra os rufiões e prostitutas, que
começou a se manifestar ainda em 1910 por ocasião em que eles desfilaram nas ruas do Rio
numa cerimônia de dedicação de um Sefer Torá à sua sinagoga, conhecida como “a
congregação das mulheres” pela imprensa local. Eles foram atacados por um grupo de
jovens da comunidade que lhes arrebatou a Torá e os puseram a correr.556
Nessa década,
quando David José Perez criava em 1916 a primeira publicação judaica em Português, no
Rio de Janeiro, A Columna, que tinha por objetivo, entre outros, incentivar a formação de
uma comunidade organizada, abordava-se a questão dos traficantes e prostitutas como um
desafio a ser enfrentado pela comunidade de imigrantes.
Álvaro de Castilho, redator do periódico e amigo de David José Perez, em um artigo
sob o título Judeus imigrantes escrevia:
“Somos, porém, chegados a um período de tal intensidade no deslocamento
dessas grandes massas daquele para este continente, e mesmo de um para outros países
americanos, que cada uma destas novas nações cuidou de estabelecer princípios especiais
de polícia para o fim precisamente de se garantir, como uma espécie de profilaxia social,
contra a penetração de certos elementos menos convenientes ao desenvolvimento do povo,
segundo as linhas previamente traçadas pela administração pública nos seus programas”.
Mais adiante ele diria:
553
Idische Folkstzeitung, 30/12/1927, número 4. 554
Idische Folkstzeitung, 27/12/1927, número 3. 555
Brasilianer Idische Presse, 30/12/1927, número 259. Assinavam a declaração todos os atores da trupe:
Viera Kanievska, Pesach (Paul) Breitman, Zina Rappel, Max Bren, Tzila Teks, B. Nathan, D. Beiguelman,
Hava Polanska, Jacob Parnes, Nathan Huliak, Miron Serov. 556
Bristow, op. cit. p. 141, citando como fonte O Lupanar, de Ferreira da Rosa, p. 9, e outros.
328
“Certo dia, um dos nossos mais respeitáveis correligionários fazia referências
bem frisantes a um certo grupo de criaturas abjetas que, aproveitando a generosidade da
terra americana, desabou sobre este nobre país e pretende, com o seu infame proceder,
envergonhar a coletividade daqueles de quem se dizem irmãos (itálicos)”.557
A abordagem clara e combatível do A Columna sobre a questão do tráfico
começou a ter frutos e mostrar sinais de adesão, como podemos verificar por uma
transcrição do Jornal do Comércio de Itacoatiara, Amazonas, com o seguinte teor:
“Era mesmo necessário que as vozes abalizadas e dignas se levantassem contra
o péssimo conceito em que são tidos os judeus, confundidos com mercenários vis que lhes
roubam o nome, manchando-o e tornando-o odioso”558
.
David José Perez, através do A Columna, durante aquele ano, continuou
combatendo os tmeim e exigindo que a comunidade o acompanhasse em seu objetivo. Em
junho de 1916 ele escrevia queixosamente:
“(...) Os judeus de Lisboa conseguiram do Parlamento uma lei especial
autorizando e auxiliando a colonização do planalto de Angola por israelitas que se
encontrassem em situação aflitiva nos países de nascimento. E nós? Nem ao menos temos
tido a coragem necessária para, congregando-nos, pedir ao Congresso Nacional uma lei que
ponha termo a essa infâmia do White Slave Traffic, cujos elementos, explorados e
exploradores são, desgraçadamente, apontados como da nossa raça”. Ass. D. (trata-se de
David J. Perez)559
.
Poucos meses após, em novembro, a redação do A Columna publicava um
artigo contundente sob o título O que somos, assinado por Fichel Grinberg, que revelava o
constrangimento moral em que se encontrava a comunidade dos imigrantes devido aos
tmeim:
“A propósito seja-me lícito assinalar de passagem, muito natural, mas nada
justo, o que sobre o nosso nome pesa no Rio de Janeiro. Como sempre acontece nos
grandes êxodos, as primeiras levas de imigrantes israelitas que vieram para o Brasil eram
compostas da escória da raça e representavam os elementos piores, os mais baixos.”
“Há quinze ou vinte anos os primeiros israelitas que se estabeleceram nesta
cidade (Rio) eram criaturas da mais vil espécie, e por isso chamaram sobre si a atenção do
povo e se tornaram lamentavelmente conhecidos.”
“Mais tarde chegaram outros elementos, mas por isso mesmo que eram gente
honesta, de vida tranqüila e laboriosa, os seus hábitos não divergindo das normas da moral
adotadas pelo povo do país, não despertaram a atenção nem a curiosidade dos nacionais. A
opinião pública, porém, guiando-se apenas pelas miseráveis impressões deixadas por
aqueles primeiros imigrantes e sem procurar estabelecer a necessária distinção entre a
vileza daqueles e a retidão dos novos, conservou em atroz conceito o nome israelita, e
assim firmou um preconceito que muitíssimo nos deprime. Não quero dizer, entretanto que
o povo deliberadamente nos queira mal ou nos amesquinhe, e sim que, não lhe sendo
possível fazer a distinção clara entre a moral daquela primeira corrente imigratória e da que
557
A Columna, 04/02/1916. O periódico começou a sair em janeiro daquele ano. 558
A Columna, 05/05/1916. 559
A Columna, 02/06/1916.
329
posteriormente começou a penetrar no país, vai confundindo uma e outra na mesma
apreciação degradante”56030
.
Uma celeuma levantar-se-ia em 1917, por ocasião das festas de Rosh Hashaná e
Iom Kipur, sobre as quais o jornal A Rua, sob o cabeçalho Aquilo não é judaísmo! Os
verdadeiros judeus protestam, do Rio de Janeiro, havia publicado uma foto da sinagoga dos
“cáftens”, sem distingui-los da comunidade. Uma carta de 27 de setembro daquele ano,
assinada por Samuel Strachman e dirigida à redação manifestava sua surpresa pela
“interpretação que um dos distintos redatores do apreciado vespertino (...) deu à nossa festa
anual religiosa”. “A fotografia que publicaste é a da festa celebrada pelos ‘cáftens’ e maus
representantes da colônia, repudiados por nós outros. A prova é que nenhum deles pode
tomar parte nas nossas cerimônias, porque o seu comportamento criminoso os afasta do
nosso convívio (...)” E mais adiante ele descreverá a “comemoração” do Iom Kipur pelos
tmeim. “Naturalmente, os réprobos, os desclassificados, os elementos delectores, que os há
em todos os países, deturpam as nossas crenças e introduzem na celebração bailes, bebidas
e outras troças profanas. Nós não temos culpa dessas falhas lamentáveis (...)”. Em nota
adicional da redação, o periódico informava: “Também fomos procurados pelo Sr. Hans
(Hano) Lent, presidente do Centro Israelita do Rio de Janeiro, sito à Rua São Pedro, nº 221,
que nos veio declarar que os bailes de que nos ocupávamos ontem não fazem parte do rito
israelita, não tendo o Centro dado nenhum baile, como também os organizadores desses
bailes – rufiões e prostitutas – são repudiados pelos verdadeiros israelitas, gente séria e
laboriosa, que vive unicamente do seu trabalho. Esses indivíduos, pelas próprias leis do
judaísmo, deixam de ser israelitas, uma vez que abandonaram o caminho honesto. Conhece
a exploração que ontem descrevemos, mas a sua ação só pode ser limitada a um simples
protesto, como o que nos trouxe”.
A notícia de um periódico da época que não pudemos identificar por ser um
recorte encontrado no arquivo de Jacob Schneider, sem data, descreve “O Novo Anno dos
judeus russos – As festas de hontem – Trinta e seis horas de jejum.”
“A colônia judaico-russa terminou hontem a costumeira festa do seu anno novo.
A ceremonia, que teve início na ante-vespera, começando por um rigoroso jejum a que toda
a gente alegremente se submetteu, finalisou hontem, as 12 horas.”
“Essa interessante solemnidade teve principio no cemiterio dos israelitas em
Inhauma. Naquelle campo santo compareceu toda a familia israelita, que entre lagrimas e
soluços atirava vários objetos em cima das campas, afim de demonstrar a sua passagem por
ali, segundo o ritual delles.”
“De volta ao cemiterio, os judeus se entregaram, das 24 horas em deante, as
significativas festas realisadas no Centro Cosmopolita, Centro Gallego e na sinagoga, sita à
rua General Camara.”
“A mais importante das tres foi a que se realisou no Centro Cosmopolita. Essa
associação achava-se bellamente decorada e profusamente illuminada, havendo entre sua
enorme assistencia uma alegre animação e ordem ao mesmo tempo. Na entrada daquelle
edificio se achava a presidente da Sociedade Beneficente das Mulheres Israelitas, a qual,
com outros membros da colônia, distribuía flores e recebia donativos em beneficio do
cemiterio e mais obras pias dos israelitas.”
“E foi assim o festejo do anno novo entre os judeus”.
560
A Columna, 03/11/1916.
330
A questão do rufianismo judaico aparecia sob a faceta anti-semita na imprensa
brasileira e era agitada por elementos interessados em atacar a comunidade. Em 1919, o
Kol Israel (A Voz de Israel), órgão dos israelitas do Pará, redigido por Eliezer Levy,
reproduzia sob o título “Campanha Indesejável” um artigo do jornal “O Imparcial” do Rio
de Janeiro, no qual lembrava que “sob diferentes pretextos, aparecem aqui e ali vários,
escritos, por meio dos quais se procura insinuar no espírito público as alicantinas do anti-
semitismo (...) Ainda ontem, o Comitê Polaco do Rio de Janeiro, pelo órgão de seu
presidente e em carta dirigida aos nossos colegas d’ ‘A Noite’, defendendo compatriotas
seus aqui residentes da acusação de caftismo, entendeu dever assentar a sua defesa na
afirmação de que os rufiões da nossa capital são israelitas e não polacos”. O articulista do
“O Imparcial” dirá que há rufiões de todas as nacionalidades (...) e que ninguém tem o
direito de lançar acusações por atacado, incidindo sobre as coletividades tão dignas de
respeito e acatamento (...) quem quiser viver conosco, desista da idéia de atear contendas
originadas de preconceitos de raça e de religião”.56131
Mais tarde, nos difíceis anos, quando o anti-semitismo no mundo e no Brasil
atingia seu clímax, Evaristo de Moraes, admirável lutador contra todo preconceito social,
em um artigo intitulado “Judeus sem dinheiro, tais como eu vejo...” sai em defesa dos
judeus ao descrever que um aspecto da pobreza israelita é o lodaçal da prostituição: “Desde
os últimos anos do Império, fora notado o fenômeno: vinham, às porções, pobres moças
judias, trazidas por vis exploradores, os famosos cáftens, e aqui vendidas, literalmente
vendidas. Não se pode negar, entretanto, que àquela época, aqui ficavam abominações
idênticas (...) Perseguições contínuas, forçada segregação social sistemática, recusa de
instrução, todos estes fatores congregavam na Rússia, na Polônia, na Hungria, para tornar
incompatível a existência do proletariado judeu, do sexo feminino. Percebe-se como eram
propícias tais circunstâncias às manobras dos exploradores do meretrício”. Ele apontará, no
entanto, que elas se diferenciam das demais prostitutas pela solidariedade, deveres
religiosos e, acima de tudo, pela ajuda e o auto-sacrifício que se manifesta pelo envio de
dinheiro para a sua família necessitada da Europa, e educação dos filhos, e os demais.
Evaristo de Moraes menciona o aspecto da criminalidade e dirá que “há velho
preconceito policial, atribuindo aos judeus a primazia na prática de certa forma de lenocínio
– o chamado caftismo (...) antigo chefe de investigadores (...) pretendeu convencer-me de
viverem da exploração do meretrício determinados profissionais judeus, reconhecidamente
chefes de família, que eu sabia honestos, por íntimo conhecimento. Explicação: tinham eles
por clientes mulheres prostitutas, as mesmas, aliás, que constituíam, naquela época, a
melhor clientela de certas joalherias da Praça Tiradentes e de uma farmácia em cujo
consultório fez nomear um dos mais notáveis dentre os ginecologistas brasileiros. Verdade
é, porém, que mesmo no tocante ao caftismo, não é lícito afirmar-se, querendo falar com
consciência, que o elemento judaico prepondere sobre os outros”562
.
Evaristo de Moraes apreendia o espírito do tempo impregnado de anti-
semitismo que incluía em seu arsenal argumentativo a acusação aos judeus de tráfico de
brancas. Mesmo muitos anos após, intelectuais brasileiros do quilate de um J.F. de Almeida
Prado expressavam o seu ranço preconceituoso contra os judeus com o mesmo argumento:
“De 1890 a 1914 afluíram esses elementos [judeus] ao Brasil a fim de praticar tráficos
561
Kol Israel, nº 7, 1º de junho de 1919. 562
Evaristo de Moraes, in Os judeus na História do Brasil, Zwerling, Rio de Janeiro, 1936, pp. 101-113.
331
ilícitos, por assim dizer, a única profissão que lhes permitia o império dos tsares, por sinal
uma das causas da queda do antigo regime moscovita, porquanto as suas comprensões
atiraram os judeus no rol de seus adversários... Alardeavam por esse motivo grande
desprezo pelos israelitas de cheiro caprino do norte da Europa – os ashkenazim mestiçados
com as populações da Rússia oriental, Polônia e Bessarábia. Ainda há pouco, os seus netos
escandalizavam-se quando vinha à baila alguma proeza de “polacos” (e bessarábios),
incriminados no Brasil no tráfico de brancas judias. A tradição dessa superioridade era,
consoante costume israelita, zelosamente conservada por numerosos especialistas em
questões religiosas e anciãs dedicadas à genealogia”.563
Um relatório interessante sobre a situação do tráfico no Rio de Janeiro, escrito
em 14/07/1920 por N. J. Thisch, do Departamento de Comércio e Indústria da Organização
Sionista Mundial em Londres, em base a um depoimento de um judeu residente no Rio,
Salomão Castro, que estava de passagem por aquela cidade, vem confirmar a luta na qual
David José Perez estava envolvido. Castro se reporta ao fato de que “um grupo de
traficantes enviou convites para a abertura do cemitério da Sociedade Beneficente
Israelita, que deveria se dar em 30 de maio de 1916. David Perez, ao se inteirar do fato,
achou necessário comunicar à imprensa que não se tratava da comunidade judaica do Rio,
escrevendo uma longa carta ao A Noite de 2 de novembro daquele ano, na qual procurava
denunciar ao grande público quem eram os seus patrocinadores. Castro, em seu relato, diz
que os traficantes não hesitaram em responder à carta de David Perez, e em 6 de
novembro eles publicavam no Correio da Manhã uma carta sob o título O Cemitério dos
Israelitas, assinada por A. Kauffman, na qual procuravam demonstrar que eram os reais
representantes da comunidade judaica do Rio. O depoente observa que logo após a
abertura desse cemitério os seus patrocinadores fizeram de tudo para ganhar a confiança
de certos círculos judaicos, e devido à oposição existente, colocaram à disposição dos
opositores uma certa parte do terreno àqueles que não quisessem ser enterrados
juntamente com as prostitutas”564
.
Não sabemos se alguém da comunidade utilizou-se desse ato de generosidade
dos cáftens. Nos Zichroines (Memórias) de Jacob Schneider encontramos uma versão sobre
a aquisição de terreno para cemitério de parte dos cáftens: “Em 1914 faleceu um jovem
judeu. Não tivemos outro jeito a não ser enterrá-lo em um cemitério católico. Começamos a
procurar um meio de como formar um cemitério judaico. O problema prolongou-se por
vários anos. Quando finalmente encontramos um lugar, o nosso advogado, que também
representava os traficantes de escravas brancas, em vez de passar a escritura em nosso
nome, o fez em nome deles”565
. Esta versão é complementada, no mesmo manuscrito de J.
Schneider: “o local era anexo ao cemitério cristão; entretanto, após muito procurar,
encontramos outro lugar”, o que confirma que se tratava do terreno em Inhaúma. Samuel
Malamud parece esclarecer o que teria ocorrido ao dizer que os tmeim também
563
Almeida Prado, J.F., Primeiros povoadores do Brasil, 1500-1530, Bib. Pedagógica
Brasileira, São Paulo, pp. 31-32. 564
O documento se encontra no Central Zionist Archives, Jerusalém, Z4/2350. 565
P. 21 da versão portuguesa do manuscrito em ídiche. Cópia no A.H.J.B.
332
conseguiram das autoridades que seus mortos fossem enterrados naquele mesmo local, o
que levou a comunidade a abandonar o mencionado cemitério566
.
Podemos depreender que na atitude deliberada de se apresentarem como
membros da comunidade judaica e seus representantes os cáftens conseguiram que o
terreno em questão caísse em suas mãos. Os cartazes de teatro mencionados anteriormente
confirmam a sua intenção de adquirir o terreno de Inhaúma, já que o problema sob o
aspecto religioso judaico era tanto deles como dos demais imigrantes; seus mortos eram
enterrados nos cemitérios cristãos567
.
David José Perez, que teve um papel decisivo na formação de várias
instituições comunitárias, bem como no movimento sionista do Brasil, era a pessoa
indicada para a missão à qual se propôs.568
Sua cultura e seu domínio da língua portuguesa
o apontava como um líder natural para a difícil empreitada de combater a marginália que
infestava a vida judaica. Na época, o estigma judeu - traficante de escravas brancas estava
profundamente arraigado na opinião pública e a separação do maldito binômio exigia uma
atitude radical. É ilustrativa uma carta que Maurício Mossé publicou no Jornal Moderno,
na Bahia, em 14 de outubro de 1916, e transcrita no A Columna. O autor responde a uma
pessoa que se diz “polaco” e que em 11 de outubro escrevera “que são os perversos judeus
que constituem a maior praga da Polônia”. Mossé dirá:
“Eu não garanto, sr. redator, que entre os judeus nascidos na Polônia algum
ou alguns não haja que se dediquem ao abominável comércio da escravatura branca. Mas,
quando em nosso grêmio aparece algum desses miseráveis, nós somos os primeiros a
enxotá-lo. Ao que se torna cáften nós proibimos a entrada em nossos templos, não lhe
damos sepultura em nossos cemitérios; são publicamente excomungados pelos nossos
rabinos; não são mais reconhecidos como judeus. Desejava que o senhor polaco me”
contasse o que entre eles, filhos da Polônia, se faz quando um seu patrício comete tão
repelente crime 569
. O veneno destilado pelo “polaco” mesclava o estigma judeu-traficante.
566
Malamud, S., Recordando a Praça Onze. Kosmos, Rio, 1988, p. 83-4. É inteiramente equivocado e sem
fundamento o que escreve a autora do livro Baile de Máscaras, página 113, que “a idéia da compra de um
cemitério para os ‘puros’ só surge por volta dos anos 20, quando o Cemitério Israelita de Inhaúma, fruto da
compra e não da doação de terreno, estava em pleno funcionamento”. A idéia surge bem antes e a criação da
Sociedade Funerária (Chevra Kadisha) se dá em 1º de março de 1920. O Centro Israelita do Rio de Janeiro,
fundado em 1º de outubro de 1910, tem em seus Estatutos Título I, Org. e fins parágrafo 3º, adquirir um
terreno para servir de cemitério à comunidade israelita, Col. Nachman Falbel. Tudo indica que a versão de
Jacob Schneider dando o ano de 1918 para a aquisição de novo terreno seja verdadeira, uma vez que em 1920
já se realizaram enterros em São João do Meriti. Também aqui, como em outros lugares de seu livro, como
veremos, a autora revela total desconhecimento da história da imigração judaica no Rio de Janeiro e no Brasil.
Na verdade houve outras tentativas bem anteriores de se obter um terreno para criar um cemitério judeu, a
começar da petição que os judeus do Rio fizeram a D.Pedro II, em 1872, conforme nos informa a Folhinha
Laemmert, de 1874, p.227, apud David Gueiros Vieira, Protestantism and the Religious Question in Brazil:
1850-1875, The American University, Washington, 1972, p.118. 567
Nos anos 70, visitando juntamente com os historiadores Egon e Frieda Wolff esses cemitérios,
encontramos sepulturas identificáveis como sendo de tmeim. Wolff, Egon e Frieda, Sepulturas de Israelitas
(São Francisco Xavier), ed. C.E.J., nº 3 SP, 1976; Sepulturas de Israelitas II, ed. C.C.I., Rio de Janeiro, 1983. 568
Sobre David José Pérez e sua atuação na questão dos “tmeim” bem como na formação da
comunidade judaica no Brasil vide Falbel,N., David José Pérez:uma biografia, Garamond, Rio de
Janeiro, 2005.
569 A Columna, 3 de novembro de 1916.
333
O mencionado Salomão Castro, em seu depoimento lembrado acima, relata que nos inícios
da guerra (Primeira Guerra Mundial) uma certa mulher polonesa escreveu uma carta à
imprensa na qual acusava todos os judeus de se ocuparem com o tráfico de escravas
brancas. Perez respondeu a essa acusação, mas logo a seguir mais acusações iguais contra
os judeus foram levantadas pela colônia polonesa. Castro observava que um iletrado de
nome Jacob Kasinsky, presidente da Sociedade Nacional Polonesa, estava à testa do
movimento antijudaico no Brasil, e todos os artigos que apareciam na imprensa, ainda que
assinados sob seu nome, na verdade eram escritos por um polaco que era secretário do
consulado russo no Rio. Ele ainda nos informa que nessa sociedade havia também sócios
judeus até o momento em que os artigos anti-semitas os afastaram da mesma. Desse modo,
podemos entender o esforço de David Perez, justamente na intenção de lançar as bases para
uma organização comunitária em nível nacional num encontro com todos os representantes
das comunidades brasileiras, a fim de criar uma representatividade diferenciada da
associação dos cáftens e prostitutas que confundia a sociedade brasileira a respeito de sua
identidade570
.
Uma nova etapa na vida comunitária judaica do Rio e do Brasil inaugurar-se-ia
com a vinda do Dr. Yehuda Vilensky, representante da Organização Sionista Mundial, que
incentivou e criou os primeiros núcleos sionistas no Brasil e permitiu, em 1922, a formação
da Federação Sionista do Brasil, sediada no Rio de Janeiro571
.
No mesmo ano, em 15 de novembro de 1922, realizar-se-ia o 1º Congresso
Sionista do Brasil, e uma das resoluções fazia referência ao combate aos “indesejáveis”,
demonstrando que a questão preocupava diretamente o movimento nacionalista como um
todo e que via no saneamento da vida judaica também um objetivo adicional às suas
finalidades políticas572
. Dois anos após, o Froien Farein (Associação das Mulheres Judias)
do Rio, fundado em 1916 (de acordo com Jacob Schneider, mas oficialmente em 23 de
dezembro de 1923), publicava no número 54 do Dos Idische Vochenblat um apelo geral
alertando e convocando a comunidade para combatê-los, e nesse momento essa organização
de mulheres, que atuava no campo da ajuda e beneficência aos imigrantes, também se
incumbira de controlar a atividade dos rufiões a fim de evitar que estivessem presentes nos
portos de desembarque de imigrantes para aliciar moças à prostituição, ao mesmo tempo
em que se empenhavam em tirá-las de suas garras se porventura viessem a ser enganadas
por cáftens com promessas de casamento ou de sucesso material na dourada América, como
era usual na época. A atividade das mulheres judias através do Froien Farein foi importante
para a salvação de muitas jovens, que de outra maneira teriam caído na prostituição. Na
verdade, elas estavam ligadas ao Ezrat Nashim ou à Sociedade de Proteção de Mulheres de
570
Falbel, N., O Primeiro Congresso Israelita no Brasil, in Shalom, set. 1981, pp. 20-23 e nessa coletânea. No
Arquivo David José Perez encontramos várias cartas, em tempos diferentes, nas quais ele afirma
enfaticamente que a criação do A Columna foi motivada pela necessidade de limpar o nome da comunidade
dos imigrantes da acusação de tráfico de escravas brancas. 571
Sobre ele v. Falbel N., Yehuda Wilensky e Leib Jaffe e o movimento sionista no Brasil (1921-1923). In
Anais do V Congresso Internacional de Investigadores sobre Judaísmo Latino-Americano, B. A., 1988 e nessa
coletânea. 572
O texto da resolução reza o seguinte: “(...) Ao futuro Comitê Central de socorro aos israelitas da Europa se
ocupar da questão do tráfico de brancas e de cooperar com as autoridades competentes para combater este mal
e também regular a questão do divórcio israelita. V. Falbel, N. Documento inédito: os protocolos do Primeiro
Congresso Sionista no Brasil, em novembro de 1922, in Shalom, nº 195, dezembro 1981, janeiro 1982, pp.
14-24.
334
caráter internacional, que a vinda ao Rio do rabino Isaias Raffalovich, em dezembro de
1923, da Inglaterra, permitiu estabelecer um contato mais direto, por ser representante da
J.C.A. (Jewish Colonization Association) para o Brasil. Em suas Zichroines, J. Schneider
faz referência ao empenho do Froien Farein, pois sua esposa Cyla foi ativa desde o início
nessa associação, e relata que “a mais importante missão dessa sociedade era afastar as
moças judias da vida vergonhosa. Ao término da guerra, quando cada navio que atracava
trazia moças judias, muitas foram salvas por essa sociedade”573
.
A Froien Farein tinha como objetivo básico de sua associação a proteção de
mulheres, e isto está expresso claramente em sua história escrita por Ida Pames: “A
primeira preocupação da diretoria foi legalizar a associação e criar estatutos. Ao mesmo
tempo a diretoria trabalhou com a Sociedade de Proteção das Mulheres de Londres,
juntamente com o Relief. Para esta atividade foi decidido formar uma Comissão especial
composta com as seguintes sócias: Sima Hoinef, Z”L, Edy Koifman e a senhora Shapira. A
tarefa da Comissão era aguardar os navios que entravam no porto e observar as mulheres e
moças judias e saber por que haviam vindo ao Brasil. Era um tempo em que as pessoas do
submundo desencaminhavam mulheres e jovens, e muitas vezes, as próprias mulheres e até
mesmo irmãs e parentes. Graças à guarda permanente da Comissão muitas mulheres e
moças foram salvas e a Froien Farein começou sua atividade de ajuda crescente e passou a
desempenhar um papel vital na vida judaica do Rio”574
.
Isaias Raffalovich575
representaria o Brasil nos encontros internacionais para o
combate ao tráfico de escravas brancas e se empenharia em mobilizar as mulheres do
Froien Farein para enfrentar o problema576
. O apelo dessa Associação teve eco em todo o
Brasil, como podemos verificar pela publicação da carta assinada por Rachel Roitman, de
Penedo, na qual repete “que uma parte de nosso povo está mergulhado na sujeira (...) somos
chamados ‘russos’ e aquele elemento também (...)”577
.
Contudo, uma nova agravante em relação à questão surgiria em 1925, quando a
Prefeitura do Rio decidiu proibir a prostituição no centro da cidade e admiti-la na avenida
desde o Mangue, a partir da rua Santana e Praça Onze, onde se concentrava boa parte da
população israelita. Sob o título Vizinhos indesejáveis, o Dos Idische Vochenblat578
tratava
do assunto com visível preocupação, e em outro artigo de fundo, O destino de nossas
iniciativas sociais, acusava a comunidade de não enfrentar com a devida energia o
problema e se mostrar passiva frente ao mesmo579
.
573
A enunciação da autora do Baile de Máscaras, p. 114, de que “por mais que membros da comunidade
israelita afirmem ter se preocupado em ‘salvar’ as moças, indo aos portos alertá-las, sabe-se que, se esse
trabalho foi feito, seu resultado foi quase nulo” é destituída de qualquer fundamentação documental ou
estatística para ser tão categórica. Também o significado das aspas na palavra “salvar”, colocadas pela autora,
deixa margem a várias interpretações (...) sobre a própria concepção da autora em relação ao problema. 574
Parnes, Ida, Geschichte fun idischen Froien Farein (História da Sociedade Beneficente das Damas
Israelitas do Rio de Janeiro), red. Nelson Vainer, Rio de Janeiro, 1961, pp. 26-7. 575
Sobre ele e sua frutífera atuação no Brasil, vide seu livro autobiográfico, Tziunim ve-Tamrurim, (Marcos e
sinais) Tel-Aviv, 1952. 576
O Brasilianer Idische Presse de 08/07/27, número 211, traz relatório de Raffalovich sobre o encontro
internacional da Ezrat Nashim (Sociedade de Auxílio à Mulher), em Londres, em que estiveram presentes 70
delegados, incluindo o Dr. Halfen, da Argentina.
577 DIV, 16/01/25, número 62.
578DIV, 05/06/25, número 82.
579 DIV, 12/06/25, número 83.
335
Os fatos nos lembram o que iria acontecer em São Paulo muitos anos mais
tarde, quando a Prefeitura estabeleceu no bairro judeu do Bom Retiro a zona do meretrício,
após tê-la proibido de funcionar no centro, ocorrendo o mesmo, naquele tempo, no Rio.
Podemos aventar a hipótese de que o estigma judeu - traficante de escravas brancas, judeu -
prostituição estaria subjacente na mente das autoridades que decidiram por tais
transferências e localizações.
De toda forma, a preocupação relativa à transferência das prostitutas para o
bairro judeu na cidade do Rio levou a que se convocasse uma reunião do executivo do
Centro Sionista, na qual constava, entre outros assuntos, a “migração da prostituição”, que
deveria ser levada a um encontro especial de representantes das instituições comunitárias
para estabelecer tratativas com o governo sobre a questão.580
Podemos imaginar o quanto
esse assunto angustiava a comunidade, que ao procurar por todos os meios a separação e o
isolamento dos tmeim, era levada por uma resolução administrativa a tolerar sua presença
ao seu lado. Ainda nesses anos se encontrava viva a memória dos acontecimentos aos quais
fizemos referência ao redor do cemitério, que somente a partir de 1920 encontraria uma
solução satisfatória pela aquisição de um terreno sito em São João do Meriti. Após vários
anos seria terminada a sua construção, isto é, em 31 de outubro de 1926, ainda que desde
aquela data – 1920 – já era utilizado para os enterros da comunidade. Para a inauguração,
que contou com a presença de Isaias Raffalovich, o público judaico seria convidado,
fazendo-se a ressalva: “Temos em vista só o elemento que moralmente não se encontra fora
de nossa comunidade”581
.
O Centro Sionista expressava, além do mais, uma postura ideológica que o
movimento sionista em geral, e o brasileiro em particular, desde que se criou a Federação
Sionista do Brasil, em 1922, assumiu, no sentido de afirmar-se como uma nova nação
digna, respeitada e reconhecida pelas demais nações do mundo, visando a criação de um
Lar Nacional Judaico na Palestina. Em outras palavras, a questão dos tmeim não se limitava
à vida comunitária, mais do que isso, ela implicava na necessidade da criação de uma auto-
imagem nacional sem manchas morais.
No judaísmo europeu encontrava-se difundida a imagem de que o judaísmo
sul-americano, na Argentina e no Brasil, se ocupava e vivia da prostituição, e na medida
que os visitantes de fora se deparavam com a presença dos tmeim, em grande quantidade
nesses países, criava-se a falsa impressão de que os rumores difundidos na Europa desde o
final do século XIX eram verdadeiros, ou seja, que esse judaísmo era composto de
traficantes e prostitutas.
Entrevistas de visitantes ilustres como o do já lembrado Peretz Hirschbein, que
esteve em São Paulo e no Rio em 1914, e ao voltar ao Brasil pela segunda vez, em agosto
de 1925,582
para proferir conferências em várias comunidades brasileiras, tocara nos
sentimentos desse judaísmo, deixando grande mágoa devido a uma declaração infeliz feita
ao Di Idische Emigratzie, órgão do HIAS-Emigdirekt de Berlim.583
O Idische Folkstzeitung
publicou um artigo com o título Peretz Hirschbein’s gut vort (A “boa palavra” de P.
580
DIV, 27/07/25, número 89. 581
DIV, 29/10/26, número 155. 582
DIV, 29/05/25, número 81; 19/06/25 número 84; 26/06/25 número 85; 02/07/25 número 86; 10/07/25
número 87; 17/07/25 número 88; 24/07/25 número 89. 583
Idische Folkstzeitung, 27/01/1928 nº 12.
336
Hirschbein), que reproduzia a entrevista do dramaturgo na qual afirmava que “no Rio, às
vésperas da Primeira Guerra Mundial, havia 1.700 almas, a maioria era de solteiros, poucas
famílias, em sua maioria de clientelchikes (mascates). Alguns poucos eram ricos, com lojas
de móveis. Mas o grande mal, como em toda a América do Sul, é a prostituição. Naquela
época havia cerca de 5.000 prostitutas judias no Rio, mas elas ficaram isoladas da nova
imigração e têm um cemitério próprio, onde sobre as lápides estão inscritos os maiores
elogios. Na época, a população judaica do Rio não tinha um cemitério próprio. Em São
Paulo, na época, não havia mais de 300 almas, mas eram gente de família. Na minha
segunda visita ao Brasil, em junho de 1925, a situação já era outra, e no Rio já havia cerca
de 5.000 almas, e hoje existem duas bibliotecas (I.L. Peretz e Scholem Aleichem) e
trabalhadores judeus. No que se refere ao tráfico de escravas brancas, ele continua e se
encontra espalhado nas ruas onde habitam os judeus, e com isso a comunidade sofre muito,
e por isso ela procura ser a maioria em relação aos tmeim, e luta para serem vistos como
‘judeus’, e não como ‘russos’, como eram identificados os tmeim. E somente com uma
imigração, que o Brasil pode absorver, se possibilitará que os tmeim se tornem uma
minoria, até que desapareçam”. O redator do periódico não poupou críticas à entrevista de
P. Hirschbein por denegrir a imagem da comunidade judio-brasileira e exagerar, como de
fato parece ter exagerado, sobre o peso numérico dos tmeim na cidade do Rio. De resto, a
entrevista revela em boa parte o estereótipo sobre o judaísmo brasileiro e argentino, aos
olhos desses visitantes.
Em seu livro “Fun vaite lender :Argentine, B razil, Yuni, November, 1914”
Hirschbein ao falar de uma imigração do ano 1890-na verdade ocorreu em 1891- retrata o
destino de várias famílias que caíram nas mãos dos traficantes de escravas brancas. No
mesmo livro ele se refere ao cemitério geral onde se encontram enterradas jovens prostituas
vítimas dos traficantes que morreram prematuramente. Em um capitulo narra sua presença
em Belém do Pará após seu navio ser capturado pelos alemães e nos surpreende ao narrar
seu encontro com os sefaraditas marroquinos que compõem a comunidade local e estão
imbuídos da convicção generalizada na sociedade brasileira de que os “russos”, isto é,
judeus asquenazitas da Europa oriental, se ocupam maiormente com o trafico de escravas
brancas e por isso deve-se estar deles afastados.584
Peretz Hirschbein, autor da peça Miriam, que tratava do tema, tinha certamente
uma sensibilidade maior em relação ao problema, e ao visitar em 1925 o Brasil, ele
publicaria no Dos Idische Vochenblat, sob o título Brasil, um retrato sobre o que vira na
zona de prostituição do Rio: “(...) Tarde, após a meia-noite, nas ruas judaicas. Casa ao lado
de casa. Porta perto da porta. Corredor junto a corredor. Corredores iluminados. Cinco,
seis, sete judias em cada corredor. Com a enlameada nudez elas estão sentadas sob a luz
berrante. Como moscas ao redor de monturos de lixo, homens as rodeiam com a luxúria
estampada em seus rostos. Ouve-se em espanhol, ídiche, alemão: venha comigo, venha
comigo (...) Como chegou ao nosso povo esta peste? Que ventos trouxeram esta sujeira?
(...)”585
. Hirschbein escrevia, como outros, dolorido e confuso com a existência chocante do
fenômeno pela sua notada dimensão no Rio e em Buenos Aires, onde também estivera.
Algo semelhante, muito próximo ao tempo da entrevista que P. Hirschbein dera no
584
Hirschbein,P., Fun vaite lender:Argentine ,Brazil, Yuni,November,1914, N.Y., 1916, reed. Book
Renaissance, N.Y., 2012, pp.177-8; 252-255.
585 DIV, 24/02/1926, número 120. Peretz Hirschbein já não se encontrava mais no país
337
mencionado periódico, ocorreria com Jacob Zerubavel, o famoso líder do Linke Poalei Zion
(Partido Obreiro Judaico, de esquerda), que também tivera a oportunidade de visitar o
Brasil, em nome do Zicho (organização central da rede escolar judaica de língua ídiche na
Polônia). O periódico Idische Folkstzeitung, do Rio,586
referiu-se a uma entrevista de
Zerubavel na qual acusava os judeus da América do Sul de traficar com escravas brancas, e
o redator do periódico não poupou o líder socialista pela generalização, acusando-o em dois
artigos, Zerubavels nekome (A vingança de Zerubavel) e Zerubavel un froien-hendler
(Zerubavel e os traficantes de escravas brancas), dizendo que suas afirmações decorriam do
mau desempenho em sua missão no Brasil. O autor dos artigos, Aron Bergman, por outro
lado, era um antigo desafeto – ainda na Polônia – do líder poalei-sionista e aproveitou-se da
oportunidade para atacá-lo pessoalmente.
A questão dos tmeim encontrava-se agora nas páginas do jornal judaico mais
influente da comunidade do Rio de Janeiro, o Idische Folkstzeitung, fundado em 20 de
dezembro de 1927, que reunia uma plêiade de ativistas sociais no nível de Eduardo
Horowitz, Jacob Schneider, Salomão Gorenstein, e tinha como redatores Shabetai
Karakuchansky, o escritor Menashe Halperin e o combativo e culto Aron Bergaman. Em
seus primeiros meses de existência o periódico colocava novamente a questão como um
problema que desafiava a comunidade. O artigo Der kampf mitn rufianizm (A luta contra o
rufianismo),587
escrito pela redação, dizia que “no Rio existem rufiões em quantidade, que
pertencem a outros países e são importados588
, e em parte são daqui mesmo, o que não é
novidade. Assim como não é novidade que para a justiça eles não existem (...) e a suspeita
de que a polícia é excessivamente tolerante para com eles (...) quem sabe com a imprensa
não perdendo a oportunidade para atacá-los poderão ser desmascarados (...) é de se crer que
a atual atenção da metrópole em melhorar sua aparência possa varrer daqui esse elemento
degenerado (...)”.
O número de abril589
do mesmo ano trazia a informação de que dois traficantes
de escravas brancas foram presos na Polônia: “Noach Miteloch, com a ajuda de sua esposa,
trazia da província para Varsóvia moças, que após serem entregues para a polícia, eram
prostituídas. As mais bonitas eram vendidas aos traficantes, que as levavam ao Brasil e à
Argentina, assim como aos portos franceses e alemães e à América do Norte”. Cerca de um
mês após590
, sob o título Segredos do tráfico de mulheres perante o tribunal de Varsóvia, o
jornal tratava de um traficante que esteve no Rio, Haim Silberstein, que se casou com uma
moça em Paris, de nome Perl Krochmal, após sair de Varsóvia em 1919, e logo após o
casamento forçou-a a se entregar à prostituição, levando-a a Buenos Aires e vendendo-a a
um prostíbulo. Voltou a Varsóvia para buscar mais “mercadoria”. Seu comparsa era Isac
Napoleon, de Buenos Aires, e em carta ele descreveu a mercadoria que desejava. Procurou-
se saber onde estava Perl Krochmal e soube-se que era prostituta no Café Internacional de
Buenos Aires. Ele foi condenado a três anos de prisão. O Idische Folkstzeitung engajava-se
586
Idische Folkstzeitung, 06/01/1928, número 6.
587
Idische Folkstzeitung, 07/02/1928, número 15. 588
Provavelmente refere-se à Argentina, que nesse ano estava em especial perseguindo com rigor traficantes
e cáftens. Logo mais desencadear-se-ia, em 1930, o grande combate ao rufianismo pelo comissário Júlio
Alsogaray, provocado pelo “conhecido affaire” Raquel Liberman. 589
Idische Folkstzeitung, 10/04/1928, número 33. 590
Idiche Folkstzeitung, 08/05/1928, número 41.
338
no combate ao rufianismo, fazendo questão de publicar o que se passava em outros países e
em suas conexões na América do Sul.
O mal-estar provocado pela imagem desfigurada que o judaísmo brasileiro
tinha perante a opinião pública judaica de outros lugares – e perante si mesmo – manifesta-
se na divulgação de um número extra591
do jornal Unzer Leben (Nossa vida), que começou
a ser publicado em 23 de dezembro de 1927, sob a direção de Natan Ferman e redação do
escritor Adolfo Kichinevsky592
.
O artigo desse número extra com o título Zevorfen di vant oder nit?!
(Derrubada à parede, ou não?!) iniciava afirmando que “os judeus do Rio se encontravam
perante um grande desafio: o de manter o nosso bom nome perante o mundo, e para o que
já lutamos durante muitos anos com todas as nossas forças”.
“Sabemos qual é a nossa responsabilidade em levar a público (...) e não
permitiremos o abandono que predomina atualmente no teatro judaico através da
Companhia Lubelchik e Bren (...) e não permanecer indiferentes a isso e trazer o nosso
grave protesto contra as pessoas que nos querem aproximar lado a lado com esses tmeim,
com os quais lutamos há anos e aos quais conseguimos corajosamente erradicar de nossas
fileiras.”
“(...) A parede de ferro que conseguimos erguer para nos separarmos foi
quebrada nos últimos espetáculos da mencionada empresa (...) e não podemos permitir
sentar-nos e silenciarmos quando do nosso lado estão sentados esses engordurados, de
barrigas proeminentes, com faiscantes brilhantes, ‘alfonsos’ que nos olham com seu sorriso
repelente e olhar sarcástico (...)593
E eles podem ser nossos irmãos, porém isso não nos
impedirá de nos afastarmos e fugirmos deles como se foge da peste. E assim como na
Argentina, Buenos Aires, se dá a mescla no teatro ídiche, enquanto que em outras
instituições, e no contato pessoal, se os mantêm distantes, de modo que não conseguem se
aproximar até o umbral.”
“Devemos de uma vez por todas definir para quem se apresenta o teatro, para
nós ou para eles, mesmo que tenhamos que perder uma instituição que se chama Teatro (...)
e devemos constatar finalmente que o fato é um fato, pois eles freqüentam o teatro conosco
e sentamos com eles ao lado, e nos misturamos com eles, e a parede de ferro entre nós e
eles se rompe e cai, e até agora nenhum protesto é ouvido (...) que possa o nosso apelo de
hoje servir de protesto e que a palavra seja dada à sociedade judaica!”
O apelo terminava com as frases: “judeus do Rio, defendam vossa honra!
Fortifiquem a parede de ferro que divide a nós dos tmeim! Que nossa honra e sentimentos
de respeito não tenham uma má repercussão no exterior!”.
De certa forma, esse apelo lembrava o publicado pelo Centro Sionista do Rio
em 26 de setembro de 1924 no Dos Idische Vochenblat594
, pouco antes da visita do escritor
Z. I. Anochi ao Brasil.
591
Unzer Leben, 27/12/1927. 592
V.Raizman, I., A fertl yohrhundert idische presse in Brazil, Safed, 1969, pp. 90-91; sobre Kichinevsky vide
Falbel, N., O mascate Adolfo, in Shalom, 275, setembro de 1989, e também nessa coletânea.
593 A descrição é próxima dos memorialistas que escreveram a respeito e do que se encontra na obra de Leib
Malach, “Don Domingos Kreitzveg”, Vilna, 1930, havendo edição mais recente. 594
DIV 26/09/1924, número 46.
339
As expressões repetitivas de luta da coletividade contra a “mistura”
(oismishung) com o elemento indesejável, “apesar de sua origem judaica”, e “que traz
vergonha a todos nós que vivemos no Brasil e ao povo judeu em geral” voltam a ser
enfatizadas nesse apelo dirigido ao grande público:
“(...) Apelamos a todos para ajudar a fortalecer a parede que erigimos com
tanta força moral entre a honrada sociedade judaica local e os traficantes de escravas
brancas (veise shklafen hendler). Exigimos que nossos concidadãos judeus afastem-se dos
lugares onde se reúne aquele elemento indesejável e não freqüentem eventos e
representações teatrais em que traficantes de mulheres e as vítimas dessa ralé têm livre
entrada, para que nós todos não sejamos pelo amplo público considerados como
pertencentes ao mesmo elemento criminoso. Convidamos a todos os concidadãos judeus a
apoiar a ação da Liga das Nações contra traficantes de mulheres”. O apelo traz como
primeiras palavras “para a honra judaica e para o bom nome de nossa coletividade”, e
termina com “judeus, demonstrem quem vós sois e a quem pertenceis! Evitem a sociedade
que coloca em suspeição nosso valor moral como pessoa e judeu!”.595
Em um relatório escrito por Menasche Halpern ao HICEM publicado em forma
de artigo na revista “Di Ydische Emigratzie” (também em alemão “Die Jüdische
Emigration”), ns. 6-7, agosto-outubro, 1929, sob o título “Di idn in Brazilie” (Os judeus no
Brasil) ao se referir ao número de judeus no país, calculados em cerca de 30.000 ou men os
de 40.000, observava: “Compreensível é que nesse número de judeus não entram
absolutamente aqueles que tem qualquer coisa a haver com os “tmeim”. Esses elementos
estão rigosorsamente colocados à margem e em nenhuma hipótese eles são levados em
conta como vinculados à comunidade judaica no Brasil. Eles não são admitidos em
595
A autora do Baile de Máscaras, pp. 90-91, novamente interpreta às avessas e de modo bizarro ao afirmar
que “ao denunciar o vínculo do teatro com o dinheiro ‘impuro’, o texto teatral teria obrigado as comunidades
judaicas a lutarem por uma cruzada de saneamento. Mais uma vez, não se quis auxiliar as jovens ou senhoras
prostitutas (sic!), o que se quis foi lutar por demarcar os espaços de atuação (sic!)”. Além de não saber
corretamente o nome da peça de Leib Malach, Ibergus (e não Ibegus), a autora comete dois erros graves: 1) O
teatro ídiche não obrigou as comunidades judaicas a lutarem por uma cruzada de saneamento, a cruzada de
saneamento é que deveria abarcar todos os aspectos da vida comunitária – sinagogas, cemitério – e também
foi levada ao teatro, que ainda continuava sendo um reduto dos tmeim (e não tmeins). 2) É pura fantasia a
afirmação de que “mais uma vez, não se quis auxiliar as jovens ou senhoras prostitutas (...)”. A criação de
associações femininas no Brasil (Rio e São Paulo em especial) teve como um dos objetivos centrais salvar
jovens e mulheres das mãos dos traficantes e cáftens. A demarcação “dos espaços de atuação” foi uma das
formas eficientes para combatê-los e evitar que tivessem campo livre em seu “espaço de atuação” para
arrebatar novas vítimas, sob o protesto de serem parte da comunidade. Era a forma da comunidade dizer: eles
são criminosos, afastem-se deles. Como o bom senso indica, as associações não poderiam acabar com os
traficantes sem uma política governamental e policial. Também não é correta a afirmação da p. 89, que diz
que “os relatos contemporâneos de memorialistas das comunidades judaicas do Rio de Janeiro e São Paulo
pouco falam sobre o fato, isto é, as lutas pelo espaço do lazer, (sic) como o teatro ídiche”. Além de Malamud,
encontramos em boa parte, nos poucos memorialistas existentes entre nós, a lembrança viva dessa luta,
mencionando-se entre eles Isaac Raizman, que o faz em todos os seus escritos; Shabatai Karakuchansky no
seu Aspectn funem idischen leben in Brazil (Aspectos da vida judaica no Brasil), Rio, 1956, pp. 74-79, no
capítulo intitulado A Mancha; Aron Kaufman em suas memórias não-publicadas, além dos memorialistas
visitantes que viveram certo tempo no Brasil e escreveram a respeito. Lamentavelmente a autora, por
desconhecer a língua ídiche, não teve a possibilidade de lê-los, concluindo erroneamente que poucos falaram
sobre o fato. Basta acompanhar a imprensa ídiche no Brasil para saber que se falou muito “sobre o fato”,
como podemos comprovar acima.
340
nenhuma instituição e em nenhuma entidade religiosa assim como em nenhum lugar de
eventos destinado ao público. Eles, como se sabe, não são permitidos de serem enterrados
no cemitério judeu”. Nesse tempo a comunidade já havia fixado uma postura radical frente
aos traficantes de escravas brancas ao ponto de não os considerarem em suas estatísticas.
Coincidentemente, no mesmo número da citada revista um artigo do escritor D. Tscharny,
resenha a famosa obra “ O caminho de Buenos Aires” de Albert Londres, traduzida ao
ídiche, na qual descreve em detalhes assombrosos e não menos dolorosos a ação criminosa
e nefasta dos traficantes ao desencaminharem as jovens “noivas” às quais prometiam a elas
e suas famílias, que viviam nas cidades e aldeias da Europa Oriental, uma vida de riquezas
e luxo no Novo Continente.
Muitos anos mais tarde, quando a questão dos tmeim já não constituía um
grave problema da comunidade na sua afirmação de construir uma identidade judaica
moralmente limpa – isso após a década de 40 – a história do judaísmo brasileiro e sua
imigração ainda era lembrada e associada à sua presença por autores de outros países que
publicaram suas memórias e impressões de viagens, incluindo sua passagem pelo Brasil.
Dr. Haim Shoskes, em seu Durch umbakante lender (Através de países desconhecidos), ed.
Monte Scopus, Rio, 1954, pp. 378-379, ao falar do Brasil fará referência a eles: “Aqui
vieram há meio século os judeus da Polônia, ou Romênia, e bem poderiam antes ter
afundado com seu navios e sua ‘mercadoria’. Estes são famosos traficantes de mulheres,
que ocupavam um quarteirão em São Paulo e no Rio para a sua suja ocupação. Eles
desonraram o nome judaico e deram muitíssimo trabalho aos honestos imigrantes da mesma
Polônia, Rússia e Bessarábia, que com pancadaria e sangue, herem (anátema) e com esforço
determinado limparam a mancha vergonhosa que se chama tráfico de escravas brancas
como uma profissão judaica. Isso agora terminou. Eles, os velhos, faleceram; os filhos, em
sua maioria, se converteram e se mesclaram com não-judeus”.
“Muitos emigraram a outros países, onde não se sabe de seu passado. No Rio
ainda se encontravam algumas centenas deles, alguns ricos magnatas, que possuem até um
cemitério próprio e uma sinagoga com uma zeladora que foi uma mome (tia, isto é,
prostituta ou cafetina). Eu, uma vez, descrevi minha visita a uma reza de Rosh Hashaná e
Iom Kipur). Eles não tinham um minian (isto é, dez varões adultos para o culto sinagogal)”.
A preocupação dos judeus brasileiros com a imagem frente ao exterior é
claramente demonstrada no livro do Dr. Arthur Ruppin, renomado sociólogo do povo judeu
e que se engajou de corpo e alma nas questões atinentes à colonização na Palestina antes do
surgimento do Estado de Israel. No seu livro Os Judeus na América do Sul (ed. Darom,
Buenos Aires, 1938, p. 42, escrito em 1935) informa-nos:
“Eles (os judeus da Argentina e do Brasil) sofrem de uma espécie de complexo
de inferioridade no trato com os judeus europeus. Uma de suas freqüentes perguntas é: que
pensam sobre eles os judeus na Europa? Vivem com o eterno temor de que a desonra
daquele grupo de primeiros imigrantes da Europa Oriental recaia sobre eles."
Quando, em 1942, o ativista do Joint N. Chassin publicou suas impressões de
viagem com o título A reize iber Tzentral un Drom Amerique (Uma viagem através da
América Central e do Sul), Arbeiter-Ring, N. Y, 1942, p. 163, passando pelo Brasil, referiu-
se à prostituição e ao tráfico judaico na Argentina com a mesma preocupação de outros
visitantes:
“(...) E importante foi que a primeira tarefa dos imigrantes judeus na Argentina
foi organizar-se para lutar contra os traficantes de mulheres judias, contra os promotores da
prostituição no país. Os judeus entenderam instintivamente que se não expulsassem da vida
341
judaica essa horrenda ocupação sua vida no país seria amarga e se sentiriam moralmente e
espiritualmente rebaixados, e seriam vistos por todos como uma mancha, uma peste para o
povo argentino (...) !"
Os testemunhos desses visitantes são unanimes em mostrar que a luta encetada
contra os traficantes e a prostituição judaica deixou uma lembrança viva na memória da
imigração, ao mesmo tempo em que são uníssonos em afirmar que saíram vitoriosos pela
decisão de afastá-los de seu convívio comunitário: "eles (os judeus da Argentina) contam
sobre os anátemas (herem) que foram proclamados sobre os traficantes; sobre as lutas
corporais que travaram contra eles nos teatros, nas reuniões e em geral na vida comunitária
(...)”.
"(...) Traficantes que em parte vivem ainda hoje deixaram há muito sua
ocupação, mas eles não podem encontrar lugar na vida judaica, pois são considerados
impuros e indesejáveis. Hoje esta mancha da vida judaica é uma coisa do passado."
Passado o período crucial dessa luta, que durou mais de três décadas,
compreendendo os anos 10, 20 e 30, a comunidade judaico-brasileira podia identificar-se
abertamente, sem esconder sua personalidade religioso- nacional perante a sociedade mais
ampla e sem ser confundida com seu elemento criminoso e marginal.
Assim mesmo, as feridas não estavam de todo cicatrizadas, pois quando no
Primeiro Congresso Mundial de Cultura Judaica realizado em Paris, em 17/21 de setembro
de 1937, o delegado brasileiro M. Kopelman relatou sobre o Brasil, disse o seguinte: “Não
é para ninguém um segredo quem foi a maioria dos primeiros imigrantes. Eram traficantes
de mulheres, prostitutas, arrombadores, falsificadores de dinheiro. Eles foram pioneiros da
multidão de imigrantes, que, como veremos adiante, adquiriu mais tarde uma tendência
bem diversa. Porém, além desse elemento, se encontravam entre os primeiros imigrantes
também gente honesta. Eram judeus do sul da Rússia e Bessarábia, foragidos dos pogroms
do regime czarista”.596
Kopelman seria duramente criticado na imprensa judaica brasileira
por transmitir uma imagem deturpada da comunidade judaica no Brasil, o que não deixava
de ser verdade.597
O pesadelo que pairou sobre a comunidade dos imigrantes, após várias
décadas, passara a ser uma lembrança de memorialistas daquela época. Outros expressaram
o que se passara em suas almas e seus sentimentos pessoais em obras literárias, como o fez
Isaac Raizman, que escreveu Lebens in Shturm (Vidas tempestuosas)598
, ou Jacob Gevertz
no seu pequeno conto Unzer onhoib (Nosso começo),599
que despejava sua dor e seus
sentimentos provocados pelas vidas trágicas das vítimas dos traficantes e cáftens.
Já o primeiro escritor da língua ídiche no Brasil, Adolfo Kischinevsky, autor do
Neie Heimen60068
(Novos lares), abordava a questão sob um ângulo diferente no seu conto
Zei leben besholem (Eles vivem em paz). Ele retrata uma ex-prostituta judia, Serke, que
596
Erschter Alveltlecher Idischer Kultur-Kongres, ed. Paris-London-Warsovia, 1937, p. 52. 597
Vide o artigo de José Nadelman, no San Pauler Idiche Tzeitung, de 5 de janeiro de 1938, sob o título “Di
Kultur Konferenz”. 598
Meassef Israel, Tel-Aviv, 1965. Uma crítica ao livro e seu autor, acusando-o de enlamear o “ishuv"
brasileiro, foi publicada no Idische Tzeitung, Rio, 29/10/1965, e reproduzido no livro do mesmo I. Raizman,
Idische sheferishkeit in lender fun portugalischen loshen (A criatividade judaica nos países de língua
portuguesa), Safed, 1975, pp.35. 599
Publicado no periódico de São Paulo Velt-Spiegel (Espelho do Mundo), nº 5, outubro, 1939, p. 10. 600
Casa Editora Yung Brazil, Nilópolis, Rio de Janeiro, 1932.
342
após esposar um jovem na Europa foi levada à Argentina, para um bordel. Com muita
dificuldade e sofrimento, ela conseguira escapar de suas mãos para chegar ao Brasil e viver
em uma “janela". Aqui ela se sentiu mais livre, gente, e não precisava prestar contas a
ninguém. Nem sequer vivia confinada em uma casa fechada como em Buenos Aires. Aqui
ela encontrou um "amplo campo para trabalhar – uma rua na qual iam e vinham muitas
pessoas e centenas de mulheres se encontravam sentadas defronte à janela falando umas
com as outras e perguntando o que os pais, irmãs e irmãos estavam escrevendo. E se
quisesse ir passear, poder-se-ia encontrar no caminho um cliente decente. Ela conheceu,
nesses tempos melhores, o seu “velhinho", um brasileiro culto que abandonou sua família
para viver com ela. Ele não era um crente, mas em um momento em que ficou adoentado
pediu a Serke para comprar um quadro de Nossa Senhora da Conceição, à qual havia feito
uma promessa, para pendurá-la sobre sua cama com uma "luz eterna". Ele acabaria por
ficar curado, e desse momento em diante Serke lembrou-se de seu Deus, esquecido há
muito tempo no redemoinho de sua vida passada. E ela se aproximou de seu Deus desde
que o "velhinho" aproximou-se do dele, servindo-o como "uma verdadeira filha judia". E ao
chegar a sexta-feira, véspera de sábado, ela se sentia bem em limpar seus candelabros, que
adquirira para abençoar as velas, do mesmo modo que limpava a "luz eterna" que pendia
sob o quadro de Nossa Senhora da Conceição. E as velas de sábado com a "luz eterna" sob
a Nossa Senhora conviviam em paz (...)”
O autor termina lembrando o que Serke sempre diz ao seu "velhinho": "Você
tem o seu Deus e eu o meu".
Um notável professor, dos primeiros educadores da rede escolar judaica de São
Paulo, Josef Schoichet, deixou em manuscrito uma obra, parcialmente publicada em
capítulos sob o título “Menachem Mendel in Brazil” (Menachem Mendel no Brasil), que
passa a ser um retrato da vida do imigrante judeu, mascate, com seus sonhos de sucesso,
sua ambição em trazer a esposa ao paraíso tropical e viverem felizes para sempre. O autor
adota a forma epistolar e intimista que nos encanta por ser uma redação feita com o ídiche
popular, habilmente composto com as expressões do cotidiano e os hebraísmos
impregnados de graça e humor que nos transportam ao mundo do schtetl da Europa
Oriental. O pouco talento comercial do mascate improvisado, que vende gravatas e caminha
de fracasso a fracasso em sua trajetória de imigrante, encontrará sua redenção num
momento fortuito com uma prostituta judia, que o descobre e o emprega como escrevente,
sua e de suas amigas, das cartas às famílias que ficaram para trás, até que a duras penas
venha se descobrir em outra ocupação.601
Schoichet imitava a deliciosa obra do clássico
escritor da literatura ídiche, Sholem Aleichem, conhecido por sua fino humor e ironia
“Menachem Mendel em Yehupetz ,escreve para a sua esposa Sheine-Sheindel, em
Kasrilevke”.
Ele descreverá com ironia à sua mulher como vivem essas “santas mulheres”
(nashim tzadkaniot), que não possuem marido, não são divorciadas e vivem solitárias, e
ninguém quer ter com elas qualquer relacionamento, não as deixando entrar nem na
sinagoga, nem no teatro, e até mesmo, após a morte, não encontram nenhum vizinho. Mas
elas não se importam, pois têm o seu próprio modo de viver, possuem seus “lugares
601
Menachem Mendel in Brazil, brif-oistoisch zwischen Menachem Mendel fun Brazil mit zain froi Sheine
Sheindel fun Kasrilevke (correspondência entre Menachem Mendel no Brasil e sua esposa Sheine de
Kasrilevke), escrito por “Idele” ( pseudônimo usado por Josef Schoichet), em 1936-1940, São Paulo, Brasil
(manuscrito em ídiche), caderno 2, capítulo “Seder Nashim.”
343
sagrados”, seu cemitério com seus belos túmulos. “(...) nós as chamamos ‘pássaros
impuros’ e elas nos chamam de ioldn( simplórios, “caras” decentes ), . Piedosas são com
as almas (...) assim quando chega o Iom Kipur (Dia do Perdão), elas permanecem na
sinagoga o dia todo, jejuam e batem no peito ‘pelo pecado, que pecamos perante Ti (...)”
Em determinado dia, ele será chamado para ler e responder uma carta ao pai de sua
conhecida, na qual se, ingenuamente, sugere que a filha mais jovem, que deverá logo
completar 18 anos, receba uma passagem de sua irmã generosa para vir ao Brasil, pois sabe
que ali ela poderá ganhar bem com o seu trabalho de “costureira”, tal qual ela o faz. O autor
descreverá seu dilema de responder a carta e ser conivente com o inferno, e para que isso
não aconteça, ele usará de um expediente que lhe ocorrera naquele momento de angústia.
Então, ele decidiu-se por escrever ao pai da prostituta a verdade, e não o que ela lhe
ditava...
Mais recentemente o escritor Meier Kucinski, em sua coletânea de contos
Nusach Brazil (Ao modo do Brasil), ed. I. L. Peretz, Tel-Aviv, 1963, no conto Schvester
(Irmãs), descreveria o drama de duas jovens prostituídas na Europa seguindo seu malfadado
destino, uma até a África e outra até o Brasil, até se recuperarem pela sorte e encontrarem
uma vida normal e honrada. Porém, num encontro tardio, às vésperas da morte daquela que
vive no Brasil, pleno de confidências em relação ao passado e trajetórias de suas vidas,
desenrola-se a tragédia de uma ex-prostituta judia que quer ser enterrada no "cemitério
israelita", mas sua condição de banida pela comunidade permite que ela encontre seu
descanso final somente no cemitério "deles", dos tmeim. Meier Kutchinski recorreu a um
topos literário que a realidade do judaísmo brasileiro ofereceu ao seu inegável talento de
escritor impregnado de compaixão.
Compaixão inevitável por aqueles seres arrancados de seus sonhos e atirados
na brutal realidade em que viveram, a ponto de "desejarem que suas almas não sejam mais
encarnadas", como nos revelam certas inscrições nas lápides de algumas dessas criaturas602
.
Foram vidas ceifadas antes do tempo, como a da solitária Leonora, cuja sepultura encontra-
602
Wolff, E. e Frieda, Sepulturas de Israelitas II, ed. C.C.I., Rio, 1983, pp. 120, 124, 126.
344
se no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, identificada por uma pequena e
desgastada lápide cinzenta, tão cinzenta o quanto foi sua vida, e na qual lemos:
"Aqui jaz Leonora
nasceu na Rússia
no anno de 1860
faleceu em 3 de abril de 1885” 603
Atrás das máscaras usadas nos bailes das "moças alegres" escondia-se a
tristeza, o espanto e o horror que seus rostos coloridos aparentemente cobriam.
Sob o aspecto histórico, somente nos últimos anos pesquisas sérias e
conscienciosas começaram a lançar luz sobre a questão, a começar de Os Prazeres da Noite
– prostituição e códigos da sexualidade feminina, publicado em São Paulo (1890-1930), de
Margareth Rago0604
, autora também de um artigo importante sobre o assunto, mencionado
anteriormente, e a obra mais abrangente do historiador americano Jeffrey Lesser, O Brasil e
a Questão Judaica605
, que também faz referência ao tema.
A última pesquisa publicada sobre a temática, e que foi promovida amplamente
na mídia pela própria autora, Beatriz Kushnir, bem antes de terminá-la e defendê-la como
tese universitária de mestrado, foi publicada com o título Baile de Máscaras. Mulheres
judias e prostitutas. As polacas e suas associações de Ajuda Mútua.606
Ao contrário dos estudos antes mencionados, este foi apresentado com
sensacionalismo endossado pela imprensa, na qual certos jornalistas procuraram
"descobrir", juntamente com a autora, um "novo" tema para revelá-lo ao grande público. Na
verdade, a tese desfigurava e mascarava a questão devido à ignorância da autora sobre a
história dos judeus e da imigração judaica no Brasil e suas fontes, adicionado ao erro
metodológico de julgar o passado com o olhar e os valores do presente. A ausência da
língua ídiche, importante para uma leitura das fontes da época, e a adoção de uma postura
"militante" desbragada, que enfatizava sua parcialidade barulhenta, pouco se adequava para
tratar do tema, que se baseou fundamentalmente nas atas e documentos das sociedades dos
tmeim.
Desse modo, o resultado, sob o aspecto da compreensão da relação dos tmeim e
a comunidade judaica no seu próprio contexto histórico, somente poderia redundar num
desastre científico, ainda que nada o impeça de frutificar como novela, peça teatral, vídeo
ou coisa parecida.
A leitura de seu livro aponta para uma ética às avessas, na qual a comunidade
judaica aparece como o vilão da história e os traficantes, "cáftens" e prostitutas como suas
vítimas, sem distinguir os criminosos das prostitutas. Por outro lado, o seu livro leva a
concluir que os cáftens e as prostitutas organizaram-se associativamente a partir de 1906,
como um ato pioneiro dentro do processo imigratório de judeus para o Brasil, e isso devido
ao fato dos mesmos serem vistos como pessoas abjetas e condenadas à dor e à exclusão
social.607
603
Wolff, E. e Frieda, Sepulturas de Israelitas, USP-CFJ, SP, 1976, p. 151. 604
Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1991.
605
Ed. Imago, Rio de Janeiro, 1995.
606
Ed. Imago, Rio de Janeiro, 1997. 607
Baile de Máscaras, p. 112.
345
A afirmação peca por dois erros históricos graves:1) A organização dos
cáftens e prostitutas em 1906, isto é, a Associação Beneficente Funerária e Religiosa
Israelita, não é a primeira associação israelita nem no Rio de Janeiro e muito menos no
Brasil. No Rio de Janeiro, bem antes de 1906, tivemos associações ou comunidades
israelitas organizadas, a começar do século passado, entre elas a União Israelita Shel
Guemilut Hassadim, cuja fundação oficial adotada é de 1830, e ainda que não seja essa data
correta, ela remonta aos meados do século XIX; a União Israelita do Brasil, fundada em
1870; a Sociedade Israelita do Rito Português, antes de 1887, e talvez outra que
desconhecemos até agora, mas da qual a leitura de jornais da época traz algumas
indicações.608
2) Por outro lado, a organização associativa de cáftens e prostitutas no Brasil,
assim com em outros lugares, não decorria da exclusão pelos “puros”, como afirma a autora
(uso as aspas que a autora colocou enigmaticamente na palavra em seu livro), mas da
necessidade objetiva de resguardar seu “negócio” proibido e ilegal em escala internacional
e zelar pela sua “mercadoria” para que cumprisse suas funções, para evitar que fugisse, para
corromper as autoridades políticas e policiais, etc., etc., como bons “empresários” cuidam
de suas “empresas” ou associações.
A Zvi Migdal ou a “Varsóvia”, ou outras organizações criminosas que as
antecederam, na Argentina e outros países, assim como as máfias de todo tipo, são
organizadas com uma estrutura e código de leis que vincula uns aos outros fortemente, sem
que se possa quebrar os laços de união. O rompimento ou a independência era uma ameaça
ao corpo associativo, e não era raro que a prostituta pagasse com a vida ou a mutilação.
Nesse sentido, as vítimas, isto é, as prostitutas, eram chamadas de “escravas brancas”,
apropriadamente, devido a serem “mercadorias” de seus “empresários” (como no conto de
Sholem Aleichem) – os cáftens e traficantes –, assim como os escravos negros o eram nos
lugares e durante o tempo que existiu a escravidão.
A vida das prostitutas nunca foi idílica, e basta ler a ampla literatura a respeito,
bem como os testemunhos policiais, para se dar conta da brutalidade e selvageria de seus
“empresários” no trato com elas, pois seus corpos eram máquinas de fazer dinheiro e dar
lucro aos rufiões, sem qualquer outra consideração. O rufianismo e seus autores eram
ligados aos bas-fond do crime, e o tráfico para as Américas era feito por indivíduos que
tinham um passado marginal e criminoso na Europa, que nem sempre se restringia apenas a
essa atividade. A sua associação e organização advém da própria natureza da atividade
ilegal e criminosa, que exige sigilo, colaboração de autoridades policiais, assim como uma
rede internacional que abasteça o mercado com “mercadoria”. Ao examinarmos de perto as
lápides antigas nos cemitérios cristãos do Rio, veremos que desde o século XIX, quando a
prostituição judaica instalou-se no país, encontramos a inscrição “Pela Sociedade”,
confirmando a existência de uma associação.
Desconhecemos quantos grupos ou sociedades de tmeim desde os anos 70 do
século XIX até 1906, mas as evidências de sua existência parecem confirmar-se com essas
inscrições, e é difícil conceber que o tráfico de escravas brancas não fosse feito por grupos
organizados que pudessem dispensar uma associação. Portanto, é falacioso inferir que a
608
Wolff, Egon e Frieda, Judeus no Brasil Imperial, USP-CEJ 1975 e coletânea de artigos e conferências de
Egon, Wolff, org. Nachman Falbel, I. H. G. B., Rio de Janeiro, 1991.
346
exclusão comunitária impeliu-os à associação, pois o tráfico exigia uma organização do
mesmo modo que toda outra atividade criminosa internacional.
Em outra passagem, a autora expressa que “os sócios da ABFRI, longe de se
autocondenarem, buscaram na vivência comunal religiosa a identidade social para
continuar vivendo”609
.Mas, sem entrarmos no mérito dessa “vivência comunal religiosa” e
seu conteúdo, conforme testemunhos, ela mesclava-se com costumes e comportamentos
que estavam longe de ser permitidos pelo judaísmo, incluindo bailes de Iom Kipur e outras
irregularidades, daí provocarem repulsa maior e revolta para os que viam nisso um deboche
e uma profanação do sagrado.
Mas a enunciação da autora é enganosa ao se pensar que a “identidade social
para continuar vivendo” dependia desse tipo de “vivência comunal religiosa”. Com ela ou
sem ela cáftens e prostitutas eram judeus, falavam ídiche e tinham vindo, como os demais
imigrantes da Europa Oriental, de um mundo espiritual-religioso-cultural sedimentado
durante séculos. O seu passado é que definia sua pertinência, e seu presente, quando
excluídos, não eliminava a continuidade ou a vontade de manter-se ligado a essa
pertinência, mesmo porque não poderiam adquirir outra, a não ser em casos individuais,
através de um casamento com um não-judeu, ou a conversão direta a outra fé.
A comunidade, na sua tentativa de preservar sua identidade judaica, encontrou-
se perante uma situação extremamente dolorosa e difícil: como usar abertamente o nome
“judeu” sem ser confundida com “eles”, em outros termos, como apresentar sua identidade
judaica sem associá-la à criminalidade, ou ainda, como romper o estigma judeu - traficante
exatamente nos termos que os “memorialistas” mais tarde formularão. Entre eles devemos
lembrar Aron Shenker, que em seu livro Vort un Tat (Palavra e Ação)610
escreve referindo-
se à comunidade de seu tempo:
“Aqui queremos enfatizar que estamos falando apenas dos judeus decentes, e
não dos tmeim. Eles eram nossa vergonha. Eles envergonhavam o nome judeu. Nós,
portanto, não tínhamos com eles nenhum contato. Como leprosos, eles moravam em outras
ruas e não se mostravam nos quarteirões onde nossos judeus se encontravam. Essa rigorosa
separação era seguida por todos. Quando acontecia de se ver um judeu falando com esse
réptil, ele deveria explicar por que motivo o fizera para que não atraísse sobre si alguma
suspeita. O interessante capítulo, a luta para uma limpeza moral da comunidade judaica e os
traficantes de mulheres, ainda deverá ser escrito”.
O lúcido ativista de esquerda Aron Shenker, nesse artigo que intitula Para a
história da comunidade no Rio de Janeiro, traça o esforço dos imigrantes em construir uma
vida social, e diz que o período entre 1914 e 1918, devido à guerra, foi de espera, de
intervalo, e é o período, como vimos antes, em que começava efetivamente a criação da
mechitze (separatória) entre a comunidade e os tmeim.
É interessante transcrevermos também o olhar de um velho ativista comunitário
do Rio de Janeiro, Aron Kaufman, fundador do jornal Dos Idische Vochenblat (15 de
novembro de 1923), que redigiu suas memórias entre 1935 e 1950, sob o título Kedai tzu
vissen (Vale a pena saber), cujo manuscrito encontrava-se na editora Biblos, de Henrique
Iussim, Rio de Janeiro, e não chegou a ser publicado. Nas páginas 301-303 do segundo
volume ele nos dá uma versão pessoal sobre a questão:
609
op. cit. p. 112. 610
Ed. Ykuf, Rio, 1959, p. 124.
347
“Já se encontrava então, lamentavelmente, no Brasil, os tmeim, ainda nos anos
finais do século XIX. Mulheres que vendiam ‘amor’ e homens transgressores que
criminalmente exploravam os ‘serviços’ das mulheres, escravizando-as mais ainda.”
“O tráfico de escravas brancas no país, no qual os judeus estavam então
atuando, deve-se atribuir ao tempo dos anos 80 do século passado, quando o governo
brasileiro concedeu licença a algumas pessoas para trazer da Europa trabalhadores e
profissionais necessários para diversas atividades. Os agentes que chegaram à Europa
acenavam com promessas de riquezas aos homens e mulheres que viessem ao Brasil, e
muitas famílias de vários países deixaram se enganar, e entre elas também judeus.
Nenhuma organização oficial para receber os imigrantes, em sua maioria aventureiros, foi
preparada de antemão, o que levou muitas mulheres despreparadas a viver nas condições do
país a se desviarem para essa ocupação. Algumas conscientes e outras inconscientes, e
muitos homens tornaram-se seus ‘protetores’, em vez de lhes procurar trabalho. E entre elas
moças judias e transgressores judeus. A seguir, no decorrer dos anos, viria esse tipo de
imigrante, algumas trazidas enganadas e forçadas, por assim dizer, pela organização
internacional de traficantes de escravas brancas que o eram, ainda na Europa. Mas com eles
os tmeim, a comunidade organizada do Brasil, não tinha nada em comum, e eles não
procuravam criar laços de amizade com as associações culturais e sociais dos ioldn. Com o
tempo, eles tiveram sua sinagoga para rezar nos dias festivos e seu próprio hazan (chantre)
e shames (zelador de sinagoga), que lhes serviam e enterravam seus mortos entre os não-
judeus.
Nos inícios da terceira década de nosso tempo, quando o governo brasileiro
iniciou uma luta ativa contra o tráfico de escravas brancas, começaram os tmeim a procurar
se aproximar com o pequeno e organizado ishuv (comunidade) a fim de limpar-se perante a
política e outros, pretendendo ser, obrigatoriamente, gente honesta. Então, determinou-se
rigorosamente, em todos os lugares, que eles não participassem em qualquer evento
judaico, no teatro ídiche, além de não se aceitá-los como sócios das instituições judaicas. A
luta era pública, e naquele tempo não faltaram batalhas nas representações teatrais de
artistas irritados. E o sucesso foi absoluto. Seu número em todo o país era
aproximadamente de 500 pessoas, entre homens e mulheres”.
Como bem expressa a historiadora Margareth Rago, os tmeim “construíram
para si próprios e para os outros, portanto, uma imagem de comunidade legal, estruturada a
partir de valores próprios, diferenciados dos que predominavam no imaginário social e
segundo um código específico de comportamento e comunicação, como qualquer grupo
marginal estilo máfia. Seu entrosamento no sentido de formar uma rede alternativa
aparentemente independente, tanto da comunidade israelita quanto da própria sociedade
argentina ou brasileira em que circulavam, foi proporcional à preocupação que despertaram
nas autoridades públicas. Várias campanhas repressivas vinham sendo empreendidas
através da imprensa, como já observamos, ampliadas por mobilizações sustentadas pelas
associações israelitas de proteção à mulher, tendo em vista pressionar sua exclusão social
ou mesmo a deportação”611
.
O “judaísmo” e a “religiosidade” dos cáftens e prostitutas como sendo a
condição suficiente para desculpá-los e admitir sua aceitação por parte de seus
correligionários na vida comunitária seria autodestrutiva e sem sentido. A “historiadora” do
611
Os Prazeres da Noite, p. 300.
348
Baile de Máscaras, que lembra insistentemente a “religiosidade judia” das prostitutas, como
se fosse um passaporte para a integração da marginália ao seu redor na comunidade,
desconhecendo os princípios éticos da religião judaica e a halachá ( o conjunto da
legislação religiosa judaica) em relação à prostituição, como vimos antes, não se deu conta
da gravidade da questão nas décadas em que se estruturava a própria vida institucional dos
imigrantes. O ser humano, em geral, incluindo cáftens e prostitutas, assim como qualquer
transgressor ou criminoso, pode ser religioso ou não, independentemente de sua maneira de
viver e da coerência ética exigida teoricamente pela religião, seja ela judaica ou outra
qualquer. Bristow, em seu estudo, lembra a religiosidade dos cáftens e prostitutas judias em
Buenos Aires, assim como em outros lugares, na qual o lendário Luís Migdal, que teria
dado o nome à organização Zvi Migdal, que tinha naquela cidade um clube luxuoso e uma
sinagoga, possuía “a convicção de que a religião mantinha as mulheres felizes”612
. Do
mesmo modo que a sociedade organizada e juridicamente orientada por um código de leis
deve ampará-la e preservá-la dos que atentam contra sua existência e não aceita a
criminalidade, assim a comunidade dos imigrantes que procuraram integrar-se numa vida
normal na sociedade brasileira lutava para preservar a si mesma dos danos morais que os
tmeim lhe causavam.
A ótica da autora do Baile de Máscaras surpreende mais ainda quando formula
a questão como se resumindo “numa relação sempre de conflito entre ‘puros e impuros’, e
dado o constrangimento que ‘esses elementos’ poderiam causar, as alternativas de uma
possível solução da questão do tráfico e da existência de mulheres judias prostitutas são
abandonadas frente à noção de que o melhor a fazer era impor uma cruzada que separasse
os lados”613
. É o caso de se perguntar se havia outras alternativas, além das legais, como
ocorreu na Argentina, e em outros lugares, senão a do isolamento, a fim de evitar que
submergissem no meio da comunidade para aparentar honradez ou descendência de
cidadãos normais e esconder a sua criminalidade, como de fato tentaram fazê-lo. A cruzada
anti-tráfico de escravas brancas era internacional, e o combate a esse tráfico deu-se na
Europa e estendeu-se a todos os continentes ainda quando a imigração judaica asquenazita
na América do Sul estava em seus inícios.
Poder-se ia depreender da postura da autora que a outra alternativa seria o
acolhimento e a integração dos rufiões e prostitutas na comunidade?
Mesmo que a autora se identifique e crie uma empatia com as vítimas614
, isto é,
as prostitutas, é difícil de crer que alguém, de sã consciência, tenha os mesmos sentimentos
em relação à traficantes e cáftens.
O seu entusiasmo pelo “grupo marginal” dos cáftens e prostitutas judias levou-
a a focalizar a sua auto-imagem, como ela mesma o diz, através da documentação de suas
sociedades e de entrevistas orais, o que levou-a a construir com o exame “interior”, isto é,
dos livros de atas e estatutos – como lembramos antes –, o mundo da prostituição judaica,
que se diferencia de outras por ser “judaica”, o que não dá, como já dissemos, nenhum
612
Bristow, op. cit., p. 140. 613
op. cit., p. 89. 614
Em suas entrevistas, de teor sensacionalista que beira a vulgaridade, e em sua tese, ela parte de um
questionamento que é a “essência” de sua pesquisa: como um grupo marginalizado tanto pelos legisladores da
cidade (sic) como pela comunidade judaica criou redes de solidariedade e sociabilidade que lhe definiu uma
identidade social e uma auto-imagem positivas? (Resenha Cultural, Kesher, 2 de maio de 1997). A resposta
que a autora procurou dar absteve-se inteiramente do contexto histórico mais amplo no qual o fenômeno deve
ser estudado e compreendido
349
crédito moral à criminalidade, seja ela de quem for. Cáftens e traficantes ou outros
criminosos, assim como suas vítimas, as prostitutas, continuaram sendo judeus, pois não
poderiam deixar de ser. Uma identidade nacional religiosa não é uma escolha, é uma
herança, ainda que se possa não cultivá-la. Por outro lado, na mesma entrevista à Resenha
Judaica, a autora, com seu enfoque “interno”, escamoteou a verdadeira problemática, isto é,
a da afirmação da identidade judaica da imigração, que não aceitava o mundo dos rufiões,
cáftens e prostitutas, que, como já lembramos, procuravam mostrar-se deliberadamente
para a sociedade mais ampla como seus membros e mesmo, e em dado momento, mesmo
seus representantes. Soa tola e infantil sua afirmação, em sua citada entrevista, procurando
justificar a publicação de nomes e sobrenomes: “Diferentemente do que o senso comum
dita, essas pessoas parecem estar em paz com suas histórias e me deram declarações
lindíssimas (g.n.). Então, por que esconder as polacas? Talvez porque, para uma parcela da
comunidade judaica, nossa identidade é um dado (?), e nesse somos os escolhidos de
Deus(sic) (g.n.). Portanto, acham que não pode haver entre nós pessoas que tenham vivido
de ocupações moralmente condenáveis” (sic) .
Não precisamos fazer comentários adicionais, pois o nebuloso argumento
revela que a autora pouco sabe sobre judaísmo e o significado de sua identidade religiosa-
nacional. Por outro lado, revela a falta de percepção do problema na sua dimensão
histórica, assim como procuramos elucidar durante este trabalho.
Atrás dessa concepção – se podemos falar aqui de alguma concepção –, em que
a questão dos tmeim é travestida sob a fórmula primária da luta entre “puros e impuros",
encontra-se um outro problema metodológico, isto é, de olhar o passado com os olhos do
presente, incluindo juízos de valor que mudaram com o passar do tempo e que um
historiador deve evitar ao tratar qualquer tema histórico. O distanciamento, a entfremdung,
serve para evitar o passionalismo e a tendência para tomada de posições sine ira et studio.
E esse equilíbrio falta à autora, tanto na tese quanto nas múltiplas entrevistas
dadas na mídia.
Ainda devemos reparar que a questão das "polacas" acabou sendo apresentada
nessas entrevistas como uma "descoberta" da própria autora, que inventou um “complô do
silêncio” de parte da comunidade para não se falar sobre o assunto, e para o qual ela se
apresentou como o cavaleiro intrépido e corajoso disposto a expor ao grande público o
profundo "segredo" mantido durante todo esse tempo. Na verdade, nunca houve qualquer
segredo de parte da comunidade judaica do Brasil ou da Argentina, ou de outro país
qualquer, sobre o tráfico, a prostituição e a presença de indesejáveis na comunidade dos
imigrantes judeus. Como vimos, a postura da comunidade judio-brasileira- assim como o
das entidades internacionais desde o início do século passado- ao dar seus primeiros passos
de sua estruturação institucional foi de luta aberta e pública, na imprensa da época, geral e
judaica, e também no teatro ídiche, que servia de veículo para despertar as consciências
sobre a gravidade do problema. Daí o grande número de peças e obras literárias sobre o
assunto, em especial em ídiche, língua do cotidiano de milhões de judeus antes da
inimáginavel tragédia do Holocausto que destruiu as raízes que a alimentava e sua cultura.
A autora investiu e irrompeu através de uma porta já há muito tempo aberta, alimentando
ilusória pretensão de ineditismo. Pelo fato de não ter o preparo necessário para seu
“trabalho histórico”, desconhecer as fontes literarias em ídiche referente ao tema não soube
captar a questão no contexto da época na qual se apresentou, partindo levianamente de um
pressuposto estapafurdio sem qualquer fundamento na realidade histórica. Mesmo assim,
muitos anos após, ainda em 24 de março de 1960, a revista Aonde Vamos?, um dos orgãos
350
de imprensa judaica mais lidos e difundidos entre os anos de 1943 e 1978, com uma edição
de milhares de exemplares que chegavam aos lares das comunidades em todo território
nacional, publicava um artigo intitulado “Cecilia Adler” referente ao falecimento, e em
memória de uma notável ativista feminina do Rio de Janeiro, que presidiu durante muitos
anos a Organização Feminina “Froien Farein” daquela cidade. Assim podemos ler nesse
artigo, difundido em bom e claro vernáculo, para o grande público brasileiro, sobre o
pseudo “segredo” de nossa autora o que se segue: “Cecilia Adler desembarcou aqui, há
cerca de quarenta anos, porcedente de Varsóvia, descendente de uma família de distinção,
prestígio e tradição na capital polonesa e, na flor dos seus vinte e poucos anos, vislumbrou
um terrível e asqueroso drama que se desenvolvia nas fronteiras do nóvel yishuv
(comunidade) que se estava formando neste país. Enquanto os pioneiros aqui lutavam com
afinco para construir uma nova e digna existência e uma comunidade respeitavel , um
punhado de renegados judeus se envolvia num sinistro tráfico de brancas entre os portos da
América do Sul e os da Europa. A comunidade israelita os havia isolado , excomungado e
afastado de todo e qualquer contato. De modo que esses elementos ,escorraçados pelos
judeus que os conheciam e sabiam de sua criminosa atividade, buscavam companhia
principalmente entre os imigrantes recém-chegados, inexperientes e toalmente ignorantes
da identidade desses dejetos da humanidade. E assim , os imigrantes recém-chegados ao
Brasil, à Argentina e a outros países do continente americano tinham que enfrentar uma
faceta de tragédia toalmente desconhecida da maioria dos yishuvim (comunidades) judeus
do resto do mundo que não podiam sequer imaginar que houvesse judeus participando
desse ominoso comércio. O yishuv local- especialmente as senhoras que para isso
formaram o Froien Farein- resolveu que não era suficiente isolar-se desses asquerosos
elementos. Era necessário evitar que eles ampliassem o raio de sua sinistra ação e
aumentasse o número de suas vítimas. Entre os ativistas do Froien Farein-Amparo e
Proteção às Senhoras e Moças Judias- se encontrava a jovem senhora Cecilia Adler. Graças
a senhoras como ela e à tempera do que havia então de melhor entre nós no yishuv , a
vibora foi esmagada. Todas as pessoas , por mais ricas que fossem , desde que mantivessem
, relação com qualquer indivíduo ligado ao tráfico execrável, foram condenadas ao
isolamento e durante anos esse imperativo de higiene social foi rigorosamente observado.”
Mesmo antes dessa data, em 24 de dezembro de 1959, a mesma revista se referia ao tema,
ao tratar da biografia de outro veterano do judaismo da cidade do Rio de Janeiro, Sholem
Hoineff, falecido naqueles dias: “No início do século, outros judeus aqui viviam , mas
poucos poderiam ser classificados como bons judeus...É que coube ao chamado grupo
yiddish composto de pessoas procedentes de vilarejos da Bessarabia e outros lugares aqui
desempenhar um trabalho de pioneiros na comunidade israelita e atuar como porta-
estandartes da honra judaica. É que, ao lado desses elementos sãos, adolescentes sem
experiência comunal, e dos raros judeus bons de outros grupos, aqui havia-em grande
número- judeus e judias que foram arrastados pelas circunstâncias para a sarjeta. Os
pioneiros do yishuv é que timbraram em marcar uma nítida separação entre eles , e ,depois
de árdua luta, o Brasil compreendeu que os outros, da sarjeta, não representavam a pobre,
incipiente mas honrada comunidade judia.” O “Léxico dos ativistas sociais e culturais da
coletividade israelita do Brasil”, cujo projeto, sob a responsabilidade de Henrique Iussim,
nos anos 50, procurou preservar a memória da velha geração de imigrantes, ainda que,
infelizmente, não tenha sido publicada integralmente, trás as biografias de Esther
Goldenberg e Edi Kaufman, ambas ativistas do Froein Farein do Rio de Janeiro, as quais
testemunham a atuação daquela associação em sua luta contra o tráfico de escravas brancas,
351
assim como já vimos em outro lugar de nosso estudo, ao falarmos dessa associação. Sobre
Edi Kaufman, escreve-se que “contribuiu particularmente para os serviços de proteção da
mulher.Juntamente com Dr. Raffalovich ,salvou muitos emigrantes do sexo feminino de
serem seduzidas e vendidas ao meretrício, fatos que naquela época se produziram com
freqüência.” A leitura das Crônicas introdutórias do “Léxico” das comunidades da Bahia,
São Paulo, Rio de Janeiro, bem como de outras, publicadas como Apêndice neste livro, são
unanimes em lembrar a presença dos “tmeim” no processo da imigração judaica no Brasil,
sem qualquer tentativa de escamotear a realidade que os imigrantes tiveram que enfrentar
para desaloja-los da vida comunitária em suas etapas de estruturação. Em uma publicação
de 1935, sob o título “Di yidn in Brazil” (Os judeus no Brazil), no capítulo que se refere ao
“Comitê das Mulheres Judias no Rio de Janeiro”, constituído em janeiro de 1929, e entre
outras formado com ativistas ligadas à Sociedade Beneficente das Mulheres Israelitas,
oficialmente criada em 1923, cujo embrião já havia se formado em 1916, lemos: “Não é
para ninguém segredo de que daqueles que se ocupam com o tráfico de mulheres, assim
como dentre aqueles que vivem da marginalidade encontra-se uma certa porc entagem de
judeus. A verdade é que para nós isto é uma vergonha, mas isto não é somente uma
vergonha judaica. Seja na Europa ou na América o fato é que somos obrigados a organizar
uma luta aberta contra o tráfico de mulheres assim como o fazem a França, Alemanha,
Polônia, Inglaterra, Turquia, Bélgica e outras nações que tem a obrigatoriedade social de
combater em seus respectivos países o repugnante fenômeno. Em cada país a luta aberta
abrangeu os representantes de todas as nacionalidades. A população judaica na Europa ,e
em especial a da América do Sul, tem consciência de seu grande objetivo: conduzir uma
luta enérgica contra o tráfico de mulheres para eliminar essa sujeira da rua judaica. E nós
podemos dizer que, sob esse aspectotemos muito a fazer. Em 1912 visitou o Brasil ,assim
como outros países sul-americanos, Salomon Kohen, o secretário –geral da Organização
Internacional de Proteção da Mulher (Association for the Protection of Girls and Women),
da qual o nosso Comitê faz parte. A finalidade da visita era tomar contato com todos os
problemas necessários à proteção da mulher. A comunidade judaica do Brasil era, naquele
tempo, muito pequena e pobre. Criar um Comitê de Proteção era tarefa impossível. A
organização de fato começou com a vinda do Dr. Raffalovich, que é o representante da
organização internacional, que tem sua central em Londres. O Comitê foi constituído por
duas instituições: a Sociedade Beneficente das Damas Israelitas e da Sociedade de Ajuda e
Proteção aos Imigrantes. Os objetivos da Organização de Proteção à Mulher são: proteger
moças, mulheres e crianças contra más influências; tirá-los de uma vida de sofrimentos,
degradações, escravização e promover uma luta enérgica contra o tráfico de mulheres.
Esses objetivos são atingidos através de: 1) estar presente nos navios e, se possível, nas
estações ferroviárias para verificar viajantes solitárias e mulheres e moças desprotegidas
resguardando-as de caírem nas mãos dos traficantes;2) através de uma cooperação
internacional para a proteção de jovens e mulheres;3) através da cooperação com
instituições e organizações brasileiras que tem os mesmos objetivos; 4) através da
manutenção de um contato humano amistoso permanente com moças e mulheres
imigrantes;5) ajudando a jovens e mulheres que querem mudar de vida orientando-as para
um modo de viver útil e honroso;6) prover mulheres e moças os meios para poderem
recorrer às leis elaboradas para sua proteção. Até agora nos referimos aos nossos propósitos
e objetivos porém ainda devemos lembar o que conseguimos realizar. Visitamos todos os
navios que entraram nos portos e mantivemos contato com todas as passageiras do sexo
femenino. Desde a criação do Comitê em janeiro de 1929, a nossa secretária visitou 803
352
navios, e entramos em contato com 1025 mulheres, 864 moças e 1409 crianças. Tods esses
imigrantes que desembarcam no Rio e necessitam viajar a outros lugares do país, são
recebidos por nosso Comitê e são abrigados em salas do Hilfs-Ferein (Sociedade de Auxílio
ao Imigrante) encontrando-se sob a nossa proteção até serem enviados aos seus familiares.
Podemos relatar casos de mulheres ou moças que não foram recebidas por seus familiares.
Nesse caso essas imigrantes são recebidas pelo nosso Comitê e se encontram sob a proteção
e cuidado até que se notifique seus familiares e conhecidos. Um grande número de
imigrantes são visitados em suas residências de acordo com os endereços fornecidos por
eles mesmos, ou pela companhia de navegação. Essas visitas tem um grande valor . Já foi
constatado que pessoas inocentes foram tiradas de difícl sitações e puderam voltar a uma
vida normal. Também encontramos imigrantes numa situação penosa. Os familiares ,
conhecidos, que os trouxeram ou chamaram não os aceitam ou não os podem sustentar .tal
situação os impele a abandonar o lugar sem qualquer meio de sustento, trabalho e sem
amigos. Nesse caso são por nós encaminhados para uma ocupação adequada, ou para
aprenderem uma profissão e são protegidos até se tornarem independentes e terem uma
vida decente e produtiva. Também podemos relatar certos casos de passageiras que não
possuíam documentos legais e foram detidas pela polícia que tinha em mente reenviá-las a
Europa. Graças aos nossos esforços elas puderam desembarcar do navio. Cuidadosa
atenção é dada ao acompanhante de uma mulher. Por meio de conversas com os imigrantes
procuramos saber para onde eles viajam , com quem viajam e para onde se dirigem, ficando
claro o que se passa com o mesmo e se devemos tomar certas providências. Muito devemos
ao Comitê Central de Londres que tem o conhecimento e o modus operandi para esse
trabalho, assim como os comitês da Europa continental que controla o embarque dos
passageiros e se necessário nos passam toda informação. Graças ao nosso dedicado trabalho
conseguimos conquistar o reconhecimento do Departamento de Imigração local e das
organizações e autoridades brasileiras. Nossos relatórios apontam a importância e o zelo na
realização desse trabalho. S.R.” 615
A criação e a atuação do Comitê de Proteção à Mulher é também enfatizado em
uma brochura da Sociedade Beneficente Israelita e Amparo aos Imigrantes (afiliada à
organizaçaõ internacional HIAS-ICA-Emigdirect) em seu relatório e balanço geral do ano
1928. 616
A brochura descreve o programa da HIAS-ICA-Emigdirect para a América do Sul
apresentado pelo seu representante no Brasil, o rabino Isaias Raffalovich, em reunião de
diretoria de 31 de dezembro de 1927 e aprovado em reunião de diretoria de 2 de janeiro de
1928. Ali encontramos no item 4 o que se segue: “A proteção das mulheres e moças deve
ser fortificada através de um Comitê local, que passa a ser uma filial da Associação
Internacional de Proteção às Mulheres e Moças de Londres, sendo parte do Comitê Central
de Londres. Necessário se faz um duplo esforço nessa área para atingir resultados maiores
em seus objetivos. O item 2 do relatório se refere expressamente à proteção da mulher:
‘Não nos alongaremos sobre os objetivos e o compromisso de nossa comunidade em
relação ao combate contra o tráfico de mulheres. Ainda não podemos assegurar que
estamos numa desejada situação semelhante a da Sociedade Beneficente (Hilfs-Ferein).
Porém nosso trabalho de supervisão está trazendo reconhecidos resultados. O Hilfs-Ferein
está em permanente contato com o Consulado da Polônia no Rio de Janeiro e estamos
615
“Di yidn in Brazil”, pp. 61-62.
616 Relatório e Baçanço Geral, editado pela “Gazeta Israelita”, Rio de Janeiro, 1929 (em iídiche).
353
muito agradecidos aos representantes da Republica da Polônia no Brasil, que prestam um
serviço de orientação aos judeus poloneses que se dirigem e recebem uma adequada
atenção de parte de nossa Sociedade. Nesse particular depositamos muitas esperanças no
recém criado Comitê de Proteção às Mulheres, que está composto de 3 representantes da
Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do Rio e 3 de nossos representantes.”617
Com o passar do tempo a questão foi superada e tornou-se uma lembrança do
passado, ao ponto da memória coletiva, tecida naquelas décadas, ser depositada no baú da
história e transformar-se em recordações de memorialistas. A comunidade judio-brasileira,
a partir da Segunda Guerra Mundial, voltar-se-ia para novos desafios e deveria defrontar-se
com a realidade do Holocausto, dos displaced persons e a absorção de novos imigrantes
sobreviventes dos horrores da guerra, ao mesmo tempo que passaria a viver os dias
decisivos da gigantesca luta que se travava, sob todos os aspectos, para a formação de um
Estado judeu, e tudo que isso significava e implicava.
Nesses anos, a questão dos traficantes e prostitutas já não era mais um
problema que exigia um enfrentamento comunitário pois as suas agonizantes associações,
vivendo para si mesmas, já não disputavam com a respeitabilidade da maioria e não
ameaçavam o bom nome e a dignidade do judaismo. Vivenciava-se no término da Segunda
Grande Guerra um novo tempo, não somente no nível da macro-história do povo judeu,
mas da micro-história da comunidade judaico-brasileira. Expressão dessa nova fase se
encontra no ensaio de Meier Kucinski intitulado “Sotziale dinamishkeit un literarische
statischkeit” (Dinamismo social e imobilismo literário) publicado na coletânea “Undzer
beitrog” (Nossa contribuição), Rio de Janeiro, 1956, pp.153-162, no qual analisando e
refletindo sobre a literatura ídiche no Brasil aponta que os autores que escreveram nessa
língua tinham como temas centrais a analogia ou a comparação entre a vida “sagrada” no
passado europeu e a “prosaica vida” no novo continente; o pobre mascate , e ainda que se
possa ouvir os últimos sonidos do mundo dos “tmeim”, sob o aspecto artístico e social já é
uma questão terminada (p.156).
Em reportagem dada ao 0 Estado de S. Paulo, de 25 de maio de 1997,
novamente transparece a concepção da mencionada “historiadora” que se afilia à historia
conspirativa, além de inventiva, dizendo que “a existência de prostitutas judias durante o
período das imigrações para as Américas é um tema tabu para uma parte da comunidade
judaica em todo o mundo (sic). É um tema cercado pelo silêncio e segredo”. Nesse caso a
ignorância cria o mistério...
A suspeita de um silêncio deliberado é pura fantasia de quem não estudou
devidamente a história da imigração judaica no Brasil e não conhece etapas de seu
desenvolvimento. E aqui cabe observar que o silêncio individual que pessoas possam ter
demonstrado ou não em relação à “historiadora” e à sua pesquisa nada mais é que o
resultado de uma atitude individual de querer ou não falar sobre o assunto, o que nada tem a
ver com a comunidade, com a qual a autora do Baile de Máscaras parece querer ajustar
contas para sua própria autopromoção.
A atual comunidade mal conhece o que houve no passado, pois a geração que
se defrontou com a questão dos froien hendler (traficantes de mulheres), os tmeim,
desapareceu em quase sua totalidade, e ao se falar da questão a curiosidade e o interesse
que desperta são os mesmos de toda pessoa que está habituada a ver nos judeus uma
617
Relatório e Balanço Geral, p.5.
354
comunidade ordeira e pacifica. Razão pela qual o tema tem chamado tanta atenção,
associado ao modismo historiográfico da história do cotidiano, da sexualidade, de gênero e
temáticas afins, que se traduz em teses universitárias que abordam tais temas sob múltiplos
angulos, e níveis, incluindo-se nessa linha pesquisas sobre minorias perseguidas e grupos
marginais, teses que por vezes se apresentam com uma forte tendência ética e missionária,
impregnadas de empatia, visando a justa reabilitação de perseguidos e excluídos. Porém, tal
postura, passa a ser de todo incompreensível tratando-se de grupos ou associações
criminosos, ainda assim, de uma forma ou outra, entre a dicotomia da rejeição e aceitação,
é preciso lembrar que a função do historiador não seja exatamente a de intervir no objeto de
sua pesquisa, mesmo que nada o impeça de querer fazê-lo como cidadão de uma sociedade
democrática aberta a toda e qualquer causa. A propósito, sob outro aspecto, perguntamo-
nos até onde o historiador tem o direito de intervir na privacidade dos descendentes e
publicar nomes de famílias dos tmeim, sabendo-se que deixaram descendentes, como a
autora do Baile de Máscaras o fez em seu livro, procurando justificar seu ato em nome de
um resgate “histórico” das “polacas”. Uma questão ética que merece uma reflexão
importante e central, tanto quanto a missão de reabilitar grupos ou minorias excluídas e
perseguidas.
Autores que trataram do tema na Argentina, entre eles Victor Mirelman, En
Búsqueda de una Identidad (Ed. Milá, B.A., 1988), cujo título revela a essência da questão
que tratamos, e o notável estudioso da Universidade Hebraica de Jerusalém, Prof. Haim
Avni, Argentina y la Historia de la Imigración Judía, 1810-1950” – (Ed. Univ. Magnes-
AMIA, B.A., 1983), tiveram o devido cuidado e delicadeza, bem como a responsabilidade
moral, de contornar o problema sem prejuízo da verdade e seriedade de suas pesquisas
históricas.
No Brasil, o excelente trabalho de Margareth Rago, Os Prazeres da Noite, já
mencionado antes, também demonstrou a devida maestria e habilidade pessoal ao fazer sua
pesquisa sem afetar sua profundidade no tratamento analítico da questão. Porém, isso não
ocorreu com a autora do Baile de Máscaras, que fez questão de dar, como diz a expressão
popular, "nome aos bois", dando prova cabal de sua pouca sensibilidade humana. Nesse
sentido, devo aproveitar o ensejo para referir-me à agressividade da autora ao receber a
minha negativa pessoal em fornecer-lhe certo documento que envolvia a publicação de
nomes de famílias dos tmeim.
Raivosa e descontrolada, "ameaçou-me" telefonicamente com a divulgação do
“fato” caso não cedesse a ela o tal documento. Na verdade, a autora referiu-se a minha
negativa, sem mencionar meu nome, na nota de rodapé 25, da página 209 de seu livro, na
qual escreve o que se segue:
“Não se pode afirmar com absoluta certeza quantos enterros ocorreram entre
1928/1971 em Chora Menino. O único documento oficial, o Livro de Registro dos enterros
dos sócios da SFRBI, encontra-se em um arquivo privado de uma pessoa que nada teve
com a Sociedade e que, mesmo tendo o título de historiador, parece não estar preocupado
e comprometido com a questão da memória coletiva. Insistindo que o passado é um lugar
de justificativas e perdões, parece crer que esconder e censurar são as melhores formas de
vivenciar uma identidade comum. Assim, aquelas pessoas que em vida se preocuparam
com sua dignidade e com sua morte – ao adquirirem seu cemitério próprio – se encontram
hoje, por causa de tal intransigência e arbitrariedade, em um lugar de indigência. (g.n.)
Também em entrevista à Resenha judaica de 02/05/97 ela repetiu seus ataques
grosseiros e estapafúrdios com argumentação raivosa, a qual transcrevo:
355
“O livro de registro dos enterros no cemitério de Santana estranhamente encontra-se
nas mãos de um historiador judeu paulista, que o tem guardado a sete chaves. Mesmo
carregando o título de historiador, creio que essa pessoa está comprometida com uma
história de g1órias e heróis. Nos critérios dele, talvez, fontes históricas são objetos a serem
pinçados ao prazer do estudioso e, assim, devem confirmar um passado preestabelecido
(...)” (g.n.) No minimo não deixa de ser curiosa a lógica da nossa “historiadora” em sua
primeira afirmação, ou seja, “uma pessoa que nada teve com a Sociedade (dos caftens e
prostitutas)” que leva à conclusão que somente os membros da Sociedade tem o direito de
possuir documentos sobre a mesma...
Mas para quem demonstra “conhecimentos” de judaísmo com definições tais
como “Asquenazitas é a designação dada aos judeus oriundos da Europa, em contraposição
aos sefaradim, judeus nascidos na Península ibérica, Turquia e demais países árabes” (p.
71, nota 11); treif é traduzido como sujo; Kasher é bom para o consumo, purificado
segundo as leis sagradas (p. 151, notas 54 e 55), nada é de se estranhar, pois podemos a
partir dai saber o que ela entende por “história”, e mais ainda o que ela conhece sobre
história judaica. Lamentavelmente, nossas universidades dão títulos a ignorantes que
escrevem uma monografia “especializada”, na qual resumem toda a sua formação "huma-
nista", ou melhor, demonstram que além do tema tratado são jejunos de qualquer outro
conhecimento, confundindo jornalismo barato com pesquisa histórica. Mestres e doutores
ignorantes abundam no meio acadêmico, receberam títulos e defenderam “teses” que são
fabricadas às dezenas anualmente sem que se julgue e indague por sua formação humanista,
condição indispensável para ser historiador, filósofo, sociólogo, antropólogo etc. O
resultado passa a ser desastroso, mormente quando se associa à traços de caráter e
personalidade de individuos que não estão comprometidos com a verdade e a pesquisa
honesta, mas com sua autopromoção doentia e sem escrúpulos na qual todos os meios são
válidos. O esvaziamento da instituição universitária, no que concerne às ciências humanas
pode ser explicado como conseqüência direta de um sistema de avaliação duvidoso que
predomina na carreira acadêmica e em boa parte das universidades brasileiras.
O tema dos tmeim foi alvo de artigos de jornalistas que pularam sobre a metzie
(achado), uma vez que atualmente em nosso país a imagem estereotipada do judeu, na
sociedade mais ampla, é de um povo de classe média bem comportada, zelosa de seus
valores morais e religiosos e, por conseguinte, o assunto pode causar impacto, pois certo
jornalismo vive, em boa parte, desse sensacionalismo barato ou de “furos” pouco
confiáveis. Mas se é desculpável a onda jornalística ao redor dos rufiões e prostitutas, nada
pode desculpar a leviandade na abordagem histórica ao se tratar do tema, ou de qualquer
outro tema em nível acadêmico. Mesmo que o historiador afirme ter se apaixonado pelo
objeto de sua pesquisa618
.
Desconhecendo a história da imigração judaica no Brasil a referida autora
afirma, na reportagem de O Estado de S. Paulo que “as polacas foram pioneiras na
imigração judaica para o Brasil. As primeiras desembarcaram em 1867. A partir de 1904
começaram a chegar os judeus para as colônias agrícolas de Philippson e Quatro Irmãos no
Rio Grande do Sul. Uma próxima leva de imigrantes veio para o Rio e São Paulo no final
618
Em reportagem no O Estado de S. Paulo de 25 de maio de 1997 a autora, que aparece fotografada no
cemitério de Inhaúma, afirma: “Apaixonei-me perdidamente por elas”.
356
da Primeira Guerra. A ascensão do nazi-fascismo produziu um quarto grupo com
refugiados judeus da Europa Ocidental”.
Essa pobre “periodização” da história dos judeus no país desconhece a
imigração judaica da África do Norte para a região da Amazônia, que começou após o
Tratado de Aliança e Amizade entre a Inglaterra e o Brasil, em 1810, cuja primeira
sinagoga Shaar Hashamaim parece remontar aos meiados do século XIX. Desconhece
também a imigração da Alsácia-Lorena, que no mínimo começou com a guerra franco-
prussiana de 1870, sabendo-se que bem antes dessa data antes vieram judeus ingleses e
alemães assim como de outros países e passaram a esboçar instituições e organizações
comunitárias.
O curioso é que a autora, que elenca na sua bibliografia João do Rio, cuja obra
remonta ao ano de 1900, poderia ter notado que além da “gente ambígua, os centros onde o
lenocínio, mulheres da vida airada e cáftens cresce e aumenta; há israelitas franceses, quase
todos da Alsácia-Lorena; marroquinos, russos, ingleses, turcos, árabes que se dividem em
seitas diversas (...)619
, o que indica claramente a existência de outras comunidades de
imigrantes, além dos rufiões e prostitutas.
O levantamento dos antigos cemitérios cristãos e judaicos é o suficiente para se
perceber que a imigração de judeus ao Brasil não começou com rufiões e prostitutas, ainda
que alguns memorialistas, que não se dizem e não pretendem ser historiadores, tenham
repetido o mesmo.
I.Raizman, que não passou pela academia e era um autodidata que deixou uma
informação importante no seu A fertl yohrhundert idische presse in Brazil escreveu que os
primeiros judeus da Europa Oriental (g.n.) a chegarem ao Brasil foram os tmeim, e mais
tarde, entre 1908-1910, começou a vir entre os imigrantes um elemento decente da
Bessarábia, melhorando com isso o relacionamento entre os judeus sefaraditas que viam
nos asquenazitas nada mais que traficantes de escravas brancas e, portanto, se mantinham
afastados dos mesmos. Raizman chega a afirmar que o Brasil era um lugar de refúgio
provisório dos tmeim em momentos de perseguição maior na Argentina, mas acabaram se
fixando em parte por aqui620
. Tanto a primeira quanto a segunda afirmação não condizem
com os fatos. A imigração asquenazita da Europa Oriental, por menor que fosse, teve início
ainda nos anos 80, sendo que em 1891, conforme pesquisa documental levantada por mim
mais recentemente, veio uma verdadeira leva de imigrantes- cerca de 240 almas-
originários daquela região. Essa mesma imigração vai acentuando-se com os primeiros anos
de nosso século, sem considerarmos a colonização encetada pela ICA a partir de 1904, no
Rio Grande do Sul. 0 quanto os tmeim representavam numericamente nesse tempo é difícil
de dizer, e até agora não temos qualquer cálculo numérico exato sobre essa imigração em
geral senão avaliações, pois sabemos que o imigrante comum não queria identificar-se com
a mesma denominação adotada pelos tmeim, por razões que vimos anteriormente.
É interessante notar que também Isaias Raffalovich em seu livro Tziunim ve-
Tamrurim refere-se à imigração judaica asquenazita iniciando-se “há 50 anos
aproximadamente", observando "obviamente sem considerarmos os vis traficantes de
619
As Religiões do Rio, ed. Nova Aguilar, Rio, 1976, pp. 169-70. 620
Safed, 1968, pp. 15-17.
357
pessoas que se espalharam pela América do Sul e mancharam o nome dos judeus da Europa
Oriental”.621
Se considerarmos que o seu livro foi publicado em 1952, chegamos à
conclusão de que era uma opinião generalizada que a imigração asquenazita remontava
apenas ao início do século e pouco se sabia da imigração do século XIX. Na verdade,
graças ao trabalho metódico dos pesquisadores de nossos dias, destacando-se entre eles o
casal Egon e Frieda Wolff, é que começamos a desvendar a história da imigração no Brasil
Independente. Além dos tmeim, que dominavam a cena como imigrantes russos-judeus ou
polacos-judeus, e eram como tal identificados, os demais, de cuja existência em boa parte
sabemos pelo estudo das antigas comunidades brasileiras, relutavam em revelar sua
identidade judaica.
Somente a decisão de enfrentá-los e isolá-los da vida comunitária e no seu
desejo de auto-afirmação de uma identidade judaica, sem carregar o estigma do rufianismo
e da prostituição, é o que os possibilitou aparecerem como judeus perante a sociedade
brasileira. Raffalovich, ao chegar ao Brasil, ficou sensibilizado com a situação e empenhou-
se também em limpar o nome da comunidade, trabalhando ao mesmo tempo para criar
meios para evitar que mulheres imigrantes caíssem nas malhas dos criminosos.
Raffalovich relatará em seu livro um encontro com uma das vítimas do
caftismo, que devido estar enferma encontrava-se num estado mental gravemente afetado.
Esta o procurara dizendo ter visto a Madona. Ele perguntou sobre sua pessoa, obtendo
como resposta sua triste história pessoal. Natural da Polônia e estando havia 20 anos no Rio
de Janeiro, contou que seus pais eram extremamente pobres e não podiam sustentar suas
duas filhas. Um dia, sua irmã desapareceu, e após alguns meses, ela escreveu do Rio
dizendo que ganhava bem e poderia ajudar no sustento dos pais, o que fez remetendo
regularmente à sua casa somas de dinheiro. Um dia sugeriu que viesse juntar-se a ela, e
logo mais enviou-lhe uma passagem, e aqui ela soube como a irmã se sustentava.
Passaram-se alguns dias, quando durante um passeio conheceu um homem, do qual se
tornou amante. Durante todo esse tempo, porém, viveu com sua irmã, que acabou morrendo
da mesma doença que ela possuía e afetava sua razão. Raffalovich, condoído, enviou-a a
um médico, que recomendou sua internação. Raffalovich dirá que na história dessa mulher
“ele viu as múltiplas impurezas que a diáspora derramou sobre essas coitadas que a pobreza
degenerou”622
.
Se ainda na primeira década do século XX a incipiente organizada comunidade
asquenazita não estabeleceu uma estratégia para evitar que jovens mulheres enganadas na
Europa pudessem escapar dos traficantes de escravas brancas, no entanto com a formação
das sociedades beneficentes, ajuda e apoio aos imigrantes começou-se a atuar
metodicamente tendo em mira essa orientação. No Rio de Janeiro, sociedades como a
Achiezer, Froien Farein (Sociedade Beneficente das Damas Israelitas), o Relief (Sociedade
Beneficente Israelita de Amparo aos Imigrantes), e em São Paulo a Sociedade das Damas
Israelitas (1915) e o Ezra (1916) procuraram auxiliar os imigrantes em seus primeiros
passos no país, dando ajuda material e orientação profissional aos que chegavam, e em
relação às mulheres, acompanhando seu desembarque dos navios com a presença efetiva de
seus membros nos portos de Santos e do Rio.
621
Tel-Aviv, 1952, p. 167. 622
op. cit., p. 167.
358
Samuel Malamud, em sua obra Recordando a Praça Onze623
, que acompanhou
desde os anos 20 a situação da comunidade e conheceu os passos que esta dera nesse
sentido, escreve que:
“Uma das tarefas mais importantes era, naquela época, impedir que moças e
senhoras jovens fossem vitimas da máfia da escravatura branca, que buscava aproveitar-se
das difíceis situações materiais de mulheres recém-chegadas que, por algum motivo, não
tivessem conseguido acomodar-se no país e encontrar trabalho”.
Outros memorialistas, entre eles o veterano Jacob Schneider, como vimos
anteriormente, lembram o quanto as associações e mulheres da comunidade empenharam-
se em seu trabalho de cuidar e resgatar as moças que aportavam no Rio e Santos e outros
lugares, evitando que caíssem na prostituição, assim como prestaram ampla ajuda e
assistência médica às prostitutas, quando a questão já se encontrava superada, como
fizeram a Policlínica do Rio de Janeiro, a Ofidas e o Linat Hatzedek de São Paulo.
Nesse sentido, a comunidade judaica caracterizou-se por uma rara e autêntica
postura, com suas entidades assistenciais, em auxiliar sua vítimas e tirá-las da prostituição.
0 livro Geshichte fun der Ezra,1916-1941(História da Ezra)624
relata o papel
extraordinário dessas sociedades de amparo aos imigrantes, desde seu desembarque no
Brasil até sua fixação em lugares de trabalho, incluindo ajuda médica, jurídica e social. A
publicação em comemoração aos 25 anos da Ezra de São Paulo é comovente pelo espírito
que irmanava a pequena comunidade em sua disposição em auxiliar seus conterrâneos.
Lamentavelmente, o texto permaneceu em ídiche e os “historiadores” pouco dispostos ao
estudo da língua não poderão lê-lo. 0 texto traz um caso curioso de ajuda jurídica a um
imigrante acusado de ser traficante de escravas brancas por sua esposa, que tinha vindo
antes dele a São Paulo. A polícia o prendeu ao descer do navio, e graças à intervenção da
Ezra, pôde-se libertá-lo da prisão, devido a acusação não ser verdadeira . Tanto a Sociedade
das Damas Israelitas quanto a Ezra em São Paulo tiveram uma atuação exemplar na ajuda
às mulheres vítimas do tráfico.
As associações de ajuda ao imigrante teriam um respaldo posterior das
cooperativas de crédito criadas nos anos 20, com a ajuda do lembrado Rabino Isaias
Raffalovich. O modus faciendi de combate ao tráfico é exemplificado na Geschichte fun der
Ezra, onde se diz que "a Ezra tomou parte importante na proteção internacional da mulher.
A desordem após a guerra desatou as mãos dos traficantes, e por isso a associação
internacional de proteção à mulher ligou-se aos centros de imigrantes na América do Sul,
para proteger as mulheres e moças que imigravam da Europa. A Ezra, como centro de
imigrantes em São Paulo, salvou durante aqueles anos muitas vítimas das mãos de
traficantes. Contaremos aqui alguns casos daquele tempo.
À Ezra chegou uma carta do Dr. Erlich, presidente da Ezra de Buenos Aires, na
qual escrevia: “Do porto europeu x partiu o navio x, no qual viaja uma moça para ver sua
irmã em São Paulo, que vive na Rua Conselheiro Nébias, uma das ruas que figuram na lista
de defesa das mulheres como um dos lugares suspeitos. Tomem as necessárias
providências”.
No dia em que o navio aportou em Santos, encontrava-se no porto a comissão
da Ezra, Emilio Berezovsky e Isaac Weissman. A irmã, que vivia em São Paulo, também se
623
Record, Rio, 1986, p.54. 624
SP, 1941.
359
encontrava e transparecia que a suspeita era correta. Tiraram a moça do navio e fizeram-na
entender com que se ocupava sua irmã e com que finalidade ela a trouxera para São Paulo.
A irmã da jovem ameaçou o senhor Emilio Berezovsky dizendo que faria diariamente
escândalos defronte sua própria casa. A moça entendeu a situação e se afastou inteiramente
de sua irmã. Passou então a viver na casa de uma família judia em Santos, até que foi
enviada novamente à Europa. Essa é uma das dezenas de casos que ilustram a ação da Ezra
também nessa área”.62590
Lamentavelmente, os registros das entidades assistenciais do Rio de Janeiro
perderam-se, juntamente com outros arquivos, e se em São Paulo a documentação foi
preservada, o foi devido à atuação do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. José Nadelman,
um dos veteranos ativistas da comunidade paulista, preocupou-se com a memória da
imigração e escreveu a História da Ezra com excelente conhecimento de causa, pois atuara
na época naquela instituição. Memorialista meticuloso, deixou-nos um cabedal de
informações que de outro modo ter-se-iam perdido no tempo. Porém, o judaísmo brasileiro
atrasou-se demais na formação de um arquivo comunitário, surgido somente nos anos 70,
ainda que tenha havido esporádicas tentativas anteriores que assim como surgiram em curto
espaço de tempo desapareceram.
A verdade é que desde sua fundação o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro,
com o objetivo central de preservar a documentação relativa à história e presença judaica
no Brasil, incluiu também a história dos tmeim. Um capítulo doloroso na saga da imigração
judaica ao país, mas que com o passar do tempo as feridas que sangraram cicatrizaram e o
próprio tempo encarregou-se de eliminá-lo como “problema” que afligiu as comunidades
brasileiras. O importante era preservar os documentos e rastros de sua existência, os
cemitérios e seus registros.
Mesmo se as lápides viessem a desaparecer, pelo menos teríamos os registros e
os dizeres das matzeivot, e essa preocupação levou a que se fizessem os levantamentos dos
cemitérios ainda nos anos 70. Naqueles anos, recebemos o registro de óbitos de certo
cemitério com a condição clara e bem específica de não revelá-lo publicamente, sem fixar
qualquer tempo para fazê-lo, como sói acontecer com material arquivístico quando pessoas,
instituições ou famílias exigem certo tempo de carência para ser utilizado por estudiosos,
pesquisadores ou interessados, o que não impede de alguém fazer qualquer trabalho sobre o
tema, já que a falta de um documento não é o suficiente para apagar a memória de um
grupo, indivíduo ou instituto, na medida em que se pode encontrar outros.
No demais, faço minhas as palavras de Ricardo Feierstein, em seu estudo, ao
dizer: “Nos fatos concretos a comunidade judia daquele tempo empreendeu uma luta que
orgulha a seus descendentes para extirpar a um setor economicamente poderoso e influente
de correligionários que se dedicavam a um comércio imoral.
Não existiu uma luta similar em nenhuma outra coletividade vivendo uma
semelhante situação. Mais uma vez os judeus deviam “fazer mais” para serem admitidos
como iguais, assim como já observara Jean-Paul Sartre (Reflexiones sobre la Cuestión
Judía, B.A., Ed. Sur, 1964). E por vezes nem sequer isso é suficiente.
A adolescente Anne Frank escreveu em seu Diário, em 22 de maio de 1944,
pouco antes de ser assassinada pelos nazistas:
625
Op. cit., p. 58.
360
“É triste ter que admitir o velho aforismo: da má ação de um cristão é este
mesmo responsável; a má ação de um judeu recai sobre todos os judeus”.626
E nós poderíamos acrescentar, lembrando, o significativo dictum talmúdico:
“Shekol Israel arevim ze ba ze” (Todo Israel é responsável um por outro (TB, Schvuot,
39a), e quando essa responsabilidade mútua é rompida, o preço que o corpo coletivo paga é
muito elevado e imprevisível.
A nossa identidade é também, em certo grau, formada por outras pessoas,
exatamente como o filósofo e psicó1ogo William James tentou demonstrar. De certa forma,
como bem observou recentemente o escritor Alain de Botton são os outros que nos
permitem desenvolver um sentimento de identidade, e as pessoas com as quais nos
sentimos mais à vontade são aquelas que nos “devolvem” uma imagem adequada de nós
mesmos, sem sermos “caricaturados”627
. E isso é mais verdadeiro tratando-se do ser judeu.
Os teóricos do nacionalismo judaico contemporâneo, de Simon Dubnov a Haim
Jitlovski, de Nachman Syrkin a Achad Haam, procuraram entender o conceito de
nacionalidade judaica numa era de ingresso na modernidade, onde a religião não era
suficiente para ser o elemento diferenciador entre os homens, valorizando o papel das
tradições, língua, cultura, “etos” nacional, e o seu resultado final, que é o sentimento de
irmandade responsável em relação ao coletivo social, ou o que pode ser denominado de
identidade coletiva628
. Criminosos, traficantes de escravas brancas, cáftens, com a exclusão
de suas vítimas, as prostitutas, nunca tiveram esse sentimento, portanto não podiam
compartilhar com os demais uma convivência comum e normal com o povo de Israel na
diáspora, onde quer que se encontrasse.
626
Historia de los Judíos Argentinos, p. 301.
627 Alain de Botton, A busca traiçoeira do que(m) sou eu, in Folha de São Paulo, 16 de
novembro, 1997, Caderno Mais!, p. 11.
628 Sobre o conceito de “identidade coletiva”, complexo por sua natureza, foi publicado
recentemente um ensaio instigante de Lutz Niethamer, professor da Universidade de Jena,
sob o título Conjunturas de identidade coletiva, in Ética e História Oral, Projeto História,
nº 15, Educ, SP, abril 1997, pp. 119-134.
361
Anexo ao estudo “Identidade judaica, memória e a questão
dos indesejáveis no Brasil”
A biografia da autora das duas poesias, que usa o nome de Abigail, é inteiramente
desconhecida. No Lexikon fun der Naier Idisher Literatur (Léxico da nova literatura
judaica), New York, 1956, vol. 1, p.3, encontramos a informação que se trata de uma
poetisa da qual não se sabe seu nome real e publicou poesias no periódico “Literatur un
Leben” (Literatura e Vida), Nova York, em 1915. As duas poesias as encontrei na coletânea
de E. Korman, Idishe dichterins-Antologie (Poetisas judias- Antologia), ed. E. Korman,
Chicago, 1928, pp.106-7. O conteúdo dessas tocantes poesias, que traduzí do ídiche, deixa
entrever que se trata de uma mulher que foi vítima da prostituição. A imagem do proxeneta
em cujos “dedos faisca um brilhante” é redundante na literatura que trata do tema, a
começar de Scholem Aleichem no conto lembrado em nosso estudo acima.
Bebi Dedos
Eu bebi e comi Gordos, dedos brancos...faisca um brilhante
(quando e o que, já esqueci) Gordos, dedos brancos seguram minha mão
Alegre, a vida vivia Palavras soltas de uma boca bonita
Dois olhos licenciosos, cada olho- um projétil
Vinho e cerveja bebia Mãos como serpentes me envolvem
E com meus olhos piscava Rasguei-me e fiquei muda
E com felicidade ria Não posso gritar, correr. Toco em minhas pernas
Apressada e surpresa, entra a “senhora” da casa
E depois?...me batiam Caio em histeria- expulsam-me, para fora
Mas por que? Não posso dizer Ando pelas ruas. Cada rua me parece sem fim
Na escuridão me recolhi Querem me enganar...não desejo cair
Para uma oficina arrasto cansada meu passo
Meu amado veio Desconheço a fome. Estou limpa, como a neve
Da corda ele me retirou Beijo meus dedos e choro por eles
E para a vida ele me retornou
Fugiu comigo para longe
Mas eles o encontraram
E meu amado mataram
Pessoas dizem: sou louca
Não, ó, não! Sou lúcida
Seguro uma corda e caminho pensativa
Ninguém o trará de volta
Me enforcarei, enforcarei, enforcarei
Prendo uma corda e penso e penso
Numa terrível noite de inverno.
362
37. A correspondência de Leib Malach com Baruch Schulman
Entre as cartas da rica correspondência que o escritor Baruch “Bernardo”
Schulman629
manteve com literatos, jornalistas e intelectuais judeus, encontramos várias
escritas por Leib Malach, abrangendo um período que vai de 1925 a 1929.
Antes de tudo, devemos lembrar que Baruch Schulman fazia parte do grupo
dos poucos homens de letras da população judaica na época, além de ser um jornalista
pioneiro da imprensa ídiche no Brasil, pois foi colaborador dos primeiros jornais fundados
em Porto Alegre, em 1915 e 1920, respectivamente, o “Di Menscheit” (A Humanidade), e o
“Di Idische Tzukunft” (“O Futuro Israelita). A sua contribuição à literatura ídiche-brasileira
ainda está para ser avaliada, pois lamentavelmente sua obra permanece em boa parte
dispersa em vários periódicos, hoje raros, onde se encontram publicados os seus contos e
demais frutos de sua atividade de escritor.630
Por outro lado, Baruch Schulman se fez
conhecer ao grande público judaico e brasileiro por um opúsculo que marcou época,
publicado em português, em 1937, e sucessivas edições, com o título “Em legítima
defesa”,631
cujo conteúdo surpreendeu pela excelente resposta dada à propaganda anti-
semita, muito difundida pelo integralismo de Gustavo Barroso, que pontificava como
ideólogo dos camisas-verdes e despejava um mar de sandices sem fim contra os judeus.
Baruch Schulman está ligado também a um acontecimento histórico-literário
que ocorreu em Curitiba, em 3 de outubro de 1926, quando se realizou um verdadeiro
encontro cultural entre cristãos e judeus no Instituto Neo-Pitagórico, levando-se pela
629
Ainda que reconheçamos a premência de se fazer um trabalho mais completo sobre sua vida e obra, não
temos a intenção de esboçar, neste trabalho, sua biografia. Portanto, nos restringimos a fornecer apenas alguns
dados pessoais do escritor.
Bernardo Shulman nasceu em 16/05/1887, em Demidowka, província da Volinia, Rússia. Foi educado em
escola tradicional até os dez anos, quando faleceu seu pai, Leibusch, pouco tempo depois de sua mãe,
Menucha. A partir dessa idade, ele passou a viver com o tio, que conseguiu introduzi-lo na ieshivá de Lutzk,
onde, além de Tanach (Velho Testamento) e Talmud estudou, como autodidata, estudos seculares. Mais tarde
conheceu seu sogro, Scholem Paciornik, e trabalhou com ele no comércio de madeira de florestas. Ele chegou
ao Brasil em 1909 e teve uma parte ativa na formação das instituições comunitárias do Paraná. Faleceu em 29
de dezembro de 1971, conforme me informou gentilmente Sarah Schulman. V. Léxico de ativistas sociais e
culturais da coletividade israelita do Brasil (1953-1955), ed. Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1954; Eizengort,
A., Baruch Schulman – Tzu zein 75tn yubilei, in Idische Presse, 22-6-1962; Scholem Mordechai Paciornik,
publicação familiar comemorativa do centenário do seu nascimento, Rio de Janeiro, 1959; Lipiner, E. Baruch
Schulman in der ieshive-shel maala, in Idische Presse, 4-2-1972. 630
Na coletânea com o título “Unzer beitrog”, ed. Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1956, foram publicados
quatro contos de sua autoria. Na coletânea “Brazilianisch”, publicada na Argentina sob a direção de Samuel
Rollanky, ed. Ateneo Literario e Instituto Cientifico Judio, Buenos Aires, 1973, encontra-se um conto já
publicado no “Unzer beitrog”. Para um levantamento completo de sua obra literária, além dos contos e dos
escritos mencionados, temos que considerar a grande massa de correspondentzen que ele remeteu aos jornais
em ídiche, desde 1915 e que constituem verdadeiras crônicas sobre assuntos da vida comunitária de Curitiba,
no Paraná, bem como da vida judaico-braileira, sempre acompanhadas com uma apreciação crítica pessoal
que o caracterizava. Temos em boa parte, em nosso arquivo pessoal, fichada essa matéria, que deve ser
ordenada e compilada, juntamente com suas traduções da literatura ídiche publicadas em vários periódicos e
fundamentalmente na revista “Aonde Vamos?”. 631
Conforme o Léxico acima mencionado, foram feitas 4 edições do opúsculo; a primeira apareceu em
Curitiba, financiada pelo autor; a segunda no Rio, editada pelo Comitê de Defesa Contra o Anti-Semitismo; a
terceira em São Paulo, financiada pelo autor e Maurício Blaunstein; e a quarta, no Rio Grande do Sul, editada
e divulgada por um cristão que viu na brochura uma matéria excelente para combater a propaganda fascista.
363
primeira vez ao conhecimento de um público brasileiro, em português, autores clássicos da
literatura ídiche e hebraica. A idéia de apresentação da “Alma Hebraica” fundamentava-se
na filosofia do Instituto Neo-Pitagórico que, assim como consta na introdução escrita por
Dário Vellozo na brochura publicada pela instituição, propunha-se a tornar mais
“compreendidas as almas das raças e dos povos, reflexos da alma humana; aproximar os
diversos núcleos que convivem em nosso meio social, sentem, sofrem, labutam e vencem,
fatores de civilização, de cultura, que devem seguir conosco, fraternizados através dos anos
na terra do Brasil. Resolveu o INP, em reuniões especiais, apresentar aos amigos facetas
dessas almas, na impossibilidade de revelá-las na integridade, na posse suprema de suas
virtudes, de sua beleza afetiva, intelectual e moral”. Em continuação à introdução, Dario
Vellozo, intelectual de elevado espírito humanista, escreve que “após a Alma Portuguesa,
reunião admirável seguiu-se, a Alma Hebraica... Graças ao Senhor Bernardo Schulman,
digno caráter e culto espírito, auxiliado por distintos elementos da colônia hebraica em
Curitiba, pôde o INP ocupar-se lindamente do compromisso, em louvor da alma hebraica.”
Sobre o acontecimento o próprio Baruch Schulman publicou um extenso relato
no “Dos Idische Vochenblat”632
sob o título “A literarischer bagegenisch fun di curitibaner
iiden mit der dortigen kristlicher bafelkerung” (Um encontro literário dos judeus de
Curitiba com a população cristã local).
Em 1927, o Instituto Neo-Pitagórico publicaria uma brochura com o título “A
Alma Hebraica”633,
revelando o conteúdo da programação apresentada, que consistiu em
uma exposição sintética sobre a “Evolução da Língua Judaica”, de autoria de Baruch
Schulman, e sobre “O Sionismo”, de Júlio Stolzenberg, além de uma rica apresentação
artística que incluiu concertos de músicas hebraicas com piano e violino tocados por
Helena Flaks e Manuel Beiguelman, a declamação dos poemas “Jerusalém” de Morris
Rosenfeld em ídiche, por Júlio Stolzenberg e em português, por Dório I. Stolzenberg,
“Sion” de Yehuda Halevi, declamado em hebraico por Miguel Strellak e em português por
Dario Vellozo634
, e ainda a leitura dos contos “O menino enfermo” e “As três prendas” de I.
L. Peretz, lidos por Herminia Schulman, Ester Burkinski e Dario Vellozo. O dia em que foi
apresentado esse programa no Instituto Neo-Pitagórico ficou sendo um marco na vida
intelectual da cidade, pois revelou-se a espiritualidade judaica à cordata população daquela
urbe.
A primeira visita de Leib Malach ao Brasil remonta ao ano de 1922, quando,
saindo do continente europeu, dirigiu-se à Argentina e, no caminho, parou no Brasil para
dar conferências no Rio e São Paulo. Temos apenas o relato sobre esta passagem no
632
“Dos Idische Vochenblat”, de 3/12/1926, n.º 160. 633
A notícia da publicação da brochura “Alma hebraica” encontramos no “Brazilianer Idische Presse” de
14/6/1927, n.º 204. A cópia do exemplar que possuímos nos foi cedido por Bernardino Schulman. 634
Sobre Dario Vellozo e sua marcante personalidade de intelectual de criatividade profunda, bem como
portador de grande humanismo pessoal, temos um trabalho de Erasmo Pilotto sob o título “Dario Vellozo –
Cronologia”, Curitiba, 1969, que nos foi cedido por Bernardino Schulman. Sem dúvida, sua figura poderia ser
inscrita entre os hassidei umot haolam brasileiros. Sua atuação em favor da comunidade judaica de Curitiba,
sob o aspecto cultural, foi importante, chegando mesmo a dar cursos sobre literatura universal no Centro
Israelita do Paraná, conforme notícia no Idische Volkzeitung de 6/1/1928, n.º 6, onde, no término de um
círculo de conferências (a última sobre “Dante e A Divina Comédia”), foi agraciado com uma medalha de
ouro pelo Centro Israelita do Paraná, entregue a ele por seu presidente, Júlio Stolzenberg. Por outro lado,
juntamente com o dr. Pamphilo da Assunção, fez muito para difundir o já mencionado opúsculo “Em legítima
defesa” nos círculos intelectuais sulinos.
364
pequeno opúsculo de memória escrito em ídiche e publicado em Curitiba em 1953 por
Salomão Guelman, sob o título, “Epizoden fun dem idisch-gezelschafttlichen leben in
Curitiba” (Episódios sobre a vida social judaica em Curitiba), além de um outro artigo que
o escritor publicou na imprensa Argentina.
O relato de Salomão Guelman sobre a vinda de Leib Malach a Curitiba naquele
ano não deixa de ser pitoresco, assim como o terrível fracasso de sua conferência, na qual
apareceu para ouvi-lo um auditório de... duas pessoas: o próprio Salomão Guelman e mais
um judeu. E isso devido a questiúnculas internas da comunidade que, assim diz o autor do
opúsculo, “levaram a boicotá-lo em sua iniciativa”. Dois anos após, Leib Malach voltou a
Curitiba, e dessa vez teve uma recepção extraordinária por parte da comunidade, que o
desculpou pelos artigos mordazes que escrevera a respeito da mesma na imprensa
Argentina após aquela primeira triste visita.
O contato de Leib Malach com Baruch Schulman ter-se-ia dado na segunda
visita de Leib Malach ao Brasil, no ano de 1924. Leib Malach era amigo do poeta,
jornalista e historiador Jacob Nachbin, e graças a essa amizade passou a colaborar no
periódico “Dos Idische Vochenblat”,635
tendo como redatores iniciais Jacob Nachbin e
Josef Katz.
Nascido em Zvolin, na Polônia, Leib Malach começou sua carreira literária em
1915 em um periódico de Varsóvia, o “Varshever Togblat”, colaborando em vários outros
jornais. Ficou popular na Polônia devido a sua composição, o Schver (Juramento), feita em
1919 especialmente para o movimento juvenil do partido Poalei Zion – Partido Obreiro
Judaico.636
Em 1922, após uma grande atividade literária no continente europeu, emigrou à
Argentina e passou a trabalhar no periódico “Di Presse” bem como a participar na vida
cultural de Buenos Aires. Em 1923, redigiu com Samuel Glazerman o semanário “Far grois
un klein” (Para grandes e pequenos), assim como passou a colaborar com muitos outros
veículos da imprensa ídiche argentina e de países da Europa e das Américas.
Durante os anos de 1924 e 1925 esteve por várias vezes no Brasil, como
podemos verificar através das notícias publicadas no “Dos Idische Vochenblat”,637
percorrendo principalmente o Sul do país e as colônias da J.C.A. para fazer uma
reportagem, com a intenção de publicá-la na imprensa da Argentina. Como veremos em
uma das suas cartas a Schulman, ele viajou a “Quatro Irmãos”638
para avaliar corretamente
a vida da colônia e dos colonos (“e, como ouvi dizer que há muito para observar, resolvi
635
No Dos Idische Vochenblat, durante o ano de 1924, ele escreveu uma série de artigos sobre a vida judaica
Argentina. No número de 28/11/1924, n.º 55, temos a notícia que ele vendeu as “Memórias” de A. R.
Kaminska ao periódico, queixando-se que não lhe foi feito o devido pagamento. Por outro lado, em
contrapartida, a redação se queixava de que o manuscrito das “Memórias” não fora remetido na íntegra. 636
Seu nome verdadeiro era Leibel Salzman, mas usou vários pseudônimos até fixar o nome de Malach.
Sobre ele encontra-se um verbete no Leksikon (Léxico da literatura judaica) de Z. Reizen, e um mais
completo no Neie Lexikon fun Idicher Literatur (Novo Léxico da Literatura Judaica). Também V. o Leib
Malach Buch (Livro em memória de Leib Malach), 1949; Bletter tzum ondenk fun L. Malach (Páginas em
memória de Leib Malach), 1936; Ravitch, M., Mein leksikon (Meu léxico), Montreal, 1945. 637
No “Dos Idische Vochenblat” de 11/9/1925, n.º 96, se noticia que ele chegou com o navio Almanzara, de
Buenos Aires, e que foi a última viagem que faria antes de deixar o continente sul-americano e viajar à
América, onde Morris Schwartz preparava a encenação de seu último trabalho “Dos goren schtibel”(Uma casa
assobradada). A notícia detalha que ele viajaria a São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Bahia e
Pernambuco. 638
Carta de Porto Alegre de 21/10/1925.
365
ficar por lá cinco dias. Para os colonos sou um verdadeiro anjo. Eles desabafam comigo e
serei o primeiro escritor a abrir suas feridas ao mundo”).
Suas reportagens sobre o Brasil publicadas no “Di Presse” de Buenos Aires,
nem sempre agradaram ativistas brasileiros, pois seu olhar crítico feriu o “patriotismo” das
instituições judaicas e de alguns lugares por onde passou. Em uma carta do ativista Nathan
Becker a Baruch Schulman ele escreve: “vejo que você se alegrou com Malach e espero
que lhe dê satisfação (com sua presença). Aqui nós o recebemos com total frieza, assim
como ele o merecia. Ele, em Buenos Aires, derramou asneiras sobre a nossa comunidade e
nossos ativistas, e isso num período em que necessita vir anualmente aos túmulos dos
antepassados...”.639
Leib Malach ressentiu-se pelo fato de sua atividade no Brasil, mesmo quando
se tratava da fundação de bibliotecas em algumas comunidades do Sul, terem sido tão mal
interpretadas através da veiculação de notícias que nem sempre eram a exata reprodução
dos fatos e da realidade. Basta-nos ler a carta dirigida a Schulman de Buenos Aires, datada
de 28/3/1926, onde ele mesmo recrimina o fato da imprensa publicar coisas a seu respeito e
ele não poder controlá-la nesse sentido: “(...) Warchavski640
contou-me que estão zangados
comigo no Rio porque no “Literarische Bletter” publicaram a notícia de que estive no
Brasil e lá fundei bibliotecas. Em primeiro lugar, não sou culpado de realmente ter fundado
uma biblioteca em Cachoeira e em Santa Maria,641
e a notícia do “Literarische Bletter” tem
origem na correspondência do “Dos Idische Vochenblat”, do Rio. Mas o ignorante-culto se
encontra em todo lugar. Pouco importa, do mesmo modo falam de Peretz Hirschbein como
uma pessoa que viaja apenas por interesses financeiros”.
Apesar de tudo, Leib Malach amava o Brasil e, em particular, ficou enfeitiçado
pelo Rio de Janeiro, que o atraiu de um modo especial, fato que ele confessava em sua
correspondência e em seus artigos sobre a encantadora metrópole que visitou muitas vezes.
E, na verdade, boa parte de sua obra literária foi diretamente inspirada no Brasil, ainda que
a temática de suas primeiras obras ele a tenha encontrado, de início, no submundo de
Varsóvia, a qual expressará num drama naturalista com o nome de “Opfal” (Decaída).
Porém, o romance “Don Domingos Kreitzveg” (A cruzada de Dom Domingos) e o drama
“Ibergus” (Regeneração), inspiram-se na paisagem social e humana do Rio de Janeiro da
época. Surpreendentemente, esse drama faria brilhar a estrela do escritor, pois levaria o
nome de Leib Malach ao mundo literário americano e europeu numa dimensão antes não
conhecida.
Ele mesmo confessará na correspondência com Schulman que essa peça foi o
point-de-tour de sua carreira literária, como podemos constatar nas cartas que ora
639
Carta do Rio de 28/11/1925. Nathan Becker era um ativista do Rio de janeiro que fazia parte do grupo da
intelligentsia local, tendo atuado na imprensa judaica desde os seus primórdios. Parece não ter deixado
nenhum escrito, mas sua atuação em certas instituições, tais como a Biblioteca Scholem Aleichem, o Yugend
Klub do Rio de Janeiro e o partido Poalei Zion o apontam como um intelectual que impunha respeito por sua
cultura e seu elevado senso crítico. Como muitos outros intelectuais e ativistas, sua atuação permanece
desconhecida, e até agora pouco se sabe de sua biografia. 640
Um conhecido ator de teatro que atuou durante muitos anos no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. 641
Os “Dos Idische Vochenblat” de 4/12/1925, n.º 108 e o de 18/12/1925, n.º 110 confirmam a criação das
bibliotecas em ambos lugares. Em Santa Maria, o professor da escola israelita local, Jacob Politchuk, na noite
de recepção ao escritor, falou sobre a obra de Leib Malach, e este proferiu uma conferência sobre literatura e
leu várias de suas peças. Foi uma noite festiva para Leib Malach e para a pequena comunidade judaica local.
Malach ficou em Santa Maria de 30/10/1925 a 5/11, sendo que em 2/11 foi organizada uma conferência do
escritor para a juventude local
366
publicamos. Sabemos que o “Ibergus” seria um ponto de partida para a luta encetada contra
a reconhecida influência do elemento “indesejável” ou dos traficantes de escravas brancas e
seu elemento no teatro ídiche de Buenos Aires.
Na introdução ao “Ibergus” escrita por Jacob Botochanski, em junho de
1926,642
ele retratou que, em abril daquele ano, fora lida a peça por um diretor de teatro de
Buenos Aires, ao qual muito agradara, estando quase prestes a ser encenada. Mas, no
último minuto, o diretor do teatro declarou que não poderia encená-la, pois ela provocaria
os traficantes de escravas brancas. Escreve Botochanski, que “como homem de teatro e
amigo do autor da peça era o encarregado de fazer as tentativas em relação a ela, e fiquei
abismado com a cínica declaração de um homem que se encontra à testa de um teatro
judaico. Assim sendo, sabia que se processava uma luta, já de alguns anos, para impedir o
ingresso do elemento ‘indesejável’ no teatro (a única instituição da qual ‘eles’ ainda não
tinham sido expulsos). E entre os que lutaram contra a sua influência encontravam-se
Peretz Hirschbein e David Nomberg, e nós não tínhamos idéia do domínio que ‘eles’
possuíam no teatro judaico. Todo o assunto eu publiquei na imprensa e estourou um
escândalo, começando uma luta quase sanguinária. A comunidade tomou parte ao lado da
imprensa judaica e a luta hoje pode ser considerada ganha, não faltando muito tempo para
que o teatro na Argentina se liberte de toda influência dos ‘indesejáveis’, e graças à peça
“Ibergus”, que trouxe uma vitória cultural ao judaísmo argentino em geral e à purificação
do teatro judaico em particular”.643
Na correspondência com Baruch Schulman verificamos que o Rio inspirou a
temática da peça. Ele mesmo o diz: “gosto muitíssimo do Rio e quase a maioria das minhas
criações, ultimamente, as tirei de lá”.644
No caso do “Ibergus”, o cenário do drama é a
cidade “maravilhosa” – não tão “maravilhosa”, e as dramatis personae são situadas tendo
como pano de fundo a sociedade carioca da época, ou melhor, a sociedade dos marginais
que aportou ao Rio com a grande corrente imigratória vinda da Europa desde os fins do
século XIX. As figuras centrais da peça são uma prostituta, Reizel, e seu amante e marido,
mulato e deputado do Congresso Nacional, que usa o nome de Dr. Silva. Além desses,
desfilam nos quatro atos do drama de Malach outros elementos que compõem e completam
a comunidade isolada dos “indesejáveis”. Em uma carta curta escrita por Leib Malach em
29 de junho de 1926, ou seja, pouco antes da primeira apresentação do “Ibergus” na
Argentina, com sentimento de gratidão manifesto, dizia a Baruch Schulman: “Certamente
você lê o ‘Di Presse’ e poderá então notar a decisão que tomei. No dia 18 de julho será
representada no maior teatro daqui ‘Ibergus’, a peça na qual você tem parte, pois sobre o
seu papel a escrevi.” O autor comunicava em primeira mão e apressadamente ao seu amigo
642
Trata-se da 1.ª edição do “Ibergus”, ed. G. F. Salita, Buenos Aires, 1926, que nos foi cedida gentilmente
por Manasche Krzepicki Z’L. 643
No “Dos Idische Vochenblat” de 9/4/1926, n.º 126, foi republicado o artigo do “Di Presse” de Buenos
Aires onde se narra o acontecido com a peça “Ibergus”, e no mesmo periódico, de 24/4/1926, n.º 128, um
apoio ao “Di Presse” pela sua posição, lembrando um caso semelhante ocorrido no teatro judaico do Rio de
Janeiro com o ator Tomachevski. Botochanski, num artigo publicado no “San Pauler Idiche Tzeitung”, de
19/4/1939, narra como os judeus da Argentina lutaram contra os “indesejáveis”, incluindo também os
acontecimentos ligados ao “Ibergus”. Um histórico do domínio do elemento “indesejável” no teatro argentino
se encontra na obra de B. Gorin, Di geschichte fun idicher theater, ed. Max N. Meizel, N. York, 1923, t. II,
pp. 198-202. 644
Carta de 23/8/1926.
367
e benfeitor de Curitiba a grande transformação que começava a ocorrer no teatro judeu
daquele país. Após a bem sucedida campanha contra a influência dos tmeim no teatro
judaico de Buenos Aires, o “Ibergus” foi encenado e provocou um verdadeiro entusiasmo
aos amantes do teatro na comunidade israelita argentina.
Leib Malach escreverá a Schulman pouco depois da apresentação da peça: “O
‘Ibergus’ – a brochura te a remeto – foi encenado com grande sucesso. Agora será
representado no Teatro Ideal por Rudolf Zaslavski. Este é o teatro no qual, graças ao
‘Ibergus’, lutou-se para que os tmeim não tivessem nenhuma influência. Remeto-lhe
também as resenhas sobre o ‘Ibergus’, o que lhe facilitará a leitura”.
Os ecos do sucesso de “Ibergus” chegariam ao exterior, a outros lugares, e Leib
Malach começaria sua viagem aos Estados Unidos ainda no ano de 1926, não sem antes
passar pelo Brasil. Seria sua última viagem pelo nosso país. Já em 15/10/1926, n.º 153, o
“Dos Idische Vochenblat” anunciava que o escritor viria ao Rio e ficaria até o dia 12/11,
quando passaria o navio Van Dick, com o qual viajaria aos Estados Unidos. De fato, a carta
de 28/10/1926 remetida a Schulman confirma a data e acrescenta que no dia 18 de
novembro ele sairia de Recife para Nova York. Nos dias em que permaneceu no Rio de
Janeiro, foi-lhe oferecida uma recepção e uma noite de despedida, preparada para o dia
30/10 no salão do Centro Sionista.64517
Malach trouxera consigo a peça “Ibergus” para lê-la
pela primeira vez perante seus amigos e admiradores do Brasil, o que foi feito na noite
organizada em sua honra, provocando mais tarde críticas e interpretações nos debates que
se seguiram à leitura feita pelo autor.646
Assim, o público brasileiro, naquela ocasião,
tomaria contato com a peça que nascera e fora inspirada na vida do Rio de Janeiro. Mas,
mais do que isso, o que não sabíamos até agora é que ela fora escrita sobre o papel que um
amigo seu de Curitiba lhe fornecera nos dias difíceis, antes do grande sucesso que obteria
nas cidades americanas e nas capitais européias.
“...a minha peça ‘Ibergus’ que escrevi sobre o seu papel tem muita sorte...
enfim o papel era muito bom...” Tratava-se do papel fornecido pelas mãos abençoadas de
Baruch Schulman.647
Passo Fundo 21/X/25
Meu caro amigo B. Schulman:
645
“Dos Idische Vochenblat”, 29/10/1926, n.º 155. O autor do verbete Leib Malach, no Neie Lexikon fun
Idicher Literatur afirma erroneamente que ele esteve nos EUA somente em 1932. Como ficou demonstrado,
ele lá esteve em fins de 1926. 646
“Dos Idische Vochenblat”, 5/11/1926, n.º 156. Shabatai Karakuchansky publicou um comentário sobre o
conteúdo da obra. 647
Como podemos verificar pela carta de Leib Malach escrita a Baruch Schulman, em 28/3/1926, “Ibergus”
não foi a única obra produzida com o papel doado ao escritor, pois ele relata que “do pacote de papel que
você me deu posso dar o seguinte relatório: escrevi quatro artigos sobre ‘Buenos Aires’, dois poemas,
‘Rossina’, 18 artigos e impressões de viagens, e um drama em quatro atos, o ‘Ibergus’ (Regeneração), e este
drama estava destinado a se transformar num sucesso em dias ou semanas.”
368
Assim como vês, com grandes esforços cheguei a Passo Fundo. Viajei por
Erebango, que é o corredor para Quatro Irmãos. Mas para avaliar corretamente a vida da
colônia e dos colonos, e como ouvi dizer que há muito para observar, resolvi ficar por lá
cinco dias. Para os colonos sou um verdadeiro anjo648
. Eles desabafam comigo e serei o
primeiro escritor a abrir suas feridas para o mundo.
Aqui em Passo Fundo fui recebido calorosamente por toda a população.
Cerimônias com as crianças da escola na estação de trem (de passagem, a escola tem um
alto nível e conta somente com cinco meses de existência).649
Estuda-se ídiche e português.
Fizeram duas programações e hoje há um banquete, sendo que de manhã viajo à colônia.
Em Cruz Alta já estão me esperando.
Permaneça com força e saúde. Mande lembranças a todos os teus, tua esposa,
teus filhos, tua filha e a todas as flores do teu jardim.650
Teu
L. Malach
Se tiveres vontade, escreva algumas palavras sobre você e todos no seguinte
endereço:
L. Malach
Posta Restante
Porto Alegre
(timbre) L. Malach
Castelli 360
(“Di Presse”)
Buenos Aires 28/III/26
648
O nome Malach significa “anjo” em hebraico 649
Essa informação do escritor é uma das poucas que temos sobre a escola de Passo Fundo e portanto, é
preciosa para a história da educação judaica no Brasil. 650
Como veremos em outras cartas, trata-se do “famoso” jardim da esposa de B. Schulman, senhora Zelde,
que pela riqueza botânica causava verdadeira admiração a todos que o viam.
369
Meu querido amigo B. Schulman:
Recebi através de M. Warschavsky651
a carta que me enviaste. Agradeço-te
muitíssimo. O livro que emprestei de você eu o entreguei ao senhor Valadio Guelman para
enviar de Porto Union, e me entristece que ainda ele não o remeteu. Peço a tua gentileza
para lhe escrever uma carta para lembrá-lo do assunto.
Minha viagem pelo sul foi muito interessante, e sobre ela escrevi 18 artigos no
“Di Presse”, cerca de 10 artigos sobre Quatro irmãos. A respeito de Curitiba, te enviarei
na primeira oportunidade o artigo que escrevi, pois não é possível encontrá-lo agora.
Do pacote de papel que você me deu posso te dar o seguinte relatório: escrevi
quatro artigos sobre “Buenos Aires”, dois poemas, “Rossina”, 18 artigos de impressões de
viagens e um drama em quatro atos, o “Ibergus” (Regeneração) e este drama estava
destinado a se transformar num sucesso em dias ou semanas. Mas em vez de contar,
remeterei a você algumas notícias, e você se certificará de tudo por si só. O que há com o
Nachbin?652
Não o ouço e não sei sequer seu endereço. Poderias me informa algo a
respeito?
Agora, caro amigo, uma pequeneza: Warschavsky contou-me que estão
zangados comigo no Rio porque no “Literarische Bletter”653
publicaram a notícia de que
estive no Brasil e lá fundei bibliotecas. Em primeiro lugar, não sou culpado de realmente
ter fundado uma biblioteca em Cachoeira e em Santa Maria, e a notícia do “Literarische
Bletter” tem origem na correspondência do “Dos Idische Vochenblat” do Rio654
.
Mas o ignorante-culto se encontra em todo lugar. Pouco importa, do mesmo
modo falam de Peretz Hirschbein como uma pessoa que viaja apenas por interesses
financeiros.
Causa-me verdadeira repulsa esses acontecimentos “culturais” que não
pagam a pena. Mas quando me contam, tais coisas me doem, me doem profundamente.
O que você faz? Você se encontra no Rio devido a razões de saúde? Ou
negócios? O que faz a tua Zelde? Teu filho e filha, sogro e sogra? Provavelmente
mandarei uma carta a eles. Como vai teu cunhado e irmã?
Escreva logo e muito. Responderei,
Teu
L. Malach
651
Era ator de teatro ídiche no Rio de Janeiro que viajou a B. Aires para representar naquela cidade. 652
Trata-se do poeta, jornalista e historiador Jacob Nachbin, amigo comum de Leib Malach e de Baruch
Schulman. V. nosso artigo “Jacob Nachbin, precursor da historiografia judaica no Brasil”. 653
O “Literarische Bletter” era publicado em Varsóvia. 654
É o jornal fundado em 1923 por Aron Kaufman
370
B. Aires, 29/VI/26
Querido amigo B. Schulman:
Eu te escrevi uma carta ao Rio mas não sei se me respondeste, pois nada
recebi; ou você escreveu e eu não a recebi. Li a tua correspondência sobre A. Rashani, e
assim entendo que você se encontra em Curitiba. Aproveito para mandar lembranças a
você e a todos os teus. Certamente você lê o “Di Presse” e poderás então observar a
revolução que preparei. No dia 18 de julho será representada no maior teatro daqui o
“Ibergus”, a peça na qual você tem parte, pois sobre o teu papel a escrevi.
Escreva-me algumas palavras sobre o que se passa com vocês.
Teu
L. Malach
Buenos Aires, 23/VII de 1926
Meu querido amigo Baruch Schulman:
Recebi tua carta, muitíssimo obrigado.
Sinto realmente uma alegria quando a amizade de meus conhecidos não
termina com o último aperto de mão de despedida.
Interessa-me muito saber não somente as novidades sociais, mas também as
pessoais. Afinal de contas não fui uma visita oficial mas um amigo pessoal, talvez mais.
Portanto, que fazes? Tua Zelde? As flores? (Pergunto, pois elas fazem parte dela.) Teu
filho, tua filha? O que faz teu sogro? Fany? Chaique?655
Os cunhados e as cunhadas? E
em geral todos os conhecidos? E o mais importante, a tua saúde?
O “Ibergus” – a brochura te a remeto – foi encenado com grande sucesso.
Agora será representada no Teatro Ideal por Rudolf Zaslavski.656
Este é o teatro no qual,
graças ao “Ibergus”, lutou-se para que os tmeim não tivessem nenhuma influência.657
Remeto-lhe também as resenhas sobre o “Ibergus”, o que lhe facilitará a leitura.
Sim, ao redor de 6-8 semanas deixarei a Argentina para um período mais
prolongado. Viajo a Nova York, de onde me mandaram um contrato para encenar o
“Ibergus” e o “Dos goren schtibel”, no teatro local. Pararei um pouco de tempo no Rio
(escrevem-me de lá que querem representar “Ibergus”, e que eu mesmo o encene). Você
sabe que afora os “paskunhaques”, gosto muitíssimo do Rio, e quase a maioria das minhas
criações, ultimamente, as tirei de lá.
Tenho a esperança de receber logo mais uma carta tua estando no Rio,
certamente. Nos escreveremos e quem sabe te é possível vir ao Rio (e com saúde). Não
pense que não tenho saudades dos silenciosos e interessantes momentos com vocês em
655
São as filhas de Scholem Paciornik, sogro de Baruch Schulman 656
Conhecido diretor de teatro na Argentina. Também esteve no Brasil. 657
O teatro judaico na Argentina esteve, até aquela data, dominado pelo elemento “indesejável”, e a partir da
representação do “Ibergus”, a comunidade passou a combatê-lo abertamente, como já o descrevemos mais
acima.
371
Curitiba. Os passeios, as conversas, as fofocas na chácara com Max (ou Salomão),65811
“Areia Branca”, a viagem até vocês, os churrascos, e tudo isso.
Que esta o encontre com saúde, a vocês e todos os que lembrei e todos os que
habitam o teu coração
Lembranças de teu
L. Malach
Rio, 28/XI/26659
Meu querido amigo Baruch Schulman:
Tenho uma palavra. Escrevo do Rio mas curtamente e apressado. Estou
atacado de febre-de-viagem. No dia 18 de novembro saio do Recife com o “Van Dick”
para Nova York. O que haverá lá? No Rio há uma programação na qual participo. Pensei
que estarias no Rio para nos vermos, e no fim...
O que fazes? Tua Zelde? E as flores? A filha e o filho?
Sim, você tem uma visita; Noach Vital.660
Vale a pena conhecê-lo. Você terá
nele um amigo. Caso o vejas, mande lembranças.
Lembranças de todo o coração
Teu
L. Malach
Tua carta me encontrará em Recife:
L. Malach
Posta Restante
Recife
Nova York, 22 de janeiro, 1929
Meu querido Baruch Schulman:
Ontem recebi de você uma lembrança viva. Eu me encontrei com tua irmã.
Foi-me sumamente agradável sentar-me com ela e reviver em mim imagens e lembranças
do passado.
Acabei de voltar de uma longa viagem pela América, e estive em Chicago,
Detroit, assim como no Canadá, travando conhecimento com novas pessoas, estranhas,
658
Trata-se dos dois membros proeminentes da comunidade judaica de Curitiba, Max e Salomão Paciornik,
que costumavam freqüentar a chácara da família. 659
A data correta da carta deve ser 28/X/1926. 660
Trata-se do conhecido jornalista argentino que visitava o Brasil naquela época.
372
mas que se tornaram próximas, ainda que não tão próximas e familiares como você e toda
sua família.
Ficaria abençoado se desta vez você colocasse algumas palavras sobre você e
pudesse ouvir sobre tudo e todos – é uma pena que tal amizade se apague por
emudecimento.
O que se passa comigo? Não sei como começar. Penso que o meu viver na
América me deu muitíssimo e muito me levou. Devo assinalar os seguintes resultados: a
minha peça “Ibergus”, que escrevi sobre o teu papel, tem muita sorte. Já perfazem dois
anos que ela não sai dos palcos de todo o mundo. No ano passado foi encenada em dois
teatros nova-iorquinos, além de várias cidades da América. Hoje ela está sendo encenada
em Chicago, na Filadélfia e em Montreal. Está se preparando uma nova encenação em
Nova York. Em Varsóvia, a peça está sendo levada á cena pela centésima vez por
Zaslavsky, no Teatro Skala e em Lodz, no Philarmonie. Enfim, o papel era muito bom...
A minha segunda peça “Di moid fun Ludmir”(A moça de Ludmir) foi
comprada por Morris Schwartz e não sei quando ele irá encená-la, possivelmente no
próximo ano. A mesma peça foi comprada também pelo “Habima”, em hebraico, e está
sendo impressa em tradução inglesa no jornal literário “Time News”.
A verdadeira novidade é que escrevi um grande romance sobre a vida
brasileira com o nome “Unter der palme”(Sob a palmeira), e o romance está sendo
impresso no “Di Presse” de Buenos Aires sob o título “Donia Aijes – Don Domingo”661
.
Logo mais iniciar-se-á sua impressão em um jornal de Nova York e sairá em seguida em
forma de livro. É isso, e mais algumas pequenas e maiores novidades, porém sobre elas,
numa próxima vez.
Agora escreva-me como está a tua saúde e o que faz tua esposa e que fazem
suas flores. O que fazem os Paciornik? Ouvi dizer que ocorreu entre eles uma desgraça.
Fiquei verdadeiramente abalado. Transmita minhas saudações a todos os Paciornik, aos
homens, às mulheres e às crianças. Saudações a tua irmã e em particular a Fayge e a
Chaikale. Vi as fotografias delas cavalgando com roupas masculinas. Nada mau para
esses jovens “gentios”...
Calculo que ao redor de maio, junho, julho, viajarei de volta a B. Aires para
permanecer lá durante alguns meses e depois voltar. Se se der a viagem, não sei se
resistirei à prova de não dar uma escapadela até vocês.
Acrescento meu endereço nesta. Com bênção,
Seu
L. Malach
L. Malach
c/o “Forward”
175 E. Brodway
New York City
U.S.A.
661
É o mesmo romance inspirado na vida brasileira conhecido pelo título “Don Domingo’s kreitzveg” (A
encruzilhada de Dom Domingo).
373
38. Uma carta de Josef Halevi a Baruch Schulman
É sabido que o primeiro periódico judaico no Brasil começou a circular em
Porto Alegre, no ano de 1915, e fora fundado por um personagem enigmático que se
apresentava com o nome de Josef Halevi.
Quem era Josef Halevi e qual sua origem, foi a pergunta que o historiador da
imprensa judaica no Brasil, Isaac Raizman, levantou em sua obra “A fertl yohrhunderrt
idische presse in Brazil”662
(“Um quarto de século de imprensa judaica no Brasil”),
colhendo, para tanto, testemunhos das poucas pessoas que o conheceram e que estiveram
em contato com aquele jornalista. Raizman traz em seu livro uma descrição que diz ter sido
extraída da obra do jornalista e escritor Pinhe Katz, “Idische Literatur in Argentine”
(“Literatura Judaica na Argentina”), testemunhando seu conhecimento sobre Halevi nos
seguintes termos: “Josef Halevi veio à Argentina um ou dois anos antes da Primeira Guerra
Mundial e viveu em Rosário, sustentando-se com lições e palestras. Em uma das suas ricas
palestras, prenunciou todos os acontecimentos relativos à Primeira Guerra Mundial, assim
como de fato se sucederam. Essa palestra sua foi publicada no primeiro diário judaico na
Argentina, ‘Der Tog’ (‘O Dia’).”
“Quando o ‘Di Presse’ (A Imprensa) foi fundado na Argentina, em 1918, foi
Josef Halevi um de seus redatores. Escrevia sobre assuntos políticos. Conhecia
perfeitamente muitas línguas européias, era um hebraísta excelente e colaborava com o
‘Hatzefira’. Costumava se corresponder com Naum Sokolov, que o chamava de ‘iedid
yakar’ (caro amigo). Os honorários do ‘Hatzefira’ (3 kopekes por linha, que lhe eram pagos
“excepcionalmente”, assim Sokolov lhe escreveu) ele os enviava a sua irmã necessitada, em
Riga, mesmo que, pessoalmente, costumasse passar fome. Era um tipo especial, um
aristocrata do espírito e de uma conduta humilde. Possuía o título de engenheiro, mas nunca
se lembrava disso. Dava lições de hebraico e francês. Por natureza, era um tipo boêmio:
costumava, literalmente, ir a pé ao Brasil, e voltar sem que ninguém soubesse quando
chegava. Seu pseudônimo era ‘A id on a bord’ (Um judeu sem barba), mas, de fato, ele
possuía uma barba”.
Raizman deve ter confundido o depoimento acima – que é, possivelmente, do
veterano jornalista argentino Michal Hacohen,- o qual lembra ter-lhe fornecido uma
informação sobre Josef Halevi – com o do acima mencionado Pinhe Katz, que,
efetivamente, ele transcreve em sua obra: “Mais do que todos, tinha prazer daquelas linhas
(trata-se aqui do jornal ‘Unzer Vort’ (Nossa Palavra), que começou a sair à luz em Buenos
Aires, em 1913, aquele que assinava ‘A id on a bord’. Ele defendia o ídiche em relação às
pretensões do hebraico; universalismo frente às pretensões dos ortodoxos; socialismo frente
ao sionismo, e tudo com aguda e perspicaz técnica de escritor. Quem é esse novo escritor?
Evidenciou-se que o “Id on a bord” usa uma barba, uma barba negra aparada, um pouco
desleixada, ao redor de um rosto infantil, com olhos que pouco enxergam e com os quais lê
e escreve sem usar óculos, curvando-se ao papel até a mesa, ou trazendo o escrito até os
olhos.”
662
ed. Museum LeOmanut HaDfus, Sfat, 1968.
374
“O estilo é o homem, costuma-se dizer, e aquele escritor com a barbicha torta e
maldosamente desleixada, que costumava quase sempre terminar seus artigos com agudo
ponto de interrogação, como se quisesse encostar na garganta do leitor uma navalha afiada,
era infantilmente ingênuo e caprichoso e não desculpava sequer uma letra que o redator via
como necessário cortar. Também quando falava com alguém sobre coisas insignificantes,
ou sem importância, pairava sobre o seu rosto infantil e seus quase cegos olhos um ar de
espanto. De onde viera tal ‘bandido’ jornalístico? Pouco antes, há uma semana, ele havia se
apresentado no ‘Idischer Hofenung’ (‘Esperança Israelita’) com um artigo sobre um
assunto hebraico, assinado com o pseudônimo “A. Volozhiner”.
“O pseudônimo podíamos interpretar como auto-recomendação de um formado
na famosa ieshivá de Volozhin. Os sionistas diziam que ele era um escritor hebreu, que,
durante muitos anos, fora correspondente do “Hatzefira”, inclusive durante o processo
Dreyfus, escrevendo e falando tantas línguas quanto o próprio Sokolov. De Buenos Aires,
ele colaborava com um jornal judaico norte-americano, o “Morgen Jornal”, ou com o
“Tageblat”, e num jornal francês em Paris, e em ambos com pseudônimo. E quando se lhe
perguntava sobre seu verdadeiro nome, ele novamente dava um pseudônimo: Josef Halevi.
Parece-me que consegui extrair dele seu verdadeiro nome. Ele me intrigava com sua
misteriosa, assim me parece, podemos dizer, vida pseudonímica. Freqüentemente eu o
visitava, em um quarto vazio nos arrabaldes da cidade, onde ele vivia sua vida ascética.
Não digo sua vida de celibatário, pois isso tem significado bem diverso, e asceta aqui não
significa exatamente isolamento e ascetismo, mas a semelhança daquele mesmo estudioso-
vagabundo que tinha por hábito parar em uma cidade onde ninguém o conhecia e sentar-se
para estudar, dormir no beit-hamidrasch (escola religiosa) sobre o banco e se satisfazer com
uma pequena refeição com água, assim como o descreve Y. Y. Zinger, em seu ‘Yosche
Kalb’. Josef Halevi costumava alimentar-se com um pouco de arroz e leite, que cozinhava
sozinho sobre uma espiriteira colocada no chão.”
“Em um caixote onde se encontrava sua pouca roupa, ele guardava os seus
escritos: dramas. Ele procurava negociá-los com os atores de Buenos Aires, que pela
primeira vez ouviam que por uma peça precisavam pagar, e em particular, a um
‘vagabundo’ que se apresentava com petulância. Tinha, em seu caixote, também um
exemplar impresso de uma tradução encomendada, ainda no início de sua carreira de
escritor, do ‘Ahavat Zion’ (‘Amor a Sião’), de Mapu, tradução feita ao ídiche, e nela
constavam as iniciais Y. L., as iniciais de seu verdadeiro nome, desvendando assim, o
mistério ao redor de Yosef Levinsohn. Mas o nome, dizia ele, não existe mais, assim como
ele não existia para sua família. No início de 1918, após alguns anos de ausência, ele se
apresentava em Buenos Aires, e por pouco tempo. Naquele tempo começava a sair o ‘Di
Presse’, que o aceitou como escritor de artigos sobre política externa. Mas cedo foi
obrigado a abandonar seu trabalho devido aos seus artigos não estarem de acordo com a
linha do periódico. A inspiração nesse sentido lhe vinha do ‘Courrier Français’, onde
publicava, de tempos em tempos, um artigo, e lá se difundiam as conhecidas histórias sobre
o acordo de Lênin com os alemães para entregar a Rússia, etc. No ‘Di Presse’ costumava
assinar com um ‘X’, e os leitores, insatisfeitos com sua linha política, o chamavam de
‘Madame X’.”
“Ele desapareceu novamente de Buenos Aires, e no começo de 1920 foi
recebido no ‘Di Presse’ o primeiro número de sua publicação semanal, de quatro páginas
em formato quatro, com o título ‘Di Menscheit’, publicado em Porto Alegre. Essa
publicação revelava uma outra personalidade política de Josef Halevi. Demonstrava que o
375
escritor hebreu, verdadeiro mestre de prosa ídiche, “A id on a bord”, e assim por diante, era
simplesmente um anarquista. Em uma cartinha dirigida a mim, ele escrevia que estava
terminando uma grande obra, que previa a segunda e terceira guerras mundiais.
“No mesmo ano de 1920 ele faleceu. E sua morte foi exatamente como sua
vida – a morte de um eremita que cai durante seu estudo no beit-hamidrasch, e os que se
ocupam com isso fazem o que é de direito. E aconteceu nas condições e modos selvagens
de nossos novos países. Em um determinado dia, foi recebida uma informação, no ‘Di
Presse’, de que se encontrava em um manicômio de Buenos Aires um homem que não
revelava seu nome, mas que era conhecido no jornal, e que ele mostrava, sem dúvida, sinais
de loucura, pois perdera um manuscrito de uma grande obra, no caminho, a pé, vindo do
Brasil. Nessa situação, a polícia o recolheu no meio do caminho, na cidadezinha de
Mercedes, a algumas horas de caminhada de Buenos Aires.”
“Quando os colegas do ‘Di Presse’ e outros, entre eles o conhecido sionista e
entusiasta do hebraico, Yosef Reich, chegaram ao manicômio, já o encontraram em um
caixão para ser enterrado no cemitério geral da cidade, denominado Chacarita. Com uma
intervenção especial, na qual teve papel importante o mencionado Yosef Reich, conseguiu-
se, após alguns dias, transferir o corpo ainda ensangüentado ao cemitério israelita em
Liniers, no subúrbios de Buenos Aires.”
“Em seu túmulo encontra-se uma simples lápide, com poucas palavras: “Aqui
jaz Josef Halevi”.
Em alguns detalhes, a transcrição de Raizman difere do texto que consultamos
nas obras completas de Pinhe Katz, e em particular, no volume 7, editado em 1947. Talvez
Raizman tenha consultado outra edição, que desconhecemos, ou recebeu o mesmo texto em
forma de depoimento reescrito pelo próprio autor.663
Segundo o autor da história da
imprensa ídiche no Brasil, o “Di Menscheit” saiu à luz em 1.º de dezembro de 1915 e foi
planejado para ser um semanário. Como endereço para assinaturas, se dá o nome de B.
Lewgoy, Campo do Bonfim, 88, e para correspondência, S. Kaufman, rua 12 de Outubro,
19. Como colaboradores, além de Josef Halevi, que, no primeiro número usou vários
pseudônimos, encontravam-se o ativista e intelectual Nathan Becker, do Rio de Janeiro, o
futuro redator de outro periódico em São Paulo, o conhecido ativista Marcos Frankenthal de
Quatro Irmãos, Melech Reicher, de Santa Maria, Baruch Schulman, de Curitiba, e outros.
O jornal teve pouca duração e conseguiu sobreviver com dificuldade os seis
números que foram publicados pelo seu redator. O mesmo Josef Halevi faria uma segunda
tentativa jornalística e fundaria, em 1920, o segundo periódico judaico em nosso país, o “Di
Idische Tzukunft” (“O Futuro Israelita”), cujo primeiro número começou a circular em 15
de janeiro daquele ano. Nesse sentido, nos parece que Pinhe Katz, em seu relato, confunde
os dois periódicos, pois, se ele recebeu um jornal em 1920, esse foi o “Di Idische
Tzukunft”, e não o “Di Menscheit”.
663
No verbete do “Neie Lexikon fun Idicher Literatur”, N.Y., 1960, encontramos que nasceu em Chvodan, na
Lituânia, em 1868, e estudou na ieshivá de Volozhin, passando depois a viver em Londres, Madrid e na Itália.
Até 1910 esteve em Paris, onde estudou, certo tempo, literatura na Sorbonne. Foi enviado em 1910, pelo
“Hatzefira”, à Argentina, com a finalidade de pesquisar a vida dos judeus nas comunidades, e acabou ficando
por lá. Erroneamente, o autor do verbete dá como data de sua morte 5 de maio de 1921, em lugar de 1920,
conforme o depoimento de Pinhe Katz. Mas não são, infelizmente, as únicas imprecisões que encontramos no
Leksikon sobre Y. Halevi.
376
O “Di Idische Tzukunft” tinha uma clara orientação anarquista, e é bem
possível que a hipótese de Raizman seja correta ao dizer que talvez o jornal fosse apoiado
pelo grupo de anarquistas judeus que existiam em Porto Alegre. O historiador e jornalista
Jacob Nachbin664
menciona, em um artigo publicado no “Tzukunft” (“Futuro”), nos
Estados Unidos, a existência de um grupo de anarquistas judeus em Porto Alegre, que
participara de ações políticas, juntamente com alemães e italianos, tendo sido alguns
membros presos e deportados aos seus países de origem.6654
Esse anarquismo de Josef
Halevi pode ser depreendido por uma breve descrição de Pinhe Katz, em sua outra obra ,
que leva o título “Idische Jornalistik in Argentine”, editada em 1946, e onde, nas páginas
187-8, ele se refere ao nosso personagem nos seguintes termos: “O jornalista hebreu-
idichista Josef Halevi, que tinha uma especial qualidade de se adaptar a todas as exigências,
escreveu aqui (no jornal ‘Unzer Vort’), com o título ‘Di Idische Don Quichoten’ (‘Os Don
Quixotes Judeus’), contra os sionistas que desviam a atenção dos judeus da Argentina de
seus interesses locais, e sob o pseudônimo “A id on a bord” (ele sim usava uma barba),
escreveu contra os hebraístas, que desviam os judeus de sua cultura atual”. O “Di Idische
Tzukunft” durou cerca de quatro meses, e com a morte de Josef Halevi, ele não poderia
mais ter continuidade. Entre seus colaboradores se encontrava também Baruch Schulman,
que já havia participado do primeiro periódico, de 1915, o “Di Menscheit”.
Baruch Schulman publicou, em 17 de novembro de 1950, um artigo
rememorando a figura de Josef Halevi, com o título “Mein bagegenisch mitn redaktor fun
der erschter idicher tzeitschrift in Brazil” (“O meu encontro com o redator do primeiro
jornal israelita no Brasil”), no periódico “Der Neier Moment” (O Novo Momento), de São
Paulo. Nesse artigo, relata Schulman como travou conhecimento pessoal com Josef Halevi,
que chegou a ser seu hóspede em Curitiba e que lhe sugeriu editar um jornal no Rio de
Janeiro sob sua redação e com a administração do próprio Schulman. Assim, ele passa a ser
testemunho importante para nosso conhecimento do enigmático jornalista, e cujo relato, no
delicioso estilo que caracterizou tudo o que saiu de sua pena, transcrevemos quase na
íntegra: “...Ano após, em 1915, recebi uma carta do meu amigo Salomão Kauffman, que
morava anteriormente em Curitiba, na qual ele me escrevia que estavam para tirar um
jornal judaico e me pedia para fazer algo em prol do assunto no Paraná.
“Atirei-me ao trabalho com fervor, fiz assinaturas e vendi ações. E grande foi
meu entusiasmo quando vi o nome conhecido de Josef Halevi no primeiro número do “Di
Menscheit”, como redator. “Em nosso grupo, o primeiro jornal judaico foi recebido com
verdadeira alegria. Não somente as palavras eram lidas letra por letra, mas a publicação era
comentada e discutida com muita compreensão e elogios.
“Quando um leitor de jornais americanos e europeus apontava alguma falha, os
céus se abriam num clamor. Como podem esquecer que estão dando os primeiros passos
num verdadeiro deserto? Pois sob esse aspecto é uma renovação que foi bem-sucedida. Mas
nossa satisfação não durou muito. Com o sexto número, o ‘Di Menscheit’ afundou. Poucos
anos após, Josef Halevi fez nova tentativa periodística, com o ‘Di Tzukunft’, mas não
saíram mais do que dois números.
“Certa vez, recebi uma carta de Josef Halevi, onde ele dizia que, no caminho ao
Rio, se propunha a visitar Curitiba e ficaria muito alegre em me conhecer pessoalmente.
664
Sobre ele vide nosso artigo “Jacob Nachbin: precursor da historiografia judaica no Brasil”. 665
No artigo “Der moderner idischer ishuv in Brazil”, in “Tzukunft”, julho, 1930.
377
Esta notícia eu não somente a recebi com alegria, mas também com certo orgulho. Não era
algo comum, pois teria a regalia de hospedar um escritor judeu, o redator de um jornal.
“Em minha imaginação, eu via um intelectual com riqueza espiritual, cheio de
humor e acuidade mental, com quem seria um prazer passar o tempo! Dialogar com um
intelectual judeu!
“Qual não foi a minha decepção ao encontrar um homem neurastênico, de 50
anos de idade, com uma barbicha ao estilo ‘iluminista’, amargurado e ácido, de quem era
difícil extrair uma palavra da boca. Mas a maior decepção sofreu minha esposa, que Deus a
tenha em paz, pois, conforme o hábito de uma verdadeira dona de casa, ela se preparou para
receber nosso hóspede com os melhores quitutes de seu repertório culinário. Talvez algo
não o agradasse e outra coisa não pudesse comer. Ele nos disse que necessitava somente de
leite. Leite e leite. Com o tempo, nos acostumamos com isso. (Ele permaneceu entre nós
um tempo mais prolongado). Mas, de qualquer forma, era um intelectual judeu! Eu tive a
impressão de que o calor de um lar judeu teve influência positiva sobre ele. Começou a ser
mais falante, de vem em vez mostrava certo sorriso sobre seu rosto e contava alguma
anedota em nada má.
“Viajou de Porto Alegre ao Rio por etapas, parando em cada lugar onde havia
uma comunidade suficientemente grande para dar uma conferência e ganhar para suas
despesas. No Rio, ele tinha em mente iniciar um novo periódico. Em um belo dia, Josef
Halevi expôs a mim seus planos e me propôs ser seu editor. Muito capital – assim ele me
disse – a investir não era necessário. Os tipos hebraicos pode-se comprá-los em Porto
Alegre por bem pouco. O empreendimento ali não deu certo devido ao fato de haver muitos
donos.
“Mas, com uma iniciativa particular, ele como redator e eu como administrador
em uma cidade como o Rio, o sucesso poderia ser previsto de antemão. A mim esse plano
atraía. Morar na linda metrópole brasileira e estar à testa de um periódico era uma idéia
para não se desprezar. Fui, então, me aconselhar com meu velho amigo, Max Rosenmann.
“Max Rosenmann, o presidente da comunidade judaica de Curitiba, foi um dos
primeiros judeus que chegaram ao Paraná e que se impôs na sociedade cristã pela sua
seriedade e sua dignidade como judeu. O importante é que ele era estimado pela colônia
alemã, onde possuía muitos amigos, entre os quais se encontrava o redator e proprietário do
periódico ‘Der Beobachter’ (O Observador), ao qual Max Rosenmann me levou para obter
uma opinião profissional sobre todo o assunto.
“‘Der Beobachter’, assim costumávamos chamar o redator, não pelo seu nome,
mas pela publicação, era um tipo cheio de importância, barrigudo, e a gente tinha a
impressão de ser esmagado pelo seu corpo pesado. Mas, ao se observar seu rosto aberto e
simpático, com amplas barbas em suas faces, à la Francisco José (Franz Joseph), com os
olhos sorridentes, acabava-se tendo com ele um relacionamento familiar. E quando se
começava a falar com ele, revelava-se uma personalidade colorida, que esperávamos então
encontrar em Josef Halevi. Era uma boa pessoa por natureza, socialista militante, idealista e
muito amigo dos israelitas (houve, por vezes, tais tipos entre o povo que provocou o
Holocausto). Dirigia uma luta intensa contra o segundo jornal, ‘Der Kampus’ (‘O
Campus’), publicação clerical dirigida por um padre, e a toda investida anti-semita, o ‘Der
Beobachter’ reagia com vigor e lucidez. Ele nos recebeu com calor e nos levou a ver a
redação, com a presença de mais alguns de seus membros, esclarecendo certas questões
técnicas e nos animando a aceitar a proposta (de fundar um jornal).
378
“Esse aconselhamento profissional me embriagou, e comecei a pensar na
mudança ao Rio. Para minha felicidade, minha divina esposa viu o assunto com outros
olhos – vocês, mulheres, com a sabedoria de Eva – e argumentava que tudo não passava de
fantasia e não de um negócio que nos permitisse progredir. ‘E na melhor das hipóteses,
quem podia garantir’ – assim ela argumentava – ‘que você poderá se entender com essa
pessoa?’.
“Com esse último argumento, fiquei liquidado. Dentro de pouco tempo, Josef
Halevi começou a me despejar cartas do Rio ‘para no caso de ainda não ter desistido da
idéia do jornal...”
“Mas, nesse ínterim, minha esposa já tinha todos os trunfos na mão: ‘Se isso é
uma mina de ouro, por que ele não a encontrou no Rio...?’. Não era eu o destinado a ser
editor de um jornal judaico no Brasil...”666
Em nossa procura em pós dos rastros de Josef Halevi no Brasil, acabamos
encontrando dois anúncios no periódico do professor David J. Perez, “A Columna”, de
agosto e setembro de 1916, onde nosso personagem oferecia-se a ensinar e dar, “com
pronúncia asquenazita ou sefaradita”, aulas de hebraico, confirmando o que Pinhe Katz
havia dito anteriormente, isto é, que ele vivia de aulas e conferências. No mesmo periódico
e no mesmo ano a redação respondeu a ele em uma carta curta, dizendo que publicaria, em
um próximo número, um artigo que remetera, o qual nunca foi publicado.
Além do mais, encontramos uma homenagem a Josef Halevi nos Protocolos do
Primeiro Congresso Sionista no Brasil, em 1922, na cidade do Rio de Janeiro.667
E o
primeiro historiador a dar importância e reconhecer o pioneirismo de Josef Halevi foi Jacob
Nachbin, em artigo publicado no jornal “Idische Folkteiztung” (Gazeta Israelita), em 21 de
maio de 1929, e lá ele o denominava “fundador da imprensa judaica no Brasil”, assim como
o fizeram no mencionado Congresso de 1922.
Ao trabalharmos com o material do arquivo de Baruch Schulman, qual não foi
nossa surpresa ao encontrarmos uma carta em ídiche de Josef Halevi, dirigida ao escritor de
Curitiba, talvez a única existente, cujo teor serve de excelente testemunho histórico de sua
atividade jornalística no Brasil. A carta, lamentavelmente não datada, teria sido escrita
entre 1916 e 1919, ou seja, no período após o encerramento do “Di Menscheit” e antes da
criação do “Di Idische Tzukunft”. E isso é facilmente comprovado por uma leitura atenta
de seu conteúdo, o qual passamos a traduzir:
Rio, 19 de outubro
Senhor Bernardo Schulman
Prezado Senhor,
Ouvi dizer que o senhor, nos últimos tempos, escreveu novamente para cá
sobre o vosso plano de editar aqui um jornal judaico. Caso seja verdade, e se de fato o
666
Raizman é, incompreensivelmente, crítico em relação ao testemunho de Schulman, e os defeitos que vê em
seu artigo ele mesmo os comete em toda a extensão de sua obra como historiador. Na verdade, é um absurdo
exigir que um depoimento pessoal seja um modelo impecável de obra histórica. O texto de Schulman constitui
um testemunho único, feito por um brasileiro que teve contato com o fundador dos dois primeiros periódicos
judaicos em ídiche em nosso país. 667
V. nosso artigo “Sionistas, o primeiro encontro”. Documento inédito: os Protocolos do 1.º Congresso
Sionista no Brasil.
379
senhor se empenhar em dar os passos práticos para a realização desse plano, informo-lhe
que, não faz tempo, chegou aqui, fugindo da América, devido à guerra, um bom tipógrafo
judeu, que, não querendo investir seu pequeno patrimônio em uma tipografia própria e não
tendo talento para a costumeira atividade judaica no Rio, iria, certamente, trabalhar
consigo, caso fizeres tal negócio.668
Isso permitirá ao senhor, assim que chegarem aqui os
tipos, publicar o jornal, não precisando assim esperar por um tipógrafo de Buenos Aires (o
antigo tipógrafo do “Menscheit”, que também se encontra aqui, faz agora negócios
melhores). E isso em caso de o senhor encontrar definitivamente em si mesmo a força
necessária para esse empreendimento. E o que o senhor possui, terá que reconhecer, como
se nada tivesse tido antes, devido a esses pequenos detalhes. Devo-lhe ainda escrever que
não é de todo impossível que eu, em pouco tempo, não tendo aqui um jornal para redigir,
viajarei a São Paulo, onde poderei também ter o mesmo trabalho que tenho agora.669
Viajando para cá, o senhor necessita, de todo modo, parar em São Paulo, onde, entre
outras coisas, é preciso estar para contratar ali um bom agente para o jornal. Pergunte
por mim ao Rabino Hertzenstein,670
que possui um açougue na rua José Paulino, Bom
Retiro, e ele saberá meu endereço.
Atenciosamente
Y. Halevi
Saudações a todos os velhos conhecidos, entre eles, o senhor Rosenmann671
e
família.”
A carta de Josef Halevi mostra claramente que, com o encerramento das
atividades do “Di Menscheit”, formou-se um vácuo relativo à imprensa ídiche, e os
escritores que se expressavam nessa língua sentiam a necessidade de criar um novo órgão
onde pudessem publicar os seus trabalhos, ainda que, nos anos de 1916-17, saísse em
português o jornal “A Columna”. No entanto, esse periódico não poderia servir àqueles que
não dominavam o vernáculo.
668
Temos a convicção de que se trata de Eduardo Horowitz, que chegou ao Brasil em outubro de 1916, era
tipógrafo e veio fugido da guerra, saindo dos Estados Unidos ao Brasil. Tornou-se, mais tarde, secretário da
Federação Sionista no Brasil quando esta foi fundada, em 1922, destacando-se por sua cultura e qualidades
espirituais. Com a fundação do “Ídische Volkzeitung”, em 1927, foi designado seu redator, após ter
acumulado uma experiência jornalística valiosa como colaborador do “Dos Idische Vochenblat” e do
“Brazilianer Idische Presse”, ambos fundados por Aron Kauffman. Os dados referentes à vinda de Eduardo
Horowitz ao Brasil e sua profissão nos foram fornecidos por membros de sua família, em entrevista pessoal
feita no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a biografia de Eduardo Horowitz ainda está por ser escrita, e,
enquanto isso ocorrer, desconheceremos uma das personalidades mais marcantes da vida judaica no Brasil. 669
A de professor particular 670
Trata-se do Rabino Mordechai Guertzenstein, de tradicional família rabínica na Europa, e um dos
primeiros rabinos asquenazitas a chegar ao Brasil, no início do século XX, trazido pela J.C.A., da Argentina.
Homem de idéias avançadas, fugindo um pouco do estereótipo do rabino ortodoxo, estava muito próximo dos
maskilim por sua ampla cultura e modo de conduzir os assuntos religiosos. Radicou-se em São Paulo,
passando mais tarde a viver no Rio de Janeiro. Josef Halevi usa a forma original do nome da família do
rabino, isto é, Hertzenstein. 671
Trata-se de Max Rosenmann, um dos primeiros judeus a chegar a Curitiba, ainda no final do século XIX,
tendo uma atuação importante na vida comunitária local, fato já lembrado no relato de Schulman.
380
Assim, é compreensível que Baruch Schulman (ao qual Josef Halevi chama de
Bernardo, na forma aportuguesada de seu nome) tenha tomado a iniciativa de criar um novo
periódico, ídiche, sob a influência de Josef Halevi, mas que pelas razões acima referidas
pelo próprio escritor, não chegou a se concretizar.672
672
Sobre Baruch Schulman e sua atuação como escritor e intelectual de prestígio no meio judaico brasileiro e
no exterior, vide nosso trabalho “A correspondência entre Leib Malach e Baruch Schulman” nesta coletânea.
381
39. Jacob Nachbin, percursor da Historiografia judaica no Brasil
A historiografia judaica no Brasil é relativamente nova, uma vez que tem início
na segunda década do século passado, apesar da imigração mais recente, em contraposição
à do período colonial, dar-se com a Abertura dos Portos.
Com o término da Primeira Guerra Mundial, dirigiu-se ao nosso país uma
grande corrente imigratória de israelitas provenientes fundamentalmente da Europa
Oriental, dando forte impulso à criação de instituições comunitárias que pudessem atender
aos recém-chegados.
Muitos dentre os imigrantes estabeleceram-se nos grandes centros urbanos e,
principalmente, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e outras cidades. Porém, outros
se interiorizaram, procurando melhores oportunidades em lugares mais longínquos,
espalhando-se em nosso território de Norte a Sul em busca de trabalho e meios de
sobrevivência. Entre esses imigrantes também encontravam-se intelectuais, ainda que
constituíssem um número reduzido, e por isso mesmo, procurassem manter hábitos
culturais adquiridos no Velho Continente. Agruparam-se com o fim de formar entidades de
caráter cultural, passando a promover o teatro e a literatura ídiche por através da formação
de grupos amadores que encenavam peças teatrais, além de organizarem eventos literários e
conferências. Certas iniciativas, desses grupos, tiveram um alcance maior ao convidarem
personalidades importantes do mundo artístico judaico a virem ao Brasil com a intenção de
se apresentarem perante as comunidades. De fato no decorrer do tempo escritores famosos
e renomadas companhias teatrais judaicas atuaram no Brasil assim como nos demais países
do continente sul-americano.
Jacob Nachbin chegou ao Brasil com a onda imigratória após a Primeira Guerra
Mundial, indo estabelecer-se, em 1921, no Recife, onde já havia uma comunidade israelita
organizada. Vinha ele do Velho Continente após ter vivido em vários países, a começar da
Polônia, onde nascera, Hungria, Suíça, Alemanha, até fixar residência entre nós. A
instabilidade e a constante procura que caracterizaram sua vida teve início em sua infância,
pois ficara órfão aos dois anos de idade, tendo sido criado por vários parentes, que também
se encarregaram de lhe dar uma educação tradicional judaica ao lado de uma formação
geral que adquiriu por si só. Durante a Primeira Guerra Mundial, fugiu da Polônia e acabou
por servir no Exército austríaco para, logo após alguns meses, chegar a Budapeste, na
Hungria. Foi em Budapeste que encontrou a companheira de sua vida e foi ali que começou
sua carreira literária, publicando poesias em vários periódicos locais, sob os mais diversos
pseudônimos.
Durante a revolução de Bela Kun, teve uma participação como comissário
político junto ao Segundo Exército Internacional húngaro, mas com a queda do governo
revolucionário, foi obrigado a fugir para a Suíça, onde continuou com sua produção
poética, ao mesmo tempo que se voltava para um ativismo ligado ao destino de seu povo.
Desde os primeiros momentos de sua chegada ao Brasil, Jacob Nachbin reuniu
ao seu redor um grupo de admiradores, atraídos por sua personalidade inquieta e seu talento
literário. No Recife, preocupou-se em dar uma contribuição cultural, organizando um grupo
teatral ídiche, ao mesmo tempo que colaborava nos jornais judaicos da Argentina com poemas inspirados na vida e na terra brasileira.
Em 1923, com a fundação do jornal israelita “Dos Idische Vochenblat” (“O
Semanário Israelita”), Nachbin foi convidado a participar da redação daquele periódico,
382
devendo, portanto, trasladar-se ao Rio de Janeiro. Apesar do pouco tempo que permaneceu
em sua redação – menos de um ano – teve a oportunidade de publicar, além de poesias,
pequenas crônicas que se referiam ao cotidiano da vida comunitária. Seus primeiros ensaios
históricos, incluindo notícias sobre imprensa judaica no Brasil e suas origens ele publicaria
mais tarde no jornal “Idische Folkstzeitung” (Gazeta Israelita). Além do mais, sob vários
pseudônimos, usou de sua pena para escrever crítica teatral, e muitas vezes com uma
linguagem cáustica, que não poupava a diretores e atores, a ponto de provocar polêmicas
com aqueles que fossem alvo de seus artigos. Como jornalista, ele estava atento aos eventos
da comunidade, escrevendo vários artigos, onde enfocava questões relativas à imigração e à
organização da vida dos israelitas chegados ao Brasil. Mas foi a partir de 1924 que ele
começou a pesquisar com maior profundidade a história dos judeus no Brasil e a reunir
material para o livro que publicaria mais tarde, em Paris. Seu interesse pela história dos
judeus no Brasil o levaria a viajar a Portugal e Espanha, em fins de 1928, com a finalidade
de consultar as bibliotecas e os arquivos ibéricos. E o único meio que encontrou para fazer
tal viagem, pois Nachbin não tinha condições financeiras para fazê-la por conta própria, foi
como representante de um periódico judaico do Rio de Janeiro, o “Idische Folkstzeitung”,
fundado um ano antes. Suas crônicas e entrevistas com personalidades européias foram
publicadas naquele periódico, onde, em meados de 1928, já havia publicado uma
“Monografia sobre o Nome Brasil”, e que constitui seu primeiro trabalho ligado
diretamente à história brasileira. Nachbin, em suas entrevistas feitas com os representantes
políticos do movimento sionista na Liga das Nações, que tinha em sua ordem do dia o
problema do destino das minorias nacionais européias, entre elas a judaica, retratou um
momento delicado na vida daquela instituição, bem como traçou com maestria jornalística
os jogos de interesses das potências européias no tocante à questão nacional. Ele
entrevistou, durante os vários meses em que permaneceu em Paris, homens como Leo
Motzkin, que representou as minorias nacionais em Comissão especial designada pela Liga
das Nações; o escritor e jornalista Marc Jarblum, o ativista e nacionalista judeu Victor
Jacobson, e entre outros o erudito Zalman Rubashov, que, mais tarde, viria a ser presidente
do Estado de Israel, com o sobrenome Shazar.
Jacob Nachbin, como já dissemos antes, procurou em Portugal, além de fontes
históricas para seu trabalho de pesquisa, um contato com os estudiosos portugueses
interessados no estudo dos judeus da Península. Em relato publicado na “Gazeta Israelita”,
ele fez referência aos encontros mantidos com o engenheiro Samuel Schwartz, que, na
década de vinte, “descobriu” a existência de cristãos-novos portugueses na região de
Belmonte, descrevendo-os em seu livro “Os Cristãos-Novos do Século XX”. Também
encontrou-se com o eminente professor Moisés Bensabat Amzalak, com o historiador
Joaquim Bensaude, e intelectuais como o Dr. A. Benarus, Felix Bermudes e outros, além do
lider dos marranos portugueses, o Capitão Arthur de Barros Basto. Tudo indica que esses
encontros deram, ao nosso historiador, elementos importantes para o ambicioso projeto de
publicar uma “Coleção de Estudos sobre a História dos Judeus em Portugal e no Brasil”,
dos quais o primeiro e único volume a sair à luz foi o seu livro “Der letzter fun di groisse
Zacutos” (O Último dos Grandes Zacutos), obra que deu a Nachbin um lugar entre os
historiadores judeus que se ocuparam com a temática, de modo geral, e o tornou um
precursor da historiografia judaica no Brasil.
Na última página de seu opus maius, “O Último dos Grandes Zacutos”, ele
anunciou a publicação de um segundo volume na coleção citada, que deveria tratar do tema
“A Frota Marítima das Descobertas Portuguesas e seus Mestres Judeus”, mas que nunca
383
chegou a ser publicado. Do mesmo modo, certos títulos constantes na mesma relação de
suas obras foram publicados em forma de artigos e constituem esboços ou sínteses de
trabalhos que, conforme ele mesmo disse em artigo publicado na “Gazeta Israelita” sobre
Antonio José da Silva, o Judeu, deveriam, futuramente, vir a luz em forma de livros.
Após vários meses de estadia na Europa, Nachbin voltou ao Brasil em meados
de 1929, para seguir, no início do ano seguinte, aos Estados Unidos, como noticiou a
“Gazeta Israelita” de 27 de dezembro de 1929, com “finalidades científicas, além de outras,
na área de história dos judeus no Brasil e Portugal, na qual o senhor Nachbin trabalha há
muito tempo e na qual conseguiu jorrar luz sobre capítulos de importância nacional-
judaica...”. Começava, assim, uma nova etapa na vida de nosso irrequieto historiador, que
fixou residência no solo norte-americano e onde exerceu a função de arquivista na North-
western University, em Evanston, chegando a publicar, como resultado de quase dois anos
de trabalho, um “Descriptive Calendar of South American Manuscripts”, na revista “The
Hispanic American Historical Review”, além de outros trabalhos em outros orgãos de
imprensa e revistas especializadas. Por outro lado, as dificuldades financeiras e o trabalho
de arquivista, em condições materiais pouco favoráveis, levaram-no a ser internado para um
tratamento de doença pulmonar, adquirida durante sua permanência nos Estados Unidos.
Ainda durante esse período, ele produziu, entre abril e setembro de 1930, uma
série de estudos, publicados no conhecido periódico americano “Di Zukunft” (“O Futuro”),
sob os títulos “Os Judeus no Brasil” e “A Moderna Comunidade Judaica no Brasil”,
tratando o primeiro da presença israelita desde os primórdios da colonização portuguesa em
nosso solo, até os tempos recentes, e detendo-se o segundo na descrição da comunidade no
século XX. Nesses artigos, Nachbin revelou uma excelente intuição de historiador, ao
apontar a necessidade de se escrever uma história recente, ou seja, da nova imigração
israelita, a partir do século passado, pois nada fora feito até o seu tempo. Não somente isso;
ele, nesses trabalhos, já esboçava uma pequena história da imprensa judaica que iria servir,
mais tarde, a Isaac Raizman em sua obra sobre “Um Quarto de Século de Imprensa Judaica
no Brasil (1915-1940)”, publicada em 1968, em Israel.
Mas, dentre todos os trabalhos de Nachbin, ainda “O Último dos Grandes
Zacutos” permaneceu como a obra mais significativa que saiu de sua pena. Publicada em
Paris, em 1929 (na mesma editora que publicava um outro livro que marcaria época, o
“Baruch Spinoza e seu Tempo”, de Nahum Sokolov), permaneceu o seu livro praticamente
desconhecido do público interessado, principalmente devido ao fato de ter sido escrito em
ídiche. O livro trata da vida e obra de Zacuto Lusitano (1576-1642), médico famoso em seu
tempo e descendente do astrônomo da corte de João II e Manuel I, Abraham ben Samuel
Zacuto, mentor das descobertas portuguesas no período da expansão marítima. O livro é
dividido em doze capítulos, nos quais o autor procurou retratar a genealogia da família
Zacuto Lusitano, cujo nome cristão era Manuel Álvares de Távora. Abandonou, em 1925,
sua terra natal e dirigiu-se a Amsterdam, onde retornou ao judaísmo e passou a usar o nome
Abraham Zacuth, mesmo em seu escritos médicos.
Na introdução ao seu livro, Nachbin escreveu que seu objetivo inicial era tratar
da história dos judeus no Brasil, “mas de imediato ficou evidenciado que a história dos
judeus no Brasil tem suas raízes na Península Ibérica em geral, e em particular em Portugal,
de modo que não podemos separar o judaísmo ibérico de seu período medieval, o qual
terminou por se ligar, ao mesmo tempo, a dois continentes”. Mais adiante, ele diz que o
“material sobre a história dos judeus no Brasil, que reuni durante anos, já pode compor uma
obra volumosa acerca de um capítulo desconhecido da história judaica”.
384
“O Último dos Grandes Zacutos” ultrapassa, na verdade, os limites de um
estudo biográfico do grande médico português para descrever o mundo cultural do
marranismo ou novo-cristianismo e sua contribuição aos reinos ibéricos. E não somente a
vida universitária em Coimbra foi abordada, porém, o nosso autor focalizou aspectos da
história da medicina nos séculos XVI e XVII, que dão realce à atividade científica de
Zacuto Luzitano e seus discípulos. Também a vida das comunidades judaicas na Holanda, e
em particular em Amsterdam, foi narrada sob os ângulos da história social, político-
econômica e cultural. Escritores, poetas e sábios do judaísmo sefaradita, e entre eles a
figura elevada de Menasseh ben Israel, contemporâneo de Zacuto Lusitano, desfilam na
obra de Nachbin, que não escondeu seu entusiasmo e orgulho em relação ao herói de seu
livro e aos personagens que o cercam. Já na introdução ao seu trabalho, ele diz que “Zacuto
Lusitano é apenas um dos muitos do mesmo nível que conhecemos na história judaica, mas
sua personalidade nos interessou devido à ligação existente com a história dos judeus em
Portugal e no Brasil”.
Para os olhos do historiador “profissional”, sua obra apresenta falhas, que o
rigor científico ou metodológico jamais perdoaria, tais como a da pouca unidade na
ordenação dos capítulos, a excessiva liberdade em relação às normas de citação
bibliográfica, a pouca explicação das fontes utilizadas, e mesmo certo abuso da imaginação,
abominada pelo “cientificismo” em geral. Sob esse aspecto, sentimos, na leitura de sua
obra, o desequilíbrio existente entre o poder de análise, a altitude intelectual e o domínio
dos recursos metodológicos na pesquisa e na redação. Erros históricos, devido à falta de
conhecimento empírico de dados, possível somente através do estudo sistemático que
permite um acúmulo bem ordenado de informações, podem ser encontrados na obra de
Nachbin. Mas tudo isso não tira o valor de “O Último dos Grandes Zacutos” como trabalho
pioneiro e arrojado, mormente se considerarmos que ele foi escrito em um ambiente
acanhado e provinciano da pequena comunidade judaica existente naqueles dias, isenta de
exigências científicas ou de apreciadores com suficiente bagagem cultural para julgar
criticamente seu livro. Acima de tudo, devemos considerar que Nachbin era um autodidata,
e podemos dizer, de talento incomum, que, devido a sua vida erradia e agitada, não chegara
a adquirir uma escolaridade acadêmico-formal; porém, era dotado de profunda acuidade
para localizar o problema histórico e investigá-lo. Porém boa parte do livro foi calcado
literalmente na obra do historiador da medicina portuguesa Maximiano Lemos que havia,
publicado em 1909 sua monumental obra “Zacuto Lusitano, a sua vida e a sua obra”, na
cidade de Porto, em Portugal. Nachbin extraiu desse estudo boa parte do material que
compõe os capítulos de seu livro.
Posteriormente, em sua segunda etapa de atividade de historiador, ele revelou
uma maturidade científica plena, que se traduziu na produção de seus estudos sobre os
“Lucidários”, publicados entre 1935 e 1938, cujo nível se iguala aos bons estudos feitos
nessa área.
A partir de 1938 não dispomos mais de nenhuma notícia sobre ele, perdurando
até hoje o mistério de sua morte.673
673
Sobre ele vide meus livros “Jacob Nachbin”, ed. Nobel, São Paulo, 1985, e “Manasche, sua vida e seu
tempo”, ed. Perspectiva, São Paulo, 1996.
385
40. Egon Wolff e a historiografia dos judeus no Brasil
A história dos judeus no Brasil ainda se encontra em suas primeiras etapas de
desenvolvimento, mormente se considerarmos a secular presença hebraica em território
nacional que se faz sentir desde os primeiros anos da descoberta cabralina. Mais ainda,
poderíamos dizer que o Novo Mundo é fruto de um empreendimento amplo onde judeus
peninsulares tiveram um papel ativo, a começar da elaboração das cartas de navegação e do
conhecimento da astronomia, tão necessária para a expansão marítima. Portanto não é de
estranhar que na frota de Cabral se encontrava um Gaspar da Gama, o Gaspar da Índias,
que Vasco da Gama conhecera em sua aventuras transmarinas. Os cristãos-novos ou os
judeus batizados na Península Ibérica que aportaram por aqui e tomaram parte na
colonização portuguesa construindo os alicerces da futura nação brasileira foram, desde o
século passado, o centro das preocupações dos historiadores que investigaram a sua
identificação e seu dramático destino uma vez que foram alvo da Inquisição portuguesa e
de suas Visitações. Assim o historiador Varnhagen, já em 1848, publicava na revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a relação dos cristãos-novos acusados de
judaizarem e foram condenados pela instituição inquisitorial, entre eles o poeta e
dramaturgo Antonio José da Silva, o Judeu 674
. Varnhagen publicaria mais tarde, em 1896,
na mesma revista, tomo LIX, o processo do judaizante queimado pela Inquisição de Lisboa
em 1739. 675
Nos anos 20 do século passado seria publicada a obra de Solidônio Leite Filho
sob o título “Os Judeus no Brasil”676
e que teria uma influência sobre o primeiro historiador
judeu no país, Jacob Nachbin, que, apesar de carecer de uma formação acadêmica formal
era um autodidata com uma excelente intuição para a temática histórica, como podemos
constatar na série de artigos que publicou em língua ídiche no periódico “Di Zukunft”( O
Futuro ), de Nova York, em 1930677
. Posteriormente Nachbin acabaria por dominar com
maior precisão o método de pesquisa histórica ao trabalhar como arquivista na
Northwestern University de Illinois. Lamentavelmente seu trabalho de historiador ficou
interrompido com o desaparecimento prematuro de sua pessoa. O importante na obra de
Nachbin é o fato de ter chamado a atenção para a imigração contemporânea dos judeus,
ainda que fosse apenas uma leve sinalização de uma área de estudos que iria se desenvolver
bem mais tarde 678
. Isaac Raizman, que seguiu de perto as pegadas de Nachbin, e, como ele,
era um intelectual que não havia passado pelos bancos universitários, seria o segundo
historiador judeu no Brasil a publicar uma “História dos Judeus no Brasil”, em 1937, que
não passava de uma síntese de alguns capítulos históricos relativos aos judeus ou melhor,
cristãos-novos no período colonial, escrito em tom apologético, e que de certa forma
revelava o deliberado esforço do autor para apresentar os judeus que viviam no Brasil com
674
Varnhagen, F. A., Antonio José da Silva, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. IX,
1847 (2a. ed., 1869), pp. 114-124 675
Varnhagen, F. A. , Os processos de Antonio José da Silva, o Judeu, in Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, t. LIX, 1896. 676
Filho, S. L., Os judeus no Brasil, Rio de Janeiro, 1923. 677
“Di yidn in Brazil” (Os judeus no Brasil) e “Der moderner idicher ishuv in Brazil” (A moderna
comunidade judaica no Brasil, in “Di Zukunft”(O Futuro), abril, maio, junho, julho e setembro de 1930. V.
também do mesmo autor “Der letzer fun di groisses Zacutos”(O último dos grandes Zacutos), Paris, 1929. 678
Falbel, N., Jacob Nachbin, ed. Nobel, São Paulo, 1985.
386
um rosto positivo em oposição a propaganda integralista daqueles anos obscuros da política
nacional 679
. Raizman que era gráfico de profissão e jornalista ativo na imprensa ídiche nas
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, durante muitos anos, publicaria um trabalho único
no gênero e, portanto, de um significado maior, “Um quarto de século de imprensa judaica
no Brasil” que até hoje permanece como uma fonte insubstituível de consulta aos
interessados nesse aspecto cultural da imigração israelita 680
. Um trabalho posterior,
publicado em 1975, e que no conjunto formaria uma coletânea de estudos sobre a presença
judaica nos países de fala portuguesa, sob o título “A criatividade judaica em língua
portuguesa”681
, o autor se mostraria preocupado em abordar temas inéditos, em particular
sob o aspecto da participação de judeus na literatura portuguesa, assim como a própria
atividade literária em língua ídiche próprio dessa corrente imigratória que se estabeleceria
nos maiores centros urbanos do país. Além do mais, Raizman também tentaria trilhar o
caminho da literatura escrevendo um romance de caráter auto-biográfico que, igualmente
aos demais autores de língua ídiche, acabaria por ser esquecido devido a paulatina
diminuição de leitores dessa língua 682
. Do mesmo modo poderíamos explicar o
desconhecimento de sua obra histórica tal como ocorreu com o seu antecessor, Jacob
Nachbin, pela falta de uma tradução em língua portuguesa.
No decorrer dos anos 40 ocorreu um fenômeno notável em relação ao tema da
imigração e presença judaica no Brasil. A maior contribuição seria a de um historiador de
grande mérito científico, José Antonio Gonsalves de Mello, que com sua obra “Tempo dos
Flamengos” 683
elucidaria magistralmente a situação dos judeus, agora com a inteira
liberdade de se praticarem sua religião e culto sinagogal, no Recife e em Mauricia, nas
regiões sob o domínio holandês. Novamente o período colonial era privilegiado e era o
centro das atenções de nossos estudiosos. Porém a obra de José Antonio se destacaria entre
as demais pelo tratamento dado a um capítulo desconhecido, os judeus sob o domínio
holandês, ao qual dedicaria várias décadas de trabalho profícuo do qual resultaria uma série
importante de artigos e estudos indispensáveis à consulta de quem tem interesse nessa área.
Uma síntese de seu trabalho global foi publicada recentemente sob o título de “Gente da
Nação” 684
. Nos rastros da obra histórica de José Antonio G. de Mello, seguir-se-iam as
pesquisas de Arnold Wiznitzer e Isaac S. Emmanuel que também tratariam dos cristãos-
novos e dos judeus no período colonial. Ambos historiadores percorreram os arquivos
europeus em busca de fontes que os habilitariam a elaborar trabalhos de relevância que
seriam publicados em revistas nacionais e no exterior. Wiznitzer seria o primeiro a verter o
Pinkes de Zur Israel ao inglês, publicando-o antes em português 685
. Mais tarde ampliaria o
seu trabalho de pesquisa publicando uma obra mais abrangente sob o título “Os Judeus no
679
Raizman, I. Z, Geschichte fun idn in Brazil (História dos judeus no Brasil) São Paulo, 1935. Em 1937 seria
publicada a tradução portuguesa sob o título “História dos Israelitas no Brasil”. 680
Raizman, I. Z., A fértil yohr-hundert idische presse in Brazil. (Um quarto de século de imprensa judaica no
Brasil), Safed, 1968. 681
Raizman, I. Z., Idische scheferrischkeit in portugalischen loschen (A criatividade judaica em língua
portuguesa), Safed, 1975. 682
Raizman, I. Z., Lebens in schturm (Vidas tempestuosas), Tel-Aviv, 1965. 683
Mello, J. A . Gonsalves de,Tempo dos Flamengos, J. Olympio Editores, Rio de Janeiro, 1947. 684
Mello, J. A. Gonsalves de, Gente da Nação, Ed. Massangana, Recife, 1989. 685
Wiznitzer, A., O Livro de Atas das Congregações judaicas Zur Israel em Recife e Magen Abraham em
Mauricia, Brasil,1648-1653, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1952.
387
período colonial” que seria uma primeira síntese sobre aquele período, fundamentada, em
parte, sobre uma ampla bibliografia e fontes primárias 686
.
Isaac S. Emmanuel concentraria seu trabalho científico no estudo dos israelitas
sob o domínio holandês apoiado numa pesquisa profunda na documentação dos arquivos
holandeses, assim como o fizera José Antonio G. de Mello, porém com a qualidade
adicional de poder estudar as fontes hebraicas devido ao conhecimento que possuia dessa
língua 687
. Seu trabalho estendeu-se ao estudo dos judeus na região do Caribe, Salônica e
outros lugares, ultrapassando assim os limites geográficos do Brasil688
.
Devemos lembrar que ainda nos fins de 40 e inícios de 50 Kurt Loewenstamm,
um rabino oriundo da Europa Central que havia imigrado ao Brasil após a Segunda Guerra
Mundial, publicaria dois volumes sob o título de “Vultos judaicos no Brasil”689
que repetia,
em boa parte, e com certa ingenuidade de amador curioso e pouco preparado, os erros e as
afirmações apologéticas sobre certas personalidades judio-brasileiras cuja pertinência ao
judaísmo nem sempre poderia ser provado, mesmo porque não havia elementos que o
comprovasse. O interessante na obra de Loewenstamm é a percepção da existência de
judeus que se destacaram na sociedade brasileira no século XIX e seu intento em biografá-
los, num período que a nova imigração, isto é, a contemporânea, ainda não fora alvo de
uma preocupação historiográfica por parte de nossos pesquisadores. Talvez seja este um
dos méritos do trabalho desse historiador. Porém, seríamos injustos com esse autor se não
lembrássemos uma republicação sobre D. Pedro II como hebraísta e tradutor de poesia
judaica contadino-provençal, que foi sem dúvida uma contribuição pioneira para a
divulgação do conhecimento lingüístico, do hebraico e do provençal, do sábio Imperador 690
.
Foi durante os anos 50 que se deram várias iniciativas de se formar um Arquivo para
estudos históricos judaicos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e posteriormente em São
Paulo, que teria como objetivo precípuo o incentivo às pesquisas sobre os judeus no Brasil
e a publicação dos seus resultados. O periódico comunitário “Aonde Vamos?” serviu de
veículo para a divulgação da idéia de formação do assim denominado Instituto Judaico
Brasileiro de Pesquisa em dezembro de 1952, passando a publicar os artigos de seus
membros. Pelo que sabemos os únicos pesquisadores, na época, que chegaram a apresentar
ao grande público do “Aonde Vamos?” alguns artigos de valor foram Isaac S. Emmanuel e
Arnold Wiznitzer. Além desse foi colaborador do “Aonde Vamos?” nesse mesmo período,
Ernest Feder, um intelectual de alto nível cultural que imigrou ao Brasil durante a Segunda
Guerra Mundial, com excelente formação humanista, ainda que não fosse historiador,
chegou a publicar alguns artigos de interesse relativos à temática judaico-brasileira. Ernest
Feder voltaria mais tarde a Europa sem dar continuidade ao trabalho que havia iniciado no
Brasil. Uma outra tentativa de se criar um instituto histórico judaico naqueles anos, se deu
686
Wiznitzer, A., Os Judeus no Brasil Colonial, Pioneira-Edusp, São Paulo, 1966. 687
I. S. Emmanuel publicou uma série de artigos na revista “Aonde Vamos?” sob o título “Fortuna e
Infortúnios dos judeus no Brasil (1630-1654)” números 632-644, 1955. V. também “New Lights on Early
American Jewry”, in American Jewish Archives,January, 1955. 688
Emmanuel, I. S., Histoire des Israelites de Salonique, Thonon-Paris, 1936. 689
Loewenstamm, K., Vultos judaicos no Brasil, 1500-1822, Rio de Janeiro, 1949; Vultos
Judaicos no Brasil, 1822-1889, Monte Scopus, Rio de Janeiro, 1956. 690
Loewenstamm, K., O Hebraista no Trono do Brasil: Imperador D. Pedro II, Biblos, Rio
de Janeiro, s.d.
388
em Belo Horizonte sob a iniciativa do historiador Isaias Golgher, conhecido pelos seus
trabalhos sobre a história do Brasil colonial, mas que não chegou a concretizar seu
ambicionado projeto. A bem da verdade a preocupação pela preservação das fontes
documentais sobre os judeus no Brasil remonta ainda ao ano de 1928 segundo uma notícia
que encontramos no jornal Idische Folkszeitung 691
na qual o escritor, recém chegado ao
país, Menasche Halpern, solicitava, como representante do Instituto Científico Judaico
YIWO, fundado em 1925, em Vilna, documentos de toda natureza relativos à presença
israelita em território nacional. Nada sabemos dos resultados dessa solicitação, mas temos
conhecimento de que o YIWO efetivamente criou nos anos 40 uma seção brasileira em São
Paulo e Rio de Janeiro, sob a direção do premiado escritor de língua ídiche, Meier
Kutchinsky, e outros, que visava recolher material documental sobre a mesma temática. O
fracasso de todas essas tentativas foi extremamente prejudicial à pesquisa e a preservação
da memória da imigração judaica em nosso território uma vez que a não preservação das
fontes documentais e a falta de um arquivo comunitário central organizado em bases
científicas levou a perda de material precioso aos estudiosos. A destruição causada pelo
tempo de coleções particulares e institucionais se deveu, em boa parte a inexistência de
uma consciência histórica na própria comunidade judaico-brasileira que não soube valorizar
e avaliar corretamente o papel que os judeus tiveram na formação, desde a Descoberta, da
nacionalidade brasileira. Por outro lado devemos assinalar que as mesmas situações que
explicam a pouca atenção dada à história judaica se manifestam de certo modo na
sociedade mais ampla que ainda luta para desenvolver a consciência coletiva no sentido de
apontar a importância da preservação de documentos, à nível desejado, em relação à
própria história do Brasil, processo esse que se deu acentuadamente em tempos mais
recentes e na medida que as universidades brasileiras começaram a introduzir em seus
programas também cursos de arquivística. Durante muito tempo a documentação
acumulada nos arquivos nacionais, em vários estados do país, não mereceram o cuidado
necessário que deveriam ter com raras exceções, pois as houveram, não tiveram meios e
recursos adequando para se colocar à disposição dos estudiosos de nossa história. Nessa
sucessão de tentativas de se formar um Arquivo judaico no Brasil, viria a surgir, em 1976,
em São Paulo, o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro fundado por um grupo de professores
e alunos da Universidade de São Paulo e que contava ainda com a participação de Egon e
Frieda Wolff. Apesar das dificuldades iniciais e do pequeno apoio que recebeu a novel
instituição esta conseguiu reunir um acervo documental importante relativo à imigração e a
presença judaica no Brasil, que atraiu e estimulou jovens pesquisadores a se interessarem
pela temática judaico-brasileira resultando em trabalhos universitários com os quais
obtiveram títulos de mestrado e doutorado. Durante esses anos, desde sua fundação, o
Arquivo paulista realizou eventos culturais e exposições bem como publicou catálogos de
alguns de seus fundos ou coleções, ainda que os seus recursos fossem limitados e
contassem apenas com a boa vontade de um pequeno grupo de abnegados colaboradores.
Nos últimos anos, vem despertando um interesse maior pela história dos judeus no Brasil o
que pode ser comprovado pelo elevado número de trabalhos publicados, ou trabalhos
científicos em elaboração, de jovens pesquisadores que estudam os vários segmentos dessa
fascinante história.
691
O jornal foi fundado em 1927 e servia como veículo de informação, em língua ídiche, a todas as
comunidades judaicas do país.
389
Porém, continuando a olhar retrospectivamente essa produção historiográfica,
desde os anos 60, houve um verdadeiro salto quantitativo bem como qualitativo, que
enriqueceu o nosso conhecimento sobre a história dos judeus no Brasil, destacando-se nesse
sentido os trabalhos dedicados ao período colonial uma vez que o período independente não
havia merecido suficiente atenção dos pesquisadores. Entre esses historiadores mereceu
uma apreciação maior os trabalhos de Joaquim Gonçalves Salvador que pesquisou no
Arquivo Nacional, na Torre do Tombo, em Lisboa, e em outros arquivos, como a Arquivo
Geral das Índias, em Sevilha, o Arquivo Histórico Ultramarino para mencionarmos os mais
importantes, e cujos resultados constituem no seu conjunto a melhor contribuição para o
conhecimento da história dos cristãos-novos no Brasil. Gonçalves Salvador abordou em
seus trabalhos aspectos fundamentais, e até então pouco estudados, tais como a presença de
cristãos-novos nas instituições eclesiásticas, sua participação na formação das primeiras
famílias da sociedade brasileira, em particular em São Paulo, na economia mercantilista da
época, assim como no tráfico negreiro. À sua obra “Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição”,
publicada em 1969 692
, seguiram-se outras que devemos considerar indispensáveis a todo
estudioso do assunto: “Os cristãos-novos: povoamento e conquista do solo brasileiro”
(1530-1680), publicada em 1976 693
. “Os cristãos-novos e o comércio do Atlântico
meridional”, publicada em 1978 694
e “Os magnatas do tráfico negreiro”, publicada em
1981695
. No mesmo ano de 1969, um outro historiador, Elias Lipiner publicava um trabalho
que também se constituiria em um marco importante para o estudo dos cristãos-novos no
nordeste brasileiro sob o título “Os judaizantes nas capitanias de cima”696
, e, devido a
formação pessoal do autor, possibilitou uma elaboração sob um enfoque mais amplo da
história judaica nos séculos XVI e XVII, uma vez que Lipiner a conhecia bem, assim como
era possuidor de uma cultura hebraica não comum entre nossos estudiosos. Elias Lipiner
continuou suas pesquisas e em 1977 publicaria um novo trabalho, dessa vez, de divulgação,
com o título “Santa Inquisição: terror e linguagem” que elucidava em forma de verbetes de
dicionário, a terminologia ou significado das expressões e da linguagem técnica empregada
pela instituição inquisitorial 697
. Lipiner já havia escrito anteriormente, e juntamente com
Salomão Serebrenick, um modesto ensaio sobre a nova imigração judaica no Brasil e que
de certa forma passava a ser uma das primeiras tentativas, após Nachbin, de abordar o tema,
ainda que superficialmente. Outros estudos de Lipiner, publicados mais recentemente,
sobre a legislação afonsina, “No tempo dos Judeus”, e em particular, sobre a enigmática
figura de Gaspar da Gama, são extremamente elucidativos.
Ainda nessa etapa em que as pesquisas históricas sobre os cristãos-novos
entraram numa fase acentuadamente rigorosa sob o aspecto científico, surgiram os
trabalhos de Sonia Siqueira, Eduardo D’Oliveira França e o estudo de Anita Novinsky,
sobre os cristãos-novos na Bahia, além dos mais recentes, na forma de teses universitárias,
692
Salvador, J. G., Os Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição, Pioneira-EDUSP, São
Paulo, 1969. 693
Salvador, J. G., Os Cristãos-novos, povoamento e conquista do solo brasileiro
(1530-1680), Pioneira-EDUSP, São Paulo, 1979. 694
Salvador, J. G., Os Cristãos-novos e o comércio no Atlântico Meridional, Pioneira-
EDUSP, São Paulo, 1978. 695
Salvador, J. G., Os Magnatas do tráfico negreiro, Pioneira-EDUSP, São Paulo,
1981. 696
Lipiner, E., Os judaizantes nas capitanias de cima, Brasiliense, São Paulo, 1969. 697
Lipiner, E., Santa Inquisição: Terror e linguagem, Documentário, Rio de Janeiro, 1977.
390
dos alunos da Universidade de São Paulo, que abordaram aspectos particulares do novo
cristianismo no Brasil em uma tentativa de elucidar momentos de sua história no contexto
da própria expansão territorial e de formação da nacionalidade brasileira.
Um passo importante e que teria uma repercussão favorável para a abertura de
uma nova área de estudos, que permanecia como tabula rasa, isto é, a imigração no período
contemporâneo, a partir do século passado, quando se permitiu, através do Tratado de
Amizade entre o governo Imperial e a Inglaterra, a vinda e o estabelecimento de imigrantes
de religiões católicas no Brasil, foi a criação, em 1976, em São Paulo , do referido
anteriormente, Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, com a participação do autor destas
linhas e um pequeno grupo de alunos e professores da Universidade de São Paulo 698
.
Porém além desses veio ajuntar-se ao grupo Egon e Frieda Wolff, pesquisadores que
dariam a contribuição mais significativa a essa área esquecida pelos historiadores do
judaísmo brasileiro, até então. Poucos anos antes despertou também no autor destas linhas a
consciência da importância de se chamar a atenção para o estudo da imigração mais
recente, a contemporânea, que se ressentia pela falta de uma definição cronológica mais
rigorosa e em parte pelo ceticismo quanto as possibilidades de uma investigação mais
profunda uma vez que não havia nenhum arquivo comunitário-judaico que pudesse dispor
de fontes documentais para qualquer investigação. As fontes deveriam ser localizadas ou
“descobertas” pelos próprios interessados no trabalho de pesquisa. Importante, nessa etapa,
era a criação de modelos de pesquisa e apontar caminhos para um trabalho científico que
ainda estava para ser realizado e onde pouco havia sido feito, anteriormente. Foi assim que
resolvemos investigar alguns aspectos relativos à imigração da Europa Oriental, de língua e
cultura ídiche, que constitui a maioria dos israelitas vindos ao Brasil, a começar do fim do
século passado e mais acentuadamente em nosso século, após a Primeira Guerra Mundial.
O papel formador da vida comunitária dos imigrantes da Polônia, Rússia,
Romênia, Lituânia, e outros países daquela região que se revelou no grande número de
instituições, sinagogas, escolas, entidades de beneficência e associações culturais era
inegável e os resgate particular de sua história, assim pensávamos, deveria ser o primeiro
passo para a compreensão de um grande processo imigratório que não somente se dirigiu ao
Brasil, mas às Américas como um todo. A fascinante saga de nossos pais, avós e
antepassados nos despertara o desejo de entender o seu mundo espiritual e suas raízes que
foram transpostos ao novo continente, assim como tentei demonstrar em artigos, mais tarde
compilados, parcialmente, no meu “Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil”699
. A
maior dificuldade para se dar continuidade a esse começo ainda permanece pois a nova
geração de pesquisadores para tanto, deverá superar um obstáculo lingüístico, ou seja, o
conhecimento da língua ídiche e sua criatividade cultural secular.
Mas como já dissemos a grande contribuição para a história recente dos judeus
no Brasil seria dada por Egon Wolff e sua companheira de pesquisa Frieda Wolff, cuja
produção científica, sob aspecto quantitativo e qualitativo, pode ser considerado único na
atual historiografia relativa à imigração judaica no país, e sobre a qual queremos fixar nossa
atenção uma vez que este é o foco central dessa nossa modesta avaliação da historiografia
judaica no Brasil.
698
Falbel, N., The Brazilian Jewish Historical Archives: Its Creation and Its Research Projects, in American
Jewish Archives, november, 1980. 699
Falbel, N., Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil, ed. F.I.E.S.P, São Paulo, 1984.
391
Porém, antes de fazermos uma análise abrangente da obra de Egon Wolff como parte desta
introdução ao levantamento bibliográfico do conjunto de sua obra, devemos alertar os
nossos estudiosos que passou ser extremamente difícil separar com absoluto rigor o que
representa a obra de Egon Wolff e o que representa o trabalho de sua companheira, uma
vez que tudo foi pesquisado o foi por ambos, como um verdadeiro trabalho à quatro mãos.
Por outro lado, e com justa homenagem ao historiador falecido, queremos traçar
em poucas linhas um pequeno esboço biográfico de Egon Wolff para nosso melhor
conhecimento do homem e do historiador.
Egon Wolff nasceu em 28 de julho de 1910 em Budsin, na Alemanha, de uma
família judaica de classe média e durante os anos 30 estudou Direito, na Universidade
Friedrick Wilhelm de Barlim, onde encontraria sua futura esposa Frieda, com a qual casaria
em 1934. Naquele período crítico para a população judaica da Alemanha, devido à
ascensão do nazismo ao poder, não restava outra via senão a saída daquele país a lugares
mais seguros, e após superarem muitas dificuldades e obstáculos, viajando por alguns
países da Europa, o jovem casal conseguiu chegar, em fevereiro de 1936, ao Brasil. Em São
Paulo, a cidade na qual se estabeleceram de início, ao chegarem ao seu novo lar, dedicou-se
Egon a atividade comercial, na qual teve pleno sucesso devido a sua reconhecível
inteligência, dedicação ao trabalho e cará ter íntegro.
O interesse inicial pela história dos judeus no Brasil deu-se ainda nos anos 60
quando Egon e Frieda já haviam se transferido à cidade do Rio de Janeiro e atuavam em
instituições comunitárias, em particular no setor de beneficência vinculado à Policlínica
Israelita, mais tarde Hospital Israelita Sabin. A curiosidade pelo judaísmo brasileiro e a
constatação de inexistência de uma literatura histórica que pudesse satisfazê-los e dirimir
suas dúvidas e inquietudes os levou a procurar as fontes primárias, a começar da imprensa
nacional do século passado, a qual forneceu aos pesquisadores os primeiros elementos
sobre a imigração do século XIX, Pacientemente, Egon e Frieda, foram colhendo e
sistematizando dados extraídos dos periódicos que passaram a ser complementados por
outro tipo de fontes tais como as epigráficas que resultaram de levantamentos dos
cemitérios mais antigos do Rio de Janeiro e de outros lugares, desde o Norte ao Sul do país.
A procura de rastros dos imigrantes e sua famílias não se restringiu às fontes nacionais mas
se ampliou, através de constantes viagens ao exterior, com a consulta de jornais em vários
países.
A intensa atividade filantrópica exercida por Egon Wolff na Sociedade
Beneficente Israelita (Policlínica Israelita) mais tarde Hospital Israelita, entre os anos de
1961 e 1967, não impediu que seu interesse pela história da imigração judaica ficasse
esquecido pois a publicação do Boletim Informativo daquela instituição inseria, sob
pseudônimos diversos, sempre alguma matéria histórica que refletia seu incansável
interesse pelo passado. Os resultados mais maduros de suas pesquisas naqueles anos
podemos constatar nos artigos que foram publicados em 1972 na revista “Aonde Vamos?”
e que, vão se ampliando a partir de seu primeiro livro, “Os Judeus no Brasil Imperial”,
passando a aparecer em outros periódicos, onde tinham uma seção permanente tais como a
Resenha Judaica, o Jornal Israelita, Menorah, Shalom, Herança Judaica, bem como em
revistas do exterior tais como a Studia Rosenthaliana e Archives Juives. Nesse ínterim
Egon Wolff e Frieda ingressam como membros do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro participando em suas sessões com contribuições originais e interessantes
392
chamando a atenção de seus confrades pela dedicação e fidelidade à pesquisa histórica
sobre a presença israelita no Brasil. Também os estudos genealógicos sobre as famílias
israelitas e seus descendentes, que vieram no século passado para se estabelecer em várias
regiões do país, se apresentam como verdadeiras descobertas de veios históricos
inteiramente desconhecidos e os leva a ingressar no Colégio Brasileiro de Genealogia do
Rio de Janeiro, além de serem convidados para participarem na revista de estudo s
genealógicos dos Estados Unidos, o Avotaynu. A atividade cultural permanente tomou
conta da vida de Egon e Frieda que tiveram uma participação na Rede Nacional da
Memória Judaica, criada em Porto Alegre, que reuniu representantes de institutos judaicos
de várias cidades do país. Sua presença em todos os eventos importantes, desde seminários
e congressos, cursos e encontros de intelectuais e estudiosos de judaísmo brasileiro tornou-
se obrigatória e indispensável pela sempre esperada contribuição que dariam através de
suas intervenções, palestras e conferências. Assim, sob todos os aspectos, o
desaparecimento de Egon Wolff, ocorrido em 23 de janeiro de 1991, criou um vazio que
dificilmente poderá ser preenchido a curto prazo.
Ao olharmos o conjunto da obra histórica de Egon Wolff de imediato salta à
vista que ela não se restringiu ou se limitou apenas à imigração judaica nos séculos XIX e
XX, ainda que o peso maior de suas pesquisas recaiam sobre esse período. Na verdade os
trabalhos publicados pelo nosso historiador denotam uma abrangência que vai dos inícios
da colonização portuguesa no Brasil e se estende até o período contemporâneo, passando
pelo domínio holandês, que exigiu consultas nos arquivos da Holanda, pelas Visitações
Inquisitoriais de 1591 e 1618 e cujos processos de condenação dos judaizantes brasileiros o
levou a trabalhar na Torre do Tombo. Nesse amplo leque de segmentos e capítulos da
história colonial e independente do Brasil notamos uma vontade tenaz e honesta de
desvendar pontos obscuros e desconhecidos de nosso passado. Desde os primeiros artigos
vemos que o esforço maior de seu trabalho como historiador se voltaria para dois eixos
centrais que seriam: a) história dos judeus sob o domínio flamengo cujo marco
bibliográfico fundamental seria o livro “A odisséia dos judeus do Recife”, que procuraria
identificar os signatários dos “ascamot” (resoluções) da comunidade “Zur Israel” e o
destino dos que saíram do Brasil às vésperas da reconquista portuguesa e a expulsão dos
holandeses; b) a imigração judaica no século XIX que permaneceu como terra incógnita até
a publicação das pesquisas de Egon Wolff, e que revelaria a vinda de judeus marroquinos,
alemães, ingleses, gibraltinos, franceses, orientais e do leste da Europa ao Brasil. Mas
poderíamos acrescentar a essas duas grandes vertentes uma terceira, decorrente desse
último e como sua continuação natural, que foi o da história específica de certas
comunidades israelitas, como as de Natal e Campos. A metodologia de pesquisas de Egon
Wolff se caracterizou antes de tudo pela procura exaustiva de dados para confirmar
verdades e suposições que a exígua bibliografia existente sobre os temas em questão
transmitiu como certas sem elementos comprobatórios suficientes. O método de nosso
historiador se fundamentava na dúvida cartesiana que rejeitava o conhecimento certo e
acabado da história dos judeus no Brasil. Talvez seja esse “elan comprobandi” que animou
seu trabalho e o levou a levantar a enorme quantidade de fontes nos vários arquivos do país
e do exterior. Daí entendemos que uma boa parte de sua produção intelectual estava voltada
à publicação e a divulgação de documentos, tais como certidões de naturalização,
documentos cartoriais e comerciais, e de outra natureza, além dos epigráficos, fruto de
levantamentos minuciosos nos cemitérios judeus e cristãos.
393
Por outro lado não podemos desconhecer que no conjunto de seus trabalhos
Egon Wolff mostraria uma preocupação por certos aspectos da história dos cristãos novos e
a atuação da inquisição no Brasil assim como pela imigração mais recente, o que podemos
comprovar pela diversidade de artigos publicados sobre esses temas, que devido a sua
dispersão justificam a coletânea que ora publicamos. Os “Dicionários biográficos I e II”
reúnem, nesse sentido uma profusão de dados que são de enorme valia aos pesquisadores e
estudiosos uma vez que estão concentrados e sistematizados, poderíamos dizer,
didaticamente, facilitando a sua localização através de uma clara identificação de fontes e
bibliografias. A publicação de artigos e livros sobre a imigração judaica contemporânea
permitiu redimensionar o papel e a contribuição dos judeus na sociedade brasileira
evidenciando a sua participação na vida econômica, política, militar, cultural e social do
país.
Como decorrência de uma informação mais exata que a sua obra fornece,
sociólogos, antropólogos e cientistas sociais tem hoje a possibilidade de efetuar estudos em
suas áreas específicas e poderão se defrontar, com uma informação mais apurada, com
questionamentos sobre assimilação e aculturação dos judeus no país em que vivem, o ritmo
e as etapas de integração social das várias levas imigratórias, sua distribuição profissional e
demais aspectos. Os levantamentos genealógicos das famílias israelitas do século passado
feitos por Egon Wolff podem ser considerados únicos em nossa historiografia e jorram luz
sobre certos processos sociais de assimilação e aculturação, lembrados acima, além de
fornecerem dados importantes sobre os seus personagens e descendentes. Para finalizarmos
esse pequeno estudo introdutório da obra de Egon Wolff queremos lembrar as eloqüentes
palavras do eminente historiador que foi o professor Dr. Eurípides Simões de Paula, da
Universidade de São Paulo, que na introdução ao primeiro livro publicado pelo casal Wolff,
“Os judeus no Brasil Imperial”, pelo Centro de Estudos Judaicos da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP, em 1975, assim escreveu:
“Ao receber o presente trabalho das mãos do Prof. Dr. Nachman Falbel para
publicação soube que os autores, Egon e Frieda Wolff, pesquisaram durante muitos anos
arquivos do Rio de Janeiro a fim de realizarem o seu objetivo: o levantamento das fontes
para o estudo dos judeus no Brasil Imperial.
O caráter inédito dos trabalhos consiste justamente no fato de que o período do
nosso Império ainda não foi até agora devidamente estudado sob o ângulo da presença dos
judeus e sua participação social e econômica naquele período. É importante e necessário
que se fizesse antes de tudo uma avaliação básica das fontes disponíveis para os futuros
estudiosos.
Assim temos com esta pesquisa uma idéia das famílias importantes das
comunidades judias dos grandes centros urbanos e sua atividade econômica, e da quais
saíram brasileiros ilustres como Luiz Matheus Maylasky, David Moretzsohn Campista e
outros. Por outro, e com certa surpresa, encontramos organizações comunitárias já
estruturadas como a União Israelita do Brasil, que antecedem a outras instituições que
surgiram posteriormente. Outros aspectos importantes que encontramos nesse estudo estão
ligados a questão da origem dos judeus que imigraram a nossa terra e a formação dos
primeiros núcleos populacionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e o de Recife, Maceió e Belém.
394
A vida dessas comunidades pode ser aprendida pela grande quantidade de
notícias tiradas dos jornais da época, onde se esboçam os problemas que tangem a
atividade. artística-cultural da colônia judaica e até mesmo questões religiosas internas,
bem como seu relacionamento com a sociedade brasileira em geral.
A investigação feita nos documentos da Polícia (passaportes), do Registro de
Estrangeiros, da Junta do Comércio, no Arquivo Nacional, nos Registros do Cemitério dos
Ingleses e outros lugares revelam uma tal riqueza de dados sobre o tema abordado pelos
autores que permitirão a outros pesquisadores encontrarem já um caminho aberto para
estudo mais analíticos”.
A “corrente de ouro” da historiografia judaica, que foi inaugurada ainda no
século passado por Varnhagen, conta hoje com um acúmulo extraordinário de obras de alto
valor científico mas não resta dúvida que um dos elos mais brilhantes foi forjado pelas
mãos de Egon e Frieda Wolff.
A OBRA DE EGON WOLFF :LIVROS ARTIGOS
Livros
Judeus no Brasil Imperial. Centro de Estudos Judaicos. Universidade de São
Paulo 549 p. 1975
Sepulturas de Israelitas – São Francisco Xavier, Rio de Janeiro. Centro de
Estudos Judaicos. Universidade de São Paulo, São Paulo. 285 p 1976
A Odisséia dos Judeus do Recife. Centro de Estudos Judaicos. Universidade de
São Paulo, São Paulo. 342 p. 1979
Judeus nos Primórdios do Brasil República. Biblioteca Israelita H. N. Bialik,
Rio de Janeiro. 384 p. 1981 (Prêmio Clio de História 1982 da Academia Paulistana de
História).
Sepulturas Israelitas II – Uma pesquisa em mais de 30 cemitérios não-israelitas.
Cemitério Comunal Israelita do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 267 p. 1983
D. Pedro II e os Judeus. Editora B’nai B’rith S/C, São Paulo. 80 p. 1983
(Prêmio Clio “História do Império” 1984 da Academia Paulistana de História).
Natal – Uma Comunidade Singular. Cem. Comunal Isr., Rio de Janeiro. 130 p .
1984
Participação e Contribuição de Judeus ao Desenvolvimento do Brasil. Ed.
Particular. Rio de Janeiro. 181 p. 1985.
Dicionário Biográfico I – Judaizantes e Judeus no Brasil 1500-1808. Cem.
Com. Isr., Rio de Janeiro. 222 p. 1986.
Campos – Ascensão e Declínio de uma Coletividade. Cem. Com. Isr., Rio de
Janeiro. 195 p. 1986.
395
41. O Léxico dos ativistas sociais e culturais
A idéia de se publicar um Léxico dos ativistas na comunidade judaica brasileira foi
sugerida de um cidadão argentino, Wolf Bressler, que havia se ocupado com o mesmo
projeto na Argentina, chegando a editar em Buenos Aires, um primeiro volume em 1941
sob o título “Léxicon de los hombres de bién de la colectividad israelita en la Argentina”,
edição bi-lingue em espanhol e ídiche, com a participação de Samuel Glasserman,
exatamente como seria planejado em língua portuguesa pelo editor Henrique Iussim (Zvi
Iatom).Conforme notícia no Aonde Vamos? de 10 de janeiro de 1946 Wolf Bressler teria
vindo ao Brasil, um pouco antes, como jornalista e diretor proprietário da “Editorial Idisch”
da Argentina com a finalidade de comercializar os livros de sua editora. Porém viria, pela
segunda vez, no final dos anos 40 e proporia a Iussim a realização do Léxico brasileiro.
Iussim que foi proprietário de editora no Rio de Janeiro, sob os nomes de Biblos e Monte
Scopus, dedicava-se a publicar livros de temática judaica e nesse sentido foi um verdadeiro
pioneiro em nosso país, pela qualidade e seleção de seus textos.700
Porém somente em 4 de
novembro de 1952 é que Wolf Bressler e Iussim, que agora eram sócios no
empreendimento, assinariam um contrato com Abraham Aizengart e Herman Zherzhinski
para trabalharem em conjunto no projeto que deveria ser editado pela Monte Scopus. O
contrato incluia o compromisso de visitarem 30 candidatos a serem biografados, por
semana, de cobrarem os débitos, de preencherem os seus questionários, recebendo 15% dos
ingressos-bruto, sem incluir possíveis subsidios institucionais interessados na edição do
projeto. Quanto a Bressler sua participação deveria se resumir ao tempo limite de três
meses ao que após sua partida os dois contratados, Aizengart e Zherzhinski passariam a
receber 25% do ingresso pelos biografados no Léxico sob sua iniciativa. Como podemos
ver o empreendimento era comercial ainda que o resultado final, sob o olhar atual e a longa
distância de tempo, foi de uma importância impar para a preservação da memória da
imigração judaica no Brasil. Além das pessoas acima lembradas tomaram parte no projeto o
escritor Baruch Schulman e Nelson Vainer que entrevistaram pessoas e cuidavam de obter
o preenchimento dos questionários enviados aos ativistas interessados em figurar no
Léxico. Baruch Schulman, que tinha um excelente conhecimento da imigração e da vida
comunitária, teve um papel importante na obtenção de dados e informações bem como
aplicou-se na redação dos textos introdutórios ou crônicas das respectivas comuidades. O
questionário que poderia ser preenchido pelo próprio ativista, ou por seu entrevistador,
incluia uma série de perguntas sobre lugar de origem, filiação,data de nascimento, data de
chegada ao Brasil e um histórico sobre sua atividade comunitária. Como já lembramos
acima, o Léxico deveria ser publicado em português e ídiche o que de fato se deu com as
quatro brochuras que vieram a lume, a saber, Paraná-Curitiba (1953), Rio Grande do Sul-
Porto Alegre (1957), Pernambuco-Recife (1957) e Minas Gerais- Belo Horizonte (1957).
Curitiba foi a primeira a ser publicada e foi alvo de certa crítica, no jornal Der Neier
Moment, de São Paulo, assinada por I.P., saudava a publicação em seu número de 6 de
novembro de 1953, mas se referia a ausência de nomes importantes que deveriam figurar e
entre eles a figura patriarcal de Scholem Paciornik, um dos patriarcas daquela comunidade.
Nesse interim a editora publicaria um impresso explicativo sobre o que deveria ser o Léxico tentando responder a questões levantadas ao seu redator Henrique Iussim, balizando o
700
Sua esposa Ruth Iussim publicou no Boletim Informativo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, n. 10,
dez.-jan. 1997-8, um pequeno artigo sobre seu esposo.
396
projeto entre as datas de 1953 e 1955, o que, talvez, significasse que pretendia termina-lo
nesse espaço de tempo. O impresso em questão respondia cerca de 20 questões relativas ao
projeto, a começar do objetivo do Léxico ao qual Iussim respondia de que “constituirá o
Memorial da coletividade judaica de todo o Brasil.” Ele explicará que os judeus , outrora,
costumavam anotar as importantes datas num ‘Pinkas’ e cada comunidade possuia seu
memorial, “e portanto era nosso dever registrar a vida coletiva atual , de maniera que fique
gravada para sempre, na memória das gerações futuras. Eis a finalidade do Léxico.” Quanto
aos idiomas da publicação ele via a necessidade de adotar o ídiche e no vernáculo, por ser
a primeira “a linguagem de sua alma e cérebro e o vernáculo para a nova geração, a fim de
que ela tome conhecimento da obra social erigida por seus pais, nesta terra.” O Léxico
deveria conter os dados biográficos de centenas de ativistas sociais e culturais, sua
atividade e contribuição para o desenvolvimento da coletividade judaica e do país em geral
, a começar pelos fundadores e pioneiros, “de meio século atrás ,até os dias de hoje.” Ao
editores previam que o projeto seria editado cm 1.500 páginas, em grande formato de
album, incluindo cerca de 500 biografias, além de históricos das sociedades. Nesse
impresso informava-se que no primeiro ano havia-se coletado 280 biografias e dados sobre
cerca de 40 sociedades. A coleta das informações fazia-se mediante um questionário de 15
quesitos que o biografado deveria preencher e remeter à editora, que não se comprometia
em publicar tudo e em especial o que considerava como “momentos puramente decorativos,
tais como chás, banquetes, rifas, desfiles de moda e outros tantos “ornamentos”, ficando tão
sómente os fatos concretos e substanciais de interesse coletivo.” O redator obsrva, ainda,
que poderá enviar o questionário a quem o solicitar, o que não significa que qualquer
pessoa que o preencher entrará no Léxico...” Para exemplificar sobre o modo de
preenchimento do questionário ele publicava um bilhete encantador de M.K. (seria o
escritor Majer Kucinsky?) , “veterano de nossa vida social”: ‘ Prezado amigo Henrique
Iussim. Devolvo-lhe, incluso, o questionário preenchido, e antes de dizer a oração “Em tuas
mãos deposito a minha alma” desejo lembrar-lhe a conhecida história do Bal Shem: Um
judeu viu-se, certa vez, embrenhado numa cerrada floresta. Estava-se em Iom Kipur, ou Dia
da Expiação e ele não tinha consigo um Mahzor (o conjunto de orações dedicadas a certa
festividade) nem Sidur (conjunto das orações do culto sinagogal rotineiro), nenhum livro
de orações. Que fazer? Teve uma idéia: passou o dia pronunciando as letras do alfabeto de
Alef a Taw e vice-versa, e a Deus dirigiu a seguinte prece: “Senhor do Universo! Aqui
tendes as sagradas letras da Torá. Componde delas, as orações que mais Vos agradarem...”
Em outras palavras informava-se que a redação final estaria a cargo dos responáveis pelo
Léxico. O Léxico também pretendia incluir entre os seus biografados intelectuais e
profissionais liberais, estes últimos valorizados na época em que o ideal dos imigrantes era
verem seus filhos formados e ornados com o título de “Doutor”, especialmente como
médicos, engenheiros e advogados. Além de observar sobre o tamanho da biografia e
outros detalhes técnicos, Iussim informava que o Léxico não tratava apenas de individuos
mas visava retratar o panorama completo das atividades sociais dos judeus deste país,
dispensando atenção especial às instituições, como sejam: escolas, a imprensa, instituições
filaântropicas, agremiações culturais, iniciativas científicas, atividades editoriais e trabalhos
de pesquisa, que se relacionam com a vida coletiva dos judeus no Brasil. Finalmente ele
terminava suas explicações sobre o projeto comentando que “a história dos judeus no
Brasil é um vasto campo de estudos ainda não concluidos. Em certo sentido ainda continua
“terra virgem”, à espera do seu redentor. Faremos, porém, o possível para que o Léxico
contenha- um relato substancial a respeito da história dos judeus no Brasil, escrito por
397
pessoas competentes e versados na matéria. E nesse sentido já estamos tomando as
providências necessparias.” Sabemos porém que as brochuras sobre Bahia, São Paulo e
Rio de Janeiro, estas duas últimas contendo um elevado número de ativistas entrevistados
por serem as maiores e mais importantes comunidades judaicas do Brasil, não chegaram a
ser publicadas, apesar de estarem sendo graficamente compostas. Além do mais o projeto
icluia alguns estudos gerais tais como história da imprensa, escrito por Isaac Raizman e que
já havia sido publicado em ídiche em outro lugar, educação judaica elaborado por Shabatai
Karakuchansky e outro sobre a atividade econômica dos judeus no Brasil. Em meados dos
anos 70 Iussim visitou o Brasil e ofereceu a mim e ao jornalista Konrad Charmatz, redator
do Der Neier Moment, para dar continuidade ao projeto pois ,vivendo agora em Israel,
gostaria de cumprir com o compromisso que assumira nos anos 50 quando foi
interrompido o projeto em andamento por vários revezes pessoais. De início mostrei-me
interessado, sob o aspecto da preservação da memória da imigração, porém ao tomar
consciência de que isso implicava em um compromisso de caráter comercial acabei por não
querer assumir qualquer responsabilidade referente ao mesmo. Assim mesmo Iussim
enviou-me o material do Léxico que se encontrava guardado em seu escritório no Rio de
Janeiro uma vez que deveria desativá-lo. Desse modo interei-me de seu conteúdo e pude
avaliar, apesar dos percalços que impediram sua publicação final, o quanto ele era
importante para o conhecimento de pessoas e instituições que atuaram desde a primeira
década do século passado e lançaram os fundamentos da vida comunitária judaica em
território brasileiro.
O Léxico, em sua totalidade, ainda está para encontrar o seu redentor, porém considerei ser
útil ao pesquisador da história da imigração judaica ter em mãos as “Crônicas” que
acompanhavam o conjunto de biografias contidas em cada brochura, razão pela qual optei
publica-las como apêndice documental neste livro.
398
42. Apêndices:
42.1 As crônicas das comunidades no “Léxico” de Henrique Iussin
42.1.1 Crônica- Rio de Janeiro
A comunidade judaica do Rio de Janeiro compõe-se atualmente de, cerca
de 50.000 almas, abrangendo quase um terço da coletividade israelita do Brasil.
Quanto à atividade criadora, social e culturalmente, e sob o ponto de vista espiritual,
constitui a parcela mais importante do “ishuv” brasileiro. Se desejarmos fazer, hoje
em dia, uma avaliação dos valores espirituais do judaísmo brasileiro, evidenciar-se-á
que, em paralelo com São Paulo vicejam no Rio de Janeiro e se desenvolvem lenta
porém continuamente todos os setores, todos os ramos da cultura judaica, tanto da
laica moderna como da religiosa. Graças a essas manifestações de atividade sócio-
cultural multifacetada, é mantido é mantido um contato permanente com os centros
de cultura judaicos de todo o mundo. O mundo judaico sabe da existência e toma
conhecimento do desenvolvimento da comunidade do Brasil, por intermediário de sua
parcela criadora, que está concentrada e atua no Rio de Janeiro através da literatura,
imprensa, rede escolar, bibliotecas, círculos dramáticos, coros, centros de cultura,
instituições sociais de caráter filantrópico, tais como asilos, Policlínica, Sociedade das
Damas, Lar da Criança, etc. E, finalmente, estão presentes no Rio de Janeiro os
diversos partidos judaicos, da extrema direita à extrema esquerda, tudo que
caracteriza e compõe o arco-íris judaico se manifesta na vida social da coletividade no
Rio. Esta tornou-se o espelho no qual se reflete toda a comunidade do Brasil, tanto
interna como exteriormente.
Esse desenvolvimento notável, essa evolução acelerada da vida da
coletividade do Rio é digno de especial menção, não apenas quanto ao seu aspecto
especificamente judaico, como também no campo geral, no qual, em todos os gêneros
de atividade, se salienta e se destaca de modo positivo a participação judaica. Tanto
no comércio como na indústria, nas letras como na ciência, na educação e na
imprensa, em todos os ramos de atividade a participação judaica se evidencia. Assim,
por exemplo, a maior indústria de cerâmica da América do Sul (3.500 operários) e a
maior fábrica de papel, localizadas no Paraná, são obras dos irmãos Klabin; uma das
maiores oficinas gráficas do país e grande indústria de tintas, pertencem aos Bloch;
uma grande metalúrgica é propriedade de Marvin; na indústria madeireira destaca-se
a “Brasil-Holanda”, de M. Budianski; uma grande editora, especializada em obras de
medicina, a “Guanabara”, e outra editora, de literatura em geral, a “Delta”, são
realizações de Abram Kogan e Simon Waisman. Convém mencionar que quase todas
as pessoas acima mencionadas também se destacam por sua positiva participação na
vida social judaica, salientando-se por suas contribuições. No campo da ciência,
destacam-se: na Química, o mundialmente conhecido e muitas vezes laureado, por
diversos países, Prof. Fritz Feigl, o qual exerce também o cargo de Presidente das
Associações Israelitas do Rio de Janeiro; na ciência física sobressai o Prof. Jaime
Tiomni; na Matemática – o Prof. Leopoldo Nachbin; na Medicina – o famoso
neurólogo Dr.Abrão Akerman, o cirurgião fluminense Dr. Kaiser e os Drs. Jaime
Landman e Ruben Azulay, ambos catedráticos da Faculdade de Medicina do Rio.
Tanto o Dr. Kaiser como o Dr. Azulay trabalham desinteressadamente na Policlínica
399
Israelita. Na literatura brasileira se destacam Pedro Bloch, como dramaturgo, e Elisa
Lispector, como beletrista. No campo educacional são conhecidos a Profa. Ida
Vaisberg, da Escola Superior de Sociologia, e o Prof. Abram Izecksohn, catedrático da
Escola Nacional de Engenharia
Também no campos da atividades técnico-administrativas destaca-se .o
conhecido engenheiro Salomão Serebrenick, diretor de estudos e projetos da
Comissão do Vale de São Francisco, órgão do Governo Federal. Verifica-se, assim,
que em todos os ramos da cultura e da ciência os judeus se acham representados
numa proporção bastante elevada, muito superior à sua percentagem na população do
país.
A crônica que em seguida se fará sobre a coletividade judaica do Rio de
Janeiro e dos seus membros atuantes, com relação à sua evolução impetuosa e sua
estabilidade, ilustrará nitidamente o anteriormente exposto e comprovará a assertiva
da sua influência e domínio espiritual sobre toda a comunidade do Brasil.
Crônica
A nova corrente imigratória para o Rio de Janeiro iniciou-se nos últimos
anos do Século XIX e constituiu-se de início de emigrantes isolados oriundos da
Europa Oriental, que desembarcavam, na maior parte das vezes casualmente, quando
a caminho da Argentina ou de outros países. Naquela época já residiam no Rio de
Janeiro judeus safaraditas, que se achavam organizados, principalmente sob o aspecto
religioso. É conhecido o fato de que, em 1901, por ocasião do Iom Kipum, faltou um
judeu para completar o “minian” dos asquenazitas e foi necessário consegui-lo “por
empréstimo” dos safaraditas, cuja coletividade era bem mais numerosa.
Os imigrantes da Europa Oriental, casualmente aportados ao Brasil,
consideravam inicialmente a sua estada aqui como temporária, pretendendo retornar
o mais rápido possível ao velho lar, com as economias que lhes fosse possível fazer.
Para os imigrantes de língua ídiche as instituições safarditas existentes não
ofereciam atrativos, embora outras tais como uma sinagoga e uma caixa de auxílios
mútuos não existissem. Procuraram os novos imigrantes fundar, logo de início,
agremiações diversas, sociedade de conterrâneos, sinagogas próprias e instituições
filantrópicas.Os sentimentos enraizados trazidos do velho lar, de judeus
misericordiosos através da sucessão de gerações, as saudades e a solidão dos recém-
vindos constituíram forte estímulo para todos os tipos de atividade social, em todos os
campos sócio-econômicos e nos diversos setores culturais. A proporção que a corrente
imigratória se intensificava, quanto mais famílias estabeleciam-se em caráter
permanente no Rio de Janeiro, tanto mais forte e vigoroso se firmava o processo de
construir, de consolidar as atividades sociais em instituições solidamente assentes.
Detalharemos mais adiante o desenvolvimento das diversas instituições e o
desempenho dos pioneiros fundadores, em ordem cronológica.
Centro Israelita do Rio de Janeiro
A primeira associação que se legalizou no Rio denominava-se “Centro
Israelita do Rio de Janeiro” e foi fundada, sob a denominação de “Merkaz Israel”, a
1o de outubro de 1910, por judeus asquenazitas e franceses. Os seus estatutos foram
publicados em 1911, em francês e português. É interessante observar que na última
400
página da publicação contendo os estatutos da sociedade figura uma prece “Leshalon
Hamediná” (Pela Paz do País), em hebraico e tradução para o português. Os
fundadores do Centro foram os Snrs. Simon Drenger, Samuel Leimann e Isidor
Abrament. A primeira Torá foi ofertada pelo de Herbert Moses e era oriunda de um
Grêmio de judeus da Alsácia-Lorena que se dissolveu.
De acordo com os seus estatutos, o Centro tinha por objetivo fundar uma
sinagoga e estabelecer um cemitério próprio. A sinagoga existia realmente e, quanto
ao cemitério, em 1920 foi adquirido, conjuntamente com a sociedade “Bet Jacov”, um
terreno adequado, em Vila Rosali, onde se estabeleceu o cemitério da comunidade
israelita do Rio de Janeiro.
“Achiezer”
A primeira instituição filantrópica israelita, da qual mais tarde originou-se
o “Relief”, foi fundada em 1912. Naquela época habitavam no Rio cerca de 200
judeus, na sua maioria vendedores ambulantes, e alguns poucos comerciantes
estabelecidos. Os fundadores da sociedade foram os Snrs. Sinai Faingold, Wofsi, o
“Americano”, Benzion Snitcovsky, Tuli Lerner, José Lerner, Fischel Grinberg e
Jacob Schnaider. O objetivo inicial exclusivo era prestar assistência aos novos
imigrantes. Surgiu posteriormente, em concorrência, a sociedade “Agudát Ahim”,
cujos membros ativistas foram os Snrs. Mordechai Kritz, Baruch Bregman e Baruch
Brafman. Por iniciativa dos Snrs. Henrique Knop e Salomão Castro, foi fundada
junto ao “Achiezer” uma biblioteca, que inicialmente contou com livros doados pelos
associados. Dessa maneira, criou-se o fundamento para a existência posterior da
Biblioteca Popular “Scholem Aleichem”.
“Tiferet Zion”
Foi essa a primeira organização sionista do Rio que, sob a denominação
acima, foi fundada em 1913. Coube a iniciativa da sua fundação, a um sionista
vienense de passagem pela cidade, o Sr. Rabinovitch, o qual, juntamente com o Sr.
José Margolis, residente no Rio, a criou, na residência do Sr. Jacob Schnaider, à rua
Senador Euzébio, 117. A primeira diretoria compunha-se dos Snrs. Sinai Faingold,
Presidente, Benzion Snitcovsky, Secretário e Jacob Schnaider, Tesoureiro.
Divulgou essa sociedade o pensamento sionista, promoveu coletas para o
“Keren Kaiemet”, festejou as datas nacionais e esteve em contato com o escritório do
“Keren Kaiemet” em Colônia, na Alemanha.
Em 1916 houve uma reorganização da sociedade “Tiferet Zion”, tendo sido
eleitos para a Diretoria os Snrs. Júlio Stolzenberg, Presidente, Leon Schwartz, Isaac
Roitberg e outros.
Um episódio interessante, demonstrativo das atividades e ligações da
“Tiferet Zion” com organismos sionistas no exterior, é o que descreveremos em
seguida.. Quando foi emitida, em 1917, a Declaração Balfour, e Snrs. Jacob Schnaider
recebeu um telegrama de Chaim Weizman e de Sokolov, os quais solicitaram que se
expressasse agradecimentos ao governo britânico, por intermédio da sua Embaixada
no Rio. Posteriormente, o Snrs. Schnaider e o Dr. I. Perez, receberam um telegrama
do Rei Jorge V em resposta.
Em decorrência da Declaração Balfour, manifesta-se um recrudescimento
das atitividades sionistas no Brasil. Tanto no Rio como em outras cidades, a emissão
401
da Declaração é devidamente festejada. O Rio torna-se o centro das atividades
sionistas no país e, em 1919, a organização sionista local é transformada em
Organização Central, com jurisdição sobre todo o Brasil. Em 1921 é, pela primeira
vez, enviado um delegado do Brasil ao 12o Congresso Sionista, Júlio Stolzenberg,
conhecido ativista do movimento sionista. No mesmo ano é realizado o primeiro
contato com um delegado da Organização Mundial, Dr. Alexandre Goldstein, o qual
esteve no Rio de passagem, quando em viagem para Buenos Aires, em missão do
“Fundo da Redenção”, precursor do “Keren Hayesod”. Em 1922 veio ao Brasil, um
delegado especial do “Keren Hayesod”, o Dr. I. Wilenski, o qual cumpriu uma
excelente campanha pelo país todo, arrecadando cerca de 300 contos de réis. Em
novembro de 1922 realizou-se o 1o colóquio, sionista do Brasil, com a participação de
40 delegados, tendo o temário constado de 24 pontos. Nesse encontro foi fundada a
Federação Sionista do Brasil, com a seguinte direção:Snrs. Morris Klabin, Presidente
de Honra, o qual foi o primeiro doador sionista do Brasil; Presidente, Sr. Jacob
Schnaider; Vice-Presidente, Snrs. Saadio Lozinski e David Levi (sefardi); 1o
Secretário, Sr. Eduardo Horowitz; 2o Secretário, Sr. Scholem Linetzky; 10 tesoureiro,
Sr. Boris Tendler; Tesoureiro do “Keren Hayesod”, Sr. Salomão Gorenstein;
Conselheiros: Snrs. Júlio Stolzenberg (Curitiba), Miguel Lafer (São Paulo); e
Conselheiros fiscais: Snrs. Simão Dain, Mendel Koslovsky e A. Behar (sefardi). Os
primeiros emissários sionistas vindos ao Brasil, Snrs. I. Wilenski, Leib Jaffe, Dr.
Mossenzon e Dr. Juris, desempenharam um importante papel na fortificação do
movimento sionista, inclusive sob o aspecto cultural, o que consistiu uma ocorrência
extremamente positiva.
Com o decorrer do tempo foram agregados à direção da Federação sionista
os Snrs. D. Rafallovich, Leon Schwartz e Natan Beker.
Poalei Zion
Em 15 de agosto de 1927 foi fundado o Comitê Central do Partido
Operário Socialista Judaico “Poalei Zion”, tendo os iniciadores no Rio sido os Snrs.
Natan Becker, Muni Berechman, Abram Braverman, Aron e Jeremias Heler, Artur
Wainer, Pinchas Stoliar, Isaac Skaler, José Eksman, Moisés Costa, Max Costa. Após a
chegada e integração no Brasil de Aron Bergman, o movimento, sob sua direção,
consolidou-se, tende se filiado à União Mundial Socialista Operária Judaica “Poalei
Zion”.
Bibliotecas:
Biblioteca “Sholem Aleichem”
É considerada a instituição cultural israelita mais antiga no Rio de Janeiro
a Biblioteca “Sholem Aleichem”, a qual como sociedade independente, foi fundada em
1915. Alguns anos antes, já existia, porém, uma biblioteca judaica junto à sociedade
“Achiezer”. Essa biblioteca transformou-se numa corporação social independente
somente com a fundação da Bilbioteca “Sholem Aleichem”. Uma atividade cultural
intensa iniciou-se em 1917, após a chegada ao Brasil de um grupo de jovens emigrados
dos Estados Unidos, constituído de elementos enérgico e ativos, na maior parte
originários da Bessarábia. Também contribuiu para o avivamento das atividades
culturais da Biblioteca, a relativa melhora da situação econômica dos judeus no Rio,
402
naquela época. Realizavam-se semanalmente na Biblioteca noites literárias, reuniões
para debates e empreendimentos musicais e teatrais. A opinião social em relação aos
problemas políticos, culturais, tanto nacionais como universais, dividia-se em dois
campos antagônicos. O corpo de associados da biblioteca, da mesma maneira que a
massa do povo, dividia-se com o decorrer do tempo em “nacionalistas” e
“progressistas” ou ‘internacionalistas”, tornando-se a instituição uma posição de
combate, o que se salientou nas freqüentes assembléias gerais, nas quais os dois
campos lutaram por conseguir a hegemonia da direção. Como resultado dessa luta
interna, o grupo nacionalista de corpo social se afastou da Biblioteca e se filiou a uma
outra sociedade já existente – o clube “Hathchia”.
Os iniciadores e fundadores da Biblioteca Sholem Aleichem foram os Snrs.
Jacob Schnaider, Pinheiro Guerstein, Samuel Jurkiewich, José Lerner, Tuli Lerner,
Saadio Lozinsky, Jaime Tichler, I. Lederman, Aron Schenker e outros.
A biblioteca Sholem Aleichem tornou-se, a partir de 1929, declaradamente
progressista, sem participação dos elementos sionistas. Foi organizado junto à
Biblioteca um círculo dramático, o qual desenvolveu uma intensa atividade, em época
posterior foi dirigida pelo famoso artista Zygmunt Turkow. Teve este a oportunidade
de formar e aperfeiçoar na arte teatral um grupo bem expressivo de amadores, muitos
do quais continuam ativos até hoje em dia. A Biblioteca Sholem Aleichem possui
atualmente sede própria, dispondo de cerca de 10.000 livros sobre assuntos judaicos,
em idish e em outras línguas.
Biblioteca Bialik
Junto à organização juvenil “Hathchia” existia, desde a época da cisão do
quadro social da Biblioteca Sholem Aleichem, uma outra biblioteca, sob a invocação
do nome de I. Ch. Brenner, e que perdurou até 1937. Nesse ano foi fundada a
Biblioteca Ch. N. Bialik, que se localizou no centro da cidade. Recebeu essa biblioteca
exemplares de todos os livros que eram editados, já tende alcançado um total de 5.000,
sob a dedicada e eficiente atuação do bibliotecário Samuel Greiber, conhecido
popularmente como “Schmilik”. Ocorreu, porém, em 1957, uma catástrofe: em pleno
dia ruiu o edifício de 10 pavimentos da rua do Rosário, 178, no qual estava sita a
Biblioteca e, sepultando sob os escombros todo o patrimônio e o dedicado
companheiro Schmilikl. Sucumbiu a Biblioteca e, com ela, foi-se o dedicado, e por
todos querido, Schmilik, que sua memória seja honrada. Os companheiros do “Poalei
Zion” não desanimaram e iniciaram logo uma campanha para reedificar uma nova
Biblioteca. O resultado concreto dessa campanha foi a aquisição da casa da rua
Fernando Osório, 16, no Flamengo, onde encontraram um lar, uma série de
instituições aparentadas, tais como as Pioneiras, a “Moatzáh”, etc. Possui atualmente
a Biblioteca cerca de 3.000 livros e sua sede tornou-se uma casa do saber judaico.
Convém mencionar os nomes dos que se destacaram na reconstrução da instituição e
continuam até hoje em dia na sua direção, como os Snrs. Leon Schmelzinger, Israel
Dines, Leizer Levinson, Henrique Diamante, Finkelstein, e outros.
Biblioteca Michal Klepfisz
É esta a mais jovens das três bibliotecas existentes no Rio, tendo sido
fundada pela organização local do “Bund”, cujos pioneiros no Rio de Janeiro foram
os Snrs. Samuel Jurkiewicz, Natan Hulak, Berl Fuks e, posteriormente os Snrs.
403
Abram Aizengart e Dr. Carlos Gitelman. O objetivo visado foi criar uma biblioteca
própria, para terem um local destinado a atividades culturais em língua ídiche. A
Biblioteca foi inaugurada em 1944, tendo sido denominada em homenagem ao heróico
combatente do “Bund” na Polônia, o mártir Eng. Michal Klepfisz, que se destacou
como um dos mais ativos dirigentes do Levante do Gueto de Varsóvia. Após a chegada
ao Rio do companheiro Sr. Maxim Sztern, a Biblioteca ampliou e aprofundou suas
atividades sócio-culturais, as quais encontram boa receptividade por parte da
coletividade. O patrimônio de livros foi progressivamente sendo aumentado. Após o
término da 2ª Guerra Mundial emigraram para o Rio diversos dirigentes do “Bund”
da Polônia, tais como os Snrs. Herman e Abram Rzezinski, que juntaram-se ao
quadro dirigente da biblioteca. Toda a sua atividade concentra-se, até hoje, em torno
dos problemas culturais judaicos e do interesse pela continuidade nacional. Todo o
visitante cultural dos Estados Unidos, da Argentina ou de outra parte, é
carinhosamente recebido no recinto da pequena Biblioteca, que até recentemente
esteve, localizada à Praça Floriano, 55, na Ceilândia, tendo porém, há alguns meses,
sido transferida para Av. N. S. de Copacabana, 690, 10o andar, para sede que pode
adquirir por esforço conjunto com uma organização cultural, o Centro Brasileiro de
Cultura Idish. Já se encontra a Biblioteca instalada na nova sede, onde prossegue com
as suas atividades culturais normais. Possui a Biblioteca atualmente cera de 2.000
livros, recebendo exemplares de todos os novos que são editados. Constitui projeto da
sua direção ampliar as suas atividades, participando em iniciativas a favor da
divulgação da língua ídiche, tais como a criação de um curso para jovens para o
ensino da língua.
União Beneficente Israelita (Relief)
A União Beneficente Israelita (Relief) foi fundada por um grupo de antigos
dirigentes da sociedade “Achiezer”, os Snrs. Mordechai Koifman, Meier
Raschkowsky, Mendel Koslowsky, Marcos Kraiser, Baruch Kusnir e Herman
Braxhfeld, em 6 de abril de 1920. Os seus objetivos iniciais foram assistir e promover
a instalação dos imigrantes recém-chegados ao Rio de Janeiro.
Os imigrantes eram sustentados durante as primeiras semanas de sua
estada pela União, a qual lhes promovia habitação, trabalho e crédito comercial.
Em 1924, a Sociedade Mundial de Colonização Judaica (IKA), enviou ao
Rio de Janeiro, como seu delegado permanente, o Rabino Dr. Isaias Rafalovitch, o
qual subvencionou à União e auxiliou-a nas suas atividades assistenciais. Participou
também o Dr. Rafallovich ativamente na criação e desenvolvimento da rede escolar
judaica no Brasil. Por iniciativa de um grupo de dirigentes da União Beneficente
chefiado pelo saudoso Samuel Guerchenzon, foi fundada em 1927 a primeira Caixa de
Auxílios Mútuos “Lai-Spar-Kasse”, a qual fornecia empréstimos a pessoas
necessitadas, sem juros. Essa Caixa continua existindo até o presente sob a mesma
denominação e objetivos.
Em 1928 chegou ao Rio o saudoso Dr. Krainin, representante da Central
“Hicem-Emig-Direct” de Paris e, em conjunto com o Dr. Rafallovich, delegado da
“ICA”, promoveu a ampliação das atividades da União Beneficente Israelita no
campo da imigração. Foi então criado junto à União um fundo especial de passagens,
destinado a auxiliar no transporte das famílias dos imigrantes. As passagens eram
vendidas a longo prazo, sem cobrança de juros.
404
Simultaneamente e também por iniciativa e com a ajuda do Dr.
Rafallovich, foi organizada junto à União Beneficente uma seção especialmente
destinada a prestar assistência, auxiliar e proteger a todas as mulheres recém-vindas
ou em trânsito pelo Rio, evitando que viessem a cair em poder dos “impuros” de
maneira direta ou indireta, Essa seção especial foi subvencionada e orientada pela
sociedade “Ezrat Nashim” de Londres e foi dirigida com dedicação e energia pela
Snra. Sara Rozen, hoje Tabak.
Em 1946, a direção da União Beneficente Israelita, adquiriu um prédio à
rua Lúcio de Mendonça, 56, onde foi instalada a Policlínica, que lá continua em
funcionamento. Assistência médica prestada gratuitamente a judeus sem recurso.
Trabalham na Policlínica conceituados médicos, judeus e não-judeus, de todas as
especialidades. A Policlínica é sustentada por um grande quadro de associados e por
meio de campanhas financeiras.
Sociedade das Damas Israelitas-Froien Ferein
Logo após o término da 1ª Guerra Mundial a comunidade israelita do Rio
de Janeiro começou a crescer muito, em face da imigração em massa de judeus,
procedentes de diversos países, e que aqui vinham em busca de um novo lar.
Simultaneamente com o crescimento da coletividade, começaram a surgir problemas
referentes a pessoas desprovidas de recursos ou doentes, às quais era necessário
prestar assistência. Houve nessa ocasião um movimento da parte de um grupo de
senhoras socialmente ativas e empreendedoras, as quais atiram-se ao trabalho
assistencial da então recém-fundada União Beneficente Israelita – Relief. Com o
decorrer do tempo, essas senhoras chegaram a conclusão de que se fazia necessária a
criação de uma instituição à parte, a ser dirigida exclusivamente por mulheres, e que
se dedicasse a assistência de mulheres e crianças necessitadas. Como primeiro passo
para esse objetivo, foi publicada uma proclamação do semanário israelita, pela Snra.
Sabina Schwartz, do que resultou a formação de um Grupo de Iniciativa, composto
das Snras. Sabina Schwartz, Sima Hoinef, Ofélia Castro, Sara Ciornai, Sila Schnaider
e Sara Fineberg. Na assembléia geral realizada em 23 de dezembro de 1923, com a
presença de 150 mulheres, foi proclamada a fundação oficial do “Froien Hilfs-Farein”
(União Feminina de Assistência), tendo a primeira diretoria sido formada pelas Snras.
Sabina Schwartz, Presidente; Ofélia Castro, Vice-Presidente; Tuba Fridman,
Secretária; Ienta Lerner, Tesoureira; Tcharne Holtzman; Tesoureira e como vogais
Mina Duval, Zina Diamante, Sara Finenberg, Sima Hoinef, Liza Tiomni, Sila
Schnaider e Sara Ciornai. No mesmo ato foi criado o primeiro fundo, no valor de Rs.
5.165$00 (cinco contos e cento e sessenta e cinco mil réis), soma vultosa para a época.
Simultaneamente, foi constituído por todas as presentes o quadro social, sendo a
contribuição mensal de cinco mil réis.
As atividades do “Froien Farien” desenvolveram-se de maneira dinâmica,
desdobradas em diversos setores, como: assistência a mulheres, especialmente as
recém-chegadas, protegendo-as contra os perigos à espreita; proteção a gestantes
necessitadas; assistência médica domiciliar a mulheres enfermas, ou internamento das
mesmas em hospitais; procura de colocações; criação do Lar da Criança e, com
coroamento das suas fecundas atividades, a edificação do Asilo dos Velhos, provido de
prédio próprio.
405
Imprensa
O conhecido escritor e historiador A. Lipiner menciona, num artigo de sua
autoria, sobre a “História dos Judeus no Brasil”, publicado na Enciclopédia Geral
Judaica, que em 9 de janeiro de l916 foi pela primeira vez editado no Rio de Janeiro
uma revista denominada “Haamud” – A Columna -, em língua portuguesa dirigida
pelo Dr. David Perez, sefaradi, apoiado por judeus asquenazitas. O objetivo da revista
era, conforme declaração da mesma constante, manter a moral tradicional da
comunidade judaica e distanciar-se dos elementos suspeitos. A revista foi editada
durante dois anos, tendo procurado promover a união entre os sefarditas e os
asquenazitas. De acordo com o balanço publicado pelo Comitê de Auxílio (“Relief”) às
vitimas da 1a Guerra Mundial, balanço esse assinado por Tuli Lerner, B. Snitcovsky e
S. Faingold, contribuíram para o mesmo as então já existentes sociedades: Sinagoga
Bet Iacov, Sinagoga do Centro Israelita, Sinagoga Agudat Achim, Sociedade de
Conterrâneos de Varsóvia, de Iedenitz, de Azaritz, de Sokoron, de Lipkon e de
Mohilev.
No mês de novembro de 1923 foi pela primeira vez editado no Rio de
Janeiro um seminário em língua idish, sob a denominação de “Idishe Vochenblat”
(Semanário Israelita), cuja redação era formada por um colegiado composto dos Snrs.
Jacob Nachbin, S. Karakuschansky, I. Katz, A. Kishinovsky e S. Schansky.
No número inaugural, os fundadores do semanário delineiam os objetivos e
propósitos que têm em mente, de criar e despertar nas massas populares judaicas o
interesse pelas atividades sociais; promover a organização e a união da sociedade
israelita no Brasil, cooperar para o desenvolvimento da coletividade como um fator
sadio dentro do quadro econômico e cultural do país. O Idishe Vochenblat espelhou
todas as atividades da sociedade, todas as realizações culturais, por meio de notícias,
relatórios e documentários fotográficos. Assim, por exemplo, assinala a visita do
escritor judeu Anochi, o qual obteve grande sucesso recitando as novelas da sua
autoria, especialmente “Reb Abe”. Consta também em número desse ano a fotografia
de um grupo de sionistas , em companhia do primeiro emissário do movimento, o Dr.
I. Wilensky.
São considerados como pioneiros e colaboradores permanentes do “Idishe
Vochenblat” os seguintes: editor e posteriormente redator responsável, Aron
Koifman; co-redator, José Katz; colaboradores: Bernardo Schulman, Menache Fuks,
Jacob Nachbin, Isaac Reicher, Naftali Iafe, Sabatai Teitelbroit, Isaac Teitelbroit,
Mordechai Koifman, Abram Braum, Simon Waisman, Salomão Bulman e Jacob
Scheinkman.
Num exemplar do semanário do ano de 1925 encontramos um relatório
sobre a visita do escritor e dramaturgo Peretz Hirschbein, o qual tinha proferido uma
serie de conferências sobre temas literários. É também relatada a homenagem
prestada, por um comitê conjunto formado por representantes de todas as instituições
por ocasião do seu 60o aniversário; a celebração foi presidida por Pinie Guerstein,
com a participação dos Snrs. Nathan Becker, S. Lozinsky, A Koifman e S.
Karakuschansky, representando diversas instituições, tendo logrado grande sucesso.
O semanário “Dos Idishe Vochenblat”, foi editado com regularidade até o
ano de 1927, quando passou a adotar o nome de “Brazilianer Idiche Presse”
(Imprensa Israelita Brasileira), denominação com a qual saiu até 1929, sob a redação
de Aron Koifman.
406
Em 1927 começou a ser editado no Rio um novo jornal, em língua ídiche,
“Di Idishe Folkstzaitung” (Gazeta Israelita), inicialmente como bi-semanário e, a
partir de 1935, diariamente sob a redação de S. Karakuschansky. Esse jornal
desempenhou um papel importante da vida social judaica, até o ano de 1941, quando
foram fechados por decreto governamental, todos os jornais em língua estrangeira.
Em 1930 começou a ser publicado no Rio de Janeiro um semanário em
ídiche, denominado “Di Idiche Presse” (a Imprensa Israelita), que depois passou a
jornal bi-semanal e, durante poucos meses, diário, voltando a semanário
posteriormente, até que foi fechado em resultado do decreto acima mencionado.
Somente “A Imprensa Israelita” ressurgiu após a revogação daquele ato
governamental, continuando a ser publicada semanalmente, até os dias de hoje, sem
interrupção. O fundador do citado jornal foi o jornalista A. Bergman, um dos mais
capazes e criadores jornalistas judaicos.
Em 1952 começa a ser publicado no Rio, duas vezes por semana de início e
logo após semanalmente, o jornal “Di Brazilianer Idishe Tzaitung” (O Jornal Israelita
Brasileiro), sob a redação do conhecido jornalista Jacob Parnes e por iniciativa
privada. Tem esse jornal uma linha independente, com simpatias para os sionistas
gerais, e se manifesta declaradamente com amor e respeito pela língua ídiche, no
decorrer de todo o tempo de sua existência. Mencionamos, ainda, que o Sr. Parnes
vem dirigindo, já há alguns anos, um programa radiofônico em ídiche, transmitido
três vezes por semana. Um outro programa de rádio em ídiche, é dirigido pelo atual
redator de “A Imprensa Israelita”, Sr. David Markus, também trisemanalmente.
Resume-se no seguinte o “status” atual da imprensa israelita do Rio:
a)“A Imprensa Israelita”, jornal semanário, do “Mapai”, redator David
Markus;
b)”Brazilianiche Idishe Tzaitung” (Jornal Israelita Brasileiro, orientação
sionista geral, semanário, redator e proprietário Jacob Parnes;
c)”O Jornal Isrealita”, semanário, tendência sionista geral, redator e
proprietário Jacob Kutner;
d)”Aonde Vamos”, revista semanal, com simpatias pelo revisionismo,
redator e proprietário Aron Neumann.
Além das publicações acima mencionadas, ainda são editados, , em
português, uma revista mensal “Hamenorá”, do Haschomer Hatzair e, irregularmente
“Al Hamischmar”, do Mapam, também em português.
De modo geral convém destacar o fato de que a imprensa local, seja em
ídiche, seja em português, ainda tem alguma influência sobre o desenvolvimento da
vida social judaica, sendo a opinião pública da comunidade pela mesma refletida e
reciprocamente influenciada.
Rede Escolar
Foi fundada junto à organização sionista Unificada, em 1948, um
departamento de educação, o “Machleket Hachinuch”, o qual concentra e controla a
quase totalidade dos estabelecimentos de ensino israelitas do Rio. Todas as escolas
existentes são integrais e de horário diurno, sendo ministradas as disciplinas gerais em
português e para as matérias em ídiche e hebraico é destinado o tempo médio diário
de duas horas. Existem atualmente no Rio de Janeiro os seguintes estabelecimentos de
ensino israelitas:
407
1)Ginásio Hebreu Brasileiro;
2)Escola Primária e Ginásio “Hertzlia”;
3)Escola Primária “Magen David”;
4)Escola Primária e Ginásio “Max Nordau”;
5)Escola Primária “A. Liessin”;
6)Ginásio Israelita Brasileiro “A. Liessin”;
7)Escola Primária e Ginásio “I. L. Peretz”;
9)Escola Primária “Mendele Mocher Sforim”;
9)Escola Primária e Ginásio “Scholem Aleichem”;
10)Escola Primária e Ginásio “Ch. N. Bialik”;
11)Escola Primária “Eliezer Steinbarg”;
12)Escola Primária e Ginásio”Talmud Torá”;
13)Escola Primária e Ginásio “Barilan”;
14)Escola Primária d Niterói.
De todos os estabelecimentos acima mencionados, 10 estão incorporados à
rede escolar subvencionada e orientada pelo “Machleket Lechinuch Veletarbut” junto
à Organização Sionista Unificada. Nessas escolas é dispensada toda a atenção ao
ensino do hebraico, sendo o ídiche muito pouco lecionado ou completamente relegado.
A escola Primária e o Ginásio “Scholem Aleichem” pertencem ao “Ikuf” e
o ídiche é lecionado como matéria efetiva. A Escola “Eliezer Steinbarg” é laica e
independente, adotando os princípios das escolas judaicas da Argentina, México e
Estados Unidos; trata-se de um estabelecimento de ensino considerado dos maiores e
melhores do Rio, tanto em relação ao número de alunos como no tocante ao seu nível
pedagógico e situação financeira. Pertence essa escola ao Instituto Israelita Brasileiro
de Cultura e Educação.
As escolas “Talmud Torá” e “Barilan” são declaradamente hebraicas e
religiosas, sendo amplamente suportadas pelos círculos religiosos ortodoxos. Como
dirigentes ativos e financiadores das escolas religiosas destacam-se os Snrs. Rabino
Zingerevitz, N. Strozenberg e o Engenheiro Schor.
A primeira escola israelita a ser fundada no Rio foi a Escola “Magen
David”, em 1922, tendo posteriormente se transformado no Colégio Hebreu
Brasileiro.
Calcula-se ser atualmente de 8.000 o número de alunos que frequentam as
escolas israelitas do Rio de Janeiro.
Em paralelo à rede escolar existe ainda uma Escola Profissional, da
Sociedade “ORT”, fundada há 15 anos. Os cursos profissionais na mesma
ministrados, junto com um curso fundamental (antigamente também se lecionava lá a
língua ídiche), estão adaptados às necessidades e à demanda da época em que vivemos.
Existem ainda, além dos estabelecimentos já mencionados anteriormente,
diversos cursos de língua hebraica, junto ao “Machon Letarbut”, dois cursos para
formação e aperfeiçoamento de professores, um em ídiche e outro em hebraico.
Os pioneiros da criação da rede escolar israelita no Rio são os Professores
Moisés e Tuba Fridman e Moisés Burla e; como dirigentes, os Snrs. Jacob
Schnaider,Wolf Klabin, Aron Goldberg, Alter Klein, Mendel Koslovsky, Aron Tracht,
Dr. David Perez.
Os primeiros professores da Escola “Magen David”, posteriormente
transformado no Colégio Hebreu Brasileiro, foi o Dr. Prof. Isaac Izeckson. Trabalham
408
atualmente na direção das entidades da rede escolar, entre outras, as Snras. Ester
Schechtman, no “Vaad Pioneiras-Hachinuch”, Eva Levinson, da “Organização das
Pioneiras” e Ahuva Kestelman, da “Wizo”, nos Círculos de Mães.
Leitura e Cultura
Vivem e trabalham no Rio de Janeiro diversos escritores judeus, os quais
são relativamente produtivos literariamente. O escritor Herch Schwartz, que publicou
dois livros, sobre a vida dos judeus na Bessarábia e no Brasil, duas coletâneas de
contos intituladas “Der Onheib” (O Começo) e “Heim Guingoldene” (Lar Dourado);
D. Rosa Palatnik, autora de três livros de contos sobre a vida nas pequenas cidades da
Polônia, e tentativas de narração da vida judaica no Brasil, intitulados “Kruschnik”,
“Bai dem Roisch fun Atlantik” (Junto ao Rumor do Atlântico) e “Draitzn
Dertzeilunguen” (Treze Histórias). Recebeu a escritora um prêmio, no México, por
um dos seus melhores contos. A crítica mundial judaica manifestou-se favoravelmente
sobre as obras dos dois escritores mencionados.
Também publicaram obras: o escritor S. Karakuschansky, um livro
intitulado “Aspecten” (Aspectos); I. Lande, um volume de contos e poesias; Clara
Steinberg, um livro de contos sobre a vida das camadas pobres brasileiras,
denominado “Oifn Brazilianer Bodn” (Sobre o Solo Brasileiro). Na imprensa são
esporadicamente publicados poesias e contos curtos dos poetas e escritores Pinie
Palatnik, Moisés Lokiecz e Bernardo Schulman.
O grupo de escritores e dirigentes culturais estão organizados, já há mais
de dez anos, num Círculo Literário, que se tem limitado a freqüentes encontros
familiares. A expressão criadora coletiva do Círculo foi a publicação, em 1956, de uma
coletânea denominada “Unzer Baitrag” (Nossa Contribuição), contendo uma série de
contos, ensaios e poesias dos seguintes escritores: Rosa Palatnik, Pinie Palatnik,
Bernardo Schulman, Meier Kutchinsky (de São Paulo), Herch Schwartz, Menache
Halperin (já falecido), Moisés Lokiecz, A. Chassin (já falecido), S. Karakuschansky,
E. Lipiner (de São Paulo), A Gros, Nelson Wainer, Eduardo Horowitz, L.
Schmelzinguer e Betzalel Jucht (já falecido).
Já existe há alguns anos no Rio de Janeiro uim Círculo de Amigos do IWO
(Idischer Wissenschaftlicher Institut” – Instituto Científico Judaico), que está em
contato permanente com a Central do IWO em Nova York, à qual presta serviço
assistência financeira ocasionalmente. O objetivo principal do Círculo de Amigos do
IWO é a coleta e arquivamento de todas as publicações que aparecem sobre a vida
judaica local, em todas as línguas. Os primeiros dirigentes ativos do Círculo, que
organizaram seus trabalhos durante longo período são os Snrs. Israel Sobel, Natan
Bronstein, Leon Schmelzinguer, Ester Schechtman, Isaac Sterental, Gedalie
Gruzman, Pola Barenholc-Aisengart, Bernardo Schulman, Berl Fuks, Herman e
Jorge Rzezinski e Abran Aisengart.
Foi editado pelo Círculo de Amigos do IWO o livro do pedagogo A.
Golomb “A Halber Iorhundert fun Idischer Dertziung” (Meio Século de Educação
Judaica).
Conclusão
Deve-se ainda adicionar ao patrimônio coletivo de caráter cultural,
educacional e social, uma série de instituições mais jovens, tais como: na Zona Norte,
o “Clube Monte Sinai”, já existente há alguns anos e contando com um quadro de
409
milhares de associados, é justamente considerado hoje em dia como o mais ativo
realizador clube israelita do Rio de Janeiro; na Zona Sul, no bairro das Laranjeiras,
existe o grande clube “Hebraica”, possuidor de ricas e bem montadas instalações e
realizador de diversas atividades culturais; junto ao Instituto Israelita Brasileiro de
Cultura e Educação, também nas Laranjeiras, existe um grande coro de mais de 100
vozes, o qual tornou-se muito popular através dos seus freqüentes concertos públicos.
Neste ano de 1963 encontra-se em plena atividade o recém-inaugurado
“Moischev Zkeinim” (Asilo de Velhos), em Jacarepaguá que é um esplêndido lar-
sanatório para judeus idosos, homens e mulheres, instalado em magnífico prédio
próprio, ou, melhor dito, em diversos prédios, providos das mais modernas
instalações.
Os amantes da língua ídiche inauguraram este ano, em Copacabana, um
clube próprio denominado “Centro Israelita Brasileiro de Cultura Idish”,
pretendendo com a sua atividade elevar o valor e conceito da língua ídiche na vida
pública israelita.
Existe ainda em Copacabana um clube israelita, de sefaraditas na sua
maioria, o C.I.B. Há, ainda uma Associação, com um Templo, de judeus oriundos da
Alemanha, sob a direção do Rabino Dr. Lemle, a A.R.I (Associação Religiosa
Israelita) sediada no bairro de Botafogo.
Deve ser mencionada a existência da Sociedade Cooperativa “Lai Spar-
Kasse”, com um grande quadro de associados, e que muito tem auxiliado a parcela
menos favorecida da coletividade, mediante empréstimos a longo prazo.
Funciona no Rio de Janeiro há diversos anos a Federação das Sociedades
Israelitas, que congrega representantes de todas as instituições culturais e sociais
existentes, em nome das quais a diretoria da Federação tem se manifestado, tanto
dentro da coletividade como perante a opinião pública geral, muitas vezes intervindo
em favor da população judaica da cidade.
A “Chevra Kadischa” (Sociedade Cemitério Israelita), sob a direção do
geralmente benquisto e por todos acatado Rabino Zingerevitz, caminha cada vez mais
para a sua transformação na “Kehila” de fato do Rio, através das subvenções
atribuídas às escolas, bibliotecas e instituições e campanhas culturais.
A quase totalidade das instituições mencionadas acham-se instaladas em
prédio próprio, e a maioria manifesta ambições para contínua expansão. O problema
da continuidade nacional é o fator comum de todas as instituições em atividade e não
sai da ordem-do-dia da coletividade israelita organizada do Rio de Janeiro.
410
42.1.2 Crônica Belo Horizonte
O primeiro judeu que surgiu em Minas Gerais, chegou a Belo Horizonte em
1896. Seu nome era Artur Haas. Natural da França, chegou ao Brasil quase
simultaneamente com seu irmão, engenheiro contratado pelo governo para eletrificar a
cidade. Pouco tempo após sua chegada, abriu Artur uma loja de artigos de eletricidade, e
nos anos posteriores uma agência de automóveis.
Quinze anos mais tarde, lá pelo ano de 1910, chegou o israelita sefaradi,
Rafael Arazi Cohen, que se dedicou ao comércio de vendas a pequenas prestações, tendo-
se posteriormente estabelecido com casa de móveis.
O terceiro israelita que apareceu em Belo Horizonte, procedia da Palestina.
Foi Akiva Lerman. Em seguida, vieram ainda Simão Drabitzki e Jacob Fererman judeus
russos, que deram impulso ao negócio de vendas a prestação (“clientela”). Até o estouro
da primeira guerra mundial, ainda apareceu David Rasschman.
A PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO
A primeira instituição israelita da capital mineira, sob o nome de União
Israelita de Belo Horizonte, foi fundada em 1922, quando a coletividade já contava
umas vinte e tantas famílias judaicas. Eram seus fundadores: Artur Haas, Strijak,
Rafael Arazi Cohen, Naftali Perlov, David Roschman e Haim Galinkin. Esta “União”,
que existe até hoje, teve por objetivo a criação de sinagoga, escola e biblioteca. Seu
primeiro presidente foi Artur Haas.
O DESENVOLVIMENTO
Em 1928, foi fundada, por iniciativa da União, a Escola Israelita, que
durante dois anos funcionava no local da sociedade. Em 1930, quando o delegado
sionista Dr. A. S. Iuriss, proclamou em Belo Horizonte, a campanha em prol do Keren
Haiessod, foi lançada a pedra fundamental do movimento sionista local e instituído o
“Circulo Sionista”. Os fundadores dessa agremiação foram: Isaac Cohen, Melech
Lerman, José Margalith, Abraão Ovritcher e outros.
Em 1933, foi instituída a Lai Un Spar-Kasse, ou Caixa de Economia e
Empréstimos. A assembléia constituinte da sociedade “Hevra Kadischa”, teve lugar
em 1939.
Por motivo das conhecidas circunstâncias políticas de 1937, a vida social
judaica de Belo Horizonte ficou paralisada.
A SEGUNDA FASE
Após a segunda guerra mundial, renovou-se a atividade judaica na capital
mineira. Em 1946, foi estabelecida a Organização Sionista Unificada e com o
surgimento do Estado de Israel, em 1948, a vida israelita de Minas Gerais, ganhou
novo impulso.
Lamentavelmente, ocorreu, logo depois, uma cisão no seio da coletividade,
por motivos de divergências ideológicas. Grande parte de homens públicos de
orientação nacional judaica desligaram-se da União Israelita, para fundar o “Círculo
411
Israelita Brasileiro” instituição de caráter culturo-social, junto a qual também se acha
uma sinagoga que reúne em torno de si os israelitas religiosos de Belo Horizonte.
ASSOCIAÇÃO ISRAELITA BRASILEIRA
Com o crescimento do “ishuv”, surgiu o problema de nova sede para os
associados do “Circulo”. Esse problema está sendo resolvido agora com o gigantesco
plano de construção, de um imponente edifício próprio, plano esse que brevemente
será realizado. Os idealizadores duma sede própria, fundaram uma entidade nova,
denominada “Associação Israelita Brasileira”, que assumirá as funções do “Círculo” e
ampliará seu programa de ação.
412
42.1.3.Crônica de Curitiba
É fato notório que nas veias de muitas famílias tradicionais brasileiras,
pelo país todo, corre sangue judaico, e o estado do Paraná não constitui exceção neste
particular; indícios de antigos judeus se encontram em considerável número.
Mas, esta crônica não se refere aqueles israelitas que só deixaram vestígios.
Aqui estão sendo anotados os primeiros judeus imigrados, cuja, chegada marca o
inicio da atual coletividade judaica do Paraná.
OS PIONEIROS
O primeiro judeu que apareceu em Curitiba foi José Flaks, que veio em
1889, em companhia da esposa, Roni, e dois meninos, Miguel e Frederico.
Não demorou muito chegaram Max Rosenman e um irmão seu, que logo
morreu de febre amarela (contraída em Santos, pois o clima de Curitiba não é
propício para o mal amarelo).
Vieram esses israelitas da Galícia austríaca, com a leva emigratória, que
então demandava o Paraná, onde o governo se pôs a colonizar as terras incultas, nas
adjacência da metrópole.
Instalaram-se na colônia agrícola Tomás Coelho (hoje Barigui), onde
abriram, em sociedade, um negócio de secos e molhados e compra de gêneros do país.
Elemento útil no intercâmbio entre a cidade e a roça e, além disso, pessoas íntegras e
corretas em suas transações comerciais, criaram bom nome, tanto na cidade como no
campo. Que eram judeus, todo mundo sabia. Flaks, homem piedoso e ortodoxo, era
conhecido pelo traje tradicional, pelo capote, longas barbas e cachos laterais;
Rosenmam, mais mundano e modernamente trajado, costumava ele próprio acentuar
a sua origem. O fato é que todos os chamavam de “judeus”, mas em tom amistoso e
com respeito.
Em 1901, quando os filhos cresceram e surgiu o problema de casamento,
liquidou Flaks os negócios, tomou a sua família (já então enriquecida com uma filha,
Bluma), e regressou à sua cidade natal.
(Seus filhos depois de casados, voltaram todos para Curitiba. São as atuais
famílias Flaks e Weniger).
Max Rosenman ficou. Naquela altura, já tinha casado com sua prometida,
Frida, que veio com os pais dele, já estava instalado na cidade com moinho a vapor e
começou a desempenhar relevante papel na vida pública.
Aos poucos surgiam outros israelitas. A princípio sozinhos, mais tarde
foram trazendo os parentes. Chegaram os Wagner, os Friedman, Flaks, Stolzenberg,
Goldstein, Paciornik, Schulman, Mandelman, Ainseman, Charatz e outros.
Para os recém-imigrados, a casa de Max Rosenman tornara-se ponto de
reunião. Casa acolhedora, hospitaleira, onde todos eram convidados à mesa, ali se
reuniam com freqüência, para entreter-se e trocar idéias sobre assuntos de interesse
coletivo. Na véspera da Páscoa, fabricavam-se em casa de Rosenman os “mazot”, ou
pães ázimos, e nos Dias Solenes, celebravam-se ali os ofícios religiosos.
413
A PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO
Por volta de 1913, já se encontravam, na capital paranaense, umas doze
famílias e umas duas dúzias de solteiros, ou senhores cujas esposas ainda
permaneciam no ultramar. Amadureceu o projeto duma organização.O começo, aliás,
neste sentido, já tinha sido feito: por iniciativa de Salomão Goldstein-Paciornik e
Salomão Kaufman, fôra fundada uma Sociedade Cultural. Mas, dessa tentativa só
ficou um carimbo e uma folha de regulamentos. O insucesso da empresa deve ser
atribuído ao fato de aqueles iniciadores não terem tomado em conta o elemento
ortodoxo do “ishuv”, e o radical, de refugiados russos, em que se baseavam, fôra em
sua maioria embora, tomando outros rumos.
Desta vez, porém, houve entendimento entre as partes religiosa e mundana
e no dia 27 de julho de 1913 por iniciativa de Júlio Stolzenberg, Bernardo Schulman,
Leão Charatz e Jacob Mandelman, convocou-se uma reunião, na residência deste, na
qual foi adotada a resolução de fundar uma organização de nome “União Israelita do
Paraná”, com a finalidade de cuidar das necessidades religiosas e culturais da
coletividade.
A 3 de agosto de 1913, realizou-se a assembléia constituinte, na qual foi
eleita a seguinte diretoria: Max Rosenman – presidente; Bernardo Schulman – vice-
presidente; Júlio Stolzenberg – 1o.
secretário; Miguel Flaks – 2o
secretário; Salomão
Goldstein-Paciornik –tesoureiro; Samuel Bakaleinik, Moisés Schechtman e Salomão
Charatz – conselho fiscal.
Com a fundação da União Israelita, inicia-se uma vida judaica organizada.
Estando-se nas vésperas dos Dias Solenes, tratou-se antes de mais nada, da instalação
de uma sinagoga. Alugaram uma casa, mandaram vir de São Paulo um Sefer-Torá, ou
Rôlo da Lei, e outros utensílios do ritual e, pela primeira vez, quiçá, no solo
paranaense, algumas dezenas de filhos de Israel, celebraram, à Rua Graciosa, a
cerimônia de Kol Nidrei, condigna e solenemente.
A novel entidade entra a crescer. Em cada sessão de diretoria estão sendo
admitidos novos membros.
Na assembléia de 5 de outubro do mesmo ano, foi nomeada uma comissão
constante, de Bernardo Schulman, Júlio Stolzenberg e Leão Charatz, a cujo cargo
ficou a criação e instalação duma biblioteca.
Com a organização da biblioteca, começou-se uma intensa atividade
culturo-social. A União Israelita mudou-se para duas amplas e confortáveis salas, à
rua Cruz Machado, em pleno centro da cidade. Nas horas vagas, reúnem-se os sócios
no recinto da biblioteca – tomam emprestados livros, lêem jornais, jogam xadrez e
discutem os seus problemas.
Por iniciativa de Moisés Shapiro, visitante de Buenos Aires e com a ativa
participação de Júlio Stolzenberg, Bernardo Schulman e Salomão Skop, foi
promovida a primeira tarde lítero-musical, com variado programa de canções (solo e
coro), declamações infantis, leitura de Scholem Aleichem e quadros vivos. A
impressão foi estupenda, já pelo empreendimento inédito em si, já pela realização bem
414
sucedida. A União Israelita vive então o seu período de brilho. Lamentavelmente, este
franco progresso não durou mais que dois anos.
Por motivo de grande guerra, foi interrompida a imigração, e em virtude
de uma crise econômica local, muitos associados foram buscar os meios de vida em
outras partes. Em 1915 a jovem entidade se acha a braços com uma crise financeira,
sendo obrigada a desistir de sua confortável e bem instalada sede social e mudar-se
para uma pequena sala, em casa de Nathan Paciornik, numa rua afastada. A vida
social está paralisada, a biblioteca é raramente freqüentada e as realizações culturais,
cada vez mais escassas.
Em 1916, instituiu-se, por iniciativa de Salomão Guelman, um Comitê de
Socorro, integrado por Max Rosenman, Bernardo Schulman, Frederico Flaks e
Salomão Guelman, em prol das vítimas da guerra. Esse serviço beneficente renovou a
vida social. Promoviam-se vários empreendimentos culturo-sociais e o resultado
material enviava-se por intermédio do “Forward”, ao “Relief” de Nova York.
Por sugestão de Luís Fainovits, criou-se em 1917, um comitê beneficente
feminino, junto à União, com a finalidade de tratar dos casos locais de assistência aos
necessitados. Esse comitê, que mais tarde foi convertido em Sociedade Beneficente
Feminina independente, constou inicialmente de Frida Rosenman, Lúcia Friedman e
Azalea Schulman.
No mesmo ano, ano da Declaração Balfour, Júlio Stolzenberg, Samuel
Fridman e Júlio Schaia fundaram uma organização sionista, denominada “Shelom
Sion”, que entrou em contato com a organização sionista central do Rio, e iniciou, pela
primeira vez em Curitiba, atividades sionistas.
FASE DE RENOVAÇÃO
O ano de 1920 representa um marco na evolução da coletividade judaica
paranaense. Terminara a primeira grande guerra. Da Europa começam a entrar
novos elementos. população judaica cresce em número em qualidade. Ao ecoar na
capital do Paraná o entusiástico regozijo do mundo nacional judaico, em virtude da
decisão de S. Remo, promove a comunidade imponente festival, em que toma parte
toda a população israelita.
Organizado por Júlio Stolzenberg, Bernardo Schulman, Salomão
Guelman,Max G. Paciornik, Salomão Scop e Júlio Schaia, essa solenidade para a qual
foram convidados o cônsul inglês, pessoas gradas do mundo oficial e representantes da
imprensa, realizou-se com brilhantismo fora do comum e o resultado moral e material
ultrapassou as expectativas. Os jornais dedicaram muito espaço ao acontecimento, o
que contribuiu para reerguer o prestígio da comunidade judaica aos olhos da
população cristã.
O sucesso do festival concorreu para que fosse elaborado um plano de
reorganização da vida social sobre alicerces mais sólidos.
Na assembléia geral de 1 de agosto de 1920, realizou-se a fusão das três
instituições então existentes, notadamente: União Israelita do Paraná, Shelom-Sion e
Sociedade-Beneficente Feminina, em uma única entidade geral, denominada
415
CENTRO ISRAELITA DO PARANÁ
O centro funciona feito uma espécie de “Kehila”, ou congregação, com
vários departamentos, que abrangem todas as atividades nacionais, religiosas,
culturo-sociais e beneficentes da coletividade. Abrange igualmente os trabalhos
sionistas, para os quais se designa um secretariado especial; sem embargo, permanece
o Centro imparcial em sua substância. Com o aparecimento dessa instituição inicia-se
uma fase nova, fase de intensa atividade em todos os setores.
FASE DE EDIFICAÇÃO
O período de 1920 a 1937, representa a fase propriamente dita de
edificação. Nesse espaço de tempo, a população judaica cresceu consideravelmente,
radicou-se no País e foram construídos todos os edifícios de propriedade coletiva ora
existentes: o Centro, a Escola e as construções do Cemitério Israelita. Nota-se uma
febril atividade em todos os campos da vida israelita. Começam a entrar em contato
com a comunidade delegados sionistas e visitantes culturais. Surgem também, de
tempo a tempo, homens do teatro, organizam-se espetáculos, forma-se um círculo
dramático, promovem-se empreendimentos culturais, tardes de arte e outras reuniões.
Cumpre notar aqui um sucesso teatral, alcançado em 1923, com elementos
locais da juventude: sob a direção de José Schraiber e a regência musical do maestro
Leo Kessler – e com a participação ativa de Júlio Schaia – foi levada à cena a
conhecida opereta histórica “Bar-Kochba”, de Goldfaden, com tamanho êxito que
logrou uma representação para a população não-judaica.
Prosseguem, outrossim, ativamente os serviços de assistência aos casos
locais de necessidade, bem como o auxílio construtivo para a instalação dos recém-
imigrados: a um artífice – concedem-se ferramentas: aos operários – arranja-se
empregos a pessoa sem ofício – adquire-se um cavalo e carrocinha para compra de
cereais nas colônias agrícolas da redondeza, e outros misteres.
Nesse período, os emissários conferem à Curitiba o título de “Jerusalém do
Brasil”. Duas cidades brasileiras foram honradas com essa designação: Natal – no
Norte e Curitiba – no Sul. Natal - em virtude de terem sido todos os habitantes
israelitas daquele tempo sionistas e hebraístas; Curitiba - por motivo de sua generosa
hospitalidade e por sua entusiástica solicitude em atender a todos os apelos de caráter
judaico ou simplesmente humanitário.
A comunidade judaica da capital paranaense também primava pelo zelo
que dedicava à dignidade coletiva: em casos de aguçadas divergências sociais, os
dirigentes de responsabilidade montavam guarda para impedir que degenerem em
conflito. Quando surgiam manifestações anti-semitas na imprensa, reagia a
coletividade prontamente, ora enfrentando luta aberta, ora intervindo junto às
autoridades e sempre duma maneira digna e com sucesso.
Os israelitas locais lograram igualmente granjear amizades sinceras nos
meios oficiais e nos círculos intelectuais, como por exemplo: Dr. Affonso Camargo –
presidente do Estado; Prof. Dario Velozo – conhecido intelectual; Domingos Velozo –
redator do Comércio do Paraná; Dr. Pamphilo de Assumpção – presidente da Ordem
dos Advogados; Dr. Manoel Ribas – Interventor Federal e muitos outros.
416
[Pormenores e datas de importantes acontecimentos desse fecundo período,
encontram-se, adiante, nos relatórios cronológicos das instituições e dados biográficos
das figuras sociais.]
PROGRESSO E DECADÊNCIA
O espaço de tempo de 1938 a 1945, marca uma alteração radical local.
Dum lado, nota-se considerável prosperidade econômica. Estabelecem-se importantes
empresas comerciais, instalam-se novas indústrias; cresce uma nova geração
brasileira, que começa a ocupar posições nas profissões liberais. Alguns se distinguem
particularmente, como o falecido professor universitário, Dr. Manoel Beiguelman, que
conquistou a sua cadeira de odontologia em brilhante concurso; o atual catedrático de
engenharia, professor Samuel Chamecki, que criou nome através de variados
trabalhos publicados, no terreno de sua especialidade, entre os quais se destaca uma
obra de valor, que obteve crítica favorável em vários países americanos e europeus.
Por outro lado, no setor das atividades judaicas nacionais e culturo-sociais,
a decadência é patente.
Os motivos são tanto interno como externos; em virtude das leis de
nacionalização do novo regime do país, o Centro é obrigado a modificar os estatutos,
dos quais fica eliminada toda e qualquer alusão a atividades sionistas ou culturo-
nacionais; o nome oficial do Centro Israelita é substituído pela denominação de
Centro Mosaico, a fim de salientar o caráter exclusivamente religioso da instituição.
Os motivos internos consistem em que os veteranos da coletividade
envelhecem, novos elementos de fora não chegam e as poucas energias locais que
ainda existem, tornam-se cada vez mais exíguas, graças a aguçada diferenciação
ideológica.
A SITUAÇÃO ATUAL
Nos últimos oito anos, desde 1945 até 1953, ano em que esta crônica está
sendo redigida, processa-se alta modificação para melhor. O país retorna ao regime
constitucional e as liberdades dos grupos étnicos estão sendo ampliadas. Essa
alteração política reflete-se naturalmente nas atividades sionistas e nacionais. Surgem
então os magnos acontecimentos da história do nosso povo: a decisão da ONU e o
estabelecimento do Estado de Israel.
Os elementos nacionais da coletividade entregam-se de corpo e alma às
cruzadas em prol da reconstrução. O movimento “Dror” local reveste-se de formas
concretas e o espírito de “halutzismo” domina uma camada considerável da
juventude. Em cada “Garin”, que parte dos campos de treinamento agrícola para
Israel, acham-se jovens curitibanos de ambos os sexos.
Completamente diferente, porém, é o caso dos serviços locais no campo
cultural e social; nesse terreno, a estagnação é marcante. A geração velha está
partindo. A nova, ainda que muito ativa e de boa vontade, não dispõe de bagagem
judaica. Os leitores de livros em ídiche e hebraico escasseiam cada vez mais. A língua
portuguesa começa a predominar nas próprias reuniões do Centro.
417
A escola chegou, com efeito, a realizar muita coisa, dentro das condições
reinantes. A maior parte da juventude entende perfeitamente o ídiche e uma parte
considerável fala o idioma fluentemente, e de vez em quando até se apresenta em
público nesta língua. Mas tudo isto está bem longe de suficiente para preservar a
continuidade.
O certo é que a população judaica em Curitiba, que conta atualmente
umas 300 famílias, ou seja, umas 1200 almas, acha-se diante dos mesmos graves
problemas, com os quais se debate a coletividade judaica de todo o Brasil.
Curitiba, Março,1953
418
42.1.4 Crônica de Porto Alegre
A coletividade judaica portoalegrense, que no mapa israelita do Brasil ocupa o
terceiro lugar, é considerada, pela data de seu estabelecimento e caráter de suas instituições,
a primeira comunidade de israelitas da Europa oriental no país.
Formou-se, inicialmente, de suas correntes diversas. A primeira manava de
Filipson e Quatro Irmãos, núcleos agrícolas, fundados pela sociedade ICA do Barão Hirsh,
em 1903, no Estado do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre; como todos sabem,
a colonização judaica no Brasil não foi muito bem sucedida, quer pelas falhas duma
administração inadequada, como pela razão de o elemento imigratório não ter sido
apropriado às árduas condições da lavoura nos sertões brutos daquelas bandas. Os colonos
que abandonavam os campos, demandavam a cidade, onde conseguiam ganhar a vida com
mais facilidade. A segunda, procedia dos países vizinhos Argentina e Uruguai; emigrantes
judeus, que se dirigiam à América do Norte, ou aqueles que simplesmente procuravam
tentar a sua sorte em outro país, ficavam estacionados em Porto Alegre, e assim, aos pouco,
foi-se formando o "ishuv".
Cumpre salientar aqui o fato de, tal como Curitiba e outras comunidades
judaicas do Sul, Porto Alegre também estava inteiramente isenta da "praga de marginais"
(tmêim), contra os quais as coletividades do Rio e de S. Paulo viam-se forçados, nos
primeiros anos, a travar renhida luta.
OS PIONEIROS
O primeiro israelita, conhecido em Porto Alegre como pioneiro da comunidade,
era Salomão Levi, judeu sefaradí, que confraternizou com os ashquenazim, construindo,
juntamente com eles, a vida judaica daquela cidade sulina do Brasil. Salomão Levi chegou
à Porto Alegre em 1894.
Quando os primeiros israelitas da europa oriental aportaram na capital
riograndense, já ali encontravam aquele sefaradi como pessoa bem arranjada e de prestígio,
que lhes deu prova de amizade e amparo.
Como de costume, os primeiros emigrantes começaram com o comércio
ambulante, e Salomão Levi então lhes concedia crédito, recomendava-lhes clientes entre
seus conhecidos brasileiros, e em casos complicados, intervinha a favor deles juntos às
autoridades estaduais ou municipais.
Depois de Levi, chegou Leão Back que se tornou seu genro.
Pouco tempo mais tarde, vieram Salomão Kaufman, os irmãos Bernardo e Isaac
Levgoi, Shabsi Maltz, Lipe Waldman, a família Lubianca, os Pessis e outros.
A PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO
Deu-se em 1909. A cidade de Porto Alegre já possuía então cerca de duas
dezenas de famílias israelitas e outro tanto de solteiros.
A 14 de setembro daquele ano, aparentemente às vésperas do ano novo judaico,
teve Leão Back a idéia de organizar um «minian», a fim de se poder oficiar as rezas dos
Dias Solenes coletivamente. Foi desse «Minian» que se originou a primeira organização
419
judaica de Porto Alegre, denominada União Israelita, sob a presidência de Salomão Levi.
Em outubro de 1910, a sociedade foi reorganizada, sob a denominação "União
Israelita Portoalegrense", tendo por objetivo a fundação duma sinagoga e um cemitério
israelita.
No mesmo ano, foi adquirido um terreno adequado e assim instituído o
primeiro cemitério israelita do Brasil. Decorrido algum tempo, formou-se junto à União um
grêmio «Ezra», com a finalidade de amparar moral e materialmente os novos imigrantes,
que continuavam a chegar tanto das mencionadas procedências, como da Europa. Fundou-
se igualmente uma agremiação «Achva», que tomou a si o encargo de fornecer carne
«kosher» aos israelitas piedosos.
A primeira diretoria da União Israelita Portoalegrense foi assim constituída:
Salomão Levi – presidente; Bernardo Levgoi – vice-presidente; Leão Back – secretário;
Júlio Lubianco – tesoureiro.
Inicialmente, a União funcionava em local alugado. Passado algum tempo,
mudou-se para sede própria, À rua Barros Cassal, onde se acha instalada até a data
presente.
O PRIMEIRO PERIÓDICO JUDAICO
Em primeiro de dezembro de 1915, apareceu em Porto Alegre o primeiro
periódico judaico do Brasil, denominado “A Humanidade”. Foi um semanário, que se
publicava em 4 páginas, pequeno formato de jornal, escrito num ídiche puro e, para aquele
tempo, moderno, sob a redação de Iosef Halevi, colaborador do jornal «Hazefira» de
Varsóvia, que então se achava na capital riograndense (procedente provavelmente da
Argentina).701
A publicação foi editada pela “Sociedade Jornalística Israelita”, constituída por
obrigações no valor de 25 mil réis cada uma. Os nomes dos acionistas, que figuraram no
primeiro volume desta, são os seguintes: Salomão Kaufman, Bernardo Levgoi, Efraim
Lifschitz, Lipe Waldman, V. Meltzer, Abraão Soibelman, Iechiel Kvitko, Ch. Fischman, S.
Raicher, Germano Zeltzer, I. Goldmanberg, Baruch Goldenberg, José Lerner, Samuel
Kleinman, Mosés Pessis, Bernardo Topolar, Moisés Topolar, Moisés Kapeliuschnik e
Zalmen Weksler.
Vale citar alguns títulos do primeiro número que refletem o caráter do
semanário, bem como alguns aspectos da vida judaica local, daquela época:
«A Guerra Européia» - comentário sobre o curso geral da primeira guerra
mundial, que então estava no auge; «Últimas Notícias» - informes a respeito de
acontecimentos mundiais; «Os judeus na Rússia» - descrição das condições dos judeus
daquele país, os quais, sofrem, além das conseqüências da guerra, discriminações raciais de
toda sorte; «A Guerra e os Judeus» - notícias judaicas relacionadas com a guerra;
“Educação Israelita e Auto-educação” – conferência de Iosef Halevi, lida no salão da
“Ezra”; “Em vez dum programa” – comentário humorístico, em que “judeu sem barba”
explica as razões por que “A Humanidade” não seguirá a orientação Sionista, nem
socialista e será, sim, uma publicação imparcial. “Teatro” – crítica teatral sobre a peça
701
Sobre ele vide artigo em outro lugar desta coletânea.
420
“Hershele-Meiuches”, levado à cena pelo grupo local de amadores, no salão da “Ezra” e na
qual tomaram parte José Schreiber (o conhecido ator, que, nos primeiros anos, andava
organizando grupos teatrais, nas principais comunidades judaicas do Rio, São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre), senhora Schreiber, David Zveibel, Rissel Saubelman, Samuel
Kleinman, José Lerner, S. Raicher e A. Varschever.
Das notícias locais, tomamos ainda conhecimento do seguinte: A agremiação
«Achva» havia fundado e estava mantendo um colégio religioso, (Talmud Tora). Tudo
corria normalmente até a vinda de novos elementos, procedentes das colônias agrícolas da
ICA. Os mais piedosos dos recém-vindos, não se conformando com os métodos de ensino
daquele estabelecimento educacional, fundaram outro colégio. Os dirigentes da «Achva»
aborreceram-se com o fato de três de seus associados haverem tomado parte na fundação do
novo colégio, que lhes fazia concorrência, e excluíram os revoltosos da agremiação,
anunciando o fato num jornal. Os atingidos pela medida, vendo nisso uma afronta à sua
dignidade, intentaram contra a «Achva» uma ação judicial. A «Humanidade», de sua parte,
verbera as partes em litígio, por terem deixado um desentendimento íntimo a tomar tais
proporções de publicidade.
Não chegou o periódico a alcançar mais que seis números. Cinco anos mais
tarde, notadamente a 15 de janeiro de 1920, a publicação reapareceu, sob o nome de
«Iudische Zukunft», como mensário provisório à espera de melhores dias. Suas esperanças,
porém, não se realizaram. A «Iudische Zukunft» também não atingiu mais que 6 números.
Convém notar que o primeiro número da publicação ressuscitada traz
correspondências do Rio – Nathan Becker; São Paulo- A Higuer; Quatro Irmãos – Marcos
Frankenthal; Cruz Alta – K. Brudno.
«CENTRO ISRAELITA»
A 24 de julho de 1917, foram lançadas as bases do «Centro Israelita
Portoalegrense».
Essa nova associação, que tinha os mesmos objetivos da «União», a saber: zelar
pelas necessidades religiosas da comunidade, surgiu como conseqüência das desavenças
mencionadas dentro da comunidade. Pelejavam entre si duas forças sociais, inteiramente
distintas, tanto na sua posição econômica, quanto em sua educação e concepção de vida. Os
porta-vozes do primeiro grupo constavam dos antigos moradores, gente abastada e
brasileirizada, que encaravam as coisas da religião, sob o ponto de vista formal, ou, na
melhor das hipóteses, tradicional, não zelando pela observância do ritual a risco. Os
dirigentes do segundo grupo, os fundadores do Centro, constavam de gente piedosa, recém-
vinda das colônias agrícolas, para quem a religião significava observar rigorosamente os
preceitos do «Schulchon Aruch».
Estes começaram a criticar a ordem das coisas, procurando obter voz ativa. Os
primeiros protestaram: "quem sois?". Como acontece em tais casos intrometeram-se nas
discussões ideológicas ambições e caprichos pessoais, levando as controvérsias até uma
definitiva cisão, que chegou a ponto de o «Centro» fundar um cemitério separado.
Os membros que fundaram a nova instituição eram:
Naum Guinsberg, Naum-Leizer Gulke, Pinie Kelbert, José Kotik, Nathan
Kotik, Israel Starosta, Leib Bonder, Samuel Spiguel, sob a chefia espiritual de Ezequiel
421
Becker, exímio talmudista e conhecedor dos tratados da religião.
Com o andar do tempo, o Centro entrou a ampliar suas funções, passando a
desenvolver atividade cultural, e assim foi criada a primeira biblioteca judaica de Porto
Alegre, denominada «Biblioteca Mendele Mocher Sforim». Os iniciadores das atividades
culturais eram David Gulke, Júlio Becker, Jacob Becker e Samuel Spiguel.
Simultaneamente destacaram-se das fileiras do centro, elementos juvenis que
formaram um conjunto de amadores de teatro, os quais se uniram ao grupo já mencionado,
organizando espetáculos, em benefício, tanto para as realizações da União, como para as do
Centro. Aos nomes de amadores de teatro já mencionados, deve-se acrescentar: Geni
Bonder, Salomão Hutz, Tobias Krasne e Samuel Spiguel. O «Centro Israelita» existe até
hoje, tendo a seu crédito longa folha de realizações em todos os campos de atividades
sociais locais.
EVOLUÇÃO CONTÍNUA
A coletividade começou a espraiar-se. Assim já se encontram em Porto alegre,
no começo de 1920, conforme depoimento do "Iudische Zukunft", umas trezentas famílias
judias. Releva notar que, apesar de a guerra ter terminado, as portas da emigração oriental
européia ainda permanecem cerradas. O aumento da coletividade provinha das colônias
agrícolas e da Argentina. A mesma testemunha nos dá conta de que já existem, na
metrópole sulriograndense, duas sinagogas, dois cemitérios, duas casas de crédito, para
auxiliar o comércio israelita, e outro «pequeno banco»,recém fundado, em benefício de
«algibeiras pobres» (foi desses estabelecimentos crediários que se originou o Banco
Cooperativo, que tão relevante papel vem desempenhando no atual comércio judaico).
Falta, porém, observa o jornal, uma escola, para atender as necessidades educacionais
imediatas.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Já foi lembrado que em Porto Alegre foram fundados colégios religiosos.
Existiam igualmente pequenas casas de ensino religioso (hedorim), onde se ensinava à
moda antiga. Porém, estabelecimento de ensino judaico secular não existiu até o ano de
1920.
Foi naquele ano, aproximadamente, que surgiu, na capital do Rio Grande do
Sul, a primeira escola israelita de ensino laico. Era uma escola «integral», de curso
primário, onde se ensinava, a par das disciplinas gerais, o hebraico, o idish, história do povo
judeu etc., sob a direção do professor platino Frumkin.
O primeiro comitê escolar foi composto do seguintes moradores:Leão Back,
Benjamin Liberot, Leo Bonder, Tobias Krasni, Pinie Bonder, Salomão Huts, Moisés Pecis,
Jacob Pecis e Samuel Spiguel.
Decorrido algum tempo, quando partiu o primeiro professor e seu lugar ocupou
Jacob Fainguelerent, naquela época hebraista, inflexível, instituiu ele o método
«tarbussista»,702
excluindo do ensino a língua ídiche. (Posteriormente, ficou conhecido no
país, como um dos mais prestigiosos pedagogos, e dirigiu escolas mistas de ambas as
702
Trata-se da rede educacioal denominada “Tarbut”, de tendência sionista e adepta da cultura
predominantemente hebraica que se formou na Europa Oriental entre as duas guerras mundiais.
422
línguas, em Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Os adeptos do ídiche viram-se forçados a baixar a cabeça, pois não havia outro
professor. Este estado de coisas durou até 1926, quando Fainguelerent deixou Porto Alegre
e seu posto ocupou o professor Isaac Raizman de B. Aires, que introduziu novamente o
ensino da língua ídiche. Desta feita, chegou a vez de o elemento hebraístico submeter-se.
Porém, só por determinado lapso de tempo. O problema lingüístico tornou a vir à tona,
provocando uma luta entre as partes, ou melhor entre os Sionistas gerais e Poalei Sion, luta
essa que ia se tornando cada vez mais acesa. Finalmente venceram os hebraistas. O
professor Raizman foi afastado e os novos professores Glombazki e sua senhora,
instituíram novamente o sistema “tarbussista.”
Foi então que os Poalei Sion e seus simpatizantes, chefiados por Reisman,
fundaram nova escola israelita, sob o nome de «Borochov».
Por espaço de alguns anos, funcionavam na metrópole sulriograndense duas
escolas israelitas: uma de ensino hebraico e outra de ensino ídiche. Durou isso até que a
Escola Borochov passou a ser dirigida pelo professor Isaac Mischkis, quem logrou unir
ambas as escolas num estabelecimento de ensino, denominado «Escola Idish-hebraica de
Porto Alegre», do qual o atual imponente ginásio, que honra a coletividade, é uma
continuação.
«LIGA CULTURAL JUDAICA»
Acontecimento de relevante importância na vida israelita de Porto Alegre foi a
criação , da «Liga Cultural Judaica». Esta entidade teve o mérito de congregar todos os
elementos amantes da cultura judaica, independentemente de suas crenças políticas e
ideológicas, sob um teto comum, objetivando única e exclusivamente difundir as coisas da
cultura israelita.
Foi fundada em 1932, por iniciativa de Samuel Speiski, com a participação de
Isidoro Frantsuski, Max Lacher, Moisés Milgrom, David Scherman, Moisés Gutman,
Henrique Scliar, Isaac Scliar, Manoel Scliar, Jacob Guevertz e Marcos Jacobovitch.
A estes aderiram os já mencionados fundadores da «Biblioteca Mendele
Mocher Sforim», que incluíram seu patrimônio cultural na Liga.
Por espaço de muitos anos, a Liga Cultural Judaica de Porto Alegre exercia
intensa atividade, realizava conferências sobre variados temas literários, promovia tardes de
arte, espetáculos teatrais. Convidava, outrossim, conferencistas e artistas de várias
procedências, fazendo tudo para elevar o nível cultural do «Ishuv».
MOVIMENTO SIONISTA
A exemplo da maioria das comunidades israelitas do país, as atividades
sionistas de Porto Alegre também eram de início, esporádicas. Pessoas filiadas, na sua terra
natal, ao movimento sionista, lembravam-se de realizar, de quando em vez, pequenas
coletas monetárias, em benefício do Fundo Nacional, ou promoviam, em ocasiões
propícias, alguma festividade de caráter sionista.
Entre os primeiros sionistas figuravam: Naum Guinzberg, Tobias Krasni (então
Krasnakutski), Moisés Peçis, Jacob Peçis, Moisés Topolar, Leo Bonder e Leão Kutin.
Diferenciação partidária dentro do movimento não existia ainda naquela época.
423
Em 1915, por iniciativa de Samuel Spiguel, foi fundado o primeiro grupo de
Poalei Sion (da direita), que entrou em contato com o Comitê Central dessa agremiação em
Buenos Aires, sob cujas diretrizes começou a exercer certa atividade partidária. Pertenciam
ao grupo, além do iniciador, Jacob Becker, David Gulko, Scholem Schwarts, Naum
Koltunovski e Benjamim Liberrot.
Quem impulsionou grandemente o movimento sionista da capital gaúcha bem
como o sionismo brasileiro em geral, foi o primeiro delegado do Keren Kaiemet, dr. I.
Vilenski, que visitou o país em 1923. Naquela época aproximadamente, foi fundado, por
iniciativa do professor Jacob Fainguelerent, o primeiro comitê local dos Sionistas Gerais.
Pelos começos de 1927, fundou-se em Porto Alegre oficialmente o partido
Poalei Sion do Brasil. Em maio do mesmo ano, a nova organização começou a publicar,
sob a direção de Isaac Raizman e administração de Samuel Spiguel, uma revista mensal
«Dos Naie Vort», com o subtítulo de «Revista mensal para literatura e problemas sociais»
(saíram 6 números).
As atividades poalei-sionistas passaram, posteriormente, para o Rio de Janeiro,
sob a direção do conhecido líder, Aron Bergman, redator e fundador da «Imprensa
Israelita»
Com o aumento da coletividade pela imigração européia, e graças ao trabalho
de elucidação dos delegados do Keren Haiessod, particularmente do dr. A. I. Iuris, que se
tornou muito popular no Brasil, e que visitava a capital gaúcha com freqüência,
desabrochou o movimento sionista portoalegrense. Foram-se agrupando todas as facções
ideológicas dentro o movimento: revisionistas, mizrachistas, etc.
Eis que, inopinadamente, sofre o movimento solução de continuidade. Em
1937, com o advento do novo regime no país, ficam proibidas as atividades dos grupos
étnicos, que tenham qualquer indício de caráter político, ou nacional. Todos os trabalhos
sionistas ficam portanto paralisados. A única coisa que se fez, naquela época, em benefício
da Palestina, foi em 1944, quando se fundou, por iniciativa do Congresso Mundial Judaico,
o Centro Hebreu Brasileiro, a quem se concedeu a permissão de, juntamente com as
campanhas em prol das vítimas de guerra, também angariar meios para os flagelados de
Erez Israel.
Em 1945, ano da decisiva vitória das forças da democracia sobre as hordas
totalitárias, também no Brasil se restabelece o regime democrático, sendo novamente
permitido o movimento sionista.
Os ativistas nacionais de «ishuv», bem como os sionistas de todo o país
lançam-se então, com forças renovadas, aos trabalhos interrompidos durante oito anos.
Surge então a idéia de unificar todos os grupos sionistas numa organização geral, a fim de,
com energias reunidas, dedicar-se à restauração da terra de Israel.
Assim foi, a 24 de novembro de 1945, por iniciativa de Aron Bergman, para
esse fim especialmente enviado do Rio, criada a «Organização Sionista Unificada de Porto
Alegre».
A primeira diretoria da entidade recém-fundada foi constituída dos seguintes
ativistas: Maurício Pessis – presidente; José Neumann – vice-presidente; Claus Oliven –
secretário geral; Samuel Goldfeld – 2º secretário; Samuel Spiguel – tesoureiro; Abraão
424
Milman – 2º tesoureiro; Dr Isaac Siminovitch – diretor de publicidade; Claus Oliven,
Samuel Goldfeld e Maurício Kersz – departamento cultural; dr. Miguel Weisfeld, Alberto
Menda, Maurício Milgrom, Matias Ben-David, David Scherman e Adolfo Filstiner –
conselheiros.
(Sobre as demais atividades sionistas, bem como das outras organizações, ver
adiante, nas descrições cronológicas das instituições).
A COLETIVIDADE HOJE EM DIA
A coletividade israelita de Porto Alegre, que ocupa, como já dissemos, o
terceiro lugar no mapa das comunidades judaicas do Brasil, conta hoje, aproximadamente,
duas mil famílias, ou seja cerca de 10 mil almas, divididas em três setores.
A larga maioria consta de israelitas da Europa oriental, em primeiro lugar os de
origem bessarabiana, seguindo-se os da Polônia e da Lituânia. Este setor, incluindo seus
descendentes brasileiros, abrange cerca de oitenta por cento do «ishuv». Seguem depois os
setores sefaradi e central-europeu.
Nas atividades pró-Israel, a exemplo do que acontece em todo o país, são todos
os três setores unidos. Onde se distinguem são nas instituições religiosas e educacionais.
Os sefaradim são concentrados no «Centro Hebraico», sob a chefia de Clemente
Elnecave. O elemento da Europa central, ou seja os israelitas alemães agrupam-se em torno
da «Sociedade Zibra», cujo presidente atual é o senhor Levinson.
A estrutura econômica é variada e satisfatória. Israelitas tomam parte apreciável
no desenvolvimento do comércio e da indústria. Em certos ramos, como, por exemplo,
roupas feitas, madeiras, malhas e outras, são considerados como os fundadores e
construtores.
Da nova geração, educada no Brasil, destaca-se valoroso elemento intelectual,
que toma parte ativa nos campos da educação, profissões liberais, na técnica e na ciência.
A vida religiosa, nacional e culturo-social dos judeus da Europa oriental gira
em torno das seguintes instituições:
União israelita – a mais antiga associação judaica, cuja sede vem sendo
atualmente reconstruída, para um templo – presidente I. Russovski; Centro Israelita
Portoalegrense – funciona num importante edifício próprio, possuindo sinagoga, sala de
diversões, auditório, e biblioteca (na sede do Centro também se acha instalado o Banco
Cooperativo) – dirigido durante muitos anos, pelo dedicado ativista Azriel Stárosta;
Associação Israelita Brasileira «Maurício Cardoso» (Ex- Associação dos Israelitas de
Origem Polonesa) – sede própria, sinagoga, biblioteca, caixa de empréstimos sem juros –
presidente Luis Schifman; Linat Hazedek – sinagoga, colégio religioso – presidente Luis
Lederman: Ginásio Hebreu Brasileiro – imponente edifício recentemente construído, com
todas as instalações dum moderno estabelecimento de ensino, 660 alunos – sob a direção do
dinâmico ativista, Dr. Maurício Steinbruch; Círculo Social Israelita – instituição culturo-
social e recreativa, onde se concentra a juventude israelita brasileira, possui grande
biblioteca em vernáculo – presidente Bernardo Karnos; Organização Sionista Unificada –
presidente Alfredo Cantergi; Magbit – presidente David Sroka; Keren Kaiemet – Dr. Paulo
Guerschman; Poalei Sion – Abraão Milman; Grupo Revisionista: - Dr. Isaac Bass;
425
organizações haluzianas: Ichud, Hashomer, Betar, Wizo Juvenil; Benei-Brith – ordem
fraternal, B’nai B’rith, sob a presidência do Dr. Marcos Meltzer; Grêmio Esportivo
Israelita; Juventude Israelita Portoalegrense (Jipa).
426
42.1.5. Crônica de Recife
Recife, a capital do Estado de Pernambuco, é a única cidade brasileira cujo
nome é bem conhecido no mundo judaico. É que, na primeira metade do século 17, quando
os holandeses dominavam o norte do país,vivia em Pernambuco, sob a chefia espiritual do
erudito rabino Isaac Aboab de Fonseca, uma grande comunidade israelita.
Em 1654, quando Pernambuco foi reconquistada pelos portugueses, muitos
judeus, receando cair nas garras da Inquisição, abandonaram o Brasil. Uma parte logrou
alcançar as costas de New Amsterdam –a atual Nova York – então sob o domínio holandês,
e com esses judeus do Brasil começa a fundação da comunidade israelita da América do
Norte.
Em 1954, por ocasião dos festejos de trezentos anos de vida israelita nos
Estados Unidos, foi esse fato largamente divulgado.
Os judeus ficaram no Brasil, aceitaram aparentemente a religião católica,
vivendo clandestinamente como judeus. Muitos desses “marranos” caíram na mão da
Inquisição, que os deportou para Lisboa, onde pereceram nas fogueiras dos “Autos-de-fé”.
Os restantes misturaram-se, com a população católica, legando apenas uma recordação nos
sobrenomes.
OS PIONEIROS
É difícil precisar o ano, em que se inicia a crônica da atual coletividade israelita
de Recife. Os antigos moradores do “ishuv”, começam com o ano de 1908, quando ali se
estabeleceu o judeu lituano, Horácio Peipert, embora na capital pernambucana já tivessem
anteriormente existido judeus alemães e franceses, joalheiros, bancários e corretores.
Natural de Ponieviej, perto de Kovno, viveu Peipert muito tempo na Inglaterra,
de onde partiu, em 1885, com destino ao Brasil, quase simultaneamente com seu primo
Moritz Klabin, chefe da atual conhecida família Klabin. Após ter vivido alguns anos no Rio
e em São Paulo, partira para os Estados Unidos, e na sua viajem de regresso, ficou em
Recife, onde se estabeleceu, como representante de firmas comerciais nacionais e
estrangeiras.
Em 1916, abandonou novamente Pernambuco, para voltar em 1919,
permanecendo em Recife até 1924, ano em que faleceu sua esposa Ema. Depois da morte
de sua companheira, deixou definitivamente Pernambuco.
O segundo judeu que apareceu em Recife, e que ali vive até hoje, é Meier
Bancovski, cunhado de Horácio Peipert, que chegou a Pernambuco em 1909, em
companhia de sua esposa Ana e seu filho José. Trabalhava Bancovski em representações
comerciais, em sociedade com seu cunhado.
Em 1910, veio da Argentina, Mendel Rotman, judeu bessarabiano, que não
conseguiu estabelecer-se em Recife, partindo dali dentro de pouco tempo. Em seguida,
chegou o cunhado de Rotman, Mendel Meshiah, em companhia de sua família. Este tornou-
se “clientelchik" e posteriormente abriu uma loja de tecidos.
Em 1911, começaram a chegar mais israelitas, na maioria bessarabianos.
Naquela época, vieram a Recife as famílias Rabin, Schapaval, Rubinski, Tcherpak,
Kelmenson, Mendel Schwartz, Salomão Schenberg e outros.
427
A PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO
Pelos fins de 1913, já viviam em Recife umas 15 famílias israelitas, além de
certo número de solteiros. Nos primeiros meses de 1914, foi fundada a primeira sociedade
israelita, denominada “Agudat Achim”.Os fundadores dessa agremiação eram os irmãos
Rabin, Israel Kelmenson, Meier Bancovski, M. Meshiach, Velvel Schapaval e Simão
Rubinski. Como presidente foi eleito Salomão Scheinberg.
A sociedade “Agudat Achim”, com finalidades religiosas e beneficentes,
congregou logo em torno de si todos os moradores israelitas da cidade. Funcionava a
primeira organização israelita numa sede alugada, à rua Imperatriz, onde haviam instalado
sinagoga provisória e uma pequena caixa de empréstimos.
O DESENVOLVIMENTO
A coletividade começava a crescer a desenvolver-se, mas a guerra mundial
interrompeu repentinamente a corrente imigratória. As atividades sociais, durante os anos
da guerra, limitavam-se quase que exclusivamente à coleta de fundos para socorrer as
vítimas da guerra. Um ano após o término da guerra, em 1919, fundou-se o Centro Israelita,
que inicialmente tinha por objetivo a organização dum cemitério judaico e duma sinagoga.
(Os nomes dos fundadores e detalhes sobre as atividades dessa instituição encontram-se
adiante, numa nota especial).
Simultaneamente, foi também fundada por iniciativa de Luis Adler, A
“Associação Israelita de Pernambuco”, cuja primeira diretoria constava dos seguintes
membros: Isaac Weisberg, presidente; Samuel Messel, secretário das atas; Moisés Rabin,
secretário de finanças; Nathan Messel, tesoureiro; Naum Aizen, Simão Waisman e Luis
Alder, vogais. Essa entidade desenvolvia, durante os cinco anos de sua existência, intensa
atividade sócio-cultural. Criou uma biblioteca, um Circulo dramático, organizava saraus
literários, espetáculos teatrais, bailes e outras realizações. Contribuíram muito para as
realizações culturais da associação, os intelectuais Jacob Nachbin e Nathan Jaffe.
ATIVIDADES SIONISTAS
Certa atividade sionista, esporádica, teve começo, em Recife, logo que
chegaram os primeiros sionistas: os Sheinbergs, os Rabins, Kelmansons, etc. Mas, forma
organizacional tomou somente em 1921, quando, por influência do primeiro delegado
sionista no Brasil, Dr. Vilenski, foi fundado o “Comitê do Keren Haiesod”,que entrou a
desenvolver sistemática atividade sionista.
Em 1924 foi fundada a Escola Israelita Brasileira, precursora do atual Ginásio.
BENEFICÊNCIA
Já a primeira agremiação “Agudat Achim” havia criado uma caixa de socorros,
a fim de prestar auxílio monetário aos que disso necessitavam. Posteriormente foi essa
assistência ampliada. Em 1916, foi fundado, em ligação com o “Joint” americano, o “Relief
Comitê”, com a finalidade de instalar os novos imigrantes israelitas. Esse comitê,
inicialmente dirigido por Luis e Bássie Adler e Luis Scheinberg, foi posteriormente
convertido em “Sociedade Beneficente Feminina”, que existe até hoje. A primeira
presidente daquela instituição foi a saudosa senhora Rosa Waisman, cujo nome é
atualmente conhecido em todo país, como servidora fiel dos interesses da coletividade. Em
428
1925, foi fundada, por iniciativa de Luis Adler a “Lai Un Spar-Kasse”, instituição
financeira legalizada, que contribuiu para o desenvolvimento do comércio israelita de
Pernambuco. Em 1930, foi fundado o Banco Israelita Popular, que tem a seu crédito longa
folha de serviços prestados ao comércio e a indústria.
O CRESCIMENTO DO “ISHUV”
A comunidade israelita de Recife, foi entrando na fase de franco
desenvolvimento, a vida social foi tomando vulto e o “ishuv” pernambucano começou a
tomar lugar de destaque na vida judaica do Brasil. Mas, com o advento do novo regime do
país e com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o crescimento da coletividade e sua
evolução ficaram paralisados. Em Recife, como em outras partes, o ímpeto da vida social
judaica havia esmorecido.
Foi só com o restabelecimento do regime constitucional no Brasil, que as
figuras ativas da coletividade pernambucana, entraram a renovar a obra social, e com o
surgimento do Estado de Israel, a vida social judaica entrou numa nova fase de intensa
atividade. Foi fundada a seção local da Organização Sionista Unificada, foram ampliadas e
reorganizadas as atividades da Wizo, e instituiu-se o Clube Hebraico (1950).
Lugar de especial destaque na vida coletiva dos israelitas pernambucanos ocupa
a escola, que se desenvolveu grandemente e se converteu num ginásio, o terceiro ginásio
israelita do país.
A coletividade judaica de Recife conta atualmente cerca de 400 famílias.
429
42.1.6. Crônica da Bahia
Ao chegarem os primeiros imigrantes israelitas à Bahia, ou Salvador, em 1912,
já ali encontravam, a bem dizer, certos judeus, que se haviam estabelecido na mais antiga
cidade brasileira, ainda nos últimos anos do século passado. Mas, lamentavelmente, as
ocupações desses homens eram de tal forma indecorosas que se viram forçados a deles
afastar-se, recusando-se a entrar em contato com aquela classe de gente.
Nada mais natural que a crônica da coletividade israelita da Bahia comece com
a imigração dos judeus, que ali chegaram com o propósito de arranjarem sua vida dum
modo decente e digno.
OS PIONEIROS
Os imigrantes que, de fato, marcam o início do estabelecimento do “ishuv”
baiano, ali apareceram entre os anos de 1912 e 1914. Entre eles enumeram-se os irmãos
Isaac e José Diamante, Daniel Lerner, Moisés Leibovicz, Jacob Bernstein, Marcos Fucks,
M. Bernstein, Naum Fidelman, Elias Zimelzon, Meier Eyrs, Nissel Gornhendler, José e
Velvel Schindler e José Adler. O único judeu dos antigos habitantes, com quem os recém-
vindos mantiveram contato, foi um senhor Jacob Grunfeld natural da Romênia, que já vivia
na Bahia alguns anos que era proprietário duma casa de jogos e loja de jóias, à rua Chile.
Este senhor Grunfeld tinha amizades com os altos funcionários públicos, era amigo pessoal
do chefe da polícia e gozava de bom conceito nos meios comerciais. Graças a estas
relações, foi-lhe possível ajudar os recém-imigrados a se arranjarem no ambiente estranho.
Conseguia para eles créditos com os comerciantes locais, providenciava sobre a legalização
de seus documentos. Sob a proteção de Jacob Grunfeld – nome que os antigos habitantes
até hoje mencionam com gratidão – os novos imigrantes não tiveram dificuldades em
dedicar-se ao pequeno comércio, ao negócio de vendas a prestações.
No ano de 1912, já existiam na Bahia algumas famílias israelitas, e em 1914
seu número aumentou para duas dezenas aproximadamente. A maior parte procedia da
Bessarábia, entretanto é interessante salientar que alguns dos primeiros imigrantes proviam
da Palestina, como sejam: Isaac Diamante, Daniel Lerner e o ativista, atualmente bem
conhecido em todo o Brasil, José Adler.
É igualmente curioso lembrar que a primeira casa comercial judaica da Bahia –
além da já mencionada joalheria de Jacob Grunfeld – era uma pequena loja de estampas, na
praça Cairo, pertencente a J. Gershkoren e Daniel Lerner. Pouco tempo depois, Moisés
Leibovicz e Abrão Tiomni abriram, em São Salvador, a primeira casa de móveis.
A Vida Social
Em 1914, quando o “ishuv” já contava umas duas dezenas de famílias israelitas,
José Adler, os irmãos Diamante, Moisés Leibovicz e outros fundaram a primeira sociedade
israelita da Bahia, “Tiferet Sion”, de caráter puramente cultural, e junto a qual foi criada a
primeira biblioteca judaica daquela cidade. Outro grupo israelita organizou, logo em
seguida, a sociedade “Achiezer”, que se dedicava às atividades de auxílio mútuo. Foi dessas
duas entidades que mais tarde se desenvolveu a vida social dos judeus baianos.
430
Durante os anos da primeira guerra mundial, a vida pública do pequeno “ishuv”
girava em torno daquelas duas organizações, que também providenciavam sobre socorro às
vítimas da guerra. Novos imigrantes não chegavam no tempo da guerra, o “ishuv”
permanecia então reduzido e íntimo.
A SEGUNDA LEVA DE IMIGRANTES
Com a segunda leva de imigrantes, em 1922, a coletividade começou a crescer
de vulto. Naquele ano a cidade já contava umas trinta e poucas famílias, e foram feitas as
primeiras tentativas de criar uma organização central judaica. Por iniciativa dum grupo de
antigos e novos habitantes, foi fundada a “Sociedade Beneficente Israelita”, com
finalidades religiosas, culturais e beneficentes.
Na sede provisória, na Praça dos Veteranos, a novel entidade organizou uma
biblioteca maior, incluindo os livros da “Tiferet Sion”, e entrou a promover tardes literárias
e culturais. Posteriormente, quando a sociedade transferira-se para outra sede, à rua Sinai,
começou também a funcionar a primeira escola israelita, denominada Jacob Dineson, com
vinte e poucos alunos. Foi igualmente fundado um Círculo Juvenil, onde se agrupava a
geração nova. A diretoria da seção juvenil, tinha a seu cargo a direção da biblioteca, bem
como a organização de empreendimentos culturais e recreativos.
Mas, com o desenvolvimento do “ishuv” e com a ampliação das atividades
sociais, iam surgindo as primeiras divergências e antagonismos entre os ativistas dirigentes.
A CISÃO
As incompatibilidades entre os dirigentes tornaram-se cada vez maiores.
Desencadeou-se uma renhida luta entre os elementos do movimento sionista e os adeptos
da “corrente progressiva”. Os conflitos ideológicos entre as duas partes, as pugnas
acirradas, não obstante os ingentes empenhos de manter a unidade da colônia, conduziram
finalmente, em 1927, a uma definitiva cisão. Um grupo dos associados da “Sociedade
Beneficente”, a parte progressista, separou-se daquela organização e fundou o “Centro
Cultural”.
A dispersão de energias e recursos causou, naturalmente, muito prejuízo à
pequena comunidade judaica da Bahia. Após alguns anos de se combaterem mutuamente,
os espíritos mais serenos entre as ativistas de ambas as partes, convenceram-se de que as
atividades separadas dos dois grupos em luta, criavam um clima negativo no seio da
coletividade, um grande obstáculo para o desenvolvimento da sua vida social.
A UNIFICAÇÃO
A separação durou até o ano de 1932, quando as duas entidades se uniram de
novo. O “Centro Cultural” foi dissolvido e os seus associados ingressaram novamente na
“Sociedade Beneficente”. Com nova animação e entusiasmo, os ativistas da comunidade
judaica entregaram-se às vastas atividades, e elaboraram um “modus vivendi”, que
possibilite a todas as correntes ideológicas a exercerem suas atividades, numa base pacífica
de sincera compreensão. Como resultado dessa colaboração sincera, foram reorganizadas as
mais importantes instituições, como sejam: a escola, a Caixa de Economia e Empréstimos
(Lai-Un-Shpar-Kasse) e outros que tais, entrando a coletividade numa fase de franco
florescimento e progresso.
431
A SEDE PRÓPRIA
O novo período da vida social judaica de São Salvador atingiu seu apogeu em
1949, quando a Comissão Construtora da “Sociedade Beneficente” entregou à coletividade
o edifício próprio, construção magnífica de amplas proporções, que faz honra à pequena
comunidade e de que centros maiores poderiam orgulhar-se.
No decurso de três anos, o “ishuv” de S. Salvador, construiu uma casa, que
constitui não somente a sede onde se concentra toda sua vida social, mas representa um
belo e íntimo lar, no sentido mais amplo do termo. Homens de todas as cores e matizes
ideológicas, da direita e da esquerda, ali se reúnem, sentam-se às mesmas mesas de
trabalho, celebram juntamente as diversas datas festivas; e descobriram o meio de
contemporizar com os interesses antagônicos e possibilitar a permanente cooperação num
clima de salutar e humana tolerância.
A Bahia é, sem sombra de dúvida, a única exceção do conjunto da vida social
judaica do Brasil, a única comunidade que possui endereço próprio, uma casa coletiva,
admirável e modelar.
432
42.1.7. Crônica de São Paulo
A cidade de São Paulo possui, como é de domínio público, a segunda
comunidade israelita do Brasil, em tamanho e importância. Há mesmo quem lhe conceda a
primogenitura, quer quantitativa quer qualitativamente. Se é justificado ou não esse
conceito, não nos aventuramos a julgar. O que pretendemos, sim, é registrar aqui as
informações cronológicas que conseguimos colher, tanto através de palestras com
habitantes antigos, como no manuseio de documentos, jornais e publicações periódicas, a
respeito dos primeiros tempos do nascimento e evolução dessa parte judaica do Brasil e
anotar os nomes daqueles que, de algum modo, concorreram para a construção do
imponente edifício; mormente aqueles que, por um outro motivo, não foram registrados nas
biografias individuais ou coletivas desta obra.
(O que o “ishuv” paulistano representa consigo, hoje em dia, no sentido
religioso, cultural-social e econômico, a respeito disso vai adiante um trabalho do nosso
ilustre colaborador, Majer Kucinski).
Os Pioneiros
Quem foi o primeiro judeu de São Paulo? (É claro que temos em mente aqueles
judeus, de cuja descendência o “ishuv” de hoje é uma continuação direta). Neste ponto as
opiniões divergem. Há quem afirme que o primeiro judeu paulista foi o bessarabiano Note
Tabakow; outros, ao contrário, dão a primogenitura ao israelita lituano Mauricio Klabin.
Ambos são nomes de tradicionais famílias judaicas do Brasil. Mas, enquanto nada
conseguimos descobrir sobre a atuação social do primeiro, sobre a participação do segundo
na vida social judaica, não só ouvimos através de vários depoimentos, mas temos
documentação a respeito. Mauricio Klabin foi quem primeiro promoveu a vinda a São
Paulo dum Rolo da Lei (Sefer-Torá), instituindo o primeiro “Minian” (quorum para rezas
coletivas); foi o primeiro “Amante de Sion” em todo o Brasil que enviou suas contribuições
para o Bureau Central do Fundo Nacional (então na Colônia, Alemanha); doou o terreno
para o primeiro cemitério israelita, em Vila Mariana; foi positivamente um dos grandes
filantropos paulistanos, que contribuíram generosamente para todas as empresas da
comunidade.
Julgamos, portanto, justificável a inserção nesta crônica de alguns dados
biográficos seus, como um dos pioneiros do “ishuv” de S. Paulo.
MAURICIO FREEMAN KLABIN nasceu a 1o de março de 1860, na cidade de
Poselva perto de Kovno, Lituânia-russa. O pai dele, Leão Klabin, deu-lhe uma educação
tradicional judaica. Por motivos das opressões do regime tzarista, emigrou, adolescente
ainda, para a Inglaterra. Em Londres, onde passou dois anos e alargou seus conhecimentos,
ouviu falar no Brasil, como país de boas oportunidades, onde uma pessoa de iniciativa pode
progredir. A bordo, soube da febre amarela que grassava em Santos e no Rio e resolveu
fixar-se em S. Paulo, que naquele tempo contava mais ou menos com 30 mil habitantes. A
data exata de sua chegada ao Brasil é desconhecida, mas sabe-se que veio no tempo da
Monarquia. Quando da proclamação da república, já estava estabilizando sua situação,
como caixeiro-viajante duma papelaria. Jovem capaz, probo e comunicativo, captou a
simpatia dos patrões, casal idoso sem filhos. Admitiram-no, primeiro como sócio da casa e
mais tarde venderam-lhe a empresa em condições suaves.
433
Logo que Mauricio Klabin melhorou se situação econômica, promoveu a vinda
dos pais e irmãos, associou-os à empresa e assim surgiu a firma que mais tarde iria tornar-
se famosa: Klabin, Irmãos e Cia, não só como empresa comercial, senão como filantrópica
que muito contribuiu para o progresso do “ishuv”.
Com os pais de Mauricio também veio a noiva dele Bertha Obstand, com a qual
contraiu matrimônio em 1895. (Bertha Klabin tornou-se depois conhecida como uma das
fundadoras da “Sociedade Beneficente das Damas Israelitas”, a precursora da atual
OFIDAS; como a primeira ativista da Wizo no Brasil e, geralmente, como uma das
dedicadas colaboradoras da comunidade israelita).
Mauricio Klabin faleceu em 1923 em Heidelberg, na Alemanha, e foi sepultado
em São Paulo, no Cemitério Israelita de Vila Mariana, para o qual doou o terreno.
PRIMEIRA ORGANIZAÇAO
A fundação da primeira organização israelita de S. Paulo data de 21 de janeiro
de 1912. Chamava-se “Kehilath Israel”, ou “Comunidade Israelita de S. Paulo”.
Conforme rezam os estatutos, a associação tinha por finalidade a fundação
duma sinagoga, cemitério-israelita, escola e o socorro aos necessitados.
(Atualmente, a “Kehilath Israel” constitui apenas uma sinagoga).
A primeira diretoria constava dos seguintes membros: Bernardo Nebel -
presidente; Isaac Tabakow – vice-presidente; Jaime Horovitz – primeiro secretário; Gabriel
Katz – segundo secretário; Saul Raichberg – tesoureiro; Luiz Constantino – fiscal geral.
De acordo com a publicação “História da Ezra”, a fundação da “Comunidade
Israelita” data de 1913, e a diretoria é bem outra. Nós nos baseamos em documento oficial,
registrado em 15 de julho de 1912.
Entretanto, julgamos oportuno mencionar os nomes da referida publicação, os
quais, provavelmente, constituíram a segunda diretoria, que adquiriu em 1913 a casa, na rua
da Graça, 26, onde instalou a sinagoga: Idal Tabacow – presidente; Abraham Kaufman –
vice-presidente; Jacob Nebel – 1o secretário; Isaac Tabacow – 2
o secretário; Hugo
Lichtenstein, Miguel J. Lafer e José Nadelman – vogais.
Releva notar que Idal Tabacow era filho de Note Tabacow; Hugo Lichtenstein e
Bernardo Nebel, seus genros. Importa notar, de modo especial, o nome de Isaac Tabacow.
Era este sobrinho de Note e (como o caracteriza o conhecido ativista do Rio, Jacob
Schneider) pessoa de iniciativa e de índole boníssima. Em 1898, Isaac Tabacow já se
achava no Brasil pela segunda vez, fixando-se, em companhia de sua esposa, Golde, em
Franca, pequena cidade do interior paulista, que então se achava no apogeu, em virtude dos
ricos cafezais da redondeza. Naquela cidade desenvolveu amplo movimento comercial e,
progredindo, ajudou a outros conterrâneos a se estabelecerem; entre esses o mencionado
Jacob Schneider, Simão Bergstein, A. Steinberg. Naum Obodowski e outros.
Com exceção de Mauricio Klabin em S.Paulo, os judeus de Franca foram os
primeiros israelitas oriento-europeus a instituírem no Brasil certa forma de vida comunal:
434
rezas coletivas, fabricação de pães ázimos (matzot) e auxílio aos imigrantes. (Antes ainda
da fundação pela “ICA” da colônia agrícola Philipsohn, no Rio Grande do Sul).
BIBLIOTECA E GRUPOS DRAMÁTICOS
Pelos fins de 1913 ou começo de 1914, constituiu-se a seguinte “Comissão
Iniciadora”, para fundar uma biblioteca judaica: Abraham Kaufman – presidente; Simão
Nadler – vice-presidente; Israel Schwartz – tesoureiro; Bernardo Zaduschliver – secretário;
Moisés Levkovich (posteriormente Costa) – 2o secretário. Esta comissão criou um fundo e
mandou vir livros de B. Aires. Com a chegada dos livros, em 1916, foi a Biblioteca Israelita
oficialmente inaugurada, na sinagoga “Comunidade Israelita”, como instituição cultural
independente, que, além do empréstimo de livros aos associados, realizava conferências e
leituras em voz alta. Moisés Levkovich Costa lia ou dissertava sobre Peretz; Abraham
Levin, sobre Scholem Aleichem e Henrique Milion, sobre Edelstadt.
A primeira diretoria da biblioteca organizada constava dos seguintes membros:
Idal Tabacow – presidente; Moisés Costa – vice-presidente; Samuel Waisman – tesoureiro
e Abraham Levin – secretário. Abraham Kaufman, o idealizador dessa iniciativa cultural, já
não se achava entre os vivos, quando da chegada dos livros de B. Aires. Cabe lembrar que
A. Kaufman foi igualmente quem teve a iniciativa de convidar o renomado escritor Peretz
Hirschbein, então em visita na Argentina, para fazer conferências em S. Paulo (em 1914,
pela primeira vez no Brasil) e cujo capítulo “Um Israelita está Doente” do livro “Em Terras
Longínquas”, em que o autor relata a angústia de toda uma comunidade, por se achar um de
seus membros seriamente enfermo, Hirschbein se referia a Abraham Kaufman, que de fato
não mais se levantou da cama. Entre os que se dedicaram ativamente à biblioteca devem
figurar ainda os nomes de Iasche Monasterski, Moisés Mechutan, Moisés Chechtman,
Iechiel Itkis e Iankel Kapoier.
A primeira biblioteca israelita de S. Paulo passou por várias transmigrações. Da
“Comunidade Israelita” passou para a sinagoga Knesset Israel, na rua Capitão Matarazzo
(hoje Newton Prado). Instalou-se depois numa sede alugada, na rua da Graça. Anos mais
tarde, foi dominada por elementos comunistas e, dessa forma, caiu nas malhas da polícia.
Foi libertada quando alguns de seus fundadores convenceram a mantenedora da ordem que
se tratava de uma instituição exclusivamente cultural, sem qualquer tendência política. Hoje
em dia, os livros do estabelecimento cultural de outrora mofam nos armários do “Círculo
Israelita de S. Paulo”.
Simultaneamente com o nascimento da biblioteca, instituiu-se um Círculo
dramático, que promovia representações teatrais, levando à cena as peças do teatro ídiche
então em voga, como as operetas históricas de Goldfaden “Sulamita”, “Bar-Kochba”; “Der
Vilder Mentch”, “Got, Mentch um Taivel” de Jacob Gordon e outras que tais.
Os artistas-amadores eram os seguintes: Bernardo e Fanny Zaduschliver, Isaac
Meier e Schifre Bronstein, Chassie Naiman, Eva Ticker, Moisés Costa, Abraham Levin,
Jonas Krasiltchik, Iontel Schneider, David Becker, Samuel Fischman, I. Kleinman e outros.
Tomavam igualmente parte no círculo dramático o casal Isaac e Golde Tabacow, não como
atores, senão como estimuladores que prestavam seu auxílio financeiro e técnico.
Na maioria das vezes, os espetáculos eram promovidos em benefício da
Biblioteca, do “Relief Comitê”, que colhia fundos para socorrer as vítimas da primeira
guerra mundial e, mais tarde, para a sociedade “Ezra”.
435
A SINAGOGA ‘KNESSET ISRAEL’
A fundação desse templo, embora já não houvesse a sinagoga da rua da Graça,
desempenhou importante papel na evolução do “ishuv” paulistano. A iniciativa atribui-se a
José Margulies. O impulso para essa iniciativa é contado da seguinte forma: a sinagoga da
Keilath Israel foi cognominada “casa dos ricaços”, em vista de exigir-se dos fiéis a compra
de entrada. Nos Dias Solenes de 1914, um grupo de fiéis, em sinal de protesto contra as
entradas (provavelmente houve ainda outros motivos, já que a venda de entradas é comum
em certas sinagogas, para fazer face às despesas com os cantores) organizou um “Minian”
separado, num barracão, para esse fim cedido por Meier Goldstein, na rua dos Imigrantes
(hoje José Paulino). Por ocasião dos ofícios do Ano Novo, a certa altura dum intervalo,
José Margulies aproximou-se do púlpito improvisado e pedindo silêncio exclamou em voz
tonitruante: “Israelitas, onde é que estamos rezando, numa estrebaria? Envergonhemo-nos!”
E foi assim que nasceu a iniciativa para a construção da conhecida sinagoga da rua Capitão
Matarazzo (hoje Newton Prado), o primeiro templo israelita de São Paulo, que desde o
início foi planejado para uma sinagoga (a da rua da Graça, ainda que em prédio próprio, era
uma sinagoga improvisada e pequena).
Conforme salientam os antigos habitantes, para a construção daquela casa de
Deus, contribuiu toda a coletividade da época, inclusive ateus manifestos. Estes
condicionaram a sua contribuição à reserva duma sala para a Biblioteca. A pedra
fundamental foi lançada em dezembro de 1916.
Na primeira Comissão Pró-Sinagoga figuravam as seguintes pessoas: Luiz
Rosenberg, Naum Lerner, David Friedman, José Teperman, Boris Wainberg, David
Kuperman e outros.
ASSOCIAÇOES BENEFICENTES
Já foi antes lembrado, de passagem, o “Relief Comitê”, para socorrer as vítimas
da primeira guerra mundial. Este comitê foi criado por iniciativa de Max Fineberg,
delegado do comitê do mesmo nome do Rio de Janeiro, em 1916, e se achava em contato
com as grandes instituições do gênero em Nova Iorque, por cujo intermediária enviava
consideráveis somas em prol dos atingidos pela guerra mundial.
Menciona-se igualmente em S. Paulo uma associação beneficente local
denominada Achiezer, mas não há fatos concretos a respeito dela. O certo é que a 15 de
junho de 1915, constituiu-se a Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, que tinha por
objetivo oferecer assistência médica aos doentes locais desfavorecidos da sorte. Dessa
associação de caridade organizou-se a prestigiosa instituição atual OFIDAS, Organização
Feminina Israelita de Assistência Social, de tão amplas atividades.
A primeira diretoria da sociedade constava das seguintes senhoras: Bertha
Klabin – presidente, Golde Nebel – vice- presidente, Golde Tabacow – tesoureira, Clara
Ticker – 2a tesoureira, Regina Bortman – secretária; Ester Zipin e Nessel Lafer – vogais.
Aproximadamente um ano mais tarde, a saber: em 20 de maio de 1916, numa reunião
realizada na residência do casal Israel e Clara Ticker, criou-se a Ezra, a instituição
beneficente que tão relevante papel tem desempenhado até agora, na vida da coletividade
israelita de S. Paulo.
A ata da fundação começa nestes termos:
436
“Aos vinte dias de maio de 1916, foi organizada a sociedade israelita amiga dos
pobres Ezra, com o objetivo especial de evitar a mendicância no seio do Ishuv. A Ezra
inclui no seu programa o auxílio aos pobres e aos doentes, arranjar serviço para os sem-
trabalho, e oferecer ajuda material, tanto quanto necessário, a todos que a ela se dirigirem”.
Essa ata foi assinada pela seguinte diretoria: José Kaufman – presidente, José
Nadelman – vice-presidente, Salomão Lerner – tesoureiro, Devid Berezowski – 2o
tesoureiro, Bernardo Zaduschliver – secretário, Boris Vainberg – 2o secretário, Isaac
Tabacow, Iontel Schneider, Israel Ticker, David Friedman e Jonas Krasiltchik – conselho
fiscal.
(Da Ezra ainda se tratará adiante e, de modo especial, num capítulo inserto na
seção das instituições).
Um episódio interessante de assistência social viveram os israelitas paulistanos
em 1918, durante a “Gripe Espanhola”. Como é sabido, essa doença epidêmica grassava
então no Brasil com intensidade alarmante, causando milhares de vítimas. A população de
S. Paulo fora tomada pelo pânico. As fábricas e grande parte do comércio cerraram as
portas. O tráfego ficou praticamente paralisado. O número de casos fatais, principalmente
entre elementos do povo, era tão elevado que os mortos permaneciam vários dias
insepultos. Neste ambiente de pavor, o ishuv judaico não perdeu a cabeça e organizou a
assistência dum modo exemplar.
A sinagoga Knesset Israel foi transformada num hospital e pessoas caridosas
equiparam o nosocômio improvisado com camas e outros apetrechos. Mobilizou-se uma
turma de médicos e enfermeiros, dando-se aos enfermos tratamento rápido e adequado.
Instalou-se uma cozinha para os doentes hospitalizados e foram distribuídas ainda,
refeições aos gripados de poucos recursos, que ficaram acamados em casa. Acumulou-se
um estoque de gêneros alimentícios e distribuiu-se aos judeus e não-judeus, arroz, batatas,
café, açúcar e outros produtos (em virtude do tráfego deficiente, havia míngua de víveres).
Em conseqüência dessa perfeita organização, a comunidade israelita teve de
lamentar apenas um caso fatal. A imprensa paulista (jornal israelita ainda não havia) não
poupou encômios a coletividade israelita por ter, em momentos de calamidade,
transformado a sua sinagoga em hospital e dado aos doentes uma assistência modelar, da
qual também gozavam vizinhos não judeus.
Também o então presidente do estado, dr. Altino Arantes, manifestou seu
reconhecimento aos cidadãos israelitas de S. Paulo, pelo seu combate heróico à terrível
epidemia.
Distinguiram-se neste notável serviço de assistência social as seguintes pessoas
ou firmas:
Pelas vultuosas contribuições:
Isaac Tabacow e Cia, Klabin, Irmãos e Cia, Salomão Lerner, Friedman e Cia,
os irmãos Teperman, a firma Grumbach e Bloch.
Pelas atividades práticas:
437
Luiz Rosenberg, Salomão Lerner, David Friedman, Isaac Tabacow, José
Margulies José Nodelman, Moisés Zaietz, José Teperman, Emílio Berezowski, Felipe
Kaufman, Bernardo Leison, Iontel Schneider, Isaac Waisman e Jonas Krasiltchik.
Por serviço médico voluntário:
O Dr. Camargo e seu assistente Dr. Brito, os estudantes da faculdade de
Medicina, Leão e Rebeca Guertsenstein, filhos do rabino Marcos Guertsenstein.
A primeira tentativa de educação judaica
A iniciativa de fundar a primeira escola israelita em S. Paulo é atribuída a
Bertha Klabin. Nos fins de 1915, vindo da colônia agrícola “Quatro Irmãos”, fundada pela
ICA no estado do Rio Grande do Sul, chegou a S. Paulo o professor israelita, Iechiel Itkis,
Em 1916, Bertha Klabin entrou em contato com Itkis e organizaram uma escola primária
para crianças israelitas, no local da “Comunidade Israelita”, segundo a mencionada revista
“A Columna”, este estabelecimento de ensino era qualificado de Talmud Torá, ou escola
religiosa. Não se sabe quanto tempo essa Talmud Torá existiu. Só se tem conhecimento que
em maio de 1916, freqüentavam a escola 20 meninos e 24 meninas. (A respeito da primeira
escola ídiche-hebraica de ensino secular, o atual prestigioso ginásio “Renascença” segue
adiante um capítulo à parte, na seção Instituições).
Sociedade pró-imigrantes
Após a primeira guerra mundial, ao começarem a aparecer os primeiros
refugiados do conflito e suas conseqüências, surgiu o problema imigratório. De início quem
se ocupava com o problema era a diretoria da sociedade “Ezra”. Como a sinagoga da rua
Capitão Matarazzo tinha, em baixo, um salão inacabado, resolveu-se angariar um fundo, e o
mencionado salão foi preparado para casa provisória de imigrantes. Mais tarde, instituiu-se
uma sociedade especial denominada “Sociedade pró-imigrantes”, sob a direção do dr.
Horácio Lafer (posteriormente Ministro da Fazenda do Brasil), dr. Efim Mindlin, José
Kaufman e outros. Essa sociedade teve função autônoma até 1924, quando, sob a influência
do Dr. Rafallovich, representante da ICA (Jewish Colonization Association), se determinou
fundir as duas associações com finalidades imigratórias numa única instituição de nome
comum “Sociedade Israelita de Beneficência”. Em maio do mesmo ano, realizou-se uma
assembléia geral e foi eleita a seguinte diretoria mista: Dr. Efim Mindlin – presidente; Dr.
Horácio Lafer – 1o vice-presidente; José Kaufman – 2
o vice-presidente; Emilio Berezowski
– tesoureiro; Salomão Teperman – 2o tesoureiro; Isaac Waisman – secretário; Leon
Ossovich – 2o secretário; José Teperman, Alexandre Vainstein, Isaac Zlatopolski, Moisés
Gandelman, Moisés Zaietz, Salomão Rosenberg Salomão Lerner, Isaac Dorf, Miguel
Iaroslavski, Moisés Pen e Israel Schvartz – conselho fiscal.
Por seus relevantes serviços em prol dos imigrantes daquela época, o livro da
“Ezra” distingue elogiosamente os senhores Jacob Monastirski e Emílio Berezovski.
Nascimento e evolução do sionismo paulistano
O problema mais difícil com que nos defrontamos na busca de informações a
respeito da formação do ishuv de S. Paulo, foi a pesquisa sobre a fundação da primeira
organização sionista. Documentos não há. Os habitantes antigos, com os quais mantivemos
contato, de nada se lembram, outros contradizem-se. O livro da Ezra que de algum modo,
registra o nascimento das primeiras sinagogas e associações de caridade, não tem uma
438
palavra sequer sobre atividades sionistas. Sabíamos por meio duma nota na mencionada “A
Columna”, que em 1917, havia em S. Paulo uma agremiação denominada “Amantes de
Sion”. Mas, quando foi fundada, quem foram os idealizadores? A essas perguntas não
tínhamos respostas. Finalmente, logramos resolver, em parte, o problema, no Rio. O amigo
Moisés Costa, antigo habitante de S. Paulo, um dos fundadores da primeira Biblioteca e do
Clube Filodramático daquela cidade, foi igualmente um dos participantes ativos da primeira
agremiação sionista. De muitos pormenores nem ele se lembra. Recorda-se, entretanto, que
a fundação se dera em 1915, aproximadamente; que o primeiro presidente era Aron
Mendes, que ele, Moisés, ocupava o cargo de vice-presidente e que as reuniões se
realizavam na residência de Mauricio Klabin, em Vila Mariana. Ligando essa informação
com o fato de que já em 1914 Mauricio Klabin mantinha correspondência com o bureau
central do Keren Kaiemet, é de se crer fosse ele o iniciador da “Amantes de Sion”.
Pelo ano de 1920, (a “Amantes de Sion”, pelo que parece, já não existia) nova
agremiação sionista foi fundada, por iniciativa de Júlio Becker, denominada Sociedade
Sionista de S. Paulo. Entre os fundadores figuravam ainda: Moisés Gandelman, Emílio
Berezovski, Carlos Gorenstein e Abraham Schechtman. O local das reuniões era a sinagoga
“Comunidade Israelita”. A primeira realização pública da “Sociedade Sionista de S. Paulo”
foi uma conferência subordinada ao tema – Que é Sionismo?, proferida por Júlio Becker,
no clube alemão Turn-Band, à rua Couto Magalhães.
Atividades sionistas organizadas de maior envergadura tiveram início em S.
Paulo, como no país em geral, com a chegada dos primeiros delegados sionistas, os
doutores I. Vilenski, B. Mossensohn, Etinger, A. S. Iuris e outros.
Entre os mais dedicados ativistas, em prol dos fundos e do “shekel”, daquela
época, figuravam os nomes de Francisco Teperman, Júlio Becker, Abraham Ribnik e Ben-
Sion Snitkowski.
Em 1934, os “chaverim” [companheiros] Moisés Blaustein, Henrique
Bidlowski, Samuel Vaingart e Francisco Teperman, criaram a “Organização Sionista de S.
Paulo”, organização essa que teve atuação viva, por longo período, até a sua dissolução,
quando proibidas as atividades, no tempo do Estado Novo, passando parte de seus trabalhos
para a entidade legalizada “Centro Hebreu Brasileiro”.
(A respeito da “Wizo, Pioneiras e Unificada” veja a seção “Instituições).
A Unificação da “EZRA” com a “HICEM”
Importante fase de atividade dinâmica, no setor de assistência social e proteção
ao imigrante, começou em S. Paulo quando se deu a unificação da sociedade local “EZRA”
com a organização mundial “HICEM”.
O “HICEM” como se sabe, constava de uma fusão de três organizações
imigratórias judaicas mundiais “HIAS”, “ICA” e “EMIGDIRECT” com o objetivo de
unidas poderem resolver os complicados problemas que surgiram ao terminar a primeira
guerra mundial. O Dr. Isaías Rafallovich, representante da “ICA”, e ipso fato, da “HICEM”
no Brasil, entrou em contato com as organizações locais de beneficência, e em 1927,
concertou um acordo com a Ezra de S. Paulo. Daquela data em diante, ao título “EZRA”
acrescentou-se o sub-título “Sociedade Israelita de Beneficência e Proteção ao Imigrante”.
439
Com o auxílio da organização mundial, a sede da instituição local foi instalada
num local maior, com secretariado bem organizado e com amplo plano de serviço: 1)
Visitar, em Santos, todos os navios que trazem imigrantes; 2) Registrar todos os imigrantes
judeus, sem distinção; 3) Receber o imigrante que não é esperado por algum parente; 4)
Avisar o parente da chegada do imigrante; 5) Receber o imigrante sem recursos; 6)
Despachá-lo com a bagagem para S. Paulo; 7) Esperá-lo na Estação da Luz; 8)
Desembaraçar-lhe a bagagem; 9) Acompanhá-lo até nossa pensão, onde tem direito a
permanência de 2 a 8 dias; 10) Despachar o imigrante a seus amigos no interior; 11)
Ensinar ao imigrante o vernáculo nos nossos cursos noturnos; 12) Arranjar trabalho, para
cada qual, segundo suas habilidades e vocação; 13) Ensinar ofício adequado e fácil; 14)
Facilitar ao imigrante o aperfeiçoamento de seu ofício; 15) Manter seção especial de cartas,
que o imigrante recebe em nosso endereço; 16) Fazer intercâmbio monetário para todos os
países europeus; 17) Preparar chamadas; 18) Legalizar as chamadas no consulado polonês;
19) Providenciar passagens da Polônia, România, Lituânia e Rússia aos mais baixos preços
e mais suaves condições; 20) Descobrir parentes em todas as partes do mundo; 21) Reunir
famílias; 22) Dar amparo à mulher; 23) Dar amparo à criança;24) Prestar informações de
toda sorte; 25) Dar toda sorte de conselhos; 26) Facilitar pequenos trabalhos de escritório, a
respeito dos contratos, requerimentos, traduções de cartas, além de outros; 27) Auxílio
geral; 28) Fazer pequenos empréstimos para ferramentas e outros empregos úteis; 29)
Prestar assistência médica geral; 30) Prestar pequena ajuda jurídica; 31) Dar passagens
grátis aos imigrantes que queiram trabalhar na lavoura.
Com este largo esquema de trabalho, a EZRA vivia numa atividade febril.
A diretoria daquela época era assim constituída:
Dr. Efim Mindlin, José Kaufman, Dr. Horácio Lafer, Emílio Berezovski,
Salomão Teperman e Isaac Vaisman. Conselho: José Teperman, Moisés Gandelman,
Moisés Zaietz, Salomão Rosenberg, Salomão Lerner, Isaac Doff, Miguel Iaroslavski,
Moisés Pen, José Schwarzman.
Fase de crescimento e desenvolvimento
Com a nova leva de imigrantes, depois da primeira guerra mundial, o ishuv de
S. Paulo passou a crescer e desenvolver-se em todos os setores. Além dos parentes e
conterrâneos dos moradores anteriores, procedentes, na maior parte, de pequenas cidades e
vilas da Bessarábia, também veio novo elemento das grandes cidades da Polônia, Lituânia,
e Volínia; israelitas de Varsóvia, Lodz, Vilno e Rovno. Vieram artífices, operários
qualificados e homens de iniciativa que começaram a desenvolver as indústrias têxteis, de
malhas, roupas e outras.
As forças intelectuais foram enriquecidas de novos elementos, que deram maior
impulso às associações e estabelecimentos de ensino existentes. Assim, por exemplo, o
atual professor veterano, Moisés Vainer, reorganizou o ensino da escola “Renascença” em
novas bases pedagógicas (1924); Benjamim Kulikowski impôs novo dinamismo à
“EZRA”; o saudoso M. J. Flit estimulou o mencionado estabelecimento beneficente a criar
um sanatório para tuberculosos e, em 1932, foi ele um dos fundadores da liga das
organizações sob o nome de “Representação Central”, a precursora da atual “Federação”;
os rabinos Braverman e Levin puseram-se a implantar ordem nos assuntos religiosos.
Foram também constituídas novas agremiações de caridade, associações culturais,
440
estabelecimentos de créditos e outras. Criou-se a “Linat Hatzedek” (veja Instituições), a
“Liga dos Israelitas de Origem Polonesa”, instituição culturo-social, com biblioteca própria,
círculo dramático e caixa de empréstimos para auxílio econômico dos associados (fundada
em 1930 por Henrique Bidlovski, José Levkovich, Max Iagle, Miguel Zaltzman, Henrique
Ostrovich e outros); a Lai Spar-Kasse (1926), estabelecimento de crédito que originou a
atual “Cooperativa de Crédito Popular”, que vem ocupando tão importante lugar na vida
econômica dos judeus paulistanos.
Simultaneamente, foram surgindo organizações de esporte e recreação, aos
quais a juventude européia deu conteúdo cultural e nacional, com “Macabi” (fundado em
1927, por Benjamim Flit, Adolfo Wolf, Max Iagle, I. Raichel, P. Schuster e outros);
“Kadima” (fundada por iniciativa de Idel Becker em 1929).
Por aquela época, já havia crescido uma juventude israelita “brasileirizada”, que
fundava agremiações, a seu modo e em língua portuguesa, como o “Círculo Israelita”
(1928).
Instituições Culturais de Caráter Partidário:
Em 1934, criou-se, por iniciativa de Salomão Kucinski (hoje em Israel) uma
organização denominada “Einheit-Club”. Motivou essa iniciativa a cisão no anterior “Clube
da Juventude” (fundado em 1928), cuja direção havia tomado rumo manifestamente
estalinista. Os fundadores da novel organização eram: o falecido Germano Nusbaum,
Abraham e Isaías Zilberman, Salomão Trezmielino, Jacob Weltman, Jacob Usurpator,
Iohanas Horenstein, Ruben e Leizer Pintchevski, David Brussilovki (falecido), Simche
Leiner e outros. Inicialmente de cor trotskista, tornou-se o “Einheit-Club” mais tarde
importante associação, que desenvolveu intensiva atividade cultural em língua ídiche.
Possuía biblioteca de cerca de mil e quinhentos volumes escolhidos, um círculo dramático,
sob a direção do artista Jacob Weltman, que levava ao palco representações literárias -
principalmente os dramas de H. Leivik. Concentraram-se nesse clube os elementos do
“Bund”, “Poalei Sion” da esquerda, e os radicais de todas as matizes. O “Einheit-Club” foi
dissolvido em 1944, por vários motivos, principalmente ideológicos. A biblioteca passou
para o “Hashomer Hatzair” e a maioria dos associados filiaram-se às fileiras do sionismo
proletário.
Na mesma época, pelos anos de 1934-35, foi fundada, no seio da concentração
popular judaica, no Bom Retiro, uma escola secular idishista, no molde das escolas
“Zischo” da Polônia. Era seu diretor o conhecido no Brasil pedagogo “zischoista” Abraham
Ajzengart, que dedicou ao estabelecimento de ensino as suas melhores energias.Os
ativistas, os alunos, bem como a equipe de professores qualificados, recrutavam-se dos
acima mencionados elementos, concentrados no “Einheit-Club”. Durante a sua existência
de dois anos, a escola gozava de grande popularidade e era freqüentada por duzentas a
duzentas e cinqüenta crianças. As desavenças ideológicas dos mencionados partidos
motivaram a dissolução da escola zischoista.
Vale também lembrar a existência naquela época dum coro “Hazamir”, sob a
direção de Jaime Feiguelman e Abraham Althoisen, que organizava concertos de boa
música e encenava as operetas históricas de Goldfaden.
O Primeiro Jornal Israelita de S. Paulo
441
O editor do primeiro jornal israelita de S. Paulo era o atualmente conhecido
ativista Marcos Frankenthal, que em 1923 chegou à S. Paulo, procedente da colônia
agrícola da “ICA”, Quatro Irmãos, onde exercia a profissão de mestre-escola. Denominava-
se a publicação “Gazeta Israelita de São Paulo” e o primeiro número apareceu em 22 de
outubro de 1931, como semanário, mais tarde, passou a sair três vezes por semana e,
finalmente, tornou-se diário que se publicou até 1941, quando, por motivo do novo regime
no país, foi proibida e edição de jornais em línguas estrangeiras. A gazeta tinha orientação
nacional independente e a primeira direção era assim constituída: diretor – Marcos
Frankenthal; administrador – Elias Amstein; redator – José Nadelman.
Durante os dez anos de sua existência, o jornal foi redigido por vários redatores,
a saber: José Nadelman, Isaac Raizman, Salomão Steinberg e, por último, Marcos
Frankenthal, juntamente com Nelson Vainer, o qual instituiu a publicação dum suplemento
ilustrado, sob a epígrafe “Realidade Ilustrada”. Por algum tempo, surgiu igualmente um
suplemento, em português, denominado “A Notícia”, dirigido pelo filho do diretor, então
estudante de direito, Naum Frankenthal.
A Publicação da “EZRA”:
Em 1941, ano em que festejou o jubileu de sua existência de 25 anos, a
sociedade “EZRA” lançou por iniciativa de Elias Amstein, uma publicação especial A
História da “Ezra” e Sanatório “EZRA”, sob a redação de José Nadelman e Nelson Vainer.
Essa publicação tem valor especial para a coletividade israelita do Brasil e de S.
Paulo, em particular, pelo fato de os editores não se terem limitado à história de suas
instituições, registrando também, honesta e singelamente, memórias a respeito da formação
das primeiras casas de orações, associações de caridade e outras, salvando assim do
olvido,importantes fatos sobre o ishuv.
Reconhecemos também a essa fonte de informações que grande parte dos
mesmos fatos tenha sido obtida diretamente. Com isso cabe salientar que só em raros casos
as outras fontes discordavam dos fatos registrados na publicação “EZRA”.
442
42.2 A visão panorâmica do Ischuv Paulistano
Meir Kucinski
1 – S. Paulo – cidade judaica compacta
Os israelitas acompanham o ritmo desse dinâmico, impetuoso colosso que se
chama São Paulo, a cidade do mais rápido crescimento da América, a cidade das maiores
indústrias da parte americana do globo. Os israelitas não só nadam entre a correnteza, mas
ainda a sobrepujam, abrindo caminho para sua impetuosidade. Na fabricação, na
importação de matérias-primas do estrangeiro, na distribuição da manufatura pelo imenso
país afora, manufatura muitas vezes de própria confecção, os israelitas estão entre os
primeiros, entre o mais proeminentes.
Os centros judaicos, Bom Retiro e Braz, lembram Nalevki, lembram Petricow.
E dizer que aconteceu isso diante de nossos olhos, à nossa vista. Pois, quanto tempo faz que
os judeus ensinaram aos modestos moradores suburbanos a usarem o lenço, a camisa
branca, a blusa, mascateando, batendo às portas? Naquele tempo, uma sombrinha ainda era
importada do estrangeiro, tal como uma roupa decente. Hoje, as fábricas judaicas
confeccionam roupas feitas aos milhões, de todos os tipos e tamanhos, pra todas as idades e
camadas sociais. No ramo têxtil os israelitas descobriram pioneiramente tanto o produto
como o cliente, tanto a matéria-prima como a mão de obra. Roupas e suéteres de cor, de
variados tipos de fantasia, ostentadas graciosamente pelas mais elegantes damas e
cavalheiros, são de fabricação judaica. Os artigos mais populares estão sendo despachados
pelas "Sibérias" e "Astrakhans" deste colossal Brasil. Na nova e ultra-nova indústria
eletrônica, na fabricação de móveis, na confecção de nailon, na construção de edifícios e
arranha-céus, os nossos irmãos israelitas ocupam lugar de relevo.
Há trinta anos, a reduzida colônia judaica orgulhava-se do seu único médico,
que mais tarde iria tornar-se famoso e querido, o saudoso doutor Hershel Schechter. Hoje
em dia, exercem suas profissões dezenas e centenas de médicos, dentistas, advogados,
engenheiros e até catedráticos universitários.
No comércio ocupam os israelitas as "lojas-espelho" da cidade, com vitrinas
modernamente decoradas e artisticamente expostas (ainda que sejam apenas os
empreendimentos menores, pois os assim chamados "Department Stores" não pertencem a
judeus). Nas ruas mais centrais judeus de Stashov, Secureni, Pinski, Lublin e Vilno,
possuem lojas tão luxuosas que são dignas de Paris, da Quinta Avenida de Nova York. Até
na indústria pesada, já estão consideravelmente representados. Papel, celulóide, vidro,
produtos químicos, tintas, peças de automóveis. O comércio ambulante,como subsistência
de oitenta por cento de judeus, já pertence hoje à história, embora uns dois mil ainda
estejam ligados, de uma e de outra maneira, a esse humilde ganha pão. A economia da
coletividade teve modificação radical.
Os israelitas igualmente transformaram de todo o aspecto das ruas por eles
ocupadas, com a "José Paulino" à frente. No lugar das casas-barracões de outrora, surgiram
sólidos edifícios com pavimentos de concreto, onde estão instalados as indústrias e os
armazéns. Nas horas do término do trabalho, milhares e milhares de operários acotovelam-
se na saída das oficinas judaicas.
443
2 – O aspecto espiritual da coletividade.
Em comparação com o ritmo acelerado do campo econômico, a atividade
espiritual do dinâmico judeu paulistano é um tanto atrasada. Vindos de várias procedências,
os israelitas da capital paulista formaram diversos setores, variadas matizes nas cores do
tapete geral... Os judeus bessarabianos, os pioneiros do "ishuv", chegados depois da
primeira guerra mundial, (não podemos, naturalmente, levar em conta os "tmeim", que
eram, na maior parte, de Varsóvia e Odessa) continuaram seu estilo burguês de normas
tradicionais. Ergueram sinagogas, organizaram associações filantrópicas, caixas de
empréstimos, ambulâncias para doentes pobres, e trataram de adquirir um terreno para
cemitério.
No espaço de muitos anos, havia entre os bessarabianos um sentimento de
menosprezo para com o judeu polonês, cujos elementos emigratórios, pobres, mas
honestos, começaram a afluir em massas após a primeira guerra mundial. Aparentavam
suspeita de "tmeim". Chegou ao ponto duma rigorosa isolação por parte do bessarabianos.
Não se contraía matrimônio com judeu polonês, nem se lhe concedia crédito. Na realidade,
o motivo era outro: o imigrante polonês, elemento mais jovem e mais liberal, que trouxe em
sua mala de bagagem um livro, uma brochura política, estava imbuído das modernas idéias
que então dominavam a juventude judaica, pertencia a um "partido", e esquerdista por
cima, o que amedrontava o bessarabiano, como judeu e como potencial cidadão brasileiro...
Enquanto o bessarabiano erguia uma sinagoga, uma agremiação beneficente, os
"poloneses" fundavam um clube, com discussões políticas, biblioteca, que promovia tardes
culturais de caráter radical e anti-religioso... Aos poucos, porém, esse antagonismo, na
realidade fictício, foi-se desvanecendo e constitui hoje um anacronismo. Formam,
juntamente com os israelitas da Polônia, da Volínia, da Lituânia, um bloco homogêneo, a
maior tribo, entre as demais tribos de fala ídiche, ou melhor, procedentes da esfera ídiche.
Os trágicos eventos do mundo judaico fundiram todos os setores. Apareceu
pelos fins do terceiro decênio, o judeu alemão, o "ieque". Envergonhado de sua antiga
arrogância para com o "ost-uide", não praticavam, de início, nenhum separatismo. Pelo
contrário, economicamente procuravam o apoio do já arranjado fabricante de Varsóvia,
Siedlce, Secureni ou de Iedinetz, visitando, ao mesmo tempo, todos os comitês
filantrópicos, como o fazia outrora, na Alemanha, o judeu oriental que transitava por aquele
país... Uma boa parte deles foi empregada na casa de judeus poloneses, como caixeiros
viajantes, gerentes de negócios. Não demorou muito e eles mesmos começaram a organizar
novos e especiais empreendimentos, de confecções mais lindas e elegantes, não para uso
das massas, como a indústria dos judeus poloneses, mas para pessoas escolhidas de
refinado bom gosto, também toda sorte de artigos de confeitaria, instrumentos ópticos e
outros. A brilhante tradição de auxílio mútuo, fez com que alguns milhares de imigrantes
alemães, suportassem com mais facilidade a época de adaptação, do que seus irmãos de fala
idish. A bem da verdade, deve-se confessar que nem por um segundo tinham o aspecto de
imigrante pobre. Seu imponente aspecto europeu, se discreto porte e trato fino de pessoa
culta, a par com a assistência privilegiada por parte das instituições filantrópicas mundiais,
ofereceram aos "ieques" uma posição de destaque na vida social judaica: sem partidos, sem
controvérsias ideológicas, concentraram-se numa congregação bem organizada, como se a
tivessem transportado, tudo pronto, de Berlim ou de Colônia. Acrescentaremos ainda que
nunca foram "clientelchikes" comuns, ou "carregadores de pacotes" e que fixaram
444
residência em bairros diferentes dos em que se instalaram os judeus centraleuropeus,
bairros mais aristocráticos.
A vida social dos israelitas paulistanos, de todas as procedências e de todos os
idiomas, acha-se sob a signa do movimento sionista, nos variados campos de sua atividade.
O setor "progressista", outrora de considerável influência, está hoje reduzido a um pequeno
grupo de obstinados. As massas do povo os abandonaram, considerando o Estado de Israel
a única esperança do povo judaico.
O movimento sionista, com seus comícios populares de milhares e milhares de
pessoas, por ocasião das comemorações do dia da independência e das proclamações da
Magbit, que se realizam com impressionante imponência, reúne todos os setores israelitas.
Ali se encontram judeus poloneses com bessarabianos, "ieques" com húngaros, lituanos
com sefaradis de todos os tipos. Nos subcomitês dos bairros da "Magbit", trabalham
israelitas de todas as comunidades, retrato em miniatura de todo o "ishuv". Papel idêntico
de aproximação e integração desempenha certamente o movimento sionista juvenil, que
deve ser qualificado em duas categorias: simpatizantes e "chalutzim" propriamente ditos.
Estes merecem especial destaque, por constituírem a glória do sionismo paulistano:
assumiram o compromisso de converter o sonho sionista numa realidade, indo fixar-se em
Israel. São jovens de alma cristalina e de caráter rijo como aço, que passaram por diversas
tentações, mas não se deixaram levar pelo carreirismo fácil, ao contrário, com o arado e o
fuzil, vão se arraigando na terra de seus antepassados. Algumas centenas de jovens
brasileiros já se encontram nos kibutzim de Bror-Chail, Gath, Negba, Gaash e outros, sendo
o kibutz de Bror-Chail manifestadamente brasileiro.
O sionismo de São Paulo logrou atrair para o movimento judeus inteiramente
afastados dos problemas nacionais, os quais, de meros filantropos se converteram, com o
correr do trabalho, em ativistas e militantes nacionais, cônscios de seu objetivo.
É a realização mais importante do Magbit, além do auxílio direto para Israel. A
Magbit é mais que uma campanha pró-Israel, é a opinião pública, o substituto duma
congregação obrigatória, uma espécie de especial forma de autonomia voluntária, a regular
as normas do dever para com a existência do Estado e das istituições locais. Até os
obstinados, os maus, tem, mais cedo ou mais tarde, de curvar-se diante dos ativistas do
Magbit.
A atividade sionista propriamente dita, no sentido político-partidário, é
concentrada na Organização Sionista Unificada, que conta cerca de dois mil associados,
formando a base pessoal da organização. Da direção participam ainda representantes dos
partidos sionistas, convertendo assim a Unificada em uma espécie de parlamento sionista. É
interessante lembrar que na chefia dessa organização popular politizada, cheia de judeus
poloneses, lituanos, húngaros e poloneses, acham-se israelitas italianos, que, por sinal,
conhecem bem a psicologia dos sionistas de língua ídiche.
O ídiche é ainda sempre a língua pública das reuniões em massa, embora
constantemente também apareça um orador em vernáculo, para atender à juventude; sem o
ídiche não se pode passar de modo algum. Na vida interna das instituições, o idish vive na
proporção do caráter popular da respectiva entidade. Devido à composição mosaica de
certas instituições, entidades centrais, onde se encontram representantes dos israelitas
sefaradis, árabes, húngaros e alemães, o orador em ídiche é somente compreendido depois
445
duma tradução, o que dificulta o curso das deliberações; em tais casos, alguns deixam de
falar em ídiche, embora a contragosto. Entretanto, cabe reconhecer que antagonismo contra
o ídiche, por príncipio, não existe em parte alguma.
Na vida cotidiana, o ídiche constitui a língua viva do comércio, do lar, sendo a
língua exclusiva entre os elementos da velha geração. Os filhos já são influenciados por
outras línguas, entretanto, mesmo esses jovens ainda entendem a fala dos pais. Entre os
israelitas das ruas judaicas só se ouve falar o ídiche. A grande imigração do pós-guerra
reforçou esse fenômeno. Também se ouve muito o hebraico, pelas ruas judaicas de São
Paulo, devido à reemigração de Israel.
Como todos sabem, os "iordim" [emigrantes de Israel] deram preferência à São
Paulo, e estes falam entre si em hebraico, mas também em ídiche. O jornal israelita local
tem uma tiragem de 5 mil números, e algumas centenas de israelitas são assinantes de
jornais ídiche da Argentina e da América do Norte, além disso, distribuem-se aqui os dois
jornais do Rio, em muitas centenas de exemplares.
A coletividade israelita de São Paulo, constante de cerca de 50 mil habitantes,
está organizada em várias associações, muitas vezes paralelas, como: Ezra-Linat Hatzedek;
Círculo-Hebraica; Wizo-Pioneiras; Comitê de Educação- Machon – Congresso de Cultura;
em certa forma também unificada – Federação; e as congregações? Todas essas
organizações se contam as dezenas. Uma exceção constitui o setor dos judeus alemães, que
se acham solidamente organizados numa única congregação, que satisfaz todas as
necessidades de seus associados: religiosas, culturais – em alemão e em português –
filantrópicas e recreativas. Os demais setores são divididos por vários e vários motivos.
Todos os estabelecimentos, grêmios, organizações e associações conterrâneas
("landsmanschaftn") formam a Federação das Entidades Israelitas do Estado de São Paulo,
a qual representa a coletividade perante o exterior, regula e distribui os subsídios da
Magbit, para as instituições filantrópicas e estabelecimentos de ensino; estes através do
Comitê de Educação; que também é filiado à Federação. A Federação não se constitui por
eleições gerais diretas como em Buenos Aires e Montevidéu, senão por delegados enviados
pelas entidades federadas. Este sistema dá margem a influências pessoais. Aqui domina a
Congregação dos israelitas alemães, a qual, embora sendo numericamente muito menor em
confronto com os israelitas de fala ídiche, é, entretanto, devido a sua organização
monoliticamente fechada, fator decisivo, freqüentemente ditatorial; nenhuma resolução será
aprovada, se a Congregação for contra ela...
Presentemente, começo de 1958, processa-se um movimento de organizar uma
Kehila Ashkenazit, a exemplo da Congregação. Com isso talvez se implante melhor ordem
nas inúmeras instituições de atividades filantrópicas, culturais e religiosas dos israelitas de
língua ídiche. A “Congregação” conta com quatro mil associados, a Kehila Ashkenazit
pode reunir quatro, cinco vezes tanto.
Reflexo da fragmentação dos judeus falantes em ídiche é a falta duma
biblioteca central, como a que a Congregação possui, em alemão, naturalmente. Quase toda
agremiação, associação de conterrâneos, ou partido possui coleções de livros; entretanto,
um conferencista ou professor acham-se freqüentemente em situação embaraçosa, por falta
dum manual em ídiche, ou hebraico. Das variadas coleções de livros bem se podia
organizar uma rica biblioteca, digna duma cidade como esta. A Congregação Ashkenasi
446
promete fazer algo neste sentido também.
Como todos sabem, a Federação das Entidades Israelitas é uma instituição
representativa e mediadora, instituição de arbitragem, sendo que ela mesmo não cria e não
constrói, segundo a própria natureza de sua estrutura. As suas iniciativas em diversos
campos são de caráter esporádico.
Grandes organizações de massas, com milhares de associados, constituem as
agremiações filantrópicas, quais sejam a Linat-Hazedek, a Ezra, a Organização Feminina;
parece que a entidade mais compacta é o Banco Israelita do Bom Retiro, a antiga Lai-Spar
Kasse, que, duma reduzida caixa de auxílio pecuniário, se desenvolveu numa poderosa
cooperativa de crédito popular, instalada em imponente sede própria, com cerca de cinco
mil membros e clientes, cujas transações anuais montam em centenas de milhões. Outra
instituição movimentada e atraente é a “Hebraica”, que se acha agora na primavera de sua
existência. Com seu esplêndido bloco de edifícios modernos e ensolarados, de esporte e
recreação é o campo de recreio preferido das famílias israelitas, que, nos domingos e dias
feriados, ali encontram várias formas de entretenimento, para crianças e adultos, até para os
velhinhos e velhinhas...
3 – A Vida Religiosa
Fora do Cemitério Israelita, a vida religiosa não é disciplinada. Cada círculo e
grupo de israelitas tem à sua livre disposição o serviço de um dos muitos rabinos da cidade,
com exceção aos uniformizados israelitas alemães, que possuem seu rabino exclusivo. É
uma pena não existir aqui um rabinato, ou coisa semelhante, para assumir a
responsabilidade coletiva pelos deveres religiosos, por parte das diversas instituições
particulares ou sociais. Casamentos, fabricação de pães ázimos (mazot) e vinho pascoal,
piscina de abluções (mikvá) – tudo é controlado por todos... Embora existam várias
associações religiosas, com sinagogas próprias, muitas vezes em magníficos prédios, até
hoje, não é costume que tal entidade convide um rabino próprio, conceda-lhe honorário
decente e assuma a responsabilidade pelas coisas da religião. Talvez o façam as
comunidades húngaras e sefaradis, além da congregação alemã, naturalmente. Nas demais
sinagogas e casas de orações, não se encontra rabino em tais condições.
Dum modo geral, o judeu paulistano é tradicionalista e também religioso;
muitos até são piedosos. Nos Dias Solenes (Iamim Noraim) transforma-se completamente a
fisionomia das ruas judaicas. Todas as casas de comércio e fábricas são fechadas,
acontecendo também que um estabelecimento cristão nas ruas judaicas cerre as portas, por
solidariedade, ou para agradar seu cliente judeu. Aos Iamim Noraim, todas as sinagogas e
templos, todas as casas de preces e de “minianim” improvisados estão repletos. As grandes
sinagogas mandam vir de Buenos Aires ou Nova York cantores de renome. Em São Paulo
mesmo também se acham bons e talentosos oficiantes, que são muito disputados no Iamim
Noraim. Nos lares particulares, reina a tradição concernente ao acender das velas sabáticas,
aos festejos das datas de maioridade religiosa (Bar-Mitzvá) bem como, naturalmente, aos
casamentos religiosos, embora não seja lei obrigatória, por parte do governo. Uma nuance
interessante, no sentido de vestes e usos tradicionais, trouxeram os recém-imigrados judeus
húngaros, que, ao lado dos já aqui radicados, representam a camada mais piedosa da
coletividade israelita de São Paulo.
4 – O Ensino Judaico
447
Cerca de duas mil crianças freqüentam as escolas israelitas de São Paulo. Isto
importa em apenas vinte por cento de todas as crianças israelitas de idade escolar. Se,
porém, desdobrarmos esse número segundo os bairros, teremos um quadro bem diferente.
Nas zonas densamente povoadas de israelitas – Bom Retiro e Braz – pelo menos sessenta
por cento de crianças freqüentam a escola israelita. Lá, onde o número de habitantes judeus
é pequeno e a escola é longe, a criança, naturalmente, não pode tão facilmente chegar à
escola, e poucos são os pais que estejam em condições de pagar um táxi, e além do mais
não querem ariscar a criança ao tráfego duma grande cidade.
As primeiras escolas foram fundadas por professores pioneiros, ao lado de
poucos pais, que se empenhavam em dar aos filhos educação israelita. Salientamos o fato,
porque, em alguns países sulamericanos, foram os partidos que o fizeram, segundo a
tradição européia. Até hoje, o ensino local acha-se à margem da vida partidária, exceto os
esquerdistas que possuem o seu estabelecimento de ensino e talvez ainda os círculos
extremamente ortodoxos, que não são adeptos dum partido, mas sim dum sistema.
Entretanto, trava-se em tôrno do ensino uma constante luta de programas e objetivos
pedagógicos, estruturais e financeiros.
As dificuldades específicas da escola israelita consistem em que a criança
estuda três horas por dia a mais que seu colega cristão, fato que desperta nela uma antipatia
contra a escola, bem o contrário daquilo que o ensino pretende atingir... Nas condições
locais de clima e ambiente, de tráfego desorganizado e perigoso, é uma manifesta injustiça
para com a criança, que se sente vítima dos caprichos do pai e da mãe. Por outro lado,
causa isso muitas dificuldades pedagógicas: como, quanto e o que ensinar.
Toda a rede escolar é filiada no Comitê de Educação, que constitui secção da
mencionada Federação. O Comitê de Educação subsidia cada estabelecimento com somas
consideráveis, tomando por chave o número de alunos. Os recursos para isso o comitê
recebe da Magbit, que deve conceder no mínimo 6% de sua receita bruta em prol do ensino.
Além das escolas, há diversos cursos de hebraico e história. Até há pouco esses
cursos não eram sistemáticos, ora funcionavam na Unificada, ora nas organizações juvenis.
Dum ano pra cá, funciona o Instituto de Cultura Hebraica, estabelecimento organizado em
bases sólidas, com amplo auxílio da Agência, que enviou seu delegado, lente
experimentado e bom organizador. O Instituto logrou atrair para os estudos vastos círculos,
principalmente da juventude, que freqüentam sistematicamente as aulas. Além do hebraico
e história, ensina-se também filosofia judaica, conhecimentos de Israel, Talmud e literatura,
figurando ainda no programa o ensino do ídiche.
O aspecto espiritual do ishuv paulistano não pode ser narrado, sem mencionar a
imprensa, o teatro israelita, as criações literárias. Estes, porém, são vastos campos que
requerem estudo especial. Sobre a imprensa, há um extenso trabalho de Isaac Raizman.
Algo sobre a literatura há na coletânea “Nossa Contribuição”, editada no Rio em 1956, e
nas “Iwo-Shriften” da Argentina, terceiro volume, de 1945. A respeito de elementos
portugueses no ídiche, existe um trabalho nos “Iwo-Bleter” de Nova York, novembro 1941.
Em resumo:
Várias forças organizadoras e tendências invisíveis lutam entre si para formar o
aspecto espiritual de toda a coletividade israelita do Brasil; para apor o próprio selo, tanto à
vida social como ao estilo da vida cotidiana. Do outro lado, vem aparecendo a geração
448
nova, com seus passos ainda discretos e titubeantes, com sua firmeza de caráter, altiva e
convencida. Por enquanto, este futuro herdeiro representa uma esfinge, um enigma, não se
sabendo onde se situará no meio dessas variadas correntes, como se formará no meio dessa
luta de línguas e modos de vida, que se processa no seio da geração velha, e qual será a sua
contribuição própria.
Até certo ponto, o Brasil representa um “Kibutz Galuiot” (junção das
dispersões), com todos os característicos problemas de formação e modelação. De qualquer
modo, é cedo ainda para se falar em um uniforme estilo brasileiro de vida israelita.
449
42.3 Quarenta anos de imprensa judaica no Brasil (1915-1955)
I. Raizman Para a história da imprensa, do jornalismo e do movimento social judaico no
Brasil.
Para podermos avaliar, em sua plenitude, o que representam os quarenta anos
de imprensa israelita no Brasil, é mister, antes de mais nada, conhecermos o seu fundo
social-político; a história da imprensa judaica no Brasil, está intimamente ligada à história
da formação da coletividade israelita, em geral.
Imigração nova, propriamente dita, não vinha para o Brasil, em 1915, quando
se iniciou a publicação do primeiro jornal judaico, em Porto Alegre. Aconteceu, porém, que
da coletividade israelita mais antiga da vizinha Argentina bem como do reduzido “ishuv”
do Uruguai, deslocara-se certo número de imigrantes, que, por vários motivos locais se
afastavam e rumavam para o norte. Seu trajeto emigratório ia através do Brasil e, em
primeiro lugar, pela cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, o
Estado brasileiro mais próximo das fronteiras da Argentina e Uruguai.
Não faltavam, é verdade, entre esses emigrantes aventureiros e tipos de toda
espécie, mas freqüentemente a correnteza também arrebatava pessoas de bem, homens do
trabalho, decididos a abandonar a América do Sul, com o propósito de se dirigirem, por
etapas, para o norte, tratando de ganhar, em cada lugar, as despesas de viagem para o
próximo ponto. Houve igualmente os que após permanecerem um tempo na Argentina
resolveram tentar a sorte no Brasil. Entre os que, naquela época vieram para o Brasil,
encontravam-se, em especial em Porto Alegre, alguns que tinham, na Argentina tomado
parte na luta do “Poalei Sion”, sob a chefia do falecido Leão Chazanovitch, contra a ICA e,
mais tarde, contra os “tmeim” (nome genérico, dado para designar aqueles que de alguma
forma estavam ligados ao tráfico de mulheres). Esses poalei- sionistas trouxeram consigo
uma experiência de militância a par do anseio por uma vida cultural-social.
Em virtude do mau trato que os funcionários da ICA davam aos colonos, e
ainda por motivo de os novos agricultores, judeus citadinos da Lituânia, não poderem
adaptar-se à vida rústica e árdua dos sertões brasileiros, os israelitas portoalegrenses foram
adquirindo novos emigrantes por parte dos que abandonavam as colônias agrícolas.
Primeiro, vieram os mais jovens, e logo que estes adquiriram a prática no
comércio ambulante, arranjando, de algum modo, a sua vida, mandaram buscar os mais
idosos da família. Desta forma, o antigo “ishuv” de Porto Alegre foi-se, aos poucos
enriquecendo de elementos há pouco tempo chegado da Lituânia e que, vivendo nas
colônias, conservavam o interesse pela palavra impressa, assim como pela vida cultural-
social, em geral.
Naquela época, os mascates constavam quase somente de judeus europeus. Os
sefarditas, ou judeus orientais, os quais haviam prosperado por esse tipo de negócio,
forneciam-lhes mercadoria a crédito, ajudando-lhes a se radicarem na cidade.
450
Na “clientela”, ou comércio ambulante, é comum que o comerciante, antes de
se dar conta de sua situação real, já dê asas à fantasia de riqueza. O “clientelchik”, depois
de trabalhar alguns meses com o pacote pelas ruas e arranjar certo número de fregueses
assíduos, que lhe devam globalmente uma considerável importância, já se considera bem
arranjado; emprega “batedores”(clappers), para lhe venderem a mercadoria, enquanto que
ele próprio, só vai inspecionar os clientes, para verificar se a mercadoria fôra entregue em
boas mãos, e cobrar as prestações mensais ou semanais.
Um indivíduo nessas condições já dispõe de bastante tempo para passar,
diariamente, algumas horas nos cafés e, no fim do mês, nada tem a fazer, pois a freguesia
anda então com falta de numerário. Surgiu assim um grupo de homens que foi se
interessando pelas coisas da coletividade e traçar planos para organizar uma sociedade
israelita. Justamente naquela época, aportavam novos imigrantes, que necessitavam de
amparo. Foi preciso coletar dinheiro, arranjar para os recém-vindos moradia e trabalho.
Deste modo, formou-se no “ishuv” portoalegrense a primeira instituição beneficente,
denominada “União Israelita”.
Naquele tempo, também, já vieram morar na cidade, moços cultos, alguns da
Lituânia, antigos colonos. Estes promoviam homenagens em comemoração aos escritores
judeus, ou simplesmente serões literários, que sempre findavam com danças. A juventude
freqüentava essas reuniões, toleradas sempre pelos mais piedosos pais, pois toda atividade
social girava em torno do delicado problema dos casamentos mistos, que já então sucediam,
de vez em quando. Foi assim que, mais tarde, também surgiu a “Liga Cultural”.
O PRIMEIRO JORNAL ISRAELITA EM PORTO ALEGRE
O primeiro jornal israelita, semanário, que apareceu, sob a redação do
engenheiro Iosef Halevi, denominava-se “Di Menscheit” (A Humanidade). O primeiro
número saiu em 1 de dezembro, de 1915. Oficialmente, figurava Iosef Halevi no cabeçalho,
como redator do jornal e editor da “Idische Zeitung Guezelschaft” ou seja “Sociedade
Jornal Israelita”. Halevi preenchia, quase sozinho, as quatro páginas, formato-jornal, do
semanário, com artigos sob seu nome, bem como sob pseudônimos: Isch Halevi e Ben-
Isroel. Publicava também correspondências de várias procedências, como sejam do Rio de
Janeiro (Nathan Becker), Quatro Irmãos, e colônias agrícolas da ICA, de autoria de Marcos
Frankenthal; Santa Maria; Melech Reicher (pseudônimo: Lemech) e Porto Alegre, Tuvia
Krasne (Krasnekuzki). No serviço técnico cooperaram os jovens Bernardo Goldenberg e
Jacob Becker. Este, juntamente com Halevi, compunham o jornal à mão e levavam as
páginas compostas a uma tipografia, para serem impressas.
Saíram seis números do “Di Menscheit”. No número seis, estava estampado um
aviso, dizendo que futuramente o periódico se publicaria de duas em duas semanas, mas
com esse número “Di Menscheit” deixou de existir. Na opinião de alguns colaboradores
daquela época, o motivo da extinção do jornal era político: Halevi era adversário das
potências centrais e escrevia artigos inflamados contra eles, ao passo que a maioria dos
judeus que se julgavam com o direito de dar uma opinião sobre a orientação do periódico,
simpatizavam com as potências centrais. E como Halevi não fosse habituado a harmonizar
com as pessoas e, na qualidade de “masquil” (intelectual) não tivesse em alta conta o grau
451
de inteligência dos seus donos, fechou a semanário, na esperança de fundar um novo jornal,
que não dependesse de tantos proprietários. Não lhe foi, porém, tão fácil realizar seu
intento.
DI IDISCHE ZUKUNFT. - A 15 de janeiro, de 1920, surgiu um novo
periódico, mensário, intitulado “Di Idische Zukunft”, sob a redação de Halevi. Mais de dois
números Halevi não conseguiu editar, e então desapareceu de Porto Alegre. A caixa com os
caracteres judaicos ficou no local da “Kultur Ligue” (Liga “Cultura”), cuja sede era então
no edifício do Centro Israelita.
“DOS NAIE VORT” E A FUNDAÇÃO DO PARTIDO POALEI SION.
Não foi por mero capricho dos editores-proprietários que o semanário israelita
do Rio de Janeiro começou a atrair novos colaboradores e passou, mais tarde, a sair duas
vezes por semana, sob o nome de Imprensa Israelita Brasileira (Brazilianer Idische Presse);
foi antes uma conseqüência cada vez mais crescente de diferenciação na vida judaica. Os
novos imigrantes trouxeram consigo ideologias claras e nítidas, de sorte que os antigos
líderes da sociedade, os quais com muito sacrifício haviam lançado a pedra fundamental
duma honrada sociedade israelita, não podiam perceber a razão por que os novos os
olhavam com tanta azedume, não dando importância a seus conceitos. - Todos os antigos
líderes sociais e culturais, cujo grau de cultura e esclarecimento eram limitados, tanto medo
nutriam pelas idéias novas que chegaram a julgar o “Poalei Sion” (da direita), que então se
fundou em Porto Alegre e, em seguida, em outros centros judaicos, quase como
comunistas.
De comunistas, os dirigentes sociais e culturais inclusive os líderes sionistas
oficiais - taxaram levianamente todo e qualquer adversário ideológico, que quisesse tomar
parte na vida social. Para eles isso constituía uma repetição daqueles tempos, em que se
qualificava de “tome” (rufião), todo sujeito desonesto que pretendesse ingressar, à força, na
honrada sociedade. Era o método antigo de querer conservar a qualquer preço, a integridade
social, ameaçada - a seu ver - de ser destruída pelos adventícios.
O partido “Poalei Sion” foi oficialmente fundado, em Porto Alegre, no
princípio do ano de 1927, e em maio do mesmo ano foi, pela primeira vez na história da
coletividade judaica do Brasil lançado em ídiche, por ocasião do dia primeiro de maio, um
manifesto referente à data, por um partido socialista judaico. A proclamação foi composta e
impressa na tipografia do senhor Kuzminski, que havia recentemente chegado a Porto
Alegre, trazendo de alguns tipos hebraicos.
A diferenciação da coletividade judaica de Porto Alegre deu-se na luta pela
questão de introduzir o ensino da língua ídiche na escola local. Por espaço de alguns anos,
os sionistas gerais vinham dirigindo a escola, onde se aprendia somente a língua hebraica,
enquanto que os pais mais progressistas exigiam também o ensino do ídiche.
A oposição vence, por um tempo, a luta. O professor Jacob Feiguelerent
(hebraísta) parte da cidade e, no seu lugar é convidado da Argentina o autor destas linhas, o
qual aceita o posto, com o consentimento dos pais e da diretoria, para implantar no ensino
escolar a língua ídiche, igualmente à hebraica. Após um ano de ensino das duas línguas, os
452
hebraístas renovam a luta contra a escola, contra a diretoria e o professor, protestando que
estes estão dando ao ensino uma diretriz esquerdista. Há também nessa refrega muita coisa
de ídiche que não podem os hebraístas eliminar; fundam-se em caráter pessoal, mas, com o
firme propósito de ensinar, duas escolas: uma idichista “Escola Borochov” e outra
hebraísta. A escola idichista é dirigida pelos “chaverim” do “`Poalei Sion”.
O partido Poalei Sion, cujo escritório central se achava em Porto Alegre,
começou então editar um periódico mensal “Dos Naie Vort”. Adquirem-se para esse fim
tipos na Argentina, visto que o proprietário da tipografia judaica, Kusminski, já tinha então
deixado Porto Alegre. Essa publicação começa a sair em 1927, como “Revista Mensal para
Literatura e Problemas Sociais”, sob a direção do autor destas linhas e a administração de
Samuel Spiguel. Apareceram 6 números, o último, em dezembro do mesmo ano. As
atividades do Bureau Central são em seguida transferidas para o Rio de Janeiro.
IMPRENSA ISRAELITA DE PORTO ALEGRE. - Somente por volta de 7
anos depois, tenta-se novamente editar uma publicação israelita, em Porto Alegre. O jornal
intitulado, “Porto Alegre Idische Presse” aparecia durante 10 meses aproximadamente; em
formato comum de 8 páginas. No cabeçalho lemos: “Semanário Nacional Imparcial do Rio
Grande do Sul (nome do Estado cuja capital é Porto Alegre), aparece às sextas-feiras,
editado por um Colégio Redacional, Proprietário: L. Zibenberg”.
O número que temos a nossa frente, não tem data. Diz apenas: número 40, ano
II. Mas, pela informação que obtivemos do senhor Jaime Zitman, então professor da escola
local, era ele quem praticamente fazia aquele jornal, até a data, em que se mudara para São
Paulo. O número 40 foi o último da Imprensa Israelita Porto Alegrense, e, conforme
podemos observar pelo relatório do Jubileu da União dos Israelitas Poloneses, estampado
nesse número, ele saiu à luz, nos primeiros dias de julho de 1935. Daí se poder inferir que o
jornal começou a sair em setembro de 1934.
RIO DE JANEIRO
DOS IDISCHE VOCHENBLAT, ou Semanário Israelita. - Em 1923, (a 15 de
novembro - dia da Proclamação da República), sai à luz, no Rio de Janeiro o primeiro
número do “DOS IDISCHE VOCHENBLAT”. Os fundadores do primeiro semanário
israelita da Capital do Brasil eram os senhores: Salomão Guelman, Marcos Kaufman, Jacob
Shenkman, Jacob Letichevski, Aron Kaufman e Adolfo Kischinovski.
Após a primeira guerra mundial começaram a chegar imigrantes para o Brasil, e
este elemento imigratório foi-se, aos poucos selecionando:
Os artífices - muitos entre eles vieram juntar-se às suas famílias - foram para
São Paulo, cidade industrial, onde já então havia procura de mãos obreiras. Os imigrantes
sem ofício - a maior parte intelectuais - ficaram no Rio, onde a maioria dos judeus locais
dedicavam-se ao comércio ambulante (clientela), e onde havia facilidade em arranjar
trabalho como “clapers” (vendedores ambulantes).
Os fundadores do Semanário Israelita pertenciam, aliás, aos antigos moradores,
vindos ainda antes da guerra. Foram eles que fundaram a biblioteca “Scholem Aleichem”;
453
fundaram as primeiras sociedades, segregando-se dos “tmeim” e seus amigos; criaram os
primeiros “minionim” (quorum de dez homens) para os serviços religiosos.
Para eles - os antigos moradores - a fundação do Semanário Israelita constituía
a realização dum antigo sonho.
Os fundadores encaravam sua iniciativa com certa missão. Tanto assim que
arranjavam os recursos para fundar e manter uma publicação israelita, sem ambição de ver
seu nome impresso para redigir o jornal convidando profissionais da pena.. Mesmo Adolfo
Kischinowski, que já então era portador de alguns manuscritos próprios foi o primeiro
escritor israelita do Brasil; publicou posteriormente um volume de contos da vida judaica
no país: “Naie Heimen”, ou Novos Lares, (Nilópolis, Rio de Janeiro, 1932), não nutria
naquela época ambições de tornar-se redator da primeira publicação do “ishuv” judaico.
Foram convidados como redatores: Jacob Nachbin, que então residia em
Pernambuco e se dedicava aos estudos históricos sobre os cristãos novos e publicou mais
tarde “O Último dos Grandes Zacutos”, Paris, 1929, e Iosl Katz, irmão de Pinie Katz,
redator de “A Imprensa”, de Buenos Aires que então exercia o cargo de secretário da
Federação Sionista.
Katz logo deixou a redação, e, pouco mais tarde, Nachbin também. Dizia-se que
Nachbin discordava da orientação ideológica do jornal, mas, segundo conseguimos apurar,
Nachbin abandonou o semanário, porque os donos da publicação não podiam harmonizar
com ele.
A redação e administração da primeira publicação semanal do Rio, ficavam
num quarto do primeiro pavimento duma casa familiar (Rua Visconde de Itaúna, 120) e
imprimia-se na tipografia de Ben Zion Schreiber e Haim Kendler (ambos palestinenses), à
rua Santana, 40, naquele tempo o bairro judaico do Rio de Janeiro. Compunha-se à mão e
estampava-se numa imprensa simples, que só podia imprimir duma só vez 4 páginas, de
formato comum,. Aparecia o semanário em 8, e, às vezes, em 12 páginas.
Aos poucos, foram os fundadores se cansando de perder dinheiro, ou procurar contribuintes
para auxiliar-lhes cobrir o déficit, e retiraram-se do jornal. O único a não desanimar, vendo
um futuro na publicação, foi Aron Kaufman. Durante muito tempo, sustentava ele sozinho
o Dos Idische Vochenblat. Em seguida, fez sociedade com os proprietários da tipografia e
continuou editando o semanário (posteriormente sob a denominação de BRAZILIANER
IDISCHE PRESSE, ou Imprensa Israelita Brasileira).
Aron Kaufman provinha de Odessa, onde exercia o ofício de ourives e era tido como
artífice culto. Tornou-se diretor oficial do Dos Idische Vochenblat, e como redator
empregou o jovem S. Karakuschanski, que tinha vindo da Argentina, onde ocupava o cargo
de professor, para juntar-se a seu irmão no Rio de Janeiro.
Como colaboradores efetivos figuravam: Eduardo Horowitz que estivera na América do
Norte. Horowitz escrevia muito bem sobre palpitantes temas judaicos (na maior parte
sionistas ou nacionais); Nathan Jaffe, que, de início, enviara interessantes correspondências
de Pernambuco e mais tarde, quando se mudou para o Rio, tomava parte na redação;
454
Nathan Becker, que escrevia bons comentários humorísticos sobre temas locais; fábulas,
Haim Rosen e poesias S. Karakuschanski.
Como correspondentes efetivos do interior figuravam: S. Teitelroit, de Santa Maria; M.
Reicher, de Cruz Alta; Menasche Fucks, da Bahia e Bernardo Schulman, de Curitiba.
Chegou posteriormente da Bessarábia Menasche Halpern, que já havia estreado na Rússia,
publicando poesias em órgãos literários, ao lado de Daniel Tcharni e outros; aqui renovou
seu antigo pseudônimo - Naschani. Por último, veio da Polônia o secretário do Comitê
Central do Poalei Sion, Aron Bergman, que abordava temas de política internacional. E
como a redação - ou seu redator Aron Kaufman - pretendesse manter no jornal uma linha
neutra, inter-partidária, também se cedia, de vez em quando, espaço aos poucos líderes
esquerdistas, como Aron Schenker, Haim Tischler e outros. De um modo geral, a
publicação dava a impressão dum jornal vivo, com rico e variado material de colaboradores
efetivos, embora ainda se utilizasse de recortes e reproduções de artigos de escritores de
renome, americanos e de outros países.
DOS IDISCHE VOCHENBLAT durou 4 anos como semanário. Durante esse período a
comunidade ia crescendo com novos imigrantes, educados na rica imprensa judaica da
Polônia, Lituânia e Bassarábia; florescia então o comércio de jornais israelitas estrangeiros,
que se exibiam à venda, até no local onde se encontrava o engraxate não judeu, juntamente
com opúsculos de sambas brasileiros. Por esse espaço de tempo, também se desenvolvera
consideravelmente o movimento social. Dum lado, crescia o movimento esquerdista, cujos
líderes planejavam apoderar-se das instituições culturais existentes,; por outro lado, tinha-se
grandemente expandido o movimento sionista. A organização sionista convidara então o
professor Albert Einstein a uma visita à América do Sul, ato que proporcionou muita honra
às coletividades judaicas da Argentina, Uruguai e Brasil.
BRASILIANER IDISCHE PRESSE, ou Imprensa Israelita Brasileira, apareceu em
fevereiro de 1927, como continuação do Dos Idische Vochenblat, no correr do número 169.
Aparentemente, foi modificado o nome, porque o jornal começava a sair duas vezes por
semana (às terças e às sextas), não podendo, mais por isso, levar o título de semanário. A
única alteração formal foi a de constar, no cabeçalho, o nome de S. Karakuschanski, como
redator adjunto
Tal como o Semanário, a Imprensa também continha artigos, contos, poesias e folhetins de
Menasche Halpern, (pseudônimo; Naschani), S. Karukuschanski, Eduardo Horowitz, Aron
Kaufman, Aron Bergman (pseudônimos: Ben-Nochum, Glin-Glon), M. Jacobovitz
(pseudônimo: Motele) e Nathan Becker. Além disso, enviavam suas correspondências do
interior, os antigos correspondentes do Semanário.
IDISCHE FOLKSZAITUNG, ou Jornal Popular Israelita. Por motivos de divergências
ideológicas, os Sionistas Gerais resolveram editar, no Rio de Janeiro, um grande jornal e,
para esse fim atraíram alguns jornalistas do Brazilianer Idische Presse.
O primeiro número do Idische Folkszeitung, que se publicava duas vezes por semana, às
quartas e aos sábados, apareceu em 20 de dezembro de 1927. Os editores eram: Eduardo
455
Horowitz, Jacob Schneider e Salomão Gorenstein; redator chefe: Eduardo Horowitz;
redatores de seções: S. Karakuschanski, Menasche Halpern e Aron Bergman.
Os editores empreenderam uma obra de vulto. Instalaram uma tipografia com máquinas
modernas, escritórios para os redatores e para a expedição, e uma seção especial para
depósito de livros. A empresa tinha em mira torna-se a distribuidora de literatura em
hebraico e em ídiche, bem como editar obras de escritores judaicos. Mandaram à Polônia
um funcionário seu, M. Ben Isroel, a fim de entabular relações com as casas locais e
conseguir deles a representação para o Brasil.
Embora houvessem, de início, fundado a empresa sobre base comercial, não pouparam
esforços para criar um grande jornal informativo (8-10 e às vezes, também 12 páginas de
formato comum), com noticiário da ITA e com vários colaboradores estrangeiros. As
figuras centrais da empresa eram: Jacob Schneider (cunhado de Eduardo Horowitz) e
Salomão Gorenstein, que investiram grandes capitais, mas quem dirigia praticamente a
sociedade era Eduardo Horowitz, a quem todos obedeciam.
Eduardo Horowitz escrevia os artigos de fundo, de tempos a tempos, também publicava um
artigo assinado, sobre tema local, Karakuschanski tinha a seu cargo o noticiário estrangeiro
e as notícias locais sobre as atividades culturais e sociais; Bergman abordava problemas
internacionais e, de quando em vez, também fazia um comentário humorístico (sob os
pseudônimos de Glin-Glon e Ben-Nochum); Manasche Halpern publicava contos e poesias,
usando para os versos o pseudônimo: Naschani.
Entre os colaboradores estrangeiros figuravam: Regalski (de Buenos Aires); Iarblum
(paris), Dr. Iuris (Eretz Israel), o engenheiro A. Reis e M. Neustat, todos eles próceres do
movimento mundial do “Poalei Sion”, atraídos para o jornal por Bergman.
Após terem, por espaço de alguns anos, investidos consideráveis somar para cobrir o
déficit da empresa, os editores afastaram-se do jornal, deixando tudo ns mãos de Eduardo
Horowitz. Este ainda ficou por algum tempo ligado ao jornal onde, de tempos a tempos,
escrevia artigos, assinados e não como membro da redação. Em seguida, porém, retirou-se
de todas as atividades sociais e também deixou de escrever.
O jornal ficou então na mão de S. Karakuschanski, que pagava aos donos certa prestação
mensal pelas máquinas. K. escrevia editoriais, notícias e artigos sobre temas locais,
publicava também contos, folhetins e poesias. Traduziu e publicou em continuações o
romance de Stefan Zweig “Maria Antonieta”.
Karakuschanski labutou arduamente para conseguir que o jornal se mantivesse por si
mesmo; teve, outrossim, de suportar muitos aborrecimentos por causa das leis editoriais,
que, naquela época, não faltavam no Brasil; entre elas, a que proibiam aos estrangeiros de
exercerem a função de redator de jornal e, posteriormente, o decreto que mandava
reproduzir em português todos os artigos do jornal.
À Karakuschanski deve-se conceder o seu merecido lugar na história do jornalismo judaico
no Brasil.
456
Durante alguns anos, Karakuschanski editava “Di Idische Folkszeitung” duas vezes por
semana, sem interrupção e, desde 1935, diariamente. Nos fins de 1940, o jornal celebrou o
décimo terceiro ano de sua existência, e alguns meses depois, foi fechado pelos poderes
públicos, quando proibiram jornais em idiomas estrangeiros.
DI IDISCHE PRESSE, ou Imprensa Israelita. Depois de afastado do Jornal Israelita,
Bergman fez sociedade com um dos primeiros editores do Brasilianer Idische Presse, Ben
Zion Schreiber, e iniciou editar o Idische Presse. B. atraiu para a empresa alguns
particulares, entre eles o membro do “Poalei Sion”, Artur Vainer, e o Di Idische Presse
começou a ser publicado no mesmo endereço, na mesma tipográfia, e nas máquinas do
mesmo jornal que havia antes tão violentamente combatido.
O primeiro número da Imprensa Israelita apareceu em 19 de junho, de 1930, como
semanário; depois dum mês, começou a sair duas vezes por semana, tal como o “Di Idische
Folkszeitung”, às quartas e aos sábados; em seguida, foi transformado em jornal diário, o
primeiro diário israelita no Brasil. “Di Idiche Presse” como diário, apareceu durante 9
meses, (de 19 de agosto, de 1930, a 25 de maio de 1931) e depois fechou-se por falta de
recursos.
Bergman passou então para a tipografia de Iancks, e com os próprios recursos começou a
editar o mesmo jornal, como semanário. O semanário “Di Idische Presse” aparecia, desde 3
de junho, de 1931, quase toda semana, até que foi fechado pelo governo, quando se proibiu
a publicação de jornais em línguas estrangeiras.
Levantada a interdição contra os jornais estrangeiros, em 1947, surge “Di Idische Presse”
novamente. Agruparam-se, ultimamente, em torno desse jornal todos os jornalistas e
ativistas sociais do país. Alguns dos colaboradores locais são refugiados, jornalistas judeus
que se salvaram do inferno europeu, para o Brasil. “Di Idische Presse” também constitui,
hoje em dia, o lar espiritual dos verdadeiros jornalistas e intelectuais israelitas do Brasil.
COLABORADORES SOCIAIS DOS JORNAIS
Tanto a “Imprensa Israelita Brasileira”, como anteriormente o “Semanário Israelita”,
publicavam, de tempos a tempos, artigos de vários ativistas sociais e culturais,
principalmente das organizações esquerdistas; artigos em que dum modo geral, não se
encontrava nenhuma proposição logicamente escrita e nem sinais de regras de sintaxe.
Esses artigos de “prestigiosos” ativistas, que tinham de ser publicados, eram elaborados
pela redação. Não raro, perdia-se, com isso, tudo que o “autor” escrevia, fora seu nome.
Cada ativista, cujo nome havia uma vez aparecido sobre o título dum artigo, começou a
julgar-se jornalista, com pretensões de ver publicados seguidamente seus trabalhos. Foi, sob
o pretexto de “jornalistas” impedidos de expressar suas idéias, que alguns elementos da
esquerda tiveram a iniciativa de fundar um jornal próprio.
DER ONHEIB (O Começo) - Por mais alto que considerassem a sua qualidade de
jornalistas, sempre entendiam que não podiam passar sem redator para “rever” seus artigos.
Tal candidato apareceu na pessoa do engenheiro Ruben Zinguer.
457
Zinguer trabalhava em uma das colônias agrícolas da ICA, e num belo dia, abandonou suas
experiências de avicultura e veio para o Rio.
Inicialmente, Zinguer trabalhou na Imprensa Israelita Brasileira, que lhe deu boa acolhida,
dedicando-lhe especialmente uma nota bio-bibliográfica, como jornalista; mais tarde,
porém, passou-se para a esquerda, e nos fins de 1929, tornou-se redator do semanário
esquerdista DER ONHEIB. Já nos primeiros meses de 1930, houve desentendimento entre
os membros do colégio redacional, tendo alguns dos litigiantes registrado o nome do jornal
como sua propriedade, entregando a redação a um jornalista bassarabiano da esquerda,
Motel Gleiser (pseudônimo: Motel Idish). Depois de algumas semanas, o Onheib expirou,
não obstante a sua nova direção.
DI KRAFT, ou A Força.
Depois que o Onheib se fechou, um dos seus administradores Iankel Fucks comprou uma
tipografia e começou sozinho a editar um jornal, denominado DI KRAFT. Embora se
houvesse arregimentado em torno da publicação todos os elementos antigos dentre os
mencionados ativistas sociais, o jornal passou a ser propriedade particular de Iankel Fucks.
Para redigir o jornal, Fucks empregou um jovem alfaiate por ofício, de nome Abraham
Valdman, o qual era anteriormente muito ativo nas fileiras do Poalei Sion, da esquerda.
Valdman redigia o Di Kraft nada mal, e o jornal saiu por um tempo prolongado, como
semanário, de formato comum, em 4 e, às vezes, em 6 páginas.
MIR UN ZEI, ou Nós e Eles.
O Dr. Moisés Rabinovitch era um tipo especial. Judeu russo, advogado de profissão, era
casado com uma senhora da família do rabino Isaias Rafalovitch, representante da ICA no
Brasil. O Dr. Rafalovitch propôs-se então a organizar no país a comunidade israelita
Kehila, enquanto isso, se intitulava Grã-Rabino. Os elementos progressistas do “ischuv”
combatiam a idéia de uma Kehila, sob a direção dum representante da ICA. Moisés
Rabinovitch, que tinha suas contas particulares com o Dr. Raffalovich, resolveu fundar um
“partido judaico popular radical”, e para esse fim, começou a editar um mensário, em
ídiche e em português, intitulado MIR UN ZEI.
O primeiro número dessa publicação mensal apareceu em dezembro de 1930. No cabeçalho
lemos: “Publicação mensal, em português e em ídiche, órgão independente, para uma maior
e melhor sociedade judaica no Brasil”. Como membros do colégio redacional são
mencionados: Dr. Magalhães, Dra. Riva Dantas e Dr. Moisés Rabinovitch. A parte em
ídiche era praticamente redigida pelo já mencionado Motel Gleiser, que anteriormente
viajava pelo país, nos interesses do Der Onheib.
MIR UN ZEI apareceu apenas uma vez e, consequentemente , desfez-se o plano de fundar
um “partido judaico radical popular”.
Com isso, encerrou-se praticamente também no Rio de Janeiro a tendência de publicar
periódicos. Estabilizou-se o grande e rico jornal “Idische Folkszeitung” como órgão da
coletividade judaica no Brasil.
458
PUBLICAÇÕES JUDAICAS EM SÃO PAULO
Ao contrário do Rio de Janeiro, os israelitas de São Paulo eram na maior parte vinculados à
indústria, fato que influenciou indubitavelmente a sua atividade social, bem como as suas
possibilidades de prosperidade. Tanto assim, que naquela cidade, cada judeu tentara logo
abandonar o comércio de “clientela”, para instalar uma fabricazinha qualquer. Explica-se
assim o fato por que o recém-vindo imigrante, de ofício na mão, não ficava no Rio, senão
que ia para São Paulo. Alguns vieram diretamente àquela cidade para juntarem-se a seus
amigos, que já se haviam ali estabelecido com pequenas fábricas, próprias ou alugadas, de
roupas feitas, camisas, sapatos e móveis. Nessas fábricas, os novos imigrantes, que tinham
alguma profissão, logo adquiriram trabalho.
HANDELS BIULETIN, ou Boletim Comercial e Social Israelita.
A primeira publicação judaica de São Paulo constava dum boletim de notícias sociais e de
anúncios. O boletim era redigido por um senhor M. Iarkoni, que figurava no cabeçalho
apenas como administrador. Apareceu por volta de agosto de 1928, e fechou-se em
fevereiro de 1929. Durante os 7 meses, aproximadamente, de sua existência, apareceram 27
números dessa publicação semanal.
DI IDISCHE VELT IN BRASIL, ou O Mundo Judaico no Brasil
Com este título bombástico, surgiu em São Paulo, o primeiro semanário judaico, de caráter
literário e social. No cabeçalho do primeiro número, que temos diante de nós, lemos: “O
Mundo Judaico no Brasil, diretor M. Frankental”. E’ datado: 28 de setembro, sem o ano, (!)
, porém saiu em 1928.
Como diretor oficial, figura no cabeçalho Marcos Frankental, mas quem redigia
praticamente o jornal era certo Josef Rinski, que estivera uma vez nos Estados Unidos,
onde teria sido funcionário dum sindicato e colaborador do jornal FORVERTS. Seu
auxiliar, ou único colaborador, era um senhor Iekutiel, que não era habitante de São Paulo,
provavelmente um dos boêmios errantes, que de tempos em tempos, apareciam no seio da
coletividade israelita. Escrevia versos e julgava-se grande poeta. Como editores, Frankental
conseguiu atrair os Srs. Moisés Costa e Jacob Nebel. Nebel tinha fama de intelectual judeu-
brasileiro e Costa era homem de posses e pessoa ativa no campo cultural.
O primeiro número do semanário saiu em 20 páginas, formato revista, com capa de papel
de qualidade, desenhada e com índice no centro. O redator de fato, Rinski, preenchia
sozinha o número inteiro.
“DI IDISCHE VELT” foi a primeira tentativa de editar em São Paulo um jornal israelita
sério, embora cheirasse bastante a provincialismo e o ídiche do redator não fosse lá grande
coisa.
Depois de seis números, também esta publicação desapareceu.
SANPAULER IDISCHE ZEITUNG, ou Jornal Israelita de São Paulo
459
A fundação deste jornal é, na realidade, uma nova tentativa de parte da proprietário da
tipografia de São Paulo, M. Frankental, em publicar um jornal, depois que o “Idische Velt”
tinha fracassado. Desta feita, fez sociedade com dois conceituados senhores da coletividade
judaica paulista: Elias Amstein e José Nadelman. Aquele era homem de posses, e este -
homem instruído e ativo na vida social.
Amstein era homem simples, mas muito estimado nos meios sociais daquele tempo, por sua
honradez e por sua atividade em várias instituições do “ishuv” - no jornal exercia a função
de administrador; Nadelman estiver muitos anos nos Estados Unidos, de onde partira para o
Brasil, no início da primeira guerra mundial, e casou-se com a filha duma das mais ricas
famílias israelitas de São Paulo. Era de fato o único entre os lideres sociais daquela época
que sabia bem o ídiche - tornou-se o redator. Quem tinha voz ativa na sociedade judaica
eram os bessarabianos, e entre estes Nadelman era tido como suprema autoridade em
assuntos israelitas. Foi o que impressionou a Frankental, pois com isso conquistou o apoio
de todos os elementos bessarabianos, ativos em várias organizações da coletividade para o
jornal que começou a aparecer, como semanário, a 22 de outubro, de 1931, e desde 1933,
saia duas vezes por semana. Em 1934 foi o autor destas linhas convidado por F. para redigir
o jornal e ele o transformou em publicação trisemanal (às terças, quintas e sábados). Os
antigos sócios, Amstein e Nadelman, já se haviam afastado do jornal.
O “SANPAULER IDISCHE ZEITUNG”, aparecia, nos dias de semana, em 6 páginas,
formato jornal comum e, aos sábados, em 8, e às vezes também em 10 páginas. A edição
ampliada de sábado tinha uma seção literária, onde se publicavam, poesias, contos, ensaios
de escritores judeus do Brasil e do estrangeiro. De um modo geral, era o jornal bem
apresentado.
Em 1936, o jornal passou a ser redigido por um jovem de nome Haneft, técnico dentário,
que não conseguiu arranjar a vida no Brasil, e que regressou em 1937 à Polônia. A redação
ficou então ao cargo do jovem acadêmico de direito, Salomão Steinberg. Colaborou
também periodicamente Nelson Vainer, jornalista judeu-brasileiro, procedente da
Bessarábia, o qual tinha outras ocupações e além disso escrevia artigos no vespertino
brasileiro Folha da Noite.
Em 1939, quando rebentou a guerra, começou F. a editar o jornal como diário em 4
páginas, e assim ‘DI SANPAULER IDISCHE ZEITUNG” aparecia diariamente, até a data
em que foi proibida, no Brasil, a publicação de jornais em línguas estrangeiras.
HASHAHAR surgiu em São Paulo, como mensário, sob a redação de Michel Zaltzman,
editado pela juventude revisionista “Berit Trumpeldor”. O primeiro número saiu a luz em
novembro de 1931. HASHAHAR publicava-se em ídiche, mas cada número continha
também um artigo ou um folhetim em hebraico, escritos pelo redator. Saíram vários
números, sendo o último datado de fevereiro, de 1932.
UNZER VORT, ou Nossa Palavra, apareceu em março, de 1934, editado pela Organização
Revisionista. No cabeçalho lemos: “publicação bisemanal , sai nos dias 10 e 25 de cada
mês”. Como administrador, figurava: Moisés Rapaport. O jornal era redigido pelos líderes
460
sionistas Michel Zaltzman e Z. Schahor. Os artigos eram, em parte, de colaboradores locais
e o resto constava de materias que recebiam de seus órgãos centrais do exterior.
UNZER VORT deixou de aparecer, no início de 1935, por falta de recursos monetários.
VELT SCHPIGUEL, ou Espelho do Mundo. Em junho, de 1939, surgiu em São Paulo o
primeiro número duma “Revista mensal de literatura, arte e problemas sociais”. Como
redator figurava o nome do Sr. A. Blai e como administrador I. Kutner. No começo de
1941, após ano e meio de aparecimento, a revista encerrou suas atividades. Sucedeu isso
antes ainda de se iniciarem no Brasil as discriminações contra a imprensa estrangeira. Ao
todo saíram 14 números.
DI ZEIT, ou O Tempo, 15 de agosto, de 1939, saiu o primeiro número desta revista:
“Periódico para literatura, teatro, crítica e sátira”. O redator de fato era M. Kopelman,
pessoa ativa do Clube da Juventude, de orientação esquerdista. Por motivos legais, o
redator oficial não era judeu, Edgar Barreira Matos, que figurava no cabeçalho como
diretor-proprietário. Posteriormente, quando foi necessário publicar uma tradução
portuguesa dos artigos, era ele quem o fazia.
DI ZEIT saia regularmente todos os meses, e continha artigos de escritores esquerdistas
levantando uma discussão sobre existência de uma literatura judaica no Brasil. Deixou de
aparecer (número 12, abril de 1941), quando foram interditadas as publicações estrangeiras.
O mencionado periódico foi praticamente o último a fechar-se por motivo de discriminação
contra a imprensa estrangeira no Brasil.
PUBLICAÇÕES JUDAICAS EM PORTUGUÊS
No Brasil, tal como em todos os países da América Central e do Sul, existem muitos
israelitas sefarditas, que desconhecem o ídiche e se utilizam em sua vida cotidiana do
vernáculo. Além disso, a maior parte dos intelectuais e da juventude israelitas são
consumidores de jornais na língua do país. Esse fato deu origem a algumas tentativas de
editar uma publicação judaica em português, mas por muito tempo todas essas tentativas
têm fracassado. E não é para menos, pois nossa juventude bem como a classe intelectual,
estão sendo devorados pela assimilação e se acham alienados do judaísmo e dos problemas
judaicos.
A COLUMNA. A primeira publicação judaica em português surgiu no Rio de Janeiro, em
1916 sob a redação do intelectual sefardita. Dr. David Perez. Debaixo do título em
português, havia também no cabeçalho o nome hebraico do jornal “Heamud” (em
caracteres hebraicos). Apareceram apenas alguns números dessa publicação e, infelizmente
não logramos conseguir nenhum exemplar; tampouco obtivemos as datas exatas de seu
aparecimento. O Dr. Perez só nos falou sobre o caráter geral do periódico.
Era um jornal nacional-judaico, de orientação baseada na cultura hebraica e no sionismo, e
que também teve o objetivo de zelar pelos interesses culturais dos judeus sefarditas do
Brasil. Mas, nem entre estes, o jornal obteve o suficiente apoio. O pequeno grupo de judeus
asquenazitas, então existente, não necessitava de uma publicação em vernáculo. Em tais
461
condições, o primeiro jornal israelita em língua portuguesa não durou muito, e desapareceu.
Na verdade o jornal durou dois anos, com o total de 24 números publicados.
ILUSTRAÇÃO ISRAELITA
Em agosto de 1928, começou a publicar-se, no Rio de Janeiro, esta revista mensal ilustrada;
a publicação era muito bem apresentada, trazendo sempre material bom e sério, sobre
assuntos judaicos. A capa era impressa em cores, contendo no centro a estrela de David,
ladeadas pelas bandeiras israelita e brasileira. Os redatores eram Adolfo Aisen e Elias
Davidovitch, então estudante de medicina. Colaborava também nessa revista efetivamente o
mencionado Dr. David Perez.
Da “Ilustração Israelita” saíram apenas 11 números, sendo o último um número duplo (11-
12) que apareceu em julho, de 1929. Em regra, o jornal saía em 28 páginas, mas o último, o
número duplo, tinha 36.
A CIVILIZAÇÃO
Esta publicação aparecia em São Paulo, durante os anos de 1933-1938, semanalmente. No
primeiro ano, figurava como redator oficial o catedrático em filologia, o prof. Silveiro
Bueno. Posteriormente, quem redigia o jornal era o próprio editor, Fernando Levisky. O
periódico saía em formato comum de jornal, em 4 e, freqüentemente, em 6 ou 8 páginas.
A NOTÍCIA
A partir de 19 de maio, de 1935, o Jornal Israelita de São Paulo, iniciou editar um
suplemento em português, que aparecia semanalmente em meio formato-jornal, em 4, e
mais tarde, em 8 páginas. O suplemento era redigido por Nachmani Frankental, filho do
editor, então acadêmico da Faculdade de Direito. No começo de 1936, deixou esta
publicação de aparecer.
PÁGINAS ISRAELITAS
Semelhante à mencionada “Ilustração Israelita”, surgiu em São Paulo, no começo de 1937,
uma revista mensal ilustrada, intitulada “Páginas Israelitas”, sob a redação de Nelson
Vainer. Após alguns meses de circulação, a revista encerrou suas atividades.
O “Círculo Israelita”, de São Paulo, editava um opúsculo mensal, denominado “A VOZ DO
CÍRCULO”. Saíram desta publicação 27 números. Deixou de aparecer, por motivo do
afastamento do presidente daquela agremiação, o qual tinha tipografia própria, e era o
redator de “A Voz do Círculo”.
Os judeus alemães, de São Paulo, organizados na Congregação Israelita Paulista, estão
editando uma publicação semanal, intitulada Crônica Israelita. Este semanário que, logo de
início, apareceu em língua portuguesa, não sofreu, consequentemente, as discriminações
contra a imprensa estrangeira. Os primeiros números ainda eram publicados em alemão.
“AONDE VAMOS?”
462
Em 1941, quando foram interditados os jornais em línguas estrangeiras, o governo não
concedia alvará de licença, nem para publicar um jornal em português, sob o pretexto
oficial de não se permitir, de modo algum, a publicação de jornais novos. Naquele ano, S.
Karakuschanski, juntamente com Aron Neuman, compraram uma pequena folha em
português, de nome “Aonde Vamos?” e a transformaram numa publicação judaica. Mais
tarde, Karakuschanski afastou-se do jornal, e a antiga folha sem importância, que ninguém
conhecia, é hoje uma bela revista mensal, ilustrada. Por determinado tempo, “Aonde
Vamos?” foi praticamente redigida pelo jovem erudito, Elias Lipiner, então acadêmico da
Faculdade de Direito.
JORNAL ISRAELITA
Posteriormente, quando já se podia obter licença para publicar jornais, o mencionado editor
do “Velt Spiguel”, Sr. Kutner, começou a editar uma publicação semanal, em formato de
jornal comum, sob o nome de Jornal Israelita, no qual colaboram: S. Karakuschanski, Leão
Mintziz e outros. Este jornal e a mencionada revista ilustrada “Aonde Vamos?” constituem
presentemente as únicas publicações israelito-portuguesas no Brasil.
463
Isaias Golgher e a memória da imigração judaica no Brasil
Prof. Nachman Falbel
USP-AHJB
Nesta abertura de nosso III Encontro Nacional do AHJB sob o patrocínio do IHIM, que
não poupou esforços para a realização desse importante evento, cumpre-me falar sobre o
historiador e intelectual Isaias Golgher a quem prestamos a nossa póstuma e merecida
homenagem. Peço a compreensão dos que me ouvem se me reportar à recordação de uma
amizade e estima pessoal que a distância geográfica dificultou em se transformar em uma
convivência maior. Há muitos anos atrás quiz o acaso que visse o nome de Isaias Golgher
em uma carta de inícios dos anos 50 que encontrei numa gaveta de uma escrivaninha na
sinagoga da Lapa, em São Paulo, na qual ele pedia material informativo sobre a instituição,
em nome de um Arquivo Histórico Judaico em formação que tinha como objetivo recolher
elementos para a memória da imigração judaica no Brasil. Isso foi nos anos 70 quando
estavamos dando os primeiros passos para a estruturação do Arquivo Histórico Judaico
Brasileiro em São Paulo. Reconheci que alguém tentou cerca de 20 anos antes o que nos
estavamos pretendendo naquele momento. A partir dai fiquei curioso em saber quem era a
pessoa que tivera a mesma preocupação de preservar a memória judaica no Brasil até
efetivamente poder conhece-lo , ter contato com seus trabalhos, sua reflexão intelectual
através dos livros e artigos que escrevera. Na época encontrava-me pesqisando sobre o
primeiro historiador judeu no Brasil , de que resultou o livro” Jacob Nachbin”, e lembro-me
bem que esse nome também lhe era famíliar, o que motivou entre nós um intercambio de
informações e comentários sobre a vida judaica no Brasil nas décadas anteriores à Segunda
Guerra Mundial.
Isaias Golgher era dono de uma personalidade sedutora no trato com as pessoas e mais
ainda pela originalidade de seu pensamento inquieto que transitava por várias áreas e não se
submetia a uma única verdade e tão pouco à uma única esfera de conhecimento. E isso
podemos comprovar pela multiplicidade e polivalência de seu trabalho que vai da história
mesopotâmica, à história do Brasil ,da história das idéias sociais no mundo contemporâneo
à história do povo judeu, e isso sem excluir as artes plásticas, literatura e mesmo as
ciências.
Porém antes de fazer qualquer referência sobre sua obra historiográfica- uma vez que não
pretendo abarcar nesta palestra outros aspectos de sua produção intelectual- impõe-se traçar
um breve e esquemático roteiro de sua vida, sem que tenhamos qualquer pretensão de
estabelecer uma biografia, tarefa essa que deverá demandar uma pesquisa mais longa e
cuidadosa. É ao nosso querido amigo Marx a quem devo as informações que se seguem
bem como os elementos biográficos pessoais, os quais reproduzo quase literalmente, uma
vez que Isaías nos encontros havidos entre nós, raramente falou de sua pessoa, senão
apenas de suas preocupações culturais.
Ele nasceu em Atachi, às margens do Dnieper, em 28 de dezembro de 1905 e com a morte
prematura de sua mãe, passou a ser criado pela tia, que o tratou como um filho (segundo
464
Marx, ele se referia a ela com muito carinho, o que não fazia com o pai ,que dele se afastou
para formar nova família). Fez seus estudos na escola comunitária judaica, aprendendo a ler
ídiche e romeno. Marx lembra que ele gostava de contar que quando criança era chamado
frequentemente pelos carroceiros para ler jornais romenos. Era o orgulho deles...lembra-se
do assombro que causou quando lia as edições do naufrágio do Titanic, inventando coisas
fantásticas à respeito. Exagerava tanto que ele mesmo ficava impressionado com o espanto
dos atentos ouvintes que lhe pediam detalhes de suas fantasias. O que fazia para deleite
geral da platéia... Bom aluno, ingressou logo depois no ensino fundamental, no curso médio
na “grande cidade” russa Mogilev-Podolski, atravessando o Dnieter diariamente. Ai
estudou a língua russa, e se iniciou nos estudos filosóficos que o levariam posteriormente a
Marx, e movimentos de esquerda, engajando-se na militância de um movimento socialista,
fortemente reprimido na Romênia. Sua admiração por Romain Rolland, a quem
homenageou ao batizar o seu segundo filho com o nome do grande escritor, é desta época.
Foi preso diversas vezes , sendo libertado depois de muito apanhar, sendo libertado por
uma grande amiga judia, amiga de sua tia-mãe, pessoa de posses, que subornava a polícia...
Por ocasião da Revolução Russa, a repressão romena recrudesceu a tal ponto , que a tia-
mãe o aconselhou fugir do país, dando –lhe as únicas jóias que possuia como recurso da
fuga. Pegou o trem numa cidade próxima ,para despistar a polícia que o vigiava, junto com
um amigo. No meio do caminho ocorreu uma batida policial. Quando os guardas chegaram
até o banco onde ele se encontrava sentado, Isaias fechou os olhos, roncando
ruidosamente...Os guardas o sacudiram pedindo papéis ,mas nada. Ai o amigo lhes disse
com muita convicção : ah, ele é francês, não entende nada o que falamos. Não adianta
insistir...Convencidos, a patrulha militar se afastou,o que possibilitou a atravessar a Hungria
onde foi muito maltratado, por ser judeu, originando-se dai uma ojeriza deste país para o
resto da vida. Marx conta que ao visitar recentemente a Hungria, ele o recriminou
fortemente de ter feito isso. Em seu roteiro de fuga Isaías chegou a França e de lá embarcou
para o Brasil, onde fora chamado por um “parente”. Desembarcando no Rio de Janeiro
começou a trabalhar como mascate, assim como fizeram boa parte dos imigrantes da quele
tempo. Em uma entrevista que dera ao Suplemento Cultural do jornal “Minas Gerais” no
número de 6 de outubro de 1990, por ocasião do término de seu livro “O Universo Físico e
Humano de Albert Einstein”, ele resume esse momento de sua vida: “Minha geração foi
envolvida pela Revolução Russa, quando na sua fase heróica, e o idealismo ainda era sua
força motriz. Eu também me envolvi, como os demais jovens da minha idade. O
movimento revolucionário em que me envolvi tinha por meta promover a expulsão dos
romenos da Bessarábia, ocupada por eles depois de 1917, e restabelecer o domínio russo.
Em 1924 houve um levante de Tartarbunare, que foi impiedosamente esmagado pelo
governo rumeno.Preso pela tristemente famosa Securatate, polícia política rumena,
consegui sair da prisão ,pelo suborno, e tratei de deixar o país o mais depressa possível. Na
época podia-se ir ,sem dificuldades burocráticas, para os países da América do Sul,
inclusive para o Brasil. Em dezembro de 1924 desci do navio “Andes” no porto do Rio de
Janeiro, e aqui estou desde aquela data.” Na mesma entrevista ao ser perguntado se tinha
algum conhecimento sobre o país ele diria: “Na época a imprensa mundial falava muito da
revolução brasileira encabeçada pelo general Isidoro Lopes. Nós os jovens, atribuímos
dimensões ideológicas radicais ao movimento , tendo por modelo a Revolução bolchevique,
então em plena ascenção. O levante de Isidoro Lopes seria um elo da revolução mundial,
que para nós era inevitável. Chegando, verifiquei que a nossa análise científica não passava
de “wishful thinking”. A revolução de Isidoro Lopes , como era chamada pelos
465
simpatizantes, era uma manifestação política genuinamente ligada às condições brasileiras.
Aí me dei conta de que o Brasil tem estruturas sócio-culturais e sócio-econômicas que não
se encaixavam nas diretrizes da revolução de Lenin e Trotski.” Sua vinda à Minas Gerais o
levou ao encontro de sua esposa Suzana, a quem ele chamava de modo especial “Dona
Suzana” sempre acompanhando o nome com um sorriso que espelhava profundo
sentimento amoroso.
Sua militância política e ideológica foi resultado da fermentação social que se deu na
Europa Oriental, no Império Czarista e que resultou nas revoluções de 1905 e 1917, sendo
a última aquela dos “ 10 dias que abalaram o mundo”, na expressão de John Reed. De fato
continuaria abalar o mundo durante algumas boas décadas. Creio que Isaias pertencia
àquela juventude judaica que viu na Revolução Russa uma solução para a “questão judaica”
e estava convicto que a vida miseravel do aglomerado humano concentrado na Pale-Zona
de Residência destinada aos judeus pelo governo autocrata imperial- terminaria com a
vitória das forças revolucionárias que se gestavam desde a segunda metade do século XIX
naquela região da Europa.
Entre os imigrantes que chegaram ao Brasil encontravam-se também os que já vinham com
ideais sociais definidos . Outros, em especial nos anos 20, acabariam por ser influenciados
e adereriam às correntes de esquerda que surgiram em solo brasileiro. Não foram poucos os
judeus imigrantes que se entregaram à militância política e integraram as fileiras dos
ativistas desses movimentos.
Sabemos que com o passar do tempo os sagrados ideais da Utopia se depararam em suas
etapas de realização com obstáculos imprevisíveis e cobraram um preço elevado de toda
uma geração, revelando, por fim, uma face sombria. Essa geração teve que enfrentar uma
dupla frustração: social-universal e nacional-judaica, ou seja, os ideais de emancipação
social e criação de uma sociedade justa não se cumpriram, assim como a emancipação dos
judeus e sua libertação da condição de povo-pária foi um fracasso doloroso que ameaçou a
própria existência do judaismo quando, em dado momento, se urdia um plano diabólico de
elimina-lo literalmente como identidade cultural-nacional mesmo que fosse através do
exterminio físico de sua elite intelectual. E isso especialmente a partir da segunda metade
dos anos 30 até a morte de Stalin em 1952.
Isaias Golgher, em seu primeiro livro escrito em 1950 e publicado em 1951, Belo
Horizonte, sob o título “A Evolução histórica do povo judeu-síntese dos movimentos
populares judaicos na antiguidade” ainda se encontra vinculado às convicções esquerdistas,
ou progressistas, que logo mais iria revisar com um olhar crítico radical que o afastaria de
vez de sua militância partidária. O livro resume uma história que vai dos templos bíblicos
até o levante de Bar Cohba, com enfase na história social assentada em boa parte no
historicismo marxista da luta de classes mesclado com o específicamente judaico , ou seja,
os valores éticos que buscam a justiça dos profetas e a luta pela liberdade como valor
supremo, contra os opressores de fora representados pelo imperialismo político e cultural
grego- romano. Há nessa modesta síntese histórica uma clara intervenção das convicções
ideológicas do autor que de um lado revela profundo orgulho nacional ao tentar apontar a
contribuição judaica para uma concepção social fundamentada no monoteismo ético que se
funde com a causa universalista do socialismo. Sob o aspecto histórico o trabalho -assim
como outros do mesmo teor- é prejudicado pelo engajamento ideológico. Mas, sob outro
aspecto, devido os períodos enfocados, ou seja, o Bíblico e o do Segundo Templo, o autor
necessariamente deveria enfrentar questões complexas que demandariam muito tempo para
o seu estudo e uma formação especializada para um adequado tratamento científico,
466
mesmo tratando-se de um livro de divulgação. O método histórico lembra de certa forma
um livro que fora publicado nos anos 40 (1949) de autoria de Abraham Leon, que passara
pelo movimento juvenil judaico “Hashomer Hatzair” (O jovem guarda) passando
posteriormente a ser adepto do trotzkismo e que aplicara o materialismo histórico à história
judaica numa tentativa de demonstrar radicalmente a inviabilidade do sionismo concluindo
que a luta para o socialismo seria a única solução para a assim denominada “questão
judaica”. Nesse tempo, ainda quando essa corrente historiográfica estava no seu auge,
tivera como ponto de partida alguns conceitos emitidos no “Die Judenfrage” (A questão
judaica) de Marx, que formulava negativamente a “existência” judaica, assentada sob uma
especulação teórica ambígua que via o judeu e o judaismo como um fenômeno histórico
transitório fadado a desaparecer e associado à natureza ou essência da sociedade capitalista.
Isaías Golgher em seu livro “Marx, mito do século XX” sobre o qual nos reportaremos mais
adiante, dedicará atenção a esse escrito com a costumeira aguçada crítica. O teor desse
escrito de Marx, seja pelo conteúdo anti-judaico agravado por um estilo panfletário
agressivo, leviano e preconceituoso, (muitos justificaram seu caráter como sendo um
“escrito de juventude”) alimentou durante muito tempo anti-semitismos de direita quanto
de esquerda. Mas a “questão judaica,” propriamente dita, permaneceu na ordem do dia da
sociedade européia em um largo espectro de correntes de pensamento que se defrontaram
com o problema propondo soluções assimilacionistas, autonomistas, territorialistas e
sionistas. O debate ideológico continuou ininterruptamente até o nosso tempo até a
formação do Estado Judeu. Contudo temos que considerar que Isaías Golgher escrevera
quando o Estado de Israel já era uma realidade e boa parte do debate ideológico sobre o
nacionalismo e o conceito de nacionalidade judaica perdera sentido, ainda que não havia de
todo sido ultrapassado sob o aspecto das forças políticas que o sustentaram. O Estado Judeu
já não era uma utopia e nenhum um sonho longínquo de nacionalistas que se aventuraram a
reconstruir uma pátria perdida há 2.000 anos atrás. Além do mais o seu livro fora escrito
sob o forte impacto do Holocausto, ao contrário de Abraham Leon que publicou sua obra
inacabada no limiar dos anos 40, terminando seus dias tragicamente em um campo de
extermínio, ficando, paradoxalmente, contradita pela brutal realidade que o nazi-facismo
impuzera aos países do velho continente. Golgher nas páginas finais, sob a forma de
“conclusão,” escreve com um sentimento de orgulho nacional e admiração pela criação do
Estado Judeu, que por várias razões-assim ele o diz- não teria surgido sem o apoio da
Rússia Sovietica, e que soube se livrar de seus inimigos através da luta dos
“Haganistas”(sic). Porém ele não deixará de críticar as pretensões históricas mais amplas
do sionismo que pela sua ideologia não via qualquer futuro para o povo judeu na Diáspora.
Sob esse aspecto ele discordava daqueles que viam a existência do judaismo na Diáspora
como efêmera crendo que ela continuaria existindo, e considerando, entre outros fatores,
que as limitações geográficas da Terra de Israel impediriam uma absorção total de todos os
judeus. Um aspecto interessante da obra é a referência da velha discussão sobre o caráter
do povo judeu e a abordagem que faz da polêmica histórica sobre a teoria da nacionalidade
,apoiando-se em Haim Jitlovski, e outros, rejeitando ao mesmo tempo a tese de Stalin,
assim como foi apresentada no conhecido artigo “O problema nacional e a social-
democracia” [ repetida na sua obra “ A questão nacional e colonial”], argumentando que
Stalin escreveu visando o “Bund” (Partido Obreiro Judaico fundado em 1897 na Europa
Oriental) e não procurou estudar, historicamente, o desenvolvimento do povo judeu.
Certamente se esse último enunciado do autor fosse do conhecimento do Partido ,daquele
tempo, devotado ao “culto da personalidade” o livro de Isaías teria sido condenado ao
467
Index Expurgatorum stalinista e ele certamente seria obrigado a fazer uma auto-
crítica...Mas como o Comitê Central do Partidão não perdia tempo com leituras e estava
ocupado com outras questões bem mais importantes, vinculadas à conquista do poder
provavel é que não se deram ao trabalho de folhear o escrito , o que explica o fato de nosso
Isaias ter saído incólume do Paraíso tal qual acontecera com Rabi Aquiba na conhecida
lenda talmúdica... Em suma Isaías Golgher [já revelava –se fizermos uma leitura atenta de
seu texto- que se encontrava] demonstrava estar dividido e debatia-se entre sua identidade
nacional judaica e os ideais universais socialistas. A eliminação sistemática da cultura
ídiche, de suas instituições, intelectuais e rede escolar promovida por Stalin, em
prosseguimento ao que se fizera com o movimento sionista na Russia após a Revolução, o
tocara profundamente, assim como a muitos adeptos e simpatizantes do comunismo. Na
verdade a ideologia oficial stalinista via como contraditório e tachava como uma forma de
nacionalismo burguês qualquer identificação com o nacionalismo judaico. O término desse
processo de definição pessoal, sob o aspecto ideológico, ocorreria com a elaboração da
obra “A tragedia do comunismo judeu- a história da Yevsektzia”.
Isaias Golgher, em oposição ao movimento do qual fez parte durante certo tempo, teve a
coragem de enfrentar a dolorosa verdade e torná-la publica ,mesmo tendo que suportar
momentos dificeis de difamação, marginalização e hostilidade pessoal por não querer
compartilhar com o silêncio deliberado, e a cega obediência partidária, em relação ao que
estava ocorrendo no mundo comunista. Pessoalmente considero o livro “A tragédia do
comunismo judeu”, Ed. Mineira Ltda., Belo Horizonte, 1970,[data não explícita na capa,
porém no interior do texto na pag. 152.] como uma das descrições mais importantes sobre
a brutal política de destruição da cultura judaica na Rússia, constituindo-se numa
contribuição valiosa sobre a postura da esquerda judaica no Brasil em relação à essa
dolorosa questão. Ainda que as referências ao “progressismo” no Brasil serem discretas,
por razões obvias, no entanto, associadas ao que se passava na Argentina, Uruguai , Estados
Unidos e outros paises nos quais se encontravam associações judaicas adeptas da mesma
ideológia, teremos, no seu conjunto, uma visão do que ocorria por aqui. O livro aponta
com realismo, por vezes chocante, a postura acritica que caracterizava a subserviência à
Moscou nas fileiras da esquerda em geral e da judaica em particular que somente caiu em si
com o XX Congresso após a morte de Stalin. E assim mesmo, durante vários anos, muitos
ainda mantiveram uma atitude incrédula frente ao que já era do conhecimento universal. O
fato é que o culto à personalidade do Pai da Pátria não desapareceria tão rapidamente como
era de se esperar.
A importância do livro em questão está no uso de fontes em ídiche, incluindo-se orgãos de
imprensa e livros de memórias de militantes, textos que nem sempre eram acessíveis aos
estudiosos que desconheciam a língua. No entanto são fontes preciosas para o
entendimento dos fatos históricos que estão associados à trajetória da “Yevsektzia”, ou seja
a seção judaica do Partido Comunista, criada ainda por Lenin em 1918.
Penso que o rompimento com a ideologia partidária o libertou de uma dependência
intelectual que o levou a uma nova fermentação espiritual e a procura de novos horizontes.
Talvez, e não posso afirmar com certeza, isso explica a sua decisão de ir à França para
recomeçar seus estudos e abrir novos caminhos para satisfazer sua inquietude pessoal.
Ele se matriculou na École Pratique des Hautes Ètudes-Salles de Travail et de Conferénce
de la Section d’Histoire et de Philologie, entre 1957-1958, quando elaborou a tese sobre os
textos sumerianos: “La structure economique et sociale du Sumer Présargonique”,
468
apresentada em 1959. A tese é escrita com o indispensável aparato acadêmico, com o
devido uso dos textos descobertos pela arqueologia, que desse modo, conseguiu estabelecer
a história de Sumeria como a primeira das civilizações mesopotâmicas. Ele resume ao
redor do eixo central ,isto é, econômia e sociedade, as diversas fases da civilização
sumériana apoiado numa bibliografia especializada no tema, dificilmente acessível a um
estudante brasileiro se fosse pesquisar apenas em nossas bibliotecas. Antecedeu a essa
elaboração eminentemente acadêmica um trabalho importante de pesquisa sobre um
capítulo central na história de Minas Gerais que resultou na publicação do livro “Guerra
dos Emboabas”, em 1956, Ed. Itatiaia, e que teria uma segunda edição pelo Conselho
Estadual de Cultura de Minas Gerais, no qual encontramos uma valiosa análise crítica da
Historiografia Emboaba de Marx Golgher, Belo Horizonte, 1982. O trabalho de Isaías
Golgher está fundamentado em fontes primárias do Arquivo Histórico Ultramarino ,
Lisboa, do Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte, Arquivo Nacional, no Rio de
Janeiro, da Bibliothèque Nationale, em Paris com uma rica bibliografia. Creio que até hoje,
mesmo com a considerável produção científica que ampliou o conhecimento e a descoberta
de novas fontes sobre o assunto, não pode prescindir da contribuição pioneira que dera com
seu estudo.
Não podemos desconhecer parte importante de seu trabalho historiográfico que constitui o
conjunto de ensaios, o qual não pudemos ter acesso, mas que encontramos elencados em
alguns de seus livros.São eles: “Implicações sociológicas da capitação”, 1962; “A
problematica da Periodização histórica”,1963; “Sartre, Marx e História”, publicado no
periódico “Estado de Minas”, 5-4-1964; “O Negro e a mineração em Minas Gerais”, 1965;
“Sedimentos históricos do Comunismo”, 1965, títulos que constam na obra “A tragédia do
comunismo judeu”. Entre 1965 e 1967 temos algumas séries de artigos a começar da
intitulada “Sedimentos históricos do comunismo” publicados no Suplemento Literário do
“Estado de Minas”, conforme relaçaõ elencada no livro “Marx ,mito do século XX” e são
eles: “A estratificação da falsa consciência”,17-10-1965; “”Os teóricos na hora do lusco-
fusco”,24-10-1965; “Leninismo, marxismo às avessas,31-10-1965; “O nascimento da nova
classe”,7-11-1965. A segunda série intitulada “Um memorialista desmemoriado”
compreende os artigos “Retrato falado de Ehrenburg”,3-4-1966; “Os falsos alibis de
Ehrenburg”, 10-4-1966; “Ehrenburg, o falso leninista”, 17-4-1966. A terceira série
intitulada “Os expurgos russos,trinta anos depois” compreende os artigos “Arma-se a
encenação”, 23-8-1967; “A mentira como norma ideológica”, 24-8-1967; “O papel de
Anastácio Mikoyan”, 26-8-1967 e “O império da grande mentira”, 27-8-1967. A partir de
1972 ele publicará, no mesmo periódico, artigos sobre outros temas tais como “Cabala-um
estudo histórico”(6,7,9,1974), e particularmente voltados ao mundo das artes.São eles:
“Pseudovanguardismo e a realidade histórica” (6-5-1972), “O Impressionismo, um século
depois”(5-4-1975) e “Contradições estéticas de Karl Marx”(18-10-1975)
Antecedendo o “A tragedia do comunismo judeu” , publicava em 1967 o primeiro volume
intitulado “Leninismo-Metamorfose” (Época de Lênin,1884-1924) ,Ed. Saga S.A., Rio de
Janeiro, que pretendia dar continuidade com mais dois volumes intitulados “Leninismo-
Expansão” e “Leninismo-Decadência” porém não chegaram sair à lume. Por uma
observação, na página 55, sabemos que o estava escrevendo pelo menos desde 1965. O
livro abre com um capítulo de ‘Prolegômenos” contendo uma breve exposição da doutrina
leninista, assim como ela é conhecida na primeira fase dos escritos do lider da Revolução
469
Russa, apontando as contradições que a mesma encerrava e que mais tarde iriam se revelar.
Um dos aspectos importantes desse trabalho é o fato de que Isaias Golgher já havia se
desvinculado de suas convicções marxistas e podia com isenção fazer uma crítica objetiva
do marxismo-leninista. A seguir o autor passa a descrever, com abundância de citações e
fontes, o fenômeno conhecido como o “culto da personalidade de Stalin”, ou o processo de
“mitificação” até sua morte quando com o XX Congresso do Partido Comunista, de 1956,
inicia-se a “desmitificação” e a revelação da verdade nua e crua do regime e os desmandos
que o caracterizou. A reprodução de parte do “Relatório Secreto” lido na ocasião por Nikita
Khruchev, e que abalou o mundo comunista, descrevia os crimes do regime atribuidos
somente à pessoa do ditador, sem que se alterasse ou concedesse que havia algo de errado
no próprio sistema de governo. Ninguém garantiria que o regime iria se purificar com as
confissões dos crimes e estes continuariam até o desmoronamento final em tempos mais
recentes. O capítulo seguinte sob a épigrafe “Leninismo-simbiose do feudalismo russo e do
marxismo ocidental” é uma apreentação didática do marxismo-leninista gerado em
condições peculiares no Império Czarista. Os capítulos seguintes apresentam
cronologicamente o desenvolvimento histórico da sociedade russa á começar da
“Revolução de 1905, da Reação ou “Recuo Revolucionário”, a “Primeira Guerra Mundial”
finalizando com a longa, e principal parte do livro, dedicada à “Revolução Russa” suas
etapas e eventos mais importantes até a morte de Lenin. É uma obra sistemática que parte
do melancólico presente revelando os desmandos do todo-poderoso governo soviético para
retroagir no tempo como se o autor quizesse agora fazer uma revisão histórica para sí
mesmo perguntando-se :Como isso poude acontecer? Pergunta que traduzia a estupefação
de milhares de militantes de esquerda, idealistas a toda prova, nos quatro cantos do mundo,
desde que os múltiplos processos de Moscou foram armados para eliminar os opositores do
poder absoluto do ditador e da massa crítica que o atemorizava.
O último de seus livros, que de certa forma expressa o processo final ,sob o aspecto
intelectual, de sua crítica à ideologia comunista, iniciado com as obras mencionadas
anteriormente, é dedicado a um estudo sobre o próprio Marx e sua obra intitulado “Marx,
mito do século XX- um estudo histórico” (Editora Mineira Ltda., Belo Horizonte, 1980).
Aqui vemos Isaías Golgher corajosamente, e já com o distanciamento necessário para
julgar “sine ira et studio”, encetar uma verdadeira anatomia da complexa personalidade do
fundador da doutrina mais influente de nosso tempo, com suas contradições, equívocos,
preconceitos e erros, baseado numa leitura dos próprios escritos de Marx, Engels e de
autores como L. Feuerbach, Lassalle, e outros do círculo próximo de seus amigos e com os
quais manteve intercâmbio epistolar. É também um retrato psicológico dos membros da
família de Marx, de sua formação e do mundo cultural do qual emergiu o conjunto
doutrinal do marxismo. Um livro que revela notável leitura da obra de Marx e seus
colaboradores , conhecimento ideológico das doutrinas socialistas daquele tempo apoiado
,como sempre, numa excelente bibliografia de autores de nossos dias, reconhecidos
estudiosos que contribuiram para uma revisão crítica do marxismo. Golgher análisa com
sutileza a interrelação da sociedade alemã e o judaismo peculiar que o caracteriza
percorrendo a trajetória histórica do anti-semitismo alemão do século XIX ,que também se
manifestava abertamente entre os intelectuais do movimento socialista em formação,
seguidores e opositores de Marx que se empenhava para manter sua liderança na Primeira
Internacional. Tanto os grupos de direita quanto os de esquerda estavam impregnados de
virulento anti-judaismo chegando a usar argumentos do mesmo teor contra sua pessoa.
Quando Marx ,após a revolução liberal de 1848, retornou a Alemanha e passou a ser o
470
editor do “Neue Reinishe Zeitung” o material anti-semita publicado nesse orgão de autoria
de certos colaboradores, e o foi com a sua anuência, não o diferenciava de outros periódicos
de direita. Desse modo, podemos dizer que esta obra de Golgher, além de nos fornecer uma
informação preciosa sobre o tema, em boa parte, mantém sua atualidade no contexto
mundial em que vivemos hoje em dia também América Latina. Assim, como em suas obras
anteriores ele mostrará seu caráter independente de “enfant terrible” ao mostrar o quanto a
defesa oficial do marxismo de parte dos autores soviéticos do Instituto de Filosofia da
Academia de Ciência consagram a doutrina marxista fazendo uma leitura erronea e
equivocada da obra de Marx. Nesse sentido ao falar da famosa tese de doutorado de Marx
“A diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro” ele ironizará : “ Seria
difícil aceitar a hipótese do ilustre professor Sverdlov...não ter lido a dissertação de Marx, e
não ter tomado conhecimento de seu conteúdo anti-Demócrito. Estamos mais propensos a
aceitar que Sverdlov deliberadamente ignorou o fato , seguindo o príncipio comunista: ‘O
que não se anuncia, não existe’, e a omissão está explicada. Porém , quando não é possível
a omissão, então passam simplesmente a falsear,o que não é raro entre os tratadistas
marxistas-leninistas (p.36) .” Ele não poupa sequer seus conhecidos do antigo movimento
local, o que passa a ser um registro para a memória de uma corrente da imigração judaica
no Brasil. Assim, na mesma página 36, em nota de rodapé de número 59, referindo-se à
mesma questão da tese de doutorado de Marx, anota o que se segue: “Não podemos nos
abster de registrar um fato que reflete concretamente de como o método comunista
funciona eficientemente entre os crentes. Até parece que quanto mais a falsificação é obvia,
mais ela é defendida como verdade científica. A estrutura ideológica dominante bloqueia
inteiramente a mente dos intelectuais comunistas militantes. Um teórico comunista , nosso
conhecido, ficou surpreso quando lhe dissemos que Marx, em sua tese de doutorado se
coloca a favor de Epicuro e contra Demócrito, declarando “haver uma diferença essencial
entre ambos”. Ele retrucou vivamente, dizendo que Lenin considerou Demócrito um dos
mais brilhantes materialistas da Grécia, e o Novo Dicionário Filosófico da URSS afirma
que Epicuro foi o continuador de Demócrito. Foi inútil a nossa recomendação de ele
consultar o texto de Marx, e se certificar da nossa afirmativa. Ele respondeu num tom
zangado: Já estou acostumado com as falsificações imperialistas...” Lamentavelmente a
repercussão de seus livros nem sempre foi a altura de sua importância e por motivos que
podemos deduzir ao considerarmos que eram voltados a uma crítica demolidora do
marxismo-leninista. Por outro lado, não era exatamente o tipo de literatura que seria
apreciada em tempos que se seguiram aos anos da ditadura militar.
Como disse antes, a atividade intelectual de Isaías Golgher não se limitou ao estudo da
história mas seu interesse pessoal voltou-se para o campo das artes e de certa forma para
um humanismo sem fronteiras perfeitamente definidas. Algo próximo ao que hoje se
identificaria com o que nos denominamos interdisciplinariedade exemplificada em sua obra
“O Universo Físico e Humano de Albert Einstein”(Oficina de Livros, Belo Horizonte,
1991). Creio que somente através desse angulo de visão poderemos captar sua
personalidade, entender sua obra e avaliar sua atuação, o que ainda constitui um desafio
para um futuro biógrafo desse notável imigrante judeu que deixou um lastro precioso para a
sua comunidade e para a sociedade brasileira. Nesse sentido, e para terminar, permito-me
citar um testemunho valioso que é o de seu amigo escritor e jornalista José Bento Teixeira
de Salles que dedicou um tocante “in memoriam” sobre Isaias Golgher publicado no jornal
“Estado de Minas”, em 28 de fevereiro de 2003 .Assim ele escreve: “De suas preocupações
com a nossa cultura dou testemunho, quando liderou um movimento de intelectuais belo-
471
horizontinos para que não fosse suspensa a circulação do Suplemento Literário,
movimento, afinal, vitorioso. Um velho sonho seu foi a criação de estudos reunindo
escritores ,artistas e músicos, com o objetivo de divulgar a cultura mineira, através de
conferências, exposições e apresentações teatrais e municais em reuniões itinerantes no
interior do Estado. Figura de realce no bar Lua Nova, localizado no térreo do Edifício
Maletta, Isaías centralizava as atenções dos intelectuais presentes com a sua cabeleira
branca, sua compreensiva interpretação dos homens e fatos, sua bondade quase ingênua,
seu constante interesse pelos temas mineiros e culturais”, terminando com as seguintes
palavras: “Tão significativa foi a participação de Isaías Golgher no movimento cultural de
Belo Horizonte que seria justa a instituição , por iniciativa pública ou particular, de um
concurso literário com o nome do saudoso historiador”.
472
Isaias Raffalovich e a educação judaica no Brasil
In memoriam de David Faingelernt,Z’L, saudoso e querido companheiro, integro
e sempre coerente com os ideais do movimento “Dror”
Prof. Nachman Falbel
Dedico também este trabalho aos meus doces netos Ariel e Débora, fiéis
colaboradores de meus trabalhos. A eles devo a realização de meus recentes livros e
artigos.
Durante muitos anos dediquei-me a coletar informações extraídas da imprensa comunitária,
predominantemente em ídiche, sem excluir alguns poucos orgãos em português, sobre as
primeiras escolas judaicas desde os inícios de sua formação e, em parte, seu
desenvolvimento posterior, o que explica e, ao mesmo tempo delimita, o presente estudo
até os meados da década de 30, compreendendo, mais precisamente, ao período de atuação
do rabino Isaias Raffalovich.
O Rabino I. Raffalovich, mais conhecido pela sua atuação como representante oficial da
ICA, teve papel fundamental na formação de instituições de ajuda ao imigrante bem como
na formação da rede escolar judaica no Brasil, aspecto esse que pretendemos abordar em
nosso trabalho. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1923 sua
preocupação maior foi a de participar na construção de uma comunidade judaica que
atendesse as necessidades do imigrante em todos os seus aspectos tendo como concepção e
modelo ideal um judaísmo vigoroso e integrado no país que o acolhia. Podemos entender
sua visão de mundo como decorrente de uma formação pessoal que era resultado de uma
trajetória de vida com experiências vivenciadas em vários países que ele procurou registrar
em sua auto-biografia. Vejamos, antes de prosseguirmos, alguns dados sobre sua pessoa .
Ele nasceu em 1870, em Bogopol, uma pequena cidade da Podolia e em 1882 seus país
emigraram a Eretz Israel devido a onda de pogroms que se sucederam um ano antes ao
assassinato do Czar Alexandre II e que provocou uma emigração em massa da Rússia
Czarista em direção ao ocidente. Em Eretz Israel a família estabeleceu-se em Jerusalém e o
jovem Raffalovich , juntamente com seu irmão , passaram a estudar em varias ieshivot
(escolas talmúdicas) sob a orientação de professores de fama reconhecida por sua erudição
rabínica. Mais tarde, por influência de seu sogro I.D. Frumkin, se interessaria por um
projeto de colonização judaica em um período em que o governo turco proibia a aquisição
ou venda de terras a judeus. Nesse tempo ele ficou trabalhando durante nove meses em Es-
Salt (Ramot Guilad) na Transjordânia, estimulando jovens judeus de Jerusalém a fazerem o
mesmo. É desse tempo a publicação do álbum de fotografias que realizou juntamente com
Moshe Eliahu Sachs sob o título “Ansichten von Palästina und den Jüdischen Colonien”703
,
após ter estado na Inglaterra pela primeira vez e onde aprendera a profissão de fotógrafo.
703
Ed. Chemed, 1899 e reeditado pela ed.Ariel, Jerusalém,1979.
473
No ano de 1899 ele decidiu viajar novamente a Inglaterra para complementar seus estudos
entrando no Jewish College de Londres. Foi nesse período que resolveu fundar uma
associação para jovens que favorecesse uma aproximação e uma atividade social entre os
componentes da nova geração de Jerusalém sob o nome de “Achvá”. Mas a associação
ampliou seus objetivos promovendo o preparo de jovens para o trabalho agrícola e
colonização .Para tanto ele saiu para conhecer as “moshavot” existentes no país e
encaminhar jovens para aprenderem a trabalhar a terra e nela se fixarem. Após o Primeiro
Congresso Sionista de Basiléia um de seus amigos lhe sugeriu que fotografasse as
“moshavot” com a finalidade de mostrar o resultado do movimento de colonização
Chovevei Sion, antes da formação do sionismo político herzeliano. Desse modo, ele viajou
por todo o país fotografando as colonias fotos essas que permitiram compor o álbum acima
lembrado. Naquele tempo ele foi convidado pelo jornal “Express” para estar presente no
Terceiro Congresso Sionista na Basiléia, realizado em 1899, e ali conheceu o jornalista
Reuven Breinin. Dali ele foi a Inglaterra para estudar e acabou , de início indo a
Manchester para exercer a função de secretário de uma sinagoga. Ali, chegou a colaborar
com artigos no Manchester Guardian e no Jewish Chronicle. Dessa vez poude continuar
estudando até conseguir receber a “semichá” de rabino e enquanto se encontrava ainda
naquela cidade foi indicado para atuar em uma pequena cidade da região de Gales.
Naquele local tomou a iniciativa de criar uma escola para as crianças e inovou o método do
ensino da língua hebraica através de seu livro didático “Melamed Lehoil”.
Após certo tempo exercendo várias funções na comunidade de Manchester e Gales
conseguiu obter um posto na Hope- Place Synagogue em Liverpool (1904-1923). Em
Liverpool, uma cidade portuária que fazia parte da rota da migração européia de passagem
para a América ele não poupou esforços para criar as condições para ajudá-los, sob todos os
aspectos, sendo reconhecido por seu talento, trabalho, e dedicação aos imigrantes que
aportavam àquela cidade, em especial a partir de 1905, quando o número de emigrantes
judeus da Rússia aumentou consideravelmente. Apesar da interrupção sofrida durante os
anos da Primeira Guerra Mundial, ele retomou sua atividade em prol do imigrante logo
após com grande intensidade. Em função de sua missão ele viajou, em 1921, a Amsterdam ,
Antuérpia, Roterdam e Haag para travar entendimentos com as comissões locais com as
quais estava em contato durante vários anos ,para que juntos convencessem a ICA reunir
uma assembléia especial de todas as comissões de emigração para discutir os difíceis
problemas atinentes à essa questão. A Assembléia reuniu-se em Bruxelas com
representantes de vários países que tratavam de assuntos relativos à emigração. Apesar dos
escassos resultados desse encontro o fato chamou a atenção dos responsáveis pela ICA e
cujo diretor geral visitou Liverpool para ali constatar o notável trabalho que o rabino
realizava nesse setor. A experiência de R. com as questões concernentes à imigração e seu
trabalho com imigrantes que passavam por Liverpool foi marcante e tornou-se conhecida
em toda a Inglaterra. Nessa ocasião a ICA estava interessada em implementar a imigração
judaica ao Brasil. Desse modo Raffalovich foi convidado para representá-la nesse país e
criar as condições para dar o devido suporte à imigração judaica e implementar o projeto de
colonização agrícola já existente no Rio Grande do Sul desde 1904. Sua chegada ao Brasil é
narrada por Nathan Goren na coletânea de seus sermões intitulada “Maagalei Yosher”704
e
704
Ed.Shoham, Tel-Aviv, 1950. Boa parte dos sermões que constam nesse livro são traduções ao
hebraico do “Our Inheritance”, publicado em 1932.
474
em sua auto-biografia “Ziunim veTamrurim”705
. Podemos imaginar sua primeira impressão
sobre a comunidade ao desembarcar no Rio de Janeiro sem que houvesse viva alma para
esperá-lo no porto. O único a aparecer , foi o presidente da Federação Sionista, o veterano
Jacob Schneider, enquanto R. aguardava no hotel em que se encontrava os membros da
Associação de Ajuda e Amparo ao Imigrante (Relief). Três dias após R. deslocou-se para a
sede da Associação e se apresentou aos seus diretores que se encontravam reunidos naquele
momento. Estes ficaram surpresos e se mostraram relutantes, para manter os primeiros
entendimentos sobre sua missão no Brasil. É preciso dizer que os representantes e
funcionários da ICA eram vistos como assimilacionistas e, no Brasil, a experiência em sua
administração das colônias locais era alvo de severas críticas. O difícil diálogo de R. com
os diretores do Relief girou ao redor da colaboração dessa entidade na admissão de novos
imigrantes e sua integração no país e na organização interna da própria instituição para que
cumprisse os requisitos de seriedade e probidade necessários para cumprir com seus
objetivos. Em primeiro lugar dever-se-ia lutar para que o governo mudasse as leis que
restringiam a admissão de imigrantes da Europa Oriental, se organizassem comissões em
todas as comunidades para receber os imigrantes e providenciar trabalho para os mesmos
nos primeiros dias de sua chegada com a ajuda financeira da ICA. Pouco a pouco a atitude
em relação ao novo imigrante visto, por vezes, de ser um concorrente aos que já se
encontravam no país que se ocupavam do comércio ambulante, começava a sofrer
mudanças. Por um lado absorver o imigrante significava também criar cooperativas de
crédito e caixas econômicas e, por outro lado, instituições sociais que o integrassem na
comunidade e oferecesse aos seus filhos escolas nas quais pudessem dar continuidade às
suas tradições e recebessem a herança cultural de seus antepassados, o que demandava
investimentos e grandes esforços tratando-se de imigrantes pobres e com poucos recursos.
É possível acompanhar o seu empenho na organização da comunidade ao propor a criação
de uma Kehilá (lit. “comunidade”) que tivesse um caráter moderno e com autoridade
centralizada a fim de evitar os costumeiros desencontros e atritos próprios de instituições e
lideranças locais que disputavam entre si o “poder” sobre as demais, mesmo em momentos
delicados que exigiam harmonia de interesses e disciplina interna frente as questões que
concerniam a toda comunidade. O debate sobre a Kehilá envolveu todas as instituições e
atingiu boa parte do judaísmo brasileiro dividido em suas opiniões conforme já relatei em
outro lugar.706
Outro aspecto desse mesmo empenho é o desejo de conhecer mais a fundo o
705
Ed. Shoshani, Tel-Aviv,1952.
706 Vide sobre isso Falbel,N,Jacob Nachbin, Nobel, São Paulo,1985, pp.73-82. A discussão iniciada
em 1924 não terminaria e continuaria durante certo tempo com reações, a favor e contra, assim
como podem ser acompanhadas no jornal “Dos Idische Vochenblat”( O Semanário Israelita)
durante o ano seguinte como podemos verificar no número de 23/1/25 no qual os representantes
da comunidade de Natal no Rio Grande do Norte ainda se manifestaram a respeito. O debate não
cessaria e voltaria periodicamente à ordem do dia da vida comunitária. Quando em 1927
Raffalovich voltou mais uma vez ao assunto e o grupo de iniciativa que o apoiava convocou uma
assembléia geral para debater sobre o mesmo eclodiu em meados daquele ano novo debate no
Brasilianische Idische Presse, (números de 31/5/1927;3/6/1927;10/6/1927). Nathan Becker,
militante do Partido Poalei Sion se manifestaria dizendo que é a favor de uma organização
475
judaísmo brasileiro ao organizar um questionário estatístico para ser distribuído em todas as
comunidades devendo informar sobre o número de famílias , ocupações profissionais,
estabelecimentos comerciais, histórico de sua origem , possibilidades de receber imigrantes
, sinagogas e instituições existentes etc. Duas questões nesse questionário concernem
diretamente ao seu projeto comunitário, o primeiro de criar cooperativas de crédito (Leie
um Schpor Kasse) e o segundo sobre a possibilidade de se criar uma escola local.707
O
impulso que Raffalovich dera a Sociedade de Ajuda e Amparo ao Imigrante no Rio de
Janeiro, desde que chegara ao país, resultaria na ampliação de suas responsabilidades e
objetivos. Já em 1927 pouco após a fundação do HICEM (com a fusão da HIAS, ICA,
Emigdirect que se dera naquele mesmo ano).708
O Hilfs-Ferein, ou Relief, em assembléia
extraordinária de 31 de dezembro, traçava um novo programa de trabalho no tocante: 1) a
administração ;2) Lei um Schpor Kasse (cooperativa de crédito);3) Froien Schutz
Gezelschaft (Associação para a Defesa da Mulher);4) cursos de língua portuguesa; 5)
ensino profissional; 6) reorganização interna do aparato administrativo com o objetivo de
transformar-se numa organização central de ajuda social para todo o Brasil.709
Sob esse
aspecto começava agora uma nova etapa na vida judaica no Brasil resultado da dedicação
pessoal de Raffalovich que não poupou anos de esforços viajando de um lugar a outro para
conhecer o que se passava nas comunidades e sentir de perto os seus problemas. O HICEM
tinha como parte fundamental de seus objetivos a produtivização do imigrante e
Raffalovich deveria adaptar as diversas sociedades de ajuda para atender a esse escopo.
Para tanto ele viajaria a São Paulo, Santos, Porto Alegre, e demais comunidades para
aperfeiçoar e fortificar e criar associações locais e torná-las aptas para esse trabalho.710
Suas
viagens não se restringiram ao Brasil mas se estenderam também à Argentina uma vez que
a colonização da ICA nesse país serviu de modelo ao Brasil e o contato com seus
comunitária em bases democráticas mas que não apoiava o “grupo de iniciativa” (B.I.P. 31/5/1927).
Na sinagoga Beit Israel realizou-se um meeting para discutir o assunto e a tona dos que se
manifestaram entre eles Schlomo Izeckson, (no B.I.P. de 10/6/1927 ele explicará que nunca apoiou
essa idéia do rabino Raffalovich) Aron Shenker,A. Berman, N.Huliak, foi negativa. Entre os
argumentos alegou-se que a motivação da iniciativa era o “kavod” (vaidade pessoal) além de que a
tal “kehilá” poderia despertar o ódio da população cristã...
707 Dos Ídische Vochenblat (doravante DIV) 16/1/1925.
708 Os diretores do HICEM passariam a visitar os países sul-americanos e R. teria contato pessoal
com os mesmos. V. IF 20/4/1928. O Hilfs-Ferein, com a ampliação de suas atividades alugaria um
novo prédio na rua São Cristovão, 189. V.Idische Folksteitung (doravante IF) 8/6/1928.
709 IF 3/1/1928.
710 IF 20/1/1928.
476
problemas e sua administração passava a ser indispensável.711
Por outro lado, em suas
viagens pelas comunidades, proferia conferências e palestras sobre temas judaicos e
procurava despertar a consciência dos seus membros para a necessidade de se criar uma
escola local.712
Sua atividade itinerante pelo vasto território brasileiro acabaria por ter um
resultado surpreendente na criação de novas escolas. Raffalovich, desde que chegou ao
Brasil, percebeu a importância da imprensa judaica e logo passou a colaborar com artigos
para a mesma no intuito de esclarecer aspectos da história judaica, festividades religiosas e
questões relativas à vida comunitária, bem como divulgar sua atuação através do país.713
Sem pretendermos fazer uma história da educação judaica no Brasil devemos lembrar que o
projeto de colonização da ICA com a criação de Philippson em 1904 e Quatro Irmãos 1911-
2 previa a criação de escolas locais. Efetivamente encontramos a primeira escola judaica
em Philippson, estabelecida por Léon Back, em 1908 destinada a atender a educação dos
filhos de seus colonos. Podemos verificar que os egressos das colônias que se
estabeleceram nas cidades do Rio Grande do Sul procuraram criar escolas para darem
continuidade à educação judaica de seus filhos. Nos anos 10 temos em cidades como Porto
Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro “escolas”, na verdade “hedarim” provisórios para o
711
São freqüentes as notícias das viagens de R. à Argentina na imprensa judaico-brasileira. Em
20/1/1928 o IF anuncia a viagem do rabino a Buenos Aires, no mesmo navio, que viaja o
engenheiro Akiva J. Ettinger (1871-1945), especialista em colonização agrária, representante da
ICA e conselheiro para a América do Sul desde 1911, além de importante ativista do Fundo
Nacional Judaico )Keren Kayemet LeIsrael) que desempenhou um importante papel na
colonização agrária na Palestina. Ettinger esteve ,na época, visitando o Brasil, porém, ele já havia
estado no Brasil entre 1911 e 1913. Em suas memórias “Haklaim yehudim batefutzot”(Agricultores
judeus na diáspora), publicada em 1942, ele menciona ter visitado a colônia da ICA Philippson em
1913. Sobre ele vide o verbete na Encyclopaedia Judaica, Keter Pub. House, Jerusalém, 1971-2,
vol. 6, p.953; também Encyclopaedia of Zionism and Israel, Herzl Press –McGrow-Hill ,New York,
1971, vol.1, p.307.
712 O DIV de 12/2/1926 relata que chegou em 8/2 a Bahia e falou sobre seus dois anos de trabalho
comunitário no Brasil. O mesmo periódico de 19/3 confirma em entrevista que esteve na Bahia e
Pernambuco. O número de 26/3 informa que deu uma conferência sobre “Di meglichkeiten far a
gresseren ídischen ishuv in Brazil” (Os meios para uma comunidade judaica maior no Brasil) e o
DIV de 11/6 relata sobre sua viagem ao Sul e a Montevideo, referindo-se a ICA e a fundação de
escolas. Nessa viagem ele chegará a B.Aires pois o DIV de 23/7/1926 anuncia que está a
caminho de volta dessa cidade , assim informa seu secretário Zvi Peippert. No DIV de 23/7/1926
se refere a visita de R. em Santana do Livramento que em sua conferência expressa o receio da
assimilação vendo a educação como uma forma de se contrapor a esse processo. Isso nos dá uma
idéia da estonteante atividade do rabino e seu desejo de realizar ao que se impôs em sua missão
para o Brasil e América do Sul.
713 Podemos acompanhar sua atuação, viagens, homenagens, no DIV, no BIP , IF, e outros
periódicos desde os primeiros passos ao chegar ao país até sua saída em 1935.
477
ensino religioso das crianças dos imigrantes visando acima de tudo o seu preparo para o
bar-mitzva.714
Sem dúvida serviram como núcleos iniciais para um desenvolvimento
posterior de um currículo mais completo. Por outro lado sabemos de iniciativas pessoais
antes dos anos 20715
e já nos inícios dos anos 20 que por razões locais fracassaram.716
Nessa década é que efetivamente se criam escolas com um programa judaico secular
inspirados nos modelos europeus do Cysho e do Tarbut sendo predominante esta última
714
Sobre as escolas da ICA em Philippson, Quatro Irmãos e as demais colônias bem como outras
do tipo “hedarim” que também eram denominadas de Talmud Tora, vide meu artigo “Subsídios à
História da Educação Judaica no Brasil” in Falbel,N. Estudos sobre a comunidade judaica no
Brasil, Fisesp, São Paulo, 1984, pp. 119-130. Há no periódico “A Columna” (de set.-out.-
nov.dez.,1917) uma notícia sobre a escola de Pinhal “sob a direção de Max Rosenberg e cujos
alunos representaram a peça “ O Rei Lear” do conhecido israelita Jacob Gordin, em 4 atos com
música.” No Arquivo de David J.Pérez, Coleção Microfilmada de Nachman Falbel, Pasta 3,
encontra-se uma carta de Alexandre Algranti datada de 26/4/1916, dirigida a Pérez que se refere
ao Talmud Tora de São Paulo, fundado em 25 de fevereiro daquele ano: “Há um schochet
ambicioso em todos os aspectos vendedor ambulante que se diz grande sábio...e vai nas famílias
israelitas dar lições em Hebreu aos filhos destas. Naturalmente isto é diferente de nossa instituição
escolar...os pais podendo bem em mandar agora os filhos na escola, não mandem mais este que o
sr. Schochet (ambulante) em fazer concorrência e que bem pode ocupar-se de seus negócios”. O
tal “schochet” é certamente um “professor” que atua pessoalmente no preparo das crianças para o
“bar-mitzva” e que a escola recém fundada vê como seu “concorrente”. Na mesma carta informa-
se que na sinagoga da Rua da Graça, 39 recolheu-se contribuições dos que foram chamados à
leitura da Tora para o Talmud Tora. No periódico “A Columna” de março de 1916 noticia-se o
desejo de fundar uma escola e no número de maio do mesmo ano informa-se sobre fundação da
escola em 25 de fevereiro sendo que nos demais números encontramos notícias sobre a ajuda
institucional prestada ao Talmud Tora Beit Sefer Ivri de São Paulo alvo de elogios de parte de
visitantes à cidade de São Paulo, tais como Max Fineberg e Ambrósio Ezagui. Fineberg (“A
Columna”, agosto 1917) nos informa que “o Talmud Tora recentemente fundado que vai prestando
o inestimável serviço de instruir os filhos de nossos correligionários na língua dos Profetas e
educá-los propriamente para que sejam tão bons israelitas como brasileiros.”
715 Em Belém do Pará o major Eliezer Levy fundou uma escola “Externato Misto Dr. Chaim
Weizmann em 15 de novembro de 1919. Sobre isso vide Falbel, N., “Subsídios...” p.126.
716 É ocaso de uma iniciativa de A.Ribinik, ativista sionista, de fundar uma escola em Maceió, em
1922, mas como certas famílias não quiseram mais enviar seus filhos pelo fato de terem se
demitido da Sociedade local a escola teve que fechar, assim como a própria Sociedade
mantenedora. V. DIV 15/11/1924. No mesmo número se relata que em Cachoeira , pelo fato não
haver uma escola judaica as crianças que freqüentam a escola pública brasileira tem sucesso
devido os seus talentos...
478
corrente, plenamente identificada com os ideais sionistas e tendo como fundamental o
ensino da língua e da cultura hebraica. 717
Em certos lugares, nas comunidades maiores, como Rio de Janeiro, São Paulo,
Porto Alegre e algumas cidades menores já se encontravam funcionando escolas tais como
a Maguen David (mais tarde Colégio Hebreu-Brasileiro),718
Renascença (Hatchia) nas duas
primeiras cidades. Em Natal , por iniciativa da bem sucedida família Palatnik que se
estabelecera naquela cidade, foi criado um jardim-de-infância em 1925.719
Caso parecido
717
Uma carta assinada por Jaime Horowitz e Itshaq Roitberg ,respectivamente presidente e
secretário da primeira organização sionista no Rio de janeiro conhecida como Tiferet Zion, nos
informa que “podemos relatar que em reunião no dia 12 de Adar pensamos em criar uma escola
hebraica e aproveitamos o Purim para criarmos um fundo para o empreendimento
escolar...também nomeamos um diretor para o fundo da escola hebraica na pessoa do senhor Max
Fineberg...” Carta do Archion Hatzioni (Central Zionist Archives), de 16 de Adar 5674 (1914), pasta
Z 3/785.
718 A data oficial de fundação da Maguen David é 22 de abril de 1922, conforme consta na
Ilustração Israelita, 1, agosto de 1928. Além de Aron Goldemberg, Raphael Cohen, AlterKlein,
David Bilmis tomaram parte na fundação David José Pérez e Wolf Kadischevitch. Aron Goldenberg,
em 29/11/1921, havia enviado uma carta a David J.Pérez solicitando um encontro para conversar
“sobre a formação de um Colégio Israelita [sobre o qual] eu já tinha uma vez conversado com V.
Exa. Na praça 15 (?) de junho na chegada do Dr. Wilensky...” Em 14/2/1922 ele escreverá
novamente a Pérez em nome da Comisssão Executiva pedindo que compareça a uma reunião
“para dar a solução de assuntos sobre o “Colégio” Magen David , na sede do “Club Juventude
Israelita” sito Rua Santa Anna n. 49, sob...” Em 4 de abril de 1922 a “Comissão” convidaria a
Pérez para comparecer ao Colégio Maguen David, para no dia 6 do corrente tomar posse como
Diretor do Colégio...” Um cartão pessoal de Madame S.Worms datado de 6/4/1922, dirigido a Pérez
e desejando visitá-lo a fim de lhe falar sobre o Colégio Israelita se encontra juntamente com todos
esses documentos na Pasta 7 do Arquivo David José Pérez, Coleção Microfilmada Nachman
Falbel. Em 14/2/1924 Harry Marcos Fineberg, tezoureiro da escola, escreve a Pérez, “em nome da
Comissão Administrativa, concedendo-lhe autorização e poderes sobre as despesas internas que
venha necessitar o referido Colégio”. Vide também Falbel, N., David José Pérez: uma biografia,
Garamond, Rio de Janeiro, 2005. Contudo a escola teve sérias dificuldades nos seus primeiros
anos de existência e ainda em 23/1/1925 o DIV publicava um artigo “Di flicht fun di eltern” (O papel
dos país) no qual se apontava os obstáculos que a instituição deveria enfrentar.
719 Vide de Tuvia Palatnik, Benetivei hanedudim (Nos caminhos errantes), Tel-Aviv, 1970, pp.193-4.
O autor descreve com admiração a atuação de R. no Brasil e entre tudo o seu papel na criação da
rede escolar judaica no país. R. em seu “Tziunim veTamrurim”, p.189, faz referência a pequena
comunidade de Natal e seu jardim-de –infância sob a direção de Sara Barnitzki que foi trazida
especialmente de Eretz Israel para ser a responsável pela instituição.
479
foi a criação do jardim de infância e escola da Associação Scholem Aleichem no Rio de
Janeiro em 1925 que programou o ensino do ídiche no jardim da infância, o português
como parte do currículo e quatro anos de hebraico. Um artigo “Tzu der schul-initziative”
(para a iniciativa escolar) justificava a criação de mais uma escola na cidade pelo fato de
que muitos país se desculpavam em não enviar seus filhos a escola existente [a Maguen
David, de orientação hebraica] devido o seu “idichismo” .720
Esse mesmo “idichismo”
levaria a criação de uma Escola Popular Judaica e Jardim de Infância no Meyer , Rio de
Janeiro, sob a orientação pedagógica do notável líder do Poalei Sion, Aron Bergman.721
Procurava-se encontrar um equilíbrio entre o currículo hebraico e o ídiche, a língua do
cotidiano entre os imigrantes da Europa oriental, e no ano de 1925, em uma assembléia
geral da Escola Hebraico-Brasileira Maguen David realizada em 15 de março daquele ano,
após relatório financeiro e pedagógico, do diretor David J. Pérez, no qual anuncia que 11
alunos prestaram exames e entraram no Colégio Pedro II, houve uma proposta para se
720
DIV 31/7/1925 e 28/8/1925. O Beit Sefer Ivri-Brazilai “Maguen David” de orientação hebraísta
mobilizava boa parte da comunidade recebendo apoio das organizações sionistas e nos primeiros
anos tinha como diretor o Prof. David José Pérez, notícias sobre ela encontra-se no DIV que
comunica o encerramento do ano letivo além das comemorações e campanhas em seu favor.DIV
28/11/1924;9/1/1925;23/1/1925;6/3/1925;20/3/1925; 11/9/1925. Já em 1927 o diretor da escola era
o professor M. Burlá e frente ao novo ano letivo de 1928 a instituição daria um salto no tocante ao
número de alunos enquanto anunciava a abertura do primeiro ano ginasial, o que levou a mudança
para um novo prédio. Também ponderou-se, em assembléia geral, que elegeu nova diretoria, a
fortificação do ensino da língua ídiche. Vide IF 3/2/1928;7/2/1928; 2/3/1928;6/3/1928;
9/3/1928/10/4/1928. O IF de 4/5/1928;11/5/1928;1/6/1928;8/6/1928 trás o noticiário sobre os
preparativos para a inauguração do ginásio e do novo prédio marcado para o dia 10/6/1928.
721 BIP 6/12/1926; 9/12/1927, nesse último número se publica um artigo sobre “A natzional-veltliche
idische folks-schule un kinderheim”(A escola secular-nacional judaica e o lar da criança) no qual se
expressa que a idéia da criação de tal escola ,entre outras coisas relativas ao seu programa, é
devido ao fato de que “centenas de crianças são educadas na escola oficial na qual prevalece o
espírito católico...”
480
introduzir o estudo do ídiche.722
Na verdade um verdadeiro movimento entre pais e
professores apoiados iniciava-se para impor o ídiche como língua a ser estudada nas escolas
e com o mesmo peso e importância do hebraico. A iniciativa nesse sentido coube a Porto
Alegre onde um grupo de ativistas do partido Poalei Sion, em 1926, teve a iniciativa de
abrir a primeira escola, denominada Ber Borochov, na linha do “ídisch-veltliche folks-
schul” seguindo a corrente do Cysho europeu.723
O programa da escola, fundada em junho
de 1927, estava assentado sobre o ídiche como língua de ensino e o hebraico como a língua
722
DIV 20/3/1925. Wolf Kadischevich era presidente da escola e Raffalovich fazia parte da diretoria
ampla. O DIV de 8/1/1926 informava que em 2/12/1925 a escola Maguen David comemorava o
encerramento do ano letivo no salão do Clube Ginástico Português, com a presença de centenas
de famílias da cidade e que além do presidente, Leon Schwartz, falou o Dr. Raffalovich, seguindo-
se a representação em hebraico da peça “Bat Iftach”(A filha de Iftach), cantos e danças. Já no
número de 2/2/1926 informa-se que na assembléia anual da escola na qual se destaca, mais uma
vez, o ingresso das 11 crianças no Pedro II, apresentando-se o orçamento da instituição (50
contos de reis anuais, mensalidades e contribuições voluntárias) se revela que parte das crianças
“fun di arabischen idn” ( isto é, dos judeus sefaraditas) estudam gratuitamente. Interessante
observar que a diretoria, composta por judeus sefaraditas e asquenazitas da velha imigração,
apontou como Presidente de Honra o rabino Raffalovich. Em agosto de 1928 a Ilustração Israelita,
n.1, publicava um relato sobre o Maguen David no qual se elogiava “o trabalho incansável dos
excelentes educadores Wolf Kadischevitch, David Pérez e outros... após um período de
decadência ,debelado pela organização de uma nova comissão que entregou a diretoria ao sr.
Eidelman . Este elevou o Colégio a categoria de Ginásio, fazendo a mudança para um novo
edifício. Atualmente freqüentam 172 crianças...O programa de estudos de língua portuguesa é o
mesmo das escolas públicas. O quinto ano já prepara os alunos para fazer o exame de admissão
aos cursos secundários. Os estudos do hebraico seguem o mesmo programa do Ginásio de Jafa.
Todos os cursos funcionam no novo prédio da rua barão de Ubá,89. Para o lanche do meio-dia, o
ginásio oferece aos alunos leite e café.” Sobre a inauguração do novo edifício da escola encontra-
se uma carta de 25/5/1928 endereçada a Pérez, no Arquivo David J.Pérez, Pasta 12, Coleção
Microfilmes Nachman Falbel.
723Raizman viera da Argentina recomendado pelo partido Poalei Sion que apoiava e estava ligado
e apoiava a corrente do Cysho. Também A.Bergman viria ao Brasil para ser professor em Porto
Alegre mas acabou ficando no Rio. Boa parte do que se segue é extraído do excelente artigo, sem
indicação do autor, sob o título “Di bavegung far ídisch in Brazil” (O movimento pró- ídiche no
Brasil) no número comemorativo do Idische Presse, p.18-23. É preciso lembrar que em 1927
Zerubavel, o famoso líder do Linke Poalei Sion e vice-presidente da rede escolar na Polônia veio
para o Brasil em nome do Cyscho para colher fundos na América do Sul visitando também a
Argentina e outros lugares.. V. IF 6/1/1928. O jornal de Varsovia “ Heint” (Hoje) de 28/7/1927
publicou um artigo sobre sua pouco bem sucedida missão no continente.
481
para os estudos mais profundos, além do português, assim como era ensinado na escola
oficial do país. A escola Ber Borochov, que em 1927 se encontrava sob a direção de
I.Raizman,724
não durou muito tempo e a um dado momento ela teve que se unir a escola
hebraizante devido a má situação financeira de ambas. A segunda escola do mesmo gênero
foi a Jacob Dinezon725
de Salvador que continuou existindo durante muito tempo e no ano
de 1927 havia adotado o programa da “idisch –veltliche shul” da Polônia sob a direção de
Menasche Fuks e a orientação pedagógica de I. Shusterovich.726
Porém ,em 1934, por
724
I. Raizman, professor, foi um dos primeiros historiadores judeus no Brasil e do grupo fundador
do Poalei Sion em Porto Alegre. O IF 27/12/1927 trás a notícia sobre comemorações em
homenagem à Ber Borochov, o notável teórico do Poalei Sion. Raizman relata sobre os motivos da
criação da escola Ber Borochov em seu livro A fertl yorhundert idische presse in Brazil, (Um quarto
de século de imprensa judaica no Brasil) ed.Muzeum le-Omanut ha-Dfus, Safed, 1968, pp.55-57.
Em suma a luta entre as duas correntes , a idichista e a hebraísta é o que levou, na época, à
divisão de algumas escolas, entre elas também a de Santos, assim como o relata Raizman em sua
obra , pp.184-5. Raizman coloca claramente que a divisão da escola de Porto Alegre foi de caráter
ideológico e ele , idichista por convicção, naquele tempo, culpa injustamente os sionistas e a
obstinação do professor Jacob Faingelernt, bem como a Raffalovich pelo ocorrido. Em sua história
da imprensa judaica no Brasil, e antes dele o historiador Jacob Nachbin, assinala um dos seus
segmentos importantes foi representado pelos boletins ou jornais das escolas , como a de Santos,
o da escola J.Dinezon da Bahia, o da Scholem Aleichem em São Paulo e muitos outros. Raizman
publicará um histórico da escola no boletim comemorativo, lembrado mais abaixo (vide nota 27) da
escola de Santos, sob o título “Di schvere atchile...” ( O difícil começo...) no qual enfatiza o papel
de Jacob Faingelernt como hebraista que não dava importância ao ensino do ídiche, o que de fato
não corresponde inteiramente à verdade. A escola “Ber Borochov” encerraria suas atividades em
1929 e Raizman, com certa ironia e mágoa, lembra que a ICA não a subsidiou uma vez que R. se
atinha ao príncipio de não apoiar duas escolas em um mesmo local.
725 A escola foi fundada em 1925 e a notícia que temos no DIV 26/3/1926 sobre o primeiro
aniversário comemorado no dia 24/2 confirma o apoio de Raffalovich bem como a orientação que
havia adotado desde o início sendo “a única escola judaica no Brasil na qual se ensina as matérias
judaicas em ídiche e na qual o hebraico não é limitado, e que todas as crianças da comunidade a
freqüentam e é apoiada por toda a coletividade que se responsabiliza por ela.As despesas do ano
foram de 17 contos sendo de 6 o ingresso das anuidades ;1 conto provindo do Dr.Raffalovich e os
demais 10 contos cobertos pela comunidade, contando 40 crianças de ambos os sexos. Assina o
secretário da escola Jacob Berenstein.” No boletim “Undzer Yovel” , da escola J. Dinezon,
publicado em 1934, dá-se o ano de 1924 como a data de fundação da escola. Fundo 228 Gussy
Schkolnick AHJB.
726 Menasche Fuks demonstrou sua preocupação com a educação judaica através de uma série de
artigos na imprensa da época. Já nos números de 31/7 e 7/8/1925 do periódico DIV ele escreve
482
dissenções internas, seria criada uma nova escola.727
No mesmo ano de 1934 veriamos a
criação da escola Scholem Aleichem em São Paulo.728
Mas devemos lembrar que na cidade
de Santos, em agosto de 1930, foi fundada a escola “I.L.Peretz” seguindo a mesma
sobre a religião na escola judaica (Religie in a idischer schule) adotando uma postura laica sobre o
assunto.
727 Na ata número 1 da reunião de diretoria do Centro Israelita de 10/1/1934 consta a fundação da
escola para a qual J. Politschuk seria convidado para ser professor. Na ata 25 de 18/10/1934
consta na ordem do dia o item “sobre o acordo para a reconciliação com a escola J.Dinezon” ,o
que demonstra o quanto era frágil sua existência. Livro de Atas (10/1/1934-2/4/1936, ídiche) Fundo
426 - Bahia, AHJB.
728 Sobre ela vide o artigo de Abrahão Gitelman ,”Uma escola ídiche na São Paulo de trinta” in
Boletim Informativo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro,ano III, número 17, outubro,1999, pp.7-
9.
483
orientação idichista do Cysho.729
No Rio de Janeiro o movimento pró-ídiche liderado
também pelo Poalei Sion que de início pretendia introduzir o ídiche na escola Maguen
David que não foi aceita pela maioria o que provocou que se criasse uma nova escola
729
Dois anos após a escola publicaria um boletim especial comemorativo de seus dois anos de
existência ,com a data de dezembro de 1932, tendo a figura do notável patrono-escritor estampada
na capa e o título “Di Idische Veltliche Schul”. O histórico dessa escola encontra-se no artigo
escrito por Godel Feingezicht com o título “Tzvei yohr idisch veltleche schul” (Dois anos de escola
secular judaica). O primeiro professor dessa escola foi Aisengart que em 1932 foi substituído por I.
Raizman. De início foi apoiada por R. mas esse apoio cessou quando os atritos internos na
comunidade local, aparentemente de natureza ideológica, se agravaram. Um artigo dirigido contra
R. escrito por Simon Ratholz “Der ICA forshteier un dos idische schul vezen in Brazil” (O
representante da ICA e a educação judaica no Brasil) permite compreender as razões que levaram
o rabino a não continuar dar o apoio financeiro àquela escola uma vez que a ICA negava-se a
subsidiar duas escolas em pequenas comunidades. O número comemorativo é constituído em boa
parte de artigos que contém incontidos ataques pessoais à Raffalovich que procuram denegrir sua
imagem perante a comunidade brasileira. Na publicação encontra-se uma carta aberta dirigida à
diretoria central do Instituto Científico Judaico (Yiwo) na Europa na qual se acusa o rabino-mor,
representante do Yiwo no Brasil, como um “declarado inimigo de tudo que é judaico e secular em
nossa comunidade”. Os ataques pessoais a Raffalovich se repetiriam nos boletins de outras
escolas afiliadas a mesma corrente assim como podemos constar na redação extremamente
agressiva do professor A.Aizengart, que já havia passado por várias escolas, desde que
desembarcara no Brasil, em artigo no boletim “Undzer Schul” da Escola Scholem Aleichem de São
Paulo, junho de 1934,p.5, intitulado “In tzeichen fun kamf” (Sob o signo da luta) dirá que a escola
deve estar orientada para as crianças em base moderna-progressista e não sob a nacionalista
estreita , clerical-chouvinista concepção dos ativistas dos “presidentes” e “diretores” com o seu
espírito reacionário, em todos os aspectos da educação escolar, e a tendência do profundo
reacionarismo e obscuro clericalismo da ICA e seu representante Raffalovich...” Fundo 140
Abraham Gitelman, AHJB. Era o tempo do “ódio ideológico” verbrrágico, irresponsável, sem limites
e sem escrúpulos! Era comum, na época - estamos falando dos anos 30 - entre os círculos de
esquerda, a visão de que o hebraico era uma língua sem futuro, clerical e de grupos
assimilacionistas; o ídiche seria a língua que preservaria o jovem educando da assimilação e
possibilitaria transmitir a herança da cultura judaica acumulada através dos tempos...Sob o aspecto
histórico ainda resta inquirir até onde essa ruptura, que se aprofunda fundamentalmente nos anos
30, não estaria relacionada a um contexto internacional mais amplo.
484
denominada Escola Complementar do Rio de Janeiro,730
que antes de tudo visava dar um
ensino judaico as crianças que estudavam em escolas brasileiras.731
Porém, sabemos que no
final dos anos 20 e inícios dos 30 as divergências entre os adeptos das duas correntes
730
BIP 26/9/1927 que anuncia uma reunião de fundação da Escola Complementar no Rio, no
Yugend Club, no qual Nathan Becker e A. Bergman, lideres do Poalei Sion explicam os objetivos
da nova instituição. No mesmo número noticia-se a inauguração para o dia 9/10 do mesmo ano e
no número de 30/9/1927 o jornal informa que em 1/10 foi eleita uma diretoria da Escola
Complementar com a presença de representantes de várias associações comunitárias, sendo
designados A. Bergman presidente, N.Bronstein, vice, secretário S. Karakuschanski, tezoureiro A.
Weiner, representante da comissão pedagógica A. Scherman, colaboradores da diretoria N. Becker
e M. Fridman. Sobre a Escola Complementar escreve Karakuschanski em seu livro
“Aspecten..,vol.1,p.14: “Foi em 1928 [na verdade 1927] quando nasceu a idéia de uma escola
complementar e para a qual se colocou a seu serviço o autor dessas linhas e Aron Bergman, Z”L, o
primeiro para o hebraico e o segundo para o ídiche. A escola complementar teve lugar no Yugend
Klub que na época era presidido por Nathan Becker. Se entende que Becker apoiava a escola de
todo coração e alma cedendo a sala gratuitamente. Também os professores não recebiam
qualquer remuneração...e devido a isso a escola fechou após 3 meses de existência.”
731 IF 8/6/1928 ao falar da abertura da escola Scholem Aleichem “a quarta do Rio. Ela se integra à
rede das Escola Hebraica que já passou a ser Ginásio Hebraico; a escola popular do Meyer; a
escola Complementar...que funciona no Yugend Klub.” Sobre a escola Scholem Aleichem do Rio
vide a brochura “Colégio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem, Relatório Social e Financeiro para o
Decênio 1935-1945”.
485
atingiria o seu momento mais agudo.732
Efetivamente já se formulava a idéia de promover
um encontro nacional dos professores e ativistas da corrente seguidora do Cysho e criar
uma organização central das escolas seculares já existentes no país vislumbrando a
oficialização de duas correntes.733
No boletim “Undzer Yovel, da escola J. Dinezon,
relaciona-se as escolas existentes da corrente secular como sendo a da Bahia, a I.L.Peretz
de Santos , fundada em 1930, a Scholem Aleichem de São Paulo,fundada em 1934, a
N.Sc.Anski de Nilópolis, fundada em 1928, a Mendele Mocher Seforim de Petrópolis,
fundada em 1931 e a Scholem Aleichem do Rio de Janeiro. 734
Mas em relação a escola
em questão, posteriormente, uma assembléia da Maguen David decidiria pela introdução e
o equilíbrio das duas línguas no currículo da instituição. Contudo, tudo indica que a escola
do Meyer, lembrada acima, sob a iniciativa do Poalei Sion, foi criada em decorrência do
debate havido sobre essa questão e denominou-se Natzional-veltliche Idische Schul in Rio ,
durando, sob a direção pedagógica de L.Schmelzinger, até o ano de 1933. O ano de 1927
732
Em artigo de autoria de Aharon Matz, um dos dirigentes da escola Scholem Aleichem do Rio,
sob o título “Farvos idisch-veltliche shulen?” (Por que escolas seculares judaicas?) publicado no
mencionado boletim comemorativo da escola de Santos, colocando a corrente secular nacional-
judaica como a melhor alternativa temos ,em contraposição, uma definição das correntes escolares
a começar do Talmud Tora ou escola religiosa que “tira a criança do mundo que o envolve”; a
hebraica que apesar de moderna “constroi uma muralha da China entre a criança e seus país”
educando para uma Eretz-Israel ,um sonho do futuro, para o qual ele não irá, e que não realizará,
assim como o Talmud Tora vive do passado da história judaica; a escola oficial brasileira, que ao
contrário das duas anteriores que afastam a criança do meio no qual vive, favorece a assimilação
como um desejo deliberado de integração em uma única nação e luta para eliminar qualquer
vestígio de outra identidade, aumentando, desse modo, o abismo entre a criança judia e seu lar,
afastando-a de seus pais para poder melhor assimilá-la. Para o autor somente a idisch-veltliche
schul é capaz de se opor a assimilação e evitar o afastamento da criança do seu meio judaico. É
no mínimo surpreendente, que em alguns artigos dos defensores da “veltliche shule” a corrente
hebraica (do Tarbut), por ser promovida pela ICA era vista como assimilacionista...É o que vemos
no artigo de Ch.I. Weisman “Lomir boien idisch-veltliche schulen” (Construamos escolas judaicas
seculares).
733 Conforme se encontra manifesto em artigo publicado no boletim da Escola Scholem Aliechem
de São Paulo “Undzer Schul”, São Paulo, junho de 1934, p.2. O articulista anônimo propõe um
contato permanente com o Cysho na Polônia, com o Arbeter Ring dos Estados Unidos e outras
organizações. Na mesma publicação anunciava-se a formação de uma escola secular em Curitiba,
mas tudo indica nunca chegou a ser criada. Fundo 140 Abrahão Gitelman, AHJB. O mesmo
encontramos no boletim “Undzer Yovel” da escola J.Dinezon. Fundo 228 Gussy Schkolnick, AHJB.
734 “Undzer Yovel, boletim da escola J. Dinezon, 1934. Fundo 228 Gussy Schkolnick, AHJB. O
boletim noticiava a vinda ao Brasil do professor P. Tabak, que dirigia uma escola secular em Lublin
na Polônia, além de um artigo de sua autoria.
486
aponta para um amadurecimento no sentido do debate sobre a concepção que deve reger a
escola judaica no Brasil e nele tomam parte professores respeitáveis como Moshe Fridman
que se destacava por sua cultura e teve um papel de destaque entre os educadores da
comunidade brasileira.735
Uma entrevista do presidente da Escola Hebraico-Brasileira,
Leon Schwartz, ao BIP reflete o que se passava ao enfatizar que “nesse ano será dada maior
atenção ao ídiche”.736
Um olhar atento sobre o que se passava na rede escolar revelaria que
na medida em que o “esquerdismo” se identificava com o ídiche e assumia uma postura
ideológica radical,737
em oposição ao hebraico, a harmonia e a união comunitária se
mostrava ameaçada por divisões internas. Nesse sentido, a fim de evitar cisões e perigos
que espreitavam a vida escolar em uma fase de ampliação do número das escolas em
diversos Estados levou a que se pensasse na realização de um “congresso nacional sobre a
educação judaica no Brasil”.738
-739
Tudo indica que Raffalovich vinha já vinha há algum
735
Vide BIP 8/11/1927;26/11/1927;29/11/1927. Moshe Fridman, culto e excelente hebraísta era
egresso do Seminário de Professores de Odessa e foi diretor do Ginásio Hebreu-Brasileiro.
Encontramos no DIV de 5/12/1924 um artigo de sua autoria justificando o porque de uma escola
“hebraica” (“Farvos a hebreische schule”) no qual argumenta que houve uma criatividade em
hebraico durante toda a história do povo judeu e a fonte dessa criatividade é o Tanach, a Bíblia
Hebraica. Artigos de sua autoria relativos à educação encontram-se disseminados em boa parte da
imprensa judaica dos anos 20 e 30, tais como os do Idische Folkstseitung de 11/5/1928 sob o título
“Di printzipen fun aktiver dertziung”(Os princípios da educação ativa) e de 25/5/1928 “Di
biologische tzilen fun ertziung” (Os propósitos biológicos da educação) ou ainda no número
comemorativo do Idishe Presse de 19/6/1935 “Idische schul-vezen in Brazil”(Educação judaica no
Brasil). Vide sobre ele S. Karakushanski, Aspectn funem idischen leben in Brazil (Aspectos da vida
judaica no Brasil),Rio de Janeiro,1956-7, 2vol., vol.II, pp.117-119. Nesse tempo, que antecede ao
Congresso dos professores muitos artigos sobre educação serão publicados na imprensa. Outros
professores, J. Politchuk, publicará no IF 24/2/1928 seu artigo “Tzu der schul um lerer-frage”
(Sobre a escola e a questão dos professores),Moshe Weiner ,no IF 27/1/1928 publicará o artigo
“Tzu di schul-fraguen” (Sobre as questões escolares) abordando a questão da passagem do grupo
escolar e a admissão ao curso ginasial. O professor Jacob Faingelernt publicará no IF 7/2/1928 o
artigo “Der baginem fun untzer schul-vezen” (Os inícios de nossa educação escolar) e B.Zinger, de
Santa Maria , no IF 23/3/1928 o artigo “Tzu der schul-frage”(Sobre a questão escolar).
736 BIP 11/3/1927.
737 Essa postura ideológica encontra-se no artigo de Aron Schenker, “Di notvendikeit fun a
idischer schul”(A necessidade de uma escola judaica), publicado originalmente no “Dos Idische
Vochenblat” e reproduzido em seu livro “Vort un Tat”(Palavra e ação), ed.Ykuf, Rio de Janeiro,
1959,pp.133-135.
738 BIP 16/12/1927.
739 A idéia provocaria uma reação positiva entre educadores, professores e interessados que se
manifestariam sobre a mesma na imprensa a começar de L.Marchevski de Campinas com o artigo
487
tempo pensando em fundar um “ tipo de escola para professores no período das férias de
verão , para dar aos professores necessitados a oportunidade de complementar seus estudos
”.740
Já em 5 de março de 1928 programou-se um encontro de educadores e interessados
para discutirem algumas questões sobre educação judaica no Rio na Escola Hebraico-
Brasileira, reunião essa presidida pelo rabino Raffalovich. Seria um encontro prévio que
prepararia a pauta dos professores da cidade para o Congresso. No final de junho de 1928
R. enviava uma circular na qual dizia que “ após a questão da educação neste país ainda não
ter encontrado uma solução de parte daqueles que diretamente estão nela implicados, ou
seja os professores judeus deste e devido a grande necessidade de se criar um programa
geral para todas as escolas existentes fortificar os professores menos preparados a fim de
lhes dar os meios de elevar a necessária educação da nova geração judaica no pais, foi
resolvido de acordo com os professores, convocar um Congresso de Professores nos dias
das férias de verão com a duração mínima de um mês. Durante esse tempo realizar-se-ão
aulas exemplares e palestras sobre temas pedagógicos e técnicas de ensino. Desse modo
dar-se-á a oportunidade aos professores voltar a estudar e a outros complementar seus
conhecimentos sobre o ensino moderno, criando laços entre os professores e favorecer a
ampliação de um campo de trabalho comum no futuro. Em relação às despesas do encontro
nos esforçaremos em encontrar os múltiplos meios a fim de facilitar aos professores o
máximo possível. Após recebermos uma resposta positiva de todos os professores dispostos
a participarem no encontro fixaremos o lugar para a sua realização ao mesmo tempo que
elaboraremos um programa detalhado do mesmo.”741
Efetivamente esse Congresso
“Lerer-tzuzamenfor un zentraler bildung-komitet”(Cogresso de professores e comitê de cultura),
que aborda a questão da escola na província ou nas cidades menores.
740 Em carta de 20/1/1927 à J.Faingelernt ele expressa essa idéia dizendo que ao voltar de viagem
que deverá fazer a Buenos Aires “te escreverei sobre um assunto importante sobre o qual deverei
contar com tua ajuda”. Na mesma carta ele se refere a B.Schulman que lhe escreveu sobre a
escola e teceu elogios ao trabalho que Faingelernt estava realizando naquela instituição. R. lhe
dirá: “Não desanime, meu amigo, meu coração está certo e seguro que no final a vitória será
nossa, mesmo que demore, ela virá. Consola-te com a idéia que sobre você caiu a sorte de ser um
pioneiro que abre caminhos para o renascimento hebraico, que inevitavelmente se realizará. Ainda
que esse caminho seja difícil e pleno de obstáculos e ameaças. Mas você está entre os pioneiros
que trabalham com as dificuldades que não nos é possível descrevê-las e todos sofremos, e ainda
sofreremos, e talvez não cheguemos a colher o que semeamos com lágrimas, porém, não vamos
desistir mas prosseguiremos lutando e seguindo em frente.” Fundo 29 Jacob Faingelernt,AHJB.
741 Em 22/6/1928 R. enviava uma carta a J.Faingelernt na qual o informava que estava remetendo
a mencionada circular e solicitava sua colaboração para organizar o evento e dar seu parecer
sobre um programa que com sua ajuda e a ajuda de outros professores como Weiner, Burlá e
mais um ou dois poderá ser trabalhado quando soubermos que os professores ou sua maioria
tomarão parte no encontro. Ainda que haja idéias de que o encontro deva ser em São Paulo devido
a facilidade de se encontrar ali os meios necessários para sua realização, pessoalmente tendo
para Curitiba devido ser a atmosfera, também espiritual, mais limpa, razão pela qual escrevi ao
488
realizar-se-ia no Rio de Janeiro entre 20-25 de dezembro de 1928 e seria com ele
programado um seminário pedagógico durante um mês de atividades tendo como finalidade
reforçar o preparo professores.742
Nesse encontro estavam representadas 15 escolas do norte
senhor Stolzenberg sobre o assunto...” Já em 20/11/1928 R. comunicava a Faingelernt que a
finalidade do encontro era dar aos professores que não tem nenhuma idéia de pedagogia e ensino,
e nunca estudaram tais disciplinas, uma orientação e certo conhecimento. Os melhores
professores aptos a transmitir algo deverão participar ativamente na transmissão aos seus colegas
não preparados e lhes dar uma orientação. Perdoe-nos por termos colocado a você entre os
conferencistas sem aguardar sua resposta uma vez que não podemos procrastinar ou esperar por
uma troca de cartas sobre o assunto. Na ocasião poderemos tratar das questões que tocastes em
tua carta. O programa proposto pela comissão organizadora do Congresso é provisório e se tens
algo mais a acrescentar aceitaremos com a maior alegria. Estou seguro que te preocuparás em
pensar sobre a situação da educação judaica no Brasil e participarás conosco nesse imenso
trabalho.” De fato entre a documentação do Fundo 29 J.Faingelernt, AHJB, encontra-se o
programa de palestras “Tochnit shel Kinus Hamorim Haivrim Harishon BeBrazilia” (Programa do
Primeiro Congresso de Professores no Brasil) com a especificação dos temas e palestrantes com
os nomes de Faingelernt, Weiner, Burlá, Schmelzinger (erroneamente consta como
Schmelznberg), Eidelman, Fridman e alguns outros nomes indicados para temas de higiene
escolar, educação física etc.
742 A notícia com fotos das escolas encontra-se no número comemorativo do jornal “Idische
Presse”, 1935. No mesmo número o artigo “Di Idische Kolonitzatzie –Gezelschaft (ICA)” faz
referência ao papel da ICA com essas palavras: “Um especial capítulo ocupa a educação judaica
no Brasil, com uma rede de escolas, que se contam em mais de 30 estabelecimentos, e que são
subsidiadas pela ICA. A organização da educação judaica no Brasil sempre foi e permanece como
o mais importante instrumento para a formação da nova geração em bases espirituais sadias e
nisso a ajuda da ICA permitiu ter amplos meios para que se pudesse tanto realizar. Daí
lembrarmos do importante encontro dos professores judeus que a ICA promoveu em 1928 no Rio
de Janeiro.” Na Ilustração Israelita de número 6-7, correspondendo a janeiro e fevereiro de 1929,
a data do Congresso consta como 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 1929, o que representa o
período do seminário pedagógico .A notícia informa que “reuniram-se diariamente cerca de 30
professores representantes de 15 colégios: São Paulo, Capital Federal, Campinas, Curitiba, Recife,
Bahia, Niteroy, Natal , Belo Horizonte, Passo Fundo, Cruz Alta, Campos, Porto Alegre e Quatro
Irmãos. O objetivo foi elaborar um programa comum para o ensino das escolas da língua e história
judia, inclusive cursos pedagógicos, realizou o congresso 52 sessões sendo 22 conferências e 26
aulas e exemplos. Comissão que presidiu os trabalhos:Presidente Honorário I.Raffalovich;
Presidentes M.Weiner, São Paulo e A.Chassin, da Bahia, J.Eidelman, M.Fridman e M.Burlá, da
Capital Federal; séc. M.Bloch, de Niteroy e Sara Branitzky, de Natal. Conferências do Prof. Ignácio
489
ao sul do país, a saber São Paulo, Rio, Campinas,743
Curitiba,744
Recife, Bahia, Niteroy,745
Natal, B.Horizonte,746
Passo Fundo,747
Cruz Alta,748
Campos749
, P.Alegre e Quatro Irmãos,
Amaral, Dra. Celina Padilha e Dr. Bauzer. O centro da reunião foi o Colégio Hebreu-Brasileiro, e as
despesas pagas pela JCA, representada por I.Raffalovich.” Raffalovich em sua auto-biografia
(Tziunim veTamrurim, p.187), confirma a realização do seminário pedagógico de um mês realizado
naquela ocasião sem especificar data. O encontro também é lembrado por Jacob Nachbin em seu
artigo “Der moderner idischer ishuv in Brazil” publicado em setembro de 1930 no periódico “Di
Tzukunft”, nos Estados Unidos.
743 Referência sobre a escola, na qual atuou o professor Eizengart, no IF 1/5/1928.
744 No DIV 12/3/1926 em um artigo de Bernardo (Baruch) Schulman sobre a situação sócio-
econômica da comunidade local, ele escreve: “Tínhamos por exemplo uma escola, um campo de
atuação que é o mais urgente, o mais sagrado e que aqui no Brasil deve-se sacrificar as melhores
forças, porém, a escola não durou mais que alguns meses. Sabemos bem que o fracasso da
escola está associado a vários fatores, tais como a incapacidade do professor com o qual as
crianças e os pais estavam insatisfeitos, o desnível nos estudos, a falta de tempo devido os
estudos gerais na escola oficial além de outras, de modo que a responsabilidade não recai
inteiramente sobre a comissão da escola...”
745 O DIV 5/12/1924 anuncia que inaugurou-se uma escola em Niteroy “já alguns dias, cujo
pedagogo é Moshe Weiner.” O DIV de 6/2/1925;21/2/1925; 9/10/1925;10/12/1926 dão notícias
interessantes sobre essa instituição de ensino o que nos permite acompanhar seu
desenvolvimento inicial. No DIV 6/11/1925 informa que em 24/10, em uma noite litero-musical em
benefício da escola o Dr.Raffalovich “falou sobre o papel que ela deve cumprir e o perigo das
crianças judias não poderem freqüentar uma escola judaica”. Já o BIP 8/3/27 nos informa sobre
“uma reunião com a presença do Dr. Raffalovich , devido o perigo de se fechar a escola e na qual
se decidiu designar uma comissão que resolveu a)que a escola seja independente,b) incentivar os
pais a mandarem seus filhos à escola,c)que se pague antecipadamente as anuidades e que se
comprometam a sustentar a instituição. O Dr. Raffalovich concordou com um subsidio às crianças
que não tem condições de pagar.”
746 Apesar do Lexikon fun idische gezelschaftliche askonim un kultur-tuer in Brazil (Léxico dos
ativistas sócias e culturais no Brasil) brochura B.Horizonte, ed.Rio de Janeiro, 1957, apenas afirmar
que a Escola Israelita foi criada em 1928 temos provas documentais que anos antes já existia uma
escola judaica. O BIP 26/4/1927 se refere a existência de duas escolas e a correspondência do
professor Jacob Faingelernt com Raffalovich evidencia já existência de uma escola antes de 1928.
Fundo 29 Jacob Faingelernt, AHJB (doado por seu filho David Faingelernt Z’L).
747 A escola foi fundada em 1926 sob a orientação do professor I.D. Schnitman. IF 24/1/1928;
28/2/1928;4/5/1928;29/5/1928. Nela atuou durante bom tempo o professor Jacob Politchuk.
Politchuk originário de Sekuron era professor de hebraico e ativista sionista. Começou como
490
boa parte devendo sua fundação aos esforços, incentivo e apoio do rabino Raffalovich, que
viajava incessantemente com o fim de contatar as comunidades e se comprometer com a
liderança local em relação a ajuda da ICA na manutenção das escolas. Algumas escolas
não estavam representadas no Congresso de 1928 mas sabemos de sua existência e criação
antes daquele ano entre elas a de Ponta Grossa 750
e a de Santa Maria.751
Por outro lado a
ausência de um professor de Franca, uma das comunidades antigas do Estado de São Paulo,
se explica pela falta de uma escola naquela cidade.752
O professor Moshe Weiner, da
escola Renascença de São Paulo753
foi eleito presidente desse encontro que tinha um grupo
professor em Santa Maria e lecionou em muitos outros lugares. Sobre ele vide Karakuchanski, Sh.,
Aspecten...,vol.II,pp.128-30.
748 O DIV 29/10/1926 anuncia a presença do escritor Menashe Halperin e do Dr. Raffalovich que
incentivaram o reinicio das atividades culturais. Raffalovich tratou da escola que estava
abandonada pelos pais e passou a receber o apoio material e espiritual do mesmo. Raffalovich
enviaria um novo professor que ganhou a simpatia do “ishuv. O BIP 31/5/1927 recebe o
seu,representante em Cruz Alta e relata que a escola local se apresenta um bom nível de ensino.
749 O IF 20/4/1928 anuncia que Dr.Raffalovich visitou em 1/4 a escola Jacob Dinezon local e ficou
satisfeito com os resultados. Assina a matéria Moshe Segal.
750 A escola de Ponta Grossa, Paraná, sob a direção de A. Aisengart, inaugurada em 26/6/1927
com a ajuda de Raffalovich ao qual se agradeceu naquela ocasião. BIP 5/7/1927;23/8/1927;
26/8/1927. No IF 27/12/1927 em relato sobre a comunidade local Samuel Fridman menciona
que “as crianças eram educadas em uma atmosfera brasileira até que em 21/2/1927 chegou o
Dr. Raffalovich , em sua viagem ao sul, em companhia de Julio Stolzenberg, e, pela primeira
vez criou-se um fundo para uma sociedade com fins culturais e religiosos. Em 15 de junho o
Dr. Raffalovich enviou um professor e se registraram 20 e poucas crianças...”
751 Segundo notícia no DIV 27/11/1925 a escola teria sido criada em 1925. Também BIP
21/10/1927.
752 O DIV 8/10/1926 relata uma visita que Aron Koifman ,redator do jornal em questão fez a Franca
durante a qual sugeriu a criação de uma sociedade para fundar e cuidar de uma escola ou
estabelecer cursos noturnos para as crianças, além de uma biblioteca. Em 21/10/1927 o BIP
publicava uma matéria sobre a comunidade afirmando a necessidade de se criar uma escola uma
vez que as crianças estão afastadas do judaísmo. Ainda no ano seguinte o IF 28/2/1928 relatava
sobre a divisão existente naquela comunidade o que levou a enfraquecer uma tentativa de se
organizá-la, “razão pela qual não foi resolvido o problema da falta de um professor que educasse
as crianças no judaísmo.”
753 Moshe Weiner, altamente capacitado como pedagogo, deu um notável impulso ao Renascença,
criado em 1922, recebendo o apoio da ICA, e transformando-a em uma instituição de ensino
modelar. A escola contou inicialmente com um grupo de professores experimentados como
I.Mishkis, A.Shochat, e outros. Sobre a escola vide a publicação “Renascença-75 anos (1922-
491
1997)”. Pela notícia do DIV 12/12/1924 Moshe Weiner ao chegar ao Brasil viveu certo tempo no
Rio encarregando-se de organizar no Centro Sionista cursos noturnos de hebraico, ídiche,
Tanach, história judaica e estudos gerais. Em 1925 Moshe Weiner já se encontrava em São Paulo
e lecionando no Renascença, que nesse ano se localizava na rua Florêncio de Abreu,151. O DIV
26/6/1925 anuncia que a escola está fazendo reformas nos estudos em português demodo que
podem aceitar novos alunos. Uma das iniciativas originais de M. Weiner, assim informa o DIV de
7/8/1925 foi a criação da “sociedade” “Dos Idische Kind” com estatutos e afiliação de crianças
acima dos 10 anos, pagando uma taxa e tendo como compromisso de falar ídiche e hebraico entre
si e em suas residências, além de respeito mútuo e fraternidade. Visam, também, criar uma
biblioteca infantil e programar encontros periódicos para conferências, palestras, declamações e
cantos etc. Já em inícios de 1926 a escola recebe total apoio da comunidade e o DIV 15/1/1926
em reunião anual se anuncia a melhora financeira da escola graças o apoio obtido. Nessa ocasião
Moshe Weiner abordou a questão da religião e seu ensino na escola, com a sabedoria de
pedagogo que o caracterizava, formulando-a sob três aspectos a) como crença, e nesse caso ela
necessita de um rabino e não um professor, b) negativamente, nesse caso ela não tem lugar em
uma escola, c) historicamente, e nesse caso ela se presta ao ensino moderno e a escola popular.
Conforme o DIV 3/2/1926, a um determinado momento ,como diretor da Escola Renascença
(Hatchia) de São Paulo ele ampliou um setor profissional que abrangia encadernação, orquestra,
seção de costura feminina, feitura de chapéus ,essa última dirigida por uma comissão presidida por
Berta Klabin e senhoras das famílias veteranas da comunidade paulista Rebeca Bessil, Ana
Novinski, Luba Klabin, Geni Zlatopolski, Ida Segall, Geni Weinstein, Fany Mindlin e Geni Segall. O
DIV 8/10/1926 29/10/1926 confirma a continuidade do setor profissional. Antes, no ano anterior, em
artigo publicado no DIV 20/11/1925 ao se referir a escola Renascença, um articulista com o
pseudônimo “A Eigener”, dedicado à São Paulo, ao expressar uma das dificuldades para o ensino
lembrando que os professores no Brasil são poucos e que se podem dedicar-se ao comércio
largam escolas e alunos. Porém tece elogios a Moshe Weiner “que criou uma atmosfera favorável
e um nível pedagógico satisfatório” para a instituição, apesar das dificuldades e crise pelas quais
passa a escola, crise essa que é retratada por um ex-presidente Azriel Raw em carta enviada ao
DIV 27/11/1925 na qual revela as causas de sua demissão do cargo. Já no ano seguinte a escola
superaria a crise e o DIV 24/5/1926;4/6/1926;27/8/1926 mostraria a sua recuperação e vitalidade.
A partir daí a escola parece polarizar a atenção de todos os setores da comunidade ,asquenazitas
e sefaraditas, e, conforme IF 6/1/1928 a avaliação do seu ensino é inteiramente positiva: “Os
exames da escola israelita de São Paulo “Hatchia” revelam sucesso; o prgrama dos estudos em
português melhorou e se compara com o programa oficial dos quatro anos do grupo escolar.
Também o programa judaico este ano se ampliou e as crianças mostraram bons conhecimentos.
Recebem uma educação nacional, conhecem história judaica e o significado das festas, lêem bem
, escrevem e falam hebraico e ídiche e conhecem Tora e Neviim.Em especial as crianças do 1 e 2
492
de 15 professores pertencentes ao partido Poalei Sion do total de 32 que nele tomaram
parte. L. Schmelzinger era o representante desse grupo cuja concepção pedagógica pregava
a total independência do ensino, o direito assegurado do ensino do ídiche e o caráter
universal-popular do currículo. A facção hebraísta era composta de 7 professores sob a
direção de I.Eidelman e os demais 10 professores tinham uma posição mediadora entre
ambos grupos o que permitiu uma resolução sobre a igualdade, perante o programa escolar,
do ídiche e hebraico. Uma das conseqüências da realização desse Congresso foi o estímulo
para a fundação de novas escolas, entre elas a de Itajubá ,em Minas Gerais.754
Outro
resultado positivo do Congresso foi a criação de um Centro de Professores , com o apoio do
Dr.Raffalovich e presidência de I. Eidelman e secretária geral de Moshe Fridman, com a
finalidade de cuidar dos interesses dos professores , seu preparo pedagógico e o nível e
currículo escolar das instituições de ensino.755
Pouco tempo antes da realização do
Congresso, fundava-se, em 23 de setembro de 1928 a Folks-Schul Scholem Aleichem no
Rio de Janeiro e cuja adesão comunitária foi de tal monta que nos primeiros meses
inscreveram-se cerca de 200 crianças. O segredo do sucesso na época estava no currículo
em que o ídiche era a língua de ensino associado a uma pedagogia moderna e atualizada
associados ao nome do conhecido pedagogo-escritor Eliezer Steinbarg que nos dois anos
em que atuou ganhou as simpatias de todos, e da competente pedagoga Lea Zacher.756
Após a volta de E.Steinbarg à Europa a escola Scholem Aleichem passaria por uma fase
difícil e enfrentaria graves problemas financeiros que seriam superados posteriormente, no
período da gestão do Prof. Pesach Tabak, em 1934, ano em que a escola ficou paralisada.757
ano mostram um aproveitamento notável e é de se admirar como Moshe Weiner conseguiu com
crianças que vivem um ambiente brasileiro tais resultados.” Em São Paulo, somente em 1930,
surgiria uma nova escola no bairro do Braz. Vide IF 29/8/1930. Também em 1933 seria fundada no
Bom Retiro a escola Centro Israel Talmud Tora modificado mais tarde para Escola Religiosa
Brasileira Israelita Talmud Torah de orientação religiosa conforme o nome indica.
754 Ilustração Israelita, 6-7,jan.-fev. 1929. Foi inaugurada em 25/12/1928.
755 Circular de 16/5/1931, assinada por I. Eidelman e M.Fridman. Fundo Jacob Faingelernt, AHJB.
756 Sobre ela escreve o IF 10/4/1928 e 17/4/1928 que chegou ao Rio a convite da escola do Meyer
no dia 9/4, vinda da Polônia. Nasceu em Kolomei e fez o ginásio na Galitzia e estudou em Viena.
Lecionou na Galitzia Oriental como pedagoga e também era pianista.
757 Nesse período A.Bergman era diretor da escola. Quando P. Tabak assumiu a diretoria a escola
reiniciou sua atividade escolar e o esforço em organizar comissões de matrícula, conseguir
associados e obter fundos é coroada de êxito e em 26 de fevereiro de 1935 ,para o novo ano
letivo, a instituição se apresentaria estável. A escola ,nesse tempo, fucionaria com uma jardim de
infância sob a orientação de Ida Springer e três primeiras classes primárias com o auxílio de duas
professoras brasileiras para o ensino geral. V. o artigo citado no número comemorativo do IF.
493
Como já vimos mais acima outra escola afiliada a mesma corrente foi a I.L.Peretz de
Santos, criada em 1929 que tiveram como professores Aisengart, Raizman e Berenstein,
que desenvolveram um trabalho com bons resultados pedagógicos. 758
Ao desembarcar no Rio de Janeiro R. encontrara algumas poucas escolas judaicas e calcula-
se que ao sair do país em 1935 para voltar a Eretz Israel, a rede escolar contava com mais
de 30 estabelecimentos de ensino fundadas por ele e com o apoio financeiro da ICA.759
Ele
também percebera que não havia literatura judaica em língua portuguesa indispensável para
se levar um programa escolar para a nova geração. Daí o seu empenho em traduzir os seus
próprios escritos ao vernáculo uma vez que na Inglaterra ele já havia se preocupado em
escrever livros didáticos sobre a temática judaica, a começar do Rudiments of Judaism
(1906) traduzido posteriormente ao português no Brasil (1925), com duas ou três edições, 760
além de um Anglo-Hebrew Modern Dictionary (1926), de um volume de sermões e
discursos sob o título Our Inheritance (1932). Um dos livros importantes que traduziu ao
português foi a História dos Judeus, de autoria de Paul Goodman (1874-1949), ativista
sionista inglês e escritor, publicado em 1926. Além desses títulos ele publicou vários de
seus sermões761
e, ocasionalmente, brochuras sobre as festividades judaicas.
A visão de Raffalovich sobre o judaísmo brasileiro e sua correta compreensão sobre as
especificidades da imigração predominantemente proveniente da Europa Oriental e que
tomava parte na formação das primeiras escolas e instituições comunitárias permitiu que
obtivesse sucesso em sua vinda ao Brasil. Essa visão estava intimamente ligada à sua
personalidade tolerante e disposto ao diálogo aberto com todos que podiam contribuir para
elevar o seu projeto escolar e as instituições comunitárias.762
Sabia que para realizar o seu
758
A noticia do IF 17/2/1928 informa que o Centro Jitlovski de Santos resolveu fundar uma escola
e para tanto designou uma comissão. Como vimos anteriormente a escola seria fundada somente
em 1930.
759 O número de escolas, acima de 30, fundadas por ele é confirmado em sua auto-biografia e no
Maagalei Yosher bem como no verbete- pouco exato- da Encyclopaedia Judaica, Keter Pub.
House, Jerusalem, 1971-2, vol. 13, pp.1511-2.
760 No DIV 9/10/1925 anuncia-se a primeira edição “como um manual dos fundamentos da crença
judaica e das observações religiosas dos israelitas”. No número de 19/11/1926 informa sobre uma
segunda edição.
761 Um dos sermões publicados tem como título “A Efficacia da Expiação: Sermão para o Dia da
Expiação 5689-1928 por Isaias Raffalovich, Grão Rabino, Rio de Janeiro, Jewish Colonization
Society, Rio de Janeiro, Brazil, Gazeta Israelita,1928.
762 Em um artigo o professor Jacob Faingelernt publicado no IF 18/4/1930 sob o título “Der
brazilianer mushel”(O exemplo brasileiro) visando defender a Raffalovich de uma crítica à sua
pessoa, ele escreverá: “Há vários anos passados chegou uma pessoa , um “talmid chacham”
(sábio) com o objetivo mais amplo e profundo da palavra e de modo silencioso e modesto sem
alarde e fraseologia , carregou tijolo por tijolo para construir os fundamentos do nosso edifício
escolar. Difícil foi o caminho e cheio de obstáculos., mas o experimentado veterano para o qual a
educação judaica é parte integral de seu conteúdo , de sua alma, em que a educação judaica é a
494
prece para deter o abismo da assimilação que ameaça , cedo ou mais tarde, engolir a maior parte
das crianças judias, não se deteve frente a todas dificuldades e com apego à sua missão e
extraordinária dedicação deu continuidade ao seu trabalho educacional em contato estreito com
professores e ativistas escolares. E como ele era hábil e tolerante com seus colaboradores! Que os
fatos falem por si. Não quero me referir a Porto Alegre ou Curitiba onde as escolas são
subvencionadas pela ICA e a comunidade tem clara idéia sobre o orçamento , programa e espírito
da escola. O que quero destacar é Quatro Irmãos, na qual o orçamento é totalmente coberto pela
ICA e lá o “Rabinato” (o articulista que criticou a R. usou essa expressão em relação à pessoa de
R.) poderia usar todos os meios para impor-se, no entanto o que aconteceu , quando eu trabalhava
como professor e inspetor escolar naquele lugar e era necessário reorganizar toda a rede escolar e
unificar o programa de ensino fui encarregado de fazê-lo sem qualquer intervenção do Dr. R. e de
acordo com a pedagogia moderna. Isso ilustra ...” Fundo 29 Jacob Faingelernt, AHJB. Trata-se de
um testemunho importante porque Jacob Faingelernt era um professor veterano que acompanhou
a formação da rede escolar judaica no país desde que chegara em ,1923, ao Brasil. Já em 9 de
agosto de 1923 encontramos uma carta de Buenos Aires dirigida a ele sobre literatura pedagógica
que havia solicitado de pessoas de seu conhecimento. Fundo 29 Jacob Faingelernt, AHJB).
Altamente qualificado e com uma sólida cultura judaica estudou na yeshiva (escola talmúdica) de
Vilna e no Seminário de Professores de Odessa (sendo seus professores homens do porte
intelectual de H.N.Bialik, I. H. Ravnitzki e J. Klausner). Ao imigrar passou a lecionar em Quatro
Irmãos, Porto Alegre, Curitiba ,Belo Horizonte e Rio de Janeiro nas quais participou na criação
dessas escolas de orientação hebraísta. Idealista, sensível, suportou ao longo de sua vida
profissional instituições com permanentes problemas financeiros, intervenções de conselhos de
pais e leigos ignorantes. Já em 1929, quando se encontrava em Curitiba, se mostrava decidido a
abandonar o ensino. É quando R. lhe escreve que estava procurando um professor para substituí-
lo, mas que ainda não o encontrara. Em uma carta em que Raffalovich se mostra preocupado com
o seu futuro o vemos em profunda crise pessoal e decepcionado ao ponto de querer deixar o
ensino para tentar algo diferente. O rabino comovido recomendará a ele não dar esse passo e
repensar em sua decisão. Cartão de 28/10/ 1929 e carta de 12/5/1933, Fundo 29 Jacob
Faingelernt, AHJB. Professor exemplar, diferentemente de outros, vivenciava de corpo e alma a
docência, o que nem sempre era comum na época em que ser professor não era o caminho para
assegurar uma estabilidade pessoal ou ascensão financeira. Em carta de 14/8/1930, o veterano
ativista e escritor da comunidade paranaense Bernardo Schulman escreve a Faingelernt uma carta
que revela a existência de incompatibilidades pessoais.Freqüentemente as intervenções e os
atritos com os professores chegavam a extremos de se exigir a formação de uma nova escola a fim
de atender uma parte da comunidade discordante da orientação e programa de alguma instituição
de ensino. Em carta de Raffalovich a J. Faingelernt, de 5/8/1929, quando este se encontrava
lecionando em Curitiba, o rabino o informa que há um grupo exigindo apoio para formar uma nova
495
objetivo deveria contar com as melhores forças educacionais, raras na época, e isso exigiria
sacrifícios imensos dos professores que ajudara a imigrar ao Brasil.763
A instabilidade do
corpo educativo caracterizava a instituição escolar e era muito comum o intercâmbio de
professores e a transferência de um lugar a outro.764
Mas o maior desafio estava no preparo
dos professores que passou a ser uma de suas preocupações centrais em sua missão
educacional, como vimos anteriormente. Ainda em 1931 ele enviaria uma circular aos
professores na qual afirmava que “a questão da educação hebraica no Brasil não será
resolvida se não se criar um programa geral para todas as escolas existentes no país e
fortificarmos aqueles professores menos preparados para podermos elevar o nível da
escola “religiosa” “pois que você supostamente ensina “heresias” em tua escola...” . Os motivos
ideológicos transparecem em outra carta , sem data, que Faingelernt escreve a R. , de Belo
Horizonte, em que relata sobre os ataques dos “esquerdistas” ao seu trabalho de professor
acusando-o de “falsificar” a língua ídiche...Assim não é de se estranhar que as mudanças de
professores por vezes eram motivadas por razões que nada tinham a haver com a capacidade
pessoal do docente. O estar trabalhando durante vários anos em um mesmo lugar poderia chegar
a um ponto de saturação que provocaria o necessário desejo do professor querer mudar de lugar.
Em 2/10/1937 o professor A. Chasin, em visita a Porto Alegre, escreve a Faingelernt que estão
para demitir o professor da escola local, e que ele seria bem vindo para lecionar na mesma.
Certamente J.F. pretendia mudar de ares e deixar a escola de Belo Horizonte. De fato , em carta
de 13/12/1936 , o Dr. Moshe Fridman aborda a possibilidade de J.F. vir lecionar no Ginásio
Hebreu-Brasileiro do Rio de Janeiro. Toda esta correspondência encontra-se no Fundo 29 Jacob
Faingelernt,AHJB.
763 Já em carta a Jacob Faingelernt ele expressará com certa dramaticidade: “ Nós ainda estamos
no começo da construção cultural neste país e muitas vítimas ainda cairão e sobre seus
cadáveres se erguerão os fundamentos do edifício educacional. Reconheço , com o coração
dolorido e opressivo que a situação não é satisfatória e não tenho força para atrair pessoas com
nobreza de espírito , mas esta é a verdade e não há porque escondê-la. Também no Rio de
Janeiro não há lugar para intelectuais e não há nenhuma diferença entre ela e outra cidade no
Brasil. Ficarei muito feliz se mantiveres tua força para continuar o trabalho até que eu chegue a
Porto Alegre e assim poderei esclarecer toda a situação, [o que se passa] no Rio e outros lugares
e, possivelmente, poderemos chegar a alguma decisão.” Carta de 10/11/1925. Fundo 29 Jacob
Faingelernt, AHJB.
764 Podemos acompanhar essa instabilidade através da correspondência de Jacob Faingelernt com
seus colegas insatisfeitos com as instituições e seus lugares de trabalho.
496
educação judaica...” 765
Para organizar um novo evento e convidava os professores Jacob
Faingelernt e Moshe Weiner para virem ao Rio de Janeiro e prepararem o programa do
mesmo. Ele, no entanto, já nos anos 30, mostrava-se cansado, após tantos anos de luta e
trabalho continuo no país que escolhera para exercer como guia espiritual da comunidade
765
Circular de 25/9/1931 na qual o Rabino-Mór convocava um segundo Congresso de professores
no período das férias de verão com a duração mínima de um mês. No encontro foram
programadas aulas e palestras sobre temas pedagógicos e as matérias de ensino. Desse modo,
diz a circular, os professores poderão voltar ao estudo e se atualizar com o ensino moderno, além
de fortificar os laços entre os professores e criar um campo amplo de trabalho comum no futuro...
“Após recebermos uma resposta dos professores fixaremos um lugar para realizar uma assembléia
a fim de elaborar um programa mais detalhado.”
497
de imigrantes.766
Apesar de ser um ativista identificado plenamente com o sionismo que na
época lutava para afirmar o hebraico como língua do renascimento nacional judaico ele,
766
Em carta de 28/7/1931 R. respondia a J.Faingelernt, que se encontrava em Curitiba: “Concordo
com você que se utilizam da crise geral como justificativa para não cumprirem com suas
obrigações espirituais. Mas o que fazer se minhas forças são limitadas, e no final das contas eu
estou cansado e esgotado, não devido o meu pesado trabalho mas devido os obstáculos e as
dificuldades que colocam e se encontram no caminho. Confesso que estou sem rumo , e temo que
talvez o desespero me possa atacar e num belo dia me livrarei dessa carga de meus ombros e
mandarei toda essa santa comunidade ao diabo...” Após esse desabafo ele ainda acrescentará :”
em relação ao teu assunto , talvez possa propor a você uma outra ocupação, ou seja em outra
cidade, e quem sabe , ali poderás encontrar paz e descanso espiritual mais do que em Curitiba?
Em todo caso informe-me sobre tua opinião a respeito desse assunto e formularei uma proposta.”
Pouco após , em carta de 3/9/1931 R. escrevia novamente a Faingelernt dizendo se sentir
“contente com as tuas palavras que animaram meu espírito”, e pedia um relatório detalhado do
que se passava na escola, evidenciando desse modo que os problemas pessoais foram
superados. No final daquele mesmo ano, em carta de 14/12/1931, R. fazia referência às tratativas
que J.Faingelernt manteve com Belo Horizonte e aceitava a sua transferência para a escola de
Belo Horizonte uma vez que , assim escrevia “após tua carta e a situação em Curitiba cheguei a
plena resolução que é bom para você mudar de lugar”. Ele terminava dizendo que tinha muito a
falar com você sobre o assunto, do novo lugar, mas o faria ao chegar ao Rio...” Pouco antes em
29/10/1931 enviava um cartão postal a Faingelernt informando-o que um professor formado no
Tarbut de Vilna e Varsóvia ,A.Lifchitz, estava disposto a aceitar a vaga existente em sua escola e
gostaria que ele mesmo julgasse os documentos que o candidato lhe enviaria. Pela carta no verso
da mencionada circular convocando o segundo Congresso de Professores dirigida à Faingelernt
sabemos que R. aceitaria prontamente o professor Baruch Bariach para o substituir na escola de
Curitiba. J.Faingelernt seguiria logo após à Belo Horizonte para orientar a escola judaica local na
qual trabalharia durante vários anos. J. Faingelernt com seu talento e dedicação habitual
desenvolveria um trabalho educacional profícuo e em 6 de maio de 1932 R. lhe escreveria, dessa
vez em ídiche e não em hebraico como de hábito, expressando seu contentamento e
congratulando-o por seu trabalho, e que devesse ficar indiferente aos contratempos ... “ Não paga
a pena que te desgastes, nem por mim e nem por ti. Pois é a fatalidade, uma vez que vivemos em
um ambiente muito desagradável e nenhuma surpresa nos deve afetar. Cada um de nós deve
permanecer no caminho firme e não se importar com uma alfinetada aqui e acolá. Tentemos ,cada
um de nós, influenciar o pequeno círculo que nos apóia, e o resto que seja como quiserem...” Os
problemas financeiros, no entanto, não deixavam de preocupar o novo diretor da escola, como
podemos constatar pela carta de 18/10/1932 que R. escrevera a Faingelernt explicando sua
impossibilidade de atender a novas exigências de verbas. Fundo 29 Jacob Faingelernt, AHJB.
498
como muitos outros pensadores e líderes nacionalistas, soube captar a importância do
ídiche, e sua milenar cultura, para a continuidade da herança judaica que as escolas
deveriam transmitir às crianças.767
Sob outro aspecto essa continuidade estava intimamente
vinculada à permanência do diálogo entre as gerações, entre pais e filhos, que deveriam
agora se defrontar com uma nova realidade cultural e social que impunha novos moldes de
vida e exigiam a integração necessária para a sobrevivência do imigrante, porém com o
risco de perder a sua própria identidade. Perigo sempre presente nos escritos e artigos e
discursos desse rabino-peregrino de três continentes cuja presença e missão no Brasil deitou
fundamentos sólidos para a construção de uma comunidade. 768
767
Por várias vezes, na disputa entre as duas tendências, como já vimos acima, Raffalovich
sempre optou pelo ensino das duas línguas. Um exemplo adicional encontramos em uma carta de
Zvi Weiniger à redação do DIV publicada em 31/1/1928 na qual se refere à escola local, Curitiba,
de forte tendência hebraísta, em que o Dr. Raffalovich fez um acordo para que se ensinasse as
duas línguas.
768 Quando em 1950 realizou-se o Congresso Nacional para a Educação Hebraica, no Rio de
Janeiro, Raffalovich foi lembrado como seu pioneiro e o papel proeminente que teve na educação
judaica no Brasil em resolução formal sob o aplauso dos participantes no conclave. Vide a carta
que recebeu da Machleket Hachinuch (Departamento de Educação) assinada por Moshe Fridman
e S. Karakuchansky publicada no Maagalei Iashar, pp.30-31.
![Page 1: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/142.jpg)
![Page 143: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/143.jpg)
![Page 144: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/144.jpg)
![Page 145: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/145.jpg)
![Page 146: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/146.jpg)
![Page 147: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/147.jpg)
![Page 148: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/148.jpg)
![Page 149: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/149.jpg)
![Page 150: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/150.jpg)
![Page 151: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/151.jpg)
![Page 152: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/152.jpg)
![Page 153: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/153.jpg)
![Page 154: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/154.jpg)
![Page 155: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/155.jpg)
![Page 156: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/156.jpg)
![Page 157: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/157.jpg)
![Page 158: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/158.jpg)
![Page 159: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/159.jpg)
![Page 160: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/160.jpg)
![Page 161: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/161.jpg)
![Page 162: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/162.jpg)
![Page 163: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/163.jpg)
![Page 164: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/164.jpg)
![Page 165: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/166.jpg)
![Page 167: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/170.jpg)
![Page 171: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/171.jpg)
![Page 172: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/172.jpg)
![Page 173: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/173.jpg)
![Page 174: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/174.jpg)
![Page 175: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/175.jpg)
![Page 176: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/176.jpg)
![Page 177: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/177.jpg)
![Page 178: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/178.jpg)
![Page 179: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/179.jpg)
![Page 180: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/180.jpg)
![Page 181: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/181.jpg)
![Page 182: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/182.jpg)
![Page 183: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/183.jpg)
![Page 184: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/184.jpg)
![Page 185: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/185.jpg)
![Page 186: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/186.jpg)
![Page 187: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/187.jpg)
![Page 188: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/188.jpg)
![Page 189: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/189.jpg)
![Page 190: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/190.jpg)
![Page 191: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/191.jpg)
![Page 192: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/192.jpg)
![Page 193: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/193.jpg)
![Page 194: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/194.jpg)
![Page 195: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/195.jpg)
![Page 196: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/196.jpg)
![Page 197: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/197.jpg)
![Page 198: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/198.jpg)
![Page 199: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/199.jpg)
![Page 200: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/200.jpg)
![Page 201: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/201.jpg)
![Page 202: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/202.jpg)
![Page 203: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/203.jpg)
![Page 204: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/204.jpg)
![Page 205: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/205.jpg)
![Page 206: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/206.jpg)
![Page 207: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/207.jpg)
![Page 208: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/208.jpg)
![Page 209: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/209.jpg)
![Page 210: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/210.jpg)
![Page 211: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/211.jpg)
![Page 212: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/212.jpg)
![Page 213: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/213.jpg)
![Page 214: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/214.jpg)
![Page 215: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/215.jpg)
![Page 216: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/216.jpg)
![Page 217: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/217.jpg)
![Page 218: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/218.jpg)
![Page 219: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/219.jpg)
![Page 220: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/220.jpg)
![Page 221: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/221.jpg)
![Page 222: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/222.jpg)
![Page 223: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/223.jpg)
![Page 224: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/224.jpg)
![Page 225: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/225.jpg)
![Page 226: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/226.jpg)
![Page 227: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/227.jpg)
![Page 228: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/228.jpg)
![Page 229: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/229.jpg)
![Page 230: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/230.jpg)
![Page 231: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/231.jpg)
![Page 232: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/232.jpg)
![Page 233: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/233.jpg)
![Page 234: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/234.jpg)
![Page 235: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/235.jpg)
![Page 236: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/236.jpg)
![Page 237: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/237.jpg)
![Page 238: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/238.jpg)
![Page 239: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/239.jpg)
![Page 240: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/240.jpg)
![Page 241: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/241.jpg)
![Page 242: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/242.jpg)
![Page 243: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/243.jpg)
![Page 244: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/244.jpg)
![Page 245: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/245.jpg)
![Page 246: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/246.jpg)
![Page 247: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/247.jpg)
![Page 248: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/248.jpg)
![Page 249: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/249.jpg)
![Page 250: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/250.jpg)
![Page 251: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/251.jpg)
![Page 252: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/252.jpg)
![Page 253: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/253.jpg)
![Page 254: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/254.jpg)
![Page 255: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/255.jpg)
![Page 256: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/256.jpg)
![Page 257: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/257.jpg)
![Page 258: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/258.jpg)
![Page 259: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/259.jpg)
![Page 260: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/260.jpg)
![Page 261: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/261.jpg)
![Page 262: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/262.jpg)
![Page 263: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/263.jpg)
![Page 264: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/264.jpg)
![Page 265: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/265.jpg)
![Page 266: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/266.jpg)
![Page 267: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/267.jpg)
![Page 268: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/268.jpg)
![Page 269: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/269.jpg)
![Page 270: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/270.jpg)
![Page 271: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/271.jpg)
![Page 272: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/272.jpg)
![Page 273: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/273.jpg)
![Page 274: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/274.jpg)
![Page 275: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/275.jpg)
![Page 276: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/276.jpg)
![Page 277: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/277.jpg)
![Page 278: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/278.jpg)
![Page 279: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/279.jpg)
![Page 280: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/280.jpg)
![Page 281: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/281.jpg)
![Page 282: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/282.jpg)
![Page 283: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/283.jpg)
![Page 284: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/284.jpg)
![Page 285: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/285.jpg)
![Page 286: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/286.jpg)
![Page 287: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/287.jpg)
![Page 288: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/288.jpg)
![Page 289: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/289.jpg)
![Page 290: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/290.jpg)
![Page 291: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/291.jpg)
![Page 292: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/292.jpg)
![Page 293: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/293.jpg)
![Page 294: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/294.jpg)
![Page 295: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/295.jpg)
![Page 296: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/296.jpg)
![Page 297: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/297.jpg)
![Page 298: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/298.jpg)
![Page 299: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/299.jpg)
![Page 300: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/300.jpg)
![Page 301: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/301.jpg)
![Page 302: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/302.jpg)
![Page 303: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/303.jpg)
![Page 304: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/304.jpg)
![Page 305: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/305.jpg)
![Page 306: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/306.jpg)
![Page 307: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/307.jpg)
![Page 308: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/308.jpg)
![Page 309: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/309.jpg)
![Page 310: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/310.jpg)
![Page 311: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/311.jpg)
![Page 312: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/312.jpg)
![Page 313: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/313.jpg)
![Page 314: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/314.jpg)
![Page 315: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/315.jpg)
![Page 316: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/316.jpg)
![Page 317: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/317.jpg)
![Page 318: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/318.jpg)
![Page 319: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/319.jpg)
![Page 320: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/320.jpg)
![Page 321: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/321.jpg)
![Page 322: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/322.jpg)
![Page 323: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/323.jpg)
![Page 324: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/324.jpg)
![Page 325: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/325.jpg)
![Page 326: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/326.jpg)
![Page 327: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/327.jpg)
![Page 328: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/328.jpg)
![Page 329: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/329.jpg)
![Page 330: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/330.jpg)
![Page 331: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/331.jpg)
![Page 332: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/332.jpg)
![Page 333: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/333.jpg)
![Page 334: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/334.jpg)
![Page 335: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/335.jpg)
![Page 336: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/336.jpg)
![Page 337: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/337.jpg)
![Page 338: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/338.jpg)
![Page 339: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/339.jpg)
![Page 340: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/340.jpg)
![Page 341: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/341.jpg)
![Page 342: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/342.jpg)
![Page 343: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/343.jpg)
![Page 344: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/344.jpg)
![Page 345: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/345.jpg)
![Page 346: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/346.jpg)
![Page 347: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/347.jpg)
![Page 348: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/348.jpg)
![Page 349: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/349.jpg)
![Page 350: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/350.jpg)
![Page 351: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/351.jpg)
![Page 352: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/352.jpg)
![Page 353: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/353.jpg)
![Page 354: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/354.jpg)
![Page 355: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/355.jpg)
![Page 356: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/356.jpg)
![Page 357: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/357.jpg)
![Page 358: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/358.jpg)
![Page 359: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/359.jpg)
![Page 360: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/360.jpg)
![Page 361: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/361.jpg)
![Page 362: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/362.jpg)
![Page 363: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/363.jpg)
![Page 364: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/364.jpg)
![Page 365: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/365.jpg)
![Page 366: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/366.jpg)
![Page 367: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/367.jpg)
![Page 368: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/368.jpg)
![Page 369: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/369.jpg)
![Page 370: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/370.jpg)
![Page 371: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/371.jpg)
![Page 372: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/372.jpg)
![Page 373: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/373.jpg)
![Page 374: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/374.jpg)
![Page 375: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/375.jpg)
![Page 376: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/376.jpg)
![Page 377: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/377.jpg)
![Page 378: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/378.jpg)
![Page 379: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/379.jpg)
![Page 380: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/380.jpg)
![Page 381: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/381.jpg)
![Page 382: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/382.jpg)
![Page 383: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/383.jpg)
![Page 384: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/384.jpg)
![Page 385: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/385.jpg)
![Page 386: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/386.jpg)
![Page 387: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/387.jpg)
![Page 388: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/388.jpg)
![Page 389: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/389.jpg)
![Page 390: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/390.jpg)
![Page 391: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/391.jpg)
![Page 392: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/392.jpg)
![Page 393: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/393.jpg)
![Page 394: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/394.jpg)
![Page 395: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/395.jpg)
![Page 396: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/396.jpg)
![Page 397: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/397.jpg)
![Page 398: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/398.jpg)
![Page 399: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/399.jpg)
![Page 400: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/400.jpg)
![Page 401: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/401.jpg)
![Page 402: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/402.jpg)
![Page 403: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/403.jpg)
![Page 404: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/404.jpg)
![Page 405: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/405.jpg)
![Page 406: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/406.jpg)
![Page 407: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/407.jpg)
![Page 408: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/408.jpg)
![Page 409: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/409.jpg)
![Page 410: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/410.jpg)
![Page 411: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/411.jpg)
![Page 412: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/412.jpg)
![Page 413: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/413.jpg)
![Page 414: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/414.jpg)
![Page 415: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/415.jpg)
![Page 416: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/416.jpg)
![Page 417: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/417.jpg)
![Page 418: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/418.jpg)
![Page 419: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/419.jpg)
![Page 420: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/420.jpg)
![Page 421: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/421.jpg)
![Page 422: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/422.jpg)
![Page 423: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/423.jpg)
![Page 424: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/424.jpg)
![Page 425: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/425.jpg)
![Page 426: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/426.jpg)
![Page 427: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/427.jpg)
![Page 428: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/428.jpg)
![Page 429: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/429.jpg)
![Page 430: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/430.jpg)
![Page 431: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/431.jpg)
![Page 432: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/432.jpg)
![Page 433: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/433.jpg)
![Page 434: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/434.jpg)
![Page 435: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/435.jpg)
![Page 436: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/436.jpg)
![Page 437: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/437.jpg)
![Page 438: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/438.jpg)
![Page 439: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/439.jpg)
![Page 440: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/440.jpg)
![Page 441: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/441.jpg)
![Page 442: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/442.jpg)
![Page 443: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/443.jpg)
![Page 444: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/444.jpg)
![Page 445: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/445.jpg)
![Page 446: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/446.jpg)
![Page 447: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/447.jpg)
![Page 448: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/448.jpg)
![Page 449: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/449.jpg)
![Page 450: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/450.jpg)
![Page 451: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/451.jpg)
![Page 452: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/452.jpg)
![Page 453: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/453.jpg)
![Page 454: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/454.jpg)
![Page 455: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/455.jpg)
![Page 456: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/456.jpg)
![Page 457: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/457.jpg)
![Page 458: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/458.jpg)
![Page 459: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/459.jpg)
![Page 460: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/460.jpg)
![Page 461: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/461.jpg)
![Page 462: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/462.jpg)
![Page 463: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/463.jpg)
![Page 464: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/464.jpg)
![Page 465: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/465.jpg)
![Page 466: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/466.jpg)
![Page 467: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/467.jpg)
![Page 468: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/468.jpg)
![Page 469: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/469.jpg)
![Page 470: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/470.jpg)
![Page 471: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/471.jpg)
![Page 472: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/472.jpg)
![Page 473: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/473.jpg)
![Page 474: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/474.jpg)
![Page 475: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/475.jpg)
![Page 476: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/476.jpg)
![Page 477: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/477.jpg)
![Page 478: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/478.jpg)
![Page 479: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/479.jpg)
![Page 480: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/480.jpg)
![Page 481: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/481.jpg)
![Page 482: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/482.jpg)
![Page 483: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/483.jpg)
![Page 484: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/484.jpg)
![Page 485: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/485.jpg)
![Page 486: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/486.jpg)
![Page 487: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/487.jpg)
![Page 488: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/488.jpg)
![Page 489: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/489.jpg)
![Page 490: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/490.jpg)
![Page 491: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/491.jpg)
![Page 492: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/492.jpg)
![Page 493: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/493.jpg)
![Page 494: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/494.jpg)
![Page 495: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/495.jpg)
![Page 496: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/496.jpg)
![Page 497: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/497.jpg)
![Page 498: Judeus no Brasil: estudos e notas [Jews in Brazil: studies and notes]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011211/63130d7c5cba183dbf06ed06/html5/thumbnails/498.jpg)