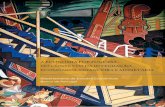Estudos sobre Relações Internacionais
Transcript of Estudos sobre Relações Internacionais
2005
PREFÁCIO
Nos vários Colóquios, Seminários eConferências em que participei na últimadúzia de anos, uma cinquentena versaramáreas da Ciência Política, e em particulardo âmbito mais restrito de estudo dasRelações Internacionais. Numa boa vintenadestes encontros apresentei comunicaçõesescritas ou orais, que depois acabei porpublicar aqui e ali, com uma preocupaçãopor garantir uma dispersão editorial quetorna muitas delas hoje em dia dificilmenteacessíveis. Nalgumas voltei-me para a acçãodiplomática portuguesa. Num subconjuntomaior voltei-me para o espaço da lusofonia,essa entidade em construção. Noutras,dediquei-me antes a discussões mais geraise mais teóricas focadas em análises dosistema internacional.
Decidi juntar num primeiro apanhadosete dos artigos deste última agrupamentode publicações: é isso que apresento. Acolectânea - pelo menos assim o espero -exibe uma forte unidade. Um denominadorcomum a todos os artigos coligidos é uma
2
marcada atenção aos enquadramentosproporcionados pelos processos detransformação e integração-fragmentação àescala mundial que têm vindo a serapelidados de globalização. Não é o únicolaço que os une - todos os estudos quecoligi foram redigidos na última meiadécada. Mais ainda: na maioria dos casostrata-se de trabalhos cujas primeirasversões podem ser encontradas empublicações periódicas oriundas deinstituições superiores militares; emboranum ou noutro exemplo, não.
Num primeiro desses dois últimos casos,tenho o gosto de dar à estampa uma longacomunicação em língua inglesa, até agorainédita, que apresentei e discutilongamente numa Conferência Internacionalrealizada em 2001 na Faculdade de CiênciasSociais e Humanas da Universidade Nova deLisboa. O segundo diz respeito à publicaçãode um texto no prelo, cujo aparecimento narevista Nação e Defesa, do Instituto de DefesaNacional, está iminente. Ambos têm umaóbvia semelhança de família com os outroscinco, que torno a publicar: pareceu-mehaver uma suficiente sintonia em os artigosque agrego para justificar a sua publicaçãoconjunta num só volume.
Por via de regra re-editei os seteartigos em versões idênticas às originais.Exepcionalmente, fiz uma limpeza degralhas, levei a cabo pequenas alterações
3
estilísticas e, mais raramente, acrescenteiuma ou outra frase no intuito de melhoresclarecer aquilo que quis passar comomensagem. Mantive sempre que foi caso dissoo tom coloquial que, por norma,caracterizou as minhas comunicações. Emnenhum caso introduzi quaisquermodificações de substância que alterem,seja no que for, o sentido que penso terdado aos meus textos matriciais. A primeiranota de rodapé que incluo em cada uma dassecções da presente publicação fornece olugar de origem de cada uma dascomunicações em que os expus.
Foram os seguintes os lugares de origemdos cinco artigos já publicados, dos seteque aqui incluo:(i) “As religiões e o choquecivilizacional”, em Religiões, Segurança e Defesa:151-177, Atena e Instituto de Altos EstudosMilitares, 1999.(ii) “As guerras culturais, a soberania e aglobalização: o choque das civilizaçõesrevisitado”, Boletim do Instituto de Altos EstudosMilitares 51: 165-192, 2000.(iii) “O funcionamento do estado em épocade globalização. o transbordo e as cascatasdo poder” Nação e Defesa 10, Instituto deDefesa Nacional, 2002.(iv) “Sobre a União Europeia e a NATO”,Nação e Defesa 106: 33-76, Instituto de DefesaNacional, 2004.
4
(v) “O Terrorismo Transnacional e a OrdemInternacional”, Nação e Defesa 108: 169-199,Instituto de Defesa Nacional, 2005.
Como poderá ser facilmente verificado,a ordem de apresentação e a de publicação,quando esta teve lugar, nem semprecoincidiram. O que me forçou a uma escolhaeditorial, no que toca à presente colecçãode artigos. Com o intuito de disponibilizarcomo fio condutor a progressão das minhasperspectivas, edito aqui os textos na ordemem que eles foram redigidos e apresentadose não na da respectiva publicação.
Oslo, 3 de Agosto de 2005
5
ÍNDICE
1. As religiões e o choque civilizacional.
2. As guerras culturais, a soberania e aglobalização: o choque das civilizaçõesrevisitado.
3. O funcionamento do Estado em época deglobalização. o transbordo e as cascatas dopoder.
4. Local normative orders and globalisation: is there sucha thing as universal human values?
5. O terrorismo transnacional e a ordeminternacional.
6. O Islão, o islamismo e o terrorismotransnacional.
7. Sobre a União Europeia e a NATO.
6
1.
AS RELIGIÕES E O CHOQUE CIVILIZACIONAL*
1.
Alguns cientistas sociais desde hámuito produzem, e muitas vezes apoiam, aschamadas teorias da secularização. Sob acapa de uma diversidade superficial, estassão todas aparentadas; trata-se sempre, nofundo, de asserções segundo as quaisestamos perante as convulsões de morte dasreligiões, consideradas como de algumamaneira incompatíveis com “a modernidade”.As inúmeras narrativas teóricas para oefeito formuladas, em rigor não variam
* Comunicação lida como conferência de fecho, do Seminário“Religiões, Segurança e Defesa” , na tarde de 16 de Julho de1999, no anfiteatro central do Instituto de Altos EstudosMilitares.
7
muito. Começam, por via de regra, por umasoi-disante constatação: nas sociedadescientífico-industriais, alega-se, a fé e aobservância religiosas declinam. Para talsão por norma aduzidos motivosintelectuais, ou razões intelectualistas:às doutrinas religiosas contrapõem-se porconvenção as científicas, hoje maisprestigiadas, ligadas a enormes sucessostecnológicos; e, por essa via, também avertiginosos desenvolvimentos económicos.Postula-se que a religião em resultadodecai. O princípio subjacente que estáimplícito a estas formulações é simples: oseu prestígio e o da rival variam em razãoinversa um do outro. Razões sociológicas defundo também não faltam nessasvariadíssimas elaborações teóricas: asreligiões, sublinha-se num tomdurkheimiano, são na verdade celebrações decomunidades; e num mundo modernofragmentado e massificado pouca comunidadeexiste ainda para celebrar – a não ser a doEstado nacional, é comum a ressalva muitasvezes entoada em timbres weberianos: masessa tem rituais cívicos e valores própriosnacionalistas. Neste estilo de formulaçõeso nacionalismo também varia em razãoprecisamente inversa da religião;substitui-a.
Se contextualizarmos os discursosteóricos deste tipo no cientismooitocentista em que eles tantas vezes
8
efectivamente ancoram e se tentarmosperspectivar o Mundo, neste fim de Milénio,sem as lentes dessa sabedoria convencional,é fascinante constatar a convergência, nopanorama contemporâneo, de duas tendências,duas forças que à partida julgaríamosincompatíveis: uma incongruênciasurpreendente e um estado de coisasparadoxal. Por um lado, teses como as dasecularização parecem efectivamenteverdadeiras, empiricamente verificáveis,num Mundo cada vez mais laico; mas, poroutro lado, soam a totalmente falsas e nãoaparentam sobreviver a um escrutínio maisaprofundado. Os indícios do dilema sãomuitos. As fés (as convicções, senão aobservância) parecem crescer. A suadiversidade não pára de aumentar. As seitase as novas religiões (quantas vezes com umenorme experimentalismo e criatividade)proliferam um pouco por toda a parte. Areligiosidade, de mil maneiras, estávisivelmente a renascer. As tendênciassacralizantes adicionam-se assim, ao quetudo indica, a tendências opostas, laicas.
Testemunhamos, na modernidade, um rolde ambivalências. Os dois retratosexemplares de algum modo coalescem. A parcom o carácter galopantemente asséptico davida social, da substituição do Deus únicopela Razão Suprema de que falavam ospositivistas, da “gaiola de ferro” daracionalidade omnipresente sobre que
9
pontificou Max Weber, do Big Brother globalpós-orwelliano, vivemos também um períodoque Michel Maffesoli (1992:181, traduçãominha) caracterizou como de “umenraizamento no solo e um crescimento emdirecção do céu”. Ouve-se “um rumor deanjos”, como há uma boa vintena de anosanunciou Peter Berger1. Se essa ambivalêncianão significa uma nova fase de maturação dareligiosidade, parece pelo menos evocar umcrescendo na sua instrumentalização. Com ofim do Mundo bipolar e com a quebra doscritérios político-ideológicos de validaçãoa que nos tínhamos habituado, estamos a sercanalizados para um reenquadramento e parareorientações a um tempo mais locais e maistranscendentes – o que tem sido chamado a“tribalização do Mundo”. E que redunda,quantas vezes, num crescimento explosivo, ecoordenado, de teias nacionalistas,irredentistas e imanentistas, ou atédivinas, ou pelo menos em novas (e velhas)“comunidades nacionais e religiosasimaginadas”, como as intitularia BenedictAnderson. Talvez as duas forças (a profanae a sagrada), longe de antagónicas, se
1 Para isso podemos aduzir (muitos o têm feito) razões emotivos mais intelectualistas (como, por exemplo, a ansiedadeconceptual causada por inovações e modificações tecnológicasincompreensíveis, que colmataríamos, ou representaríamos, combruxas, astrologias ou OVNIS), ou mais socioligísticas. Não éporém esse o meu tema neste Seminário: o meu tópico é o doredimensionamento político contemporâneo das religiões. Acomunicação de Ignacio Ramonet tratou de forma admirável aproblemática referida.
10
complementem; e que, por isso, as imagensse acasalem. Vivemos num meio internacionaldado a nacionalismos ritualizados epropenso a religiões nacionalizadas.
Nada disto é particularmente inovador –desde há bastante tempo (uma boa dezena deanos) que muitos sociólogos, antropólogos,cientistas políticos e historiadores, entreoutros, o vêm a anunciar. Talvez valha apena, em todo o caso, reiterar o que já foineste Seminário abundantemente abordado eque forma o núcleo duro que subtendeasserções deste tipo, as suas condiçõesnocionais de possibilidade. E talvez valhaa pena fazê-lo reformulando perguntas: oque é que torna a religião num veículo tãoadequado para a identidade, nomeadamente aidentidade cultural, étnica, ou nacional?Qual é a natureza profunda da afinidadeelectiva entre sistemas de ideias,representações e práticas desses domíniosna aparência tão distintos? No quadrointernacional contemporâneo, afinidadesdessas estarão a ser potenciadas? E em quesentido é que, a partir da compreensão dasrazões de ser dessa iteração entre religiãoe identidade, podemos esperar saber prevera eclosão de tensões e conflitos? Bastaolhar em volta, auscultar o Mundo, paracompreender a urgência de para tudo istoencontrar respostas. Para perceber ainsensatez que seria, face aos cenários
11
prospectivos que se parecem impôr, nãotomar as cautelas preventivas possíveis.
2.
Não será talvez exagerado asseverarque, na última meia dúzia de anos, asdiscussões sobre estes e outros temas afinstêm sido em grande parte desencadeadas emfunção (e levadas a cabo no contexto) dobrilhante quadro teórico proposto, deHarvard, por Samuel Huntington e pelas suascélebres (outros diriam notórias) tesessobre “O Choque de Civilizações”2. Semsurpresas, verifico que grande parte do quefoi discutido neste Seminário o foi muitasvezes contra precisamente esse pano defundo. Tal como seria de esperar: sejamquais forem as críticas a que Huntingtonpossa (e deva) ser sujeito, não há dúvidaque retratou bem o Zeitgeist, o espírito dotempo em que vivemos, ou em todo o casoalgumas das traves-mestras da maneira comotemos vindo a olhar o Mundo contemporâneo eas suas mais recentes transformações. O queo notável estudioso norte-americano disse e
2 Uma obra traduzida para várias línguas, incluindo oPortuguês, bastante influente em diversos meios académicos,políticos, e outros. Desencadeou, de imediato, váriasreacções, algumas das quais reeditadas em 1996 pela ForeignAffairs numa colectânea (The Debate), de que existe tambémtradução portuguesa. Mais mediatamente, o modelo de S.Huntington tem sofrido reajustes, não obstante da sua enormefecundidade heurística.
12
escreveu adequa-se bem ao observável etocou fundo em muitas das perspectivasconvencionais que temos arreigadas. O quenão equivale naturalmente a dizer que tenharazão, ou pelo menos que a tenha toda.
A posição teórica de Huntington ésimples e clara e não será seguramentepreciso fazer aqui mais do que recapitularas linhas de força maiores da suaargumentação. Segundo Huntington, o malogroda União Soviética, e a resultantetransição de um Mundo bipolar para uma novaordem internacional com apenas umasuperpotência (os Estados Unidos), trouxeconsigo uma rápida consequência estrutural:ao de cima, por assim dizer, vieram os“blocos civilizacionais” básicos (são seisou sete, não são muito claras as asserçõesde Huntington quanto ao estatuto“tectónico”, digamos assim, do blocoafricano nem do do latino-americano) quenos separam uns dos outros. Em resultadouma nova ordem internacional, de baseessencialmente cultural, rapidamente secristalizou. Primeiro num artigo notávelpublicado em 1993 na revista Foreign Affairs edepois, em 1996, numa versão mais alargada(mas sem alterações substantivas) numamonografia – ambos intitulados The Clash ofCivilizations – Huntington soletrou, em detalhe,a nova topografia política emergente.
Não vou reiterá-la, a não ser pararelembrar imagens fortes como a relativa,
13
nomeadamente, ao que Huntington (memorávele, segundo muitos Muçulmanos,insultuosamente) apelidou as “fronteirassangrentas do Islão”, por exemplo. Ou pararepetir ilustrações que o autor ofereceu,no que toca à irredutibilidade dasidentidades religiosas umas às outras –como escreveu, é possível ser-se meiofrancês, meio argelino, ou meio socialista,meio capitalista; não faz porém qualquersentido alegar ser-se meio Católico, meioMuçulmano… Huntington tem decerto razão.Religiões, de facto, expressam visões muitoparticulares do Mundo (enquanto construtosconceptuais), vivências muito concretas(enquanto experiências colectivas), e, deum ponto de vista sociológico, como orevelou Émile Durkheim com a sua boutade deque “Dieu est la societé”, são semprerepresentações simbólicas dos nexos derelações sociais em que nos vemosenvolvidos. Mapeiam-nos. Formam, como tal,uma parte integrante da nossa identidademais profunda; definem-nos, ainda quevárias outras maneiras haja de o fazer.
Se é aí que reside a sua força, é aítambém que reside todo o seu potencial derisco para a segurança. Religiões sãomuitas vezes factores sérios dedesestabilização política, como muitasoutras vezes o são de estabilização. Àpartida, há que dizê-lo, Huntington pareceter posto o dedo numa ferida; aflorou pelo
14
menos uma parte da verdade, a maisnegativa. Relembrou-nos (contra umaperigosa amnésia) que se a experiênciahistórica nos ensina alguma coisa, ensina-nos que as religiões, quando se sentemfortes tendem, por infelicidade, a lutarumas contra as outras. É, previsivelmente,quando se sentem fracas que se unem (ou queparecem insinuá-lo) contra o que reconheceme circunscrevem como inimigos comuns.Tendem quantas vezes nesses casos porém afazê-lo por meras razões tácticas, naconvicção (com certeza bem fundamentada) deque juntar forças recruta e mobilizaenergias úteis para programas políticospartilhados (sejam eles a luta contra oaborto, a remissão das dúvidas do chamadoTerceiro Mundo, ou a inclusão da religiãonos curricula escolares, para só usarexemplos3 recentes). Nesse sentido, o melhor3 Muitos outros exemplos poderiam decerto ser aduzidos quesugerem áreas de colaboração possível entre religiõesdiferentes. E sem dúvida que são inelutáveis as vantagenspolíticas tácticas de cooperações pontuais destes tipos,sobretudo as alegadamente gizadas em pretensões programáticasde convergências teológicas. Mas nem por isso, creio, setorna muito convidativo o exercício. Em primeiro lugar, ecomo insistiu em Oxford F. Fernández-Armesto (1997), taisalegações são em geral factual e intelectualmente bastantepouco convincentes; e, portanto, têm poucos pés para andar.Em segundo lugar, consequências de convicções deste génerotendem a distribuir-se à volta de hostilidades intocadas,porque meramente deflectidas para novos canais de expressão;são, por conseguinte, pouco cautelosas. Insistir, porexemplo, que o Deus do Cristianismo, o Alá Islâmico, ou oTetragramaton Judaico são “o mesmo”, não faz sentido senãonum registo tão fraco que se torna trivial e induz enormes“perdas de informação”; se introduzirmos na equação o
15
testemunho para o implacável cercopressentido pelos líderes religiososcontemporâneos talvez seja adisponibilidade para, segundo dizem, “pôrde lado as divergências” e para colocar atónica, como alegam, naquilo que, insistem,“têm de comum”.
Não é a primeira vez, numa Históriatruculenta, que a situação lhes é avessa.Mas a ameaça é hoje mais geral. Os inimigosque se perfilam na linha de horizonte sãomuitos e as frentes que abrem são muitovariadas: do mais baixo materialismo aohumanismo laico, os opositores recatam-seem posturas antagonísticas que vão dodesprezo científico às acusações de umaendémica incorrecção política; ou assumemoutra posição mais estrutural e por issomesmo talvez mais corrosiva, ainda que àsuperfície menos ameaçadora: escondem-sepor detrás da interdependência crescente aque assistimos no Mundo moderno e a que,bem ou mal, chamamos globalização. Amaneira como a globalização erode asreligiões, lhes faz tremer as bases desustentação, e a forma como define novospontos de aplicação para os desafios e
politeísmo Hindu ou o ateísmo Budista, persistir na ideia deuma comunalidade desliza para o puro nonsense. Da mesma formaque, a meu ver, nos condenamos a perder de vista diferençasque fazem toda a diferença se teimarmos em asseverar que, dealgum modo, as vias, os meios, ou as finalidades de todas asreligiões são “idênticos”, ou sequer essencialmentesemelhantes.
16
constrangimentos a que elas estão sujeitassão questões na ordem do dia. Se bem que, ameu ver, daí não lhes venham grandesperigos, antes pelo contrário. Voltarei aeste ponto.
Se confrontada com algum recuo, asituação de diálogo inter-religioso vividano presente, ainda que não seja inédita, éclaramente de excepção. Em termos puramenteempíricos e quantitativos, pareceincontornável a conclusão de que religiõessão, de alguma forma, inimigas naturaisumas das outras. Por muito que líderes eresponsáveis o neguem (e por razõespastorais e teológicas muitos deles o fazemmuitas vezes) as religiões são como quemutuamente exclusivas. O que, pelo menos deum ponto de vista analítico, éintrinsecamente interessante. Sem quererentrar em grandes polémicas, é transparenteque tensões e conflitos entre religiões têmocorrido por duas grandes ordens de razões,tanto quanto conseguimos vislumbrar.Primeiro, cada uma delas no essencialrepresenta uma asserção, uma visãoparticular, do Mundo, de um acessoprivilegiado à verdade, quando não ao seumonopólio. Todas as diferenças entre umas eoutras tendem por isso a ser retratadascomo erros, enganos, ou mentiras, que urgedesmistificar. Em segundo lugar, comofenómenos sócio-culturais, ou sócio-políticos, religiões são expressões
17
fortíssimas de identidade; e se julgarmospela sua disposição em lutar por esta, nadaé tão precioso para as pessoas como ascredenciais emblemáticas que têm depertencer ao agrupamento social com que seembrenham. A esta luz, para além deexcepcional, a situação ecuménicacontemporânea é mais aparente que real,mais uma ficção conveniente que umadescrição convincente4. O facto, teimoso, éque religiões continuam a ameaçar-semutuamente (e quantas vezesestridentemente) por debaixo do verniz desupostos programas de colaboração bem
4 Comecemos por olhar para o que nos está mais próximo e parao âmago da questão; e façamo-lo simultaneamente arriscando umapelo ao bom senso e deixando a sugestão de que talvez sejaprudente evitar confundir desejos com realidades. Para osCristãos, a propensão para desenfatizar diferenças religiosasé apelidado de ecumenismo; acabámos de ouvir o muito ilustreSenhor D. Januário Torgal Ferreira falar sobre isso mesmo. Anível superficial (e até em termos potenciais) o ecumenismointra-Cristão parece fazer bastante sentido, como poderia serde esperar num qualquer esforço de reunificação do que sereputa terem uma vez sido, in illo tempore, tradições comuns. Talcomo, com um esforço ligeiramente maior, pode parecer sensato(ou persuasivo) alegar a adequação (e logo eventual eficácia)a um ecumenismo mais lato que ancore os seus programas deacção no âmbito de supostas convergências teológicas de fundoentre todas as (ou muitas das) religiões. É fácil e tentador,com efeito, contemplar a História com lentes que nos levem aconsiderar todas as diferenciações como cismas, cismas que (étentador acreditar) seriam penosos obstáculos para umaansiada unidade sincrética, cosmopolita e atéuniversalística, resultantes de miopias morais ou de mal-entendidos baseados em preconceitos ultrapassáveis,arrogâncias idiotas, ou em falácias irracionais. Éparticularmente curioso, por isso mesmo que, num período comtantos canais disponíveis de comunicação seja tão difícilmanter o momento ecuménico por todos tão almejado.
18
intencionada. Pior: como muitosobservadores têm notado, nos últimos anos asituação geral parece ter-se vindo aagravar. Uma segunda constatação que convémassumir com frontalidade.
Esta constatação não é fácil deracionalizar e não deixa de ter uma poucocómoda e incontornável verosimilhança:muito, com efeito, a corroba. Tal comoHuntington insistiu e previa, com adissolução do enquadramento bipolar que seseguiu ao desmantelar da União Soviética,ódios incubados têm fervilhado e saído àrua. Têm sido escavados novos fossosseparadores, para além de terem sidoampliadas linhas de falha arcaicas. Asituação (melhor, a conjuntura) é complexa:ao que verificamos, apesar de confrontareminimigos comuns, as principais religiões doMundo (e seguramente muitas das fésmenores) têm-se insulado ou, pelocontrário, têm sofrido convulsõesevangélicas ou proselitistas, e têm-semuitas vezes entrincheirado umas contra asoutras em processos cada vez mais globaisde competição feroz por lealdades. Muitossão os casos em que a insegurança temmedrado num chão fértil.
Uma qualquer simples enumeração decasos funciona como uma espécie de retratosingular do Mundo contemporâneo, uma tomadade pulso resignada: as instâncias maisvisíveis e alarmantes pela sua violência
19
(ou violência potencial) separam Muçulmanosde Cristãos ao longo de pelo menos trêscontinentes (Ásia, África e Europa), Hindusde Muçulmanos na Ásia Central, Xiitas eSunis um pouco por toda a parte, na Ásia doSudoeste Sikhs de Hindus, Católicos deProtestantes, Cristãos e Muçulmanos egrupos ditos animistas (na África Oriental,por exemplo), e na Europa, Muçulmanos deOrtodoxos e estes de Católicos. Não hácombinações que pareçam impossíveis; todosos continentes estão como que afectados.Tal como não há “bloco civilizacional”,como Huntington lhes chamou, que seja imuneao contágio. A religião, ao que parece, temtido um papel fundamental tanto na presençade velhas fronteiras e antigas linhas dedemarcação, como na criação de novas.Religiões têm sido (e ao que tudo indicacontinuarão a ser) termos nos quais novasguerras são empreendidas. Nesse sentido,nada evoluiu, ou se o fez foi para pior. Asguerras religiosas têm tido o que FelipeFernandéz-Armesto chamou “uma históriaquase contínua”5: seria imprudente pensarque fosse o que fosse nisso se alterou.
Bem pelo contrário. E aí umaperspectivação mais minuciosa e analíticapode ser-nos útil: a persistência deconflitos religiosos violentos, aventar-se-5 F. Fernandéz-Armesto (1997, op. cit.: 48-51), um pequenoestudo truculento sobre o futuro da religião na“modernidade”, que aqui cito liberalmente e sem grandecontenção.
20
á, ensina-nos imenso sobre o poder, anatureza e o papel da religião, ainda quenum Mundo supostamente secular. Por muitoque nos custe encará-lo, convenhamos que asrenitências e resistências das religiõesumas em relação às outras afloramciclicamente. Não o fazem de maneiraconstante; mas as pausas são muitas vezespouco mais do que um trompe l'oeil. Mesmo umIslamismo por tradição honrosamente pautadopor uma grande tolerância, tem vindo amostrar outra face ao Cristianismo e aoJudaísmo mal os entrevê como ameaçadores. OCristianismo, por sua vez, e não obstante ohumanismo cosmopolita e as doutrinas de Paze Amor universais que advoga, tem sidovítima de episódios exclusivistas violentoscomo as Cruzadas e as Inquisições. Até oHinduísmo, internamente estruturado segundouma enorme inclusividade sincrética, vêhoje nos Sikhs e nos Muçulmanos inimigos demorte. A intervalos (em muitos casos,longos intervalos) algumas religiões sãocaridosas para com as outras (quase semprecom alguma condescendência…), o que poderiainstilar-nos esperança num acatamentoreencontrado. Mas face às numerosasrecaídas, só uma fé optimista incorrigívelnos permitiria alegar que quaisqueralterações de fundo desse género terãovindo para ficar. A irredutibilidade parecepandémica; os desacatos, uma propensãoestrutural. Muitas das religiões no Mundo
21
de hoje são, infelizmente, autênticasbombas-relógio.
Podemos lamentar o facto e nada nosimpede de sobre ele formular consideraçõese juízos de valor. Se bem que não sejam deesperar, neste campo, grandesconcordâncias. Alguns serão da opinião(política) que essas infelizescircunstâncias provam a propensão inata dasreligiões em fazer mais mal que bem. Outrospoder-se-ão recantar na convicção (maisconfessional) de que aderentes e oficiantesdas religiões são falíveis, imperfeitos, eincapazes por isso de absorver as lições depaz, caridade, resignação, tolerância ecomunhão pelas quais a maioria dos credosreligiosos ostensivamente propugna. Muitos,com porventura maior neutralidade,insistirão nos aspectos mais positivos epacíficos da maioria das religiões e verãono recrudescer da conflituosidade não umamanifestação intrínseca da religião, mas antesuma prova conclusiva da força gigantescadas afiliações religiosas como fontes erepositórios da identidade social. Elocalizarão na crescente afirmação destasidentidades, e não nas religiões, os reaisperigos para o futuro.
3.
22
Neste fim do século, muitas das guerrastêm efectivamente essas característicasreligioso-identitárias. As suas frentes sãoconhecidas. A fragmentação da Índia pós-colonial teve uma base religiosa,Muçulmanos contra Hindus, um problema aindanão resolvido, como se vê nas tensõesfronteiriças actuais em Cachemira; osconflitos dos últimos com os Sikhs têmenvenenado a paz social naquele país, e aefervescência do mais recente renascimentohinduísta (que tem tido como coroláriosataques a Cristãos, entre outros), lançadúvidas quanto a uma qualquer pacificaçãoeminente. Na guerra surda (e já com barbas)de Católicos contra Protestantesirlandeses, seria arriscado aventarsoluções, não obstante os aparentescompromissos recém-logrados. Nos Balcãs,confrontações no mínimo tripartidas têmdesde o princípio de decénio (e desde hávários séculos) virado Católicos, Ortodoxose Muçulmanos uns contra os outros, naBósnia-Herzegovina Ortodoxos contraMuçulmanos, com a mesma receita no Kosovo.No Líbano, a forma mais económica dedescrever a longa guerra é decertocaracterizando-a como uma série deconfrontações entre Cristãos, Judeus,Xiitas, Sunis e Druzos. Não éparticularmente abusivo ver a religião comouma dimensão activa nas guerras Israelo-Árabes, na dos Arménios contra os Azeri, a
23
dos Russos com os Chechenos, ou até nas(infelizmente mais próximas) brutalidadesdos Indonésios contra os Timorenses. Umnovo espírito do tempo, dir-se-ia, está aassentar arraiais. Os afegãos encararam aguerra com os soviéticos com um jihad dosmujahidin contra os invasores, tal como o têmfeito as minorias Islâmicas que nasFilipinas e na Tailândia, ou como, maistarde ou mais cedo, talvez o venham a fazeras da China, em Xinjiang.
Tudo isto augura com efeito corrobar omodelo de Huntington, ao acentuar umcrescendo sensível na preponderânciadaquilo que ele tão graficamente apelidoude “linhas de falha civilizacionais”, que ofim da arquitectura bipolar teria como quefeito vir à tona. Mas tal está longe de serpacífico. Porque não deixa de ser verdade(como muitas vezes tem sido objectado) quecada caso é um caso; e que, se o preço apagar pela adequação de todos os casosparticulares a um mesmo quadro genérico éum apagamento de diferenças e distinçõesconceptuais fundamentais, então o preço édemasiado alto6. Em causa estão problemas defundo cruciais como a questão, tãovexatória, da definição do que é “umaguerra religiosa”, um conceitoextraordinariamente árduo de desfiar. O que6 As explicações fáceis, a essa luz, saem a perder: nãoHuntingon, ele próprio um autor cauteloso, mas algumasleituras que dele são feitas e que pecam por excessivassimplificações.
24
está em jogo não é uma hesitação puramenteformal, mas sim uma dúvida substantiva: sesubsumir eventos essencialmente diferentessob a égide de um conceito unitário émuitas vezes útil e tranquilizante (já queevita confusões e eventuais dissonânciascognitivas), o fazê-lo redunda numraciocínio circular se for baseado numapetição de princípio. O risco, obviamente aevitar, é o de se acabar por concluirprecisamente aquilo que começámos porfabricar. Uma guerra é religiosa quando asua motivação é religiosa ou, em rigor, é-oapenas quando as suas finalidades sãoreligiosas? Ou ambas? E podemos considerarum conflito como religioso se a religiãofor só um dos seus vários factores, ou deveo conceito ser reservado estritamente paraguerras de cariz integralmenteconfessional? E o que é que isso querdizer?
É difícil não ter a impressão de que asinterpretações mais maximalistas do modelode Huntington, sem embargo da sua notávelelegância intelectual, ganhariam com umamuito maior sofisticação nestes domínios.Dificuldades como esta são ademaisagravadas pela evidência de que nem todasas religiões exibem a mesma propensão paraa conflitualidade. Mais, mesmo no seio deuma única religião (por exemplo oCatolicismo) vivem-se períodos maisviolentos do que outros, como um mínimo de
25
atenção torna evidente. Ao que se adicionaa constatação de que, já que a religião e aidentidade estão tão intimamenteinterligadas, o redimensionamento políticodas religiões é tantas vezes um factoinsofismável. Por outras palavras e paravoltar ao que atrás foi dito: conflitosreligiosos são, não raramente, conflitosétnicos mascarados. O que suscita novosproblemas, já que recoloca e reposiciona asquestões exigindo formulações teóricas maiselaboradas e muito mais criteriosas.
Um outro bom sintoma desse déficit deelaboração teórica (com gravesconsequências e implicações para acompreensão dos factos) tem a ver com oesmiuçar imprescindível do que é, daquiloque significa, “um processo deidentificação étnica”7. A dúvida está longe
7 Como escreveu há uma trintena de anos Abner Cohen, “aetnicidade, na sociedade moderna, é um resultado dainteracção intensa de diferentes grupos culturais e não oresultado de uma qualquer tendência para a separação”. Ouseja, e por outras palavras, a identidade (qualqueridentidade, mesmo a étnica) é melhor concebida se tomada comoum fenómeno relacional, um campo cultural de acção que passapela definição de uma pertença, de uma origem, ou de umaorientação, estreitamente ligadas à construção social de umacomunidade. Trata-se de uma construção que tem sempre lugarno enredo de uma conjuntura sócio-política pré-existente; eque logo, por isso mesmo, não pode de maneira nenhuma sertornada inteligível a partir de puros e simples pressupostos“primordialistas” que insistam, por exemplo, no “nacionalismoincipiente” de um qualquer grupo etnolinguístico; ou queinventem uma imaginária propensão político-militar intrínsecaa todas as religiões. É invariavelmente em termos do seucontexto preciso (e só nos seus termos) que a etnicidade, ouo nacionalismo como uma sua expressão mais politizada, se
26
de ser simples; justifica-se portantodetermo-nos um pouco sobre esta tãonecessária redimensionação das questõespolítico-religiosas abordadas porHuntington. Muitos exemplos de distorçõesresultantes de simplificaçõesdepauperizantes (por não tomarem em linhade conta considerandos destes) sãopossíveis. Ocorre-me um, muito geral: comoescreveu memoravelmente Ernest Gellner em1992, “ao contrário do que as pessoas defora geralmente supõem, a mulher Muçulmanatípica numa cidade Muçulmana não usa o véupor a sua avó o ter usado, mas porque elanão o usou: a avó, na aldeia, estavademasiado ocupada no campo, e frequentavaos locais de culto [shrines] sem véu, edeixava o véu para os seus superiores. Aneta está a celebrar o facto de se terjuntado aos superiores da avó, mais do quea sua lealdade à sua avó” [1992:16,tradução minha]. A lição é bem aprendida: oconhecimento detalhado do contexto sócio-cultural adequado, e da natureza precisa daacção simbólica levada a cabo (neste comoem muitos outros casos) põem a nu inflexõescausadas por interpretações apriorísticas8,
tornam plenamente compreensíveis. Para um estudo interessanteelaborado sob esta perspectiva, ver J. de Pina Cabral (1994),sobre a etnicidade em Macau.8 O que para além de intelectualmente grave nos faria correro risco de não conseguir compreender plenamente este fim deMilénio em que, como tem sido notado, o Mundo padece quaseexclusivamente de guerras civis, pelo menos metade das quaissecessionistas.
27
e guiam-nos de forma segura nareconstituição do sentido e do alcance dasasserções étnico-religioso-nacionalistas;tudo passos imprescindíveis, como tentareicursoriamente demonstrar. Aventargeneralizações sem as distinções finas queresultam de um esmiuçar cuidadoso demecanismos sociais complexos é semprearriscado.
A articulação entre religiões eidentidades, e a associação deste parordenado com a violência política (umaligação não necessária mas comum, nunscasos naturalmente mais do que noutros) temdesde há muito suscitado um vivo interesseacadémico. Numerosos estudos se têmdebruçado sobre religião e nacionalismo.Menos, mas em todo o caso bastantes, sobrereligião e etnicidade. Seria absurdo tentarneste Seminário uma qualquer recensão domuito que tem sido produzido neste domínio;limitar-me-ei, por isso, a dois brevesexemplos, ambos passados, que me parecempertinentes visto dizerem respeito amudanças sociais algo semelhantes àquelashoje em curso. Não pretendo com eles maisdo que simples avisos à navegação: nãopreenchem outra função senão a de alertarpara a intrincação da tríade religião-política-identidade.
Um primeiro é relativo às Filipinas definais do século XIX e dos dois primeirosdecénios do século XX. Numa monografia
28
excelente, publicada em 1979 e intituladaPasyon and Revolution (uma refundição da suatese de doutoramento na Universidade deCornell, nos Estados Unidos) o autor, umhistoriador filipino, Reynaldo Ileto9,debruçou-se sobre as rebeliões místico-políticas, chamemos-lhes assim, que látanto caracterizaram esse período. Numaanálise soberba no detalhe e exímia a nívelepistemológico, Ileto mostrou quemovimentos nativos tais como o Katipunan, aConfradia de San Jose, ou a Santa Iglesia(os três maiores movimentosindependentistas locais), se sublevaramcontra a dominação espanhola utilizandoarmas conceptuais inadvertidamente postas àsua disposição pelo próprio inimigo. Pensara unidade, a nação, ou mesmo o povofilipino, notou Ileto, era radicalmenteinviável em culturas onde tais conceitosnão existiam; tal como impossível seria"imaginar" (para utilizar a terminologia deBen Anderson) alterações e transformaçõessócio-políticas que melhorassem um estadocolonial de coisas então comummentereputado pela população nativa comoinsustentável. Os habitantes das Filipinasapenas dispunham de uma experiênciacolectiva, o Drama Litúrgico hispânicomedieval (uma encenação pública dacaminhada de Jesus Cristo para o Monte das
9 R. Ileto (1979), uma obra que creio essencial para acompreensão dos progressos do nacionalismo timorense.
29
Oliveiras) e de um guião em língua Tagalog(um texto para-litúrgico, o Pasyon Pilapil),para retratar e estruturar em detalhegráfico (como ainda hoje o faz) sequênciasde transição como a composta pelosofrimento, a morte e a redenção.Decalcando discursos sobre este modelo,argumentou Ileto, os revolucionáriosfilipinos elaboraram e deram corpo a umaespécie de Teologia da Libertação avant lalettre: na organização da sua resistência, olíder político era visto como umaencarnação de Jesus Cristo, os seus chefespolítico-militares como os apóstolos, aluta como a caminhada da Paixão, e aIndependência como a Redenção. Os gruposassumiam nomes explicitamente religiosos(Fraternidades, Confrarias, Igrejas). Asequência como que formatou a rebelião. Ainsurreição foi interminável e os novossenhores coloniais norte-americanosherdaram-na em 1898; só a conseguiramresolver em 1910. O preço: largas centenasde milhares de mortos, de um lado e deoutro. Um corolário: o nacionalismofilipino e a religião são indissociáveis.
Um segundo exemplo refere-se a finaisdo século XX e à luta de parte da maiorianegra Shona contra a minoria branca(política, militar e economicamentedominante e hegemónica) na antiga Rodésia.Num estudo intitulado Guns and Rain, publicado
30
em 198510 por um antropólogo sul-africano,David Lan, foi abordada a questão,complexa, da mobilização (iminentemente bemsucedida) dos Shona Korekore pelosguerrilheiros revolucionários da Zanu. Dadaa impossibilidade manifesta de recrutarajudas locais com base nas cartilhasmarxistas-leninistas, a guerrilha Zanurecorreu a alianças firmes com os“feiticeiros” Shona fazedores de chuva. OsKorekore estão divididos em clãs, dos quaiso principal é o dos Elefantes, de que saemsempre os chefes. A conquista dos Korekorepelos pastores que viriam a formar este clãé contada, em longas séances públicas, pelosespíritos dos chefes do passado, osmhondoro, que falam pela boca dosfeiticeiros possuídos. Lan mostra, empáginas vivíssimas, como a aliança entre osguerrilheiros da Zanu e estes fazedores dechuva funcionou com toda a eficácia: comuma legitimidade oferecida pelos mhondoro,os guerrilheiros como que se transmutaram,aos olhos dos Shona, de outsiders emencarnações de antepassados da estirpe realdos Elefantes. O resultado, nessa zona defronteira com Moçambique: uma mobilizaçãogeral que, apesar de inúmeras mortes, nãose deu por satisfeita enquanto nãoconseguiu assegurar a sua quota-parte navitória final da maioria, e na consequente
10 D. Lan (1985), com esta monografia, ofereceu-nos uma grelhade análise brilhante, mas que parece ter dado poucos frutos.
31
transformação da Rodésia em Zimbabwe. Nesteexemplo, como no anterior, sãocomplexíssimos (e nos dois casosinesperados) os mecanismos sócio-religiososde construção de identidades. Eimpossíveis, diria eu, de deduzir a priori.
4.
Insisti nos custos incorridos porteorizações como a de Huntington, queresultam amiúde de generalizações queescondem tanto quanto revelam, e que nostendem a levar de volta ao seu ponto departida. A par e passo tentei ainda mostrarcomo, sub-reptícia e insidiosiosamente,generalizações desse tipo reintroduzemquantas vezes uma dimensão política avulsa(pela porta das traseiras, por assim dizer)na leitura que fazemos da acção religiosa.Este dado parece-me nevrálgico: o que estáem causa, deste ponto de vista, é o papelpreenchido, na própria estrutura das nossasexplicações de clivagens, conflitos, eoutros processos relacionais, pelareligião, por um lado; e, por outro lado,pela etnicidade ou pelo nacionalismo – sese quiser pela política. O problema não élinear: porque nos panoramas contemporâneosa política e a religião muitas vezes nãosão termos que aludam a duas modalidadesdistintas de pensamento e acção, mas sim
32
conceitos operativos que não fazem mais doque denotar dois aspectos, indissociáveis, detodas as acções e representações sociais11. Oque dificulta enormemente a compreensão deprocessos e está no fundo na raiz de muitasdas simplificações que somos em resultadotentados a aceitar.
Mudemos de ponto de aplicação, masretendo os cuidados. Ao nível da elaboraçãode modelos analíticos que digam respeito aosistema moderno de relações internacionais,parte do que está em causa é, no fundo, aurgência de uma reconsideração dos papéisrespectivamente preenchidos pela cultura epelo poder. O modelo do “Choque dasCivilizações” nisso ajuda, mas não chega. Énecessário, mas não é suficiente. Chama aatenção para o problema, mas não o resolvede maneira satisfatória. Postula um papelcrescente para entidades não estatais (nocaso supra-estatais), nos palcosinternacionais de hoje, a par com osEstados tão reificados pela tradiçãorealista e neo-realista. Sugere umadesconstrução saudável da imutabilidade a-histórica da “anarquia hobbesiana”, mas nofundo substitui-a por uma visão sincrónicae igualmente estática de um “estado denatureza”, apesar do tom spengleriano ou11 Para um ponto afim, ver o curto artigo de um investigadorportuguês, Miguel Vale de Almeida (1999) sobre as políticaspopulares de “africanização” político-religiosa contemporâneana Bahia, Brasil, nomeadamente no que toca àinstrumentalização conjuntural da identidade étnica numâmbito religioso-cultural.
33
toynbeeiano das entidades civilizacionaisque afirma e erige. O que não lhe permiteprever muitos dos desenvolvimentosdiacrónicos mais recentes dos cenáriosinternacionais.
Ilustrá-lo é facílimo. A guerra da NATOno Kosovo pode servir como um bom caso-teste, recente, do modelo básico deHuntington, e dos seus limites face apossíveis explicações paralelas (oucomplementares), paradoxalmente mais“clássicas”. Explicações, por exemplo, queponham a tónica, não em clivagens culturais,mas nas relações de poder. Com efeito, umaadesão estreita ao modelo de Huntington(ele próprio, em trabalhos recentes, temmostrado uma clara consciência do facto)levar-nos-ia a várias conclusões que osfactos empíricos puros e duros nãoverificam. Seríamos assim, por exemplo,conduzidos a considerar como em últimainstância incompreensível que ocristianíssimo Ocidente possa agir contraCristãos (ainda que Ortodoxos) em defesa deMuçulmanos (ainda que também europeus).Desta perspectiva a “questão kosovar”transtorna o paradigma huntingtoniano. A nãoser que consideremos que haja objectivossecretos ulteriores, uma qualquer lógicainsidiosa que leva a que as coisas sejamexactamente o contrário do que parecem12.12 Curiosamente, e como talvez fosse de esperar, muitos doscidadãos de países árabes, como o retratou um artigo recentedo Economist, parecem sustentar um tipo de opinião que
34
Mas não ficamos por aqui. É curiso notar,para além disso, que, face às mesmasquestões, nada nos impede de alegarprecisamente o contrário: ou seja que casos comoo do Kosovo corroboram o modelohuntingtoniano, como se pôde ver nassolidariedades grega (ortodoxos tal como ossérvios) e russa (eslavos, para além decorrelegionários). Nesta versãoalternativa, houve de facto uma Clash à laHuntington, de que saíram derrotados sérvios,russos e gregos. O meu ponto é este: já queambas não podem ser simultaneamente leiturascorrectas, mas já que ambas são possíveis,então é porque o modelo de Huntington nãoestá completo – deixa alguma coisa de fora.
consiste na fabricação apressada de elaborações secundáriasconstruídas precisamente para negar essa incompreensibilidadee para assim manter viva a interpretação “huntingtoniana”:segundo o Economist, poucos árabes, com efeito, confiam najustificação da NATO de que teria decidido agir dada umagenuína preocupação com os Kosovares; alguns têm por issoinsistido que o que está realmente em causa é a urgênciaeuropeia (e, sobretudo, norte-americana) em “mostrar quemmanda no Mundo”; outros, mais elaborados (entre os quaisjornalistas, líderes religiosos e intelectuais), têminsistido que as acções foram desencadeadas por uma NATOplenamente consciente de que os seus ataques iriam acelerar ainfame limpeza étnica, sendo o verdadeiro objectivo final dosaliados o de expulsar, em definitivo, os Muçulmanos daEuropa; outros ainda, menos teleológicos mas igualmentemaquiavélicos, têm advogado nos jornais e televisão doMagrebe e do Médio Oriente que o ataque aos Cristãos sérviosfoi uma ignóbil táctica de sedução destinada a arrefecer aindignação da opinião pública Islâmica relativamente afuturos (e iminentes) novos ataques ao Iraque, à Libia e aoutros países árabes.
35
Parece-me claro que teorias de complot(que são por via de regra tão dificilmenterefutáveis como são indemonstráveis) se porum lado superficialmente confirmam erealçam as teses de Huntington, por outropõem em evidência o desconforto com que oshuntingtonianos mais simplistas encaramalguns dos factos do Mundo contemporâneo,factos ambíguos que não podem senãoaparecer-lhes como anomalias. Tal comojulgo óbvio que declarações teimosas queinsistam que Huntington tinha razão visto oconflito ter tido lugar essencialmenteentre culturas e civilizações (e religiões)não são muito convincentes, e deixam outrasanomalias sem explicação. Sem sombra dedúvida a crise jugoslava põe em cheque pelomenos a suficiência do modelo básico do Clash ofCivilizations. Um momento de reflexão, aliás,traz à superfície não só estas, mas tambémoutras, limitações; e fá-lo, creio, demaneiras interessantes, já que me parecesugerem algumas das dificuldadesepistemológicas específicas da grelhaexplicativa de Huntington.
Um exemplo suplementar é o que nos édisponibilizado pela reacção do Iraque e daLíbia à operação Aliada no Kosovo – paísesque apesar de muçulmanos, imediata, vocal,e quase incondicionalmente, professaram“apoio total” a Milosevic e aosnacionalistas sérvios, disponibilizando-lhes mesmo (ou, pelo menos, assegurando
36
fazê-lo) “especialistas” em guerrilha,medidas de resistência anti-bombardeamentos, e até bem testadastácticas propagandísticas e diplomáticas.Sem querer aventar quaisquer juízos deintenção, tratou-se com toda a evidência dereacções que deram precedência ao ódio e àdesconfiança anti-ocidental sobre eventuaissolidariedades pró-Islâmicas ou hipotéticaspreocupações religiosas ou culturais comatrocidades sérvias. À contre-sens, note-se,relativamente ao predito pelo modelo deHuntington, ou em todo o caso ao que dizrespeito a uma aplicação maximalista porseguidores seus mais radicais. Mais uma vezcontradizendo as expectativas desse novomodelo convencional.
As posições grega e russa também foraminstrutivas. Como previam oshuntingtonianos, a população da Grécia,esmagadoramente Cristã Ortodoxa, apoiouvocalmente os correligionários sérvios. Masforam sobretudo grupos extremistas, ultra-nacionalistas e comunistas, por exemplo, osque mais activos foram na sua solidariedade– precisamente aqueles que, por razõesantes político-ideológicos que propriamentecivilizacionais (tal como na RússiaOrtodoxa e eslava) mais próximos se sentiramdos sérvios; ou mais distantes se sentiramdos Aliados, nomeadamente dos norte-americanos… Em todo o caso, e contra aseventuais previsões huntingtonianas, os
37
Estados grego e russo, ainda que comaparentes avanços e recuos, mantiveramfirme a sua aposta, realista, numa raison d’Étatque persistiu sempre em investir nasrealidades do poder em detrimento de umaqualquer identificação transcendente13.
Nestes como nos casos anteriores, nãoquero deixar de reiterar, o que estárealmente em causa (e explica as aparentesanomalias) é o papel muito real preenchidonas relações internacionais (mesmo depoisda fim da bipolaridade) não só pelas relaçõesculturais, mas pelas relações tácticas e estratégicas de13 Os turcos, que conquistaram o Kosovo no século XIV e oabandonaram no século passado, sentem em relação aosalbaneses (por eles, otomanos, convertidos ao Islamismo)fortes ligações e responsabilidades; pelo menos três milhõesde cidadãos turcos, muitos deles influentes políticos,militares ou líderes económicos são de ascendênciaparcialmente albanesa. Não surpreendentemente, os turcosforam, desde o princípio da última crise, apoiantes firmes daNATO. A Turquia ofereceu a sua Força Aérea parabombardeamentos, disponibilizou para tal as bases do seuterritório (o que não fez em Dezembro último quando dosataques do Iraque) e manteve uma postura firme e bem audívelde solidariedade, a todos os níveis, no interior da AliançaAtlântica. Mas isto é só parte de narrativa. Porque seriadecerto absurdo, convenhamos, uma qualquer explicação docomportamento turco que descontasse (ou que secundarizasse)factores como a pertença da Turquia à NATO, a urgênciagovernamental em proceder a uma lavagem de cara junto aospaíses ocidentais no que diz respeito ao tratamento que asautoridades turcas elas mesmo têm infringido aos Curdos e aosmilitantes Islâmicos locais, a questão (então na ordem dodia) do julgamento do líder do PKK, ou até a assunção de umapostura mais palatável, perante esta crise balcânica, que ados gregos. Tudo razões de poder, não de cultura…Tal como, deresto, o apoio professado pelo Vaticano às teses sérvias,manifestamente mais atento a reaproximações a longo prazo doque preocupado com humanitarismos mais lineares e imediatos.
38
poder, bem como pelas estratégias dinâmicas do seuexercício. Clivagens e linhas de falhaculturais, ou civilizacionais, podem sermuito importantes e talvez tendam a ver asua centralidade aumentar na nova ordeminternacional. Mas a velha power politicscontinua, incólume, a canalizar as Realpolitikdos Estados sem prestar grande atenção (quenão a pragmaticamente útil) a quaisquer“linhas de falha” prévias. Parece-medefensável argumentar, por exemplo, que(tal como tinham já evidenciado na Guerrado Golfo) os Estados Unidos estãoempenhados em cimentar aliançastransversais relativamente aos grandesblocos culturais, nomeadamente aoMuçulmano. Estão claramente apostados emcriar acontecimentos internacionaispúblicos que desenfatizem, senão a unidadedos “blocos civilizacionais”, pelo menos asua percepção. Com algum sucesso: depois dacrise kosovar deixou de ser linear (ou atémuito convincente) a visão afuniladasegundo a qual os blocos seriam monolitosinamovíveis. Mais do que isso: àinsuficiência de puras motivações préviasjunta-se a importância de motivosulteriores. Não será seguramente muitoespeculativa a ideia de que a insistêncianorte-americana em intervir na ex-Jugoslávia não é independente da suaurgência em substituir (ou complementar)
39
bases na Alemanha com outras, na Europa dosudeste.
Uma última ilustração dasinsuficiências de um huntingtonianismoradical, mais anedótica e que revela de umcenário paralelo, diz respeito àssucessivas posturas político-religiosasassumidas por aquele que foi o clérigo mais“graduado” da Arábia Saudita até à suamorte em finais de Maio passado, o SheikAbdel-Aziz Bin Baz. O Sheik foi Juiz,Reitor universitário, Presidente daComissão das fatwa (os decretos religiososislâmicos) e, finalmente, Grande Mufti, umposto especificamente reactivado pelo Reiem sua honra. Aliado dos revivalistasbastante radicais, os célebres Wahabi, oSheik Bin Baz colaborou durante decénios,como ulema (especialista religioso), comsucessivos reis saudi, do Rei Saud aFaiçal, e finalmente a Khalid e Fahd.Quando em Agosto de 1990 o Iraque invadiu oKuwait, o Rei Fahd, sempre prudente, viu-seobrigado a ter que tomar decisões difíceis:colaborar militarmente com o Ocidente abriabrechas entre príncipes e clérigos saudi;não o fazer era pior, já que expunha oreino saudita às ambições territoriaishegemónicas de Saddam Hussein. A entrada emcena do Sheik Bin Baz, foi providencial.Bin Baz exarou uma fatwa que estipulava que,em casos de emergência extrema seriapermissível a um Estado muçulmano solicitar
40
ajuda a não muçulmanos, assim legitimando asolução preferida pelo Rei. Meio milhão desoldados Aliados entraram no reino. Mesesmais tarde, o Sheik acrescentou uma segundafatwa, redefinindo a guerra contra Saddamcomo um jihad. Tudo isto de um líderreligioso conhecido por sempre insistir quea Terra é plana, que filmes e fotografiassão gravosamente imorais, e que mulheresque estudem em instituições mistas não sãomais do que prostitutas. Quando doscélebres Acordos de Oslo, maisrecentemente, o Sheik Bin Baz produziu umaoutra fatwa, legalizando e aprovando oprocesso de paz israelo-árabe. O que nãodeixou de causar burburinho interno: OsamaBin Laden, por exemplo, o dissidentesaudita exilado, notório pelas acusações demontar o seu próprio jihad contra Israel e osEstados Unidos (e responsabilizado porestes pelos ataques terroristas àsembaixadas norte-americanas na ÁfricaOriental e na Ásia Central durante o anopassado), insurgiu-se violentamente contraBin Baz e exigiu (sem sucesso,naturalmente) a sua demissão imediata.
Histórias de caso deste tipo (e haveriamuitas outras) parecem-me sublinhar oóbvio: que, por muita importância ecentralidade que queiramos atribuir amotivações culturais e religiosas no quetoca a decisões em política internacional,fazê-lo sem reconhecer o lugar devido à
41
pragmática da Realpolitik, à luta nua e cruapelo poder e às suas involuções,independentemente de quaisquer preocupaçõesidentitárias, éticas ou religioso-cosmológicas, é pura e simplesmentereducionista. Mais ainda e em termosgerais: perspectivações estáticas e a-históricas deixam muito a desejar; encararblocos civilizacionais como entidadesimpermeáveis e imutáveis inviabilizaprevisões e uma melhor compreensão dosacontecimentos. Pior: basear explicações(ou mesmo descrições) em modelos culturaisabstractos e gerais é muitas vezesempobrecedor – logo enganador, já que podesugerir implicações e parece permitirinferências por defeito condenadas ànascença.
5.
Moderar, como estou a tentar fazer, osexcessos de uma teorização huntingtonianapolarizada e simplista com o que considerouma sóbria constatação da importânciacontinuada da dinâmica das relações depoder, não constitui propriamente umadesvalorização do excelente contributo quenos é oferecido pelo Clash of Civilizations. Nemrelativizar a capacidade das religiões (ouancorá-las, tanto a elas como ao seupotencial político, no âmbito do social)
42
significa, de algum modo, uma qualquerminoração destas. As religiões sobrevivemfacilmente a isso e a muito mais14. Mas,como tentei mostrar, se suscitar dúvidasnão redunda numa desvalorização nua e cruadas teses de Huntington, não deixa por issode delas lograr uma reformulação, ou umesbatimento. O que me parece essencial, sequisermos saber arrumar (e perceber) amultiplicidade de acontecimentos(aparentemente avulsos, mas com umasemelhança de família suspeita e sugestiva)que podemos observar no palco internacionalcontemporâneo. Não se trata propriamente delhe fazer uma crítica, mas mais de dar umaachega a um modelo lúcido e muito claro.Que uma reperspectivação deste tipo não éuma heresia, corroba-o o facto de o próprioHuntington, num artigo recente publicado nopenúltimo número da Foreign Affairs15, com toda aevidência o assumir. Ao escrever, há apenasmeia dúzia de meses, sobre os EstadosUnidos como The Lonely Superpower, o autor do“Choque de Civilizações” alterou o acentotónico das análises anteriormente14 E considerá-las como parte do social não derroga seja o quefor do seu valor: antes lhe acrescenta alguma coisa. Comoescreveu em 1997, Felipe Fernandéz-Armesto, que já atráscitei, “o futuro da religião, se há um, terá lugar no Mundoque conhecemos. O problema é de equilíbrio. Quando asreligiões são absorvidas pelo Mundo, deixam de ser religiões.Quando o ignoram, deixam de ser eficazes” (1997, op. cit.:15,tradução minha).15 S. Huntington (1999), um excelente position paper, em que oautor simultaneamente faz um balanço da sua teorizaçãoanterior e a modera com considerações políticas “clássicas”.
43
propostas, sem no entanto lhes modificargrandemente a substância, ou o conteúdo.
Tal como nos dois Clash of Civilizations, norecente Lonely Superpower Huntington insisteque, durante o correr da presente década,os cenários políticos globais têm sido“substancialmente reconfigurados segundolinhas culturais e civilizacionais”. Mas,agora, o foco é posto pelo autor no queconsidera “desde sempre” a outra perna dapolítica internacional: “a política globalé sempre sobre o poder, e as relaçõesinternacionais de hoje estão a modificar-seao longo dessa dimensão crucial. Aestrutura global do poder na Guerra Fria”,escreve, “era basicamente bipolar; aestrutura emergente é muito diferente”(1999:35 tradução minha). Segue-se umacartografia detalhada do que Huntingtonconsidera a novíssima geometria de aliançase antagonismos. O resultado, curiosamente,é um policy paper quase totalmente neo-realista, em que o “huntingtonianismo” maltransparece. No Mundo em que hoje vivemos(e a que Huntington chama “uni-multipolar”)para o nosso autor a única superpotênciaglobal sobrevivente, os Estados Unidos,estará em competição directa com as grandespotências regionais (a Alemanha, a Rússia,o Brasil e a China, por exemplo) e, emconsequência os norte-americanosprevisivelmente aliar-se-ão às de “segundalinha”, para lhes fazer frente: à Ucrânia,
44
à Argentina, ou ao Paquistão. Longe dasfamosas “fronteiras sangrentas do Islão”,nesta releitura os conflitos prospectivoscontra que nos devemos precaver serão nasvárias áreas de influência multipolar. Eterão, como protagonistas, não turbasreligiosas, mas antes líderes políticos deEstados regionais de segunda apanha que,Huntington dixit, reconhecerão comoconveniente a coligação com os EstadosUnidos (como potência global) na suaresistência à hegemonia dos novos senhoresda vizinhança. Mas o modelo, no essencial,continua estático. Tal como o Clash ofCivilizations, é mais sugestivo e diagnósticoque útil para quaisquer previsões.
6.
Não queria acabar sem algumasconsiderações cursórias e sucintas. O Mundocontemporâneo, de muitos pontos de vista,apresenta-se-nos tão ambíguo como perigoso;o prognóstico entra pelos olhos dentro. Seo Mundo moderno se subdivide, também seune. Aos estretores centrífugos finais dabipolarização e à fragmentação consequentedo palco internacional em vários palcoslocais, adicionam-se processos centrípetosde uma globalização acelerada, potenciadospor novas estratégias económicas, porinovações no campo das comunicações, pela
45
circulação fluída da informação, e pelaentrada em funcionamento consequente demecanismos políticos poderosos que visamestruturar a nova global village em construção16.Uma linha de fuga a que Huntington atribuiupouca importância, ao nível da arquitecturateórica que edificou.
Mas o que outros porém fizeram. Numaobra notável publicada em 1995 (e revistaem 199617), Benjamin Barber, da Universidadede Rutgers, intitulou estas duas tendênciassimultâneas, respectivamente, de Jihad e deMcWorld. Para Barber, as duas forças emconfronto (a de um McWorld centrípeto e a deum Jihad centrífugo) encerram riscos. Riscosgraves, já que para além de estarem emdespique uma com a outra, estas forçasrelevam intrinsecamente de tendências poucopacíficas. É fácil vê-lo. A “mão invisível”do mercado global, a neo-liberal, estáligada a um “braço manipulador” que “se nãofor guiado por uma cabeça soberana, édeixado às contingências da ganânciaespontânea” (1996:220, tradução minha).Enquanto que os “nacionalismos” e as“religiosidades” pós-modernas por normaparecem identificar-se a si próprios pelocontraste com o “outro” estranho,
16 Para uma visão panorâmica da progressão em várias frentesda globalização, é útil o livro do sociólogo australiano M.Waters (1995).17 B. Barber (1996) inclui na reedição do seu estudo, algunsdos comentários que sobre este lhe tinham sido formulados,nomeadamente por Bill Clinton.
46
transformando a política num exercício deexclusão e ressentimento. São forças quepromovem comunidades, mas habitualmente àcusta da tolerância e da mutualidade; logo,“criam um Mundo em que a pertença é maisimportante que o empowerment, e em que finscolectivos impostos por líderescarismáticos tomam o lugar de bases comunsproduzidas por deliberações democráticas”(ibid: 222, tradução minha). O futuro, vistodesta perspectiva, encerra seguramentemuitíssimos monstros novos.
Os reais perigos do futuro, gostaria desugerir, parecem-me no essencial residir anível dessas duas linhas de força. O idiomaem que, impetuosamente, da Sérvia aoKosovo, da Flandres ao País Basco, doQuebeque à Tchetchénia, as tribosreinventadas e as novas comunidadesimaginadas levam a cabo os seus jihad (sejamfundamentalistas cristãos, rebeldescongoleses, ruandeses, sul-angolanos, ouguerreiros divinos muçulmanos) continua aser a linguagem dura da política. Areligião pode ser (e muitas vezes é) orefrão, a deixa, ou o tema de fundo: mas omotor, o propulsor, é (continua a ser) o daetnicidade e o do nacionalismo. Uma doençajá antiga. A questão que se põe e que julgomais fascinante é a de apurar se se trata,nesses fogos novos que se ateiam, do mesmonacionalismo que o gestado na Paz deWestphalia e depois retomado e alterado no
47
século XIX, ou se é algo de radicalmentenovo. Um tema que tem sido, no fundo,abundantemente suscitado neste Seminário eque é pertinente. Os idiomas políticosmodernos são atípicos: a retórica utilizadaparece (muitas vezes e em sentido estrito)demasiado mundana para ser a de verdadeirasreligiões; e é de longe sectária eexclusivista demais para ser nacionalista.
Para esta questão parece-me sem dúvidapreferível (na esteia de Michel Ignattief ede B. Barber, entre outros) uma respostacompósita a uma resposta essencialista(segundo a qual só os velhos nacionalismosseriam de facto nacionalistas), ou a umaresposta fenomenológica (de acordo com aqual ambas as variedades seriam denacionalismos). Há alternativas. Podemosassim certamente asseverar quenacionalismos, quaisquer que sejam as suascores, são sempre decomponíveis em doisgrandes “momentos”: um, de identidade dogrupo e de exclusão; um outro, igualmenteimportante, de inclusão e integração.Diferem no doseamento relativo dos doistermos deste binómio, deste par deingredientes. É nisso que se distinguem oscontemporâneos dos do passado. Osnacionalismos westphalianos punham a tónicacom firmeza no segundo “momento”, o deconstrução, e lograram ultrapassar ofeudalismo e implantar a eventualconstrução de nações-Estado; no século
48
passado, na fase expansionista interna eexterna, estes nacionalismos, em nome datão almejada integração inclusiva,mantiveram à margem o identitarismoexclusionário18.
O século XX e os processos deinterdependência, alargamento e,eventualmente, globalização, geraram, pelocontrário, “tendências do primeiromomento”, chamemos-lhe assim, forçasvoltadas para a desconstrução, a oposição ea hostilidade ao Estado e aos “outros”. Assuas manifestações são muitas e variadas.Às vezes são duras. Noutros casos sãoapagadas. Na Europa, nomeadamente, (para sódar um exemplo e para tornar a citarBarber), ou pelo menos nas democraciaseuropeias, “a tentação de resistir àmodernidade lê-se no comentário nervoso quea modernidade faz sobre si própria” (ibid:169, tradução minha). As “versões pálidas”do jihad europeu (dos Jihad na Europa e poreuropeus) têm assumido duas formas que seintersectam, e que infelizmente mesmo emPortugal reconhecemos: o “provincianismo”,que vira as periferias contra os centros; eo “paroquialismo”, que desdenha ocosmopolita. Trata-se todavia de um Jihadaguado, já que a Europa, bem posicionada no
1810 Muitos são os estudos que sob este e outros temas afinsnos últimos anos que se têm debruçado. Retenho aqui um, de A.Linklater (1998), precisamente sobre a evolução e astransformações a que têm estado sujeitos mecanismos deexclusão.
49
centro, não é senão um fraco microcosmos (eum particularmente anémico) dessas novasconfrontações.
Em minha opinião, tendências destassão, no fundo, expressões das mesmas forçassociológicas ambíguas que caracterizam amodernidade e cujas manifestações parciais,num reflexo, Huntington capturou no espelhofugaz da nova ordem internacional quepreviu com uma nitidez tão convidativa. Umavisão mais ampla, creio no entanto,contemplará com utilidade a perspectivaçãode um Mundo dividido em blocos culturaiscom outra, uma segunda visão, a de um Mundoem convergência acelerada. Um Mundo do qualblocos, quaisquer que eles sejam, não sãosenão uma configuração relacional depassagem, um momento, porventura inevitávelnum processo de maturação, de resistênciapassageira. Blocos que, num canto de cisne,afirmam, no contexto da recenteintensificação profunda de interacções, assuas pertenças, origens e orientação, emestreita ligação com a construção (em planoinclinado e curso acelerado) de uma novaordem internacional. Num Mundo a caminho deuma integração global, hoje económica,amanhã política, depois talvez sócio-cultural – a afirmação de identidadesétnicas é um processo relacionalcompreensível. De uma postura meramentelocal, em que a especificidade de cadagrupo era um dado adquirido (porque
50
embutido na própria divisão e fragmentaçãodo panorama geral) transitou-se para umanova situação estrutural, uma configuraçãomais dinâmica, em que a posição de cada ume a divisão em partes, dependem do seuposicionamento em relação a um todo globalem movimento.
Perante estas alterações écompreensível que grupos etnolinguísticostenham necessidade de se afirmar alto e bomsom. Mais: porque religiões têm dimensõessociais e cognitivas que fazem delasveículos de eleição para identidades,afirmações nestes termos têm estado em altanos novos contextos relacionais. Lutasreligiosas ou, talvez melhor, a invocaçãode motivações transcendentes paraafirmações político-identitárias,continuarão infelizmente a incendiarrecantos e áreas centrais, compondo novoscenários nacionais e internacionais. Nãosão fáceis de prever nem será fácil contê-los. Mas estou convicto que em bom rigortêm os dias contados, com a progressãoinexorável das transformações radicaisirreversíveis da própria natureza dascomunidades políticas.
O que não quer dizer que possamos ficarparados. A verdadeira questão, a frente deluta meritória, a tarefa dura e inacabada,julgo ser a de garantir a sobrevivência, noprocesso, de valores democráticos como aLiberdade. Será o esforço imprescindível de
51
assegurar uma progressão pacífica,tranquila (e tão rápida quanto possível)para um pluralismo democrático quesobreviva a uma nova ordem laboriosa queirá ser marcada pela unidade de um todonovo e complexo composto por partesdiversificadas que fazem ponto de honra emassim se manter. Muito me surpreenderia seas religiões aí não vierem a ter um novopapel, mais construtivo. Talvez isto nãoseja mais do que wishful thinking. Antevejoporém esse novo papel, pelo menos para asreligiões mais universalistas que acreditoirão encontrar num futuro mais globalizadoum terreno fértil para as suas vocaçõescosmopolitas. O que equivalerá, no fundo,num regresso a casa, para muitas delas19. Ébom não esquecer que a habilidade das
19 Como mostrou M. Mann (1986: 223-227, 323ss.) no seu estudomagistral sobre a evolução e transformações do poder, asreligiões universalísticas e cosmopolitas (e.g., oCristianismo) emergiram em grandes Impérios, como visões decomunidade política alternativas às do Estado hegemónico. Sebem que tenha sido forçado a concessões, a sua posturautópica rapidamente o tornou numa avant-garde para o grosso dapopulação e para as elites bem-pensantes. O meu ponto é oseguinte: num Mundo cada vez mais globalizado, esse tipo dereligiões reencontrará o habitat natural para os valores ediscursos que defende. Um exemplo: ainda que a posição daIgreja Católica quanto à interrupção voluntária da gravidezou em desfavor da ordenação de mulheres possa ser vista comocontra a corrente da “modernidade”, passa-se precisamente ocontrário na sua luta anti-restrições da livre circulação depessoas, a favor de um esbatimento das dívidas dos paísespobres, ou em defesa de uma maior tolerância da diversidade,seja ela étnica ou cultural – tudo frentes cosmopolitas, bemao gosto universalista, em que a postura da Igreja é pelocontrário vista como modernista.
52
religiões em inspirar violência estáintimamente ligada à sua capacidade,igualmente surpreendente e impressionante,de operar como forças a favor dasigualdades, da tolerância e da paz. Comomuitas vezes foi dito (e mais vezes aindaesquecido) terroristas e pacificadoresmuitas vezes crescem nas mesmas comunidadese aderem às mesmas tradições religiosas.
BIBLIOGRAFIA
Anderson, B. (1991), Imagined Communities.Reflections on the origins and spread of nationalism,Polity Press, Cambridge.Barber, B. (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the world,Ballantine, New York.Fernández-Armesto, F. (1997), The Future ofReligion, Phoenix, London.Huntington, S. (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25._______________ (1996), The Clash of Civilizations and theRemaking of World Order, Simon and Schuster,New York._______________ (1999), “The Lonely Superpower”,Foreign Affairs 78(2): 35-50.Ileto, R. (1979), Pasyon and Revolution. Popularmovements in the Philippines, 1840-1910, Ateneo deManila University Press.
53
Lan, D. (1985), Guns and rain. Guerrillas and spirit-mediums in Zimbabwe, Currey and CaliforniaUniversity Press.Linklater, A. (1998), The transformation ofPolitical Community. Ethical foundations of the post-Westphalian World, Polity Press, Cambridge.Maffesoli, M. (1992), La transfiguration dupolitique. La tribalisation du monde, Grasset etFasquelle, Paris.Mann, M. (1986), The Sources of Social Power,vol.1: A History of Power from the beggining to AD760, Cambridge University Press. PinaCabral, J. (1994), “A complexidade étnicade Macau”, Estudos Orientais 5: 209-225, Lisboa.Vale de Almeida, M. (1999), “Poderes,Produtos, Paixões: o movimento afro-culturalnuma cidade baiana”, Etnográfica: 131-157,Lisboa.Waters, M. (1995), Globalization, Routledge,London.
54
2.
AS GUERRAS CULTURAIS, A SOBERANIA E AGLOBALIZAÇÃO: O CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕESREVISITADO20
1.
Num muito interessante e útil Seminárioque o Instituto de Altos Estudos Militaresorganizou no passado mês de Julho de 1999,coube-me a responsabilidade de fechar ociclo de Conferências. O tema geral doencontro prendeu-se com o balanço dainteracção entre três domínios hoje maisuma vez em ressonância delicada nos palcosinternacionais, Religiões, Segurança e Defesa; oque aliás deu o título às jornadas. Nessecontexto, tive a oportunidade de levantaralgumas objecções ao notável e muitíssimoinfluente modelo analítico produzido porSamuel Huntington no(s) seu(s) Clash ofCivilizations21. Algumas das minhas hesitações
20 Comunicação apresentada num Seminário especial organizadono Instituto de Altos Estudos Militares a 22 de Fevereiro de2000.21 Ver o curto artigo de Armando Marques Guedes (1999), parauma perspectivação crítica, algo desconstrucionista, dos
55
foram substantivas. Outras mais formais eaté metodológicas. Na comunicação queapresentei, o esforço levado a cabo foisobretudo descontrutivista: justificou-o oconjunto e o encadeamento dos outrostrabalhos inscritos, tal como, a meu ver, olegitimou o empreendê-lo perante umaaudiência que imaginei em geral bastanteapegada ao paradigma huntingtoniano. Nãodeixei, por isso mesmo, de sugeriralternativas pontuais a algumas dasconsiderações do especialista norte-americano. E tentei levá-lo a cabo nostermos da discussão geral então em causa:uma ponderação dos papéis que as religiõespoderiam vir a preencher nos conflitosfuturos.
O contexto da presente exposição é noentanto outro, a um tempo mais genérico emenos tópico. Trata-se de discutir autilidade de uma adopção do paradigma deHuntington enquanto chave interpretativapara a ordem mundial contemporânea. O queme parece exigir uma comunicação muito maisinclusiva, mas que está em todo o casoagora facilitada. Em parte sem dúvidaporque, para além de tudo, se passaramdesde Julho alguns meses ricos emacontecimentos e lições. A intervençãomilitar Aliada no Kosovo internacionalizou-se e transitou para uma nova fase. Tropasmultinacionais entraram também entretantoesplêndidos trabalhos de S. Huntington sobre aquilo que esteúltimo tão sugestivamente apelidou de Clash of Civilizations.
56
em Timor-Leste. Os panoramas jurídicosinternacionais foram sujeitos a váriasalterações, com o estabelecimento deprecedentes inesperados e em resultado deinovações judiciais de monta. Vislumbra-sejá no Mundo, por conseguinte, um horizonteporventura mais legível. Proponho, em razãodisso, ensaiar aqui uma abordagem ao modelode Huntington que é mais positiva e maissistemática (ou, em todo o caso, menosavulsa) do que aquela que antes lhecontrapus. E, simultaneamente, quereriaenunciar formulações mais abrangentes.Criticarei, espero que de formaconvenientemente contida, o modelo dosClash. Porei porém no essencial a tónica, naanálise alternativa que sugiro, numaperspectivação que considero mais dinâmicae mais construtivista da ordeminternacional pós-bipolarização. Uma ordemmutável e muito friável, cuja evolução,ainda que a traço grosso, em todo o casopodemos e devemos (frente às promessas eaos desafios do início de um terceiroMilénio) começar a tentar entrever edecifrar. Trata-se de uma nova ordem, ireiinsistir, emergente. Uma ordenação queforma, por conseguinte, uma arquitecturainacabada, com uma configuração cujoscontornos aparentes são muitas vezes merasimagens de transição, simples figuras depassagem que importa, prudentemente, saber
57
não cristalizar em formulações definitivas.Parecem-me por isso prematuras quaisquertentativas de enunciar verdadeirosparadigmas (ou “mapas”, como Huntingtonkuhnianamente também lhes chama), aocontrário do que foi o caso durante aGuerra Fria em que o modelo bipolardescrevia (de modo sofrível mas passável) aordem política da distribuição do poder noMundo. A gestação rapidíssima de um McWorld(na denominação célebre e feliz de BenjaminBarber), que Huntington em minha opiniãosubestimou, tem preenchido (nessesprocessos de cristalização de uma novaordem) papéis fulcrais. Tal como, aliás,tem também sido o caso com a rápida e cadadia mais nítida erosão das soberaniaswestphalianas dos Estados nacionais, que astradições ainda dominantes do realismo e doneo-realismo insistem em sancionar como osúnicos protagonistas que contam nos palcosinternacionais. Trata-se de papéis que nãose esgotam no simples cosmopolitismouniversalista que desenha a sua face maisvisível. Tentarei, senão cartografá-los,pelo menos delinear algumas das suasprincipais características topográficas22.
22 Para utilizar metáforas geológicas, tão caras ao que játalvez possamos chamar a tradição huntingtoniana. O modelo deHuntington, com efeito, ao persistir no uso de termos como“civilizações”, “dinâmicas”, “núcleos” e “linhas de falha”,alude explicitamente a uma tectónica de placas que,infelizmente e não obstante as qualificações, trata naprática de uma maneira bastante estática. Numa visãowegeneriana, Huntington tende a substituir processos
58
Mais do que mostrar-me ambicioso, esforçar-me-ei no que se segue por ser sugestivo.Adivinhar o futuro não é propriamente umaempresa racionalmente bem fundamentada.Ainda que especulações sejam muitas vezesimprescindíveis e elaborá-las possa ser umaquestão de bom senso prospectivo:conjecturar é quase sempre uma precauçãovital. Nesta comunicação, a estratégiaque irei seguir é compatível com essa minhaperspectivação. De uma maneira sistemática,mas delineando sempre alvos preferenciais,tentarei pôr em paralelo a visãoparadigmática de Huntington com outra, queme parece adequar-se melhor ao conjunto deacontecimentos e processos empíricos quecreio serem detectáveis nas rápidastransformações que configuram a ordeminternacional contemporânea. Daí deriva aescolha de temas focais como a globalização
dinâmicos por configurações reificadas na esteira, aliás, dehistoriadores como Arnold Toynbee e Oswald Spengler. É denotar que tal como Alfred Wegener, e ao invés dos geólogoscontemporâneos, Huntington não previu realmente mecanismosque explicassem os movimentos dos seus “blocos”, assimaparentemente deixados como monolitos inamovíveis. Semembargo de representações metafóricas, tais como as do corestates, torn states, ou civilization shifting, (substitutos de operadorestectónicos como as “linhas de sutura” ou os “movimentosorogénicos”), Huntington não previu nem um nível do “manto”,nem “plumas térmicas” e “subducções”, que explicassem adinâmica das suas “civilizações”. De alguma forma, o artigo“The Lonely Superpower” (1999) ao reintroduzir as power politics tãotípicas do neo-realismo, supre uma parte dessa insuficiênciana mecânica do paradigma do Clash of Civilizations; mas semverdadeiramente a colmatar.
59
e a soberania, ou as entidadescivilizacionais e as polaridadescaracterísticas da ordem mundial: trata-sede encapsulações nocionais que de algumamaneira expressam o contraste entre duasperspectivas alternativas, cujo destaque mepermitirá com maior nitidez ponderar o queconsidero os excessos e as insuficiênciasdo paradigma huntingtoniano. Outrosenfoques seriam decerto legítimos; e algunsdeles assumi na comunicação que aqui li emJulho último. Dada a conjunturainternacional actual e tendo em vista o quereputo ser a direcção presente da evoluçãodas coisas, prefiro porém agora darprimazia a estes temas.
Sem querer repetir o óbvio, cabecomeçar por um curto sumário da posiçãoassumida por Huntington nos dois trabalhosque publicou em 1993 e em 1996. Devo dizer,logo à partida e em termos genéricos, queme agrada a alegação de fundo que julgo amais central das formuladas por Huntington:a noção, implícita, de que a cultura é umadiferença que cada vez mais faz diferençana ordem internacional23. E, como corolário,a asserção segundo a qual ideias produzemeficácia. Contento-me, porém, com umasatisfação muito limitada. O célebrecientista político norte-americano parece-23 Aguardo por isso com impaciência o livro co-editado por S.Huntington e Lawrence Harrison, com publicação prevista paraAbril de 2000, sugestivamente intitulado “Culture Matters: howvalues shape human progress”.
60
me confundir as árvores com a floresta aoimplicitamente equacionar cultura com“civilização” (ainda que insista que o nãofaz), e ao formular uma avaliação (queconsidero pobre) que na prática privilegiaa imutabilidade nas inter-relações entretais unidades complexas. A par e passo,umas vezes directa, outras indirectamente,voltarei a estas diversas questõesprimordiais.
2.
O formato geral do paradigma propostopor Huntington é simples; e são claros osseus pontos de aplicação e o seu alcance. Atradição académica e política dominante dosrealistas, como a dos neo-realistas, teminsistido em encarar o sistemainternacional como tendo no seu âmago umacolecção de Estados. Não o tem feito,porém, de uma maneira linear. Esta visãoessencialista e de raiz westphaliana foi,durante alguns decénios (sobretudo depoisda Segunda Guerra Mundial), modulada peloquadro estabilizador de uma arquitecturabipolar que todos conhecemos bem. Tratou-se, todavia, de uma modulação de poucadura. Com o desmembramento da UniãoSoviética, argumentou Huntington, nenhumdestes paradigmas hoje nos serve. Emalternativa, o autor propôs um outro: um
61
modelo em que as unidades de conta seriamuma mão cheia de (sete ou oito)“civilizações”, uma das quais a Ocidental(the West). Segundo Huntington, estas serãounidades cujo relacionamento mútuo,cultural e identitário, configurará a novaordem internacional emergente; e nisso areligião, ou melhor os alinhamentosreligiosos, previu ele, irão ter um papeldeterminante. As guerras que se avizinham,nesses seus termos, serão guerras culturaisde matriz essencialmente religioso-cosmológica. As localizações delas sãofáceis de antever: os conflitos pós-bipolarização ocorrerão sobretudo nasperigosas “zonas de sutura” (para usar umaterminologia geo-tectónica) das “entidades[ou blocos] civilizacionais”.
Não quero ser excessivamente críticoface a uma obra que creio brilhante,escrita por um autor que nos tem habituadoa não podermos prescindir de ler aquilo quepublica. Há muitas facetas de nota nomodelo erigido. Num livro duro em relaçãoao Islão (que entre outras coisas prevê umaaliança táctica deste com a “civilizaçãoConfuciana”), Huntington sublinha váriospontos fundamentais e infelizmente muitasvezes esquecidos, ou secundarizados.Insiste, nomeadamente, que é possível umamodernização sem ocidentalização. Mais:previne-nos que as afiliações religiosas,as identidades éticas e as lealdades
62
nacionais, são em não escassos casos maisimportantes que quaisquer convergênciasideológicas, no que toca aos processospolíticos pós-Guerra Fria. Relembra-nosainda que, longe de significar umaracionalização laica, o desenvolvimentoeconómico se mostra repetidamente associadoa um crescendo na religiosidade dos actoressociais. E sobretudo, e tal como atrásdestaquei, reitera aquilo para que JosephNye nos tinha já alertado: a saber quenovas formas de poder, por exemplo o podercultural que Nye apelidou24 de soft, têmvindo a ganhar terreno num Mundo que os coldwarriors, endurecidos na postura adequada aobalance of terror próprio da ordem bipolar, porvezes revelam dificuldades em compreender.
Apesar destes insights, Huntington peca,irei argumentar, por graves a-sociologismose uma séria a-historicidade. Ao presumirentidades civilizacionais no essencialfixas e estanques (ou em todo o casoestáveis, coesas e em última instânciaincomensuráveis), por exemplo, assume umaatitude relativista que me parece difícilde defender. Como tentarei demonstrar, nemessa rigidez é indiscutível nem esterelativismo é justificado. Maisconsequentemente, Huntington minimiza(quando não passa sob silêncio, ou alega a24 Joseph Nye definiu este conceito de soft power no âmbito deum estudo monográfico (1990) que produziu sobre a previsívelevolução pós-bipolar da hegemonia norte-americana.Infelizmente não o desenvolveu.
63
sua inviabilidade) o crescimento, tão claroquão explosivo, senão de um muito maiorpatamar de integração global, pelo menos denovas dimensões éticas e normativas naordem mundial. Como irei sublinhar, trata-se aqui de um pecado original: já que, emconsonância com o alargamento e aagudização de todo o género deinterdependências, essas são dimensões que,cristalizando numa estruturação políticacada vez mais nítida do sistemainternacional, o têm transformadorapidamente, desde o fim da Guerra Fria,num primeiro esboço de uma verdadeirasociedade internacional, assim domesticando aanarquia hobbesiana25 originária, cujo preçotem sido a conflituosidade própria do“estado de natureza”. A tudo isto fareitambém constante alusão no que se segue. Para evitar tempestades em coposde água não entrarei aqui, todavia, emgrandes detalhes no que diz respeito ao queconsidero pecadillos avulsos e menores dos
25 Para uma elucidação destes conceitos básicos, é útil aleitura de H. Bull (1979). Para uma defesa acérrima de umhobbesianismo estreito, ver K. Walz (1959). Para uma críticamordaz desse reducionismo, ler J. Marques de Almeida (1998).Em J. Nye (1997), há uma perspectivação bastante equilibradado tema geral. Para uma crítica de fundo, de muito maisfôlego, convém ver o amplíssimo estudo de A. Linklater(1998), cujo pressuposto de base é exactamente o de umatransformação, no sentido do alargamento, das “comunidadespolíticas” na ordem internacional contemporânea, lograndoporventura uma reformulação crítica habermasiana profundadaquilo a que o seu mentor académico na London School ofEconomics, Hedley Bull, chamava the new medievalism.
64
Clash. Não é meu intuito, de maneira alguma,regatear méritos a uma análise queconsidero extraordinária na minúcia,magnífica na amplitude, no fôlego e naerudição, e que ademais desencadeouincontáveis reperspectivações críticas (sobpontos de vista muitas vezes saudavelmenteinusitados) da “ordem mundial” no fluxo que(a meu ver) as correntes imparáveis daglobalização e os concomitantes redemoinhosdo neo-tribalismo nos deixaram como legado.Cabe-me no entanto nomear alguns dessespequenos pecados “por comissão e poromissão” de que a obra de Huntington meparece padecer. Na minha comunicação deJulho esmiucei uns poucos: o que considereiuma atenção insuficiente a distinçõessociológicas finas, sem as quais tentarcompreender a etnicidade me pareceimprudente; alguma inocência, ou pressa,quanto à “resolução” religiosa que propõedas imagens de violência e afirmaçãopolítica contemporâneas, que se traduz poramálgamas pouco criteriosas de mecanismosmuito diferentes uns dos outros; e umaforte displicência teórica, pouco sensatano que toca ao balanço dos nacionalismosexclusionários estridentes que caracterizamalguns dos recantos do Mundo moderno. Há porém outras imoderações, demaior peso e menor justificação, noesplêndido trabalho de Huntington. Nãoposso deixar de enumerar duas delas. Em
65
primeiro lugar, e em termos genéricos,vislumbra-se uma propensão marcada parafornecer interpretações parciaiscategóricas de factos históricos complexos,quando tal convém à adequação da realidadeao modelo paradigmático proposto. Emsegundo lugar, na secção final damonografia transparece uma crítica severa emuito partisanne, em que Huntington denunciacom alarme os supostos malefícios de umaeventual “multiculturalidade”, numa Américado Norte que parece ter transitado de ummelting pot relativamente tranquilo para aefervescência de um salad bowl multivocal26.Confesso que não percebo a função doargumento aduzido por Huntington quanto aeste ponto, senão como um esforço,exorbitante e inglório, para se escusar acontabilizar os efeitos da globalização (eda tribalização associada) no interior dospróprios Estados Unidos da América. O que indiciauma propensão maximalista, e que creiocircular, para formular juízos políticosnos termos estreitos do paradigma proposto.
26 Sobretudo nas pp. 305-308. Huntington defende aí que o“multiculturalismo” galopante da Administração Clinton ameaçaa integridade e o futuro dos Estados Unidos (e do “Ocidente”em geral), para além, a seu ver, tal “mistura” trair osobjectivos dos Founding Fathers. Numa secção muito dada aaforismos depauperizantes, Huntington cai em afirmaçõescuriosas (e profundamente westphalianas), tais como: amulticivilizational United States will not be the United States, it will be the UnitedNations (p. 306).
66
3.
De uma maneira muito positiva, podemoscomeçar por delinear uma curta análisegenérica daquilo que reputo como algumasdas principais traves-mestras do sistemainternacional moderno. Vários pares deforças em tensão, chamemos-lhes assim, meparecem subjazer à configuração de relaçõessegundo a qual reconhecemos neste momentoaquilo a que se convencionou chamar a“ordem internacional”27. São forças que sedegladiam e que, enquanto “campos deforças” (como diriam os personagens do StarWars) constrangem as formas, e os blocos,aparentes nos palcos mundiais. Darei duasilustrações. Assim temos, por um lado, obinómio Jihad-McWorld, que se manifesta, porexemplo, pela competição entre globalizaçãoe soberania; a arena de um conflito defundo com várias frentes, cuja resultantegeral, a nível de uma renovada forma dos
27 Para um modelo, certamente discutível mas fascinante, dosprocessos periódicos de formação e de dissolução de ordensinternacionais cada vez mais globais, é aconselhável aleitura de The Rise and Fall of World Orders, publicado em 1999 porT. L. Knutsen. Knutsen subdivide estes processos em trêsgrandes “fases”: uma primeira, de hegemonia, por sua vezcomposta por três momentos, respectivamente de punitive pre-eminence, de remunerative pre-eminence e de normative pre-eminence; aque se segue uma fase de challenge, desencadeada por outraspotências; e que, numa terceira e última fase, descamba noque chama disruptive competition. Mais interessante, todavia, édecerto a última parte do estudo (que reveladoramente Knutsenintitula de déjà-vu) relativa à evolução do que retrata comoa instável hegemonia norte-americana nos palcoscontemporâneos.
67
Estados, não é ainda óbvia. Por outro lado,destacam-se os fossos escavados entre osEstados e diversos dos novos actoresinternacionais e entre antigas e maisrecentes formas de poder, tudo inovaçõesque no concreto redundam em conjunturas detensão entre velhas alianças e coligaçõestradicionais e as novas, mais pragmáticas,que defrontam. Uma dicotomia complexa, cujadança se rege pelas minudências de umacoreografia constantemente recriada e queé, por isso, difícil de antever.
As várias forças que acabei de referirobviamente interagem em profusão. Maisainda: estes dois grandes pares deoposições (e outros, sem dúvida), cada umdeles com uma dinâmica própria intrínseca(porque em desequilíbrio, ou em equilíbrioinstável), naturalmente reagem um com ooutro. Todas estas tendências, por outraspalavras, se potenciam mutuamente. E na suainteracção cambiante, geram configuraçõesarquitectónicas, virtuais e passageiras massempre novas, do sistema internacional.Configurações que, muitas vezes, nos agrada(ou nos convém) reificar, tornar absolutas.Ou que, pelo menos, sentimos que podemoscom utilidade e justificação erigir emparadigmas cognitivos. Configurações que,no entanto e como antes lhes chamei, sãomeras figuras de transição. Por assimdizer, imagens (ou flashes) fugazes.
68
Sem naturalmente buscar aqui umaqualquer exaustividade, o que não teriacabimento28, comecemos pela tensãosoberania-globalização a que aludi. Umatensão que resulta do simples facto de cadavez mais as questões sócio-políticascontemporâneas excederem os âmbitosterritoriais circunscritos pelos Estadostradicionais. Vejamo-la primeiro, de modosucinto, no plano económico-financeiro. Aabertura generalizada de cada vez maismercados (com ou sem GATT), os novos fluxosmercantis viabilizados por sistemas detransporte cada vez mais eficientes, odesenvolvimento de meios de comunicação einformação que redundam numa contracçãocrescente (passe a antinomia) do espaço (achamada “abolição da distância”) e dotempo, são factos incontornáveis e traçosdistintivos da vida moderna. Teorias (maisou menos mercantilistas) de soberaniaeconómica tornam-se, em consequência, cadavez menos convincentes. E, mesmo quando sãoconsentidos, os proteccionismos tendem noMundo interdependente contemporâneo a ter28 Um maior detalhe quanto aos processos de globalização éoferecido na sinopse do sociólogo australiano M. Waters(1995). No que toca a problemas associados à globalizaçãoeconómica, é de recomendar o longo artigo técnico de JoaquimAguiar (1998), que inclui uma interessante discussão sobre ostraços distintivos (e a complexidade) daquilo a que chama a“onda” actual de globalização. A respeito da emergência denovos actores internacionais, do consequente retrocesso domonopólio de protagonismo dos Estados e, talvez sobretudo, emrelação ao utilíssimo conceito de structural power, éimprescindível a leitura de Susan Strange (1996).
69
cada vez menos pés para andar. Ocrescimento explosivo desses novos e tãoimportantes actores internacionais que sãoas empresas transnacionais aí está, há umaboa quarentena de anos, para o corroborar. A resultante não é porém apenasessa, de um descentramento centrífugo. Convémtambém tomar em linha de conta o acelerarmais recente (pós-bipolarização), daquilo aque Francis Fukuyama chamou a “commonmarketização” do Mundo: o congregar deesforços e de protagonismos em blocoseconómicos multinacionais (por via de regraregionais, dada a consequente redução decustos) como a União Europeia, o MERCOSUL,a NAFTA, a ASEAN, ou o SADCC. E aindaponderar o crescente comércio electrónico(via Internet, por exemplo) num mercado àescala planetária, um circuito em que (comoBancos e Bolsas de Valores já tinhamprenunciado) o Sol nunca se põe. Tudo istoredunda numa constatação fácil: estamostambém perante diversas tendências centrípetasem operação no sistema. E a este processonão se vislumbra uma qualquer reversãopossível. É disso sintomático que, em 1998,quando a crise vitimou em série aTailândia, a Indonésia, a Coreia do Sul e oJapão, a receita foi expedita e consensual:aquilo que era preciso para resolver oimpasse era, no fundo, mais integração.
A nível político (ou político-militar),tal como a nível sócio-cultural, a operação
70
de processos paralelos e no essencialfuncionalmente equivalentes não é difícilde detectar. Não é só a rápidauniversalização de critérios ético-jurídicos (como a dos Direitos Humanos, ouaquela a que a rápida multiplicação deTribunais internacionais especiais tem dadocorpo), nem a ruidosa fragmentação tribalaquilo que está em jogo. É muito maiscomplicado que isso. Com o fim dabipolarização e a dissolução dos doisgrandes blocos antagónicos, quecautelosamente se entre-olhavam contra umpano de fundo de países ditos não-alinhados, passou-se quase abruptamente auma nova ordenação, policentrada emultidimensional, dos palcosinternacionais. E apesar de num primeiromomento daí ter parecido resultar um Mundounipolar, com os Estados Unidos como únicohegemon, cedo se verificou esse modelo nãoser muito satisfatório, quanto mais nãoseja pela sua excessiva lineariedade.Porque, se é indubitável que em termostécnico-militares resultou na nova ordemuma clara hegemonia norte-americana, anível económico o Novo Mundo viu-se forçadoa partilhar essa posição de preponderânciacom a velha Europa e o novíssimo Japão.Mais grave ainda para esse hipotéticomodelo unipolar: todo um variado universode entidades transnacionais (de corporaçõescomerciais a instituições financeiras,
71
passando por mafias e grupos terroristas)constitui um nível suplementar que não olhaàs fronteiras dos Estados e no qual ahegemonia está ainda mais repartida29. Umoutro eixo numa ordem compósita. Aunipolaridade tem assim de conviver commultipolaridades diversificadas30 num Mundocada dia mais complexo. Confirmar a multidimensionalidadedo cenário daí resultante não é árduo. Pormuito convidativa (e retoricamentetentadora) que possa ser a imagem de umaordem unipolar, fácil é concordar que talhipótese não tem grande correspondênciaempírica com o observável. Não é essa,decerto, a evolução das coisas. Longe de sesubdividir em Estados avulsos, e desobreviver com placidez na sombra dosEstados Unidos ou de uma qualquerbenevolente Pax Americana, o Mundo pós-bipolarização reordenou-se em blocos ecoligações de vários tipos e feitios. Uns,como a ASEAN ou o MERCOSUL, mais económicosdo que políticos. Outros, da União Europeiaà SADCC, mais político-económicos do quemilitares. Outros ainda, como a NATO ou a29 Tal como de resto a nível cultural. Sem querer antecipar aminha argumentação, não posso deixar de citar Held et al.quanto ao que escreveram na sua obra monumental sobre aglobalização (1999: 373): não obstante as tranformaçõescontemporâneas, the announcement of the eradication of national culturaldifferences seems highly premature. 30 Esta perspectiva não é nova, evidentemente; e é partilhadapor autores tão díspares como Joseph Nye (1997), SusanStrange (1996), e pelo próprio Huntington (1999), querecentemente caracterizou o Mundo como uni-multipolar.
72
UEO, mais político-militares que qualqueroutra coisa. Quase todos são associações deEstados, cujos documentos fundadoresrepudiam explicitamente quaisquer hipótesesde que venha em seu nome a ser desafiado oestatuto soberano dos seus membros; nasNações Unidas temos disso um exemplotípico. A excepção é a União Europeia, numcontinente mais uma vez pioneiro: narealidade não é uma federação, umaconfederação, ou um simples conglomerado deEstados; mas antes uma forma nova degovernação transnacional em que,voluntariamente, os Estados-membrosabdicaram de uma parte da sua soberania. Esses novos blocos ou coligaçõestêm vindo a tomar a ribalta, no palco. Nasua maioria, trata-se de blocos regionais. Éverdade que as regiões, ou entidades, daíresultantes são muitas vezes arenashistórico-culturais de algum modo jáexistentes em potência e só agora realmenteactivadas, tanto por razões tácticas comopor verdadeiras e sólidas alianças oulealdades. Justamente o cenário a que osClash of Civilizations (e várias outras obras)fazem alusão. Mas de maneira nenhuma, creioeu, assistimos à subida ao tablado dasentidades que o huntingtonianismo previa. Oque me parece é que o paradigma equacionoua situação de maneira demasiado simples,precipitada, e por isso mesmo talvez
73
reducionista. Como o próprio Huntington31
penso que reconheceu num artigo publicadoem 1999.
De momento, posso dar voz a umaprimeira hesitação relativamente ao modelohuntingtoniano. A ordem internacional emque participamos no Mundo moderno éparcimoniosamente explicável comoresultando no essencial da operaçãoconjunta de forças antagónicas como as quesugeri e, eventualmente, de outros pares deprincípios semelhantes. Gostaria deinsistir neste ponto. Só uma modelizaçãocomplexa desse tipo permite fazer justiçatanto à multidimensionalidade dos factos,quanto à sua constante progressão. Umacomplexidade que não penso seja devidamenteassumida nos Clash, ainda que muitas vezestranspareça dela Huntington ter plenaconsciência. Sem querer ser excessivo, ohuntingtonianismo radical parece-me conterum certo “vício de forma”, a nível dos seuspressupostos. De uma leitura cuidada, aconclusão a que chego é que se trata de umsistema (ou melhor, de uma descriçãoparadigmática) que no fundo, estrita comometaforicamente, presume a pré-existênciade “entidades civilizacionais” fixas eestanques que, enquanto a bipolarização
31 Detalhes quanto a esta reformulação das teseshuntingtonianas, que interpreto como uma recaída neo-realistaque, a par do poder soft das afiliações culturais, reintroduzna equação o poder hard (político-militar) dos Estados, verHuntington (1999, op. cit.).
74
durou, estariam efectivamente camufladas.Na perspectiva de Huntington (e nãoobstante os seus protestos em contrário)são no essencial retratadas como monolitossem grandes contactos ou intercâmbios entresi; ou, em todo o caso, como unidades emque tais permutas são de poucaconsequência. O autor trata na práticaestas entidades como autênticos blocoscoesos que, sem embargo de algumas pequenasmudanças (mais cosméticas que autênticas,ou realmente consequentes) e rarasrevoluções, não evoluem32 verdadeiramente;que definem a identidade dos seus membrosde maneiras muito semelhantes (e, noessencial, histórico-místicas); e se
32 Neste contexto, é particularmente irónico que dois dos paisfundadores das Ciências Sociais, Émile Durkheim e MarcelMauss tenham (logo no princípio do século XX) advogado, numartigo famoso, que o passo seguinte da Sociologie que em grandeparte inauguraram deveria ser o de estudar o relacionamentoentre “entidades civilizacionais” e os “contactos entrecivilizações”. Durkheim e Mauss introduziram para o efeito (enuma terminologia que trai a época) o conceito de“coeficiente desigual de expansão e internacionalização”, oqual permitiria equacionar as dimensões dessesrelacionamentos. Os dois autores franceses notaram, porexemplo, que as instituições políticas tendem por via deregra a ser menos dadas à internacionalização do que ocomércio, as técnicas, os mitos ou a religião. Um ponto que,sobretudo no âmbito de uma discussão sobre as teseshuntingtonianas, nos dá pausa para pensar. Tais variações na“receptividade” e nas “resistências” das civilizações seriamporventura boas bases para uma eventual análise dinâmica dasituação actual de forte “diálogo civilizacional” (a frase édo filósofo alemão Jürgen Habermas) que hoje em diatestemunhamos (e em que os portugueses têm sido parteactiva), e bem mais úteis, a meu ver, que o modelo maisestático de S. Huntington.
75
revelam, em última instância,fortissimamente constrangedores no que tocaàs suas margens e liberdades de escolha,motivações, e modalidades de acção. O queme parece redundar em drásticas (eexcessivas) simplificações daquilo que éempiricamente observável. Nisso, a meu ver, o Clash ofCivilizations retrata, no fundo, uma ficção. Poroutras palavras, e salvo o devido respeito,trata-se de uma espécie de análise sobre aaerodinâmica dos cavalos de corrida quecomeça por assumir que os cavalos sãoesféricos. Uma presunção talvezconveniente, mas pouco convincente. Noessencial, tenta explicar (ou pelo menoscompreender) o presente (e prever algumfuturo), em termos daquilo que ficou dopassado, uma vez esbatida a bipolarização.Um bocadinho chercher midi à catorze heures. É umaperspectivação que, naturalmente, geraproblemas previsíveis na eventual adequaçãodo modelo à realidade.
4.
Sem desnecessariamente me repetir,gostaria de voltar a pegar nas minhasobjecções, agora não uma a uma, mas emtermos compósitos. E quero aplicá-las acasos concretos. Começo pelo exemploporventura mais óbvio: o relativo ao
76
Kosovo. Há apenas alguns meses, noSeminário em que aqui participei, tiveocasião de advogar a tese segundo a qual oparadigma do Clash of Civilizations (pelo menos nasua versão mais maximalista) dá mal conta(porque o faz de maneira insuficiente) daintervenção levada a cabo pela NATO noKosovo. Foi então a seguinte a minha linhade argumentação: o modelo de Huntington, aoprever a eclosão de conflitos ao longo das“linhas de falha civilizacionais” que oautor norte-americano identificou, via-seem apuros para dar conta de uma acçãocolectiva de países sobretudo ocidentais ecristãos, concentrada contra as pretensõesde um Estado também europeu e tambémcristão (ainda que do “bloco” ortodoxo), afavor de um enclave muçulmano localizado empleno território da Europa. A arrumação dasforças mobilizadas era, insisti então,contrária àquela que o paradigma deHuntington nos levaria a supor. Apesar de aSérvia, à la rigueur, não ser do “bloco”ocidental, é todavia inegável que tem comeste muito maiores afinidades do que com o“bloco” islâmico; pelo que as eventuaisprevisões sairiam “transtornadas”, comoentão escrevi33. Sublinhei, nesse contexto,a utilidade heurística de explicações queintitulei de “mais ‘clássicas’”, e queidentifiquei (com algum realismo e não em33 (1999, op. cit.:162). Tive o gosto, aliás, de ver este pontoretomado nas “conclusões” do Seminário listadas por um grupode oficiais ligados ao Instituto de Altos Estudos Militares.
77
grande discordância com as opiniões maisrecentes do próprio Huntington) como as que“ponham a tónica não em clivagens culturais,mas em relações de poder” (ibid). Quereria agora complementar oque então disse com o que resulta de umaoutra perspectiva, a um tempo mais ampla emais processual (menos estática). E, penso,mais actual. Melhor: escapando um pouco aorealismo puro e duro que então defendi, outalvez melhor, complementando-o. Areperspectivação a que aludo, e quetentarei esboçar, implica uma visão de“longa duração”, na frase de um eminentehistoriador francês, Fernand Braudel. Exigeuma maior profundidade temporal, por assimdizer. Farei referência ao exemplobalcânico que aflorei em Julho. Com os benefícios daretrospecção, um novo balanço geral daguerra no Kosovo, creio eu, começa agora aser possível. Sem simplificar, e com ointuito de pôr em evidência algumas dassuas linhas de força, vale a pena começarpor enquadrar a intervenção Aliada numcontexto de curta duração, numa conjunturatemporal breve. Fazendo-o num quadroabstracto, mas problematizado. Uma coisa écerta: a guerra do Kosovo foi estranha ecuriosa. Uma rápida reflexão demonstra-o emabundância. Tratou-se de um conflito armadoempreendido, sem motivos óbvios, numaperspectiva clássica, por forças com poucos
78
interesses nacionais próprios directamenteafectados ou postos em causa; um conflitolegitimado, perante uma opinião públicaatenta, em nome de princípios humanitários;um uso da força militar levado a bom termo,com enorme esforço e despesa, em apoio dealgo menos do que a soberania futura (pelomenos em sentido tradicional) da maioriaalbanesa e contra os direitos soberanosinvocados pela Sérvia de SlobodanMilosevic. Em nada, como se vê, uma guerratradicional. Bem pelo contrário: toda umasérie de novidades interessantes. Como lihá pouco tempo num artigo da Newsweek, oúltimo decénio do século XX, que começoucom uma defesa “clássica” dos Estadossoberanos (a Guerra do Golfo), acabou comum ataque concertado e sistemático a essamesma ideia de soberania, no caso aexercida (ou antes, imposta) pelos sérviossobre o Kosovo. É óbvio que a acção aliada terátambém sido muitas outras coisas. Teráexpressado, por exemplo, a urgência dosnorte-americanos em justificar uma presençamilitar futura numa zona equidistante daRússia e do Médio Oriente, numa conjunturaem que é cada vez mais difícil manterforças substanciais em território alemão.Ou, em termos geo-estratégicos menosgerais, pode ainda ser interpretada como umpasso oblíquo para a contenção regional deuma Rússia todavia nuclear, pela criação de
79
uma espécie de cordão sanitário disposto aolongo de uma linha que, mais a norte, contajá com três novos membros da AliançaAtlântica. Mais prosaica e burocraticamente(os timings convidam-no) podemos suspeitarestar perante um hipotético empenhamentoamericano em proclamar alto e bom som34 asua liderança de uma NATO em reformulação ealargamento. Não é em princípio absurdanenhuma destas “explicações” para aingerência, por si sós ou criteriosamentedoseadas em “receitas maquiavélicas”. Do que se não tratou, decerto,foi de uma guerra empreendida nos termos,ou em nome, de quaisquer entidadescivilizacionais. E, seguramente, não emtermos das habituais manobras tácticashegemónicas que têm vindo, cada vez mais, aser imputadas ao Ocidente. Se encarada nosseus termos ostensivos, parece antes ter sido,pelo contrário, uma expressão de um novoestádio na estruturação política do sistemainternacional, ainda que certamente “em termosocidentais”. Um passo suplementar, decertomais cedo ou mais tarde imprescindível nafase de integração-interdependência em quenos encontramos. Como que outra pedra noedifício de uma sofisticada estratégia, que34 Uma interpretação, devo dizer, que me parece poucocredível; aceitá-la implica considerar que, por vantagenspontuais, a Administração norte-americana incautamente secolocou numa posição de maior fragilidade face a aliadosmuitas vezes reticentes. Estas foram, em todo o caso,conclusões não incomuns (ver, por exemplo, Kolko, 2000, emque ambas são admitidas).
80
se parece esboçar, que na sua versão maisrecente associa a Annan Doctrine (segundo aqual há que “redefinir a soberanianacional”, nomeadamente no sentido delegitimar a eventual intervenção de “gruposde Estados” se tal for imprescindível paraevitar “genocídios”35; e segundo a qual aDiplomacia, neste Mundo pós-clausewitziano,é tanto mais eficaz quanto mais se sustenteda ameaça do uso da força militar) com oque foi efemeramente apelidado da ClintonDoctrine (uma espécie de Doutrina de Monroejurídico-conceptual reforçada, queestipularia regras básicas para umapolítica de intervenção norte-americana
35 Uma doutrina formalmente enunciada perante a 54.ª reuniãoda Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de Setembroúltimo, com um tácito objectivo conjuntural, com ainsistência de que tal será legítimo “na ausência de umaautorização pronta [prompt]” do Conselho de Segurança se “ohorror” estiver em curso. Os países “ocidentais” e algunsafricanos saudaram a doutrina do Secretário-Geral. Muitos dospaíses em vias de desenvolvimento assumiram posturasambivalentes. Uma oposição veemente coligou a China, oVietname, a Indonésia, a Coreia do Norte, a Índia, a Rússia,a Bielorússia, o Iraque, a Argélia, o México e a Colômbia.
81
alargada36, presume-se que ad infinitum, emnome dos Direitos Humanos). Vista no contexto de uma sérietemporal longa, e encarada nos seus termosostensivos, a incursão no Kosovo foi semsombra de dúvida uma intervenção levada acabo num novo momento da evolução da ordeminternacional que saiu da Guerra Fria. Umindício de que o nível da interdependênciano Mundo (em todo o caso na Europa) já nãose compadece com o estato-centrismosecular. Um sinal de que os “perímetros desegurança nacional” não se restringem hojeapenas aos territórios imediatamenteadjacentes a cada Estado; e uma correlativacedência da maior parte das grandespotências mundiais (as Democraciaspluralistas) face à opinião pública“global”. Uma nova fase ético-jurídica, porassim dizer, uma outra etapa numaprogressão cosmopolita que decertoagradaria a Woodrow Wilson e a FranklinDelano Roosevelt. Mais um passo no trajecto36 É interessante verificar que, no mês anterior à campanhaaérea da NATO no Kosovo e no seu decurso, Bill Clinton e osporta-vozes da Casa Branca repetidamente anunciaram aurgência de estudar e desenvolver critérios doutrinais parasistematizar este tipo de intervenções. Perante resistênciasmúltiplas, internas como externas, o tema foi (aparentemente)deixado cair, ou pelo menos arrumado numa prateleira à esperade melhores dias. Com um saudável realismo, a Administraçãoamericana parece estar consciente de que o preço a pagar poringerências “policiais” generalizadas (no sentido de virem aser levadas a cabo seja onde for que aparentem serjustificáveis em termos doutrinários) seria um imediatoimperial overstretch e redundaria numa nova fonte de desordeminternacional.
82
pós-westphaliano que os pensadores liberaisvêm como a inevitável ascenção de valores einstituições não-estatais na ordeminternacional. E, em consequência, umampliar do papel preenchido pelaspopulações e pelos respectivos interesses,em detrimento do monopólio que, desdeWestphalia, vinha a ser concedido aosEstados37. De algum modo, e ao invés do quevaticinou Huntington há meia dúzia de anos,aquilo com que nos confrontamos é aemergência, nos palcos internacionais dehoje, não de antigas separações culturaismas de novíssimos princípios38
37 Em todo o caso (e seja qual for o grau de distanciamentoirónico que queiramos afectar), a ingerência consumada pelosAliados no território soberano da Jugoslávia foi um conflitodesencadeado com esses pretextos e com essas (talvez entreoutras) finalidades. No fundo, pelo menos em parte uma versãovigorosa do processo de globalização; ou, em todo o caso, umpasso amplo numa cada vez mais nítida submissão de todos osactores internacionais a uma hegemonia ética e até normativa,ainda que, por razões pragmáticas, esta tenha vindolargamente a ser exercida “por intermédio” dos norte-americanos.38Como terceiro e último exemplo, dos inúmeros possíveis,pesemos na balança da globalização em curso a decisão de onzepaíses (os novos membros da chamada Eurolândia) em abdicarvoluntariamente de uma parte crucial da sua soberania por umaUnião Monetária Europeia; ainda que, sem dúvida, com umamaior racionalidade económica em mente. Talvez esta últimailustração seja um exemplo ambíguo: o que está na linha dehorizonte, neste caso, será realmente a globalizaçãogeneralizada ou, pelo contrário, a clausura de uma sub-entidade (civilizacional?) europeia, a tão amaldiçoadaFortaleza Europa? Mas certamente ambíguos também o são osdois exemplos anteriores. O que num Mundo que (se éverdadeiro o meu argumento) está subtendido por pares deforças em tensão, não será surpreendente: ambiguidades, outalvez melhor, ambivalências, são decerto o que seria de
83
universalistas. Um facto puro e duro quenão se compadece com dogmas “clássicos” toutcourt como o de uma soberania nãoqualificada. Sem qualquer utopismo ou wishfulthinking, é com efeito difícil não tomar essepulso a vários dos acontecimentosinteressantes e curiosos que se têm vindo aencadear nos cenários contemporâneos. Gostaria de insistir um pouconeste último ponto, o da generalização emcurso de princípios universalistas.Comecemos pelo caso que nos está maispróximo: a tão desejada intervenção dasNações Unidas em Timor-Leste (já que nóspróprios infelizmente não a podíamos levara cabo) por uma força multinacionalliderada pelos australianos. O meu ponto éfácil de enunciar. Só a pressão política(eleitoral e outras) de uma opiniãopública, moralmente indignada e mobilizadapor meios de informação cada vez maisglobais, permite compreender o que osmodelos tradicionais do interesse nacionaldos Estados não podem senão deixarinexplicado: a nitidez da resposta. Eapenas esse efeito de globalização ética,quereria alegar, torna inteligíveis factose acontecimentos colectivos que nospoderiam deixar perplexos, como aesperar de uma condição estrutural desse tipo. A persistênciade ambivalências nos palcos internacionais contemporâneos éseguramente, nessas condições, a situação normal. Cada um dosseus termos, no fundo, faz pouco mais que reflectir a nossapredilecção (temporária ou permanente) pela vitória de umadessas forças que se degladiam.
84
velocidade (inédita) das decisões doConselho de Segurança das Nações Unidas.Como segundo exemplo, viremo-nos para ofortíssimo movimento de opinião que, deinúmeros quadrantes e de numerosos países,se constituiu em favor de responsabilizaçãodo General Augusto Pinochet pelatransgressões de “direitos básicos”perpetradas pelo regime repressivo editatorial que impôs no Chile. Apesar docarácter polémico da questão, concordemosque se logrou um consenso tácito na opiniãogeral. Uma convergência verificada mesmoentre muitos daqueles que apoiaram asfinalidades do seu golpe, ou dos queconsideram o agora senador vitalício velhodemais para incorrer em qualquer pena: masque ainda assim fazem questão deestabelecer, em todo o caso, um novo eimportante precedente (“anti-soberania”,note-se) na ordem jurídica internacional.Creio estas duas ilustrações instrutivas.Ambas são instâncias claras de retrocesso,diria eu, e indícios nítidos de que algumacoisa está a mudar. Talvez valha a pena quenos detenhamos um pouco sobre esta questãoespecífica.
Tenho plena consciência de que esteponto complementar implícito (o de umaexiguidade cada vez mais marcada a que éremetido o poder soberano dos Estadoscontemporâneos) está longe de ser pacífico.Objectar-me-ão, com algum óbvio fundamento,
85
que nestes como noutros casos o hipotéticorefluxo da soberania perante aglobalização, na ordem internacionalcontemporânea, não é verosímil. Que há quepôr os pés no chão. Que se trata de umprocesso mais aparente que real. Que (é umafrase feita) desde os tempos clássicos daGrécia de Tucídides o Mundo pouco, ou nada,mudou. E, em todo o caso, que no que dizrespeito à pretensa globalização, se trata,ou da ponta de um icebergue económico-imperial de design (no duplo sentido dotermo) claramente anglo-saxónico, ou de umapetite histoire efémera, senão oblíqua eperversa, que na prática releva do poder dealguns (os mais poderosos) dos Estados que,hipócrita e convenientemente, assim semascaram e manobram39. Para narrativas deste39 Curiosamente, uma posição deste tipo é precisamente adefendida num estudo monográfico recente por Stephen Krasner(1999). O argumento de Krasner (simplificando muito) éessencialmente o seguinte: a soberania, tal como tem sidoabordada e interpretada pelos cientistas políticos e pelaopinião pública, é uma ficção manipulada pelos Estados, ummito cuja transgressão se tem desde sempre verificadosistematicamente. A situação contemporânea nisso inova pouco:ao contrário, do seu ponto de vista, do que alegam osteóricos da globalização, para os quais a soberania estariaem retrocesso. Segundo Krasner tem sido bastante cumprida(ainda que com excepções) a international legal sovereignty, ou seja,o princípio de que o reconhecimento dela pela comunidadeinternacional só deve ser concedido a Estados juridicamenteindependentes. Muito menos respeitado, alega, tem sido noentanto a Westphalian sovereignty, o direito dos Estados deexcluir interferências externas nos seus respectivosterritórios. Tem sido assim, argumenta, tanto a nível dedireitos das minorias quanto ao de Direitos Humanos ou daeconomia. As diversas variantes das teses realistas, vistoestas serem no fundo sempre doutrinas críticas que supõem a
86
tipo, tão ouvidas num Mundo de que cada vezmais sentimos ter perdido o controlo, aglobalização é um ludíbrio; melhor talvez,uma fraude, uma impostura. A verdadeiradirecção das coisas, segundo este discurso,é no sentido da permanência e daimutabilidade, plácidas, das formastradicionais de soberania, acordadas einstitucionalizadas na Paz de Westphalia.Ou seja: é possível a riposta de que acarruagem efectivamente não anda. Conquantoessa versão maximalista seja porventuraexagerada: os mais prudentes asseveraramque a carruagem lá andar anda, talvez andeé menos do que parece.
Ripostas deste tipo (a especialidade derealistas e neo-realistas convictos) nãosão, mau-grado as aparências, completamentedisparatadas. Com efeito, o processo deglobalização e de erosão das soberanias nãotem sido nem simples nem linear. Os avançose recuos de que tem padecido são notórios.Como o são as variações, e até asexcepções. Seria difícil, por exemplo,ignorar a veemência com que o nacionalismo(e como seu corolário, uma doutrinaestreita da soberania nacional) tem pautadoas consolidações e as tentativas deafirmação de muitos dos jovens Estadosnascidos (ou renascidos) do desmembrar daex-União Soviética. Ou até a reacção,actuação de pelo menos dois níveis de realidade, estão semprena vizinhança de teorias do complot (ver, para este ponto,algumas das páginas do magnífico artigo de R. Keohane, 1995).
87
veementemente soberana (e imprudente) daprópria Rússia, que sucedeu à UniãoSoviética sem manifestamente aprender todasas lições, face às expectativas deemancipação da Tchetchénia. Como seriadisparatado não tomar em linha de conta osímpetos de asserção nacional dos novospaíses, na sua larga maioria africanos easiáticos, que ascenderam à independênciacom todas as outras descolonizaçõeseuropeias: uma das últimas40 das quais, aportuguesa.
Parece-me no entanto escusado deitarfora o bébé com a água da banheira. Poroutras palavras, a afirmação de umenfraquecimento generalizado das soberaniasde maneira nenhuma equivale à negaçãodestas. Nem sequer significa que possamosdaí deduzir o eventual desaparecimentodelas. Redunda, tão-somente, noreconhecimento do facto de que estamosperante um conceito cujo conteúdo,extensão, e aplicabilidade, mudaram. Paraalguns isso será bom, para outros mau; masé um facto com que todos teremos de nosreconciliar. Reacções refractárias à erosãoem curso podem facilmente ser identificadas
40 Uma União Soviética que nos veio substituir como o últimodos países europeus a proceder às descolonizações exigidaspelos novos tempos. Para uma perspectiva fascinante sobre aquebra dos consensos “imperialistas”, é útil a leitura doexcelente artigo de R. Jackson (1996). Será pena se não forcom celeridade levado a cabo um estudo comparativo sobre adissolução progressiva a que estes consensos se viramsujeitos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial.
88
perto de nós. Voltando por instantes àintervenção Aliada no Kosovo, háefectivamente que ter presentes as variadasreiterações de soberania nacional, asvárias expressões políticas “clássicas”,que precederam a mobilização generalizadade vontades; ou, pelo menos, oscondicionalismos prontamente revelados. AGrécia, apostada em manter a ligaçãoprivilegiada que regionalmente mantinha comos sérvios, começou por abertamente se oporaos desígnios da Aliança Atlântica. ATurquia fez ponto de honra de salvaguardarcom clareza a questão curda comoincomensurável com a albanesa. A Espanha ea França hesitaram, tendo em vista os seuspróprios dogmas quanto àindissociabilidade, respectivamente, doPaís Basco, da Catalunha, e da Córsega. AChina e a Rússia depressa fizeram constarque uma parte substancial das objecçõesinsistentes (e veementes) que fizeramquestão de acumular se prendia com oprecedente estabelecido, que consideraramsoletrara uma ameaça directa de ingerênciafutura nos seus próprios assuntos internos.A linguagem de todos estes actos deresistência inglória foi a da soberania;nos termos, aliás, em que em princípio estáembutida na Carta das Nações Unidas (maugrado o n.º 7 do seu artigo 2) e na maiorparte dos outros diplomas e institutos doDireito Internacional.
89
Podemos também duvidar da “franqueza”dos motivos aduzidos para o “novohumanitarismo”, como foi chamado. E teremoscertamente para isso algumas justificações.É sem dúvida verdade que, no caso doKosovo, e bem feitas as contas, os EstadosUnidos, grandes patrocinadores daglobalização (porque, sem sombra de dúvida,têm sido os grandes beneficiários dela,para além das óbvias afinidadesideológicas), lá levaram a sua avante. Éportanto pelo menos plausível argumentarque nada mudou, para além das aparências.Que a velha power politics simplesmenteencontrou um novo pretexto legitimador. Masnovamente isso me parece não querer ver adirecção da evolução das coisas. Todaviamais interessante seja porventura talvezreiterar e sublinhar os termos em que isso foienunciado e os apoios (nomeadamente a nível daopinião pública e de numerosíssimas, e cadadia mais influentes, organizações cívicasnão-governamentais de todo o tipo) naprática conseguidos. O que denota a operaçãode fortes pressões sistémicas. É de notarque, no caso de Timor-Leste, os EstadosUnidos, não obstante a importânciaatribuída à sua ligação tradicional com aIndonésia, acabaram por dar luz verde à tãourgente “intervenção da comunidadeinternacional”, como foi chamada a chegadade tropas multinacionais. Seguramente emparte em resposta à indignação moral da
90
opinião pública. No Mundo da informaçãoglobal, mutatis mutandis (e as diferenças forammuitas), tal como no caso do Kosovo, emnome de um maior cosmopolitismo (ético epolítico), o império da soberania recuou. Repito: é seguramente verdadeque podemos não ver no exemplo jugoslavo,se do ponto de vista metodológico epolítico para aí estivermos inclinados(como S. Krasner, ou como Noam Chomsky),senão uma colossal “hipocrisia organizada”,e na ingerência Aliada uma manifestaçãosinistra de um novo “humanismomilitarizado”41. Ou seja, como referi, épossível perante o ocorrido assumir umapostura de distanciamento sarcástico. Talcomo poderá ser apropriado relembrar osincontáveis antecedentes de invocaçõeslegitimadoras precisamente do mesmo tipo;nomeadamente as expressas tambémrelativamente aos Balcãs, na época daPrimeira Grande Guerra. A situação não éporém verdadeiramente comparável. Hádiferenças de monta que importa saber tomar
41 Ambas expressões, que pus entre aspas, correspondem asubtítulos de obras recém- publicadas pelos dois autores emcausa: um deles, Krasner (1999), por apego a modelos neo-realistas; o outro, Chomsky (1999), ilutre linguista eProfessor no MIT, de acordo com convicções “anti-imperialistas” radicais de que tem sido porta-voz. Naspáginas finais do seu ensaio Chomsky propõe, com a habitualdureza sarcástica e num estilo inconfundível, que sejaempreendido um urgente assessment [das acções da NATO] onrational grounds with attention to historical fact and the documentary record, notsimply by adulation of our leaders and the ”principles and values” attributed tothem by admirers (op. cit.: 157).
91
em consideração. A conjuntura é hoje outra,muito mais propícia a alterações de fundona ordem internacional das coisas. Por umlado, há que contar com a letalidadecrescente dos sistemas de armamento noMundo moderno, e as implicações que issotem no que toca à correlação de forças. Commeios cada vez mais high tech, uma campanhaaérea deu corpo, no Kosovo e no resto delarga parte do território da ex-Jugoslávia,à guerra mais cara a que a Europa assistiradesde os horrores do nazismo; um conflitosem uma única baixa42 em combate do lado Aliado.Milosevic, por sua vez, recuou,incidentalmente dando razão àqueles (emcada vez menor número, no decurso dashostilidades) que continuavam a acreditarque uma guerra aérea, por si só, poderiaser decisiva. Mas há mais. Há ainda queponderar na equação a concomitanteinternacionalização de uma muito vocalesfera pública, o que potencia enormementeessa nova correlação de forças, dando voz epeso a esse novo e eficaz protagonista(sobretudo nos países democráticos) que é aopinião pública internacional. E há que ter emconta a força crescente da profusão de ONGscom maior e maior protagonismo e capacidadede intervenção e mobilização tanto das42 O que, também incidentalmente, lança sérias dúvidas sobre aasserção de Huntington (e.g. pp. 88-91) segundo a qual opoder militar relativo do Ocidente estaria em refluxo nasarenas internacionais. Quando mosquetes eram confrontados comlanças, ou metralhadoras enfrentavam catanas, algum sangue,por via de regra, corria dos dois lados.
92
opiniões públicas como de interessesinternacionais poderosos43, muitos delespouco “clássicos”. Assim, a confirmar os receiosde imediato invocados por Estadosparticularmente empenhados em esconder osseus esqueletos domésticos sob o mantoprotector da soberania westphaliana (porexemplo a China, decerto preocupada com oTibete), a intervenção militar desencadeadano Kosovo não veio sozinha. Insisto no quedisse atrás: a ingerência na Jugoslávia foiimediatamente seguida por uma outra, quebeneficiou de ainda maior apoio consensual:a entrada de tropas internacionais, destavez das Nações Unidas e agora sob liderançaaustraliana, no território de Timor-Leste44.Se bem que, de um ponto de vista técnico-jurídico nesse caso se não possa em rigorfalar de ingerência (já que a pretensalegitimidade da jurisdição indonésia nunca
43 Foi fascinante verificar, por exemplo, como em muitas dasmanifestações realizadas em Portugal em apoio à independênciade Timor-Leste se gritaram duas palavras de ordem: “VivaTimor Lorosae” e “Viva a Igreja Católica”. A César o que é deCésar.44 Numa Conferência sobre a política externa portuguesa dopós-25 de Abril, organizada em Julho de 1999 no Convento daArrábida (antes, por isso, do feliz desenlace da situação deTimor), José Manuel Pureza, numa interessante comunicação,defendeu que a tónica político-diplomática do Estadoportuguês, ao longo da sua confrontação com a Indonésia,redundou numa vitória ética. O que a seu ver (e trata-se deum ponto de que é difícil discordar), demonstrou a emergênciade uma acrescida capacidade de intervenção de pequenos paísesnuma nova ordem internacional pós-westphaliana, em que opoder hard deixou de ser o único critério procedente.
93
foi geralmente reconhecida), precedentespesados estão seguramente a estabelecer(esperemo-lo) uma prática45 que se irá cadavez mais fortalecer até se instalar comoregra. As coordenadas com quetradicionalmente se aferiam os direitossoberanos estão claramente a mudar. Mesmoas grandes organizações internacionaisestuturadas segundo regras estato-cêntricasde composição, como as Nações Unidas,45 Uma prática e um conjunto de regras em incubação, queestão nitidamente a acelerar o passo. Algumas diferençassubtis há no seu encadeamento, em todo o caso, que denunciamumas quantas alterações profundas na própria estrutura daconjuntura, para usar uma frase consagrada. Durante oconflito na Bósnia-Herzegovina (tal como, de resto, naintervenção desastrosa das Nações Unidas na Somália) aingerência humanitária por alguns dos Estados da comunidadeinternacional foi tardia porque em larga medida levada a caboem resposta a pressões crescentes das respectivas opiniõespúblicas (ou melhor, às exigências dos seus eleitorados). Nocaso do Kosovo, como no de Timor-Leste, a lição tinha sidoaprendida: longe de uma submissão passiva às correntes deopinião, os Estados intervenientes orquestraram, de suaprópria iniciativa, campanhas bem montadas de propaganda;utilizando, para o efeito, os mesmos meios de comunicaçãosocial pelas quais antes se tinham sentido empurrados. Não meparece, porém, que esta viragem possa ser reduzida a umsimples caso de if you can’t beat them, join them, por mais que essapossa ter sido precisamente a motivação dos poderes públicos.Por um lado, já que um dos principais motivos aduzidos paratais manobras de propaganda foi, pelo contrário, anecessidade de justificar, a opiniões públicas (sobretudo asdemocráticas) por via de regra renitentes perante acçõesmilitares, a urgência de uma reacção rápida face a cenárioshumanitários desastrosos. A experiência dramática e muitomarcante do Ruanda tivera pelo menos esse efeito pedagógico.E, por outro lado, porque ao assim inverter os papéishabituais, os Estados quedaram-se na posição paradoxal decolaborar no reforço, e na consolidação, de uma dasprincipais forças a que é atribuível o refluxo estruturalcontemporâneo da soberania clássica.
94
parecem estar a acabar por digerir (de factomas não ainda de jure) a situação criada; eacham-se, ao que tudo indica46, com ou semKofi Annan e a sua doutrina anti-genocídio,empenhadas em reconciliar-se com os novosventos. Por outras palavras, uma onda de“normalização” da anarquia internacionalparece estar a assolar as margens dasoberania, tal como antes esta eracanonicamente defendida. Um facto que casamal, convenhamo-lo, com o paradigma deHuntington: um modelo que no fundo, aoatribuir centralidade e identidadecontrastiva a “entidades civilizacionais”irredutíveis, persiste numa perspectivaçãodo Mundo enquanto colecção de entidadesdiscretas e equiparáveis. O paradigma deHuntington redunda assim numa espécie deneo-realismo civilizacional que, ao limitar-se atranspor para um nível mais amplo oconceito de soberania, perde de vistafactos empíricos como a erosão muito real aque esta tem estado sujeita e tende a negar
46 É interessante, neste contexto, o curioso e curto artigo deIgnacio Ramonet (2000) sobre a “ingerência e a soberania”.Sem descartar as limitações que, no panorama internacionalcontemporâneo, o alargamento daquele significa para esta,antes pondo-as em evidência, Ramonet parece mais empenhado noseu estudo em denunciar iniquidades: pergunta, por exemplo, oque serão “bombardeamentos éticos”, questiona aplausibilidade de uma hipotética intervenção de um paísafricano contra os Estados Unidos para corrigir o racismo, equeixa-se da ausência de uma “ingerência social” contra apobreza. Uma postura relativista, mitigada por uma enormelucidez.
95
a evidência do processo de globalização. Nofundo o modelo huntingtoniano postula, àguisa de matriz do seu remaking of world order,uma espécie de balance of power revisitado pós-bipolarização em que as unidades na balançasão, não os Estados que nos habituámos areificar desde meados do século XVII, mas“entidades (ou blocos) civilizacionais”muito maiores mas de algum modofuncionalmente equivalentes.
5.
Os limites da tese de Huntington podemtambém ser confrontados “de dentro parafora”, por assim dizer. A questão é comutilidade susceptível de ser abordada soboutro ângulo: enquanto sistema derepresentações, próprias de certa época, ede determinado clima vivido nalgunscírculos intelectuais. Enquanto “retratoideologizado”, chamemos-lhe assim. Umretrato relativista, cujo background ésobejamente conhecido. Desde há alguns anosque nos habituamos a invocações, tãoveementes quão compreensíveis, dasuficiência, senão da superioridade, deculturas e civilizações que não aOcidental. As certezas fundamentais de cadacultura são delas condições depossibilidade. Cenários conjunturais ditam-nas. Muito antes de Edward Said, o famoso
96
académico norte-americano de origempalestiniana, insistir que a ciênciaocidental se teria desenvolvido porintermédio da exclusão da civilizaçãooriental, já muitos muçulmanos propalavam aautonomia e a especificidade47 próprias dadita “ciência islâmica”. Na Ásia, ohistórico Primeiro Ministro de Singapura,Lee Kuan Yew, e o seu notório congénere daMalásia, Dr. Mahatir (desde há muitocríticos ferozes do Ocidente) ecoamreivindicações chinesas, indonésias, e hojeem dia indianas, da premência e doascendente dos chamados “valoresasiáticos”, assim como do consequentemente47 Apenas duas ilustrações sucintas das insuficiências dealegações deste tipo, das muitas possíveis. No ensaio atráscitado, E. Gellner levou a cabo uma crítica dura eepistemologicamente bastante bem fundamentada dessaspretensões a cientificidades paralelas, como lhes poderíamoschamar. O ponto de aplicação específico de Gellner: o“racionalismo” islâmico. Num breve artigo sobre a Ásia doSudeste, H. Buchholt equacionou o eventual alcance deinovações dessas entre algumas das elites de alguns dospaíses asiáticos. Podemos, porém, ir mais longe. Em pretensaressonância com o esforço de Max Weber, de associar o boomocidental com a subida do Protestantismo, tem com efeito sidofeita a elegia de uma propinquidade particular entre a éticaconfuciana e o desenvolvimento económico. Quanto a esteúltimo ponto, parece-me imprescindível sublinhar que, se éverdade que o Confucionismo, ao promover o respeito pelafamília, pelos mais velhos, e pela ordem e tradição, favorecea promoção do capitalismo, também não é de esquecer que essemesmo Confucionismo tem sustentado e legitimado, precisamenteem nome dos mesmos valores, os gerontocratas que lideram commão de ferro os regimes socialistas autoritários no poder emmuitas partes da Ásia. Mais que promover o desenvolvimento deeconomias de mercado, em todo o caso, a ética confuciana temformado uma sólida base de sustentação para o crony capitalism eas “democracias musculadas” tão típicas do sudeste asiático.
97
distinto Asian Way. Um irredentismo que nem acrise económica que no ano passado assoloue destroçou muitas das economias da Ásiasoube verdadeiramente calar. A causaenraiza no transcendente. Trata-se dedeclarações míticas, de construçõessimbólicas não refutáveis por realidadesempíricas. Mais do que descrições, sãoactos pragmáticos ou até simplesmente defé.
Nas perspectivas (ou melhor, nasmúltiplas perspectivas) dessas narrativasmítico-identitárias, dessas asserções, oOcidente aflora sempre como uma unidade aque o resto do Mundo se contrapõe. A razãode ser para essa dicotomia radical (eestranhamente indiscriminada) é tambémsimples de compreeder: proposições destetipo formam parte e parcela de declaraçõesrelacionais48 formuladas sob roupagensessencialistas. Trata-se de estratégiasidentitárias. São versões vigorosas ecuriosas inversões da atitude sobranceirado West versus the rest que muitos (comindubitável razão) alegam ter sido duranteséculos a postura (separatista) dos“ocidentais”. À luz destes contrastes,tidos por inultrapassáveis visto seremapresentados como distinções fundadoras,
48 Relativamente a este ponto, reitero os comentários que fizem (1999, op. cit.:159-161), nomeadamente no que diz respeito àdefinição de “etnicidade” moderna como resultado daintensidade de interacções sociais, e não como efeito detendências para a separação.
98
posicionam-se novas atitudes, delimitam-senovas posturas, estabelecem-se novas (erestabelecem-se velhas) divisões eligações. Criam-se operadores eficazes,enraízam-se discursos religiosos, sãoerigidas mitologias étnico-culturais,articulam-se oratórias políticasnacionalistas, circunscrevem-se territóriosconceptuais. Com esses pretextos, liga-se-lhes uma ética de “correcção política” cujaasserção central transpira relativismocultural: “todos os sistemas de valores sãoigualmente válidos e, no sentido em quecaracterizam a nossa especificidadeprópria, irredutíveis uns aos outros”.
O meu ponto é o seguinte: é tãolamentável quanto previsível que orelativismo implicitamente assumido porHuntington nos Clash of Civilizations o tenhaencaminhado (empurrado até) na direcção denarrativas míticas deste tipo. Ou seja: quenuma situação tensa, em que (pela primeiravez desde há muito tempo) os “outros” têmvoz, incautamente Huntington tenha sidolevado a tomar pelo seu valor facialasserções rituais que não relevam senão dosnovos contextos de multiculturalidadedifícil (e em tantos casos dolorosa)vividos na “aldeia global”. Não é este olugar indicado para debater a questão,fascinante, da razoabilidade do relativismonu e cru. Trata-se antes de alinhar asimplicações do facto de Huntington,
99
enquanto analista, ter acatado comoproposições descritivas o que efectivamentesão declarações “políticas” dos actoressociais que as formulam. Ou que, pelomenos, delas tenha aceitado uma parte: adas suas conclusões. A consequência: nosdomínios etéreos do “politicamentecorrecto”, na terra-de-ninguém daequidistância, Huntington foi porconseguinte levado a aceitar a realidadeempírica de entidades tão nebulosas como assuas famigeradas “entidadescivilizacionais”, formações abstractaseivadas de intemporalidade e dehomogeneidade interna. Anomalias (como, porexemplo, a profusão de Estadosintercalares) são com displicênciaarrumadas ao abrigo de elaboraçõessecundárias protectoras e tranquilizantes.Mas os problemas inerentes ao modeloparadigmático delineado mantêm-seintocados. Como não poderia deixar de ser:os cavalos não são esféricos. Verificá-lo não é particularmenteárduo. Atenhamo-nos de novo a um sóexemplo, porventura o mais polémico: o doIslamismo. Huntington (a meu ver de maneiraredutoramente mecânica) explica a relativaindefinição de “civilizações” como alatino-americana ou a africana pelaausência, nelas, do que chama core states:Estados local ou regionalmente cominfluência suficiente para servir de
100
catalisadores. Nesse contexto, éinteressante a alegação de que uma das“civilizações” mais bem circunscritas(delineada aliás pelo nosso autor, a ferroe fogo, por “fronteiras sangrentas”) seja aIslâmica. Qual será o core state da famigeradaDar al-Islam49, uma vez a Arábia Saudita apeadadas suas ambições, a família hashemitairreversivelmente dividida, o Irão xiitadesacreditado, os movimentos integralistasbaath da Síria e do Iraque isolados, equaisquer pretensões pós-Bandung de umaIndonésia em fragmentação a perder-se numalinha já longínqua de horizonte?
Em 50 anos, quaisquer plausíveisveleidades pan-arabistas (e, por maioria derazão, pan-Islâmicas) se esfumaram. Comopoderia ser de esperar. Para lá das maisóbvias clivagens entre Árabes e não-Árabes,Turcos, Persas e outros, há que contar comfracturas entre Malaios e Pakistanis,Javaneses e Minangkabaw de Sumatra,Bengalis de Punjabis e Pathans de Afegãos,só para nomear umas poucas. A tãoambicionada e tantas vezes propaladaunidade muçulmana é um dos mitos religiosos
49 Sobretudo nas pp.174-183, 209-218 e 246-266 da suamonografia, Huntington mostra ter plena consciência dessaausência de um core state muçulmano. Tipicamente, não derivaporém todas as consequências desse facto (nomeadamente aincongruência heuristicamente devastadora deste dado com aintensidade das bloody borders), de algum modo escondendo-as pordetrás de elaborações secundárias que oferecem outras razõespara a regularidade destes conflitos. Fica a dúvida sobre oreal papel dos core states na teorização huntingtoniana.
101
com que agrupamentos muito diferentes unsdos outros inventaram, ou “imaginaram”, uma“comunidade”, para usar a expressãoconsagrada de Benedict Anderson. Mas aoinvés de muitos desses processos degestação comunitária, trata-se de um mitorelativamente improcedente. Porque é umaconstrução mitológica largamente restrita aalgumas elites religiosas e políticas (porvia de regra pouco representativas) de umamão-cheia de países (sobretudo árabes), edepois instrumentalmente propagada para ogeral da população. Não é, efectivamente, umfacto empírico puro e duro que caracterizeum qualquer projecto dos agrupamentossociais que professam o Islamismo.
Como o não são sequer a estabilidade, apermanência, ou a integridade temporal dacolecção de grupos que no Mundo seidentificam como muçulmanos. Nem a suaimpermeabilidade. Afloremos concretamenteeste problema e desmontemo-lo. No Irão, aseleições de 1997 deram a Presidência a ummoderado, Muhammad Khatami, um leigoperante cujos apoios populares até o muitomais radical Ayatollah Ali Khamenei temvindo a ceder; as eleições de 2000, as maisconcorridas da história do país,confirmaram a tendência dando uma vitóriaclara aos “reformistas”. Na Argélia, abrutal e tão sangrenta guerra intestinaparece estar a esmorecer; e mesmo a Líbia,o Sudão, e a Síria (ou o Líbano) parecem a
102
caminho de uma maior tranquilidade. Ademocracia e as eleições livres, cada vezmais exigidas por populações cada vez menosmiseráveis, mais instruídas, e maissintonizadas com um Mundo que lhes tem sidorevelado pela revolução electrónicaencetada nos fins do século XX, ganhamterreno do Qatar ao Oman, do Kuwait àJordânia e a Marrocos. A progressãoconvergente na direcção geral da evoluçãointernacional, ao que tudo indica, éinexorável.
Serão mudanças de peso. Embora aindaseja indubitavelmente demasiado cedo para oasseverar, o movimento parece irreversível;o seu âmbito cada vez maior. As suasimplicações potenciais são enormes. NoRenascimento, condições não muitodiferentes desencadearam, na Europaocidental, uma Reforma e Contra-Reformas,que pouco deixaram igual. Em finais doséculo XVIII e inícios do século XIX foi avez dos ghettos e dos shtetl da Europa centrale oriental ashkenazi: a Haskallah judaicarepetiu, mutatis mutandis, as “luzes” cristãs.Uma Reforma Muçulmana de fundo não estará àporta? As comunidades na Diáspora europeiae americana, com um peso crescente50, serão50 A convicção da iminência de uma “reforma” islâmica, longede ser uma especulação “selvagem”, é muito geral e é desde hámuito anos partilhada por inúmeros analistas e observadoresde coisas muçulmanas. Está, talvez, posicionada a meiocaminho entre uma extrapolação comparativa linear e o purowishful thinking. Para uma sua versão moderna cautelosa, éinteressante a leitura do esplêndido ensaio, que atrás
103
o seu lugar de gestação? A imagem de uma“civilização”, de um bloco, sobreviver-lhe-á?
Seja qual for a resposta para estasquestões, parece-me incontornável aurgência de as formular. Ainda que comopaliativo contra uma visão essencialistaque negue a solidez das mudanças em curso,insistindo em ver no futuro uma merarepetição do presente que, por sua vez,pouco mais faria senão ecoar o passado. Pormuito que o discurso mítico-identitário quea maioria dos Muçulmanos utiliza comotáctica para a construção da sua“comunidade imaginada”51 pareça convincente,as alegações em que se baseia não soam hojeem dia nada tão líquidas que possamos comsegurança falar de uma entidadecivilizacional Islâmica; semelhantehipotética unidade é, cada vez mais
referi, de E. Gellner (1992), no qual o notável especialistabritânico aborda e entrelaça a Razão, o efémero pós-modernismo, e o Islão. No que toca à importância crescentedas comunidades das diásporas, ver N. Tiesler (1999) e M.Tozi (1997), ambos atentos ao seu poder criativo eregenerador. Tanto Tiesler como Tozi, a primeira alemã deorigem protestante, o segundo muçulmano marroquino, piscam oolho à eventualidade de um movimento de reforma modernizantea ter início nas comunidades emigrantes hoje a residir noMundo não- muçulmano. Não me surpreenderia se essa reformaviesse a ter origem onde menos pode parecer plausível: noIrão.51 Será difícil sobrestimar a importância do pequeno livro deB. Anderson (1991) para uma melhor compreensão das “condiçõesde pensabilidade” a que estão sujeitas noções de comunidade(como, por exemplo, a de Nação). Uma lufada de ar fresco noconjunto, já densíssimo, dos estudos recentes sobre onacionalismo e a construção nacional.
104
nitidamente, uma ficção religioso-cosmológica alimentada, ao sabor deconveniências conjunturais, por membros dealgumas das elites políticas ou pastoraisdominantes em Bagdade, no Cairo, em Riade,nas aldeias e nos subúrbios argelinos, emKarthoum, entre os teólogos taliban, ou emJacarta ou Kuala Lumpur. E, muito menos,poderemos presumir que essa pretendidaunidade tenha uma qualquer permanência,seja minimamente concertada, ou de algummodo actue de forma eficaz nos palcosinternacionais. Ao cometer a imprudência dedar crédito a estas asserções, Huntingtonperde de vista um facto bem maisinteressante: a evidência de que a unidademuçulmana imaginada é uma simples figurarelacional de afirmação, numa transiçãodolorosa e voraz para uma nova ordeminternacional pós-westphaliana; de que essaunidade é, no fundo, uma fabricação(construtivista sem dúvida, masconjuntural) de uma certa agenda política;e de que se trata de uma formulaçãopuramente utópica. Com as devidas alterações, omesmo se poderia dizer no que toca àsoutras chamadas “civilizações”. Todas sãoconstruções, objectos culturais mais doque, em sentido estrito, descrições sócio-históricas ou políticas. São instrumentos.Fica, no entanto, uma questão em aberto: setais unidades não têm efectiva “realidade”,
105
pelo menos enquanto peças de uma descriçãoobjectiva da ordem internacional, comoexplicar a persistência e o aparentecrescendo de numerosas “guerras culturais”,ou religiosas, nos palcos internacionaiscontemporâneos? O problema é especialmentepertinente, dado que a plausibilidade (senão oapelo) do paradigma huntingtoniano sefunda, precisamente, nessa hipotéticaconstatação. É com efeito difícil tomarcontacto com a tese de Huntington sem quese produza um considerável “efeito derevelação”. Dos conflitos endémicos entre aÍndia e o Paquistão (quanto a Cachemira, ourelativamente a aviões “desviados” paraaeroportos afegãos) às escaramuças entremuçulmanos e cristãos na Indonésia, daintransigência mútua entre russos echechenos ao terrorismo que assola todo oMundo, passando pelas disputas na Irlandado Norte entre católicos e protestantes eas lutas mais artesanais pelos “direitosindígenas” que cada dia alastram e ganhamfôlego, o Mundo de hoje parece oferecer umnunca acabar de corroborações que o modelosimples e estilizado de Huntington parecetão apto a “explicar”. Mas fá-lo-á verdadeiramente?Creio que não. O relativismo que está noEspírito do Tempo, os nossos medos e asnossas expectativas, são as forças queverdadeiramente produzem esse efeito;trata-se de uma mera ressonância
106
“ideológica” com as nossas convicçõesprévias. Verificar empiricamente anomaliasna tese huntingtoniana, não é complicado.Se nalguns desses conflitos espreitam defacto “guerras culturais” ou religiosas (oque não é surpreendente, dado exactamenteesse Zeitgeist), é imprescindível ter presenteque a grande maioria o não são. Nuns casos(a Rússia e a Chechénia, por exemplo; ou osmassacres recentes perpetrados porindónesios no grande arquipélago sudesteasiático, das Molucas a Lombok), são noessencial lutas entre elites levadas a cabopor entrepostas pessoas. Noutros casos (oda Índia e do Paquistão, ou as disputas porindigenous rights) trata-se de merossubprodutos da arbitrariedade do traçado defronteiras políticas, em cujo interiormuitos Estados exercem o seu podersoberano. Nalguns (o caso da Irlanda é umdestes) nem sequer podemos falar emquaisquer “civilizações”, já que tantoprotestantes quanto católicos, na arrumaçãohuntigtoniana, estão obviamente do mesmolado das barricadas postuladas: todos sãoWestern. Explicações alternativas sãonão só possíveis mas, também, evidentes.Seria laborioso entrar em detalhesrelativamente a disputas muito diferentesumas das outras. Mas que exibem, em todo ocaso, denominadores comuns. Para quasetodas as instâncias contemporâneas
107
aduzidas, com efeito, é apropriadosublinhar evidências factuais como asseguintes: dois terços dos conflitosactualmente ateados, e em consumação maisou menos branda, são guerras civisseparatistas típicas. Vivemos todavia numMundo52 no qual só dez por cento dos Estadospodem invocar ser etnicamente homogéneos; eem que só metade dos Estados existentesconta o grupo etnolinguístico maioritário(e, em geral, dominante) com mais de trêsquartos do total da população. Acresce,como ouvi Oliver Sparrow (Director do RoyalInstitute for International Affairs britânico)lamentar numa entrevista dada em finais dopassado mês de Janeiro à BBC, que nodecurso do século XX houve 290 milhões devítimas directas de conflitos violentos, dosquais um total aterrador de 170 milhões foram“mortos pelos seus próprios Estados”. Mais ainda: muitos das chamadas“guerras culturais”, ou das fault-line wars,eclodem efectivamente ao longo das “fronteirassangrentas do Islão”, sobretudo porventuranas frentes mais proselitistas, ou naquelespontos em que muçulmanos mais se sentemacossados pelos seus inimigos tradicionais:os animistas e os cristãos. E se bem quemuitos conflitos não ocorram por enquantoao redor da China, a clausura e o52 No que toca a estes e outros dados quantitativos, bem comopara uma análise geral do que ele chama uma hybrid World Order,ver as últimas páginas do magnífico texto introdutório, jácitado, de J. Nye (1997: 191-194).
108
exclusivismo que lhe tem sido habitualadicionam-se neste caso a um crescenteimperialismo regional para servir de alertaaos mais atentos. Com algum recuo é óbvioque tudo isto escapa à tese huntingtoniana:mas que, num relance, pode parecer militara favor do seu paradigma, sobretudo seestivermos predispostos (historicamente,por exemplo) a temer a diversidade, osmuçulmanos, os cristãos, os animistas, ouos chineses. Trata-se porém de questõesevidentemente melhor abordadas caso a caso.Porque é claro que em todos estes casos,outras questões que não as“civilizacionais” entram em jogo. E note-seque de maneira nenhuma se trata, nestesexemplos, de questões marginais, ousecundárias, para uma compreensão da ordeminternacional. Representam, quero insistir,parcelas absolutamente primordiais para umaqualquer explicação cabal da dinâmica dosistema. Não é obviamente minha intençãosugerir que os conflitos típicos de quehoje em dia somos espectadores (e quantasvezes participantes) decorrem de umqualquer exclusivismo étnico primordial, ouque seriam efeito secundário de defeitos“genéticos” dos Estados. Nem que“muçulmanos” ou “chineses” sejam, pornatureza, gente mais agressiva outruculenta. Hipóteses catastrofistas destestipos (ainda que de alguma verosimilhança
109
residual) são, sem qualquer dúvida,muitíssimo fáceis de refutar com contra-exemplos. Aquilo que pretendo é chamar aatenção para o contexto específico dessas“pré-formatações”: há que manter presenteque (feliz ou infelizmente, provavelmentefeliz e infelizmente) assistimos, no Mundocontemporâneo, a mudanças alucinantementerápidas; transformações registadas a váriosníveis, inovações múltiplas contra as quaissão muitos os que reagem mal e muitas vezescom um conservadorismo agressivo eviolento. Mudanças incorridas que, aoinduzir alterações nas configuraçõessociais anteriores, favorecem novasafirmações relacionais fervorosas. E nãopodemos esquecer que uma das armas quetemos disponíveis para resistir, para fazerfrente a mudanças, é precisamente a de“imaginar comunidades” retalhandoidentidades e refazendo fronteiras e linhasde divisão. Que outros o façam não é,infelizmente, controlável. Que o façamosnós, é. O risco incorrido é o de que oparadigma huntigtoniano se preste a poderser arvorado (decerto à contre sens) como umadas justificações dadas para novasexclusões, investindo-as assim de mais umaaura legitimadora: a de mitos já antigos,mas agora sedutoramente vestidos comroupagens académicas à la page.
110
6.
No que precede, preocupei-me comalguns dos pressupostos menos polémicos deSamuel Huntington nos seus Clash of Civilizations.Nomeadamente, com a sua presunção central:a de que seria exequível circunscrever“civilizações”, enquanto unidades de contado sistema internacional. Acima de tudo,tentei além disso mostrar a estreiteza deum modelo (no essencial) estático paraexplicar uma ordem internacional cada vezmais caracterizada pelo dinamismo. Numtrabalho anterior, já citado53, tomei comotópicos preferenciais a ambivalência, a umtempo centrífuga e centrípeta, daprogressão contemporânea nos palcosmundiais: uma interacção dinâmica activadapelo jogo de processos como a globalizaçãoe a tribalização, respectivamente. Nessecontexto, insisti nos déficits metodológicosda análise de Huntington; na sua algumapobreza teórica, por exemplo no que diznomeadamente respeito a noções como as dereligião, etnicidade ou nacionalismo. Anível do dispositivo explanatório utilizadopor Huntington, uma pobreza aliada àexcessiva secundarização para a qual oparadigma relega a clássica power politics. Napresente comunicação, troquei esse acento53 Armando Marques Guedes (1999), op. cit., sobretudo nas suassecções inicial e final, na qual tentei descrever algumas dasregras do moderno jogo de tribalização-globalização.
111
tónico por outro dele complementar. A minhaatenção, agora de acordo com preocupaçõesmais “liberais” e menos “neo-realistas”,tem permanecido sobretudo focada nadescontextualização genérica de que onotável trabalho de Huntington me parecesofrer. Para o efeito, retomei aliásalgumas das linhas de força das minhasponderações anteriores. Mas fi-lo noutroâmbito: ensaiei uma reperspectivação maisampla. Resta-me recapitular. Simplificando e metaforicamente:num Mundo cada vez mais interdependente, écompreensível que grupos até aqui assazsenhores de si mas encalhados na situaçãodifícil de estar geográfica e culturalmentepróximos uns dos outros, recorram aafirmações relacionais estridentes. O Jihadde Barber, deste ponto vista, não é senão(sem qualquer desrespeito, ou desprimor) ummomento passageiro de um género de“política de bairro”, o equivalentefuncional (mutatis mutandis) de uma “agitaçãode rua” expressa numa aldeia global queimplacável e inexoravelmente vai sendoerigida por pressões sistémicas. Umaespécie caricatural de conservadorismo. Umabusca de identidade. E um canto de cisne.Paradoxalmente, exclusivismos ciosos destetipo têm muitas vezes o efeito perverso deagravar as coisas: protestos violentos e
112
separatistas54 desencadeiam por via de regrareacções generalizadas, políticas ejurídicas, cuja consequência é precisamentea de ajudar e acelerar a sedimentação doMundo globalizado, tão ferozmentecombatido. Na conjuntura actual,exclusivismos separatistas irreconciliáveissão muitas vezes tiros que saem pelaculatra.
Nada disto nos deve surpreender. Nem asacções, nem as reacções. A Modernidade,como tão contagiosamente lhe chamou AnthonyGiddens (que a caracterizou como “umaexperiência”), está a alterar o Mundo aolhos vistos. O que antes eram segmentos eentidades bem localizadas perde-se, hoje,em novos arranjos de conjunto. A divisãonítida entre um Primeiro, um Segundo e umTerceiro Mundo, já não é o que porventurafoi. A miséria, a corrupção, o crime, e adesorganização, tradicionalmente vistoscomo apanágio dos países em vias dedesenvolvimento, podem agora serencontrados no centro mesmo das grandescapitais ocidentais. Enquanto que, nospaíses pobres, elites riquíssimas vivem ao54 Para um apelo à moderação (pela compreensão) nas reacções“antiterroristas”, é ainda refrescante o pequeno estudo de E.R. Leach (1977). Em duas conferências realizadas naUniversidade de Edimburgo, Leach como que instalou as traves-mestras das análises sociológicas dos mecanismos conceptuaisde exclusão dos “terroristas”. Para um fascinante estudocomparativo do papel preenchido por perspectivas ideológicasno que diz respeito ao combate ao terrorismo urbano, ver oartigo de P. Katzenstein (1993) sobre a evolução das normasde segurança interna no Japão e na Alemanha.
113
nível das europeias ou das norte-americanas. As imagens antigas com que noshabituámos a representar o Mundo estãovelhas; nos novos panoramas, há que asdescartar, ou pelo menos, que asrelativizar. Não é por isso estranho e nãonos deve causar surpresa que (com o intuitode evitar sérias dissonâncias cognitivas)haja quem tente reimpor à força asconfigurações anteriores, e insista emavançar para o futuro às arrecuas, com osolhos teimosamente postos num passado que adistância vai doirando55. De há muito quesabemos haver dois tipos de Messianismo: oque vê no futuro a Redenção; e aquele que avê no regresso ao primordial.
“Sebastianismos” do segundo tiposossegam-nos muitas vezes sob a guisainsinuante de uma revelação, uma ficçãobem-vinda porque tranquilizante. Osfundamentalismos no entanto, sejam deste oudo primeiro tipo, têm sempre uma curtaesperança de vida porque não sãoverdadeiras soluções. Esmeram-se emrespostas demasiado simples e respiramatitudes inconsequentes. Tenderão
55 Para este e outros pontos conexos, julgo incontornável aleitura do mais recente livro de Anthony Giddens (1999), umaedição das suas Reith Lectures sobre a globalização; emparticular a secção (ibid.: 36-51) intitulada “tradições”.Apesar de partir de pressupostos bastante diferentes dos deGiddens, apraz-me verificar que o meu balanço genérico dasexigências que a situação de crescimento cosmopolitacontemporâneo nos impõe não é, no essencial, muito diferentedaquele delineado pelo notável sociólogo inglês.
114
rapidamente a esbater as suas cores. Já quea globalização, naturalmente, tem tambémsido cultural, tais miragens salvíficas sãoreacções “místicas” cada vez menosaceitáveis, mesmo para aqueles em cujo nomeocorrem. A “realidade” cada vez mais seimpõe de acordo com formatos relativamentehomogéneos; e por muito que a encaremos deângulos e perspectivas diferentes (como semdúvida o fazemos) estamos condenados a nosvirmos a saber entender, ainda que issoredunde num simples “concordar emdiscordar”. Um entendimento assim,“multivocal,” como diriam os semiólogos,foi já há muito encetado; muitos são osportugueses que se orgulham de nele termossido pioneiros. Com avanços e recuos, écerto, cada vez mais longe, por isso,estamos da fragmentação em blocoscivilizacionais irredutíveis que Huntingtonadvogou estar em alta. Dois exemplos, maisanedóticos e ilustrativos do quepropriamente analíticos, bastarão. Um,relativo à morte de uma notável antropóloganorte-americana, Marjorie Shostak. Outro,respeitante a uma base de lançamentos defoguetões aventada há uns anos para aAustrália. Ambos, edificantes. Qualquerdeles, uma ilustração da tendência para umgalope dia-a-dia mais acelerado daglobalização ética e normativa que está,com teimosia, a formatar o sistemainternacional anárquico.
115
Em finais de 1996, morreu em NovaIorque uma investigadora (uma notávelantropóloga) especialista nos bosquímanos !Kung do Botswana. Membro insigne do muitojustamente célebre Kalahari Research Groupbaseado na Universidade de Harvard, foi umafeminista famosa pelos seus trabalhos sobreas mulheres san. Com um cancro fataldiagnosticado, Marjorie Shostak decidiucorajosamente passar o grosso do tempo devida que tinha (algumas semanas) entre osnómadas de que tanto gostava, no Kalahari.Gravou conversas no deserto. Voltou paraNova Iorque e morreu. De entre as conversastranscritas e postumamente publicadas,destaco uma. Numa noite tranquila à voltade uma fogueira, um velho !Kung levantou osolhos das flechas de caça cujas pontasestava a recobrir de veneno (insectosesmagados) e inquiriu, em !Kung: “então etu, Marjorie, achas que o O. J. Simpson éculpado, ou inocente?”. Todos podemosimaginar a gargalhada de encanto deMarjorie Shostak. Uma universalização éticaou um crescendo nas identificações étnicastransnacionais? A ascendência do McWorld oua do Jihad?
O Mundo está mais pequeno do que aquiloque parece. Em 1991, numa pequena cidade doextremo norte de uma pequena península doMar de Arafura, na Austrália (não muitolonge de Timor), foi levado a tribunal umcaso “moderno”. Um consórcio russo, ao que
116
parece suspeito de ligações obscuras a umadas Mafias de Moscovo e São Petersburgo,tencionava construir, em coligação com know-how técnico britânico e californiano, umasérie de gigantescas rampas privadas para olançamento de satélites comerciais. Osobjectivos eram os de tirar partido dasvantagens da localização equatorial daplataforma espacial, do baixo preço dosterrenos, e da disponibilidade de umempreendedor Mayor australiano, preocupadocom a promoção de investimento em infra-estruturas numa região economicamentedeprimida. O projecto falhou. As causas dofiasco de tão magna empresa sãosurpreendentes: um agrupamento deAborígenes reivindicou, perante asinstâncias judiciais da região, que o localseleccionado faria parte integrante daTerra dos Sonhos dos seus antepassados, tãoimportante a nível das cosmologiastradicionais. O juiz deu-lhes razão. Oinvestimento abortou. Jihad ou McWorld?
7.
Contra esse pano de fundo,podemos então concluir delineando muitocursoriamente os contornos de um balançogenérico do paradigma de Samuel Huntington.No que precede, e pese embora a indubitávelsofisticação do modelo do Clash of Civilizations,
117
tentei sublinhar e pôr em relevo algumasdas suas insuficiências. Esbocei-as, emJulho de 1999, em termos largamenteavulsos. Fi-lo, nesta comunicação,recorrendo a comparações-contraposiçõessistemáticas com o que considero umamodelização mais dinâmica, talvez maisconflitual, e certamente mais conforme comos factos empíricos. Nos dois casos,esforcei-me por pôr a tónica na“frugalidade analítica”, chamemos-lheassim, do paradigma do notável especialistanorte-americano. E não deixei de trazer àtona o que considero como algumas dasdificuldades (que creio serão cada vezmaiores) em gerar previsões plausíveis (oumesmo interpretações convincentes), com quedepara o paradigma huntingtoniano. Recapitulando: nas sociedadesmodernas, e ao invés do que muitos previam,o boom económico, que alterou para muitomelhor o nível de vida da larga maioria daspopulações, de maneira alguma levou àsecularização, e ainda menos aodesaparecimento das religiões. Pelocontrário, muitas vezes a religiosidadeintensificou-se. A escalada subiu de tomlogo que, em Estados delimitados porfronteiras etno-culturais relativamentearbitrárias e implantados num Mundo cadadia mais interdependente, processosrelacionais de afirmação étnico-identitáriacomeçaram um empolamento ruidoso e
118
generalizado: sem surpresas (dadas asafinidades intrínsecas existentes), nãoraramente as religiões têm servido deveículos para asserções relacionaisviolentas. Como insisti em Julho de 1999,vivemos rodeados de bombas-relógio destetipo. E as consequências têm sido visíveis,com a eclosão de numerosos conflitosétnico-religiosos no Mundo, sobretudo desdeo fim do quadro bipolar que os continha; umenquadramento que ademais, em simultâneo,atenuava a velocidade dos processos deglobalização que, como vimos, propendemprecisamente a potenciar explosões dessas.Não é surpreendente que, neste género decenário conjuntural, tanto se tenhauniversalizado a “tribalização” comoreacção generalizada; e que, por issomesmo, numa espiral ascendente, o processode degradação dos relacionamentos étnico-religiosos se venha ainda hoje como que aalimentar a si próprio. Daí à precipitada reificaçãoteórica desse processo por modelosparadigmáticos como o de Huntington, nãovai senão um pequeno passo. Que essateorização tenha emergido no Ocidente nãoserá grande surpresa. Com eficáciavariável, os “ocidentais” desde há muitoque se “inventam” a si próprios comoformando uma “civilização”, um bloco, umaentidade de alguma forma coerente e dotadade traços distintivos comuns. Tal como de
119
resto, mutatis mutandis, se “imaginam” osmuçulmanos. É milenar, para além disso, atendência para a demarcação-oposição mútua(histórica, étnica e religioso-cultural)entre estes vizinhos desavindos.“Ocidentais” e muçulmanos, em muitossentidos, entredefinem-se. E,previsivelmente, a conjuntura actualfavorece (sobretudo em agrupamentos emposições estruturais relativas deste tipo)a circulação de representações agonísticaspolarizadas que insistam nairredutibilidade e na incomensurabilidadeúltimas das “entidades em confronto”. Aresultante “ideológica” está à vista. Paramuitos muçulmanos (quantas vezes para talacicatados por elites preocupadas em reteras rédeas do poder em situaçõesimprevisíveis de mudança acelerada), comodecerto para muitos “ocidentais” (e,obviamente, para muitíssimos “ortodoxos”),“guerras culturais” generalizadas mais doque um risco são uma inevitabilidade. Estetem sido, por infelicidade, o Zeitgeist. A meu ver, foi precisamente esse “Espíritodo Tempo”, e não a realidade empírica de uma ordeminternacional em formação, aquilo que Huntington tãobem logrou capturar e cristalizar com o seu paradigma.Num primeiro momento, Huntington produziu oque chamei um “efeito de revelação”, aoaparentemente disponibilizar uma arrumaçãofácil de acontecimentos superficialmentetão policentrados, complexos e ameaçadores,
120
em termos que tanto se adequam aos nossospressupostos profundos. Mas, num segundomomento e com algum recuo, a tesehuntingtoniana não deixou de despertar umsóbrio sentimento de hesitação,nomeadamente em sectores cosmopolitasocidentais e “islâmicos”; o perigopressentido era de que o paradigma setornasse numa self-fulfilling prophecy, ao sertomado como inevitável. Este risco édecerto cada vez menor. Como tenteidemonstrar por meio de exemplos que alinheinos termos de contraposições que meesforcei por encadear a vários níveis, aprogressão rapidíssima da interdependênciae da globalização têm vindo a tornar dia-a-dia menos verosímil o modelohuntingtoniano. O Mundo escapa-lhe cada vezmais. E o “excesso” do Mundo face a um modelono essencial redutor e estático tende amanifestar-se por numerosos processos, e agerar inúmeros acontecimentos, que parecem“sair em tangente” em relação a esteúltimo. Listei alguns casos disso mesmo.Assumindo todos os riscos que tal implica(mas sem menosprezar as vantagens dasconjecturas), não é difícil ilustrá-lo,agora em termos prospectivos. Queroterminar com uma reperspectivação que, nãosendo talvez muito positiva, será decertomais construtivista. Propor senão umparadigma, sempre em riscos de anacronismo
121
numa ordem internacional em transformaçãoacelerada, pelo menos uma linha de fuga, umhorizonte. Uma interpretação de um alvo emmovimento. Por uma questão de coerência,mantenho a atenção poisada no parsoberania-globalização. Como alternativa ao“mapa” huntingtoniano, quero sugerir umaleitura possível dos processos de erosãodas soberanias westphalianas tradicionais,e da globalização em curso. Propor, nãotanto um paradigma, quanto um algoritmo. Em súmula, e retomando o quedisse: da intervenção Aliada no Kosovo aoaffaire da extradição do General Pinochet, daanunciada reforma de fundo das NaçõesUnidas à Bósnia-Herzegovina, a Angola, aocentro da África (Ruanda, Burundi earredores), à Serra Leoa, à Somália, aonorte e ao sul do Iraque, ao Cambodja, aTimor-Leste, tem crescido a intrusão dacomunidade internacional em regiões que atéaqui o provecto dogma da soberania nacionalreservava como coutadas. Perante uma cadavez mais nítida redimensionação ética enormativa de um sistema internacionaltradicionalmente anárquico, é difícilevitar a impressão de que uma suaestruturação política se começa enfim acristalizar. Não um Leviathan hobbesiano: umahipotética integração global, mesmo que umdia possa vir a ocorrer, ainda está, talvezfelizmente, muito longe. Mas decerto que acada vez mais intrincada interdependência
122
genérica não se compadece com a antigaformatação unidimensional, saída da Paz deWestphalia, em 1648, que sob o peso detantas vicissitudes a Europa legou aosistema internacional que sob sua égide sefoi construindo. Não cabe aqui tentar umqualquer rastreio de um processo tãocomplexo e com tantos meandros como esse.Quereria tão-só focar, a traço grosso, umdos seus aspectos mais relevantes para aminha linha de argumentação. Odesmembramento do Império Otomano, tal comoaliás o rescaldo da Primeira Grande Guerra,concorreu para multiplicar no Mundo osProtectorados, regiões e países cujasoberania foi transferida ou suspensa, eentregue à guarda de outrém. O direito deingerência foi, na prática, ampliado.Depois da Segunda Guerra Mundial, oprocesso seria retomado: Protectoradosforam criados em todos (ou quase todos) oscontinentes, sob a égide de um ou outro dosEstados vencedores. Com a luta político-ideológica que acompanhou a clivagembipolar, o processo de algum modo estancou.No percurso, deu-se uma sensível erosão: asdescolonizações dos anos 50, 60 e 70 doséculo XX pareceram, durante alguns anos,fazer retroceder esses e outros maisclássicos sistemas de tutela, que tanto aambição quanto a implacável “balança dopoder” e os mecanismos wilsonianos de
123
collective security tinham distribuído pelosEstados. Mas as fundações da arquitecturado sistema internacional (a distribuiçãoneste do poder) não tinham sobrevividoindemnes; uma explicação do Mundo em termosda lógica dos Estados revelava-se cada diamenos satisfatória. No calor da GuerraFria, e sem os benefícios da retrospecção,isso não era porventura óbvio: abipolarização dos cenários políticosinternos como dos externos acentuouparadoxalmente a imagem do protagonismodestes últimos (ou, em todo o caso, de doisdeles, as “superpotências”) num sistemainternacional cada vez mais complexo e maisinterdependente. Vista retrospectivamente,esta progressão, ou melhor estaretrogressão, talvez tenha no entanto sidomais aparente do que real. Sobretudo sedeixarmos de ver os Estados soberanos comoos únicos “verdadeiros” protagonistas de umsistema internacional em que muitos novosactores (dado que a crescenteinterdependência se compadece pouco comfronteiras territoriais) têm vindo acontracenar. A direcção sugerida pelasmudanças recentes na “ordem internacional”contemporânea (tanto quanto conseguimosentrever um sentido), parece serpersistente. E não é a de um regresso aopassado. Ultrapassados os momentos iniciaisde uma transição que se adivinha
124
prolongada, assente alguma da poeiralevantada, vislumbra-se a silhueta de umanova ordenação; a emergência rápida de umanova configuração do sistema internacionalem lugar da aritmética de um mero somatóriode Estados ou da geometria de umacoagulação em “blocos civilizacionais”.Antes uma topologia. Um alastrar de novasmanchas um pouco por todo o Mundo, a cobertura dezonas e regiões por uma nova tutela: a de umacomunidade internacional cada vez mais constrangente,com a qual, por pressões políticas globalizantesinexoráveis, todos estamos a ser obrigados a cooperar.Não se trata de verdadeiros Protectorados,já que não são seus atributos nem umasubmissão permanente, nem a anexação por umqualquer Estado (ou agrupamento) maispoderoso. Não é seu motivo primordial (ou emtodo o caso a sua causa primeira) umeventual interesse de um qualquer grupo emmão-de-obra barata, em recursos naturaisvaliosos, em maior peso específico próprio,ou em melhor posicionamento geo-estratégico. Há, antes, um objectivobásico: o de garantir mínimos normativosque assegurem a integração do agrupamentoem que é levada a cabo a intervenção (ou,pelo contrário, a salvaguarda disso mesmoface à prepotência do Estado soberano deque faz parte), sem desacatos, numa novaordem mundial pós-westphaliana56 em gestação.56 Na obra recente citada, Nye (1997: 192-194) advoga umamediação interpretativa interessante entre as posições quedenomina respectivamente de “liberal” e de “realista”, no que
125
Não será talvez por isso totalmenteinfundamentado conjecturar que aquilo a queassistimos seja uma efectiva transformaçãoda estrutura e da natureza da comunidadepolítica internacional, porventura peladelineação progressiva de um novo “contratosocial” fundador. Sem que tal implique umqualquer utopismo. A interdependênciacomplexa e a polaridade multidimensionalque subtendem a ordem mundial contemporâneaacarretam, sem sombra de dúvida,consequências ambivalentes. A globalização,por outras palavras, tem avessos. Um delesé a marginalidade a que até aqui temcondenado os que ficam de fora. Outroespelha-se nas desigualdades internas queexponencia. Mas desenrola também frentesboas. Inviabiliza (pelo menos nesta fase
toca à evolução dos dispositivos de balance of power e dos decollective security, no Mundo pós-bipolarização. A linha deargumentação de Nye é a seguinte: o potencial wilsonianoliberal implícito em organizações como as Nações Unidas, sóagora que terminaram muitos dos bloqueios-veto (tão típicosdo cenário bipolar da Guerra Fria) se está a tornar evidente.Para uma cabal descrição deste “novo Mundo híbrido”, defendeNye, nem os pressupostos do paradigma liberal nem os dosparadigmas realistas chegam; há que saber produzir modelossincréticos mais latos e mais inclusivos. Uma posição quepartilho e que creio rica em implicações. Parece-meinteressante, por exemplo, ponderar a hipótese de vir ageneralizar-se, neste novo contexto, o conceito de negativesovereignty desenvolvido pelo já citado canadiano R. Jackson(1990) para dar conta do que chamou os “quasi-Estados” doTerceiro Mundo: Estados que dependem, para a sua própriasobrevivência, do apoio continuado da ajuda externa e de umquadro jurídico internacional consentâneo. Uma situação defundo hoje em dia bem mais generalizada, como aqui defendo.
126
inicial) hegemonias unipolares duradouras.E, pace Huntington, ao fomentar movimentosde integração-fragmentação, desencorajablocos que sejam estáveis em mais do queuma das suas dimensões. O que hoje lemos,pela negativa, como “ingerências”, “perdasde soberania”, “erosão dos Estados-nação”,ou “sistemas de tutela” e “soberaniasvigiadas”, amanhã talvez vejamos comoprimeiro momento, incontornável, de umanarrativa histórica de construção ecriação57. As intervenções “humanitárias”que têm pautado esta passagem de Milénio57 Nada disto é particularmente heterodoxo. Inúmeros têm sidoos analistas, cá como lá fora, que têm vindo a equacionar emtermos conexos algumas das alterações em curso no Mundocontemporâneo. Nem esta perspectivação parece exibirparticulares afinidades com quaisquer escolhas político-ideológicas que possamos preferir. Em Portugal, num livrosobre a emergência de um constitucionalismo europeu publicadoalguns meses antes da sua morte repentina, Francisco LucasPires (1997: 14ss.) escreveu sobre a deslocação “para cima”,para uma localização “supra-estadual”, do exercício do podersoberano: aquilo que, muito graficamente, chamou “otransbordo do poder”. Mais: Lucas Pires previu mesmo ainvenção, no século XXI, da “fórmula da passagem de Estado-dirigente a Estado-subsidiário”(ibid.) que, segundo ele, marcaa Modernidade. Noutro lado do espectro, Boaventura SousaSantos (1998: 47-48) escreveu também (e também num estiloinconfundível) sobre “a exigência cosmopolita da reconstruçãodo espaço-tempo da deliberação democrática”, que previu iráimpor “um novo contrato social…moderno, [que] não podeconfinar-se ao espaço-tempo nacional estatal e deve incluirigualmente os espaços-tempo local, regional e global”. Talveza visão estritamente contratualista não seja já a maisadequada . Mas certamente que a generalização de asserçõesdeste tipo, vindas um pouco de toda a parte, sublinha umaconsciência crescente de que no Estado westphaliano e nasoberania à la Jean Bodin, cabem hoje mal muitas dasrealidades internacionais intrincadas de um presente cada vezmais globalizado.
127
não são boas nem são más. Talvez nem sejaminevitáveis. Mas desenham, a luz forte, oMundo que temos. Não será muito especulativa (nemparticularmente inovadora) esta conjectura.Mas excede claramente todas as previsõesgeráveis a partir do paradigma (cada vezmais datado) de Huntington. Assegurar que alógica sistémica (e a vontade política),que sancionam e exigem ingerências“policiais” desse tipo, se consubstanciemna criação progressiva de uma sociedadeinternacional que seja democrática epluralista58, em que a diversidade seja de
58 As dimensões disso não têm passado despercebidas. Numacolectânea recente (Lensu e Fritz, 2000), são aventadasvárias modelizações e “soluções” teóricas para um problemainevitável suscitado pela progressão recente da ordeminternacional. Um problema que Lensu enuncia do seguintemodo: how can we encounter “otherness” or difference in an ethical way? Aquestão resulta da situação de claro value pluralism do Mundo emglobalização; e redunda na óbvia existência daquilo que elaapelida de diverse ultimate values (op. cit.: xviii). Segundo a autorasenior, a maioria dos debates entre defensores ocidentais deDireitos Humanos e os adversários não-ocidentais destesilustra the fundamental question facing normative theory in InternationalRelations: how to reconcile value pluralism with an appropriate ethical orientation(good/right/fair/just) (ibid.), num Mundo no qual as opiniõesdivergem muito no que toca, nomeadamente, ao contéudo eextensão de “valores” básicos e fundamentais desse tipo. Umapostura mais negativa face a esta situação é igualmentepossível. Já no princípio dos anos 90, num curto mas incisivoartigo redigido segundo uma cartilha mais historicista quesociológica e muito mais político-ideológica que ético-filosófica, I. Wallerstein (o célebre teórico norte-americanodo “Sistema-Mundo”) tinha sublinhado a inevitabilidade do quechamou cultural resistance, na luta moderna contra the falling away fromliberty and equality; uma contenda que (com algum pessimismo “pré-Huntington”) considerava estar na ordem do dia, dada aascensão em flecha do “global” (1991: 105).
128
regra e as identidades específicas quetenhamos por bem arvorar não sejam nemexcluídas nem neutralizadas, um Mundo emtodos os recantos do qual vigore o valorsupremo da Liberdade, parecem-me ser asmais meritórias das “guerras culturais” queé urgente que nos saibamos preparar paraempreender.
BIBLIOGRAFIA
Aguiar, Joaquim (1998), “A crise asiática eas suas repercussões”, Política Internacional 2:115-141.Anderson, Ben (1991), Imagined Communities.Reflections on the origin and spread of nationalism,Verso.Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the World,Ballantine Books, New York.Brown, Chris (1995), “Internationalpolitical theory and the idea of the worldcommunity”, em (ed.) Booth, K. e Smith, S.International Relations Theory Today: 90-110,Cambridge.Buchholt, Helmut (1998), “Southeast Asia:the way to modernity”, em (ed.) J. Schouten,A Ásia do Sudeste. História, Cultura e Desenvolvimento:97-105, Vega.
129
Bull, Hedley (1977), The Anarchical Society: a studyof order in world politics, McMillan, London.Chomsky, Noam (1999), The New Military Humanism.Lessons from Kosovo, Pluto Press, London.Gellner, Ernest (1992), Postmodernism, Reasonand Religion, Routledge, London.Giddens, Anthony (1999), Runaway World. Howglobalization is reshaping our lives, Profile Books,London.Goldstein, Judith e Keohane, Robert (ed.)(1993), Ideas and Foreign Policy. Beliefs, institutionsand political change. Cornell University Press.Held, David, McGrew, Anthony, Goldblatt,David e Perraton, David (1999), GlobalTransformation. Politics, Economy and Culture, PolityPress.Huntington, Samuel (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25.________________ (1996), The Clash of Civilizations and theremaking of World Order, Simon and Schuster, NewYork.________________ (1999), “The Lonely Superpower”,Foreign Affairs, 78(2): 35-50.Jackson, Robert (1990), Quasi-States: sovereignty,international relations and the Third World, CambridgeUniversity Press_________________(1993), “The Weight ofIdeas in Decolonization: normative changein international relations”, em (ed.)Goldstein, J. e Keohane, R., op. cit.: 111-139.Katzenstein, Peter (1993), “Coping withTerrorism: norms and internal security in
130
Germany and Japan”, em (ed.) Goldstein, J.e Keohane, R., op. cit.: 265-297.Keohane, Robert (1995), “InternationalInstitutions: two approaches”, em DerDerian, J., International Theory: criticalinvestigations: 279-307, MacMillan, London.King, Anthony (ed.) (1991), Culture,Globalization and the World-System. Contemporaryconditions for the representation of identity, MacMillan.Knutsen, Torbjörn (1999), The Rise and Fall ofWorld Orders, Manchester University Press. Kolko, Gabriel (2000), “Kosovo, leçonsd’une guerre”, Manière de Voir 49: 17-21,Paris.Krasner, Stephen (1999), Sovereignty: OrganizedHypocrisy, Princeton University Press.Leach, Edmund (1977), Custom, Law and TerroristViolence, Edinburgh University Press.Lensu, Maria e Fritz, Jan-Stefan (eds.)(2000), Value Pluralism, Normative Theory andInternational Relations, Millenium, London.Linklater, Andrew (1998), The Transformation ofPolitical Community. Ethical foundations of the post-Westphalian era, Polity Press, Cambridge. Lucas Pires, Francisco (1997), Introdução aoDireito Constitucional Europeu, Almedina, Coimbra.Marques de Almeida, João (1998), “A paz deWestfália, a história do sistema de Estadomoderno e a teoria das relaçõesinternacionais”, Política Internacional 18(2): 45-79.Marques Guedes, Armando (1999), “AsReligiões e o Choque Civilizacional”, em
131
Religiões, Segurança e Defesa: 151-179, Institutode Altos Estudos Militares, Atena.Nye, Joseph (1991, tradução 1992), “O Mundopós-Guerra Fria: uma nova ordem no Mundo?”,Política Internacional 5(1): 79-97.___________(1997), Understanding InternationalConflict. An introduction to theory and history, Longman.Ramonet, Ignacio (2000), “Ingérence etSouveraineté”, Géopolitique: 51-55, Paris.Sousa Santos, Boaventura (1998), Reinventar aDemocracia, Gradiva e Fundação Mário Soares,Lisboa.Strange, Susan (1996), The Retreat of the State. Thediffusion of power in the world economy, CambridgeUniversity Press.Tiesler, Nina (1999), “New Social Realitiesand Religious Consciousness. Theologicalconcepts of ‘home’ and the cognitiverelationship between European Muslims andthe Islamic World”, University of Sussex,trabalho não publicado.Tozy, Mohamed (1997), “Recompositionidentitaire et migration religieuseinternationale. Le cas de jama’at at-tabligh wada’wa”, Maghreb Studien 10: 259-266, München.Wallerstein, Immanuel (1991), “The Nationaland the Universal: can there be such athing as world culture?”, em (ed.) King,A., op. cit.: 91-107.Walz, Kenneth (1959), Man, the State and War: atheoretical analysis, Columbia University Press.Waters, M. (1995), Globalization, Routledge,London.
132
3.
O FUNCIONAMENTO DO ESTADO EM ÉPOCA DEGLOBALIZAÇÃO. O TRANSBORDO E AS CASCATAS DOPODER59
1.59 Comunicação apresentada como parte do Curso de Reciclagemdos Auditores do Curso de Defesa Nacional, na manhã de 19 deAbril de 2001, no Instituto de Defesa Nacional.
133
Há cerca de um ano [ou seja, em1999] tive o gosto de escrever duascomunicações sobre um assunto aparentadocom este, que apresentei noutrainstituição, o Instituto de Altos EstudosMilitares. Numa delas, que li num colóquiosubordinado ao tema Religiões, Segurança e Defesa,coube-me levar a cabo uma ponderação “neo-realista” (como então a caracterizei60) dascélebres teses de Samuel Huntington sobre oClash of Civilizations: essa divisão do Mundo emgrandes blocos culturais que, segundo ele,constituiria o pano de fundo de futurasconfrontações, desde que a ordeminternacional bipolar se eclipsou com adissolução da União Soviética. Na minhasegunda palestra, revisitei o mesmoparadigma huntingtoniano, adoptando, porém,uma perspectiva61 muitíssimo mais“institucionalista” e “construtivista” nascríticas que então lhe formulei. Nos doiscasos, discordei do modelo tão brilhante elucidamente proposto pelo especialistanorte-americano; e em ambas asoportunidades contrapus-lhe uma visão mais“globalista” da ordem internacional
60 Armando Marques Guedes (1999),. “As Religiões e o ChoqueCivilizacional”, em Religiões, Segurança e Defesa: 151-179,Instituto de Altos Estudos Militares, Atena.61 Armando Marques Guedes (2000),. “As guerras culturais, asoberania e a globalização”, Boletim do Instituto de AltosEstudos Militares, 51: 165-162.
134
emergente. Quero agora retomar esse tópico,deixando definitivamente de lado (pelomenos para este efeito) a obra deHuntington. O tema que aqui trago aflora achamada globalização. Tenho plena consciênciade que se trata de um termo polémico,ambíguo, e bastante carregado e conotado,que alguns preferem, por uma, outra, ouvárias dessas razões, não utilizar de todo.Devo começar por dizer que questõesterminológicas me interessarão muito poucono que se segue. Sei da importância delas,mas conheço também os seus limites; aquestão, por isso, não me inquieta muito.Não será, em todo o caso como conceito, mastão-só como denominação que, por economia delinguagem, utilizo o vocábulo. A naturezados objectivos que tenho permite-mo. Nãopretendo empreender uma qualquer ponderaçãode fundo da sua hipotética naturezaessencial, sobre as coordenadas nocionais eporventura políticas das utilizações quedele são feitas, ou quanto ao seu alcancegeral enquanto processo. Mais modestamente,tenho antes por objecto o impacto concretodeste(s) processo(s) nos Estadoscontemporâneos. E, mesmo isto, tão-só numsentido indicativo: não me irei deter emmais do que meia dúzia de “frentes”, atépara não maçar em demasia quem me queiraouvir.
135
Talvez valha a pena enunciar comclareza o meu intuito nos termos do métodode exposição que aqui vou seguir. Tomareicomo pontos pivotais de referência doistipos de palco e cenário, duasconfigurações, (bastante diferentes uma daoutra) da ordem mundial e da organizaçãopolítica no Mundo moderno contemporâneo.Por um lado, aqueles associados com asrelações até há pouco tempo tradicionaisentre Estados, os seus relacionamentosgeopolíticos “clássicos”, por assim dizer.Por outro lado, aqueles outros ligados àsordenações emergentes da política e dagovernação62 global. Vou, de algum modo,comparar estas duas conjunturas, atradicional e a presente63. Nessa62 Governação é termo que aqui utilizo no sentido degovernance, uma palavra inglesa difícil de traduzir.63 Uma salvaguarda. No título original desta comunicação,apresentada no Instituto de Defesa Nacional no dia 19 deAbril de 2001, era feita alusão à “função do Estado”. O queentendi de uma maneira que convirá que torne explícita. Nãovejo que aos Estados incumba uma função especial, mas simfunções; não quereria em todo o caso restringir as minhasconsiderações a um qualquer Estado em particular (oportuguês, por exemplo), mas antes a Estados contemporâneosde vários tipos; e, por último, encaro função não comomissão, mas, em termos mais funcionais, como “articulação deuma parte com um todo”. Por outras palavras: o meu tema, emboa verdade, é não “a função do Estado em época deglobalização”, mas essencialmente “o funcionamento dosEstados em época de globalização”. Coisa que, não fugindo aotítulo proposto (nem sequer levando a cabo, stricto sensu, umaverdadeira re-interpretação, já que me ative a uma sualeitura possível), em todo o caso certamente o modula. Asminhas razões para o ter feito são simples de enunciar:pareceu-me mais interessante (tanto do ponto de vistacientífico, como do didáctico) e, em termos genéricos, mais
136
comparação, ater-me-ei a impactos políticose a impactos jurídicos. Deixo assimlargamente de fora escalas tão centraiscomo a económica, a cultural, ou, strictosensu, a militar; excepto quando estasdimensões (como é tantas vezes o caso) semostram indissociáveis de algum dos todosem que me quero deter.
O encadeamento que escolhi para aquiloque irei expor é simples. De uma formamuito positiva, quereria começar pordelinear um breve esboço genérico daquiloque considero como algumas das principaistraves-mestras da ordem mundialcontemporânea. Um esboço de uma ordenaçãocuja estrutura, devo em todo o caso vincar,me parece marcada, por um lado, pelamultidimensionalidade e, por outro, pelacomplexidade. O que proponho aqui tentarlevar a cabo, pode ser visto como de algumamaneira encarar as questões de fora paradentro, por assim dizer. A partir de umacaracterização estrutural do sistemainternacional contemporâneo (by and largeaquele que o fim da Guerra Fria e aimplosão da ex-União Soviética noslegaram), gostaria de tentar equacionar
eficaz a esses níveis, ponderar a arquitectura que subjaz àsnovas estruturas das ordens nacionais e internacionais, doque produzir um eventual policy paper, não-encomendado, para oEstado português. Sobretudo, pareceu-me ter sido nessesentido que o amável convite para estar no IDN me foiformulado.
137
algumas das consequências (umas delas maisnotórias, outras porventura menos)impostas, pela nova ordem internacional emgestação, sobre Estados que na práticavieram do Mundo anterior. Não vou ser muitoambicioso. Mais do que inovar, ensaiareifazer uma arrumação.
Tenho, em relação a estas questões, oque creio ser uma postura moderada. Como seirá verificar, não sou de opinião queestejamos hoje perante mudanças tão rápidase profundas que, em consequência, asfundações elas mesmas da ordeminternacional devam ser imediata eradicalmente revistas. E muito menos pensoque tal esteja a acontecer em direcçõesprevisíveis e unívocas: sejam elas de umatotal integração económica do Mundo, ou deuma criação iminente de uma comunidademundial generalizada (o que me parece umahipótese remota), contando com ou sem adominação “imperial” dos Estados Unidos daAmérica enquanto potência hegemónica. Mastambém não acredito muito nas reticênciasdos analistas mais cépticos; nomeadamente,nas daqueles que não vêem, no andar dacarruagem, senão uma forma soft de umainternacionalização comparativamentemitigada; nos que se recusam a reconhecersenão um processo módico, em que blocoscomerciais cada vez mais pesados e Estadosnacionais incólumes (pior, alguns delescada vez mais poderosos e articulados em
138
entidades regionais fortíssimas, sejam elaspolíticas, económicas, ou civilizacionais)estejam a manter um Sul (dia-a-dia maisempobrecido e marginalizado) como um tristecativo das suas conveniências ebeneplácito, concedidos ao sabor deinteresses nacionais (estreitos, e por viade regra muito cautelosamente camuflados)de meia dúzia de beneficiários ricos e doNorte. Esta versão das coisas parece-meexagerada e descabida, parece-me enfermarde um reducionismo que mais entorpece doque esclarece.A minha atitude é (penso eu) mais
comedida. Partilho do sentimento de queestá de facto em curso uma grandetransformação, profunda e não trivial, dasfundações estruturais da ordem internacional.Não é a primeira vez que isso ocorre, enoutros casos terá tido, nalgumas das suasdimensões, impactos e consequênciasmaiores64. Nunca porém elas ocorreram com aintensidade ou a extensão de hoje; e nuncade uma maneira tão sistemática ecoordenada. Não creio, todavia, que astransformações em curso sejam acquisirreversíveis, numa qualquer narrativaépica de integração-orquestração dopanorama dissonante daquilo que realistas e64 Para uma comparação, pormenorizadíssima, do contraste entreas transformações globais hoje em curso e os seusantecessores históricos avulsos, convém a consulta de D. Heldet al. (1999), sobretudo pp. 32-87 e 414-436. Held demonstraque, tanto quantitativa como qualitativamente, estão hoje emcurso transformações globais coordenadas nunca antes vividas.
139
neo-realistas chamam (na esteira de ThomasHobbes) a anarquia internacional65. Nem meparece, aliás, que os Estadoscontemporâneos tenham vindo, pelo menos emtermos absolutos, a perder poder: bem pelocontrário, têm-no ampliado em quase todasas suas vertentes, ainda que, em termosrelativos66, lhes seja hoje em dia forçadauma partilha deste em várias direcções, umarepartição forçada que muitas vezes têmtido alguma dificuldade em digerir.A minha impressão é compósita, por assim
dizer. O que me parece, isso sim, é que,por via dessa transformação coordenada de fundo65 Para uma elucidação de conceitos básicos como este, deanarquia internacional, é útil a leitura de Hedley Bull(1977). Para uma defesa acérrima de um hobbesianismoestreito, ver Kenneth Walz (1959). Para uma crítica mordazdesse reducionismo, ler João Marques de Almeida (1998). EmJoseph Nye (1997), há uma perspectivação bastante equilibradado tema geral. Para uma crítica de fundo, de muito maisfôlego, convém ver o amplíssimo estudo de Andrew Linklater(1998), cujo pressuposto de base é exactamente o de umatransformação, no sentido do alargamento, das “comunidadespolíticas” na ordem internacional contemporânea, lograndoporventura uma reformulação crítica habermasiana profundadaquilo a que o seu mentor académico na London School ofEconomics, Hedley Bull, chamava (como abaixo iremos ver) thenew medievalism. É interessante notar que muitos autores,nomeadamente David Held (1999), falam em termos de“democratizar e civilizar a anarquia”, quando se referem aosprocessos de globalização.66 Para uma esplêndida discussão deste ponto, que inclui umaviva denúncia do utopismo daqueles que quereriam ver na linhade horizonte um fim precoce dos Estados, é imprescindível aleitura do tão citado artigo recente de Michael Mann (1999).Num mesmo sentido, e para uma análise geral do que ele chamauma hybrid World Order, ver as últimas páginas do magnífico textointrodutório de J. Nye (1997: 191-194) sobre a natureza dosistema contemporâneo de relações internacionais.
140
da ordenação global que creio está emcurso, estamos a assistir a uma reconfiguraçãosistemática das formas tradicionais desoberania dos Estados (mas sem que aquela,ou estes, se estejam realmente adesvanecer) e a uma profunda reordenação,concomitante, do sistema vigente derelações internacionais. Em consequência disto (e como seucorolário): tenho a forte convicção de quea ordem internacional contemporânea émelhor compreendida como uma ordenaçãocomplexa, multidimensionada (e, por issomesmo, compreensivelmente muitocontestada), de interdependênciascrescentes; uma ordem com que o clássicosistema internacional de Estados (atradicional ordem westphaliana) convivemal; e uma ordem na qual os Estados seapresentam como cada vez mais imbricados emteias regionais e globais de todo o tipo,que os atravessam e lhes são muitas vezestransversais.
2.
Justifica-se decerto esmiuçar um poucotudo o que acabei de afirmar em termos tãocategóricos, ainda que fazendo-o apenas atraço grosso. Delinear, para aquilo queobservamos no Mundo, a mecânica de um modelogenerativo. Propor, para a análise da
141
globalização, uma morfologia e umafisiologia, por assim dizer. Para repetir,sem grandes alterações, o que escrevi hácerca de um ano, em 1999: vários são ospares de forças em tensão, representemo-loassim, que me parecem subjazer àconfiguração de relações segundo a qualreconhecemos neste momento a dinâmicacaracterística daquilo a que seconvencionou chamar a “ordeminternacional”67. Trata-se de forças porvezes antagónicas, que não raramentecompetem e se degladiam e que talvez porcomodidade convenha conceber comoconstituindo “campos de forças” (comodecerto diriam as personagens de outrasordens internacionais imensamente maisamplas, como a do Império Galáctico do StarWars); campos esses que constrangem asformas, e os blocos, que vão emergindo e asconfigurações que se vão cristalizando (semnecessariamente muito durarem…) nos palcosmundiais contemporâneos. E são forças ecampos que, naturalmente, não deixam deexercer pressões enormes sobre a próprianatureza e estrutura (e logo a forma elamesma) dos Estados, até há bem pouco tempoos únicos verdadeiramente consequenteselementos de um sistema internacional hojea incorrer em enormes transformações.
67 Para uma colectânea relativamente recente sobre questõesconexas, é recomendável a leitura de (eds.) T. V. Paul e J.A. Hall (1999), International Order and the Future of World Politics.
142
Pormenorizá-lo mais não é nadacomplicado. Por uma questão de método, eantes de entrar em força em questões que seprendem, directamente, com uma ponderaçãode pormenor de parcelas da interacçãoestrutural dos Estados contemporâneos com osistema internacional, talvez valha a penacomeçar por uma espécie de retrato-robot damecânica dos processos que entrevejo. Parasimplificar, não vou trazer aqui mais deduas ilustrações (das várias possíveis),das numerosas tensões estruturais quesubjazem ao sistema internacional pós-bipolarização.
Temos assim um binómio (apelidemo-lo deJihad versus McWorld, para utilizar aterminologia vívida e gráfica de BenjaminBarber68) que se manifesta, por exemplo,pela competição entre a visão westphalianaclássica de um imperium pouco questionado dasoberania e autonomia dos Estados, por umlado; e, por outro lado, pelasincontornáveis interdependências de todo otipo a que temos vindo a chamarglobalização, que têm conduzido ao seuquestionamento endémico. Uma das imagens dacontemporaneidade: a homogeneização e atribalização são posturas de estiloassumidas num duro degládio, num pas de deuxsofisticado que na última dezena de anostem subido à cena. O que tem alguma razão
68 E exposto com maestria na obra de Benjamin Barber (1996),Jihad vs. McWorld. How globalism and tribalism are reshaping the world.
143
de ser empírica, já que são tendências quetêm efectivamente tomado a ribalta emarenas de um conflito de fundo com váriasfrentes, uma tensão cuja resultante geral,a nível de uma forma renovada para osEstados, não é talvez ainda óbvia. Mastrata-se, como veremos, de um conflitocharneira, de uma disputa crucial que actuade maneira decisiva nas reconfigurações denatureza e estrutura a que os Estadosmodernos se tem vindo a ver sujeitos nareordenação global das coisas que julgoestar em curso.
Aludirei também a mais, no que sesegue. Para um qualquer observador atento,destacam-se, no Mundo de hoje, os fossosescavados entre os Estados clássicos ediversos dos novos actores internacionais,e entre antigas e mais recentes localizações dopoder. Mais uma vez (agora a este outronível) julgo que se verificam realmenteinovações de monta nos palcosinternacionais contemporâneos. Sãonovidades que, no concreto, redundam, porexemplo, em conjunturas de tensão entrevelhas alianças e coligações tradicionais eas novas, mais pragmáticas, que defrontam.Há, pura e simplesmente, mais actores nosnovos palcos internacionais: o cartazadensou-se. E há novos mecanismos emoperação: o seu elenco também foienriquecido. Surpreendente seria,
144
convenhamos, se o enredo da narrativainternacional se tivesse mantido.
E, com efeito, não se manteve. Não énada difícil perceber porquê. As váriasforças que acabei de apontar obviamenteinteragem em profusão. Mais ainda: estesdois grandes pares de oposições (e muitosoutros, sem dúvida), cada um deles com umadinâmica própria intrínseca (porque emdesequilíbrio, ou no que os engenheirosapelidam de um equilíbrio instável),naturalmente reagem entre si. Todas estassão tendências, por outras palavras, que sepotenciam mutuamente. E aí reside a suafecundidade, o seu poder construtivo: nasua interacção cambiante, geramconfigurações arquitectónicas (figurasvirtuais e passageiras, mas sempre novas)da ordem internacional69. Sugiro que, no quese segue, retenhamos apenas estes doispares de oposições, já que interagem emcombinações múltiplas e complexas, baseadasem binómios eles próprios complexos.
69 Configurações que, muitas vezes, nos agrada (ou nos convém,para evitar dissonâncias cognitivas) reificar, tornarabsolutas. Ou que, pelo menos, sentimos durante algum tempoque podemos com utilidade e justificação erigir emparadigmas. Configurações que, no entanto, são meras figurasde transição. Que são só, por assim dizer, imagens (ou flashes)fugazes. A New World Order de que George Bush (pai) tanto falouna altura da Guerra do Golfo, um Mundo aparentemente unipolaré um exemplo paradigmático desse tipo de reificação; outrosserão o Clash of Civilizations de S. Huntington, ou os múltiplosmodelos (mais efémeros) que só viam no Mundo pós-bipolar,“caos”, “turbulência” e “desordem internacional”.
145
Não deixa de ser, contudo, interessanteo descrevê-la em pormenor. Deixem-me, maisuma vez, começar por delinear dela umprimeiro esboço. Sem naturalmente buscaraqui uma qualquer exaustividade, o que nãoteria cabimento70, comecemos assim pelatensão soberania-globalização a que emtermos genéricos aludi. Uma tensão queresulta do simples facto de cada vez maisas questões sociopolíticas contemporâneasexcederem os âmbitos territoriaiscircunscritos pelos Estados tradicionais.Vejamo-la primeiro, de modo sucinto (e atítulo meramente indicativo) no planoeconómico-financeiro, que é talvez o maisóbvio dos pontos de partida. A aberturageneralizada de cada vez mais mercados (comou sem o antigo GATT, hoje transmutado emOMC), os novos fluxos mercantisviabilizados por sistemas de transporte
70 Um maior pormenor quanto aos processos de globalização éoferecido na sinopse do sociólogo australiano M. Waters(1995). Para uma análise de muito mais minúcia e muito maiorfôlego, ademais exímia, é imprescindível a consulta domagnum opus colectivo de quatro britânicos, David Held,Anthony McGrew, David Goldblatt, e David Perraton, (1999),intitulado Global Transformation. Politics, Economy and Culture. No quetoca a problemas associados à globalização económica, é derecomendar o longo artigo técnico de Joaquim Aguiar (1998),que inclui uma interessante discussão sobre os traçosdistintivos (e a complexidade) daquilo a que chama a “onda”actual de globalização. A respeito da emergência de novosactores internacionais, do consequente retrocesso domonopólio de protagonismo dos Estados e, talvez sobretudo, emrelação ao utilíssimo conceito de structural power, éaconselhável a leitura do último livro, publicado pouco antesda sua morte, de Susan Strange (1996).
146
cada vez mais eficientes, o desenvolvimentode meios de comunicação e informação queredundam numa contracção crescente (passe aantinomia grosseira) do espaço (a chamada“abolição da distância”) e do tempo (a“instantaneidade”), são factosincontornáveis e traços distintivos da vidamoderna. Teorias (mais ou menosmercantilistas) de soberania económicatornam-se, em consequência, cada vez menosconvincentes; estão até sob ataqueconcertado, dir-me-ão que oriundo de partesinteressadas que indevidamente se comportamcomo juízes em causa própria. Talvez. Masnoto que, mesmo quando são consentidos, osproteccionismos tendem, no Mundointerdependente contemporâneo, a ter cadavez menos pés para andar. O crescimentoexplosivo desses novos e tão importantesactores internacionais que são as empresastransnacionais (“as multinacionais”) aíestá, há uma boa quarentena de anos, para ocorroborar. A resultante da interacção doscampos de força de que falei não é porémapenas essa, de um descentramento centrífugo.Convém também tomar em linha de conta oacelerar mais recente (pós-bipolarização),daquilo a que Francis Fukuyama chamou a“common marketização” do Mundo: o congregarde esforços e de protagonismos em blocoseconómicos multinacionais (por via de regraregionais, dada a consequente redução de
147
custos) como a União Europeia, o MERCOSUL,a NAFTA, a ASEAN, ou o SADCC. E aindaincluir no composto o crescente comércioelectrónico (via Internet, por exemplo) nummercado à escala planetária, um circuito emque (como Bancos e Bolsas de Valores játinham há várias décadas prenunciado) o Solnunca se põe. Tudo isto redunda afinal numaconstatação fácil: estamos também perantediversas tendências centrípetas em operação nosistema. E a este processo não se vislumbraem boa verdade uma qualquer reversãopossível, por muito que um slump nos pareçadesde há alguns meses estar a bater àporta. É disso sintomático que há menos detrês anos, em 1998, quando a crise vitimouem série a Tailândia, a Indonésia, a Coreiado Sul e o Japão (e que atirou ao tapete os“tigres asiáticos”, ou pelo menos osdenunciou como sendo autênticos “tigres depapel”), a receita foi expedita econsensual: aquilo que era preciso pararesolver o impasse era, no fundo, maisintegração.
Não é só no mundo da economia e dasfinanças que se sente o confronto profundoJihad-McWorld, e as concomitantes tribalizaçãoe homogeneização. A nível político (oupolítico-militar), tal como a nívelsociocultural, a operação de processosparalelos (e no essencial funcionalmenteequivalentes) não é difícil de detectar.Mais uma vez, limitemo-nos a um curto
148
rastreio: não é só a rápida universalizaçãode critérios ético-jurídicos (como a dosDireitos Humanos, ou aquela a que a rápidamultiplicação de Tribunais internacionaisespeciais tem dado corpo), nem a ruidosafragmentação tribal, aquilo que está emjogo, a este nível, à escala planetária.São suscitadas interrogações ao mesmo tempomuito mais latas e muito mais concretas71
que as que daí advêm. Os problemas são deraiz, são estruturais. Por um lado, cadavez mais são as questões e crises (da BSE àhoof and mouth disease, da clonagem humana àexploração espacial e aos armamentos dedestruição maciça, da SIDA ao “buraco doozono”, do aquecimento global ao terrorismoe aos cartéis da droga) cujas coordenadasde fundo e cujos pontos de aplicação (e porisso cujas soluções) excedem largamente asvelhas fronteiras dos Estados nacionais. Os palcos de inúmerosacontecimentos foram de facto ampliados.Questões como as do acesso a água potávelou a segmentos utilizáveis do espectro
71 Para apenas aflorar uma das dimensões destas questões queaqui não abordo, a cultural, cito John Comaroff (!996: 170),e uma sua perplexidade: where now does, say, Turkish ‘society’ begin andend? At the borders of Turkey? Or does it take in Berlin? If the latter, which seemsundeniable, how do we portray its topography? What […] is ‘the culture’ of farmworkers who spend half a year in Mexico and half a year in the United States?Where is Senegalese ‘culture’ produced? Paris, Lyon, Marseille, rural Senegal,Dakar? If all of the above, which appears to be the case, wherein lies its integrity?Indeed, what is ‘it’? E Comaroff conclui, inasmuch, then, as thecontemporary world order is no longer reducible to a nice arrangement ofbounded polities, our spatially centered, conventionally derived constructs will dono more.
149
electromagnético requerem, exigem, não sóconhecimentos técnicos amplos epluridisciplinares, mas ainda a organizaçãode painéis de brain-storming e tomadas dedecisão que se compadecem mal comrestrições paroquiais e circunscriçõesantigas de competências. As consequências,melhor, as resultantes genéricas? O círculotende a alargar-se; muitas são as forçasque empurram “para cima”. Mas,paradoxalmente, é por outro lado tambémverdade que há forças que “puxam parabaixo”, que exigem mais transparência, maisvezes, perante mais gente, e relativamentea mais coisas. À ampliação ascendente soma-se assim uma nova subsidiariedade: asmelhores (no sentido de as mais legítimas eas mais acatadas) decisões são aquelas emque maior inclusividade seja conseguida;mas, em paralelo, parecem ser tambémaquelas que sejam tomadas mais perto doutente final. Será isto um sinal dedesordem, prenúncio emblemático decontradições insanáveis, indício de umexcesso de democraticidade que desmascara olugar dos limites do sistema? Julgo quenão. Tocamos aqui no que considero umponto nevrálgico essencial. Um ponto que, ameu ver, se prende com a própria natureza eestrutura do conjunto de processos que, bemou mal, conformamos como globalização, e quese prende com as transformações ocorridas e
150
em curso. Uma rápida justaposição torna-onítido. Com o fim da bipolarização e adissolução dos dois grandes blocosantagónicos, que cautelosamente se entre-olhavam contra um pano de fundo de paísesditos não-alinhados, passou-se quaseabruptamente a uma nova ordenação,policentrada e multidimensional, dos palcosinternacionais. O Mundo tornou-se, derepente, mais opaco, como que mais fosco,mais difícil de compreender. Apesar de num primeiro momentodaí ter parecido resultar um Mundounipolar, com os Estados Unidos como únicohegemon, cedo se verificou esse modelo nãoser muito satisfatório, quanto mais nãoseja pela sua excessiva linearidade.Porque, se é indubitável que em termostecnico-militares veio à tona na nova ordemuma clara hegemonia norte-americana, anível económico o Novo Mundo viu-se forçadoa partilhar essa posição de preponderânciacom a velha Europa e o novíssimo Japão.Mais grave ainda para esse hipotéticomodelo unipolar: todo um variado universode entidades transnacionais (de corporaçõescomerciais a instituições financeiras,passando por mafias e grupos terroristas)constitui um nível suplementar que não olhaàs fronteiras dos Estados e no qual ahegemonia está ainda mais repartida72. Um72 Tal como de resto a nível cultural. Não posso deixar decitar D. Held et al. quanto ao que escreveram na sua obramonumental sobre a globalização (1999: 373): não obstante as
151
outro eixo, ou um outro plano, numa ordemcompósita, híbrida. A unipolaridade temassim de conviver com multipolaridadesdiversificadas73 num Mundo cada dia maiscomplexo porque como que composto porcamadas várias que se entrecruzam. Confirmar a multidimensionalidadedo cenário que vai sendo montado não éárduo. Por muito convidativa (eretoricamente tentadora) que possa ser aimagem de uma ordem unipolar, fácil éconcordar que tal hipótese não tem grandecorrespondência empírica com o observável,pese embora, em 1991, quando da eclosão daGuerra do Golfo e para quem trazia os olhoshabituados ao Mundo bipolar, a inevitávelcontraposição nocional queinvoluntariamente todos fizemos com a ordemanterior a possa ter sugerido. Não seráessa, seguramente, a progressão. Longe dese subdividir em Estados avulsos, e desobreviver com placidez à sombra dosEstados Unidos ou de uma qualquerbenevolente Pax Americana, o Mundo pós-bipolarização reordenou-se com rapidez emblocos e coligações de vários tipos,tamanhos e feitios. Uns, como a ASEAN ou oMERCOSUL, blocos mais económicos quetransformações contemporâneas, the announcement of the eradication ofnational cultural differences seems highly premature. 73 Esta perspectiva não é nova, evidentemente; e é partilhadapor autores tão díspares como Joseph Nye (1997), SusanStrange (1996), e por Samuel Huntington (1999), o célebreautor do Third Wave e do Clash of Civilizations, que recentementecaracterizou o Mundo como uni-multipolar.
152
políticos. Outras, da União Europeia àSADCC, entidades mais político-económicasdo que militares. Outros ainda, como a NATOou a UEO, unidades mais político-militares. Quase todos são unidades, nofundo, associações de Estados, cujosdocumentos fundadores repudiamexplicitamente quaisquer hipóteses de quevenha em seu nome a ser desafiado oestatuto soberano dos seus membros; nasNações Unidas são disso um exemplo típico.Como já disse noutro lugar, a excepção é aUnião Europeia, num continente mais uma vezpioneiro: na realidade não é uma federação,uma confederação, ou um simplesconglomerado de Estados; parece tratar-seantes de uma forma nova de governaçãotransnacional em que, voluntariamente, osEstados-membros abdicaram de uma parte dasua soberania. Em todo o caso, estes novosblocos ou coligações têm vindo a assumir umimenso protagonismo nos novos palcosinternacionais. Como atrás referi, essesconglomerados recentes têm nissoacompanhado o aparecimento de vários outrosnovos sujeitos nos cenários daglobalização: as pessoas (os povos) e asorganizações não-governamentais (as ONGs),também elas com um protagonismo crescente ejá de um certo peso específico. Em ambos oscasos, note-se, trata-se de entidadesexplicitamente excluídas dos palcos
153
westphalianos. Com tudo isto no horizonte,não é decerto de estranhar que o Mundo setenha tornado menos fácil de perceber. Asalterações foram com efeito profundas; eforam multifacetadas. Nos diversos exemplosque até aqui forneci, entidades maiores queos Estados tradicionais foram trazidas àbaila. Nestas duas últimas instâncias queaduzi, trata-se, ao contrário, de entidadesmenores (pelo menos no sentidoinstitucional), por assim dizer a um nívelhierárquico tradicionalmente tido comoabaixo do dos Estados. Não estamos nisso só perante umamoda; o processo tem uma história longa eintrincada. Mesmo no que toca ao DireitoInternacional, uma evolução no sentido deessas entidades deixarem de ser tãomarginais como da Paz de Westphalia atéaqui, é sensível desde há pelo menos74 umséculo: com um grande impulso dado peloliberalismo de Woodrow Wilson seguido de umsegundo empurrão de Franklin DelanoRoosevelt, e outro pelo fim do Mundo pós-bipolar, tem havido um movimento gradual dedistanciamento relativamente ao princípio(westphaliano) de que a soberania dosEstados é um considerando sempre maisimportante que quaisquer desaires que
74 Já em 1977, Hedley Bull aflorou esta tão nítida evolução doDireito Internacional. É interessante notar, neste contexto,que o título do último livro de John Rawls, o célebrefilósofo do Direito da Universidade de Harvard, sobre DireitoInternacional, é The Law of Peoples.
154
possam ocorrer a indivíduos, grupos, ouassociações; movimento esse que temsignificado um respeito cada vez maisregulamentado pela autonomia dos sujeitosindividuais, pela da sociedade civil, e quese consubstancia na criação de regimesinternacionais cada vez mais densos eextensos (por exemplo, mas é um exemploparadigmático) de defesa dos DireitosHumanos, essa figura que o Liberalismo foirepescar no Cristianismo. Acresce que estas transformaçõesnão se vieram substituir à ordem anterior:adicionaram-se-lhe. Seria assim um erropresumir, por exemplo, (como muitas vezestem infelizmente sido feito) que estamosperante uma erosão, uma diminuição, ou umaverdadeira perda de poder pelos Estados.Representações deste tipo parecem-mefalaciosas75. Porque se é verdade que, emsentido relativo, o poder dos Estados jánão é o único, muitos são osdesenvolvimentos dos cenários globais quenão são adequadamente explicáveis nostermos estreitos dessas imagens de erosão,diminuição, esbatimento, ou apagamento, dopoder dos Estados: seria absurdo, por
75 Como escreveram D. Held et al. (1999), op. cit.. 440, autilização deste tipo de linguagem e imagens involves a failure toconceptualize adequately the nature of power and its complex manifestationssince it represents a crude zero-sum view of power. No artigo que atráscitei, M. Mann mostra em pormenor que os Estadoscontemporâneos detêm, em virtualmente todos os aspectos quesejam tomados como importantes, muitíssimo mais poder do queos seus antecessores.
155
exemplo, não reconhecer um activismocrescente de muitos Estados (bi- emultilateralmente) nos domínios económico-financeiros da globalização, ou no daemigração e da imigração, ou na frentepolítica activa da criação einstitucionalização de formas de governaçãoregional e global. Em termos absolutos,nunca os Estados tiveram tanto poder,tantas competências e nunca estas foram tãoamplas no seu alcance. Só não o vê quem nãoqueira. O que me parece verdade, issosim, é que são cada vez maiores asexigências que lhes são feitas. Como écerto (e como iremos ver, consequente) quese alteraram profundamente as condições deexercício dos poderes que lhes são reconhecidos. Depois desta primeira demão sobrea natureza das transformações globais emcurso na ordem internacional, viremo-nosagora para a interacção de pormenor entreos Estados contemporâneos e este sistemainternacional compósito e em fluxo.
3.
Uma palavra de caução. Nãoquereria que a visão que aqui propugnofosse tida como implicando um qualquerpessimismo ou um qualquer utopismo. Pelasimples razão de que os não advogo. A
156
interdependência complexa e a polaridademultidimensional que subtendem a ordemmundial contemporânea acarretam, sem sombrade dúvida, consequências ambivalentes. Astransformações globais têm aspectos bons eoutros menos bons. A famigeradaglobalização, por outras palavras, temavessos. E avessos sérios. Um deles é que muitas dastransformações estão longe de seruniversais e estão-no de uma maneiraacintosa: a marginalidade a que até aquitem condenado os que ficam de fora é nãoraramente radical. Outro espelha-se nasdesigualdades internas preexistentes, quemuitas vezes tanto exponencia. Mas oprocesso de transformações apresenta também(talvez até sobretudo) frentes promissoras.Inviabiliza (fá-lo pelo menos nesta faseinicial) hegemonias unipolares duradouras.E, pace muitos analistas, sou de opiniãoque, ao fomentar movimentos de integração-fragmentação, o processo com que tant bien quemal convivemos, desencoraja blocos que sejamestáveis em mais do que uma das suasdimensões. Creio mesmo que alguns dosdefeitos que lhe imputamos consubstanciam,em boa verdade, vantagens. O que nãotardará, julgo eu, a manifestar-se com todaa nitidez: aquilo que hoje lemos de algummodo, pela negativa, como “ingerências”,como “perdas de soberania”, como “erosãodos Estados-nação”, ou “sistemas de tutela”
157
e “soberanias vigiadas”, amanhã talvezvenhamos a encarar como primeiro momento,incontornável, de uma narrativa histórica“organicista” de construção e criação. Asintervenções “humanitárias” que pautaramesta fulgurante passagem de Milénio não sãoboas nem são más. Talvez nem sejaminevitáveis. Mas desenham, a luz forte, oMundo concreto que temos. Repito que nada disto éparticularmente heterodoxo. Inúmeros têmsido os analistas, cá como lá fora, que têmvindo a equacionar em termos conexosalgumas das alterações em curso no Mundocontemporâneo. Nem esta perspectivação, ameu ver, exibe particulares afinidades comquaisquer escolhas político-ideológicas quepossamos levar a cabo. Para retomar ummodelo a que há pouco fiz alusão: emPortugal, num trabalho sobre a emergênciade um constitucionalismo europeu publicadoalguns meses antes da sua morte repentina,Francisco Lucas Pires76 escreveu comelegância sobre a deslocação “para cima”,para uma localização “supra-estadual”, doexercício do poder soberano: aquilo que,76 Francisco Lucas Pires (1997: 14ss.) Para uma muitointeressante discussão desta e de outras ideias destemalogrado constitucionalista português, é de recomendar aleitura do longo estudo (curiosamente publicado em forma derecensão) de Duarte Bué Alves (2000), que tem a vantagem decontextualizar este e outros conceitos no âmbito geral daevolução do pensamento deste “federalista” europeu; o estudode Bué Alves, naturalmente, não substitui a leitura de F.Lucas Pires, servindo de mera introdução-ponderação a partedo seu quadro analítico.
158
muito graficamente, chamou “o transbordo dopoder”. Mais: Lucas Pires previu mesmo ainvenção, no século XXI, da “fórmula dapassagem de Estado-dirigente a Estado-subsidiário”77 que, segundo ele, seria agrande marca da Modernidade. Num outro lado do espectro,Boaventura Sousa Santos78 escreveu numsentido confluente (e também num estiloinconfundível) sobre “a exigênciacosmopolita da reconstrução do espaço-tempoda deliberação democrática”, que previu iráimpor “um novo contrato social…moderno,[que] não pode confinar-se ao espaço-temponacional estatal e deve incluir igualmenteos espaços-tempo local, regional eglobal”79. Talvez, como insiste SousaSantos, a visão estritamente contratualistanão seja já a mais adequada; o que épossível que seja efeito, como defendiaLucas Pires, de uma redefinição do lugar deinserção do poder. Mas o que é certamenteevidente é que uma tal generalização deasserções deste tipo, vindas um pouco detoda a parte, sublinha a tomada crescentede consciência, à tradicional esquerda e àtradicional direita, de que, no Estadowestphaliano e na soberania à la Jean Bodin,
77 (ibid.).78 Boaventura de Sousa Santos (1998: 47-48). É de sublinhar agrande densidade analítica (bem como a grande actualidade)das posições de B. De Sousa Santos, aliás tanto nesta como emvárias outras das suas numerosíssimas obras.79 (ibid.).
159
cabem hoje mal muitas das realidadesinternacionais intrincadas de um presentecada vez mais globalizado. Voltarei a esteponto no final da minha comunicação. A surpresa maior quanto a estasmudanças reside talvez na rapidez com quetudo isto tem vindo a acontecer: é o quetem sido chamado “a vertigem damodernidade”, naquilo que Anthony Giddenstão graficamente apelidou de o nosso runawayworld. Mas a grande novidade relativamenteaos anos mais obscuros da Guerra Fria, éefectivamente o verificar que a nossaatitude perante as transformações nãodepende já tanto das nossas preferênciaspolítico-ideológicas “clássicas”. Àesquerda e à direita, entre nós como láfora, houve quem apoiasse e quemdenunciasse a Guerra do Golfo, aintervenção da NATO no Kosovo, a das tropasmultinacionais em Timor ou, para sair daárea militar, a conferência do Rio, osencontros mais recentes de Seattle eQuioto, os meetings anuais em Davos, ou ascimeiras do G7 (ou do G8, para quem prefirachamar-lhe isso). O que, insisto, sublinhaa cada vez maior inadequação das velhascoordenadas político-ideológicas80 pelas80 O que sublinha bem, creio eu, o ponto a que se chegoudurante a Guerra Fria num combate em que ideias e conceitoseram temidos como perigosas armas de guerra E a que alguns,pese embora o nítido anacronismo, insistem em se apegar. Dehá muito que é sabido que não largar mãos de preconceitos éfactor de desajustes cognitivos que, de uma ou outra maneira,se acaba por ter de pagar: there is really no such thing as a free lunch.
160
quais durante tantos anos nos pautámos eregemos, face à nova ordem trazida pelasforças da globalização. Num Mundo contemporâneo comoaquele em que participamos, é porventurainevitável que algumas (talvez mesmomuitas) das ideias políticas a que mais nostemos apegado (tradicionalmente centradas,virtualmente em exclusivo, nos Estados enas comunidades nacionais) precisem de serrepensadas e reconfiguradas. As razões paraisso abundam. Tal é inevitável,nomeadamente, se com o vocábulo globalizaçãoquisermos fazer referência (como me pareceque devemos) àquele feixe multidimensionalde processos (convergentes mas largamentedissociados uns dos outros nos seus ritmose alcance) que dão corpo a uma expansão einterconectividade da nossa acção e dasnossas actividades, de tal forma que estastêm passado a incluir quadros de referênciasupraregionais e supracontinentais (o quenão creio que possamos evitar), para alémdos nacionais que enformavam as velhastradições políticas. Enunciar isto poroutras palavras, e pela positiva, põe-nomelhor em evidência: tanto as tradições políticasnacionais como as legais são postas em cheque de umamaneira radical por um Mundo caracterizado por políticasglobais e por múltiplas polaridades, que exigem uma
O tom levemente paranóico de muito do discurso pós-modernoparece-me ser por vezes pouco mais que uma herança pesadacarregada por Cold Warriors.
161
governação multidimensionada81. Face àinevitabilidade dos factos, não querersaber acaba por redundar, na prática, emquerer não saber: uma curiosa estratégia deavestruz que, em política, tem sempre (maiscedo ou mais tarde) um preço alto. Com efeito, seja qual for anatureza específica destes desafiosfundamentais e seja qual possa ser apostura que perante eles escolhamosassumir, não parece fácil (ou sequersensato) ignorar que a natureza e aqualidade das relações democráticas entrecomunidades são cruciais; que estas estão(quer isso nos agrade, quer não) densamenteimbricadas umas nas outras, e que, sequeremos que tanto a Democracia como ascomunidades políticas enraízem e medrem, sepretendemos que prosperem, então novosmecanismos jurídicos e organizacionais têmde ser criados para o lograr. Foi (e é) assim com a UniãoEuropeia, será assim num âmbitointernacional mais alargado. Mas, insistomais uma vez, parecer-me-ia disparatada aideia de tirar daqui a ilação de que, a pardisto, a dimensão política das comunidadeslocais e a das comunidades nacionais estejaa ser (ou vai ser, ou até possa, ou deva,81 D. Held et al. (1999), op. cit.: 450, num sentido muitopróximo (mas fazendo apenas referência a Estadosdemocráticos), exprimem-no de maneira enxuta e depurada: if welive in a world marked by global politics and multilayered governance, then theefficacy of national democratic traditions and national legal traditions arefundamentally challenged.
162
ser) subsumida pelas novas forças e formasde poder trazidas à baila pelaglobalização. Prevejo que vamos, antes,assistir a um sobe-e-desce. Onde há McWorldhá Jihad, e é claro que muitas questõespermanecerão no âmbito dasresponsabilidades dos governos locais enacionais, aumentando até quantas vezes oclamor (eivado de “paroquialismo” mescladocom “provincianismo”, segundo BenjaminBarber82) de uma maior aproximação entre agovernação e os governados. Mas porquetambém é verdade que onde há Jihad háMcWorld, muitas outras questões virão a serreconhecidas como dizendo respeito (edevendo por isso fazer parte do acervo dassuas respectivas responsabilidades) a regiõesparticulares; e outras, ainda, revelar-se-ão globais (para me repetir, algumas dasvicissitudes da ecologia, temas de saúde egenética, problemas de segurança global, ede regulação – ou de desregulação –económica, etc.), porque exigem novosarranjos institucionais para lhes fazerface. Ou seja, à medida que processos82 B. Barber (1996): 169. Na tese deste autor norte-americano,o que reputa como “versões pálidas” dos jihad europeus (dosJihad na Europa e por europeus) têm, por via de regra, assumidoduas formas que se intersectam, e que infelizmente mesmo emPortugal reconhecemos: o “provincianismo”, que vira asperiferias contra os centros; e o “paroquialismo”, quedesdenha o cosmopolita. Para Barber trata-se todavia nestescasos de um Jihad aguado, já que a Europa, bem posicionada nocentro, não é, em sua opinião, senão um fraco microcosmos (eum microcosmos particularmente anémico) dessas novasconfrontações.
163
fundamentais de governação se irãoescapando por entre os interstícios doEstado “clássico”, as equações e assoluções habituais das teorizaçõespolíticas tradicionais tornar-se-ão cadavez menos pertinentes83. O que acarretariscos. O meu ponto é o seguinte: seesses novos processos e essas novasestruturas não forem devidamentereconhecidos e tomados em linha de conta, orisco, inevitável, é o de que mais tarde oumais cedo venham a saltar por cima dosmecanismos democráticos tradicionais deregulação e responsabilização. O perigo éiminente84. Enquanto a desterritorializaçãodo poder político não for plenamenteassumida, enquanto os seus novos sujeitos(sublocais, regionais e globais) não foremreconhecidos e não forem (como dizem osanglo-saxónicos) devidamente empowered,correr-se-á o risco de estes (que quantasvezes representam as mais poderosas forçasgeopolíticas nos palcos internacionaiscontemporâneos) se arrojarem a resolverquestões pura e simplesmente em termos dosseus próprios objectivos estritos eestreitos e sem se deterem senão nos83 Para tornar a citar palavras de Held e dos seus co-autores,formuladas no que creio ser o mesmo sentido, mas relativasapenas aos Estados democráticos: as fundamental processes ofgovernance escape the categories of the nation-state, the traditional nationalresolutions of the key questions of democratic theory and practice lookincreasingly threadbare (D. Held et al., 1999, op. cit.: 447).84 E é também eminente.
164
limites das correlações de forças em que,condenados pelas circunstâncias, calheencontrarem-se embrenhados. Será por outrolado de contar com que muitas entidadesfaçam finca-pé em assumir o protagonismoque julgam ser-lhes devido, proporcional àsnovas posições estruturais que detêm nosistema, e que, não lhes sendo issoconcedido, o possam querer exigir à vivaforça. Não fazer face a estes riscos, ounão tomar as suas legítimas reinvindicaçõesem linha de conta, parece-me uma receitapara o desastre, para dizer o mínimo. Há,no eventual desfasamento que tudo istosignifica, espaço para posturas políticascriativas, militantes e cada vez maismobilizadoras, como os mais avisados nãotardaram (há já alguns anos) a descobrir.Posturas políticas essas que éimprescindível que comecemos a reconhecer,e relativamente às quais convém que nossaibamos bem posicionar, já que tocamquestões que nos afectam a todos. Voltareia aflorar também este outro ponto na partefinal da minha comunicação.
4.
Pormenorizemos o que até aqui foiafirmado. Daquilo que já disse pareceiniludível pelo menos uma implicação: a de
165
que um dos aspectos (eu diria mesmo, umadas dimensões diacríticas), da crise dosEstados contemporâneos perante aglobalização, se tem vindo a manifestarcomo uma crise de formatação. E, aí, talvezseja útil vislumbrá-la como uma crisedupla: a um tempo política e jurídica. Razões para isso podemos aduzirmuitas; a questão de fundo prende-se porémporventura (pelo menos em parte) com aincapacidade das fronteiras territoriaisclássicas em circunscrever questões cadavez mais regionais e até globais, que temlevado à emergência de centrossupranacionais (supraestaduais) de poder.Estes centros são muitas vezes estruturasalternativas que se opõem aos Estados.Noutros casos, limitam-se a suscitar-lhesnovos problemas de difícil solução. E sãouma espécie de metástases: aparecem portodos os lados, por assim dizer. Trata-sede novos centros de poder ligados àecologia, a mafias, ao comércio da droga,ao terrorismo, à Internet, às emigraçõesgeneralizadas, às novas possibilidades deuma sistemática projecção geográfica daforça político-militar, ou a umadeslocalização permanente do capital –sobretudo do financeiro, que de algum modonasceu nómada. O efeito corrosivo (oudiluente, se preferirem) que estasinovações exibem é temível. Nenhum Estado(nem mesmo os mais poderosos) consegue,
166
sozinho, fazer frente aos desafios e àsameaças que soletram esses múltiplos duelostravados em tempo real. Mais uma vez, asimplicações são óbvias. Às pressõespolíticas abstractas, que exigemreconfigurações de peso, soma-se destemodo, por conseguinte, o imperativo urgentede levar a cabo modificações de fundo naspróprias coordenadas e especificações damáquina, por assim dizer. E como se essas razões nãobastassem, isto não é tudo. Há outrosconstrangimentos a actuar. A globalização écentrífuga mas também é centrípeta;funciona em patamares macro, mas não deixade agir sobre domínios micro. Puxa o poderpara níveis hierárquicos mais altos, maspuxa-o ao mesmo tempo para outros maisbaixos. O resultado está à vista: numsentido simétrico e inverso ao que atrásesbocei, mas dele complementar, novoscentros de poder têm também vindo a surgira nível infra-estadual. Redimensionado oenquadramento que os continha, alteradas asrelações de força, as tutelas e osequilíbrios firmes e estáveis tradicionais,actores políticos antes menores (unsprovinciais, outros sectoriais, todos emtodo o caso até aqui subalternos) têm vindoa explodir em protagonismos inusitados. É oque atrás chamei (a frase não é minha) “atribalização do Mundo”. Uma fragmentaçãoque, do meu ponto de vista, redunda na
167
abertura de novas frentes de luta pelasobrevivência (e pelo protagonismo) daparte de Estados modernos cada vez maisacossados por pressões sistémicasavassaladoras. Por causa da globalização, oEstado tem sido vítima de múltiplaspressões vindas de cima e de baixo, então.As consequências disso, como não podiadeixar de ser, são muitíssimas. Comecemos aarrumá-las. De um ponto de vista político, taltem significado alterações no papel dosEstados contemporâneos, que passaram, quaseimperceptivelmente, de orgulhosos Estados“autónomos” a mais modestos Estados“condicionados”, quantas vezes sem a issose saberem resignar. E muitas vezes tambémo insulto parece adicionar-se à injúria. Datriste “exiguidade” relativa a que umsistema internacional muito maisinterdependente os condena, muitos Estados“clássicos” assistem impotentes a umaumento em flecha da porosidade das suasfronteiras e cidadanias, e a modificaçõesde vulto nos seus perímetros de segurança enas suas moedas. São poderosos como nunca,mas vedam-se-lhes muitos dos domínios (quese vinham tornando coutadas habituais) doseu cioso exercício de soberania. Atransição tem não poucas vezes sidodolorosa e encerra perigos: em termosgenéricos, esse “transbordo do poder” (maisuma expressão que faço minha) indicia o (e
168
resulta do) surgimento de centros de poderpolítico que não aqueles, tradicionais nasDemocracias, legitimados pela participaçãopopular nos moldes herdados dos finais doséculo XVIII e inícios do XIX. Aparecem emseu lugar novos lobbies, novos grupos depressão e interesses, novos potentados quehá que aplacar. A “pressão políticareformatadora” (chamemos-lhe isso) exercidasobre os Estados contemporâneos éfacilmente inteligível em termosestruturais, em termos da arquitectura donovo sistema internacional. Vejamos como.Nas democracias liberais tradicionais doMundo westphaliano, tanto a legitimidadecomo o consentimento em relação,respectivamente, à governação e aosgovernos dependem em larga escala de votose de processos eleitorais. Tem-se tratadode uma dependência localizada: asfronteiras nacionais dos Estados têmtradicionalmente traçado a linha dedemarcação que inclui ou exclui pessoas deuma participação activa em decisões85 que85 Para uma fundamentação política, baseda na tradiçãodemocrática tradicional, do right to be included in the demos pelosimples facto de ter uma participação permanente na associationque lhe sujaz, ver o texto clássico de Robert Dahl (1989), noseu Democracy and its Critics, sobretudo pp.: 118-131. Para umafundamentação jurídica deste ponto, é de recomendar a leiturado artigo de Rut Rubio Marin (1998), publicado na Ratio Juris.Will Kymlicka (1995), o famoso cientista político canadiano,oferece, na sua monografia intitulada Multicultural Citinzenship. Aliberal theory of minority rights, uma argumentação político-sociológica rigorosa da questão. Para uma perspectivação
169
irão afectar as suas vidas. Para reiterar oóbvio, é precisamente aqui que se põe anova questão de fundo: se muitos dosprocessos socioeconómicos, e dasconsequências das decisões que sobre elestomamos, transbordam (para usar o termo queé de Francisco Lucas Pires) para além dasfronteiras nacionais, isso põe em chequecategorias básicas como as de consentimento elegitimidade, e até ideias como a de Democracia. O que étrazido à cena é a própria natureza elimites do que consideramos uma comunidadepolítica. O que está longe de serinconsequente. Deixem-me tentar rapidamentedemonstrá-lo. Equacionar isto daperspectiva estrita e estreita daquilo queé hoje a distribuição do poder, permite-nosvislumbrar alguns dos pontos de aplicaçãode novas representações político-ideológicas que, sem sombra de dúvida, irãofazer o seu percurso nos próximos tempos. Aadequação das nossas ideias políticas àsnovas realidades assim o exigirá. Porexemplo: nem a ideia de governo nem a deEstado (democráticos ou não) podem hoje emdia, face aos factos esmagadores daglobalização, ser de maneira convincentearvoradas como adequadas tão-só acomunidades políticas espacialmente bem
histórica desses mecanismos de exclusão, creio que o melhorestudo (levado a cabo numa perspectiva habermasiana) é o deAndrew Linklater (1998), no seu The Transformation of PoliticalCommunity.
170
delimitadas, a Estados-nação do tipo“clássico”. Muitas são as forças e inúmerosos processos, como vimos, que já não podemem boa verdade ser circunscritos à área deinfluência e actuação de uma só dascomunidades políticas tradicionais. Mais, aemergência de entidades novas prenuncia (eindicia) a formação rápida de uma cada vezmenos marginalizável e mais poderosa“sociedade civil internacional”. Insisto: osistema (westphaliano) composto por umacolecção de Estados nacionais, mantém-se;mas a sua eficácia (ou talvez melhor, a suaprocedência) está hoje em estreitaressonância relativamente a estruturas eprocessos económicos, financeiros,administrativos, jurídicos, políticos, eculturais que em simultâneo o ultrapassam econstrangem. Talvez, no entanto, essaspressões de reformatação política sejammais evidentes na sua acção sobre Estadosnão democráticos; e na exercida sobreEstados fracos. Uma olhada rápida sobre boaparte da África contemporânea torna claro oque estou a querer dizer. Tal como indiqueinoutro lugar86, parece-me interessante, porexemplo, ponderar a hipótese de vir ageneralizar-se a aplicabilidade, no novocontexto da globalização, do conceito denegative sovereignty desenvolvido pelo canadiano
86 Armando Marques Guedes (2000), op. cit..
171
Robert Jackson87 para dar conta do quechamou os “quasi-Estados”, essas entidadesexistentes um bocadinho por toda a parte noTerceiro Mundo. Entidades cuja soberania é(et pour cause) definida como negativa: porquese trata de Estados que dependem, para asua própria sobrevivência, do apoiocontinuado da ajuda externa e de um quadrojurídico e político internacionalconsentâneo. Uma situação de deficit hoje emdia cada vez mais generalizada, desde o fimdas “clientelas de sustento e sustentação”(apelidemo-las assim) tão comuns, dos doislados, durante o período da bipolarização. Uma análise pormenorizada recenteda operação e consequências, na África dosanos 90, desta negative sovereignty é-nosoferecida pela leitura dos quatro estudoscomparativos (relativos à Libéria, à SerraLeoa, ao Congo ex-Zaire, e à Nigéria)publicados pelo norte-americano WilliamReno88. O argumento de Reno é simples efascinante na articulação vislumbrada (queele minuciosamente cartografa), do local e doglobal, nestes quatro casos. Segundo Reno, oproblema principal com que deparam hoje emdia os líderes dos aparelhos de Estadodestes países, é inicialmente logístico-administrativo; mas torna-se depois, commuita rapidez, político. O fim da Guerra
87 Robert Jackson (1990).88 William Reno (1998).
172
Fria teve para eles consequênciasdrásticas: à retirada de grande parte daprotecção sob que se albergavam no longoperíodo bipolar, adicionam-se os impactosde ambientes regionais e globais cada vezmais competitivos e predatórios. Novoscontextos que os Estados “negativamentesoberanos”, e os respectivos Chefes deEstado, não estão de modo nenhum preparadospara enfrentar com sucesso. O resultado: umempurrão “para cima”. Como se não bastasse,com isso cresce um controlo cada vez maisténue da situação política interna, já quemuitos destes Estados fracos, ou shell States,não têm nem uma tecnologia administrativanem meios económico-financeiros para capaze eficazmente exercer a sua soberaniainterna. Ou seja: um puxão “para baixo”. Em inúmeros casos (e não só nosquatro sobre que escreveu Reno), junta-se aisto o desafio muito real e palpávelconstituído pelo poder cada dia maior (ecada vez mais ameaçador para o podercentral), que opositores políticos internosvão acumulando. No seu afã de aceder aopoder estes adversários políticoscaracteristicamente recorrem a “ligaçõesdirectas” às potências circundantes: nunscasos países vizinhos, noutros agrupamentosetnico-linguísticos irredentistas, e/ougrupos económicos estrangeiros ligados aplantações (de oleaginosas, cacau ou café,por exemplo), ou a interesses mineiros (que
173
podem ir da exploração de metais pesados, àextracção de petróleo ou diamantes,nomeadamente). Tais bases de poderalternativo contam muitas vezes com umaprotecção militar efectiva, um apoio quepode incluir turbas mal armadas masnumerosas, organismos bem treinados deguerrilha, a forças armadas de países dasredondezas, ou até contratos com empresasespecializadas como a famosa Executive Outcomesde génese sul-africana. O Estado (e o Chefede Estado), para sobreviver, têm de reagir. Reno mostra que, tipicamente,fazem-no (dado serem esses os únicosrecursos à altura e verdadeiramentedisponíveis) jogando o jogo do adversário:fazendo também eles uma ligação directa aosnovos focos actuantes de poder. Têm nessejogo uma vantagem: o reconhecimentointernacional do seu exercício desoberania, que no contexto funciona comouma espécie de valor (nacional)acrescentado. Como representantes de umEstado, tiram disso uma vantagem: oreconhecimento como “legítimos”. E usam-na.“Alugando a soberania” (para inventar umconceito), lá vão sobrevivendo. Fazem-no porém a um preço alto:transformam os seus Estados naquilo queReno chama warlord States, tornam-se em poucomais do que primus inter pares, e efectivamentetransmutam (ou pelo menos consideram que ofazem) as instituições estatais em recursos
174
pessoais seus. A nitidez da imagemdispensa, julgo eu, quaisquer comentários.Trata-se, repito, de exemplos extremos,(mas infelizmente comuns. São nossosconhecidos vários outros casos, muitosdeles também em África, em que a narrativaadequada variaria muito pouco relativamentea este enredo básico, que Reno retrata), depressões políticas profundas advenientes dasforças da globalização a actuar sobrealguns dos Estados contemporâneos. Não é porém só a nível políticoque a “pressão reformatadora” se tem feitosentir. A nível jurídico, ou jurídico-constitucional (decerto um nível maisfundamental), não foram menores asconsequências: cada vez mais competênciasse têm visto deslocadas ou transferidas, econceitos básicos como os de cidadania esoberania têm vindo a sofrer distensões,torções, e outras deformações, que nãofaziam parte do design de fabrico e para asquais a plasticidade, ou a resistência, dosmateriais de origem talvez não seja amaior. Em termos jurídicos mais genéricos,essas reconfigurações imprescindíveis (etantas vezes forçadas) dão pleno fundamentoa afirmações como a seguinte, vinda há bempouco tempo de Coimbra: “nenhuma leituraconstitucional poderá razoavelmentedefender que a supranacionalidade e asamplas e sucessivas deslocações decompetências deixaram incólume o Estado
175
constitucional clássico”89. O que osbritânicos chamariam decerto um cautiousunderstatement. A “pressão jurídicareformatadora” (chamemos-lhe também assim)opera a variadíssimos níveis, e com grausdiferentes de eficácia e de visibilidade.Mas não será talvez exagerado caracterizá-la como uma inundação. Sem me quereralongar demasiado, tocarei (muito ao deleve) apenas duas das suas faces90: aquestão genérica das oscilações e dafragmentação do poder, incluíndo oscorrelatos jurídicos desses movimentos; eoutra, mais concreta, da eventualinadequação do próprio formato“constituição” para dar conta das novasrealidades emergentes (e a consequentebusca dos ditos “substitutosconstitucionais”). Começo por esta última. As Constituições que ordenam osEstados modernos “clássicos” sãoinstrumentos com uma progressão históricafascinante. Configuraram, num primeiro
89 J. J. Gomes Canotilho (1998), Direito Constitucional e Teoria daConstituição: 229, Almedina, Coimbra.90 Uma outra questão jurídica interessante, que aqui não ireiabordar, diz respeito aos numerosos problemas tecnico-jurídicos ligados à harmonização e à integração de ordensnormativas quantas vezes bastante diferentes umas das outras,e aos riscos e oportunidades que isso representa: para umtratamento minucioso destas questões, é aconselhável aleitura do curto artigo de Mireille Delmas-Marty, sobre “amundialização do Direito”, publicado, em 1999, no Boletim daFaculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
176
momento, um modelo de relacionamento (emforma de pacto, como no caso daConstituição norte-americana, de finais doséculo XVIII) entre um poder central eoutros poderes mais regionalizados ouespecializados. Num segundo momento, deramcorpo a uma variação sobre este tema,alterando os seus pontos de aplicação:passaram as Constituições a de algum modoconsagrar uma partilha de poderes entre oprincípio monárquico e o princípio derepresentação nacional (sobretudo a partirdo século XIX europeu). O parentesco ou aafinidade entre estes dois momentosparecem-me indubitáveis; em ambos,constituições são o que ordena as relaçõesexistentes de poder. Os processos de globalizaçãovieram introduzir alterações profundasneste cenário. O campo e o raio de acçãodos Estados, e os domínios que os afectam eque sobre eles agem, fragmentaram-se,incorreram num fraccionamento; o quesignificou redimensionamentos profundos. Afronteira entre o interior e o exterioresbateu-se de maneira notória. O poder temvindo a mudar de localização, e dividiu-sematerialmente em oscilações verticais (ehorizontais) que exigem marcadíssimasadaptações na estrutura interna dosEstados. O poder e os Estadosdesterritorializaram os seus múltiplospontos de intervenção. Os últimos perderam
177
e ganharam força: no fundo, sofreram algumesmagamento, em virtude dessas pressões decima para baixo e de baixo para cima(aquilo que muitos autores anglo-saxónicoscaracterizaram como a hard squeeze) . O mundo“pós-nacional” (para usar uma fraseconsensual, utilizada por um númerosignificativo de constitucionalistas devárias origens91), em muitos sentidos parececonstranger os Estados de maneira queporventura torna as Constituições emmodelos pouco adequados às novas formas dedistribuição (tanto horizontal comovertical) do poder. Pode-se abrir umagarrafa com um saca-rolhas; com um abre-latas, não. Alguma coisa terá que mudar. Eessa mudança irá ser, em larga escala, noâmbito constitucional. Não é particularmente complicadaa linha de argumentação seguida por estesconstitucionalistas do “pós-nacional”. Anarrativa tem vários passos. De par com osprocessos de globalização, o poder temsubido e tem descido. Divisões materiaisdele têm vindo a multiplicar-se. A situaçãoé já hoje (certamente é-o nos Estadosdemocráticos ocidentais92) uma de nítidopluralismo normativo e sociológico. Instâncias91 Para só nomear alguns: Joseph Weiler (Professor da HarvardLaw School), Damian Chalmers (Professor do Law Department daLondon School of Economics), Joe Shaw (em transição de Leeds paraManchester), Jurgen Habermas (de Frankfurt), e Miguel PoiaresMaduro (da Faculdade de Direito da Universidade Nova deLisboa, hoje Advogado Europeu). Como é fácil de verificar, umagrupamento de algum peso.
178
várias, a diversos níveis e com distintostipos de atribuições, característicasformais e competências, têm vindo a exercer(em simultâneo e quantas vezes de formaextraordinariamente eficaz) poderesregulativos. É a própria figura deConstituição que é posta em causa: pactosou partilhas são configurações que dão malconta de situações de pluralismomultidimensionado e de fragmentação dopoder. No Mundo contemporâneo, tem vindo aser defendido, será imprescindível, caso osobjectivos se mantiverem de garantir umaordenação dos Estados (e parece impensávelque deixe de assim ser), que cada vez maisseja assegurado por substitutos constitucionais opapel que à lei fundamental tem cabido. Estes substitutos não sãoconhecidos, e diferentes analistas têmvindo a sugerir figurinos diferentes paraeles. Alguns preferem modelos de redes delegitimação tecnocrática e deliberativa93.Outros privilegiam modelos de democraciacosmopolita94. Todos concordam que, querqueiramos quer não, esses constitutional92 Em muitos dos outros já o é há bastante tempo, ou por umamulticefalia do poder, ou por pura e simples incapacidade dealguns Estados, como atrás pus em evidência, em administraros seus próprios territórios ou em neles exercer plenamente asoberania.93 Para uma excelente discussão desta subcorrente, é útil aleitura do artigo de Christian Joerges (1998), que cito nabibliografia.94 David Held (1999) op. cit., e Andrew Linklater (1998) op. cit.,são referências de fundo, no que toca a esta perspectivaçãodo pós-nacionalismo.
179
substitutes estão já a nascer por geraçãoespontânea: como, por exemplo, a crescenteimportância da “comitologia” (aproliferação de comités de peritosnacionais, entidades que dia-a-dia assumemmais poderes reguladores, a nível muitasvezes transnacional). É mais uma vez aEuropa que parece estar a inovar, nacriação de novas formas políticas, navanguarda emergente de uma nova ordeminternacional. Convenhamos que, se aquiloque está em curso redundar, realmente numocaso por substituição doconstitucionalismo tradicional do Mundowestphaliano “clássico”, estaremos peranteum movimento tectónico maior. Uma autênticarevolução estrutural. Em termos mais inclusivos egerais: de uma perspectiva jurídica (e comopoderia porventura ser de esperar), nestecomo noutros contextos, a progressão dascoisas cedo acertou o passo com a daevolução noutros domínios. As formasparticulares adoptadas têm, nomeadamente,progredido largamente em consonância com oque se verifica no âmbito da política, peseembora a inevitabilidade de (visto as suasfinalidades serem regulativas) asformulações jurídicas tenderem a exibir,por via de regra, um carácter muito maisgenérico e normativista do que aspolíticas. É mais fácil puxar e impossível
180
empurrar, se estivermos a usar comoutensílio um cordel. Uma simples tabelação dastransformações ocorridas mostra àabundância o paralelismo a que me refiro. Éassim por exemplo óbvio, mesmo para o menosatento dos observadores, que o squeeze dosEstados (a que antes aludi) se manifestacomo uma tensão, de um ponto de vistajurídico: como uma convivência conflituosaentre, por exemplo, o crescimento, emespiral, de conflitos entre a fronteiraconstituída pelo estatuto de competênciasexclusivo de entidades infra-estaduais, porum lado e, por outro, a vinculaçãointernacional tradicional existente arespeito de decisões tomadas por instânciassupra-estaduais. Uma tensão, esta, que temsido fonte de inúmeras querelas. Sequisermos vê-lo em termos mais descritivos:a subsidiariedade (uma das expressões dojihad, como lhe chamei) causa uma cascata dopoder na ordem descendente, mas a ordemjurídica internacional westphaliana (aindavigente) não aceita um fraccionamento dasoberania estatal; os Estados são, porconseguinte, “apertados de cima parabaixo”. Na ordem ascendente, mutatis mutandis,a tensão repete-se, mas como que invertida:o transbordo do poder não é facilmenteaceite, nem pela ordem jurídica “clássica”internacional, nem pela lógicatradicionalmente soberana da imagem
181
estadual; ambas insistem numa soberania unae indivisível. O que leva a “apertos”,simultâneos, “de baixo para cima e de cimapara baixo”, de que são alvos e vítimas osEstados “pós-nacionais”, Estados que sevêem condenados, como o fiambre, a ter deconviver com duas fatias de pão numasanduíche que certamente por isso, muitasvezes lhes não abre o apetite.
5.
Para não perder o fio à meada,justifica-se decerto recapitularrapidamente os principais pontos do que atéaqui tentei sublinhar. Comecei por umapanhado geral daquilo que entendo porglobalização; e fi-lo no contexto de umsubconjunto significativo dastransformações que têm ocorrido na ordeminternacional. Por uma questão de nitidez ede comodidade descritiva, equacionei adiscussão em termos de uma comparaçãosimples: uma contraposição sistemáticaentre a ordem tradicional, ou “clássica” ewestphaliana, como tem vindo a serdenotado, e aquilo que apelidei de novaordem pós-nacional globalizante, umprocesso ainda inacabado. Insisti, nessecontexto, na multidimensionalidade dastransformações globais em curso, na suacomplexidade intrínseca. De par com essas
182
transformações, que os recontextualizam,verifica-se uma expansão dos poderes dosEstados. Uma tal sobreposição de expansão erecontextualização não pode senão soletrarum reformulação das condições do exercíciodo poder. Ampliando imagens precisamenteaí, propus uma mecânica para o processo detransformações globais, na perspectiva dosEstados contemporâneos e em virtude dasoscilações verticais a que, aleguei, têmsido sujeitas a localização e a natureza dopoder. E nesse âmbito tentei alinhavarideias quanto às funções assumidas pelosEstados contemporâneos em época deglobalização: separei, no breve esboço quesugeri, o nível político do nível jurídico(como será claro, uma partição de águas demera conveniência, já que não sãoinstâncias verdadeiramente dissociáveis umada outra senão a nível analítico), eabordei-os em paralelo. Em ambos os casos,tentei sublinhar como o funcionamento dosEstados e as transformações a que têm sidosujeitos podem, com utilidade, serentrevistos em consonância com asrelocalizações, em curso, do poder. Numasequência natural, cabe agora projectarhipóteses para o futuro: não tanto numexercício futurológico (advinhar é sempreuma empresa pouco racional), mas para assimpôr em evidência linhas de força etendências aparentes.
183
Qual será, então, o andar dacarruagem, o evoluir das coisas? Antes deconcluir, quero continuar aumentando dealgum modo novamente a resolução deimagens, agora com uma perspectivaçãoprospectiva. Uma opinião que, não sendo talvezmuito positiva, será decertoconstrutivista. Propor senão um paradigma,sempre em riscos de anacronismo numa ordeminternacional em transformação acelerada,pelo menos uma linha de fuga, um horizonte.Uma interpretação de um alvo em movimento.Um exercício intelectual misturado comadvinhação q. b.. Continuo, naturalmente,focado nas alterações incorridas pelosEstados contemporâneos face àstransformações globais. Por uma questão decoerência, mantenho a atenção poisada nopar soberania-globalização, na emergência eeficácia de novas localizações (e atéformas) de poder e, em termos maisgenéricos, nas dimensões políticas ejurídicas daquilo a que se tem vindo achamar globalização. Sem quaisquer pretensõeshistoricistas, mas com risco de algumestrabismo, mantenho um dos olhos nopassado. Como alternativa a outros“modelos”, quero sugerir uma leiturapossível dos processos de erosão dassoberanias westphalianas95 tradicionais, e95 Razão essa que nem todos aceitam esteja realmente em curso:uma posição céptica deste tipo é a defendida num estudomonográfico recente pelo justamente célebre neo-realistanorte-americano Stephen Krasner (1999). Para Krasner, nada de
184
do alcance da globalização em curso. Proporrepito, não tanto um paradigma quanto umalgoritmo; mais do que esquissar um retrato,aventar uma linha de fuga. Retomo, no que se segue (comalguns acrescentos menores) aquilo queescrevi noutro lugar há um ano. Em termosdaquilo que os historiadores intitulam “alonga duração”, o Mundo parece estar dealguma maneira, para lá de óbvios avanços erecuos, a convergir. Um processo que tem vindo
essencial mudou no Mundo, a nível da soberania. O argumentode Krasner (simplificando muito) é essencialmente o seguinte:a soberania, tal como tem sido abordada e interpretada peloscientistas políticos e pela opinião pública, é uma ficçãomanipulada pelos Estados um mito cuja transgressão se temdesde sempre verificado sistematicamente. A situaçãocontemporânea nisso inova pouco: ao contrário (do seu pontode vista) daquilo que alegam “os teóricos da globalização”,para os quais a soberania estaria em retrocesso. Este autorfaz porém distinções finas. Segundo S. Krasner, tem sidobastante cumprida (ainda que com excepções) a international legalsovereignty ou seja o princípio de que o reconhecimento delapela comunidade internacional só deve ser concedido a Estadosjuridicamente independentes. Muito menos respeitada, alega,tem sido no entanto a Westphalian sovereignty, o direito dosEstados de excluir interferências externas nos seusrespectivos territórios. Tem sido assim, argumenta, tanto anível de direitos das minorias quanto ao de Direitos Humanos,ou ao da economia. Distinções deste tipo parecem-meartificiais e, no essencial, elaborações secundárias que seesforçam por proteger, por uma pura multiplicação debarreiras, posições teóricas que se sentem ameaçadas; oresultado é sempre a insinuação de um complot (que, nestecaso, Krasner intitula de “hipocrisia organizada”). Outradistinção fina que creio pouco útil é a de “soberanialimitada”, introduzida pelos juristas oficiais soviéticospara fundamentar intervenções na Europa de Leste e noutrasregiões da sua esfera (real ou desejada) de influência. Estasúltimas elaborações secundárias parecem-me ter visadofinalidades pragmáticas de tipo mais “imperial”.
185
a acelerar. Em súmula: da intervençãoaliada no Kosovo à eventualidade de umarepetição da dose na Macedónia e ao affaire(ainda não concluído) da extradição ejulgamento do General Pinochet, daanunciada reforma de fundo das NaçõesUnidas à Bósnia-Herzegovina, a Angola, aocentro da África (Congo, Ruanda, Burundi earredores), à Libéria, à Serra Leoa, àSomália, ao norte e ao sul do Iraque, aoCambodja, a Timor-Leste, tem crescido aintrusão da comunidade internacional emregiões que até aqui o provecto dogma dasoberania nacional reservava como coutadas.Perante um cada vez mais nítidoredimensionamento ético e normativo de umsistema internacional tradicionalmenteanárquico, é difícil evitar a impressão deque uma sua estruturação política se começaenfim a cristalizar. Não num Leviathanhobbesiano: uma hipotética integraçãoglobal, mesmo que um dia possa vir aocorrer, ainda estará, decerto felizmente96,
96 É notável, neste contexto, o último livro de Zygmunt Bauman(2001), em que, na esteira, aliás, da sua obra anterior, élevada a cabo uma crítica devastadora das elegiascomunitaristas tão comuns entre muitos dos círculos bem-pensantes dos panoramas nacionais (e cosmopolitas)contemporâneos. Bauman vê essas elegias como uma misturasofisticada de formas de má consciência, reacção à percepçãode uma insegurança crescente num Mundo em mudança acelerada,e algum conservadorismo hiper-individualista. Num artigomenos recente, Chris Brown (1995) traçou, com algumamordacidade, a evolução da ideia utópica de uma world communityno pensamento político moderno. A leitura conjunta destesdois textos é fascinante e muito sugestiva.
186
muito longe. Mas seguramente que a cada vezmais intrincada interdependênciageneralizada não se compadece com a antigaformatação unidimensional, saída da Paz deWestphalia, em 1648, que sob o peso detantas vicissitudes (e tão sofridamente) aEuropa legou ao sistema internacional quesob sua égide se foi dolorosa elaboriosamente construindo. Não faria grande sentido ensaiaraqui um levantamento de pormenor de umprocesso tão complexo e com tantos meandroscomo aquele que creio ser possível entreverna ordem internacional hoje em gestação.Quereria tão-só desenhar, a traço espesso,um dos seus aspectos mais relevantes: o quese prende com o crescimento daquilo que àfalta de melhor termo chamarei “sistemas detutela”. Outros exemplos poderiam aqui serabordados, nomeadamente o crescente pesodos regimes internacionais de DireitosHumanos, ou o crescimento (mais aossolavancos) de instâncias penaisinternacionais eficazes. Por razõeslogísticas, preferi usar como paradigma oexemplo da progressão dos “sistemas detutela” em época de globalização. O desmembramento do ImpérioOtomano, tal como aliás o terrível rescaldoda Primeira Grande Guerra, concorreram paramultiplicar no Mundo os Protectorados,regiões ou países cuja soberania foitransferida ou suspensa e entregue à guarda
187
de outrém. O Direito de Ingerência97, antesde algum modo um Direito residual, foi, naprática, ampliado. Depois da Segunda GuerraMundial, como é bem sabido, o processo dasua ampliação seria retomado: Protectoradosforam criados em todos (ou quase todos) oscontinentes, sob a égide de um ou outro dos97 É curioso notar que um dos momentos de arranque do Direitode Ingerência deu-se na segunda metade do século XIX (maisprecisamente em 1860, 1866 e 1878), a pretexto dorestabelecimento dos Direitos Humanos, e no sentido dealterar as normas constitucionais turcas, face às matanças eviolações grosseiras do que eram tidas como normas básicas deconduta: intervieram no processo a Síria, Creta, a Bósnia, aHerzegovina e a Macedónia; uma lição da História, malaprendida. A Convenção de Genebra, de 1949, faz-lhe alusão.Mas trata-se de um Direito novo. Os autores anglo-saxónicosparecem oscilar na terminologia a que, para a ele aludir,recorrem: falam de right to interfere, ou de right to intervene, domesmo modo que, alterando o ângulo e a perspectiva, aludem aum duty to meddle ou a um duty of intrusion. Nas línguas latinas,esta ambiguidade mantém-se, sendo pura esimplesmentetraduzida. O que (num como noutro caso) sublinha com ênfase ocarácter inovador deste direito em gestação. Curiosamente, eapesar de o Tribunal Internacional de Justiça o ter comregularidade reconhecido como um direito positivo, foram osfranceses, através de François Mitterrand, no discurso deEstado que proferiu a 14 de Julho de 1991 relativamente àprotecção dos curdos iraquianos, quem primeiro formalmentedeclarou esse novo direito como isso mesmo: um direitopositivo. Para uma visão de conjunto, mais ponderada quehistórica, ver Mario Bettati (2000). Para uma perspectivacrítica da polivalência desastrosa de um conceito afim deste,o de “autodeterminação”, ver Paula Escarameia (1993);Escarameia considera este último como “uma adaptaçãoacrítica” de um “ideal político” para o domínio (“muitodiferente”) do jurídico, que leva a cabo “uma subsumpção”paralisante de “situações factuais” muito diferentes umas dasoutras, que vão da resistência iluminista contra as tiranias,às lutas proletárias, ao anti-colonialismo e ao nacionalismoirredentista; uma “reificação” que, segundo ela, resulta nãosó numa gritante falta de eficácia (comum a muito do DireitoInternacional), mas ainda no agravamento conjuntural da sua
188
Estados vencedores. Com as dissensõespolítico-ideológicas que acompanharam aclivagem bipolar, o processo de uma ououtra forma estancou. No percurso, deu-seuma erosão sensível: as descolonizações dosanos 50, 60 e 70 do século XX pareceram,durante alguns anos, fazer senão regredirpelo menos retroceder esses e outros maisclássicos sistemas de tutela, que tanto aambição quanto a implacável “balança dopoder” (e até os mecanismos wilsonianos decollective security98) tinham distribuído pelosEstados. Mas em termos cognitivos, o malestava feito: para um observador atento, asfundações da arquitectura do sistema
ineficácia pela introdução de novas “vozes” dissonantes, oque, “multiplicando o faccionalismo”, facilita uma fácilneutralização dos discursos que dele fazem uso (op. cit.: 63-83,153-157). Embora não discorde do raciocínio “crítico” de P.Escarameia, sublinho que a argumentação que aqui desenvolvonão se desbobra em mais do que uma descrição de uma linha defuga, sem grandes pretensões analíticas.98 Não é preciso ser um teórico defensor da globalização parasustentar este ponto. Na obra relativamente recente atráscitada, J. Nye (1997: 192-194) defende o que considera comouma mediação interpretativa interessante entre as posiçõesque denomina, respectivamente, de “liberal” e de “realista”,no que toca à evolução dos dispositivos de balance of power e dosde collective security no Mundo pós-bipolarização. A linha deargumentação de Nye é a seguinte: o potencial wilsonianoliberal implícito em organizações como as Nações Unidas, sóagora que terminaram muitos dos bloqueios-veto (tão típicosdo cenário bipolar da Guerra Fria) se está a tornar evidente.Para uma cabal descrição deste “novo Mundo híbrido”, defendeNye, nem os pressupostos do paradigma liberal nem os dosparadigmas realistas chegam; há que saber produzir modelossincréticos mais latos e mais inclusivos. Uma posição quepartilho e que creio rica em implicações, como julgo que aleitura do presente artigo demonstra.
189
internacional (a distribuição neste dopoder) não tinham sobrevivido totalmenteindemnes; uma explicação do Mundo em termosda lógica pura e simples dos Estadosrevelava-se, cada dia, menos satisfatória. No calor escaldante da GuerraFria, e sem os benefícios da retrospecção,isso não se tornou porventura muito óbvio:a bipolarização dos cenários políticosinternos, como a dos externos, acentuouparadoxalmente a imagem do protagonismodestes últimos (ou, em todo o caso, de doisdeles, os EUA e a URSS, as “superpotências”de então), enquanto actores num sistemainternacional cada vez mais complexo porquecada vez mais interdependente emultidimensionado. Vistaretrospectivamente, esta progressão (oumelhor, esta retrogressão) talvez tenha noentanto sido mais aparente do que real.Sobretudo se deixarmos de ver os Estadossoberanos como os únicos “verdadeiros”protagonistas de um sistema internacionalem que muitas personagens novas (dado que,como antes sublinhei, a crescenteinterdependência e as oscilações e os novosfocos de poder se compadecem pouco comfronteiras territoriais, a um tempo grandesdemais e de menos num Mundo cada vez maiscosmopolita) têm vindo a contracenar. Se encaradas com os benefícios daretrospecção, as transformações parecer-nos-ão muito nítidas e porventura
190
inevitáveis. Com efeito, a direcçãosugerida pelas mudanças mais recentes na“ordem internacional” contemporânea (tantoquanto conseguimos entrever nelas umsentido) parece ser obstinada. E não é a deum regresso ao passado. Ultrapassados osmomentos iniciais de uma transição que seadivinha prolongada, assente alguma dapoeira levantada, vislumbra-se a silhuetade uma nova ordenação; a emergência rápidade uma nova configuração de relações nosistema internacional em lugar daaritmética de um mero somatório de Estadosou da geometria de uma coagulação em blocos(económicos, políticos, militares, ou, à laHuntington, “civilizacionais”). Antes umatopologia. Um alastrar de novas manchas umpouco por todo o Mundo. A cobertura dezonas e regiões por uma nova tutela: a deuma comunidade internacional cada vez maisconstrangente com a qual, por pressõespolíticas globalizantes inexoráveis, todosestamos a ser obrigados99 a cooperar.99 Uma polémica jusinternacionalista recente, relativa aoalargamento do Direito de ingerência humanitária, opôs, nasprestigiadas páginas do European Journal of International Law,publicado em Oxford, Antonio Cassese (1999) e Bruno Simma(1999). O pretexto foi a intervenção da NATO no Kosovo.Cassesse (outrora Juiz Presidente do Tribunal PenalInternacional para a antiga Jugoslávia, sediado na Haia),favorável à intervenção da NATO, viu nela um passo decisivona gestação, que considera inevitável e desejável, de umaampliação profunda dos Direitos de Intervenção e Ingerência,sobretudo se o objectivo for a salvaguarda de direitos (osHumanos, neste caso) de sujeitos já consagrados no DireitoInternacional pós-westphaliano; insiste, no entanto, serimprescindível estipular condições estritas para que essa
191
Como figuras, não são enxutas.Não se trata da instauração de verdadeirosProtectorados (no sentido clássico estritoda figura), já que não são seus atributosnem uma submissão permanente, nem umaverdadeira anexação, e muito menos o serlevada a cabo por um qualquer Estado (ouagrupamento) mais poderoso. Não é seuampliação seja legítima, por forma a impedir a suaintrumentalização, a título de pretexto, por interessesestatais estreitos. Simma assumiu uma posição mais crítica,embora não inteiramente dissonante da de Cassese. Para Simma,que concordou com o recurso à força como ultima ratio no chamoua hard case, não é líquido nem que a intervenção da NATO tenhasido legal (com argúcia, Simma escreveu que only a thin red lineseparates NATO’s action on Kosovo from international legality), nem quepossa (ou deva) estabelecer um precedente, que teme would havean immeasurably […] destructive impact on the universal system of collectivesecurity embodied in the [UN] charter. Uma visão paralela, masalternativa, é a de Ignacio Ramonet (2000); outra, maiscrítica, fôra a defendida por Noam Chomsky (1999). Umapostura não muito diferente da de A. Cassese foi a adoptadapelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, econhecida como a Annan doctrine: uma doutrina formalmentearticulada e anunciada perante a 54.ª reunião da AssembleiaGeral das Nações Unidas, a 20 de Setembro de 1999, com umtácito objectivo conjuntural: a legitimação da acção noKosovo (e porventura como forma de pressão sobre o regimeindonésio de então). Annan enunciou a sua doutrina com ainsistência de que intervenções militares unilaterais seriamlegítimo, mesmo “na ausência de uma autorização pronta[prompt]” do Conselho de Segurança, naqueles casos em que “ohorror” estiver em curso. Os países “ocidentais” e alguns dosafricanos saudaram a doutrina do Secretário-Geral. Muitos dospaíses em vias de desenvolvimento assumiram posturasambivalentes. Uma oposição veemente coligou a China, oVietname, a Indonésia, a Coreia do Norte, a Índia, a Rússia,a Bielorússia, o Iraque, a Argélia, o México e a Colômbia. Areeleição de Kofi Annan no ano de 2001 parece assegurada,tendo representantes diplomáticos ocidentais formalizado asua intenção de votar favoravelmente a sua recondução,destacando precisamente a importância que atribuem àenunciação, por Annan, desta doutrina.
192
motivo primordial (ou em todo o caso a suacausa primeira) o eventual interesse de umqualquer grupo em mão-de-obra barata, emrecursos naturais valiosos, num maior pesoespecífico próprio, ou em melhoria deposicionamento em termos de segurança edefesa (o que, na época da bipolarização,era apelidado de interesses e imperativos“geo-estratégicos”). Há, antes, nessealastrar de novas manchas, um objectivobásico: o de garantir mínimos normativosque assegurem a integração do agrupamentoem que é levada a cabo a intervenção (ou,pelo contrário, a salvaguarda face àprepotência do Estado soberano de que façaparte), sem desacatos, numa nova ordemmundial pós-westphaliana em gestação. Nãoserá talvez por isso totalmenteinfundamentado conjecturar que aquilo a queassistimos seja uma efectiva (e porventuraprofunda) transformação da estrutura e da naturezada comunidade política internacional.100
Não será demasiado especulativa(nem particularmente inovadora) esta tomadade pulso da evolução corrente da ordeminternacional. Mas excede claramente todasas previsões geráveis a partir deparadigmas (cada vez mais datados) como osdos que persistem em ver no Mundo umabipolarização (agora como complot secreto, ou100 Que (quem sabe?) pode vir a exigir, como assevera edefende com grande elegância Boaventura Sousa Santos, adelineação progressiva de um novo “contrato social”refundador.
193
oblíquo, de lobbies económicos, políticos, oureligiosos, subterrâneos), ou uma ordemunipolar hegemónica norte-americana, oucomo os daqueles que insistem num “fim daHistória” à la Francis Fukuyama ou num“choque de civilizações”, na versão SamuelHuntington. E tem consequências, umaperspectivação destas; ainda que tão-só anível etico-político. Assegurar que alógica sistémica (e a vontade política),que sancionam e exigem ingerências“policiais” do tipo das que hoje em dia segeneralizam um pouco por toda a parte (eque progrediram, com a surpreendenterapidez de um bom aluno que aprende, semhesitar, com a experiência, de meras acçõesde peace-keeping para um mais musculado peace-enforcement, e tantas vezes agora oinevitável nation-building), se manifestem nacriação progressiva de uma sociedadeinternacional que seja democrática epluralista101, em que a diversidade seja de
101 As dificuldades em o conseguir lograr não têm passadodespercebidas. Numa colectânea recente (Lensu e Fritz, 2000),são aventadas várias modelizações e “soluções” teóricas paraum problema inevitável suscitado pela progressão recente daordem internacional. Um problema que Lensu enuncia doseguinte modo: how can we encounter “otherness” or difference in an ethicalway? A questão resulta da situação de claro value pluralism doMundo em globalização; e redunda na óbvia existência daquiloque ela apelida de diverse ultimate values (op. cit.: xviii). Segundoa autora senior, a maioria dos debates entre defensoresocidentais de Direitos Humanos e os adversários não-ocidentais destes, ilustra the fundamental question facing normativetheory in International Relations: how to reconcile value pluralism with anappropriate ethical orientation (good/right/fair/just) (ibid.), num Mundo noqual as opiniões divergem muito no que toca, nomeadamente, ao
194
regra e as identidades específicas quetenhamos por bem arvorar não se vejam nemexcluídas nem neutralizadas e em que atranquilidade se respire a par de algumentusiasmo com o galope desenfreado dasmudanças, um Mundo em todos os recantos doqual vigore o valor supremo da Liberdade,parecem ser as mais meritórias das batalhasque é urgente que nos saibamos prepararpara empreender. Para essa e questões conexas denovos posicionamentos político-ideológicosme viro, num olhar rápido, na última partedesta já longa comunicação.
6.
Entrevejo três grandes famílias,em fermentação, de novas posturas político-ideológicas activas. Três tendências emrápido crescimento no cadinho do queintitulei “a nova sociedade civilinternacional”. Por comodidade, dar-lhes-ei
contéudo e à extensão de “valores” básicos e fundamentaisdesse tipo. Assumir uma postura mais negativa face a estasituação é, como será evidente, igualmente possível. Já noprincípio dos anos 90, num curto mas incisivo artigo redigidosegundo uma cartilha mais historicista que sociológica emuito mais político-ideológica que ético-filosófica, ImmanuelWallerstein (o célebre teórico norte-americano do “Sistema-Mundo”) tinha sublinhado a inevitabilidade do que chamoucultural resistance, na luta moderna contra the falling away from libertyand equality; uma contenda que Wallerstein considerava estar naordem do dia, dada a ascensão em flecha do “global” (1991:105).
195
três nomes (porque se trata de famílias,talvez seja mais apropriado falar deapelidos): seguindo uma tradição recente102,denominá-las-ei de internacionalismo liberal, decomunitarismo radical, e de democracia cosmopolita.Pese embora todas incluam formas activas deacção e intervenção, e todas elas estejambem implantadas um pouco por toda a parte,como todas as movimentações políticas umassão mais agrupamentos que frentes, outrasmais movimentos que organizações, de outroângulo ainda, por vezes se comportam demaneiras menos e noutras de maneiras maisunitárias. Nenhuma destas famílias égrandemente homogénea, ou sequer o pretendeser: nos três casos, vêem-se a si própriasmais como projectos e processos do quepropriamente como ideologias; já que todasconsideram que quaisquer formas canónicasrapidamente deixariam de se adequar a umMundo em constante mutação. Nissoaproximam-se bastante da “desordemordenada” que (quando olhados de fora paradentro) é sempre a imagem que todos osprocessos democráticos103 aparentam ter. Nem102 Na obra citada, por exemplo, D. Held et al. (1999): 414-453, utilizam os termos liberal-internationalism, radical republicanism,e global cosmopolitanism. O termo “comunitarismo” parece-memelhor (e mais descritivo) que o de “republicanismo”, paradenotar a segunda família das que identifico. Quanto àsoutras denominações, o seu uso corresponde, de qualquermaneira, ao de muitos dos seus proponentes, que com estestermos se identificam.103 E, certamente, é-o da perspectiva dos não-democratas, quepersistem em nesses termos lançar críticas tão ferozes comodescabidas a um processo (o democrático) que insistem em ver
196
todas defendem sequer o seu empenhamentonum verdadeiro esprit de corps próprio, ou mesmonuma verdadeira e estável identidade,embora também nisso se distingam entre si.Tal como o Mundo em que se implantam, sãoformas novas. Repô-las no contexto que tenhovindo a descrever torna estas famíliaspolíticas emergentes mais inteligíveis. Aideia de um Estado, de um governo, ou de umtipo de governação (sejam estesdemocráticos ou não) não pode hoje, emsentido estrito (e por meras razõesempíricas, quer isso nos agrade quer nosrepugne) pura e simplesmente serequacionada em relação a comunidadespolíticas claramente delimitadas, ou aEstados-nação “clássicos”. Quem vive empaíses de pequena ou média dimensão (como éo caso de Portugal) desde há muito que temdisso uma consciência aguda. E se ascomunidades que efectivamente temos (semfalar das que “imaginamos”104) não cabem jácomo um sistema. Como é bem sabido, era esta a pedra de toqueda desmontagem que os propagandistas do Estado Novo seempenharam a levar a cabo quanto aos fundamentos políticos daI República. Uma versão soft deste viés perpetua-se naperspectiva daqueles que continuam em ver desordem e“balbúrdia” no que, num tom derrogatório, chamam “os lobbies”,e teimam em tomá-los como parte dos problemas e não comoparte da solução para muitos dos impasses da infelizmenteainda jovem Democracia portuguesa.104 Para uma discussão brilhante deste conceito (que aíintroduziu) de “comunidades políticas imaginadas”, convém aleitura de Benedict Anderson, (1991), Imagined Communities.Reflections on the origin and spread of nationalism. Seria interessanteensaiar uma aplicação do método de análise utilizado por
197
em boa verdade nos limites estreitosdefinidos para os Estados tradicionais(quanto mais não seja porque, como vimos,muitas — e cada vez mais — das forças e dosprocessos que as constrangem escapamlargamente ao seu controlo efectivo), entãoalguma coisa está de facto a mudar. OMundo, como todos notamos, mostra-se (bemou mal, e muito provavelmente feliz einfelizmente) cada vez, em cada dia, maiscomplexo, interdependente,multidimensionado. Os centros de poderestão mais deslocalizados, maisdesterritorializados. A grande questão queno fundo, hoje, se põe é a de saber onde, ea que nível, em que instâncias, e de que forma,fazer frente às novas e às velhas questõesque nos afectam; e tentar para elasencontrar soluções. As três famíliaspolíticas que listei dão substância a trêsprojectos (talvez melhor, a três agendas),parcialmente sobrepostos, de regulação e dedemocratização dos processos detransformações globais; e, também, dospapéis, neles, dos Estados. São, noessencial, guiões com que os membros maisactivos da sociedade civil internacional emgestação pretendem “civilizar”, e“democratizar”, as transformações globais,os processos de globalização.
Anderson ao estudo da progressão recente da ideia de umacomunidade global; mais um texto que, a meu ver, éinteressante ler de par com os de Bauman e Brown, que atráscitei.
198
Identifiquemo-las uma a uma. Afamília liberal-internacionalista é de algum modo aque subjaz ao wilsonianismo, ao projectorooseveltiano de criação do sistema dasNações Unidas, e às cimeiras de Davos, naSuíça. Trata-se de uma família heteróclita,para dizer o mínimo. É de matriz noessencial normativa. Advoga no fundo (emais ou menos explicitamente) umatransposição, para a esfera global, daordem política, económica e normativa daDemocracia liberal estadual “clássica”. Assuas palavras-chave são os tradicionaismecanismos de consulta, a transparência, aresponsabilização perante as pessoas, oscidadãos, os contribuintes. A lógica dosistema que defendem é a de umaracionalidade individualista e maximizante,na convicção de que todos com isso acabampor ganhar. Uma das suas formasorganizacionais preferidas são os think-tanks,muitos deles ligados aos Estados, sobretudono mundo anglo-saxónico. Possuem lobbiespoderosíssimos e muito bem estruturados. Osliberal-internacionalistas estão bastantebem posicionados, são activos e influentes:vimo-los em Davos, em Quioto, e em Seattle,nos painéis e nas tribunas de honra,ouvimo-los em entrevistas nas cadeias detelevisão internacionais mais reputadas. O comunitarismo radical posiciona-seno que, tradicionalmente, chamaríamos umespaço político mais à esquerda. Onde os
199
internacionalistas liberais propõemreformas, os comunitaristas radicais exigemo empowerment. Fazem-no seguindo, aliás,princípios republicanos clássicos: porintermédio, ou recurso, à criaçãosistemática de meios alternativos deintervenção e controlo. Os agentes dasmudanças, para estes republicanoscomunitaristas105, são agrupamentos (deecologistas, New Agers, feministas,pacifistas), apostados em mobilizarsolidariedades transnacionais, como formasde resistência cujos objectivos são, porvia de regra, igualitaristas. Muitoscomunitaristas radicais opõem-se àssoberanias tradicionais, preferindo-lhesformas de autogestão comunitária. A lógicadaquilo por que pugnam tende a ser encaradacomo uma ética humanista, participativa, deligação democrática directa e de partilha.Formam agrupamentos com pouca coordenaçãouns com os outros (quantas vezes mesmo, ecom grande veemência, antagónicos entresi), mas que vocal e activamente têm feitosentir a sua presença. Os comunitaristasradicais tornam-se notados. Ouvimo-los evimo-los em Seattle, no Rio de Janeiro, emDavos, em Berlim, em Quioto, nos écrans detodas as televisões do Mundo, em cimeiras105 É improvável que os vários subgrupos desta famíliaconcordem tanto com a denominação de “comunitaristas”, comocom a de “republicanos”, ainda que não pense que a suaeventual recusa se deva a mais do que uma forte repugnânciapor “etiquetagens”, sobretudo se tidas como“indiferenciadoras” e como “reificações”.
200
alternativas paralelas, em protestospacifistas, ou em duras confrontações com apolícia. O cosmopolitismo democrático contrastacom as duas outras famílias, pelo menos nosentido de se empenhar em construir (nosentido forte de o estar a inventar) o seupróprio espaço político. Menos organizadaque as duas famílias anteriores, deve-o aofacto de ser um ponto de confluência dedois movimentos de criação: é um produtointelectual, elaborado, com compasso eesquadria, por académicos, em convergênciacom uma espécie de “ideologia espontânea”comum a uma mistura tão díspar como aformada por elites culturais, minoriasétnicas, e adolescentes. A convergência nãoé nem acidental, nem efémera. A cidadania“por camadas” (multilayered) na sociedadedemocrática do futuro (parece ser esta, emtodo o caso, a convicção partilhada) é umasimples consequência da evidência de quetodos estamos condenados à mais profundadas multiculturalidades: para além decidadão de um Estado, cada um de nós iráparticipar, em simultâneo, de outrascidadanias, locais, regionais e globais.Como essa é a natureza do Mundo emgestação, argumentam alguns dos democratascosmopolitas (os outros, sem argumentarseja o que for, limitam-se a senti-lo napele), será só quando conseguirmos garantirum pleno acesso a uma cidadania múltipla:
201
uma cidadania realizada, em simultâneo, emdiversas comunidades políticas (e muitasdelas comunidades de diferentes níveis deinclusividade) que tornará possívelassegurar uma participação, um enpowerementface às novas formas de poder, umpluralismo. Numa palavra, a liberdade. Alógica defendida acaba por ser a de umareconceptualização (intelectual ouespontânea, e provavelmente ambas) daautoridade política legítima. O meio maiscomummente proposto para o conseguir, passapor uma desconexão entre essa autoridade eo seu lugar de inserção “clássico” (osEstados, no interior de territórios fixos ecentralizados), ligando-a, em vez disso (ede algum modo em rede), a vários níveis quese estão a reconstituir como instânciasparalelas uma às outras e auto-reguladas:comunidades locais, cidades, regiões,Estados, grandes blocos regionais e oglobal106. Argumentam os democratas
106 Com algum fundamento, muitos dos mais importantes einfluentes autores cosmopolitas democráticos, incluem na suagenealogia intelectual Hedley Bull (1977), um dosprogenitores da escola britânica de Relações Internacionais;nomeadamente, a sua opinião (que data de, pelo menos, 1977),que estaria a despontar na ordem internacional aquilo a quechamou a new medievalism. Para citar Bull: it is familiar that sovereignstates today share the stage with “other actors”, just as in medieval times the statehad to share the stage with “other associations”…If modern states were to come toshare their authority over their citizens, and their ability to command theirloyalties, on the one hand with regional and world authorities, and on the otherhand with sub-state or sub-national authorities, to such an extent that the conceptof sovereignty ceased to be applicable, then a neo-medieval form of universalpolitical order might be said to have emerged (H. Bull, 1977:254-255).Tanto Andrew Linklater (1998), como David Held (1999), sem
202
cosmopolitas que essa deslocalização “paracima”, “para baixo”, e “para o lados”, jácomeçou. Muitos estão no entanto apostadosem tentar intensificar esses processos dedifusão e disseminação, na condição de queo processo seja gradual, e envolva aconquista de novos direitos e deveresdemocrático-liberais. Defendem, de par unscom os outros, Estados, organizaçõesinternacionais, comunidades locais, eassociações transversais múltiplas. E sãoactivos, nos cenários que privilegiam. Maisdo que isso: os cosmopolitistasdemocráticos têm poder efectivo. Não osvimos nem os ouvimos nem em Davos, nem emSeattle, nem em Berlim, nem em Quioto. Masserá com base no que irão escrever sobreestas cimeiras que sobre elas iremos formaruma opinião. Serão porventura estes osprincipais objectivos das três famíliaspolíticas com que hoje em dia, face àglobalização, deparam os Estados (pelomenos os Estados democráticos107)
sombra de dúvida os mais famosos dos teóricos docosmopolitismo democrático contemporâneo, citam Bull como umantepassado neste contexto preciso.107 Note-se que estas três famílias são famílias “detransbordo”: Mas, como seria de esperar dada a natureza dosprocessos de transformações globais, há também outrasfamílias, simultâneas e muitas vezes inimigas mortais destas,“de cascata”: e assim é, porque onde há McWorld há Jihad. Semquerer aqui mais que aflorá-las, não me parece mal a divisãotripartida que (noutro contexto, e com outras finalidades),John Comaroff (op. cit.: 175-177) delas faz; Comaroff descreve edistingue os Euronationalists (mais interessados, nas suas
203
contemporâneos: participar numa reforma defundo da governação global que está emcristalização, por extensão para fora dasua ordem política interna tradicional;ceder lugar a uma forma alternativa degovernação que os exclui enquanto sedes dopoder ou, pelo menos, secundariza e vaiesbatendo; ou ajudar a reconstruir os termosdessa governação, de acordo com as novascoordenadas emergentes de um Mundo em épocade globalização.
BIBLIOGRAFIA
Aguiar, Joaquim (1998), “A crise asiática eas suas repercussões”, Política Internacional 2:115-141.Anderson, Benedict (1991), ImaginedCommunities. Reflections on the origin and spread ofnationalism, Verso.Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the World,Ballantine Books, New York.Bauman, Zygmunt (2001), Community. Seeking safetyin an insecure world, Polity.
elaborações, em chronology do que em cosmology, muito próximosde um “nacionalismo cívico”), dos ethnonationalists (de famabalcânica e terceiro-mundista, segundo ele, para os quais,cosmology may take precedence over chronology), e ambas estas famíliasda dos heteronationalists, que identifica com a obsession with thepractices of multiculturalism própria dos norte-americanos.
204
Bettati, Mario (2000), “Théorie et réalitédu droit d’ingérence humanitaire”,Géopolitique 68: 17-27, Paris.Brown, Chris (1995), “Internationalpolitical theory and the idea of the worldcommunity”, em (eds.) Booth, K. e Smith,S., International Relations Theory Today: 90-110,Cambridge.Bué Alves, Duarte (2000), “Recensão aFrancisco Lucas Pires”, Themis, Revista daFaculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa:293-305.Bull, Hedley (1977), The Anarchical Society: a studyof order in world politics, McMillan, London.Cassese, Antonio (1999), “Ex iniuria ius oritur:are we moving towards internationallegitimation of forcible humanitariancountermeasures in the world community?”,European Journal of International Law 10 (1). 23-31,Oxford.Chomsky, Noam (1999), The New Military Humanism.Lessons from Kosovo, Pluto Press, London.Comaroff, John L. (1996), “Ethnicity,nationalism, and the politics of differencein an Age of Revolution”, em (eds.) E.Wilmsen e P. McAllister, The Politics ofDifference, The University of Chicago Press.Dahl, Robert (1989), Democracy and its Critics,Yale University Press.Delmas-Marty, Mireille (1999), “Amundialização do Direito: probabilidades erisco”, Studia Iuridica 41, Colloquia 3: 131-145,
205
Boletim da Faculdade de Direito, Universidade deCoimbra.Escarameia, Paula (1993), Formation of Conceptsin International Law. Subsumption under self-determination in the case of East Timor, FundaçãoOriente, Lisboa.Giddens, Anthony (1999), Runaway World. Howglobalization is reshaping our lives, Profile Books,London.Held, David, McGrew, Anthony, Goldblatt,David e Perraton, David (1999), GlobalTransformation. Politics, Economy and Culture, PolityPress.Huntington, Samuel (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25.________________ (1996), The Clash of Civilizations and theremaking of World Order, Simon and Schuster, NewYork.________________ (1999), “The Lonely Superpower”,Foreign Affairs, 78(2): 35-50.Jackson, Robert (1990), Quasi-States: sovereignty,international relations and the Third World, CambridgeUniversity PressJoerges, Christian (1998), “‘GoodGovernance’ through comitology?”, em (eds.)Christian Joerges e Ellen Vos, EU Committees,Social Regulation, Law and Politics: 311-338, Oxford,Hart Publishers.(ed.) King, Anthony (1991), Culture,Globalization and the World-System. Contemporaryconditions for the representation of identity, MacMillan.Knutsen, Torbjörn (1999), The Rise and Fall ofWorld Orders, Manchester University Press.
206
Kolko, Gabriel (2000), “Kosovo, leçonsd’une guerre”, Manière de Voir 49: 17-21.Paris.Krasner, Stephen (1999), Sovereignty: OrganizedHypocrisy, Princeton University Press.(eds.) Lensu, Maria e Fritz, Jan-Stefan(2000), Value Pluralism, Normative Theory andInternational Relations, Millenium, London.Linklater, Andrew (1998), The Transformation ofPolitical Community. Ethical foundations of the post-Westphalian era, Polity Press, Cambridge. Lucas Pires, Francisco (1997), Introdução aoDireito Constitucional Europeu, Almedina, Coimbra.Mann, Michael (1999, original 1997), “Hasglobalization ended the rise and rise ofthe nation-state?”, em (ed.) T. V. Paul eJ. A Hall, International Order and the Future of WorldPolitics: 237-262, Cambridge University Press.Marques de Almeida, João (1998), “A paz deWestfália, a história do sistema de Estadomoderno e a teoria das relaçõesinternacionais”, Política Internacional 18(2): 45-79.Marques Guedes, Armando (1999), “AsReligiões e o Choque Civilizacional”, emReligiões, Segurança e Defesa: 151-179, Institutode Altos Estudos Militares, Atena._________________(2000), “As guerrasculturais, a soberania e a globalização”,Boletim do Instituto de Altos Estudos Militares, 51: 165-162.Nye, Joseph (1997), Understanding InternationalConflict. An introduction to theory and history, Longman.
207
(eds.) Paul, T. V. e Hall, J. A. (1999),International Order and the Future of World Politics,Cambridge University Press.Ramonet, Ignacio (2000), “Ingérence etsouveraineté”, Géopolitique: 51-55, Paris.Reno, William (1998), Warlord Politics and AfricanStates, Lynne Rienner Publishers, Boulder andLondon.Rubio Marin, Rut (1998), “National limitsto democratic citizenship”, Ratio Juris 11 (1):51-66.Simma, Bruno (1999), “NATO, the UN and theuse of force: legal aspects”, European Journalof International Law 10 (1). 1-23, Oxford.Sousa Santos, Boaventura (1998), Reinventar aDemocracia, Gradiva e Fundação Mário Soares,Lisboa.Strange, Susan (1996), The Retreat of the State. Thediffusion of power in the world economy, CambridgeUniversity Press.Wallerstein, Immanuel (1991), “The nationaland the universal: can there be such athing as world culture?”, em (ed.) King,A., op. cit.: 91-107.Walz, Kenneth (1959), Man, the State and War: atheoretical analysis, Columbia University Press.Waters, M. (1995), Globalization, Routledge,London.
208
4.
LOCAL NORMATIVE ORDERS AND GLOBALISATION:IS THERE SUCH A THING AS UNIVERSAL HUMANVALUES?108
1.
Post-modernity109 has been ripewith the assertion of the recent death of108 Comunicação apresentada a 13 de Dezembro de 2001, naFaculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Novade Lisboa, no quadro de um Colóquio Internacional intitulado“Other Reasons, Other Cultures, Other Laws”,
209
the transcendental subject. Notsurprisingly, one of the intellectualimplications of this perceived state ofaffairs is a routine denial of the verypossibility of assuming a transculturalstandpoint; of occupying the kind of roomwith a privileged view which manysuccessive generations of Kantians claimedas their own, and of placidly surveyingthings from that vantage. Hence, it isoften felt, a truly universal compellingmorality painfully (but irrevocably) eludesus all. For advocates of post-modernism,value relativism is an inevitableconsequence of this demise. In my view, this perceiveddifficulty is linked in many ways to ourimages of the experiences we live throughin the modern world. Power relationshipshave been thoroughly reshuffled, again andagain. The very shape of order has had a109 Earlier versions of this text were given to read to AnaCristina Nogueira da Silva, António M. Hespanha, AntónioMarques, Armando M. Marques Guedes, Gabriel R. G. Benito,John Huffstot, José Carlos Vieira de Andrade, José de Sousa eBrito, Lurdes Carneiro de Sousa, Manuel Oliveira, Maria LúciaAmaral, Pedro Duro, Rui Machete, Paula Escarameia, Rui PintoDuarte, Susana Brasil Brito, Teresa Anjinho, Teresa PizarroBeleza e Tom Svensson. Most of them were kind and generousenough in their often detailed commentaries, from which mypaper has greatly benefited. I am also grateful for the richdiscussion triggered during my oral presentation on December13th, 2001, in particular for the constructive encouragementsformulated by Tamar Herzog, Richard Hyland, José Reinaldo deLima Lopes, Aldo Mazzacane and Gyan Prakash. Theresponsibility for the finished product remains, of course,entirely my own.
210
turbulent late history, and the last threemonths or so have been an ugly, painful,reminder of that. Notwithstanding somesuccesses, past and ongoing experimentswith normative harmonisations of all kinds(legal as well as religious, ethical asmuch as political, particular or general inscope and ambition) are at bestdiscouraging. Hopes of a universalisingconsent have consequently either simplyevaporated or have tended to increasinglystand out as illusions born of thefantasies of other eras. The immediate horizon we bravemost certainly does not seem too promising.Voices are daily making themselves heardthroughout our postcolonial settings andarenas, indignantly demanding a fullrecognition of the autonomous forms ofintegrity which were violently denied themfor such a long time. “Asian” forceful, butquiet, clamors for independent value andlegal systems, have somehow echoed moresubdued “African” ones, as well as muchlouder and more strident exactions comingfrom the “Middle East”. And this is amovement which is by no means restricted tothe “zealotry” of people such asSingapore’s continuing strong-man Lee KwanYew, Malaysia’s Mahatir bin Mohamad, thenotorious Osama bin Laden, Robert Mugabe inZimbabwe, the frustrated George Speightfrom Fiji, or Iraqi Saddam Hussein. Even in
211
small-scale “traditional” societies asdisseminated as some of those in theCentral and South American outreaches, orCanada or the Pacific and Indian Oceans,demands for sovereign culturalexceptionalism, as we can usefully call it,can be insistently heard. Such urges vary wildly amongthemselves. In many cases, they areuncompromising; in some, open tonegotiations. What they do share is astudied rejection of what tends to becalled “the West”. A rejection whichsometimes slides down a slippery slope intoan avowed repugnance, a trend which hasbeen apparent for quite a while now. Insuch a conjuncture, finding a universalnormative common denominator appears moreand more as a remote dream. It seemsunlikely, to say the least, that therecently empowered Chinese will abdicatetheir penal practices (which we so abhor),that the Afghan taliban militants (or whatremains of them) will take in their strideour notions on the “equal worth anddignity” of males and females, or thatSoutheast Asian indigenous headhuntersprofess a collective mea culpa in relation totheir ancestral traditions. The difficulties perceived bypost-modernists have been wide-ranging. The“localist” distancing which I brieflycharted above has made itself felt both in
212
what concerns any hopes of “universal” rightsas in what has to do with “universal” values.It is perhaps in the more restricted fieldof contemporary legal universalisation, thatsome of the political, as well as many ofthe formal and technical, issues all thisraises glaringly come to the fore. Again, a cursory overview may beuseful. The new breed of “legalcomparativists” which so successfully metin Paris in 1900, tended to believe a rapiduniformisation of some sort was not onlypossible and desirable, but also quicklyachievable. Less than half a century later,the tune had changed. Of the many possibleexamples, let us stick to matters of humanrights: the “universal” character of the1948 Universal Declaration of Human Rightswas challenged by a handful of those publicand private actors (in ever growingnumbers) who saw in it little other thanthe latest sign of Western “culturalhegemony” (a then new concept for an oldreality, many felt). But those who voicedcomplaints (mostly non-Westerners, or onlymarginally classified as such) were not theonly ones who resisted. The tale of this twist ofrejection, of this twitch of separatism, isan instructive one. In an effort to avoiddivisionist reactions, the optimisticDeclaration did not separate or allow anyhierarchies between civil and political
213
rights, and economic, social or culturalones. In 1966, in two United NationsCovenants, however, a dissociation of thesetwo sets of rights was in practiceeffected, following the preferences of someof the member States. The outcome:universalism, but not quite. Regional mechanisms for theprotection of human rights had started thisfragmentation early on; a EuropeanConvention (1950), was followed by anAmerican one (1969), in turn answered by anAfrican Charter for the Rights of Man andPeoples (1981), with few built-in controlmechanisms, and by an explicitlyconfessional Arab Charter (1994), withfewer still. So, rapidly, as could beexpected, a wide dissemination deflectedthe voluntaristic pressures for uniformity.Moreover, many countries (namely the UnitedStates of America) repeatedly sought to“renationalise”110 human rights by means ofrather more devious tactics: by a verysustained, purposeful, and oblique game ofsystematic reservations and declarations ofinterpretation, formulated at the time oftheir ratification of those very legalinstruments. More and more, hopes of anyreal form of “universalism” seemed like adream shot down.110 The term (as many of the points made in this paragraph) istaken from the interesting article-conference of MireilleDelmas-Marty (1999).
214
On the face of it, none of this,indeed, is particularly surprising. Quitethe opposite, it was surely to be expectedin a politically still fairly anarchicalinternational field. Unstructured politicaldomains do render convergences toughbusinesses. Even in the neo-functionalistsparadise of our mild European Unionbackyard, irreductibilities of variousforms have made themselves felt. The net result: normativediversity of all kinds actually appears tobe on the increase. Hopes foruniformisation are felt to be under threat.Concomitantly, a common concept of the goodlife often seems to be, if anything,receding fast. But, of course, this is only partof the story. That perspective isessentially incomplete. For there is mostcertainly another side to the narrative ofwhich I have sketched but one of the sides.Ethical cosmopolitanism has also had a long(and just as turbulent) history, one theresults of which operates as acounterbalance to some of the “localist”forces I have just touched upon. Anambivalence of sorts thus seems to prevail,notwithstanding the skepticism of post-modern discourses.
In this communication I want tobegin tackling some of the issues that all
215
of this raises. My aim is rather wide-ranging. Ultimately, it is intended as anattempt at answering a simple but difficultquestion: are there universal human values?Does the question even make sense, intoday’s world? Or, on the contrary, is itonly in today’s world that it actuallydoes? For all this I strive to findtentative answers. And I try to do so bybriefly broaching some of the basics ofthese matters, basics which I believe needto be thought through in a far more carefulmanner. Up to this point I have mappedout a very thin and brief historicalpinpointing of some of the contemporaryresistance encountered by the ongoingethical cosmopolitan project, if we maycall it that. Before dipping into moresubstantial issues, I next want to just asbriefly and lightly touch some of themovements of toing and froing suffered bythat project. I shall then veer into a moretheoretical discussion. In what followsthence, I will by no means attempt to coverthe entire domain of pertinent questionsall this brings up (and to my mind they areindeed many, and crucial ones at that), norwill I really try to suggest any real (inthe sense of final, or definitive)responses, or recipes, for any of them. ButI shall try to raise some doubts about the
216
overall post-modern program. And I will tryto do so from what I consider to be a neo-Kantian, in a sense even a Liberal(although not a “classical” one),perspective. In general and abstract terms(but not in substantive ones), I shall tryto somehow answer, even if perfunctorily,the questions I posed above; and no morethan that. But I am, of course, painfullyaware that even this is too long a road fora lifetime, and thus wholly uncrossable inmy allotted space and time. So I shallcircumscribe my theme, turn it intosomething more handy and user-friendly. I will try to do so by remainingon a sort of high ground. I will brieflytouch upon some normative orders; and thenonly superficially. Moreover, I shallapproach normative orders in general, andconfine my attention to their generalrelationships with global transformations: notthe detailed mechanics, but rather themacro-links – how the latter engulf theformer, but the former, in turn, patternthe latter. Obviously, given such restraintsand limitations, my aim is only indicative.It could not but be so. I shall restcontented if I manage to equate some few ofthe relevant materials that I believe needto be brought into play in any cogent
217
answers we may offer. Therefore, I will notbe very ambitious here.
2.
As a first step (and in a moreequitable recasting of the shifting balancebetween localism and ethicalcosmopolitanism, even if I am to be verycursory here as far as origins areconcerned), it is surely convenient tostart at the beginning. The generalisedconviction that there is indeed such athing as universal human values is by nomeans a new one. From its remote origins asan original Christian idea, it slowlyswayed into an explicitly political weaponin the XVIth century, with a visible andmore narrowly focused instrumentality inits scope. It is perhaps not excessive toassert that the initial transition wasswift. Novel Renaissance politics broughtit about. Already in the dawn of colonialtimes, as the hard-fought dispute betweenthe Castillian Jesuit Bartolomé de lasCasas and the jurist Sepulveda111 abundantly
111 A wonderful discussion, of which we unfortunately (andrather curiously, I might add) do not know the conclusions;but we do know the story. As is well known, de las Casasenjoined the Castillian King to put a stop to the many“atrocities” being committed against the newly discoveredIndians, the resulting loss in life of soul-bearing “Children
218
and graphically rendered blatant, the brutefacts of the forceful submission imposed onthe many non-Europeans encountered andtheir subsequent subalternity tended tosharpen its cutting edge. The next couple of hundred yearspolarised relations ever further. The neo-classical humanism spurned by a growingurban bourgeoisie anxious to assert itsright to a voice not based on privilegepushed it forward. The IndustrialRevolution increased the pressure, directlyas well as indirectly. When, from themiddle of the XIXth century onwards,steamships and the then recentlyinternationalised colonial boom rapidlyshrank the world, its harsh politicalfacies revealed itself most clearly in thetransmutation of this religious constructinto ethical universalism and its late1700s’ Kantian Illuminist avatar, ethicalliberal cosmopolitanism. From then onwards the tale haslargely been a Liberal one. To cut a longstory short: in the early XXth century thischange reached its apex, when a motivatedand very activist American President,Woodrow Wilson, led the march, with the
of God”, and attributed it to greed. The King agreed atfirst. Sepulveda argued for the “bestiality” and soul-lessness of Indians, and thus thought it unfounded for theKing to intervene on their behalf. Even in the absence ofdata on the actual outcome of the Disputación which ensued,we know what happened to many of the Indians.
219
famous fourteen points he presented to thedelegates preparing what became the ill-famed and ill-fated Treaty of Versailles,and with the ensuing short-lived League ofNations. It was a swansong; rabidnationalisms on the rise and German andJapanese rather militant forms ofexclusionary exceptionalism put a suddenend to that early dream. But ethical universalistyearnings did not die. A decade later, thehopes rose from the ashes, re-energised, ifonly for a brief flash. The narrative ofthis bout of revitalisation is not trivial:in a cycle that was to establish itself,the then historically rather recentpolitical recasting of universal humanvalues had become hegemonic, and itscontaminating presence almost entirelytransparent. For many intellectuals, at least,the long-awaited Allied victory in WorldWar II brought a bright hope of a newethical universalism, born both of thehorrors of the conflict and of the sharedsolidarities fashioned by common suffering.For Europeans, at least for West Europeans,as we then called ourselves, this gave rise(for instance) to the grandiose politicalproject which is now that of the EuropeanUnion. For the world at large, it spelledeven more ambitious and all-inclusivemovements, of which the creation of the
220
United Nations system was perhaps the mostvisible peak. But, unfortunately, the newenthusiasm was not to effervesce for verylong. For the tide soon turned: at least inthe first few post-War years, andthroughout the first decade ofreconstruction and political reframing, abitterness slowly crept in as the graybipolar world rapidly crystallised and whatwas to become the Cold War came to makeitself felt. Albeit couched in a newfangledgarb, the good old Hobbesian “internationalanarchy” (or so it seemed to many) hadsurvived largely untouched, either by therather monstrous enormities committed bythe Nazis, or by the geopoliticalreshufflings which flowed from the recentupheavals. A moral recession of sortsmajestically settled on war-weary worldshores. For, in point of fact, althoughintellectual ethical cosmopolitan feelingsindeed initially seem to have soared inthose short-lived heady times immediatelyafter the Armistices, this quickly led to abacklash of forlorn desillusionment.Commenting on the post-War all-too-easyreversal of opinion (or, at least, thehabitual Machiavellian pose adopted in suchcircumstances) of politicians, in which thedefeated Germans suddenly became newfriends and the saviour-Russians suddenly
221
transmuted into the dark enemy, ArthurMiller, the playwright, bitterly wrote, notall that long ago, in 1987: “[this is] anignoble thing. It seemed to me in lateryears that this wrenching shift, thisripping off of Good and Evil labels fromone nation and pasting them onto another,had done something to wither the verynotion of a world even theoretically moral.If last month’s friend could so quicklybecome this month’s enemy, what depth ofreality could good and evil have? The[contemporary strand of] nihilism – evenworse, the yawning amusement – toward thevery concept of a moral imperative, whichcould become a hallmark of internationalculture, was born in these eight or tenyears of realignement after Hitler’sdeath”112. Miller was of course right, ifalso slightly naïve. The “Western” publicreaction of outrage was fairly generalised;and as bitter pessimism grew quickly in thenew international civil society (as it cameto be seen) forming there, the high brighthopes that had so coloured the animus (andthe public kudos) of the reborn intellectuallife of the immediate post-war months ofheady euphoria receded too, and did so at avery fast pace. Historical fact appeared indeedto roll it back into a severe bout of
112 Arthur Miller (1987), Timebends: A Life, Methuen, London.
222
disconsolation and a sad ethicaldesolation. So much so that this backlashwas not inconsequent: a recession ofcosmopolitan moral feelings was to ensue.As had been the case almost a century and ahalf before (in the endgame of the 1815Vienna Conference which capped theNapoleonic Wars) the good old raison d’État, itbecame increasingly apparent, was alive andwell; allegations of its recent demise wereflagrantly somewhat premature. The new darkZeitgeist was to last for much longer thanever before since universalist hopes hadfirst entered the stage. The tale turned gloomy indeed.For almost half a century, the ill-fatedSoviet regime threw its weight around onthat front too. It held back the flow.Always suspicious about “human rights”,Moscow made sure Helsinki waited a longtime to arrive; and when it did, it was awelcome, but very cautious, step on whatmany dreaded was a lengthy and steep uphillroad. Hopes, however, are resiliententities. As soon as a minimally conduciveenvironment surfaces, they tend to undergoa rapid rebirth. And a new internationalmilieu was definitely on the rise. It tookthe fall of the Berlin infamous Wall, thereunification of Germany, the end toRussian colonial domination of all landsalong its lengthy western and southwestern
223
frontiers, the final demise of the oldSoviet Union, and the consequent erasure ofa harsh half-century of a tense bipolarform of international order, for the sweetdream to be reborn anew; for ethicalcosmopolitanism to reawake and gain a newlease on life. But it quickly did. We can perhaps see it, mutatismutandis, as another ressurection of an oldidea. Or we can envisage it as anessentially new figure, only functionallyequivalent to the one of old. In any case,it was again an ethical dream reborn. In asense, it clothes our own fantasy: it iscertainly a universalistic dream under thespell of which we somehow (and perhaps morethan ever) still live. Will it last forvery long? And is it really just a dream? At any rate, the least we can sayis the progression of ethical universalistyearnings is by no means a linear orunidirectional affair. To those who naïvelythought the post-Soviet, post-Wall of Shameand post-Iron Curtain thaw of “unipolarity”was the end of the story, History is onceagain clouding the issue. Much of theIslamic world, China, and what is curiouslystill known as ex-Jugoslavia, took care ofthat, as soon as it dared to reawaken. Therise of the Afghan taliban students and thetransnational al-Qaeda network ofuncompromising anti-Western terrorists gaveit soon afterwards what many see as its
224
death-blow, its coup de grace. In the newinternational scenarios the post-bipolarstage unrelentingly offers us, a cohort ofnew and apparently insurmountabledifficulties has been making itselfincessantly felt. They are difficulties which raisea variety of novel issues. Many of thesenew issues concern matters pertaining tothe “universality” of things as easy torecognise and as hard to define as “humanrights and values”. In many cases, fromAfghanistan to Sudan, to China or Cuba, toname but a few, this has assumed the harshclothing of explicitly culturalexceptionalist invocations, leveled in thename of the sovereign right to “self-determination” so rampant in contemporarypolitical discourse. In others, it haseither been cast in a more defensive shape(as an expedient means of “protecting theintegrity of traditional communities”against the encroaching and predatory“individualist dissolution”113 of Western-inspired modern life), or else a moremilitant one of a plain cultural,religious, and political intolerance whichrefuses any “alien” value systems.113 As many others did before him, Thomas M. Franck, anAmerican Professor of International Law, gave several rich(and critical) instances of this attitude in T. M. Franck,2001: 195-196. His views on local elite-led pseudo-traditionalist versions of communitarism are a good exampleof what I am tempted to call his instrumentalist version ofneo-realist liberalism.
225
Are they right? Or, at least, dothey have a point, no matter how lamely itmay have been put? Be that as it may, it ishard not to have the intuitive feeling thattheirs are clearly not sufficientexplanations for the “cultural”universalisation which is daily takingplace and which we all can sense. Like itor not, it is clearly there, eating away atmany localisms of old. What is in facthappening? And why is it unraveling as itis? It is tempting to blame good oldcultural diversity, or the spectre of thepolitical conveniences of power-hungrylocal elites for that seemingly novelpredicament. And although that may holdsome water, it clearly does not whollyunveil what is certainly a much morecomplex set of processes. At any rate, ignorance has neverstopped us from action; although it oftenrenders the action a fairly futilebusiness, at least in terms of its statedobjectives. Various sorts of adamantpolitical exertions focused on actuallyreconciling fundamental cleavages in basiccornerstone aims and objectives (a heavyworkload in the multi-centered world oftoday) have not lacked. And even some fewacademic efforts have been carried out oflate so as to intellectually contain (in amanner of speaking) these divergences.
226
The truth is that none of thishas yet gone very far. Even a cursory lookat the extant bibliography on such mattersshows us the sorry state of affairs on thatfront; or at least an excessively linearone. Allow me to pick a few instances as amore or less representative sample (andnothing but that) of contemporarytendencies. For example, in a recent andexcellent collection of research articleson international theory (Lensu and Fritz,2000), various rather simple models and“flat” theoretical “solutions” were putforward regarding some such inevitable“ideological” problems raised by thecurrent progression of the internationalorder towards a much closer level ofinterdependence of world actors, as well astheir multiplication. This raises issues which, in anutshell, Lensu characteristicallyenunciated in the following simple andstraightforward terms: “how can weencounter ‘otherness’ or difference in anethical way”? From her point of view (notsurprisingly as this is really not a verycontested question, at least at the levelof “problematisation”)114, the issue is114 To announce in advance my own position on this, allow meto state that it seems to me that is nevertheless high time,though, for us to think matters through carefully and torecognise that the issues posed are complex and multi-layered. Consider just this one example. In her introductionto the series of articles I have referred to, Maria Lensucollapsed into a West-centered matter of “ethical logistics”
227
brought to the fore by the situation ofclear and potentially troublesome “valuepluralism” of the globalising world, and itboth reflects and spells out thepervasiveness of what she calls the“diverse ultimate values” (op. cit.: xviii)often uneasily cohabiting in thisprogressively more interdependent world ofours115. Well, it is certainly the casethat, from the perspective of the dominantWest, the quandary faced is both internaland relational; and the issues raised areresidually moral, as well as ostensivelypolitical. But that hides, rather thansolves, the matter; it is surely part of
(allow me to call it that, with all due respect) what are infact various different levels of potentially interestinganalyses: according to her, the wide majority of debatesamong Western defenders of Human Rights and their non-Westernadversaries illustrates “the fundamental question facingnormative theory in International Relations: how to reconcilevalue pluralism with an appropriate ethical orientation(good/right/fair/just)” (ibid.), in a world in which opinionsgreatly diverge concerning, namely, the content and extensionof basic fundamental matters.115 From this and other works one sometimes gathers the uneasyfeeling that Samuel Huntington’s reifications in his Clash ofCivilizations has had a pervasive toll in the current framingof such matters. In fact, Samuel Huntington argued alonglargely similar lines in a famous 1993 article, under thesuggestive heading of “The Clash of Civilizations?”,published in Foreign Affairs 72(3): 1-25, later followed byan extensive monograph in 1996, with the quite similar titleof The Clash of Civilizations and the Remaking of WorldOrder, Simon and Schuster, New York. For Huntington, theultimate irreductibility if “worldviews” signifies a welcomenew form of balance of power in an otherwise chaotic post-bipolar order.
228
the problem and not really of the solution.Even our posturing is revealing: for ratherthan seen as philosophical, or ontological,the problem is treated as logistical. Now, I personally have no doubtswhatsoever that many Western and Western-prone radical normativists (let me callthem that) might be inclined to look atthings in such a linear manner. But I alsothink that in so doing they would miss muchof the point of what is actually going onin the post-bipolar world; and I believethat therefore theirs is not really auseful strategy for the purpose of equatingthe new predicaments we find ourselves in,as we fend off uncertainty in theglobalising arenas of today. For thingsappear to me to be much more complicatedthan that. In the Westphalian world ofStates brewed since 1648, strict, purelegal normativists had a field day, writingwhat appeared to all as the ultimate rulesof the game. In our post-Westphaliansunrise, this is no longer enough. I shall return to this point. Butfirst things first. To be fair, let meremark that quite apart from the tentativeanswers with which she actually comes up,Lensu appears to be moderately optimistic,for what that is worth: she seems tobelieve the “problem” she identifies reallyamounts to a temporary barrier encounteredby her abstract and general “Western-style
229
normative theory”, a passing afflictionwhich a hitherto unknown rational solutionwill, sooner or later, come to heal. Of course such is by no means theonly possible attitude to assume. Andindeed a more negative pose than Lensu’s inrelation to this issue is equallylegitimate, or at least well founded. Forone thing, others may not accept anexplicit or even an implicit Westernhomogenising hegemony, no matter if onlyfor “the benefit” of domains in which wedeem it as “better for all thoseconcerned”. One example may suffice of adifferent theoretical pose. Not all thatlong ago, in the early 90s, in a famousshort and incisive paper written in a morehistoricist than sociological vein, andmuch more political and ideological thanethical or philosophical, ImmanuelWallerstein (the renowned American WorldSystem theorist) had underlined theinevitability of what he termed “culturalresistance”, in our modern struggle against“the falling away from liberty andequality”; a fight Wallerstein thoughtlucidly to be in the order of the day giventhe rapid rise of the “global” (1991: 105).In his tone, he seemed to offer no hope fora solution: resistance flowed from afragmentation which, Wallerstein believed,will always be there
230
To be sure, both Wallerstein andLensu are in the end probably right, orpartly so. As is, of course (at least in myview), the more “classically” LiberalThomas M. Franck, in his insistence on aconnection between “modernity” and“universality”, as well as in his staunchdefence of “individualism” against idyllicand often manipulative visions of“communitarists”: a third visionary on suchmatters to whose work I shall be returningtime and again. But each of these thinkersseems to me to be entrenched into toopartial a view of things. To conclude my first step, I thuswant to argue that, to my mind, a newbalance needs to be struck. More has to bebrought to bear on these issues, and in afar more subtle fashion, if we are to hopeto ever come to make sense of things intoday’s apparently messy world. Many are thematters which need to be taken intoaccount. I shall list but a few. Valuematters are dynamic, not static; as such,they must be repondered taking stock of theongoing social processes that actuallyaffect them. For one, “cosmopolitan”universalist processes must not be seen astaking place freely, independently ofparallel simultaneous processes ofresistance and fragmentation. Moreover,homogenisation, no matter how beautiful adream and irrespective of its “feel good”
231
effect, is not around the corner, and itdoes not stand alone. “Individualism” and“communitarism” are not unproblematic polaropposites: they are, on the contrary,interconnected. And as if this were notenough, I strongly believe the flat,unidimensional and rather linearrationality inherited from theEnlightenment needs a fairly deep revamping(although not really a structural one) ifit is to serve us as a tool for decryptingthe de-centred and multi-layered world ofmultilevel and constantly negotiatedidentities of our emergent new forms ofindividuality. Only after doing so can weexpect to be able to line up viable answersto the complexities of our global cul de sac. In what follows, I shall takethese issues one by one.
3.
As a second step, let meendeavour, first, in a preliminary effortat focusing, to design the board, as itwere. In my title I refer to human values,but I also allude (albeit implicitly) tohuman rights. And I suggest (or at least hintat) a connection between the two. I musttherefore start, right at the very outset,by parting waters, by outlining abackground distinction which I deem to be
232
of the utmost importance as far as claritygoes: that between, on the one hand, humanvalues and, on the other, human rights, adistinction embodying a contrast operativeat many levels and certainly at the ones Ishall here attempt some dwelling into. Myaim in so doing (that is, in trying toestablish such a connection) is by no meanstrivial, I believe. To be sure, values and rights arequite easily discernible as being indeedvery different things. But although no onein their right mind would confuse them fora second, it is nevertheless true that, atleast for the purposes of my line ofargument, this patent distinction,particularly in its fine details, isrelevant in a rather specific way: becauseit is based on a superficial contrast whichin fact hides a fundamental similarity. Letme set that forth, however sketchily. Human rights is a legal-philosophical idea, an XVIIIth centuryIlluminist one at that116, with a strong
116 There are actually two traditional strands in Westernconceptualisations of universalism. As I pointed out earlier,one is rooted in Christian notions of Natural Law and itsimmanence. In this view, universal moral truths, which stem(flow, might be a better characterisation) from our commonrational faculties, lie behind the apparent fluctuations inour cognizance of them. The other strand takes seriously theobjection that considerations of universality are historicaland the product of circumstances (this is, for instance,Rousseau’s position), and thus are always, inevitably, whatwe would today label “ethnocentric” (be they across time orspace). This, of course, apparently takes away from our grasp
233
normative content of sorts: in one way oranother, it touches upon the imperativeneed for us to recognise that human beingsare bearers of an intrinsic worth anddignity; and that, if only for thesereasons, they have automatic claims onothers’ attitudes towards them,irrespective of either’s age, gender,religion, cultural or national affiliation;or, for that matter, any criteria pertainingto any of them, other than their common belongingto the biological human species. At the time, quitea revolutionary idea; in many contemporaryquarters, unfortunately, still an alien,unacceptable, one. While human values is a conceptwithout such a strong normative or,strictly speaking (and on the surface), anyspecifically philosophical, content: it ismostly a description. It focuses on acommon denominator between the ethical andmoral foundations, upon which (it ispostulated) in one way or another humanbeings ideally conduct their lives; and itany fixed points of reference we may have yearned for. Onepossible way out of this is relativism: we simply give upmoral certainties, and deem all ethical claims as ultimatelyequivalent. Another path, more teleological, recognises somemoral truths, but claims them to be a product of history orof culture: it is here most XIXth century philosophies ofhistory took root (this is, e.g., the road taken by Hegel andthe “evolutionists”). As I shall try to make clear, while Isympathise with this latter way out of the relativist’squandary, I also recognise its severe teleologicallimitations. Accordingly, my “solution” is more skeptical;although (as I try to argue) that does not tie my hands inany way.
234
does so, again, irrespective of any butbiological criteria pertaining to thosewhose social or personal relationships itqualifies. If you will, it is a notionwhich feeds and prevails at the level of isand not of ought: its domain is Sein, notSollen. So far so good, one would think.But beyond, or behind, these apparent andmanifest differences, which somehow pushthese two notions apart, there is a gradeof similitude: at some level, they somehowcohabit, they flow from a common substrate,and they thus partake of significanttraits. This much is obvious. The assertionof human rights somehow mobilises a certaindefinite conception of an abstractuniversalism: if only the ultimate idea that there issuch a thing as an abstract human being. And thissomewhat hidden assumption underlies, too,any and all notions we may hold about humanvalues, for they are, in the end, onlyconceivable against the very same sort ofabstract universalism: the concept of anabstract human being. Although, to be sure,each of these notions entails much moretoo. So there is indeed a strongcommon denominator, a concealed sharedelement, somehow dwelling below or, if youprefer, spread out underneath, the obviousdistinction between our (more normative)notions of rights and our (mostly
235
descriptive) ideas about values: thepartaken and tacit background persuasion(providing a generic notional oppositionwith these two figures, but also discreetlyapportioned between these twin bundles ofideas) that there is such a thing as anabstract, universal humanity; that human isa conceptual category. To my mind, this backdrop, thisimpensé, is crucial. No matter that humanrights are allocated from on top, as it were,by a process of deduction down from more orless metaphysical constructs we indulge infor whatever sets of motives; and that, atanother end and by other means, human valuesare effectively arrived at through aneffort of induction up from systematicempirical comparisons we decide to carryout. The plain and obvious fact is humanrights and human values are notions whichhave an elective affinity, to use an oftenuseful Goethean concept. And this is it:both presume (the one as a sort of tertiocomparationis, the other as a kind of deus exmachina) the pre-existence of the conceptualscheme we like to call Man, or Humanity. Now, we can certainly try to findexplanations both for the advent and forthe persistence of this embedded idea of acommon, shared, abstract, and universalhumanity. And, in so doing, we may choosedifferent angles of approach. I shallenumerate a few.
236
One can easily envisage it,historically, as the outcome of the end ofan ancien régime marked by distinctions andprivileges, and the rationalist victoriousassertion of an interchangeable “citizenry”(British sociologist Anthony Giddens nicelycalled it a “modular” concept ofindividuals), precisely that which twocenturies ago laid the foundations for the“one man one vote” basis of politicaldemocracy. And this much undoubtedly holdssome water. Or we can assume a moregenealogical pose: we can also look at itas something which was made possible by theuniversality claims of the Christianity ofold, and was again turned actual (tant bien quemal, and certainly in an altered form) bythe mid and late XVIIIth centuryEnlightenment philosophes. Or, moreontologically, somehow moving away anddistancing ourselves and taking a bird’seye view, we may prefer to ignore the time-depth and to embrace instead, with MichelFoucault (the noted French philosopher),the epistemological conditions subtendingthe simultaneous emergence of intellectualdisciplines such as biology, linguistics,and economics, and rather glimpse there theuncontestable groundwork for the rise of anew structural and abstract humanism in theWest117: we may favour a somewhat more117 This (at any rate, as Foucault clearly emphasised overthirty years ago) is what, mostly in Europe and NorthAmerica, fashioned as thinkable the very idea of social
237
skeptical late XXth century angle, so tospeak. Certainly, there is some cogencyto all these points of view; as well assome overlap, as they are obviously notreally mutually exclusive; and, they havesome immediate practical usefulness too.Although they are far from transparent,namely regarding either motives orimplications. Since, of course, nothingforces us to stop here: for example, bysimple extrapolation, we may then (and wecan do so with some plausibility) make thestrong claim that the current pervasivenessof a latent ideological hegemony of Westernvalues is beginning to impinge effectivelyonto the rest of the world, on thepropitious slate so conveniently provided
sciences, made it a viable hypothesis. Social (and human)sciences, in other words, depended, for their very inception,on this underlying abstract notion of a humanity. More, theyactually built this into their constitutive schemes: asoffspring of Illuminism, social sciences are really onlyengenderable against the background of this implicitpresumption of something such as common abstract humanbeings. The thing is, all of this is far from inconsequent.To cut a long story short, we can therefore be certain thatany inductive generalizations about “human values” we chooseto carry out are nothing short of circular: they beg, as muchas they answer, questions; and they ultimately assume theframe of reference of what they are putatively looking for.In other words (and in a weak sense), I can only in fact lookfor human values if I initially presume that they do somehowexist. In a stronger sense, my recognition of “stuff” (let uscall it that) as “human”, as “values”, or even as“universal”, is built into my intellectual software as apetitio principii, since I am inevitably starting from thesilent (in the sense of unstated) presumption that they aresomehow part of the world’s hardware.
238
by globalisation118; more, we may advocatethat it does so as a part and parcel of aform of “imperial” globalisation. And wemay claim, therefore, that the process(whatever we decide its operation actuallyencompasses) is finally about to becompleted, rendered truly universal inscope. For this we could perhaps adduce apolitical prime mover: the unipolarity ofthe world left to us by the demise of theSoviet Union, which we may want to portrayas the final triumph of Liberalism. The“end of History”, from this point of view,is perhaps rather to be seen as a global “birthof Man”, to give a twist to Foucault’s119
well know dictum. On the other hand, we can somehowmove beyond (and behind) such apparentroots for universal values, and lookelsewhere for they spread. We can see themas indicators of “modernity” rather than asindices of direct “Westernisation”. Taking the historical example ofthe West itself into account will help me
118 None of this, of course, should serve as an excuse for usto protest that, therefore, abstract human values, likeuniversal humanity, are simply fabrications, inventions,something-which-was-not-actually-there-until-we-put-it-there…Not because that is not true (it patently in some way is),but rather because this is equally true of any backgroundalternative notions we endeavour to come up with. In a verytrivial sense, ideas are not until they come to be. So nonews there; no special restrictions need apply.119 In spite of M. Foucault’s anti-humanist posture, which ledhim to see the “life” of this figure as ephemeral and apassing fad.
239
drive home my point. Forms of non-universal(or even anti-universal) normativeexceptionalism (let me call it that), bothat the level of values and at that ofrights, have a long European and North-American pedigree. The all-embracingfreedom of religion we now deem aseverywhere desirable is not more than acentury or so old here. Women’s most basicdemocratic rights, such as the simple rightto vote, is an even younger acquisition;the laborious plight of current banners as“equal opportunity” and “quotas”, or“positive discrimination”, betrays theextent to which such novelties have yet tofind a full expression at the level ofvalues actually upheld. Slavery was onlyfinally abolished not that much longer ago. I could go on; but I think mydrift is clear. The conclusion appears tome inescapable that overcoming those wasnot, in any really meaningful sense,actually due to Western cultural values. Ithink and am confident it is definitely notat all far fetched to argue, as Thomas M.Franck recently cogently did, that thoselike many other “progressive”,“cosmopolitan”, or “civilised” developments“were caused not by some inherent culturalfactor but by changes occurring, atdifferent rates, everywhere: universaleducation, industrialisation, urbanisation,the rise of the middle class, advances in
240
transportation and communications, and thespread of new information technology”120. Inother words, these were universal trends,driven by scientific and economicinnovations and not by any imaginarytimeless “Western culture”. Following Franck and many others,we can easily advance more or less“deterministic” hypotheses as to the“mechanics” of such trends. The admissionof women into the job markets andobligatory universal education were to alarge extent driven by the requirements ofthe mid-XVIIIth century IndustrialRevolution; slavery became, worse thanobsolete, threatening for the newly freedcompetition economy and to the self-respectof an ever more worldly-aware and ethicallyawoken citizenry armed with education andmuch better informed. Deeper forces havesurely also been at work. The advent ofnewspapers, radios, television and now theInternet has not left unhindered popularparticipation in political processes. If welook at things through these lenses, wecome to the conclusion that the unleashingof new social forces, and not “Westernculture”, are what in fact led, bychanneling them, to what we today think ofas “universal human values” and “universalhuman rights”.
120 Thomas M. Franck (2001) op. cit.: 200.
241
The point I am trying to make isthat mechanisms such as these, the impactsof which the West was the first to feel,are spreading worldwide at ever fasterrates. The leap is easy: both human valuesand human rights, from this angle, are, orso it appears, becoming universal, simplybecause (and this is ultimately a ferventDurkheimian because, to be sure), withglobalisation, humanity is apparently growing to beone. So that what was once merephilosophical (and mainly Western) wishfulthinking, is nowadays seemingly growinginto (or being reified as, if you wish)hard empirical fact121. Not at all a sillyidea, really, and one which I shall lateron want to revisit, in the context of thegrowth of images of an internationalcommunity. Now then, you may be wonderingwhy this “philosophical excursion” of mine.Well, the answer is simple: it allowed meto bring to the fore two issues which Ithink are crucial for the points I want toput forward here today. First, all this nicely sustainsan initial claim I insist on making, sinceI deem it an indisputable fact – that the121 Notice that, unlike the philosophers of history of old,there is no claim that this is any way inevitable or theresult of any unfolding. So there is really no ontologicalteleology here. Which, of course, in no way diminishes theparallel issue of hegemonic Western domination underlyingsuch processes; but again, with no hint of any sociologicalontology either.
242
simple recognition that such a thing as human values is outthere, is thinkable, is in the end a recognition contingentupon particular abstract notions which may (or may not)obtain in any particular time and place: even in theWest, were it is now (once again…) adoctrinal dogma of sorts, such anunderlying universal humanism, at least asa dominant political force, is actuallypretty recent; and it still stands far fromsecure, really. The general lesson we can drawfrom this is, I guess, plain, and it isperhaps not overly surprising; something weknew all along, but which always bearsrepetition. Here it goes: other cultures,other societies, need not see things thesame way; and indeed, they most often donot. This, in fact, is precisely one of thereasons why we class them as differentcultures. But there are other advantagesto my starting point, I think. Second, andmore generally (also, less concretely), mylittle voyage philosophique fashioned theground for a question, which I believefollows from the initial conditions Ibriefly set out: is the stage now set (with, say,what we call globalisation) for universal humanvalues to emerge, triumphant, as a shared conviction; or,on the contrary, are centrifugal forces dominant in theworld of today? This is, of course, quitedifferent from my earlier general point. In
243
my first issue, the anchor was on what isthe given; in the second one, my focus ison that which may come to happen. But to my mind, at least, thesetwo points are very strongly connected. Sothinking them together, juggling them,makes a big difference in the way we framethe overall controversial question. Inother words, we would best recast thesematters as being both situational anddiachronous, at once closely context-dependent and subject to change. The netupshot is that while the matter ofuniversal human values (and human rights)is certainly both fascinating and à la page,I suspect a more well founded and far moreinteresting issue to be the following one:are we (by we, I mean all of humanity, ofcourse) nowadays coming to believe that there issuch a thing as human values, and humanrights? Is this the direction thecontemporary world is going? Cast from another angle, andperhaps more obtusely (or more“technically”): is globalisation actuallyproducing a shared sense that we are allmodular, abstract human beings, entirelycomparable and (at least in so far as ourintrinsic worth and dignity go) ultimatelyinterchangeable among ourselves, as the abovequoted Anthony Giddens deems it to beessential for Democracy, Humanity, and theHumanities, to both become possible and
244
thrive? Is this really the newly partakenformat of identity, in our modern brave newworld of interdependence? Has the West“won”, in the sense of “gone universal”? Oris it perhaps more appropriate to assertthat “modernisation” is carrying with itboth “the West” and “the rest”? These are the very specificquestions I will next want to address (ifonly to touch on them lightly) in my nextsteps in this communication. So, really, my chosen path (atleast as far as this issue is concerned) isnot really dry and philosophical. I take,instead, a more colourful sociologicalroad. I am not, in other words, that muchinterested here in framing abstract conceptsper se, in rolling out more or lesscomplicated layouts or systems of referencewhich would be somehow extrinsic to the worldwe live in, so as to then work down fromthat higher ground, as it were. What I mostly actually propose tolook for, are hard, real-world mechanisms,of whatever nature or origin, that lead tothe eventual grassroots emergence andprogressive upward spread of suchconceptual frames of reference. I will befocused, in what now follows, on evincingsome of the sociocultural conditions for thosenotions to be thinkable.
245
4.
In more substantial terms, allowme to introduce a significant variable:community, or rather, our utopian longingsabout it. Since at least Georg Simmel andFerdinand Tönnies, “shared values” issomething we tend to favour as theconsensual means to circumscribe what wepurport to signify when we use the term“communities”. Political integrationdefines States, empires, in brief societiesin a harsh technical sense of what Tönniesand Simmel called “associations” of people;economic interdependence demarcatesmarkets, collections of interactingproducers and consumers. But community, inthe sense of a moral unit or entity, is aterm we habitually reserve for a coherentgroup of people who in a sense or anotherpartake of common values; people who stand,vis à vis one another, not necessarily inrelationships of equality, but whonevertheless are equally bound to a certaincommonality of ideas, beliefs andobjectives – exactly that which we usuallymean when we frame things in terms of values.Indeed, values and community are notionswhich we curiously tend to conflate, or atleast link and bind together. Surely this is by no means atrivial appraisal. Yet we can go further.Note, first, that behind the idea of
246
universal human values, therefore, twostructured conceptual spaces areorganised122. One of them is patterned as anabstract set of coordinates defining an allpervasive modular humanity. The other one,bringing up as it does the moral fibre, ortexture, of community, is rather configuredas a coincidence (or perhaps a convergence)of orientations, and denotes a commonalityof perceptions, preferences, and priorities– in one word, it is organised as a congruency of life-projects. Now, these two structurings ofconceptual space naturally interact witheach other. And this allows me to bring inmy point here: we recognise universal humanvalues if (and only if) all human beings areperceived as sharing mutually compatiblelife-projects in a meta-entity we imagineas a sort of “world community”. Of course,to be sure, such a world community123, in
122 Zygmunt Bauman (2001), in what is essentially an expansionof one of the chapters of a book he published in 2000,discussed the modern idea of community and pointedlyunderlined its more negative aspects, both as a yearning andas an instrument to regulate cognitive dissonance [my terms,not his] in “a fast changing world”.123 Chris Brown, (1995). In an article entitled“International political theory and the idea of the worldcommunity”, and published in a collection on InternationalRelations Theory Today, Brown critically discussed theprogression of this essentially utopian idea and itsformatting power in some contemporary politicaltheorisations. Although written from quite dissimilarperspectives, this article makes for a fascinating read,particularly if coupled with the Bauman work I mentioned inmy last note.
247
order to be thinkable, in no way needs tobe a politically cohesive body, nor does itreally have to weave (or knit) apolitically integrated society of any sort– all that is required for us to be capableof even so much as picturing universallyshared human values, is that we actually befaced with (in the sense that we perceive)a world moral community of one type oranother. As in local cases, andirrespective of how people are materiallyheld together with one another, we onlytruly recognise universal values if, and to theextent that, recasting some kind of a moral orethically-based community is present, or isat least credited as being present. So do take note that even at thishigh, all-inclusive level, or so I wouldargue, community and values are notionsthat we, for in-built reasons, as it were,tend to automatically conflate. My generic point is this: our notion,any notion, that there are universal human values, in orderfor it to be a thinkable notion, presupposes a shared imageof a community. The conflation of these twolevels is, I insist, built-in. And,moreover, the link between these two levels(if that is what they are) is structural,in the sense of indelible. So much so,really, that the type of universal human values wefavour tends to closely map the ideal of community whichwe tacitly or ostensively share. And it cannot but be
248
so, since the one depends closely on theother124. They resonate. There is no lack of modern andclever theoretical frameworks in terms ofwhich we can understand that readily. Hereis one: Benedict Anderson, in his vigorousand very influential Imagined Communities,lists some of the conditions essential fora community to be imaginable. In beautifulpages, he ran through typography,dictionaries, novels, and newspapers.Mostly, however, Anderson offers us threecornerstones for the thinkability of a nationalcommunity: the Census, the Map, and theMuseum125. This is territory too well knownfor me to rehearse its topography here; atany rate, Anderson makes the convincingpoints that the Census is what rendered thenotion of a population imaginable, thatterritories could only be thought once
124 Non nova sed novae. Writing about “the antithesis ofutopia and reality”, in specific on the contrast between “theworld of value and the world of nature”, around the dichotomybetween “purpose and fact”, the noted (and seminal realist)British international theorist E. H. Carr wrote: “the utopiansets up an ethical standard which purports to be independentof politics, and seeks to make politics conform to it. Therealist cannot logically accept any standard value save thatof fact”. Carr was led to conclude that, “the absolutestandard of the utopian is conditioned and dictated by thesocial order, and is therefore political”; thus, according tohim, “morality can only be relative, not universal. Ethicsmust be interpreted in terms of politics; and the search foran ethical norm outside politics is doomed to frustration”(E: H. Carr, 1981: 19).125 For a detailed discussion of these three guiding images,see Benedict Anderson (1991): 163-187.
249
modern Maps were invented, and finally thatMuseums are what gave historical depth toour notions of a given populationinhabiting a given land. So, as a way of briefly takingstock, let me just quickly and gliblysuggest (somewhat tongue in cheek) that, fora world community to be imaginable in Anderson’ssense, the alternative cornerstones mightwell be the Computer, Space Travel, and theSocial Sciences. Through Computers and thejust started Information Revolution, we areprogressively led to perceive reasoning(not Reason) as a generalised anddistinctive human trait; from Space travailswe rapidly gain an overall perspective ofthe entire human race; and the SocialSciences are there (and have been there fora while) to make us all feel we are indeedone and as a result of the fact we arealready starting to do so. Thus a worldcommunity may come to be fully imagined.And hence, once again we begin itsconstruction, now on a firmer notionalbasis. To weave such a thinkabilitytogether with what I suggested earlier: itis certainly not too difficult toarticulate this with the links between“modernisation” and the processes ofemergence of “universal human values”.Scientific, technical, economic andpolitical developments of various sorts
250
have both reduced dependency between peopleand augmented as much real as feltaffinities and loyalties among anincreasing number of us. Simultaneously,new problems and issues keep arising whichlargely exceed the limits and boundaries ofold States and communities and which theseare therefore incapable of solving bythemselves – the typical type of situationfor new, wider ranging, sets ofrepresentations and values to emerge. Whether such values, of a moreuniversal scope (because they are anchoredin a more inclusive world community) will,in turn, give rise to universal human rightsof some sort, depends on the vagaries ofpower struggles. But they are becomingpossible and, in many cases, they arebecoming systematically unavoidable, forall sorts of reasons which I shall returnto in a little while.
5.
However, I want to first returnto my prime theme, albeit through a sort ofback door. And, in an effort to bring mypoints home clearly, I would like to startcritically pulling together some of thestrands of what I have been stating. Returning to what I indicatedearlier, it is curious to note that the
251
endeavour of carrying out a convergence, ora harmonisation, of normative orders in theworld, appears to have started at the mostdifficult end, as it were. Without goingback to an historical narrative, noticethat in the cyclopic attempt to somehowbring together different peoples, differentcultures, different mentalities andcivilisations, we seem to have begun at thelegal side of things. That was maybe inevitable.Notwithstanding early missionary efforts ata universal conceptual “normalisation”, andperhaps due to its relative inefficacy, westarted with human rights, rather than withhuman values. The horrors of two World Wars,the absurdity of the Holocaust, the massivedecolonisations, and the underlyingstrength (undoubtedly amplified by militaryvictories) of Woodrow Wilson’s and FranklinRoosevelt’s legalism and Liberal idealsmade that the preferred path. That certainly made fairly goodsense in a (mostly) Westphalian world, inan order in which States were the solerecognised actors and law one of theirprime chosen means of communication, but itis today probably a mistake, as that is notthe path of least resistance126; quite the126 As good an example of this as any is, I believe, madeplain by the noted transcultural human rights thinker,Abdullahi Ahmed An-Na’im, who wrote, for example: “thegeneral thesis of my approach is that, since people are morelikely to observe normative propositions if they believe themto be sanctioned by their own cultural traditions, observance
252
opposite, I believe. The community ofStates is no longer what it was in eitherWilson’s or Roosevelt’s times; new voiceshave joined the fray, in what is now a muchmore heterogeneous type of “chorus”127.Moreover, even if (and where) States and“legalese” are undoubtedly stillpredominant, other actors and otherdialects for international exchanges havegained circulation and have surpassed themin effectiveness. More on this later. Actually, now, what am I sayinghere? That formality is no longer the mostefficacious strategy and that informality,in its stead, is? Or, more modestly, thatsuch formal means seem to me to be, at thisstage, a path of lesser resistance? Well, both of these, really. Arather playful analogy with a finedistinction underlying Ronald Dworkin’selegant attack on Hans Kelsen’s model ofrules (which, perhaps somewhatprecipitately, he cast as an all outcritique of legal positivism) will help memake my point more eloquently, or so I
of human rights standards can be improved through theenhancement of the cultural legitimacy of those standards”(An-Na’im, 1992: 20). This statement, hard to disagree with,shows that the choice of a path is harder than positivisthardline legal normativists claimed. 127 As Paula Escarameia has kindly made me notice. This is notsurprising after the generalised decolonisations whichoccurred after World War II; it is also curious to note thatmany of the small new Caribbean and Pacific countriesactually recruit their delegates, to organisms such as theUN, from among the NGO community.
253
hope. Dworkin had a go at Kelsen’s modelthat reduced law to “rules”, largely bypointing out that, quite apart from rules,there are “principles” and “policies” whichcoexist with them in law and yet displayanother intrinsic logic128. Dworkin showedthis difference in nexus by stressing thefact that “rules” and “principles” havevery different relations to any “counter-examples” which can be thrown at them:rules do not survive contrary cases, whileprinciples may actually be refined by them.Mutatis mutandis, the same distinction may besaid to apply to the contrast between“rights” and “values”. We can quickly break this downinto what I deem to be its main and morerelevant constituent parts, so as to ensuremy intended comparison is rendered plain.Values do indeed have another relation toany counter-examples which can be statedagainst their formulation than do rights.Counter-examples refute the existence of128 R. Dworkin (1977): 22 ff.. In order to understand whatDworkin means by this, allow me to quote a wonderfulPortuguese legal philosopher, José de Sousa e Brito (1996:195) in his rigorous characterisation of this dispute: “acounter-example to a rule implies a contrary rule, whichcomprises the counter-example, and thus [engenders] a ruleconflict. This conflict can only be solved by transformingone of the rules, which will include an exception to it, orby invalidating one of the rules. But a principle can giveway to another principle or to a rule in the case of acounter-example without becoming therefore invalid or havingto be transformed. This becomes understandable by a specificdimension of a principle, its weight, which can be weighedcompared with other principles or rules”.
254
rights, unless they are integrated intothem as special exceptions; while, in thecase of values, counter-examples can giveway to another value, without becomingtherefore invalid or having to betransformed: they simply render the valuesin question more complex. Thus, on the whole, it appears tome that values (very much like Dworkin’s“principles”) make for a more flexible, inthe sense of being more coherently expandable,starting point than rights. My generalpoint should by now be self-evident and itis the following: in an international stagewith many diverse actors and multiple“voices” (as the great literary criticMikhail Bakhtin would perforce have putit), reluctance to sediment a commonlanguage is obdurate and unrelenting; andwhen forced to do so, a typical kind ofstrategy is to insist on the dangers ofincoherence. It is consequently moretractable, in such arenas, to build onvalues than on rights129. And in this sense
129 Or on both together. Allow me to quote Richard Falk atsome length on a connected theme: “without mediatinginternational human rights through the web of culturalcircumstances, it will be impossible for human rights normsand practices to take deep hold in non-Western societiesexcept to the partial, and often distorting, degree thatthese societies—or, more likely, their governing elites—havebeen to some extent Westernised. At the same time, withoutcultural practices and traditions being tested against thenorms of international human rights, there will be aregressive disposition toward the retention of cruel,brutal, and exploitative aspects of religions and cultural
255
it is unfortunate that we somehowstubbornly persist in applying, to apresent-day deeply changed structuralsituation, a set of conjunctural, tactical,devices, which are now of no real use, atleast if used by themselves. At least to my mind, ourpersistent blindness in relation to thiscompelling need to change tactics comes, Imust say, as a surprise130. Why do we insist(or, at least, why do those of us who trustthe goodness of a belief and a practice ofuniversal human values) on plodding thehard path? Is it because we astutelyrecognise that either States are involvedor no game is playable? Or is it because(and these two are not mutually exclusive),we simply credit legalism with a sort ofsupernatural force? Or, instead, is it forthe much more devious motive that wewholeheartedly buy the idea that culturaltradition. One objective of normative standards is theprotection of vulnerable individuals and groups from harshforms of local prejudice that have hardened over time intocustom and tradition and thereby achieved a kind ofprovincial legitimacy” (Richard Falk, 1992:45-46). Surely ahard-to-disagree-with chart of interrelations.130 If only our blindness in relation to it is a soft version,that of common denominators. To quote again from the work ofA. An Na’im: “given the extreme cultural diversity of theworld community, it can be argued that human rights could befounded on the existing least common denominator among thesecultural traditions[…]. This approach is based on the beliefthat, despite their apparent peculiarities and diversity,human beings and societies share certain fundamentalinterests, concerns, qualities, traits, and values that canbe identified and articulated as the framework for a common“culture” of universal human rights” (op. cit.: 21).
256
convergence, the nominal harmonisation ofprinciples, if you will, is something whichsort of automatically somehow takes care ofitself, and therefore a matter which needsno pushing?131
Many of us, or so I fathom,actually give credit to the latter. Yet Ibelieve that is so because of some of ourfashionable, and in terms of our manyhistorical, preconceptions. Again, I wouldlike to indulge in some roundaboutconsiderations so as to get to my point viaa less ambiguous route. As the masterAmerican phenomenologist Clifford Geertz soforcefully wrote some forty years ago, ourpreconceptions rest on something which manythink (believe might be a better word for it)and which most spent the 1980s theorising:that with “modernisation”, what we call
131 This is, of course, not the case with rights, which mustbe institutionally pushed. For detailed discussions on theconditions for the success of human rights penetration indifferent social arenas, see (eds.) T. Risse, S. Ropp e K.Sikkink (1999: mostly 1-39), e R. Falk (op. cit.: 55-57), forsimilar but not identical comparative models. Also useful,but much more general, is David Forsythe (2000).
257
“localism” will inexorably soon die ofnatural causes132, as it were133. Surely, this is partly true. Butit is also most certainly partly false. Asomewhat flat theory of rationalityunderlies that sort of conviction. That iswhat I want to briefly turn to next.
6.
In order to get to a harder coreof our preconceived certainties, it isuseful to try to break this belief open alittle. An American legal anthropologist,John Comaroff, put things rather neatlywhen he wrote that “’modernity’ hasclassically been measured in terms of
132 Clifford Geertz (1963). I believe Geertz has since thenchanged his mind about this. This is Geertz writing in 1984:“the objection to anti-relativism is not that it rejects anit’s-all-how-you-look-at-it approach to knowledge or a when-in-Rome approach to morality, but that it imagines that they[such kinds of approaches] can only be defeated by placingmorality beyond culture and knowledge beyond both. This […]is no longer possible. If we wanted home truths, we shouldhave stayed at home” (1984: 276). Incisive, and in a grandstyle as always, by one of the maîtres penseurs ofcontemporary cultural relativism. For all their estheticaland even ethical appeal, one cannot help but wonder what thenotional place is from which such statements wouldconceivably be utterable.133 This was most forcefully stated, for example, by ErnestGellner (1983), a justly famous British philosopher cumsocial anthropologist, though many others could be adduced asproponents of such type of a position. Gellner was always anheroically incorrigible defender of rationalism and Liberalrationality.
258
universalist criteria […]. Its teleologyhas always involved the removal ofdifference, the erasure of relativizingsystems of value and knowledge in the causeof world historical processes ofrationalization”. As a matter of fact, itis easy to agree that the omnivorousappetites of modernity (and this isLiberalism we are really talking abouthere) are notorious; as Comaroff himselfconcluded, rather whimsically, “hence thealmost millennial faith, across all thegrand theoretical traditions, in theinevitable demise of cultural localism”134. I think the point is worthgeneralising. And that can be formulated asfollows: it is not so much that Liberalisminexorably leads to imperialism of one sortor another; in this view, I suppose itwould be fair to say, the question is rather thatthe rational basis of Liberal programs always appear tohide a messianic belief in its (their) own unavoidability135.
134 J. L. Comaroff (1996): 162.135 The already cited Richard Falk enunciates part of this inan exemplary manner: “these images of human rights have beenprincipally generated in the West, evolving over time fromthe Enlightenment mind-set, including a confidence in thepossibility of a rational social and political order based onindividual rights that, over time, could facilitate progressand happiness for humankind as a whole. Underlying suchconvictions is a belief in the sufficiency of human reason,especially as it is manifested in science and technology, anda vestigial distaste for any intrusion on the terrain ofhuman rights by recourse to religion, tradition, andemotion”(op. cit.: 45).
259
Bear with me as I dig in alittle, here. John Comaroff’s position onthe whole issue is, I believe, inherentlyinteresting (and most certainly notuninfluential). It also ventures down apath not too different from the one Ichose; so, to my mind at least, it is worthour while for us to detain ourselves on histurf for a while. I certainly agree withmost of what he wrote, but…. Going straight to the core of hisargument, I shall start by noting that theposition he takes is a somewhat maximalistone. That is quite easy to see. Directlycontradicting the rather linear view ofrationality many Liberals herald, heclaimed that “there is no such thing as auniversal symbol or image —notwithstanding thefact that ever more symbols and imagescirculate throughout the universe [hishyperbole, not mine; but the italics are myown]”. An apparently Saussureian point,actually, insofar as it relates to theultimate “arbitrariness of signs”, assemiologists would undoubtedly put it. But is it really so? I wouldclaim not really. And I would furtherdefend that it only seems so because of ourprejudices. To my mind, Comaroffsurreptitiously conflated here two quitedifferent levels: on the one hand,universality as a sine qua non point ofdeparture for liberal abstract universalism
260
(the claim I made right at the start) and,on the other hand, the Hegelian (allow meto call it that, without going further intoit) presumption that universality is theineluctable point of arrival of therationality project. The subtle léger de main isinteresting. For this is a conflation whichneatly allows him to foreclose the wholeissue by hinting at a circularity of aLiberalism which only finds at the end whatit backhandedly put there at the beginning.Which, I believe, shows that rather thanbeing fair to the Liberal program, Comaroffaims at throwing doubts on its solvency. But there is more. With anobvious taste for the odd aphorism,Comaroff then went on to stress:“denotation may be global. But connotationis always local: meaning is neverinherently a sign, it is always filteredthrough a culturally endowed eye or ear.Indeed, the more we are aware of the globalflow of words and images—that “Coke AddsLife” in New York and New Delhi and NewBritain; that audiences the world overthrilled to Michael Jordan and the ChicagoBulls (Chicago Oxen in Beijing)—the more weare made aware that these things areeverywhere understood differently”.Contrary to what would be old Liberalexpectations, Comaroff was led to conclude:“in other words, it is the very experience
261
of globalism that underscores an awarenessof localism –and, in the process,reinforces it”136. This point of his is, I think, acrucial one. The unearthed mechanism is not,for Comaroff (and he made that abundantlyclear), the result of a local reaction to agrowing global systemic power, or that ofany other kind of subalternity; rather, it isan automatic and inevitable resonance,triggered by the simple brute fact thatlocalism and globalism are complementarysides of the very same coin. Thus thiscomplementarity is taken for granted, or atbest explained away rather than explained;and therefore some of the most pregnantimplications of it are not thoroughlyfollowed through. The answer offered is nice,perhaps it even sits comfortably with ourlinear certainties, but it is consequentlynot a self-evident one. So all this wouldgain if it were made more explicit;something Comaroff does not do. For heactually calls forth two very differentexplanatory mechanisms. On the one hand this reasoningspells out the evidence that forces alwaysentail counterforces: which may either be takenas an action-reaction physicist’s point ofview or, more abstractly, as a Hegeliansort of metaphysics. But it also
136 Ibid.: 174.
262
underlines, on the other hand, a quitedifferent perception: the consciousnessthat one of the implications of globalismis the unintended engendering of new, unforeseen,and challenging local communities137. So which is it, the first, thesecond, or both138 of these explanations? Iwould probably, if pressed, argue for thislast hypothesis139. Enunciating it is notdifficult. One possible way of doing so is137 These are different mechanisms, of course, in spite ofsome convergences in their outcomes. Be it the creation of anovel framework, or the loosening of the old ones, the factis that both the mechanisms Comaroff conflates lead to a kindof “recrystallisation”. Not so much as a reaction. Rather asthe reshuffling which spontaneously results from theloosening attendant to the fall of the old ordering. My pointhere is simply that in fusing them, Comaroff does not see thecomplementary interdependence between them which I take to becrucial in their operation.138 See the wonderful monograph by Benjamin Barber (1996) forone possible model of such types of symmetries: that of jihadand that of McWorld, as he memorably characterised them.139 In this, my position is not very different from that of R.Falk: “one important consequence of the globalisation ofsocial, political and economic life which often goesunnoticed is cultural penetration and overlapping, thecoexistence in a given social space of several culturaltraditions, as well as the more vivid interpenetration ofcultural experience and practice as a consequence of mediaand transportation technologies, travel and tourism, cross-cultural education, and a logarithmic increase in humaninteraction of all varieties. Such a reality posits its owndistinctive and opposing social demands: respect ofdifference (culture; to sustain diversity), acknowledgment ofsameness (international law of human rights; to re-establishnormative authority). The emergence and the implementation ofinternational human rights embody both opportunities andobstacles arising from this always-shifting interplay betweenthe valuing of difference and the quest for sameness” (1992:46). This is a rather nice Durkheimian reflection on theambivalence of globalising forces at an ideal level.
263
stating that localism and globalism doindeed fly together. And I certainlybelieve that understanding the dynamics ofthe co-operation of these two apparentlyopposed (but actually complementary)pressures does help us in our efforts tomake sense of the contemporary world. The notional, conceptual,difficulty all this raises is neverthelesspretty hard to tackle. For one thing, it isdefinitely counter-intuitive: we are notused to systematically thinking in terms ofdynamic interactions which give rise toever-changing choreographies. And it doessomewhat go against the grain, as it were,of our rather linear causal preconceptions.So we are bound to have a hard timepicturing what all this effectively means.But, as is often the case in suchcircumstances, homely analogies andmetaphors do help. Again, I want to indulge in someroundabout indirection here, paradoxicallyfor the sake of intelligibility. Perhaps auseful image for the working resonance ofthese twin and mutually reinforcingprocesses (certainly a fascinating and verypretty one) can be harnessed from RenatoRosaldo’s “porosity” picture, which he gotfrom a 1980 Harvard conference of anelderly Cora Du Bois140, a justly famousanthropologist. These are comments made by
140 See R. Rosaldo (1989): 44.
264
Rosaldo in the context of the elderlylady’s complaint against “the complexityand disarray” that she claimed were turningthe social disciplines from “distinguishedart museums” into unseemly “garage sales”.Indignant (but also noticeably delighted atDu Bois’ vivacious comparison) Rosaldoresponded with the perceptive assertionthat those types of statements result from“analytical postures developed during thecolonial era [which] can no longer besustained. Ours is definitively apostcolonial epoch”. What does this mean? As I am surecan easily be appreciated, what Rosaldo didwas to bring out a hidden isomorphism: onebetween the world we live in and the way wepicture it; an ultra-Durkheimianism ofsorts. So far, so good, you would say,nothing new there. But then Rosaldo gave uswhat I see as the crunch of his point, hispunch line, displaying what is surely ametaphorical rendering of modernity, onewhich we had perhaps not noticed yet, butwhich is nevertheless flagrantly embodiedin its policies. This is Rosaldo writing:“even the conservative national politics ofcontainment, designed to shield “us” from“them”, betray the impossibility ofmaintaining hermetically sealed cultures.Consider a series of efforts: police fightcocaine dealers, border guards detainundocumented workers, tariffs try to keep
265
out Japanese [and other “foreign”] imports,and celestial canopies promise to fend offSoviet [now Russian, Chinese and, whoknows, soon perhaps even Iraqi or Lybianones] missiles. Such efforts to police andbarricade reveal, more than anything else,how porous “our” borders have become”141. Arather nice tour around an isomorphism,really: the one between the “hybrid post-modern world” and our conceptualizations ofit. Well now, enough roundaboutdetours. So please bear with me again as Itry to bring this back to what I saidearlier, welding things together, as itwere. The modern world, as this justmentioned delightful symbolic embodiment ofit brought out by R. Rosaldo so graphicallydisplays, is perhaps more accuratelythought of as a set of topologicallyinterwoven multidimensional spaces than asthe flat, checkerboard-type, old politicalmaps so neatly delineated for us. Let me be clear as to preciselywhat I mean here, what exactly I am tryingto get at. The point that should be kept inmind is this: “garage sales” are not jumbledexpressions of disorder. They aremanifestations of modern forms of order which we oftenstill fail to recognise as such. And it is high timewe do see them as such.
141 Ibid.: 44-45.
266
This is what I alluded to at thevery beginning of this communication when Iwrote about “the shape of order” which, Ibelieve, is itself undergoing profoundchanges. I can most certainly detail mypoint somewhat, and as a by-the-way justifymy many metaphorical detours andwalkabouts: in such a type of setting, Ithink, old concepts do little to helpreveal to us the extant multidimensionalstyle of ordering now surfacing as our newsocial arenas, if only because there arenow, it is blatant, as many orders as thereare perspectives. So they must besupplemented142. And that, I would certainlyargue, is precisely that which thecontemporary world provides us morecopiously with and in a more sustained way.So how do we go about deciphering our bravenew world, with which the old, flat,Liberal rationality appears to have somedifficulties?
7.
There is, of course, a generalontological cum sociological aspect to all
142 This is what the often cited R. Falk said: “to beeffective at local and community levels, the imposition ofthe universal must be by way of an opening in the cultureitself, not by external imposition on the culture” (op. cit.:49).
267
of this, and now is as good a moment as anyto expose it. We must move beyond and aboveour ways of pondering and evaluatingthings. For a long time now, we havelaboured on minutiae, on details, onanalyses. This has been the model wetransferred from Science onto the“Humanities”: we have tended to studiouslylook down, for God, like the Devil, webelieved to be in the details.Philosophers, jurists, social scientists,all mostly took their own cultural startingpoint as a point of departure and sort ofdug into it, guided by more or less highand tight principles of whatever kinds of“normative coherence” they happened tofavour. But this will no longer do, in ourmultidimensional “global village” world. Wemust now reverse course and look up, try toglimpse the upper reaches of generality andits realm. Subsumption may be a good termfor the mechanism of turning ancient formsinto contents of a modern and moreinclusive one, a bigger form. We need totackle and grasp the encompassing themesthat pattern the ordering of the new worldwe live in. Which changes everything. Ratherthan presume the old world as a comfortablegiven, we shall have the face theuncertainties (moral and political) of thenew one. This entails risks; but also
268
opportunities for gains. What we face is anovel unsureness born of indeterminationand perhaps manifold unknown contingencies.However, this will also allow us toestablish our paths in far more interestingand exciting surroundings: ones ultimatelyindifferent to our moldings and ourintransigence of old, and thereforeoffering us our maximum liberty to thrive,or to fail, but anyway to operate, in ourown chosen way. A release. A new meaning toa venerable idea: that of Freedom. This isa point I shall, of course, return to. Why this will be so is not hardto portray; nor are the means to go aboutit such a perplexing question. Perhaps thekey concept here is “dialogue”143. Or perhapsit is rather “multiculturalism”. That hascertainly been the road out taken by manycontemporary theoretically-minded socialanalysts. Jürgen Habermas, to cite anobvious name, leads one strand with hisrenowned preoccupations with anti-exclusionary mechanisms of “moraluniversalism”, and his push for a universal“ethics of dialogue”, in which the onlyforce consented would be “the force of anargument”144. All of which reveals itself
143 Although, I would insist, such a dialogue must be a two-way affair, in the sense of being both external (betweengroups) and internal.144 Expounded in many places, but perhaps most clearly andmore thoroughly in his ever so thoughtful J. Habermas (1990).
269
rather neatly as an optimistic version ofneo-Liberal perspectives. Others, such asBoaventura de Sousa Santos (whom I brieflyreturn to below) are somewhat suspicious ofthis alacrity, and often voice severeradical doubts about the efficacy of such“dialogic communities”; unless, that is,they sprout as “neo-communities” marked bytheir “oppositional postmodernism” and theassociated radical “heterotopian” options.Those are meant to be quite unlikeHabermas’s dialogic communities,characterised by Sousa Santos as creaturesof an objectionable “celebratorypostmodernism”. Such “neo-communities”advocated, are entities which aim at the“global repoliticisation of the collectivelife145” in a set of new political “spaces”,corresponding to the “new audiences”engaged in dialogic processes of“emancipatory rhetoric” within the emergentsix new “configurations of political power”(“the household”, “the workplace”, “the145 Boaventura de Sousa Santos (1995): 350. My otherquotations here come from various parts of this study. For awonderful retake on these topics, see B. de Sousa Santos(1998), a short article in which the author responds to EveDarian-Smith (an American anthropologist) detailed andthoughtful critique of his 1995 monograph. Sousa Santosdiffers from Habermas, for example, in their relativereadings of the damages made possible by the Illuministconcept of “reason”; as he wrote in the context of theviability of an effectively liberative multiculturaldialogue, “let us not forget that under the guise ofuniversal values authorized by reason, the reason of a race,sex, and social class was in fact imposed” (1998: 131), andled to the eradication of uncountable modes of life.
270
marketplace”, “the communityplace”, “thecitizenplace” and “the worldplace”) which,Sousa Santos defends, have substituted theold binary and very classical Liberalopposition between “State” and “civilsociety”. This picturing, in turn, reflectsa more pessimistic anti-Liberal stanceformulated in curiously unrecicled neo(orpost)-Marxian terms. These are just two of the manycontemporary authors putting these types ofsolutions forward. As could be expected,models vary greatly, and often followingthe old political-ideological take-offpoints of their proponents. But, among thenow practically hegemonic “moderns”, many(by this, of course, I mean many in theDemocratic camp, or at least everyone therebut jihad-prone conservative diehards ofwhatever political inclination or tonality)seem to agree that the installation of a globalcosmopolitan political community of democratic societiesand transnational citizens is both desirable and a moralimperative in today’s world. In some ways, suchseems to be the new “conventional wisdom”. Interestingly, this is true evenfor those who fear its colours, or of theincurable nostalgics who tend to reify the“local” as the source of “the realcommunity”. For those who retain a beliefin founding social contracts (and there arecontractualists of all feathers), thebargaining of a new pact, compact,
271
arrangement, or settlement, is urgentlycalled upon, as both the coordinates andthe parts involved, on the one hand, and,on the other hand, the very terms of thecovenant itself, have both been deeplyaltered. For those others who leave behind“modernity” and go for a more risqué “post-modern” solution (a contagious early 90sfad), new “politics of identity” and new“politics of recognition” are the chosenrecipe. But disagreements should not beoverstated. A new (and, this time,explicitly political) “Copernicanrevolution” of sorts seems to be a widelyshared yearning, even if there is noobvious consensus as to its required pointof application or desirable reach. The oldcertainties appear to have crumbled. Wehave indeed come a long way. Taking stock, what I am reallytrying to convey, I suppose, is this: the old,respectable, flat and linear rationality of the Enlightenmentis no longer sufficient in our multidimensional world; orso it seems to more and more analysts,quite irrespective of their political andideological standpoints. As a grid, itmakes less and less sense of things. As atool, it is of ever thinner use. To some,this means that a rather profound paradigmchange is felt to be urgently needed; andit is sensed that it will surely comeabout, whether we like it or not, should we
272
or should we not do something about it, andquite irrespective of our best efforts. Andthe sensation of rupture appears to be alsoa sensation of rapture. We are, it isperceived, under the throes of a topologicalshift, not merely an enlargement. For most,however, the change called for is notreally very deep, and it is certainly not areal “paradigmatic Copernican turn”. Whatis needed is instead a forceful renewal;one which is urgently called for, butamounts more to a metamorphosis than to afull-fledged “epistemic break”. That this is so, that suchpremonitions and differences abound, is notperhaps difficult to understand.Globalisation is not, from a structuralpoint of view, simply growth: itreconfigures both the world and localcommunities and how we think of each ofthese layers or conceptualise theirinterplay146. And it rearranges and
146 A beautiful expression of this (a garage sale one at that)was provided by Sally Falk Moore, when she wrote: “when, atthe foot of Mount Kilimanjaro, one meets a blanket wearing,otherwise naked, spear-carrying Maasai man on a back path inthe Tanzanian bush, one notices that he has a spool from aKodak film packet in his earlobe as an earring plug. Thatearring alone is sufficient to indicate that he is not atotal reproducer of an integrated ancestral culture. His filmspindle is made of extruded plastic manufactured inRochester, New York, his red blanket comes from Europe, hisknife is made of Sheffield steel. Dangling from a thongaround his neck is a small leather container full ofTanzanian paper money, the proceeds from selling his cattlein a government–regulated market. The price of his animalsvaries with world inflation. The roads nearby have buses with
273
refurnishes how we identify ourselves, inthe strongest possible sense: that of howwe cast to ourselves our own subjectivity.It redefines both what we think of as us andhow we have pinpointed the I for a longtime. Not being able to dig too deeplyinto a matter I deem fascinating, I do notwant to pass up the opportunity of brieflycommenting on this last point, individuality;or rather, the contemporary notions of personhoodand subjectivity which global transformationsare, I think, producing. A theme deservinga much more detailed pondering than what isfeasible here. Let me begin by noticing,anyway, that given its centrality inLiberal theory, individualism has been thefocus of a great deal of attention. Butthat (paradoxically, precisely because itis so central) not too much criticalscrutiny has been bestowed on theunderlying concept of individual whichsubtends it. As could be expected, this hasunderstandably given rise to endlessarguments. These include discussionsbetween self-styled “individualists” andself-styled “communitarists”, as those two
tourists. The international economy has penetratedeverywhere. Ideas and information have moved with it. Allpeoples live within nations and have seen the silvery side ofplanes flying over their lands. The definitions of socialpart and social whole have changed” (1986: 4-5). This waswritten almost a generation ago. It still rings true, with orwithout Osama bin Laden.
274
positions are consequently taken torepresent polar opposites, withparadigmatic Lockians on the one side, and“collectivity-minded” Benthamites on theother side of the artificial divide. Notwanting to be more than merely indicative,allow me to just assert that obviouslythings are by no means that simple: if onlybecause both the idea of “individual” andthat of “community” are socio-historicalnotions; and so not only their patterns butalso their separability are constantlysubjected to profound changes. In the case in point, it shouldnot be taken for granted that the forms ofindividuality engendered by globalisationactually dissolve community. What appearsinstead to be the case is that once moderntransformations release people fromobsolete dependencies and constraints(while of course creating others, likemodern variants of Weber’s “iron cage”),Durkheimian anomie is not the rock-bottominevitable, fateful, result. But rathernew, negotiated identities tend to emerge,multi-layered ones, new forms ofindividuality, with rich, complex andvariegated novel interpersonal affinitiesand loyalties which, from historicalexperience, will very probably lead toredefinitions of political community withoutany overall loss of responsibility.
275
These are redefinitions whichwill certainly entail deep alterations inboth their terms and dimensionality, or soI would guess. But these changes do notnecessarily demand abandoning the venerableLiberal agenda; although they do meanreformulating it somewhat substantially.The rationale for this is quite simple: forexample, and as Will Kymlicka and Thomas M.Franck insisted, even when “liberated frompredetermined definitions of racial,religious, and national identities, peoplestill tend to choose to belong to groups”147.My general point is simple and it is thefollowing: disorder is not necessarily whatfollows globalism. What we shall see, I suspect,what we are already witnessing, is areshuffling, a redistribution, and arenaming. And this is what we need to finda new “grammar” for, a somewhat new147 T. M. Franck, op. cit.: 201. W. Kymlicka makes much the samepoint in a slightly different context, in his authoritativeMulticultural Citizenship: a liberal theory of minorityrights (1995). Other examples could of course be adduced; butlet this one suffice. Now, this certainly alters thequantities, so to speak, with which Westphalian States,“traditional communities”, and old value and religiousleaders and systems carried out their accounts. And so suchredefinitions naturally trouble them, and as a result theyresist these. But notice that even with new numbers, with newquantities, and with novel forms of interconnectedness, theterms of the equation between people, community, andresponsibility need not be altered in any ontologically deepsense. Although, of course, the manner of their intertwiningmay need to be changed, as much as the means of achieving itin quicker and neater ways.
276
rationality, political as well as formal:in order to render our ever-changing socialworld, as a new type of politicalcommunity, intelligible and so to be ableto live and work with it. There is another way of puttingthis. Liberalism is by no means dead. Butit does indeed require a metamorphosis ofsorts, if it is to survive as a politicallypertinent program in which we can allrecognize some value in the new world weappear to be entering.
8.
Well, then, on my next and finalleg I want to again make an attempt atpulling together and wrapping up some ofthe various separate points I have beingtrying to convey here. But, once more forthe sake of clarity, I want to preface thatwith a brief summary of what I havesuggested so far. In a series of initial stepswhich amounted to a fuzzy sort of frameworkto what came next, I started by delineatinga series of motifs into which I think arecast the changing ideas of universal humanvalues and rights, stressing their evermore prominent social and politicalaspects. After this, I underlined both thesimilarities and the differences between
277
such notions of human values and those ofhuman rights; my focus there was on theirparallels, namely regarding the common pre-requisite they share – the underlyingconcept of an abstract humanity, which Inaturally traced to a Liberal cosmopolitanepistemic transformation of Christianuniversalist principles. In this context, I underscored,on the one hand, the difficulties inherentin this perspective and, on the other hand,those of the manifold historicist attemptscarried out in order to try to avoid itspitfalls. My posture was that of askeptical constructivist. Throughout, myattention was firmly centered on thechanging historical and politicaldimensions of such cosmopolitan sets ofideas, and on their twists and turns interms of the changing patterns of worldorder (including its bouts of disorder). I went on to stress, fairlyforcefully, the core idea that any notionsof value universality and notions of aworld community of some one kind or anotherhave an umbilical connection to each other.I also insisted on the changing nature andrange of concepts too readily taken forgranted, like those of “individual” and“community”. Some doubts were alsoexpressed as to the continuing efficacy ofsingling out legal convergence in a worldin which globalising centripetal forces lay
278
the basis for an international civilsociety with more and more “homogenous”values but also a world in which,conversely, centrifugal forces appear tohit forms rather harder than principles. I then put a particular emphasison the “modern” linear vision ofrationality; in so doing, and perhaps mostcrucially, I tried to do this in thecontext of the dependency of the recurrentcosmopolitan ideas on the shared utopianimages of an international community towhich I had earlier alluded, and on that ofthe hybridism so characteristic of ourcontemporary settings. In a bid to avoidcircular teleological models and theirattendant trappings, I subsequently made aneffort to maintain an open-endedperspective as to the future progression ofsuch patterns of cosmopolitan universalistideas: the future is unpredictable, nomatter what we may think is the clarity of“trends”. I want to conclude by tentativelyturning to the apparent available range ofsuch options, given this indeterminatescenario. So let us finally get right downto the issue which forms my core point inthis communication: is there such a thingas human values? Is it coming to be? And,if so, is either of these actually a goodthing?
279
Well, questions like those are, tosay the least (and as I hope I have shown),pretty difficult to answer in anystraightforward fashion. There is onelevel, at any rate (the most general andabstract one, the potential ideal level),at which universal human values do indeedexist. This means more than the trivialrecognition that they are a possibility; orthat they are coming to be. More than that,it is surely an idea which effectivelyengenders some convergences. For the sake of clarity, let meput this forward rather forcefully too,even if it means I shall have to water itdown, to soft-pedal it, immediatelyafterwards. At an abstract level, universalhuman values must somehow be theresomewhere. For it is surely the existenceof such an implicit conceptual framework(even if it is entirely tacit) which allowsus to not only arrange different values indifferent classes (that is, it is the genuswhich allows us to delineate its species),but surely also to even recognise differentvalues (as it were beneath, or subjacentto, their variation) as precisely that,values. So a conceptual scheme of some sort isthere, in our conscience148. For we are148 The point is little more than formal, unless we take anextreme nominalist position. But here it is, in other words:at least latently, or virtually, a pre-conception ofuniversal human values must already be there, in our
280
indeed capable of doing all this taxonomicstuff. We talk about human values, weargue, we agree and disagree about them;but even when we dispute them, we know whatthey mean. Now, it seems self-evident thatthe mere fact that we all do all of thesethings (in other words, that we recognisesimilarities and differences, both majorand minor) actually betrays the presence ofsuch a shared set of notions. It impliesand demands them; or, at the very least, ittakes it for granted that they are at lastbeing co-opted. Notice, though, that thissimply means they are there as a part ofsomething akin to what Émile Durkheimcalled the conscience collective: all it entailsis that they exist as a set of concepts, as aconceptual scheme. It in no way means weaccept them, or their “empire”. Which doesnot really go (or indeed take us) very far. This hesitation bears restating.Obviously, consciousness and conscience arenot the same thing, so all this of courseneed not mean anything more than thatuniversal human values are nowadays a recognised globalidea. Nevertheless, this should caution us,anyway, not to underestimate its power;since this idea, to be sure, has gained aconsciousness, otherwise we would neither be capable ofidentifying their kinship, nor of isolating theirindividuality. So some convergences are indeed engendered.But this only leads us so far; since it could hardly becogently argued, of course, that the “word” makes the“thing”.
281
sweeping international, a far-rangingintercultural, or inter-subjective,currency in today’s world; so even when werefuse it, or when we try to refute it, we take it as a given.Its circulation does not in any way spellout the manifestation of a “categoricalimperative”, of a “structural invariant”, a“deep structure”, an Ur-Struktur, or any othermore or less material or notional variants149
of the eternal forms which we can find inthe ancient Platonic realm of Hyper-Uranus.It is somewhat akin to an epiphenomenom. Itmerely spells out, albeit very loudly, thatit is an idea which is a parcel ofcontemporary international discourse.Whether or not those human values are outthere, as a “thing in itself”, is quite adifferent matter. To be sure, the other concept ofuniversal human values I alluded toearlier, the technical, the scientific, thedeductible, the “structural invariant” one(to repeat the ultimately neo-Kantian termof the late Prague Circle of linguists andof Claude Lévi-Strauss’s earlystructuralism) is most surely there too.This stems from the verification that as
149 Perhaps the most influential modern refraction of whichwas the Marxist refusal to recognise what he called “humannature”, in his famous “Theses against Feuerbach”. Marx was,of course, absolutely right, in wanting to “sociologise” and“historicise” our notions of human nature; although,arguably, not recognising its immutable, a-historical,substratum was paid for dearly, throughout the XXth century,by peoples (and Marxist politicians) the world over.
282
human beings we are ultimately all alike,that there is a definite commonality to usall. However, this commonality isthere most probably as just a collection ofempty forms, forms into which values fit,but that are not indicative of anyparticular contents. So I do not think suchan empty structural universalism cansustain any claims to prop up, or even toshore up, any particular moral figures.Moreover, the effort to detect thattechnical set of forms demands aninvestigative labour of a very differentnature. There is no possibility of a field-research type of method of discovery there.This type of “structural” universal humanvalues is merely formal (in a quite literalsense) and they are abstract entities which
283
cannot ever be empirically150 ascertained,but may only be theoretically deduced. But, I repeat, these abstractformal universal human rights need not be(and they really cannot be, and thus theyare probably not) in any way similar to, oreven easily comparable with, thegeneralised human values which we all moreor less share as a newly bundled set ofglobal ideas. Unlike these latter they aretechnical constructs, not ideologicalrepresentations. Such “structuralinvariants” dwell in academic, and socialscientists’ minds, they do not circulate asshibboleths in the domains of high politics,
150 Although, and to go back to my earlier comments, a momentof reflection shows us they clearly must exist at some level,and in some form or another: or else all translations wouldbe (worse than treasons) utterly impossible, democracy wouldturn out to be either a mistake or a simple camouflage forpure power politics, and every single one of the socialsciences as an absolute sham. At least since the philosophes,we all operate on the assumption that an all-embracing humancommon denominator is certainly there, at least insofar as noone really thinks that here are some of us surrounded byirreductibly alien others, that there are entities out therewith whom all forms of dialogue are foreclosed, and thatsocial life is (has always been and forever will be) somehoworchestrated by an elite of cunningly telepathic super-beingsplotting against an indeterminate us somehow immersed in asea of alien species groupings. Or some absurdity of thesort. There may be disputes as to the preferable, the mostapposite, basis for such a common denominator. But no one Iam aware of can seriously doubt that there are indeed (thatthere must be) universal human values at this deeper, moreabstract, technically virtual, level. Otherwise, we are notjust politically imposing on others, but also in a grievousway ontologically fooling our very selves.
284
or at the lower circles of internationalpublic opinion. So I suppose this means that welive in a world in which there are twointeracting sets of notions about universalhuman values: the scientific and the socialversions. They are two weak clusters ofnotions, so to speak: one, because it is amere collection of empty forms; the other,as it is only a newly constituted bundle ofshared ideals. Although they obviouslyinteract, these two sets differ profoundly. The context for the contemporarycoexistence of these two parallel sets, orcomplexes, of ideas is well known.International civil society, as well as aworld society of States, are manifest,ongoing, ever-present, hardening socialfacts. Whether we like or dislike them,there they are, visibly blooming. Maybethey are just passing fads; it seems morelikely they are here to stay. So universalhuman values as a global idea do indeed appear to have apropitious environment (their birthplace, really,if heavily modernised) in which to thrive.Whether they do so, we do not actuallyknow, and we really have no way ofascertaining until we get there. The same applies to its worth:once there, shall we be able to argue if itis actually a good thing to arrive at aworld with no acknowledged internal
285
monsters. Utopianism is no good, here151. Letus hope that Jean Jacques Rousseau152 and theVenetian sage153 were wrong when theyrespectively warned us that in ouraffirmation of a universal love for all ofMankind we were hiding our lack of love foranyone, and that there can be no truefriends in a world where there are no trueenemies. Again, we must wait until we getthere if we want to evaluate their wisdom. What I am trying to say is this:it is all very well to go into triumphalistdetailed explications of the ponderousvictories and doctrinal developments of151 A clearly utopian path was the one taken by the UN. Asearly as in 1947, UNESCO decided to carry out a lengthyenquiry into member states’ views on human rights, whichresulted on a flow of disparate calls on the pervasivedangers of ethnocentrism and a demand for an acute culturalsensitivity. This essential but perhaps too diffuse approachhas had well-know consequences at the level of both theproduction of watered down international legal instrumentsand at that of a mobilisation of wills to affirm differences;it has had a much weaker impact as a mechanism for effectinga working approximation between cultural positions.152 Rousseau wrote what Andrew Linklater (1998: 55)accurately, in my view, called “a jibe” against thecosmopolitans whom, he denounced, boast of loving the wholeworld “in order to enjoy the privilege of loving no one”. Astructuralist (or semiotic) statement avant la lettre?153 This “Venetian demagogue”, in fact a fictional persona inMichael Didbin’s novel Dead Lagoon, is quoted in S.Huntington’s Clash of Civilizations (1996: 20) as saying:“there can be no true friends without true enemies. Unless wehate what we are not, we cannot love what we are. These arethe old truths we are painfully rediscovering after a centuryor more of sentimental cant. Those who deny them deny theirfamily, their heritage, their culture, their birthright,their very selves. They will not lightly be forgiven”. Goodfood for thought.
286
universal human values in the contemporaryworld. That progression is all too visible,perhaps so much so that it is indeedinescapable; it is as if part and parcel ofour cognitive furniture, so to speak. Butso too is its relative inefficacy. For nomore than a moderate dose of attention is necessarybefore it becomes abundantly clear that surely suchdevelopments are not in fact actually rendering atrocitiesand gross violations of benign universal sets of consensusany less likely or frequent. It does not take muchto verify the unfortunate fact that, inspite of substantial convergences and thegreat strides taken towards a generalizedpropensity for a rapid and wide-rangingformalisation of norms, all sorts of brutaland systematic violations of those idealsdo indeed continue apace in the world aboutus. The outcome is a sort of cognitiveincongruence, a complex resultant. In otherwords, and bluntly: it is not at allcertain that either the rise of universalhuman values or the growing internationallegalisation of human rights norms are inany way very really ameliorating the humancondition; or, at the very least,legitimate doubts can convincingly beraised. A realization which, I believe,leads us into a skeptical pose. We mustrapidly abandon the unproven and largelyunexamined assumptions that many of usoften tend to engage in, according to whichthe transformation of aspirations into
287
principles automatically and in itselfspells an effective basis for minimizingsuffering. Without any hint of pessimism (a“solution” which would of course be asunwarranted and unconvincing as any form ofoptimism), allow me to formulate my deepnon-teleological skepticism asunambiguously as I can: it is by no meansliquid that the sharing of universal humanvalues that we witness in today’s worldwill in actuality provide a more effectivenormative basis for producing the good lifethan the recipes we just as eagerly triedin the past. We simply do not positivelyknow if this is so; we cannot but guess.But although that should give us pause, itshould not lead us into despair: as surelythat sort of painful indetermination isinherent in the very nature of all open-ended processes. Well, where does thisleave us, then? I shall rephrase what I arguedbefore. The conundrum we are rapidly havingto come to terms with today is both moregeneral and more insidious that it mightseem at first sight. And a great dealharder to solve, as well as entailing agreater amount of tensions, uncertainty,and suffering. It is, I believe, thefollowing: there can be no doubt that theidea of a set of universal human values,even if it shows itself not to amount to a
288
plain “imperialist imposition of Westernideas154”, most definitely is a Western culturalproduct turned into a worldwide ideologicalcurrency by virtue of a Western-led processof globalisation of a Western-triggeredworld system, and exhibits a largelyWestern-style shape, type of ordering, andpolitical architecture. Although this isnevertheless only truly so if we take aproviso into account: that “Westerncultural product” is a novelty in the Westitself, and that the forces which broughtit about here are now also acting, full-fledged, the world over. Which includes, ofcourse, the West. As such, it is only “Western” in anindirect way; what it is, certainly, is a production of globaltransformations which affects the West as it affectseveryone else. It is the outcome of growinglyeffective systemic pressures which arerecasting the very coordinates and thefundamental nature of what we experience aspolitical community in our globalisingworld of today. The implication of all this seemsinescapable: the idea of universal humanrights (as a crystallised expression of154 Héctor Gros Espiell (1998), “Universalidad de los derechoshumanos y diversidades culturales”, Revista Internacional deDerechos Humanos, 158:15. This, of course, is just one ofmany possible quotations. The already cited Thomas M. Franck(op. cit.: 202), as we have seen, takes the radical view that“human rights [do not] represent Western culturalimperialism; instead, they are the consequence of modernizingforces that are not culturally specific”. From my point ofview, this is only partially true, and then only in relationto only one of the concepts of universality.
289
both latent global values and hollowuniversal forms) is most surely a necessaryprior conceptual framework (althoughcertainly not a sufficient one) which willallow us to bestow a sure and uncontestedrational foundation (and thus, should wewish to, an eventual legal basis) to anyworldwide policy designed for theirprotection and respect. It is an endeavourwhich, no doubt, will ultimately come tobenefit all peoples and all cultures. If,that is, we manage to design themultidimensional type of substantiverationality155 adequate for this multi-centered world we are entering sofearfully. And thus we will manage to avoidethnocentrism156.155 In the already quoted and fascinating lecture delivered atthe University of Coimbra, the above mentioned French jurist,Mireille Delmas-Marty (op. cit. 1999: 141-142), in a somewhatsimilar vein (but in the much more restricted field ofaction, that of jural harmonisation in the globalisingworld), argued for the wide-spread use of “non-standardlogics (like the logics of fuzzy sets)”. Her objective, againnot too dissimilar to what I suggest here, is that ofachieving “an ordered pluralism” (ibid.: 139, mytranslations), in the urgent and unavoidable modern attemptscarried out so as to achieve either a plain “unification” ora weaker “harmonisation” of what are essentially multiplelayers of “proliferating” norms derived from “multiplenormative” domains. This is possibly a step (but only a shortstep) in the direction of the overall new politicalrationality which I here deem crucial for effecting thenecessary changes which, in my view, the ongoing processes ofglobalisation demand; that is, if we want our common futureto be duly “civilised” and “democratised”.156 Or at least its more exclusionary and virulentlyinadequate forms. With the importance we all today tend toattribute to self-determination, some cultural sensitivity is
290
To exorcise this old trap, Ibelieve, neither fear, stupefaction, noragain pessimism, are of any help. Anddefiance would risk throwing out the babywith the bathwater. Crises involve bothdangers and opportunities. What we need iscombativeness. Our post-modern conundrumlies precisely here, I think, and it is apolitical, a pragmatic, and an ethical one:unless we can effect a major power changein the extant world order, for once we must(again) swallow and adopt as our own (or atleast as a general patrimony of everyone)this one more “Western” idea; or, at least, a“modernist” one which is only being pushedby the West since the West was the first tofeel its growing impact. And we must do so,paradoxically, precisely if157 we value theindeed crucial. But not necessarily (or even desirably) as alimit or as a brake on cross-cultural value judgements;rather as a means of equating and designing both evaluationsand actions. Not that a workable international order isradically impossible without a complete value unity andhomogeneity. But what R. Falk called “a minimum culturalconsensus” certainly makes an international order easier andmore wholesome.157 Post-modernism seems to me to be of no real heuristicuse, here. Consider this. I am painfully aware that, in whatI am arguing, my own beliefs are involved. This is utterlyunavoidable, and therefore it is not necessarily bad, or lessobjective, as long as I make my standpoint clear. And I haveendeavoured, I think, to do so. Moreover, I know fully wellthat the line between giving an opinion, even if it iscouched as an academic opinion, and plain interference shiftsaccording to the side, or the angle, from which one observes.What, to one party to an exchange, seems to be entirelyjustified may depend on the nature and the strength of one’sown convictions and beliefs. And I also know (as a legalanthropologist how could I not?) that whether an assertion,
291
prospects of our own survival as non-Westerners. To those of us who areWesterners, things are, if perhaps simpler,also imminently ethical and political interms of the issues they raise. But theyalso require a dose of humility: again, wemust export one of our very ideas (or atleast one which was started up here byexternal forces) and we may lay back self-contentedly while we enjoy seeing itpercolate through the world; but we must beready to let this one break free158 of our preconceptions,and undergo alterations as it is deeply reshaped andreconfigured by other perspectives. This is exactly
or a series of notions, appears as a suggestion, a form ofpersuasion, a subtle threat, or an arrogant attemptedcommand, is often set by our perception of a situation and bythe respective roles of the participants on the exchangebeing carried out. In other words, I have no illusions as tothe pervasiveness, in these contexts, of both partiality andpolitics; the latter in the form of a discourse founded onpower. Unfortunately, there is nothing I (or anyone) can doabout that. All I can claim here is a clean conscience, asfar as my above assertions go.158 Dealing with what in part amounts to a not too dissimilarproblem (although in a very different light, as we sawearlier), Boaventura de Sousa Santos (2000: 31) recentlyreiterated the felt need for “a theory of translation”, as aparcel of what he called “a diatopical hermeneutics”, in turnas an integral part of any “post-modern critical theory”. Inspite of his avowed pessimism (or, maybe, because of it), hisis a worthy objective: an effective multicultural dialoguewhich assumes “difference without indifference”. SousaSantos’ stress thus seems to be on the political urgency of aradically new intellectual effort, which will in turn lead toa liberation from the old (and now “indolent” andconstraining) rationality we inherited from the “moderns”.
292
what I meant when I said we must startlearning to look up. For we should be realistic. A setof paradigmatic alterations which willallow us to make sense of our changing andglobalising world appears to be aninevitable development. In a sense, it isalready under way. But a fast-approachingmajor world revolution leading to a loominggrand paradigm shift is unlikely. The real choice we have is onebetween possibly self-redeeming, butultimately empty, “liberative” rhetoricgesturing, and a more constructive andvehement pose of systematic and engagedcontainment of the brutal excesses of a setof processes which are certainly desirable,but which can only lead to the good life tothe extent that they are not wholly out ofour democratic control. In the real world,this is, I believe, a crucial point we mustcome to terms with. It should be a soberingconsideration to ponder that all too oftensuch apparently very promising liberativeexceptionalisms are little more thanexpressions of the fears of (sometimescloset) conservatives who unwittingly“invent traditions” which were not reallythere, or the visible face of opportunistand populist strategising ruthlesslypursued by local elites159 desperate to hold
159 Perhaps the most graphic map of the type of deviousreaction often engendered by displaced local elites, at least
293
on to their material, or their symbolic(and often considerable) powers. To mymind, this means we are, in allprobability, heading for a struggle. If we manage to put on par thishumility and that further resignedtolerance I alluded to, and then enter the fray,we shall be more comfortable in thepositive assertion that there is indeed such agood thing as upcoming universal human values. It issomething which I believe we have an ethical duty to fighthard for, to try to help construct. And fight for itwe must, if we want to try and make sure(to the extent this is at all possible)that it will come about in a manner whichspells a greater freedom for everyone. Thisis indeed something I deem as one of themajor battles facing us, most acutelyunfortunately brought publicly and veryvisibly to the fore by the relativelyrecent dramatic and brutal events in,first, New York and Washington, then Mazar-e-Sharif, Kabul, Kandahar, Jalalabad,Konduz, and so on and on. Although the future is bothinvisible and potentially threatening, theconcerning rights, is that sketchily drawn by R. Falk:“whether by samizdat, satire, or humour, the voices ofdissent manage eventually to find arenas and forums, althoughnot without risk, often with the help of religiousinstitutions that under other circumstances have themselvesexerted their influence to restrict the dissemination ofdangerous knowledge” (op. cit.: 60). An interesting position, ifwe keep in mind contemporary Islamic integrism (or Islamicfundamentalism, as it is usually called).
294
immediate background scenario is clear, atleast at this level. A so-calledinternational human rights regime, whetherwe like it or not, is fast becomingestablished the world over. If anything,the recent outbursts of anti-Westernfeeling seem to have accelerated thatspread. It is true that its entrance tookplace a long time ago and that itsspreading has often been far from smooth;mostly in staunchly non-Western societies,or in hardened anti-Democratic regimes(even those in the “cultural West”), it hasas a rule taken the form of a non-linearstep by step process of entrenchment, a“spiral” of sorts, starting from anexternal demand answered by the pretence ofan acceptance, onto a full incorporationand alignment with the rights regime, quiteoften mediated by non-governmentalinternational human rights organisationswith a national foothold in the society inquestion160. But in the great majority ofcases, with some concessions, such
160 This is argued and shown is exquisite detail (under theheading of “the spiral model”) in the already citedcollection by (eds.) T. Risse, S. Ropp e K. Sikkink (1999),The Power of Human Rights. International norms and domesticchange, Cambridge University Press, a book which both gathersa score of national case-studies and provides a generalcomparative framework for the process of “entrance” and“establishment” of the international human rights regime inseveral different societies. It would be fascinating (butdifficult to carry out) to engage in a study of theincorporation of universal human values in a score ofdifferent sociocultural groups.
295
processes have been relatively successful,albeit it at different rates and withvariable speeds of encroachment; in othercases, less so. Such processes ofpenetration, or so it seems, are not aboutto be abandoned. Moreover (and that issomething which I think is already beinginsured, to the extent that that ispossible), they should be studied carefullyso as to strategically maximise theproductivity of our efforts. At this leveltoo, some sacrifices are warranted. Andthat too involves risks. And uncertaintiesare inevitably there also. But it is nevertheless a fray, asI called it earlier, that which we mustengage in, on par with the dialogues andthe deep multiculturalism so often calledfor. For what is at stake is indeedcrucial. Despite the indetermination I alluded to, bothethically and politically, universal human values are acommon good which can no longer be envisaged, or eventolerated, as a simple instrument of a few. A truculentfight for values is what is surely inreserve for us all. And there is reallyonly one legitimate weapon we cancoherently use. As has of late often beendemanded, what we need is “a normativecommitment to engage the systematicallyexcluded in open dialogue”161. But we must161 A. Linklater, op. cit.: 107. It is worth it to quoteLinklater more extensively on the wider issue of linkingvalues to community, to the ongoing process of globalisation(although these are not terms he used) and to a renewed
296
imbue ourselves, too, with a heavy dose ofrealism. What we do need is an open (morethan a radical) normative posture; but itshould, it must, nevertheless be theexpression of a firm determination, and anunrelenting one at that, a commitmentsurely necessarily anchored on the previoussharing of the values bestowed upon us allby the reach of the globalisation so farachieved. A commitment which, if it is tobe more than an up-in-the-air sort ofidealized collection of fantasies, must begiven a concrete form in “hard”international institutions which will becapable of actually strengthening itscredibility, increase real and effectivecompliance, and provide “rationalized” (togo back to a Weberian terminology) modes
social contract: in his words, “no conception of ethics issatisfactory if it endorses the systematic exclusion of anyindividual member of the human species, on a priori grounds,from a communication community which has the potential tobecome universal. Universality here assumes neither theessentialism of natural law perspectives nor the teleologyevident in the speculative philosophies of history associatedwith the Enlightenment. Universality takes the form of aresponsibility to engage others, irrespective of theirracial, national and other characteristics, in open dialogueabout matters which impinge on their welfare” (ibid.: 101). InLinklater’s view (or so it appears), one of the more activefronts of contemporary political struggle certainly involvesefforts to guarantee an unobstructed equal participation ofall of humanity (although it is not clear who its units are –individuals, cultures, nations?) in a constructive andfoundational multi-vocal dialogue.
297
and appropriate public fora for adjudicatingand resolving disputes: means for somewhat“domesticating” the international anarchythat so weights over us all. However, at least in my view,such a commitment and an ambitiousinstitution-building policy are an effortwarranted not necessarily as a meansdesigned to settle our many differences:these are far too valuable for that, andsurely they are far too resilient for sucha project to have any chances of success.Rather, this decision should induce us tolearn to be enthusiastic about them, a prospectwhich is by no means incompatible with anew, more open, Liberal program. And, fromthere, we can perhaps come to agree oncarefully building a world in which thatact of construction, that very creation weall ought to engage in, becomes a trueempirical fact; and a world where,simultaneously, we progressively learn torecognise, to nurture, to cherish, and tohonour, our ever-affirmed differences asbut stupendous variations on a grand commontheme.
BIBLIOGRAPHY
298
Anderson, Benedict (1991), ImaginedCommunities. Reflections on the origin and spread ofnationalism, Verso.An Na’im, A. A. (1992), “Toward a cross-cultural approach to defining internationalstandards of human rights. The meaning ofcruel, inhuman, or degrading treatment orpunishment”, in (ed) A. A. An Na’im, HumanRights in Cross-Cultural Perspective. A quest forconsensus: 19-44, University of PennsylvaniaPress.(ed) An Na’im, A. A. (1992), Human Rights inCross-Cultural Perspective. A quest for consensus,University of Pennsylvania Press.Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the World,Ballantine Books, New York.Bauman, Zygmunt (2001), Community. Seeking safetyin an insecure world, Polity.Brown, Chris (1995), “Internationalpolitical theory and the idea of the worldcommunity”, in (eds.) Booth, K. e Smith,S., International Relations Theory Today: 90-110,Cambridge.Carr, Edward H. (1981, original 1939), TheTwenty Years’ Crisis 1919-1939. An introduction to thestudy of international relations, MacMillan, London.Comaroff, John L. (1996), “Ethnicity,nationalism, and the politics of differencein an Age of Revolution”, in (eds.) E.Wilmsen e P. McAllister, The Politics ofDifference, The University of Chicago Press.
299
Darian-Smith, Eve (1998), “Power inParadise: the political implications ofSantos’ utopia”, Law & Social Enquiry 23, 1: 81-121.Delmas-Marty, Mireille (1999), “Amundialização do Direito: probabilidades erisco”, Studia Iuridica 41, Colloquia 3: 131-145,Boletim da Faculdade de Direito, Universidade deCoimbra.Dworkin, Ronald (1978), Taking Rights Seriously,Harvard University Press.Falk, Richard (1992), “The culturalfoundations for the internationalprotection of human rights”, in (ed) A. A.An Na’im, Human Rights in Cross-Cultural Perspective. Aquest for consensus: 44-65, University ofPennsylvania Press.Falk-Moore, Sally (1986), Social Facts andFabrications. “Customary” Law inKilimanjaro, 1880-1980, CambridgeUniversity Press.Forsythe, David (2000), Human Rights andInternational Relations, Cambridge UniversityPress.Franck, Thomas M. (2001), “Are human rightsuniversal?”, Foreign Affairs 80, 1: 191-205.Geertz, Clifford (1963), Peddlers and Princes:social development and economic change in twoIndonesian towns, Chicago University Press.___________ (1984), “Distinguished Lecture:Anti-Anti-Relativism”, American Anthropologist86: 255-278.
300
Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism,Oxford, Basil Blackwell.Gros Espiell, Héctor (1998), “Universalidadde los derechos humanos y diversidadesculturales”, Revista Internacional de DerechosHumanos: 1-15.Habermas, Jürgen (1990), Moral Consciousness andCommunicative Action, Polity Press.Huntington, Samuel (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25._______________ (1996), The Clash of Civilizationsand the Remaking of World Order, Simon andSchuster, New York.Kymlicka, Will .(1995), Multicultural Citizenship: aliberal theory of minority rights, Clarendon Press,Oxford.Lensu, Maria and Fritz, Jan-Stefan (eds.)(2000), Value Pluralism, Normative Theory andInternational Relations, Millenium, London.Marques Guedes, Armando (1999), “Asreligiões e o choque civilizacional”, inReligiões, Segurança e Defesa: 151-179, Institutode Altos Estudos Militares, Atena._________ (2000), “As guerras culturais, asoberania e a globalização”, Boletim do Institutode Altos Estudos Militares, 51: 165-162.Miller, Arthur (1987), Timebends: A Life,Methuen, London.(eds.) Risse, T., Ropp, S. e Sikkink, K.(1999), The Power of Human Rights. Internationalnorms and domestic change, Cambridge UniversityPress.
301
Rosaldo, Renato (1989), Culture & Truth. Theremaking of social analysis, Beacon Press, Boston.Sousa e Brito, José (1996), “Law, Reasonand Justice: questioning the modern triad”,in (ed.) Roberta Kevelson, Spaces andSignifications: 191-205, Peter Lang.Sousa Santos, Boaventura (1995), Toward a NewCommon Sense: law, science and politics in the newparadigmatic transition, Routledge, New York._________ (1998), “Oppositionalpostmodernism and globalizations”, Law &Social Enquiry 23, 1: 121-140._________ (2000), “Porque é tão difícilconstruir uma teoria crítica?”, Travessias:21-39, Rio de Janeiro.Wallerstein, Immanuel (1991), “The nationaland the universal: can there be such athing as world culture?”, in (ed.) King,A.,
5.
O ISLÃO, O ISLAMISMO E O TERRORISMOTRANSNACIONAL162
162 Comunicação de abertura da Conferência Internacional queorganizei a 2 e 3 de Abril de 2003, no Instituto de DefesaNacional, em colaboração com o Profesor Doutor Diogo Freitasdo Amaral, e em nome da A conferência intitulou-se “O Islão,o Islamismo e o terrorismo transnacional”, e foi co-organizada pela Faculdade de Direito da Universidade Nova deLisboa, pelo Instituto de Defesa Nacional e pela ComunidadeIslâmica de Lisboa.
302
Quer gostemos disso quer não, vivemostodos num Mundo renovado. As formas maisrecentes do tipo de luta política a quechamamos terrorismo não são a tal alheias.O novo terrorismo sem fronteiras empurroupara longe o velho. É fácil compreenderporquê. Tudo se prende com a ferocidade doseu impacto e a natureza dos alvos eobjectivos escolhidos. Sem querer exagerardistinções, o “antigo e clássico”terrorismo europeu “doméstico” diziarespeito a coisas como a ETA, a Facção doExército Vermelho (o célebre grupo Baader-Meinhoff), as Brigadas Vermelhas, as FP-25,ou o IRA. O seu raio de acção era modesto.As acções levadas a cabo envolveram bombasem automóveis e restaurantes, bares esupermercados destruídos. Isso mudou. Oterrorismo transnacional a que hojeassistimos envolve terror numa outraescala, com milhares de mortos de umaassentada e edifícios simbólicosgigantescos demolidos num piscar de olhos.O que pretende atingir e alterar é aprópria ordem internacional existente. Onível de organização dos agrupamentosdedicados ao terror atingiu um novo patamarde complexidade e inexpugnabilidade. OsEstados Unidos da América foram atingidos.Em resultado de tudo isto, os movimentos“terroristas islâmicos” têm vindo a
303
adquirir uma centralidade cada vez maiornos discursos sobre o terrorismo. Um factoem si próprio problemático: ao que se sabe,a maioria dos muçulmanos opõe-se aos actosterroristas perpetrados em nome da suareligião.
Sem querer ser exaustivo ou sequerpretender mais do que aflorar estas váriasquestões, noto que não é abusivo dizer que,regra geral, a abordagem dos especialistasquanto ao terrorismo internacional tem sidoparcelar. Tanto nas causas como nos pontosde aplicação. Com efeito, vários temas esubtemas distintos têm prendido a atençãodos estudiosos. Ora têm vindo a manifestarinteresse nele enquanto mero aspecto de umafascinação mais genérica e bem-pensante coma emergência de actores não-estatais,encarando-os como uma espécie rara de ONGsextremistas, enquanto entidades queapareceram mais ou menos repentinamente naordem internacional, sobretudo (mas nãointeiramente) depois do fim dabipolarização. Ora têm preferido pôr oacento tónico nas redefinições que essaaparição implica no que diz respeito aorecorte de categorias jurídicas e políticas“clássicas” como a de “guerra”, ou a de“crime”, e na definição (penosa, muitasvezes, como em Nova Iorque ou emGuantánamo) dos estatutos a atribuir aosseus agentes e no tipo de jurisdição a queestes deveriam ver-se sujeitos.
304
Não são essas as únicas preferênciasmanifestadas. Outros investigadores têmvindo a preocupar-se com o papel de failedstates (o Afeganistão foi disso um exemploprivilegiado) como viveiros potenciais deONGs desse género, com o lugar da chamada“Internacional Jihadista” pós-bipolar, como peso e importância do fundamentalismowahabita financiado por sauditas, ou com asestruturas organizacionais sui generis quemuitos dos agrupamentos que se dedicam aesses tipos de acções e actividades exibem(em células, numa espécie de holdings ou, demaneira mais difusa, como internet chatroomsainda mais descentradas e só lassamentearticuladas umas com as outras),formatações essas desenhadas para melhorresistir aos embates dos poderosos Estadoscontra os quais os agrupamentos terroristastransnacionais combatem.
Em muitos casos, esses terroristasinternacionais contemporâneos invocam assuas pertenças a sociedades islâmicas. Porvárias razões, esse vínculo social temformado um foco privilegiado dos estudosempreendidos. A perspectivação adoptadatem, por conseguinte, em muitos casos, sidopolítico-sociológica. Numerosos analistastêm assim insistido no papel preenchido porditaduras e pelas ambições ditatoriais deuns poucos líderes sem escrúpulos, queinstrumentalizariam os sentimentos derevolta de muitos, sobretudo em regiões
305
deprimidas de um Mundo em fase deglobalização e todavia cada vez maisdesigual. Desigualdades e assimetrias,internas e externas, bem como oportunismosde grupos dominantes predatórios eparasitas estariam na base da emergência doproblema.
Os esforços interpretativos não seesgotam, todavia, nesse tipo de análisessocioculturais. Com uma maior resolução deimagens, por assim dizer, e tendo em menteque as preocupações dominantes têm sidoexpressas em relação ao terrorismo islâmico,os estudiosos têm olhado para as basessociais e/ou religioso-confessionais em quemuitos dos movimentos terroristas tentamfundear tanto a sua implantação efectiva,quanto a legitimidade de que esta depende.E têm vindo a prestar alguma atenção aosmecanismos, ou processos, através dos quaisestas novas entidades políticas têmtentado, e muitas vezes têm conseguido,ancorar uma legitimação. Mas têm-no feitosem grandes resultados: um ponto queimporta realçar. Se algum sucesso asanálises empreendidas têm logrado no quediz respeito ao terrorismo doméstico, comoexpressão seja de irredentismosnacionalistas, seja de despossessõesgritantes, seja ainda de afirmações étnicasque a ambas essas coisas reagem, a verdadeé que os esforços de reconstrução racional(e portanto de atribuição de
306
inteligibilidade) do terrorismo transnacionaltêm sido bastante exíguos, comparativamenteténues na eficácia e com uma alçadaintelectual de algum modo menos boa.
Facto indubitável é o de que no Mundomoderno dos últimos anos, o terrorismo de“raiz” islamista tem tido um enormeprotagonismo. O caminho tem sido longo edoloroso, desde os desvios de aviõesinternacionais que, nos anos 60 e 70 doséculo passado a Organização de Libertaçãoda Palestina levou a cabo um pouco por todaa parte (argumentavelmente uma expressão,em palcos e com correias de transmissãointernacionais, de questões do foro“doméstico”), até ao 11 de Setembro de 2001em Manhattan, passando pela primeiraoperação de “martírio” que, em 1981, levouum iraquiano xiita a detonar-se a sipróprio e a matar outras 27 vítimas naEmbaixada do Iraque em Beirute, além de porinúmeras acções realizadas (sobretudo emfinais do século passado) em vários lugaresda costa leste-africana, um pouco por todaa parte no Médio Oriente, e até na Américado Sul. Ao que tudo indica, ainda haverámuito para andar. A famosa “war againstterrorism” que o Presidente George W. Bushdeclarou e lidera, até agora fez pouco maisdo que arranhar a superfície destes tãoagressivos movimentos transnacionais deproliferação e crescimento acelerado.
307
Para essa emergência e para o seu timingmuitas explicações têm sido aventadas. Umefeito natural dos processos deglobalização, dizem alguns: uma coisacompreensível tendo em vista ainternacionalização que esse processoconsubstancia e sobretudo dada a suanotória falta de regulamentação, queexclui, despossui e ameaça de maneirasocial, cultural, política e economicamenteintolerável aqueles que tais processosinexoráveis de transformação globalmarginalizam. Serão essas razõessuficientes para explicar a eclosão destesmovimentos nos novos palcos mundiais?Muitos são os que discordam de taismodelos, apontando-lhes sériasinsuficiências a nível das explicações-previsões que providenciam.
Decerto com alguma razão. De facto, nãotêm sido os mais excluídos, os maisameaçados, os mais despossuídos aqueles quenos palcos internacionais mais têm feitoouvir a sua voz por intermédio de actos deterror. Não parece em boa verdade serdessas franjas e margens do Mundo que osterroristas realmente são oriundos. Nem,por via de regra, parecem esses movimentosser orquestrados, ou conduzidos, porlíderes de origem “subalterna”. Asexplicações lineares e mais óbvias, porconseguinte, fogem-nos. Embora comelaborações secundárias possamos talvez
308
tentar salvar estes modelos. Com menoslinearidade, tem assim por exemplo sidosugerido que, independentemente do estatutosócio-económico dos terroristas elespróprios ou dos seus apoiantes financeiros,a questão de fundo poisa na consciência damarginalização, nas frustrações e nashumilhações dos grupos a que uns e outrosse sentem pertencer.
Os termos em que o têm feito invocam àcabeça ressonâncias de resistência culturale identitária. Mas não só. Ao contráriodaquilo que a “sabedoria convencional” nospoderia levar a supor, as suas liderançastendem a ser gente instruída, por normasenhores com bastante sucesso económico esocial na “nova desordem global” e, se“tradicionalistas”, pessoas com algumaexposição cosmopolita. As agendas queostentam e com que acenam dizem respeito anada menos do que uma reconfiguração daarquitectura da própria ordem internacionala que se opõem tão radical e brutalmente.
Modelos baseados no desenvolvimentodesigual, ou assimétrico, ou ancorados numaexpressão “pré-Reforma” de umareligiosidade intransigente e “integrista”são porventura os mais comuns. Para além derazões de conveniência e adequaçãoideológica a preconceitos antigos, há paraisso algumas corroborações mais neutras.Com efeito, não deixa de parecer haverregularidades nítidas, a esses níveis, no
309
arranjo dos factos. Não é discutível, porexemplo, a constatação de que na maioriados casos se trata de agrupamentos que,reivindicando vir do interior da Ummahmuçulmana, transpondo aquilo a que SamuelHuntington (famosa e infamemente) chamou“as fronteiras sangrentas do Islão”,galgaram linhas divisórias e atacaram, cadavez mais perto do “centro” de uma ordeminternacional liberal que, cada vez commaior clareza e nitidez, elegeram como oinimigo principal a abater.
Quais os melhores níveis de análise,então? Os factos, ao que parece, dão uma nocravo outra na ferradura. No balanço,porém, casam mal, por assim dizer, com asideias apriorísticas que espontaneamenteruminamos sobre a natureza essencial destesmovimentos terroristas que nos assustam atodos, e que tanta dificuldade temos emcompreender. Com efeito, nada nosagrupamentos terroristas transnacionaiscontemporâneos é, de facto, óbvio. Não setrata de movimentos religiosos puros eduros. Nem todos são, em boa verdade,movimentos “primitivos”, ou “pré-modernos”;na maioria dos casos são criaturas tão“modernas” quanto aquilo que desafiam.
A olhos europeus ou norte-americanos,no entanto, em muitos casos muitos delesparecem-no. É mais uma vez fácil entenderporquê. Muita da coreografia que os rodeiasugere a sua “pré-modernidade”. As
310
designações, denominações e títulos que têmvindo a arvorar soam a fragmentos delitanias sócio-religiosas em que a nomeaçãode laços tribais se acrescenta às alusõescosmológico-litúrgicas em imagens tãovívidas quão exóticas, quanto aindarelevando de formas político-organizacionais e orgânicas provenientesora da Extrema Esquerda “infra-vermelha” efestiva de raiz ocidental, ora da nossaExtrema Direita “ultra-violeta” efalangista: os agrupamentos nomeiam-se al-Qaeda, a Brigada dos Mártires de al-Aqsa, oGrupo Abu Nidal, o Abu Sayyaf, o Hezbollah,a Jihad Islâmica, al-Daawa, ou o ConselhoSupremo para a Revolução Islâmica xiita noIraque. A impressão que fica, é a de que setrata de movimentos essencialmente políticosque, é certo, esforçam-se por ir beberlegitimação à religiosidade muçulmanatradicional, e que mobilizam formas departicipação e de acção dos seus membros,em termos social e culturalmente também emparte tradicionais.
A oratória de recrutamento emobilização, a retórica de agitação epropaganda, embutidas nos discursos de quevamos apanhando fragmentos, parecemconfirmar essa nossa impressão: ouvimosapelos ao “espírito do jihad”, escutamosinvocações a Deus para ajudar “os crentes”na “luta” contra “os infiéis”, absorvemosfatwas exaradas com a pompa e ritualização
311
própria de circunstâncias em que seassevera uma perfeita realização, na Terra,de desígnios divinos e transcendentes. Osactos de terror perpetrados parecemencaixar bem nessa imagem cosmológica deintervenções que sugerem pretendermanipular a estrutura profunda darealidade: suicidas sorridentes confinam,nas imagens que nos comunicam, comdegolações “à moda antiga”, ladeiam feddayyinem pleno fervor do jihad que, com entusiasmochiliástico, lançam aviões contra edifíciossimbólicos do inimigo. Tudo se parecepassar como se se tratasse de dar corpo aactividades carregadas de transições e dejustaposições intrincadas, a clamar porinterpretações de pormenor que lhes possamfazer justiça, por assim dizer. São imagensque à política dura e madura vêm, ao queparece, acrescentar camadas suplementares.
Vistas as coisas deste ângulo, a ideiaresultante é a de que, no que toca aosactos cometidos que apelidamos de acções deterrorismo transnacional islamista, estamosfrente a enormes dramatizações rituaispúblicas e mais do que tão-só perante umaqualquer luta política instrumental. Asegunda impressão com que ficamos é de quealguma coisa nos está a ser dita, para alémdaquilo (ou melhor, no interior daquilo)que está a ser feito. Como se para lá deactos de violência instrumental e simbólicaestivéssemos na presença de formas
312
discursivas sui generis. Formas essas queprecisamos de saber “decifrar”, quanto maisnão seja para assim melhor as poderneutralizar ou combater.
Mas há mais. Também ficamos com a ideiade que nestas actividades terroristasestaríamos confrontados com práticas que dealgum modo estão a meio caminho entre alinguagem e a acção, entre a intenção e ofacto consumado, entre o dito e o feito. Anossa terceira impressão é assim a determos sido atirados para uma espécie dezona de penumbra em que o real e o irrealse esbatem um ao outro. É aqui que radicam,certamente, aquelas interpretações queinsistem na curiosa coincidência entre aeclosão do terrorismo transnacional e aemergência dos meios de comunicação globalimprescindíveis para veicular as suasacções-mensagens de violência, alteridaderadical e morte real mas simbolicamenteinfligida.
Como é porventura inevitável, tendemosa perceber o Mundo e as coisas de acordocom as pré-compreensões que de algum modorespiramos, e segundo as pré-formataçõesque lhes impomos. Isso é verdade para todosnós, quer sejamos ocidentais ou de umaqualquer outra origem, muçulmanos ou não.Não será por isso surpresa a constatação deque ordenamos as nossas perspectivaçõesagrupando-as de maneiras previsíveis. Como
313
preconcepções. Quero terminar delineandoalgumas delas.
No Ocidente, designadamente (e sejacomo for que o definamos), tem havido umaforte tendência para encarar o Islãocontemporâneo, e as práticas erepresentações “islâmicas”, de um de doispontos de vista polares. É fácil esquissaros extremos do continuum, ou do gradiente sese quiser, destas conceptualizações. Emminha opinião, nenhum deles é totalmenteconvincente. Nalguns casos (e o exemploparadigmático disto é decerto hoje em dia otrabalho académico de Bernard Lewis),olhando a fractura ostensivamente existentecomo sendo uma resposta “tradicionalista”,“nativista” e “pré-moderna”, a umahumilhação que decorreria da convicçãodolorosa de um falhanço traumático de uma“civilização islâmica” que já foi grande,face a um Ocidente com o qual hoje nãoparece conseguir competir. De acordo comesta linha interpretativa, muitosmuçulmanos estariam convencidos que taldescalabro resultaria do seu próprioabandono do caminho tradicional eresponderiam a isso com um duplo movimentode regresso às origens e de recusa radicale brutal do Ocidente. Deste ângulo, oterrorismo seria uma espécie do géneroafirmação.
Noutros casos (e aqui um bom exemplo éseguramente o ainda que de maneira
314
indirecta disponibilizado pela produçãouniversitária de Edward Said, um norte-americano de origem palestiniana cristã),preferindo argumentar, de maneira maisindirecta e talvez em consequência maissubtil, que “Ocidente” e “Oriente” têm sidodois mundos que se excluem, e seentredefinem nesse processo de exclusãorecíproca. Desse acto recíproco, Saidsublinhou apenas um dos lados: a“orientalização” e “exotização” levada acabo pelos “ocidentais”, as quais, na suaopinião, redundariam em pouco mais do queem racionalizações de conveniênciasegregadas para tentar legitimar oascendente político daqueles que asenunciam. Visto desta perspectiva, oterrorismo islamista seria uma espécie dogénero político resistência.
Parecem-me ser estas as coordenadas-mestras do “enquadramento ideológicoespontâneo” em que tendemos a entrever ascoisas no que diz respeito ao terrorismotransnacional, e nesse designadamente aoislamista. Não chega. Podemos (e devemos)ir mais longe. Aos espaços nocionaislimitados que configuram o que pensamossobre estas questões, há que abrir asfronteiras e saber evitar reducionismos.
Importantíssimo parece-me ser o factode que muitíssimos há, no interior doIslão, que combatem com todas as forças quetêm contra as terríveis formas dos
315
terrorismos que abusivamente invocam o nomedesta religião. Que fazer de todos aqueles(sem dúvida a larguíssima maioria dosmuçulmanos do Mundo) que, reclamando-se doIslão enquanto credo e modo de vida, eenfrentando as pretensões dos que alegamfalar em nome dele, se opõem como podem aesses agrupamentos? Mais: que o fazem,convictos em todo o caso de que, todavia,por detrás destes movimentos políticos detonalidades religiosas, haverá razõeslegítimas de revolta a que importa saberdar resposta se quisermos evitar o seucrescimento e a sua perpetuação. E que, noprocesso, põem na mesa questões de fundoincontornáveis relativas à ordeminternacional que temos e aos lugares que,nela, encontramos uns para os outros.
Serão estas algumas das questões queaqui iremos durante dois dias discutir. Queconsigamos conversar.
BIBLIOGRAFIA
Asad, Talal (1993), Genealogies of Religion.Disciplines and reasons of power in Christianity and Islam,Johns Hopkins University Press.Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the world,Ballantine Books, New York.
316
____________(2002), “Democracy and terrorin the age of Jihad vs. McWorld”, em (eds.)K. Booth e T. Dunne, Worlds in Collision: 245-263, Palgrave, MacMillan.Cronin, Audrey Kurth (2003), “Behind thecurve. Globalization and internationalterrorism”, International Security 27 (3): 30-58.Esposito, John (1993), The Islamic Threat: mythand reality, Oxford University Press.Etzioni, Amitai (2002), “Implications ofthe American anti-terror coalition forglobal architectures”, European Journal ofPolitical Theory 1 (1): 9-30.Fukuyama, Francis (2002), “History andSeptember 11”, em (eds.) K. Booth e T.Dunne, Worlds in Collision: 27-37, Palgrave,MacMillan.Gellner, Ernest, (1981), Muslim Society,Cambridge University Press.___________(1992), Postmodernism, Reason andReligion, Routledge.Harris, Lee (2002), “Al-qaeda’s fantasyideology”, Policy Review 114: 1-13, The HooverInstitution.Held, David, et al (1999),. “The expandingreach of organized violence”, em (eds.) D.Held, A. McGrew, D. Goldblatt, e D.Perraton, Global Transformations. Politics, Economyand Culture: 87-149, Polity Press, Cambridge.Hendriksen, Thomas H. (2001), “The rise anddecline of rogue states”, Journal of InternationalAffairs 54 (2): 349-371.
317
Huntington, Samuel (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25,New York.._____________(1996), The Clash of Civilizations and theRemaking of World Order, Simon and Schuster,New York.Juergensmeyer, Mark (2000), Terror in the Mind ofGod University of California Press.Kurtz, Stanley (2002), “The future of‘History’”, Policy Review 114, The HooverInstitution.Leach, Edmund (1977), Custom, Law and TerroristViolence, Edinburgh University Press.Levitt, Matthew (2003), “Stemming the flowof terrorist finance: practical andconceptual challenges”, The Fletcher Forum ofWorld Affairs 27 (1): 59-70.Lewis, Bernard (1993), Islam and the West,Oxford University Press._______________(2001), What went wrong? Westernimpact and Middle Eastern response, OxfordUniversity Press.Mamdani, Mahmood (2002),”A politicalperspective on contemporary terrorism”,Ethnicities 2 (2): 146-149.Marques Guedes, Armando (1999), “Asreligiões e o choque civilizacional”, emReligiões, Segurança e Defesa: 151-179, Institutode Altos Estudos Militares, Atena, Lisboa._________________(2000), “As guerrasculturais, a soberania e a globalização”,Boletim do Instituto de Altos Estudos Militares, 51: 165-162, Lisboa.
318
Mousseau, Michael (2002), Marketcivilization and its clash with terror”,International Security 27 (3): 5-29.Rasmussen, Mikkel V. (2002), “‘A parallelglobalization of terror’: 9-11, securityand globalization”, Cooperation and Conflict.Journal of the Nordic International Studies Association 37(3): 323-349.Said, Edward (1978), Orientalism, Routledgeand Kegan Paul.Sayyid, Bobby (1997), A Fundamental Fear.Eurocentrism and the emergence of Islamism, ZedBooks.
6.
O TERRORISMO TRANSNACIONAL E A ORDEMINTERNACIONAL163
1.
Mais do que apenas uma memória terrívele um acontecimento dramático que o tempovai fazendo receder para a relativaneutralidade de um estatuto asséptico de163 Comunicação final do Seminário sobre “O Islão, o Islamismoe o Terrorismo Transnacional”, realizado a 2 e 3 de Abril de2003, no Instituto da Defesa Nacional.
319
facto histórico, o 11 de Setembrotransformou-se num símbolo. É hoje umametáfora: para o grosso das pessoas e dosEstados ocidentais, representa os perigosdas novas ameaças que se perfilam num linhadesfocada de horizonte que “a névoa daguerra” e a imprevisibilidade do futuro nãonos deixam ver com nitidez.
A situação em que desde então vivemostendemos a sentir como um encurralamento:por um lado, não há sombra de dúvida quetemos de presumir que a 11 de Setembro de2001, Osama bin Laden teria utilizado armasde destruição maciça se as tivesse esoubesse que as podia usar de maneiraeficaz. Sabemos que vários grupos (o al-Qaeda é apenas um deles) estão a tentarobter esse tipo de armas, ou já as têm. See quando as tiverem, devemos supor poroutro lado, usá-las-ão. Precavermo-noscontra menos do que isso envolveria assumirum risco inaceitável para os que estão emquaisquer posições de responsabilidade.
As probabilidades de essa ameaça àscidades, às sociedades, e aos cidadãosocidentais se concretizar, não nos podemdeixar parados: o perigo da iminência de umdrama em larga escala é provavelmente tãogrande hoje como alguma vez o foi durante aGuerra Fria, de tão má memória. Bemponderadas as coisas, a impressão com queficamos é a de que vivemos numa espécie denova “crise dos mísseis de Cuba” mais
320
abrangente e muitíssimo mais difusa,translúcida e experienciada como que emcâmara lenta: de maneira dolorosamenteprolongada. Um efeito de terror, stricto sensu.
As ameaças não provêem só deagrupamentos terroristas islâmicos; não vêmapenas de grupos que, em nome de umreligião espalhada um pouco por toda umafaixa que separa o Norte do Sul do planeta,tentam avançar agendas políticas globais.Há obviamente outros focos de perigo, numMundo a que a globalização reduziu a escalae no qual diminuiu as distâncias. Mas,neste momento pelo menos, tudo se passacomo se os islamistas fossem únicos: osriscos que em simultâneo se mostram maisiminentes e menos ponderáveis estãoclaramente focados nestes grupos queinvocam o Islão para recrutar aderentes,para forjar alianças, e até para tentarlegitimar as suas acções e métodos. Tambémnisso reside uma tensão. Para além dasvítimas potenciais que atingiram e ameaçamatingir no Ocidente, esses agrupamentosterroristas vitimizam também (e fazem-nomuito mais do que simbolicamente) alarguíssima maioria dos muçulmanos dosMundo, em cujo nome alegam falar e cujareligião efectiva e decerto indevida eincongruentemente, desviaram e mantêmcativa.
Fazer frente a estas ameaças (às reaise às apenas temidas) é o grande desafio do
321
nosso tempo. Para a nossa geração é oequivalente de ir ao encontro das agressõesdo Kaiser, das blitzkrieg de Hitler, ou doexpansionismo de Stalin e etc. que, de 1949a 1990, Harry Truman, os sucessores, e osseus aliados na Europa, tiveram deenfrentar.
Aos inimigos reais a confrontaracrescenta-se um “medo fundamental” nemsempre bem fundamentado. Os muçulmanosdirão ao que esta ameaça é para elesequivalente, nos termos da sua históriarecente: mas para as novas gerações queprofessam a religião islâmica, o terrorismo“em seu nome” constitui decerto um desafioque não é menor do que aquele em quedefrontaram as potências europeias naslutas duras anti-coloniais pela suaautodeterminação, frente aos soviéticos e àinvasão do Afeganistão, na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo e na Tchechénia, ounas duras confrontações que tiveram (e têm)contra os nacionalismos étnicos que o fimda ordem internacional bipolar acendeu naantiga Europa de Leste. Também aqui há um“medo fundamental” a ser suscitado, destafeita num outro sentido.
No que se segue irei tentar delinear umquadro muito geral relativo a uma partedaquilo que, nas duas últimas tardes, foiaflorado neste Seminário. Não vou repetir oque antes foi dito e defendido; não vousequer resumi-lo, nem vou tentar contrapor-
322
lhes quaisquer explicações alternativas.Fazer uma qualquer destas coisas redundariainevitavelmente numa simplificação e numaperda de tempo. Mais do que um balanço,aquilo que vou tentar é dar outra demão.
A minha conjuntura de referência será ada “war against terror” de que fala o Presidentenorte-americano, George W. Bush. Paraefeitos deste Seminário, interessa-me poucoapurar qual o significado preciso a dar atal expressão. Far-lhe-ei alusão semprecontra o pano de fundo da ordeminternacional. A minha finalidade primeiraé a de tentar esboçar um levantamento deuma das dimensões mais importantes e menosfocadas dessa guerra pelo futuro e pelocontrolo da ordem internacional, queinsisto em perspectivar no quadro,muitíssimo mais lato, em que ela tem lugar:o dos processos em curso de globalização.
Quero começar por resumir de formasucinta aquilo que sobre isso vou dizer, aeste muito alto nível de inclusividade.Mais do que quaisquer verdadeirasreconfigurações pluralistas da ordeminternacional liberal, uma ordem hoje emdia (depois do fim da ordem bipolar) bemassente164, parece-me que estamos nestemomento a presenciar um conjunto de alterações,por substituição, do “uni-multipolarismo” que164 Ou, pelo contrário e se se preferir, para lá dacristalização de uma eventual hegemonia unipolar norte-americana, mais ou menos imperial, que alguns dizem estar eminstalação.
323
se seguiu ao “momento unipolar”consubstanciado pela primeira Guerra doGolfo de 1991. Mais do que à vitória querde um pluralismo, quer de um sólidounipolarismo, por outras palavras, queroargumentar que estamos perante pequenos-grandes movimentos de reajustamento de forças nointerior da ordem “uni-multipolar” existente.
O que quero rapidamente aqui abordar,prende-se com um dos patamares, ou uma dascamadas, dessa substituição: com as tensõesa que têm estado sujeitas as forças,complexas e muitas vezes antinómicas165, quesubtendem o processo em curso deglobalização. Forças que, seguindo BenjaminBarber, irei apelidar, respectivamente, Jihade McWorld. Interessar-me-ão, sobretudo,questões relativamente “etéreas” (mas nempor isso menos importantes, bem pelocontrário), questões de natureza discursiva.
Dessas, detenho-me em particular emduas: primeiro, nalgumas das barreirasdiscursivas erigidas, que inviabilizamquaisquer verdadeiros diálogos entre asparte envolvidas de maneira mais directanesta Terceira Grande Guerra, a primeiraverdadeira Guerra Mundial. Em segundolugar, nos antípodas disso, interessar-me-ei também pela emergência, imponente evisível, de um espaço colectivo e “global”de diálogo público internacional sobre165 Forças que, no seguimento daquilo que Benjamin Barber(1996) apelidou Jihad e McWorld, discuti em artigos anteriores,que arrolo na bibliografia do presente artigo.
324
questões políticas que a todos dizemrespeito. Num como noutro caso, serei brevee ater-me-ei tão-só ao nível indicativo:limito-me a ilustrar, a traço grosso,algumas das linhas de força do que refiro.Mantenho sempre em vista a ordeminternacional, que afecta aquilo a que voualudindo e que, por seu turno, é por issoafectada. Concluo com generalidades eperguntas.
2.
Quero, brevemente, começar pordissecar aqui algumas das formasdiscursivas166 utilizadas na contenda, por umlado e por outro, por “nós” e por “eles”.Limitar-me-ei, nestes meus comentários, auns poucos dos discursos oficiais. E ireicomeçar por restringir as minhas alusões eexemplos ao período logo após o 11 deSetembro, para depois por meio de umacomparação com o presente, melhor poder pôrem realce a direcção da evolução das coisasnos últimos anos.
O meu ponto é o seguinte: no períodoimediatamente subsequente ao 11 de Setembrohavia escondido, e medrava na sombra, umsegundo discurso, mais ou menos oculto,166 Não quero deixar aqui de reconhecer o enorme prazer queme deu a releitura, no contexto em que hoje vivemos, doestupendo livro de Edmund Leach (1977) sobre o terrorismo eas representações que sobre os seus agentes construímos.
325
resguardado por debaixo ou por detrás, sese preferir, do discurso oficial de então.Tratava-se de um discurso formado por umoutro conjunto de asserções, encadeadasumas nas outras de maneira muito sui generis.Era uma enunciação oblíqua que contradizia,de forma implícita e indirecta (e por issoporventura mais insidiosa), os termos dasformulações narrativas “politicamentecorrectas” que publicamente eram entãodefendidas. Constituía uma espécie dediscurso paralelo, clandestino e impensado,de que porventura os actores envolvidos nãotinham sequer plena consciência. Umdiscurso que (no caso que irei esmiuçar)deu corpo a um conjunto de representaçõesque uma das partes, a personificada porOsama bin Laden e pelos taliban, de maneiramenos visível, advogava (como de resto lheconvinha e decerto continua a convir):representações de acordo com as quaisestaria e está, de facto, em curso um Clashentre “o Ocidente” e “o Islão”. O curioso é que se tratou de umconjunto de representações que, pública eostensivamente, a outra parte,personificada pelo Presidente George W.Bush, enfaticamente repudiava: essa mesmaideia, a que antes aludi, de que estaria aocorrer uma guerra cultural. A esse nível“subterrâneo”, por assim dizer, dessediscurso paralelo, ambas as partespareceram concordar quanto ao retrato que
326
fizeram da situação: estaríamos,efectivamente, perante um conflitocivilizacional que o ataque perpetrado emManhattan se teria limitado a tornarevidente. Gostaria de ser explícito e darum exemplo concreto. Quero argumentar quehá representações implícitas de“alteridade”, semelhantes entre si, emmuitos dos discursos entretidos peloslíderes políticos nos media quanto àsituação em curso. Um ponto ao qual voudedicar alguns minutos, no que se seguedesta comunicação. Uma rápida salvaguarda:como é evidente, não pretendo sugerir umaqualquer comparação entre George W. Bush, oPresidente eleito de um país democráticoaliado, e Osama bin Laden, o líderautoproclamado de um agrupamento terroristabrutal. Sem sombra de “equivalênciasmorais” (um exercício que tanto ética comopoliticamente me agradaria pouco) limito-mea comparar algumas das asserçõesrelacionais de Bush com as de bin Laden. De uma forma muito rápida esucinta, quereria enunciar duas séries,enumerar dois conjuntos de declarações, quetodos lemos e ouvimos dia-a-dia, asserçõesprofusamente repetidas nos jornais e nastelevisões167. Oiçamos primeiro o que, nessa167 Dada a utilização profusa que destas frases e imagens élevada a cabo, e já que não tenho informação quanto aocontexto exacto e pormenorizado da sua primeira utilização(nem em todo o caso me parecer ser esse um dado relevante),
327
época de que infelizmente todos decerto noslembramos bem, dizia o porta-voz dasvítimas, o Presidente George W. Bush: osmembros do al-Qaeda, são “evil-doers, enemies ofall civilization”, ver-se-ão “smoked out of their holesand caves”, juntos e com persistência epaciência conseguiremos “get them running”, eserão inexoravelmente “hunted down”. Era difícil ser-se mais claro.Isolar imagens-chave deste tipo,circunscrever aquelas que formam o que é,sem sombra de dúvida, o núcleo duro destetipo de discurso, torna-o, creio eu, maistransparente: sem embargo do facto de quemuitos dos esconderijos eram de facto emcavernas, o que estava a ser levado a cabonestas asserções era uma primitivização euma quasi-animalização performativa doadversário, dois temas típicos dasrepresentações do Outro tradicionais emagrupamentos modernos e desenvolvidos168, ouque como tal se consideram. Note-se que a relação, que nestediscurso é postulada como a apropriada,
não ofereço aqui quaisquer detalhes quanto aos contextosprecisos de enunciação destas representações. Foram todas, noentanto, ouvidas em prime time e tiveram por isso seguramentevários biliões de pessoas como “receptores”.168 Processo, aliás, a que o Presidente Bush parece muitíssimoatreito, já que desde então os tem repetido em profusão. Enão apenas como peça de oratória política estilística einócua: também os prisioneiros taliban em Guantánamo seriam umaespécie de “animais”, não se encontrando, por isso,protegidos pelo Direito Internacional e tendo caído,designadamente, fora da alçada da Terceira Convenção deGenebra.
328
entre “nós” e “eles” é a configurada comouma relação hierárquica entre um caçador e uma presa.E emerge como uma representação que édecalcada sobre o modelo abstracto de (ouque em todo o caso estipula como seuparadigma idealizado) uma relação de predação.As alusões tácitas são muito nítidas einequívocas, julgo eu, para a maioria dosouvintes e para o grosso das audiênciasdestes discursos. Ouçamos agora aquilo querepetidamente afirmou Osama bin Laden169, oporta-voz dos agressores: os norte-americanos são “egotistical”, são “arrogant and evilunbelievers”, no fundo dão corpo ao great Satancontra o qual há que lutar. Temos quecombatê-los, insistiu o chefe da al Qaeda,porque “the world is divided into two sides”: enomeou-os, a esses dois lados: “the side ofbelievers and the side of infidels, may God protect youfrom them”. E concluía, com algum fatalismo:“the winds of faith have come”. Se olharmos, por um segundo, paraas imagens-chave e para o núcleo duro queem termos semânticos elas constroem,verificamos que também este discurso, em169 As citações das asserções de bin Laden que aqui utilizosão traduções para a língua inglesa de originais em árabe.Não conheço as suas intervenções nessa língua, e não asentenderia caso as conhecesse. Não deixa de ser óbvio que setratou de transposições de um universo semântico para umoutro muito diferente, um tipo de processo em que muitíssimainformação é sempre (e mais ou menos subtilmente) alterada ealguma pura e simplesmente perdida. Nestes exemplos, porém,essa parece-me ser uma questão marginal e pouco consequente.
329
todo o caso mais explícito do que o de Bush(ainda que seja metafórico de maneira maiscomplexa) se torna relativamentetransparente: o que estava a ser produzidoé um conglomerado de flashes e representações doOutro enquanto uma espécie de entidade espiritualmaligna. Note-se, uma vez mais, que arelação que, desta feita é neste discursopostulada como a apropriada entre “nós” e“eles”, se configura como uma relação decombate sem tréguas; como contendaempreendida com vista à liquidação, aoextermínio, de um adversário que connoscoentretém uma relação hierárquica também depredação, mas em que “nós” somos as eventuais presas.Mais uma vez a mensagem era muitíssimoclara: tratou-se de uma demonizaçãominuciosa, por sua vez típica deagrupamentos místico-religiososmarcadamente exclusionários que seconsiderem detentores, proprietários pordireito inerente, ou representantes, de umaverdade encarada enquanto modalidade de“correcção político-cosmológica”. Podemos neste ponto, creio eu,ensaiar um rápido e fácil balanço dasmensagens então (há já quase dois anos)expressas a este nível implícito decomunicação. Em termos mais genéricos,quereria sublinhar que o primeiro conjuntode asserções, as de George W. Bush, sub-humanizavam o adversário; as segundas, as de
330
bin Laden, desumanizavam-no. Estamos peranteconstruções-alusões simbólicas semelhantesmas não idênticas, parecidas masdiferentes170.
Antes de passar a um outro ponto, valedecerto a pena levar a cabo um rápido“updating”, um “refresh”, ou um “actualizar”,por assim dizer, daquilo que acabei decartografar a traço grosso. Desde o 11 deSetembro até agora este tipo de discurso adois níveis tem-se mantido. Do lado deGeorge W. Bush, e embora o Presidentenorte-americano faça também uso de muitasoutras categorizações, têm sido constantes(e largamente comentadas) as alusões ereferências bíblicas171, e a utilização(muitas vezes com alguma gaucherie) deexpressões como a de “cruzada”, “missão”,ou “eixo do Mal”. A “final struggle between Goodand Evil” redundaria numa “infinite justice” (o
170 Para formas alternativas (ou melhor, complementares, pelomenos do ponto de vista funcional) ver os exemplos dados porEdmund Leach (1977, op. cit.), a respeito dos dispositivosdiscursivos de construção-elaboração de representaçõesdesumanizantes dos adversários, designadamente retratoscircunscritos por ocidentais de adversários terroristas. Arecorrência deste tipo de temas indicia estarmos perante umprocesso de construção de imagens de alteridade violenta e a-normativa que é de longa duração. Não tenho conhecimento dequaisquer estudos quanto à construção de uma imagética árabo-semítica que seja estrutural e funcionalmente equivalente;não tenho porém dúvidas sobre a sua existência e permanência.171 Muitos analistas têm vindo a reparar nisto. Ater-me-ei aum só exemplo. Para uma curta e iluminada série decomentários recentes sobre este tipo de escolhas discursivas,ver o curtíssimo artigo do cientista político espanhol F.Vallespín (2003).
331
nome de início proposto para a intervençãolevada a cabo no Afeganistão). Para um Bushcristão revivalista renascido, os EstadosUnidos, como “God’s own country”, estarãoidealmente posicionados para a dispensar.Os suspeitos do al-Qaeda presos emGuantánamo não estariam sob a alçada daTerceira Convenção de Genebra, não só pornão se tratar de soldados ou mercenários,mas por serem “animais”.
Do lado de bin Laden e, numa curiosacolagem discursiva, na oratória recente dolaico Saddam Hussein, mutatis mutandis, apermanência dessa duplicidade discursivaparece ser uma regra imutável do jogo. AAmérica seria o “grande Satã”, as forçasnorte-americanas “demoníacas”, mas a“intervenção divina” significará umavitória final inevitável. Com uma religiãotão avessa a antropormorfizações eespiritismos como a muçulmana, adiversidade destes modos de expressãodepressa se torna escassa. Mas resta sempreo recurso a imagens e metáforas histórico-cosmológicas cuja alusividade simbólica (e,portanto, cuja força ilocucionária) éenorme: “com a ajuda de Deus”, “os crentes”tratarão de “levantar as suas espadas”contra “os infiéis não-crentes” e as “mãeschorarão os filhos que irão ser esfoladosvivos e dados de comer aos animais dodeserto”. Como Saddam afirmou na suacomunicação televisiva ao Mundo a 24 de
332
Março último (há uma semana), “com a ajudade Deus todo-poderoso” e animados pelo“espírito do jihad” iremos “causar enormesofrimento” às “forças maléficas” que estãono Iraque. Talvez possamos agora puxar o fioà meada a esta última questão que acabei deaflorar. Vivemos num mundo de informação. Opoder soft das palavras, das moldurasideacionais, das conceptualizações que unsaos outros comunicamos, não são desubestimar. São forças eficazes. São formasde poder: de um poder cuja alçada é hojeglobal172. Ainda que isto seja trivial eóbvio, não será talvez despiciendoequacioná-lo rápida e indicativamente.Mesmo quando não manipuladas em contextospropagandísticos, ou quando são meros errostácticos e deslizes (como é manifestamenteo caso nos exemplos que dei relativos àsinvectivas de George W. Bush, que meparecem fazer o jogo do agressor) trata-sede ideias que delimitam os “quadros” em quepensamos, julgamos, avaliamos, tomamosdecisões. São representações que, mesmo as172 O que, como é evidente, se aplica tanto à acçãocomunicacional e aos discursos mantidos nos palcosinternacionais como a quaisquer outros domínios sociais deutilização da linguagem. Para uma visão pormenorizada, aindaque de certa maneira incipiente, daquilo que chamou soft power,ver o excelente artigo de Joseph S. Nye (1992), numa boatradução portuguesa de um capítulo de um livro que estecientista político publicou em 1990 sobre as mudanças, entãosensíveis, no poder político exercido pelos norte-americanosno Mundo. O tópico tem sido retomado por Nye em todas as suaspublicações posteriores.
333
implícitas (porventura sobretudo asimplícitas), formatam o que vemos. E aquiloque nos está a ser dado, o que nos está aser comunicado ou inculcado nos discursosde ambos os lados, nas formas discursivas enarrativas neles subjacentes, oblíquas eclandestinas, utilizadas para repetir asmetáforas a que atrás recorri, é talvezpior do que a imagem reificada de um Choquede Civilizações à la Huntington. E é, sobretudo, totalmentecontrário ao modelo idealizado de umqualquer diálogo pluralista de culturas, jáque delineia, a traço forte, uma visão radical eirredutivelmente polarizada do Outro, como um Outroque estamos condenados a confrontar e adefrontar. Vale decerto a pena insistir umpouco neste ponto. Tanto desumanizaçõescomo sub-humanizações estão para além deserem construções nocionais insultuosas.São operações que erigem e propagam umacaracterização factualmente incorrecta, quesomos infelizmente por vezes tentados afabricar, sobre aqueles nossosinterlocutores cujos comportamentos eatitudes nos parecem grosseiramentedescabidos e intratavelmente anómalos.Redundam em gestos de recusa. Ou seja,visam desqualificar, de maneira veemente ede forma irreversível, as pessoas que denós se distinguem de maneiras que, por umaou outra razão, consideramos radical eterminantemente inaceitáveis: e fazemo-lo
334
naturalizando as diferenças que, postula-se, delas nos separam173. O que é claramente o caso nestesdois exemplos que dei. E o que não deixoude ter um preço, ético e político. Mas,aqui, também um preço estratégico. Porque piorque o simples facto de se tratar deagressões verbais e de representaçõesempiricamente erradas, o acto de remeter osoutros para o domínio genérico do “não-humano” condena-nos a nunca os podermos vira compreender. O que é grave: torna-osseres e agentes opacos, quando muitas vezesé para nós uma questão de vida ou morte oentendê-los, ainda que seja para assimmelhor os combater174.173 Ambiguidades e incongruências representacionais deste tipoparecem-me, para usar uma frase feita hoje muito em voga,formar parte do problema com que temos de lidar e não parteda sua solução. A um nível mais alto de generalidade é claroporquê. São ruídos que não contribuem em nada para o urgenteesbater de diferenças e a sua tolerância. Servem, menosainda, como quadros conjunturais capazes de promover umqualquer diálogo. E curiosamente, pelo menos num dos casos (odos discursos da Administração norte-americana), estaestranha ambivalência (melhor, esta duplicidade discursiva)que tentei trazer à luz parece-me insidiosamente terconstituído (e continuar a fazê-lo) uma parcela (decertoindesejada) do jogo do agressor.174 É, aliás, apenas neste quadro que podemos entender acuriosa ausência de uma qualquer reivindicação num tipo deataque, como o do 11 de Setembro, em que por via de regra asorganizações terroristas fazem questão de gritar bem alto asua autoria do feito, para com isso ganhar dividendos emtermos de propaganda e recrutamento: depois da manhã do 11 deSetembro, o silêncio gritou-nos que devíamos ter medo, porqueo inimigo era invisível e porque recusava qualquer tipo deinterlocução connosco. Como escreveu Thomas Risse (2000: 15),num contexto mais abstracto relativo ao problema de agency-
335
3.
Contrasta, ou pelo menos contrastaaparentemente, com esta irredutibilidadediscursiva a suposta emergência (por quemuitos anseiam e aplaudem) de um novoespaço de diálogo nos palcosinternacionais: o que pelo menos um autorchamou “o desenvolvimento de um novo forumpúblico a nível global relativo a questõesde governação global”175. Será esse o caso?Estaremos de facto perante movimentos nadirecção oposta ao da irredutibilidade aque acabei de aludir? Movimentoscentrípetos e não centrífugos? McWorld emvez de Jihad?
Vale a pena equacionar a versão maishard e bem fundamentada das que conheço queadvogam estar tal tipo de processo em
struture na teoria das relações internacionais, “meaningulcommunicaton require that actors see at least some room for cooperation withtheir interaction partners and, thus, wish to overcome a world of sheer hostility”.O que claramente parece não ser o caso no exemplo queforneci.
175 A expressão [tradução minha] é de Joan Subirats (2003), umprofessor catalão de Ciência Política na Universidade deBarcelona, num artigo de opinião publicado no El País. EmPortugal, Adriano Moreira tem sido arauto de uma perspectivapelo menos aparente e superficialmente semelhante, umaperspectiva que toma a “opinião pública internacional” comoum “novo actor”, que se terá “começado por afirmar no caso deTimor” e com o qual “se tem doravante de contar”.
336
curso. Trata-se de uma leitura em grandeparte habermasiana. As suas alegações sãosimples. O que os debates que surgiram emtodo o Mundo depois do 11 de Setembroindiciam é a cristalização de um espaçocomunicacional partilhado a nívelplanetário. Os debates veementes pró- econtra a recente invasão do Iraque, diz-se,vieram tornar essa evidência incontornável.Numa versão menos partisanne desta hipótese,não estão em causa quaisquer coloraçõespolítico-ideológicas para esse espaço emformação acelerada: o que é de realçar é aenorme amplificação a que, nos fora deopinião, se têm visto sujeitos. As inúmerasCimeiras e “cimeiras alternativas” dosúltimos anos foram só um aperitivo; agora afigura do “público internacional” foi posta em marcha.
Para os proponentes deste tipo dediscurso, já não era sem tempo. Osprocessos de globalização, queixam-se, sãogravemente “deficitários” em termos decontrolo institucional. Ao que acresceráuma notória “falta de regulamentação” que,alegam, torna a ordem internacional melhorconcebível como um tipo de desordem. De nadaserve, porém, que disso não gostemos ouque, pelo contrário, o possamos aprovar comconvicção: na ausência de dispositivosinstitucionais e de modelos ideais sobreaquilo que queremos, estamos condenados auma mera contemplação passiva dastransformações globais que vão acontecendo.
337
A política tradicional, atida aos Estados,não consegue já dar conta das novasrealidades globais. Não tem para ela nempara eles conceitos que nos permitemdecidir sobre a sua eventual desejabilidadeou indesejabilidade. Há por isso que asubstituir. Mas não sabemos como176.
Segundo Habermas, numa interpretaçãofamosa, a opinião pública burguesa ter-se-áformado, no século XVIII britânico ecentro-europeu, em jornais, “clubes”,cafés, salões de chá e associaçõesliterárias, culturais e recreativasvariadas. A sua sedimentação foi lenta eprogressiva, por camadas e restrita aapenas alguns. A opinião pública
176 Foi a pensar em conjunturas semelhantes que JürgenHabermas (1989, original de 1962, e 1996) desenvolveu a suateorização da “acção comunicacional”: as relativas à ascensãoda “burguesia” na Europa central de finais do século XVIII, eaquela em que, nos anos 60 e 70 do século XX, emergiu umaopinião popular consensual a reagir contra os regimescomunistas de Leste. Habermas famosamente argumentou que oprocesso veio à tona em termos de uma cada vez maiordisjunção entre os lifeworld (Lebenswelt) em que viviam epensavam as pessoas e os domínios dos poderes instituídos, osdomínios dos Estados. Baseados em princípios de“igualitarismo” e “persuação”, estes lifeworlds subjectivoscontrastariam profundamente com a natureza hierárquica ecoerciva do poder. Para Habermas, sociedades civis seriam aexpressão institucional dos lifeworlds privados em que vivem einteragem os actores sociais, uma vez que estes começam apartilhá-los, e portanto eles se tornam públicos. Seriam asmais verdadeiras expressões dos demos. E estas sociedadescivis, estes demos, iriam, no essencial, sendo produzidospelos “diálogos” entre aqueles actores sociais mais motivadose activos que, em “espaços públicos” comuns, começam aencontrar referenciais comunicacionais partilhados.
338
internacional estaria hoje em dia a serformatada, de uma maneira muitíssimo maisrápida e socialmente generalizada, pelosjornais, pela televisão e pela Internet.
De acordo com esta narrativa, o seutrajecto é conhecido. Depois de uma longapré-história, teve um dos seus primeirosgrandes arranques com a música rock, quedepressa deu a volta ao Mundo. Passou pormovimentos cívicos de contestação em finaisdos anos 60 (tanto na Europa como nosEstados Unidos) e cristalizou com asimagens da Queda do Muro de Berlim e daderrocada das ditaduras da Europa de Leste,vistas, sentidas e aplaudidas em toda aparte e em tempo real.
Com a invasão do Kuwait pelo Iraque em1990 e com a Primeira Guerra do Golfo em1991, descobriu-se, via CNN. A MTV e osseus clones depressa vieram substituir amúsica rock da geração anterior. O fim daordem bipolar acelerou-lhe efectivamente opasso. Uma opinião pública internacionalcada vez mais coesa e intricada (e tambémcada vez mais compósita) foi-se coagulandocom o Massacre de Santa Cruz em Timor, coma Bósnia-Herzegovina, em reacção àsbrutalidades sérvias no Kosovo, e em Timor-Leste.
O 11 de Setembro foi vivido como ummomento verdadeiramente global: “we are allAmerican”, “nous sommes tous des Américains” foi a
339
frase que correu o planeta177. Cimeiras comoas de Davos, Durban e as dos G-7, eCimeiras Paralelas como as de Campo Alegre,manifestações em Seattle, Quebec City,Goteburgo, Praga e Florença foramcatalizadores. Agora, com a Segunda Guerrado Golfo, os palcos instalados dos novosespaços públicos de opinião global sãovisíveis um pouco por toda a parte.Estaremos perante uma espécie de partodefinitivo de uma demos global que desde háalguns anos estaria em gestação. Ou pelomenos estaremos face ao seu crescimentodesenfreado: o espaço público crescediariamente a olhos vistos.
Note-se de momento que este modelo pormuitos defendido (e quanto ao qual mantenhoalgumas dúvidas de pormenor, e apenas depormenor, que aliás irei suscitar) nãoexige que tenha de haver quaisquerconcordâncias naquilo que vai coalescendona nova esfera pública. O que importa é quese comecem a verificar debates globais.Haverá seguramente posições alternativasquanto a temas semelhantes e até variaçõessobre esses temas. O que conta, porém, éque comece a surgir um sujeito colectivocujas discussões e decisões se vãosedimentando a um nível cada vez maisuniversal.177 Num eco intertextual claro com o “Ich bin ein Berliner” de JohnF: Kennedy. A frase terá tido início nos títulos garrafais daprimeira página do jornal francês Le Monde “nous sommes tousAméricains”. Uma empatia, neste último caso, passageira.
340
É claro que é fundamental que se váconstituindo um corpus comum, um “léxico”,um repertório, e uma “sintaxe”, um nexo,largamente partilhados. Sem essesreferenciais comuns não há interlocuçõesnem diálogos. Mas, insisto, não tem dehaver nenhuma coincidência de pontos devista; nem, aliás, convém que haja, sobpena de nos repetirmos ad nauseum sem nuncaconversar. O que conta, insisto, é aemergência de uma esfera pública, de umefeito de diálogo, de um espaçocomunicacional partilhado. Numa versão maismaximalista, é útil, para a abertura desseespaço ter eficácia, que aquilo que contesejam opiniões, sem que nem a legitimidadedos interlocutores que se revelem sereventuais opositores seja posta em dúvida.Aquilo que há a apurar e assegurar é oestabelecimento de regras consensuais de“racionalidade argumentativa”178.
178 Note-se que a opinião pública (nacional ou internacional)de maneira nenhuma opera apenas como forma de soft power. Issodistingue-a claramente dos discursos de sub-humanização deque antes falei e que, esses sim, se restringem largamente atal domínio. Pelo contrário, a opinião pública afectadirectamente os sistemas políticos, designadamente osdemocráticos. Para além de ir consolidando um demos, umaeventual sociedade civil internacional, a opinião públicaactiva as coisas por intermédio de correias de transmissãomais directas e mais imediatamente eficazes: através demanifestações, interpelações, referendos e, em últimainstância, o sufrágio eleitoral. Apelando a formas departicipação e acção política, actua no interior mesmo dosistema político.
341
O argumento dos que defendem queassistimos hoje em dia à cristalização deuma opinião pública internacional, de umaou de outra maneira presume ser esse ocaso. Ou seja, supõe-se (melhor, afirma-se)que novos referenciais comuns e múltiplosdiálogos estão a ser estabelecidos, o queamplia o campo da luta política, alargandonão só o rol dos que nela participam, masainda redesenhando os domínios em que essacontenda tem lugar. E insistem: asbatalhas, todas elas, travam-se também,doravante, noutras arenas: as de umaopinião pública internacional agora sempreatenta.
Se esse for o caso, estaremos peranteum movimento e uma pressão sistémica quepuxam (ou empurram) numa direcção oposta aoda irredutibilidade comunicacional a quealudi na primeira parte desta comunicação.Uma pressão centrípeta, de par com acentrífuga. Será assim? E, se a respostafor sim, o que é que podemos daí concluir?
4.
Quero prosseguir ampliandoimagens de modo a circunscrever um quadroem que caibam as minhas parcelas. Paracomeçar com uma asserção categórica prévia:não acredito que esteja em curso no Mundo oque num qualquer sentido útil possamos
342
apelidar de um Clash of Civilizations. Não me éárduo especificar em termos genéricos asrazões do meu cepticismo. Tive aoportunidade de em pormenor o fundamentar,em dois artigos que publiquei no último parde anos179, e não quereria ter de o repetirno fecho desta Conferência.
Um bom resumo da célebre tese de SamuelHuntington é de que se trata de uma teoriageral do alinhamento político dos Estadoscontemporâneos baseada numa supostaidentificação cultural (ou“civilizacional”) entre eles. Numa frase:não me parece que os alinhamentos a quetemos assistido desde o fim dabipolarização correspondam ao que amodelização huntingtoniana prevê180. Não queristo todavia dizer que não convenha, amuitos, retratar em tais termos aquilo queestá a acontecer no Mundo. Não tenhoquaisquer dúvidas de que seja esse o caso.O que creio é que rotular aquilo que sepassou desde o 11 de Setembro do já
179 Para uma discussão detalhada das minhas concordâncias ediscordâncias quanto ao modelo de Samuel Huntington sobre oClash of Civilizations, ver a leitura que fiz em Armando MarquesGuedes (1999) e em Armando Marques Guedes (2000), ambostextos de comunicações que nesses anos apresentei noInstituto de Altos Estudos Militares, e nos dois casos peloInstituto publicados.180 Nem, aliás, creio que a nova ordem internacional emergenteseja integralmente descritível em termos dos alinhamentos dosEstados que dela fazem parte. Um ponto que discuti no segundodos artigos que sobre o “paradigma civilizacional” de S.Huntington publiquei, e que aqui retoma de outra perspectiva,diferente mas complementar.
343
distante 2001 e a reacção em curso como um“Choque de Civilizações” é (tem sido) umpoderosíssimo utensílio propagandístico,uma espécie interessante de arma políticade arremesso, manuseada e utilizada por umadas facções em refrega, interessada emmobilizar apoios externos. Uma arma que aoutra facção tem naturalmente feito questãode neutralizar, de desmontar, dedesconstruir, visto não lhe convir que oadversário generalize o conflito.
Por razões óbvias, nunca como nestemomento foi tão imperativo opormo-nos aomodelo-paradigma do Clash e este parece-meum contexto tão bom como qualquer outropara o asseverar181. O Mundo, e nele a ordeminternacional, vivem hoje momentoscomplicados. Repensar uma arquitectura jánão é trabalho fácil. Fazê-lo sem projectoà vista, sem garantias da adequação dodesenho àquilo que queremos representar,
181 O que não quer naturalmente dizer que muitos não construama sua visão do Mundo como um todo constituído, precisamente,por esse tipo de entidades. Talvez os dois exemploshistóricos mais claros disso sejam o “Ocidente” e o “Islão”(tal como, aliás, a “China”), agrupamentos que se imaginamcomo unos e coesos, e que muitas vezes se entredefinemmutuamente. “Comunidades imaginadas” como estas emergemmuitas vezes como forças activas nos palcos políticos. O queme parece é que estas noções são (pelo menos por enquanto)pouco mais do que construções místico-religiosasexclusivistas idealizadas, por via de regra com pouco“eficácia” directa no mundo concreto. Alguns são os quetentam dar mais corpo a tais comunidades, sobretudo nestaépoca de globalização. É o que julgo ser o que se passa com ochamado “fundamentalismo islâmico” e, em específico, comOsama bin Laden.
344
sem critérios estéticos consensuais, e semque a tarefa tenha sequer sido adjudicada àmelhor proposta, não é coisa quetranquilize seja quem for. Uma política depequenos passos, de reajustes avulsos, sófaz sentido no quadro de uma agendaprecisa, que neste caso, efectivamente, nãoexiste. Ninguém sabe, em boa verdade, ondetudo isto irá parar.
Raramente tal foi tão estrondosamenteevidente como desde os dramáticosacontecimentos de 11 de Setembro de 2001 enas reviravoltas que se lhe têm seguido. Apartir de então, tudo se tem vindo aprecipitar em catadupa. A invasão do Iraquepor uma coligação militar, liderada pelosEstados Unidos, mas sem o aval de umConselho de Segurança que não soubeencontrar a unidade necessária para dar umseguimento conclusivo (seja numa sejanoutra direcção) a dezassete Resoluções queanteriormente sobre a questão tomara, foi oúltimo acontecimento numa série que incluiuma fractura visível no seio de uma UniãoEuropeia que até aqui aparentementeconcordara com discordar em surdina (umagentileza que se perdeu) e, o que é detalvez pior agoiro, uma clivagem, na mesmalinha de fraqueza estrutural, no interiorde uma NATO que acabara de entrar na meia-idade com um alargamento de tamanho ealçada que lhe (e nos) augurava um futurorisonho. Temos o privilégio dúbio de viver
345
um momento-charneira, com toda adesorientação que isso implica. A impressãoque por vezes tenho é a de que estamostodos na situação incómoda de ter deconviver numa casa comum planetária cheiade minas, armadilhas e bombas-relógio. Nadade muito agradável.
Depois deste rápido excurso prévio pelo“ecossistema”, gostaria, em guisa de etapasuplementar, de puxar alguns dos fios dameada. Com alguma frieza retrospectiva,talvez não seja demasiado arriscadoformular hipóteses plausíveis relativamenteàs consequências, convergentes, de uma “waragainst terrorism” como aquela em que hoje emdia vivemos, e da reordenação das relaçõesgerais de poder no Mundo que asuperpotência remanescente, dolorosamenteferida, entende ser seu dever (interna comoexternamente) assegurar.
Uma destas linhas de força, porventuraa mais interessante e a mais convincente detodas, é aquela que acabei de referir: dizrespeito ao crescimento de uma opiniãopública internacional (uma curiosacoligação de forças que se tem manifestadoem frentes variadas, que vão da imprensaescrita às televisões, da CNN ao al-Jaziraà Internet); uma entidade que, alega-se,tem vindo a assentar arraiais nos novosespaços públicos disponibilizados pelosprocessos imparáveis da globalização. Umaopinião pública partilhada essa, note-se
346
mais uma vez, que contrastaria de maneiraradical com a recusa liminar de comunicaçãoentre vários Estados e entre alguns destese os agrupamentos terroristas.
A constituição desse movimento deopinião, a abertura desse espaço e asformas de participação política a que eletem dado azo, têm vindo a ser encaradascomo um processo de sedimentação aceleradade uma autêntica “sociedade civilinternacional” enquanto, argumenta-se, umnovo actor (e um de peso) nos palcosglobais182. Um actor, assevera esta narrativarepublicana e cosmopolita de formatriunfal, que mais tarde ou mais cedo irámudar o Mundo. Estaremos perante uma forçade McWorldização, que contraria o Jihadismodas outras expressões que abordei, essasconstitutivas de um novo tipo de exclusão,que operaria pela construção de umaalteridade radical e intransponível do“Outro” tradicional? Parece-me ser este oenquadramento mais fértil para equacionar aquestão que enunciei: se esse for caso,poder-se-á tentar assegurar que estas duaspressões, uma centrífuga e a outracentrípeta, se contrabalancem?183
182 Para uma discussão recente sobre questões afins destas,ver Alejandro Colás (2002), que não só insiste na presença deuma “sociedade civil internacional” (de que faz uma definiçãosui generis), mas que a considera como genética de toda a ordeminternacional pós-Westphaliana.183 Uma resposta possível é a de que talvez não. É admissívelque uma delas leve a melhor sobre a outra e que a oscilaçãoque parece estar em curso mostre ser apenas uma mera
347
A questão da opinião pública pode serencarada como um exemplo paradigmáticodisso. Talvez mais do que qualquer outracoisa, tem sido ela, ao oscilar, que nostem induzido a ideia de que vivemos numasituação de um tipo particular deequilíbrio, que pode ser instável mas que éregular: uma espécie de oscilação em redorde um centro virtual, localizado alguresentre um cosmopolitismo mais abrangente eum paroquialismo mais marginalizador, entreinclusividade e exclusão. Encontrar nestecaso esse ponto estável de equilíbrio não étarefa fácil. Requer um esforço que podemosmelhor empreender seguindo, também nós, umapolítica de pequenos passos. Passostraçados a compasso e esquadria.
Em primeiro lugar, há que lograr pôr emevidência tanto as forças como as fraquezasdessa nova torrente de opinião, e sobretudoas principais características de fundo, dascoordenadas do espaço público criado e emabertura, e da reputada “sociedade civilinternacional”, ou “comunidade cívica
aparência. Tenho em todo o caso a convicção de que existe umponto de equilíbrio estável entre, por um lado, a sub-humanização liminar, como dispositivo de exclusãointransponível e radical dos outros (com o consequente espaçoa-normativo que ela produz) e, por outro lado, a igualmenteexcessiva e decerto também descabida (ou pelo menosprematura) unanimidade homogeneizante de posturas éticas epolíticas que se querem universalmente partilhadas. Entre umextremo e outro ou, como gostam de dizer os anglo-saxónicos,“between a rock and a hard place”, há a meu ver que tentar traçaruma mediana menos insensata, mais credível e com mais péspara andar.
348
global”, que sociologicamente ossustentaria a todos. Fazê-lo implicaesmiuçar primeiro, e depois tipificar, osmovimentos políticos a que essas fraquezase forças dão corpo, e as modalidades departicipação e de acção política que taismovimentações consubstanciam. Só assim sepode aventar hipóteses minimamentefundamentadas quanto à sua coesão eestabilidade e, por isso, quanto àpermanência que podem esperar ter, quantoàs suas probabilidades de perdurar184. Comosó deste modo podemos fundamentar asperspectivas que temos quanto à suarepresentatividade democrática. A essesníveis, como irei tentar demonstrar, aquiloque hoje se configura não é demasiado
184 Os dados recentes não dão grande base de sustentação aalegações de que estaríamos perante movimentos de uma opiniãoque seria expressão de uma sociedade civil internacional e doseu espaço de opinião. Um atributo (ou propriedade se sepreferir) da opinião pública internacional de que se temvindo a falar, é a sua esboroabilidade. Veja-se a reacção, aonível desta opinião internacional, da aparente desaceleraçãona progressão da campanha da coligação no Iraque, o impactodas imagens dos prisioneiros norte-americanos capturados, orecuo perante o arrolamento de baixas militares aliadas ecivis iraquianas. Segundo as sondagens levadas a cabo emdiversos países, deu-se de imediato um refluxo sensível no jáexíguo apoio à guerra. Foi no entanto uma questão apenassuperficial: houve, de facto, uma mudança súbita eperceptível nas percepções quanto ao andar da invasão; masfoi uma alteração que não alterou de maneira significativanem o apoio nem a oposição à acção liderada pelos norte-americanos. Não levou, fosse onde fosse, a quaisquerrealinhamentos. Foi eficaz, ma non troppo. As viragens, ao quetudo indica, tocaram pouco de estrutural e nada depermanente.
349
animador, mesmo para os observadores maisgenerosos e cosmopolitas.
Para o entrever, uma módica dose derealismo leva-nos longe. Basta focar osprocessos de gestação dessa nova suposta“torrente cívica”. Um bom ponto de partidasão, senão os seus lugares de gestação, emtodo o caso as bases de sustentação em quese apoiam. Ponhamos os pés no chão: importasaber dar o devido realce à capacidade dosEstados e de várias outras entidades,instituições transnacionalmenteorganizadas, mas não necessariamenterepresentativas, em constranger e regular(e portanto em fazer inflectir em direcçõesque lhes convenham) esses tais movimentos“espontâneos” de opinião. Importa em todo ocaso não exagerar, não quer isto dizer, noentanto, que não esteja em fermentação umgerme de opinião pública global. Trata-sede uma opinião atida às elites e dessassobretudo às dos Estados ocidentais, semdúvida, mas é uma entidade que estáefectivamente a medrar; que o está e quetem vindo a ser reconhecida enquanto tal.
Num certo plano, é por isso decerto bemverdade que um dos ingredientes da novaordem internacional em gestação éprecisamente uma opinião públicainternacional que se vai, ainda quelentamente e aos solavancos, cristalizandoa olhos vistos. Mas (sem quaisquerjulgamentos quanto ao conteúdo que ela
350
teria tido, e que poderia ter sidosemelhante) não foi efectivamente essa atorrente de opinião aquela que realmente semanifestou185. Ou pelo menos, fê-lo de umaforma muito influenciada por manipulaçõespolíticas instrumentais externas,provenientes de entidades dotadas deagendas próprias aplicadas de maneirasustida e coerente.
Um mínimo de atenção e o exercício deum esforço módico de destrinça revela-o.Atentemos ao lugar de origem das posturasassumidas nas movimentações a queassistimos nos media. Comecemos pelaintervenção de entidades estatais nodecurso da chamada “crise do Iraque”. Opapel enfaticamente pró-activo do Estado185 O que, como irei argumentar, no mundo real e por detrásdos simulacros, acarretou consequências. Para avançar jáconcretamente o sentido de algumas delas: face àinterdependência complexa em que se vêem envolvidos e perantea publicitação a que a sua actuação política se vê hoje emdia sujeita, nem os Estados Unidos nem a França ou a Rússia(para só aludir a três exemplos) assumiram, de maneirafrontal, os reais motivos que os animaram. Tal como os nãoassumiram os variados “movimentos civis” transnacionais.Todos utilizaram formas de soft power. Na ausência derepresentatividade democrática legitimamente conquistada,refugiaram-se na obliquidade, por via de regra recorrendo adiscursos éticos e a invectivas moralizantes. É curiosa averificação de que, em espaços política e juridicamente“pouco texturados” e pouco coesos, as formas de autoridade epoder que se emergem e instalam se aproximam claramente daslideranças e movimentações “carismáticas e tradicionais” tãotípicas de níveis organizacionais ralos e pouco elaborados esofisticados. Aquilo a que temos assistido no Mundo nosúltimos meses tem redundado num espectáculo de nítidosubdesenvolvimento político dos palcos supra- etransnacionais.
351
francês na criação e formatação de umaopinião pública interna e externa nodecurso da corrente crise iraquiana, nãoaugura aos movimentos de opinião públicamobilizados um grande futuro deindependência e autonomia. Nem, aliás, oauguram o papel também activíssimo e muitoobviamente intervencionista daAdministração norte-americana de Bush (peseembora a menor destreza “diplomática” porela revelada) e o voluntarismo do regimeiraquiano de Saddam ou do britânico deBlair186. Num como nos outros casos, aeficácia destas manipulações foi notável.Ao nível estatal, as interferênciasinstrumentais foram grosseiras: uma infeliz“diplomacia de megafone”187 tem reinadosuprema.
Voltemo-nos agora brevemente para asentidades transnacionais não-estaduais quederam a cara e para o seu papel nessasmovimentações. Comecemos por notar que astomadas de posição pública relativamente à186 As dificuldades com que, antes e depois da guerra, GeorgeBush e Tony Blair depararam face a acusações, muitas vezesbem fundamentadas, de “exagero” e até “falsificação” deinformações, levados a cabo para mobilizar as respectivasopiniões públicas, são disso exemplo paradigmático.187 Como escreveu José Cutileiro (2003), num artigo recente deopinião, a França utilizou uma autêntica “diplomacia demegafone – falando na praça pública, para impressionar opovo, em vez de, à puridade, convencer a outra parte – e, emconsequência, agravando deliberadamente a discordância que sediz querer diminuir”. Uma manipulação instrumental clara do“novo espaço público” por uma entidade estatal comcapacidade, posição estrutural e know-how para o fazer.
352
invasão do Iraque abundaram, provenientespor exemplo da hierarquia da IgrejaCatólica e da larguíssima maioria dasdenominações Protestantes aos partidospolíticos e aos diversos meios decomunicação. Na maior parte das vezes,opondo-se-lhe; umas vezes alegando um rolde motivos, outras vezes outros. Nalgunscasos, apoiando-a, novamente por razõesvariáveis caso a caso. Houve mais. Diversos“movimentos cívicos” se formaram naInternet, também eles fervorosos nas suastomadas de posição. E também estes de umagrande variedade.
Viremo-nos agora para os métodosutilizados. Salvo raríssimas excepções,nenhuma das entidades que interveio tinhaum qualquer mandato democrático; na suaenorme maioria, tratou-se de uma erupção deagrupamentos que, não conseguindo obter voze apoios suficientes através dos meiosdemocráticos legítimos, exploraram aoportunidade mediática para tentar adquirirpoder e ensaiaram exercer influênciapública segundo formatos mais directos deacção política. Outras, designadamentepartidos políticos minoritários, utilizaramas possibilidades criadas para tentar fazeravançar as suas agendas de maneira oblíquae para se destacar marcando publicamentealgumas das diferenças específicas queostentam como traços característicos. Quasetodas pretenderam falar “em nome da
353
esmagadora maioria” dos cidadãos. Nãodeixa, no entanto, de ser evidente que foiconseguida assim uma inusitada coesão deuma “sociedade civil transnacional”emergente.
Que dizer de tudo isto? Começo pornotar que, com efeito, uma opinião públicageograficamente muito dispersa foimobilizável em redor de uma questão (ou deuma série delas). Nesse sentido, opiniõescívicas globais são um novo actor potencialdas causas mundiais. Podemos ir mais longe.É fácil verificar que sejam quais forem asnossas preferências quanto a eventuaisagendas e desfechos, em espaçoscomunicacionais incipientes como os queestão em causa nestes “movimentos de umaopinião pública global em formação”, sócódigos de comunicação restritos e sóreferenciais muito simples (tanto em termosde “léxico” como de “sintaxe”) logram ver-se partilhados e por conseguinte conseguemestabelecer-se188. Essa simplicidade e essas188 Será sem dúvida por isso mesmo que os movimentos e formasde participação que se têm vindo a instalar e que nos têmvindo a recrutar a todos, recorrem a formas organizacionaisque redundam em simplificações drásticas e altamenteformalizadas dos relacionamentos sociais e da interacção doquotidiano: em lugar de manter diálogos segundo códigos decomunicação elaborados, como o fazemos no nosso dia-a-dia,fazem uso de palavras de ordem que encapsulam invectivas que,de um ponto de vista comunicacional (ou seja, “lexical” e“gramaticalmente”), são bastante pobres; os activistas dessesmovimentos gesticulam teatralmente e organizam marchasritualizadas. Mostrando, é certo, presença activa ecoordenação (virtudes “político-militares” que, no contexto,paga dividendos asseverar); mas manifestando também severas
354
restrições viram-se potenciadas pelamultiplicidade de origens, posturas eagendas dos grupos sociais mobilizados.
Os exemplos poderiam facilmente sermultiplicados. No entanto, o meu ponto é oseguinte: já que os vários Estados ediversos agrupamentos político-partidários,grupos económico-financeiros e outrosreligioso-confessionais (para só fazeralusão a dois de muitos casosparadigmáticos possíveis) não sofrem dessetipo de limitações a nível dos códigosutilizáveis, as vantagens comunicacionais quedetêm são enormes. Operam como que porsubsunção. As consequências não se fazemesperar. Com um mínimo de esforço, capturampara a sua esfera os discursos entretidospelos agrupamentos “espontâneos” emformação: modelando-os, convertem-nos.
Não tenho quaisquer dúvidas de queestes processos estão em curso, e que dealgum modo assim se vêem, de formasubreptícia e muito eficaz, minadas aspossibilidades de uma mais rápidacristalização autónoma de autênticos novose pujantes movimentos internacionais deopinião pública189. Mas a hegemonia funcionalrestrições no repertório que têm disponível.189 Ou pelo menos retardada no tempo a sua emergência eeclosão no campo político-democrático legitimado e fortementeempobrecido o potencial conteúdo que poderiam ter. Longe deser dada voz a expressões coerentes de uma visão do mundopartilhada, assistiu-se na maioria dos casos a coligações deoportunidade entre lobbies bem organizados, cada um dos quaisrepresentava interesses estreitos e muitas vezes poucocongruentes com os dos seus parceiros nessas coligações
355
destes dispositivos implica mais do queisso. Diminuem em resultado quaisquerconotações políticas e político-ideológicas190 que neles possamos pretenderreconhecer191. Como decresce, também, a suaeventual capacidade de, por meio de formasde “desobediência civil”, fazer frente aospoderes e interesses instituídos face aosefémeras. Se bem que esse não tenha sempre sido o caso,muitas vezes as posturas políticas assumidas eram morais ebem-intencionadas, mas os mecanismos agressivos de afirmaçãopolítica utilizados denunciavam tanto a ideia que tinham deestar a lutar contra um inimigo e não a favor de agendaspositivas, mas também uma sua melhor caracterização enquantoformações políticas. A questão é particularmente gravosa emcontextos de interdependências globais crescentes como osactuais, para os quais se torna urgente assegurar alguma“sindicância” democrática que encaminha uma sua maior emelhor regulamentação.190 É verdade que, um pouco por todo o Mundo, a Esquerda“clássica” tem-se arrogado proprietária desses espaços comosendo seus, reivindicando por exemplo uma hegemonia nodelinear da arquitectura política que os subtende, e alegandotambém serem sobretudo parcelas das suas próprias agendas asopiniões que se fazem ouvir. Noto que, historicamente, tambéma Direita “clássica” o fez (e o faz, ainda, designadamentenos Estados Unidos onde esta corrente política parece estarde vento em popa). Ambas as coisas seriam de esperar:invocações de um droit de territoire privilegiado são uma tácticacomum de ocupação pre-emptiva como hoje em dia se dirá. Masnem é óbvio que uma consistente moral majority “direitista” ouque uma qualquer fraternidade festiva “esquerdista” em boaverdade detenham um qualquer controlo real, efectivo eactuante sobre essa nova entidade (infelizmente ainda tãorala e incipiente, ao contrário das encenações que se lhesubstituem, essas cada vez mais sofisticadas) que é a opiniãopública global que vai despontando.191 Mais ainda, e retomando de outra perspectiva a questão darepresentatividade democrática destas formas de acçãopolítica: temos de saber distinguir entre esse novo basismopopulista e a legitimidade (mesmo que tão-só residual) queele decerto disponibiliza, e o seu efectivo potencial detransformação. Um potencial, reconheçamos, que não é nulo. A
356
quais (em muitas das suas circunstâncias degestação) se começaram por formar.
As implicações de tudo isto parecem-meiniludíveis. Sem embargo da coagulação, tãoprogressiva quão inevitável, de um espaçouniversalizante de opinião (que não tenhodúvida que está em gestação-sedimentação
capacidade de um condicionamento dos processos políticoscontemporâneos por forças menos “tradicionais” resulta claropara quem se detenha com um mínimo de atenção sobre o andarcorrente da carruagem. Se nos pusermos acima da refregapolítica isso torna-se nítido. Um só exemplo. Os partidáriosnorte-americanos de uma postura isolacionista (uma atitudecom pergaminhos velhos na curta mas densa história políticado Novo Mundo), viram-se surpreendentemente forçados a tentarcanalizar os seus esforços e a sua impetuosidade através dasNações Unidas e do seu Conselho de Segurança (e isso teve umpreço alto, do ponto de vista da ambicionada defesaintransigente dos seus interesses nacionais “clássicos”). Osopositores de uma intervenção (com a França e a Rússia àcabeça) tentaram (em larga medida com sucesso, diga-se) queuma opinião pública internacional, cada vez mais atenta ecoesa, encarasse os inspectores e as inspecções, cuja funçãosempre foi apenas a de supervisionar o desarmamentovoluntário do Iraque sadamita, como se se tratasse deinvestigadores que tivessem sido encarregados da missão dedescobrir processos de desenvolvimento de armas de destruiçãomaciça e de lhes pôr cobro. Como escreveu, José Cutileiro numartigo notável intitulado “O fosso”, publicado no Expresso, nap. 24 do caderno 2, a 8 de Março de 2003. Os francesesrecorreram a uma “diplomacia de megafone: - falando na praçapública, para impressionar o povo, em vez de, à puridade,convencer a outra parte – e, em consequência, agravandodeliberadamente a discordância que se diz querer diminuir”. Éinteressante ainda verificar, neste processo, ainstrumentalização da figura do General de Gaulle: o mesmo deGaulle que, note-se, apoiou imediata e incondicionalmente oPresidente John F. Kennedy e a Administração norte-americanadurante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962; nada disso temimpedido Jacques Chirac de se apresentar publicamente comoestando a assumir uma postura “gaullista”: uma palavra decódigo para a versão francesa moderna do unilateralismo.
357
desde há muito e que os recentesacontecimentos avivaram), não é de excluirque em consequência (e pelo menostemporariamente), em vez dos novos espaçosinternacionais de opinião pública, aquiloque estamos a presenciar e em que vamosparticipar redunde, de facto e por um lado,na abertura de novas arenas para asmanobras de agitação e propaganda dosEstados; nesse sentido, estaremos apenas atestemunhar os seus esforços renovados derecrutamento e mobilização no planointernacional. E parece-me de mantersimultâneo em mente que tal está por outrolado também a ocorrer de par com o agitprop eos esforços de mobilização de agrupamentosnão-governamentais, infra-estaduais, tãovariados quanto não representativos, quandoestes entrevêem a possibilidade de fazerouvir a sua voz192 e sentem a oportunidade de192 Logo em Novembro de 2001, dois escassos meses depois do 11de Setembro, Fred Halliday (2001) afirmou que “the third of theoutcomes of 11 September [will be] the consolidation, to a degree latent but notpresent before that date, of a global coalition of anti-US sentiment. Just as USliberal writers have talked in the 1990’s of the importance for US dominance of‘soft’ power – in media, language, lifestyle, technology – so the opposition to USpower is forming above all in this domain”. Uma notável premonição doautor britânico. F. Halliday notou que, enquanto a tendênciados Estados foi a de “bandwagoning” atrás dos norte-americanos, muita da opinião pública internacional preferiu aresposta clássica de “balancing of power”. O meu argumento é quemuitos Estados decidiram aliar-se a essa estratégia deequilíbrio de poder, mobilizando para isso sectores muitoamplos de opiniões públicas nacionais e internacionais.Conquanto esta postura não ignore os novos papéis assumidospelos movimentos transnacionais de opinião, relativiza-os: deactores internacionais de seu próprio mote, passam largamentea figurantes. Alguma cristalização de uma sociedade civil
358
fazer avançar as suas agendas corporativasde mudança193.
Uma outra implicação é mais difusa eabrangente. Situações como estas exigem-nosque repensemos as nossas abordagens aospalcos emergentes da acção políticatransnacional. Até aqui, e salvo honrosasexcepções194, a maioria dos analistas têminternacional, concluo, se tem verificado nos últimos tempos.Mas nada de muito profundo. Os defensores da primeirahipótese parecem-me ou padecer de “wishfull thinking” agudo, ouconfundir eventuais avanços na sua própria coordenação demovimentos cívicos particulares e pobres em mandatosdemocráticos com a emergência concreta de uma efectiva, coesae estável entidade cosmopolita.193 É porém possível ir ainda mais longe. O que me parece maisinteressante é o estreitamento em curso de formas múltiplasde concertação entre essas ONGs e os Estados, numa repartiçãocorporativista de atribuições e competências e funções paraque ninguém os elegeu, levadas a cabo sem qualquer forma decontrolo democrático. Um desenvolvimento preocupante. Parauma discussão pormenorizada da emergência genérica destemuitíssimo pouco representativo (de um ponto de vistademocrático) “corporativismo global” nos palcosinternacionais contemporâneos, cujas consequências, dadas asdesastrosas experiências históricas de fórmulas corporativas,são preocupantes, ver Marina Ottaway (2001). Como é óbvio, apresença activa destes agrupamentos nos palcos westphalianosclássicos é benvinda, “liberalizando” a ordem internacional.Mas, com insiste, M. Ottaway op. cit.: 286), “they can have theopposite effect, namely to give disproportionate influence to well-organized,tactically astute NGOs freely interpreting where the interests of silent populationslie”. Para além do seu deficit democrático intrínseco, ocorporativismo, enquanto sistema político, tem-se reveladoincapaz de fazer frente a assimetrias empíricas de poder,muitas vezes potenciando-as. Regressarei a este ponto emtermos mais genéricos.194 Ver, por exemplo, um extenso e minucioso artigo recente deAlexander Cooley e de James Ron (2002), sobre osconstrangimentos sistémicos homogeneizantes que têm vindo aactuar sobre, e a constranger, a actividade das ONGsinternacionais humanitárias e de ajuda pública aodesenvolvimento. É neste contexto que me parece mais útil
359
encarado os agrupamentos transnacionais quetêm vindo a popular os palcos pós-bipolarese a crescer como veículos de uma nova erobusta sociedade civil internacional, comouma força liberal e democratizadora, à qualnos compete dar as boas-vindas pós-Westphalianas que se afirmam como a novapraxe. Apesar de ser em larga medidacorrecta, talvez esta visão sejaexcessivamente optimista.
A emergência de mais e diferentesactores tem sem dúvida aberto novos canaisde afirmação e acção políticas; mas as suasdinâmicas nem sempre tem sido consistentescom as expectativas daqueles observadoresou participantes que estão convencidos deque essa emergência e esse crescimentoestarão a fomentar a instalação nos palcostransnacionais de uma sociedade civilinternacional liberal e pautada por quadrosnormativos adequados. À medida que o peso,o volume e a intensidade dotransnacionalismo pós-Westphaliano crescem,os analistas fariam bem em prestar atençãoàs relações concretas e materiais que se
ponderar a leitura de Marina Ottaway (2001, op. cit.) sobre o“corporativismo global” emergente na ordem internacionalcontemporânea. Muitos têm sido os estudos que, nos últimosanos (quantas vezes tão-somente en passant e com uma ou outramotivação), se têm debruçado sobre os limites democráticosdas ONGs e dos movimentos políticos transnacionais que tantoimpacto parecem estar cada vez mais a ter na vida políticainternacional. Trabalhos destes são fundamentais comocorrectivo para a inocência política com que muitas vezesencaramos essas entidades “civis” que a doutrina liberalaprioristicamente tanto valoriza.
360
vão estabelecendo entre os novos actoresemergentes e entre eles e os antigos195, edeixar de focar apenas as agendas nominaisque aqueles pretendem defender.
5.
Talvez seja agora de voltar finalmenteà minha questão inicial. Contra o pano defundo da globalização, no plano da “waragainst terrorism” e, aí, no que diz respeito àdimensão discursiva, como é que entãopodemos caracterizar a conjuntura em quehoje vivemos? Seremos todos testemunhas deum processo de radicalização tal quepossamos nele ler indícios de que seavizinham alterações estruturais profundasna ordenação de uma “coisa pública” mundialde que desde o século XX ninguém temdúvidas (porventura com alguma
195 Para reiterar o que antes disse: penso aqui em questõestão óbvias como as relativas ao deficit de representatividadedemocrática desses agrupamentos, à “mercantilização” cada vezmais nítida que lhes é imposta pelo “ecossistemainternacional” em que actuam (o chamado “isomorfismoinstitucional”), seja ao nível do “mercado de ideias” seja aodo mercado tout court, e à corporativização crescente em que seembrenham em palcos internacionais cuja juridificação epolitização não param de se adensar. Uma vez estabelecidos,estes novos actores, seja qual for a sua natureza e novidade,são instituições como quaisquer outras: como tal, adequam-seàs regras sistémicas do jogo internacional; e sofrem deste,as mesmas pressões a que todas as suas congéneres estãosujeitas, nesses palcos rarificados.
361
precipitação) ter vindo para ficar196? Poroutras palavras, o que sugerem as práticasdiscursivas correntes quanto ao papel daguerra contra o terrorismo transnacional noque toca às reconfigurações em curso daordem internacional?
Escusado será dizer que numerosas têmsido as sugestões, quantas vezes radicais eself-serving, que aventam respostas rápidas efáceis para estas indagações. Não quereriaaqui perder tempo com elas, já que pornorma redundam em pouco mais do quehipóteses mal fundamentadas, ou emexpressões puras e simples de agendaspolítico-ideológicas que se aproveita paratentar fazer avançar197. Prefiro começar a
196 Ainda que, obliquamente, sob nomes como “sociedadeinternacional”, “sistema-Mundo”, ou “ordem internacional”.Ou, num léxico diplomático ainda mais radical porquevinculado a objectivos pacificadores, “a comunidadeinternacional”.197 Não quero com isto significar ser de opinião que nenhumatem mérito senão a minha. Penso aqui em posições tão diversascomo as daqueles que, por legalismo (ou anti-americanismo) esem olhar às evidentes alterações de circunstânciassupervenientes, exigem um cumprimento estrito das disposiçõesdo Direito Internacional, como das dos que persistem emafirmar uma total adequação das organizações internacionaiscomo a ONU ou a NATO, ou ainda das daqueles hawks norte-americanos (como Richard Perle, Paul Wolfowitz, IrvingKristol ou Charles Krauthammer) para os quais a conjuntura decrise disponibiliza uma oportunidade de afirmar uma hegemoniados EUA que passa pela subalternização de instituições einstitutos (das organizações internacionais ao DireitoInternacional, por exemplo) de que sempre desconfiaram. Talcomo ignoro no que se segue posturas de conveniência (queexprimem pouco mais que versões nacionais de unilateralismomais ou menos richelieuiano) de vários líderes políticos, deJacques Chirac a Megawati Sukarnoputri, passando por Vladimir
362
circunscrever questões da perspectiva queescolhi nesta comunicação.
Deste ponto de vista, uma dasprincipais conclusões a que chego é decarácter muito genérico e é óbvia: é a deque, longe de estarem progressiva masrapidamente a esvair-se numa globalizaçãoinexorável que estaria a dar corpo ao idealliberal de um Mundo “dos indivíduos e dospovos”, sem fronteiras alfandegárias,económico-financeiras, político-religiosas,ou quaisquer outras, os Estados estãoafinal de vento em popa. Os Estados têmvindo a receber sucessivos balões deoxigénio, dos quais o último (e o maispotente, ainda que dos menos óbvios) pareceter sido a eclosão do terrorismointernacional. Encará-lo do ponto de vistade uma restauração da longevidade dosEstados fá-lo sobressair: porque com estenovo fenómeno terrorista global, note-se, aordem internacional não mudou tanto comoregrediu, no que toca ao grau da suaintegração cosmopolita.
É hoje trivial a observação, formuladalogo após o 11 de Setembro, de que nessedia (e desde então), ninguém se virou paraa Microsoft a pedir ajuda ou a exigirapoios e reparações, nem para a Texaco, aBP ou a General Motors. Virámo-nos todospara os Estados. Ao reconhecê-los assim,demos-lhes força e alento: demo-los aos
Putin.
363
Estados Unidos como os demos à França e àAlemanha ou à Rússia. Demo-los aos Estadosdemocráticos e aos não-democráticos. E elesusaram tanto um como a outra.
Nesse sentido o al-Qaeda (e oterrorismo transnacional enquanto projectopolítico-ideológico de reconfiguração daordem internacional pela violência) falhoue acertou. Acertou, porque o binómioliberdade-segurança desiquilibrou-se (pelomenos fê-lo temporariamente) na direcção dasegunda e em detrimento da Democracia.Iremos decerto infelizmente senti-lo comcada vez mais intensidade. Falhou, nosentido em que, enquanto desafio organizadoe sustido de uma ONG apostada em mudar oMundo, fê-lo com ideologias, formas departicipação política e um tipo demovimentos que só me ocorre caracterizarcomo híbridos, simultaneamente “pré-“ e“pós-modernos”198: os movimentos civis a quedão corpo parecem-me por isso radicalmenteincapazes de sequer tocar, directamente, aordem internacional instalada. Quanto mais
198 Para uma discussão interessante, ainda que pela rama, verLee Harris (2002). Para duas leituras mais favoráveis da“pós-modernidade”, ver B. Said (1997) e Mahmood Mamdani(2002). Os movimentos terroristas transnacionais como o al-Qaeda são com efeito curiosos deste ponto de vista. Paraparafrasear o balanço que Sir Winston Churchill fez doNazismo: trata-se de um movimento que conseguiu juntar “thelatest refinements of science [with] the cruelties of the Stone Age”. O que oscoloca, paradoxalmente, a um passo de uma eventual separaçãoentre fé e razão, o caminho de um movimento como foi o da“Reforma” cristã ou o da “Haskallah” judaica.
364
de a vir a verdadeira e radicalmentealterar...
Com algum recuo, não é difícil concluirque o falhanço era decerto inevitável: aveleidade dos que imaginavam conseguir vira derrotar os potentados estatais queelegeram como inimigos principais não podesenão ser encarado, na melhor dashipóteses, como uma presunção megalómana(ou messiânica) de um descabimento ingénuodas ONGs terroristas199. Um movimento entre oJihad e o McWorld. A hipótese de que estesmovimentos pudessem de algum modo vir aabrir um espaço próprio autónomo, umaespécie de pequena ordem internacionalparalela só para eles, nem que fosse umapequena frincha, redundaria na criação deum apartheid absurdo, impensável num Mundoque, quer se queira quer não, e decerto cominúmeros avanços e recuos, em termossistémicos é cada vez mais multicultural,menos exclusionário, e que por isso sepretende mais abrangente.
Um meu ponto mais geral resulta de tudoisto e é o seguinte: a crise recente doIraque, tal como aliás todos os processosde tomada de consciência internacionaldesencadeados depois do 11 de Setembro, sãoacontecimentos que nos oferecem a
199 Neste sentido, o terrorismo transnacional não é mais doque um mero expediente táctico, um levantamento de rua quetem tido lugar numa “aldeia global” pouco homogénea e poucoconsensual.
365
oportunidade vantajosa de pôr a nu asenormes insuficiências estruturais da ordeminternacional pós-bipolar. Como todos osconflitos, forçam-nos a pôr os pés no chão.A lucidez lograda impele-nos a aceitar aevidência de que a organização e aregulamentação são de facto realidadesainda exíguas a nível supra-estadual. É comefeito gritantemente pobre a estruturaçãoexistente nesses palcos semi-anárquicos,populados (numa co-habitação muitas vezestruculenta) por Estados e organizaçõesinter- e transnacionais, por entidades não-estatais que vão de empresas multinacionaisa ONGs de todo o tipo (incluindo al-Qaedas)a agrupamentos políticos ou religiosostransversais e aos seus clones.
Nestas condições institucionaisespecíficas, as pressões exercidas nospalcos transnacionais pelo sistemainternacional nem sempre são as programadase muitas vezes são até “disfuncionais”. Nemo Direito Internacional que temos nem asnossas organizações internacionais quetemos ido criando sobreviverão sem urgentesreconfigurações de fundo. No últimodecénio, os estudiosos ocuparam-se epreocuparam-se com o estabelecimento denovos actores pós-Westphalianos e com a suaimportância para as dinâmicas políticasglobais. Chegou o momento de um corteepistemológico, como Thomas Kuhn lhechamaria. Há agora que virar a nossa
366
atenção para as pressões sistémicas da“terceira imagem” que reformatam ereconfiguram as suas acções. Só assimpodemos esperar saber como melhor agir noesforço ainda tão inacabado de “domesticar”a anarquia hobbesiana em que vivemos.
A solução talvez seja a transformaçãoda ordem em que vivemos para uma nova ordeminternacional200 mais assumidamentepluralista. Uma nova ordem em que umDireito Internacional mais adaptado aosdiscursos e às formas de poder docontemporâneo seja um verdadeiroinstrumento de comunicação-negociação dosintervenientes num Mundo multicultural201, e200 Em resposta ao 11 de Setembro, e designadamente à “coalitionagainst terrorism” de George W. Bush, Amitai Etzioni (2002, op.cit.: 23 ss) sugeriu várias hipotéticas “linhas de fuga”alternativas (de plausibilidade variável), que poderíamos verconcretizadas num futuro “measured in generations rather than years”:(i) o estabelecimento de uma nova ordem internacional baseadanuma vintena de “regional communities”, agrupadas em seis“supraregional ones”, “crowned by a global government and civil society”;(ii) a criação, “through a legislative feat” e por intermédiod uma Assembleia Constituinte, de um Estado global; (iii) deacordo com uma estratégia mais gradualista, a formação de um“expanded semi-empire”, porventura como uma “outgrowth of the[America-led] anti-terrorist coalition”. Especulações como esta, pecaminevitavelmente por alguma arbitrariedade. No entanto,importa sublinhar que, tal como foi o caso com a Paz deWestphalia, a Sociedade das Nações ou as Nações Unidas, ou aUnião Europeia, a criação de entidades supranacionais ouintergovernamentais envolve sempre um acto de deliberação evontade política.201 Uma leitura que não é nova, não muito distante, aliás, daperspectiva da escola britânica (a dos discípulos de HedleyBull) de Relações Internacionais sobre os traçoscaracterísitcos do Direito Internacional e das organizaçõesinternacionais. Curiosa, mas não inesperadamente, uma posição“racionalista” (ou grociana) hoje em dia apoiada por muitos
367
em que as organizações internacionais seafirmem enquanto outros tantos forarealmente adequados para essa interlocuçãoalargada. Uma ordem que dê corpo a umasociedade internacional ainda mais orgânicanas suas interdependências, nos seusconsensos partilhados, nos seusprocedimentos e enquadramentosconvencionais que tão lenta, mas tãoseguramente, nos têm vindo a fornecercondições instrumentais na ausência,todavia, de quaisquer ideias e valorescomuns, e ainda menos de uma hipotéticaperspectivação moral uniforme.
Um objectivo meritório, é certo, mashoje mais longínquo do que ontem. Há queter a coragem de assumir a progressão dessasociedade como morosa e difícil, sem queisso nos desmobilize a força da convicçãoque nos norteia ao continuarmos a nosesforçar em construí-la.
BIBLIOGRAFIA
construtivistas. Como por exemplo escreveu Thomas Risse(2000: 15), “some issue areas in world politics, such as trade, human rights,or the environment, are heavily regulated by international regimes andorganizations. A high degree of international institutionalization might thenprovide a common lifeworld. International institutions create a normativeframework structuring interaction in a given issue-area. They often serve as arenasin which international policy deliberation can take place”.
368
Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the world,Ballantine Books, New York.Cooley, Alexander e Ron, James (2002), “TheNGO Scramble. Organizational insecurity andthe political economy of transnationalaction”, International Security 27 (1): 5-39.Cronin, Audrey K. (2003), “Behind thecurve. Globalization and internationalterrorism”, International Security 27 (3): 30-58.Cutileiro, José (2003), “O fosso”, OExpresso, 8 de Março, caderno 2: 24, Lisboa.Etzioni, Amitai (2002), “Implications ofthe American anti-terror coalition forglobal architectures”, European Journal ofPolitical Theory 1 (1): 9-30.Halliday, Fred (2001), “Aftershocks thatwill eventually shake us all”, The Observer,November 25, 2001.Harris, Lee (2002), “Al-Qaeda’s fantasyideology”, Policy Review 114: 1-13, The HooverInstitution.Huntington, Samuel (1993), “The Clash ofCivilizations?”, Foreign Affairs 72(3): 1-25,New York.._____________(1996), The Clash of Civilizations and theRemaking of World Order, Simon and Schuster,New York.Kurtz, Stanley (2002), “The future of‘History’”, Policy Review 114, the HooverInstutution.
369
Leach, Edmund (1977), Custom, Law and TerroristViolence, Edinburgh University Press.Lewis, Bernard (1993), Islam and the West,Oxford University Press._______________(2001), What went wrong? Westernimpact and Middle Eastern response, OxfordUniversity Press.Mamdani, Mahmood (2002),”A politicalperspective on contemporary terrorism”,Ethnicities 2 (2): 146-149.Marques Guedes, Armando (1999), “Asreligiões e o choque civilizacional”, emReligiões, Segurança e Defesa: 151-179, Institutode Altos Estudos Militares, Atena, Lisboa._________________(2000), “As guerrasculturais, a soberania e a globalização”,Boletim do Instituto de Altos Estudos Militares, 51: 165-162, Lisboa.Nye, Joseph S. (1992, original 1990), “OMundo pós-Guerra Fria: uma nova ordem noMundo ?”, Política Internacional 5(1): 79-97,Lisboa.Ottaway, Marina (2001), “Corporatism goesglobal: international organizations,nongovernamental organization networks, andtransnational business”, Global Governance 7(3): 265-293.Paul, T. V. (1999), “Great equalizers oragents of chaos? Weapons of massdestruction and the emerging internationalorder”, em (eds.) T. V. Paul e J. Hall,International Order and the Future of World Politics:373-393, Cambridge University Press.
370
Rasmussen, Mikkel Vedby (2002), “’Aparallel globalization of terror’: 9-11,security and globalization”, Cooperation andConflict. Journal of the Nordic International StudiesAssociation 37 (3): 323-349.Risse, Thomas (2000), “‘Let’s argue!’:communicative action in world politics”,International Organization 54 (1): 1-39.Subirats, Joan (2003), “Iraq and the globalspace”, El País, 11 de Março.Vinocur, John (2001), “Taboos are put totest in West’s view of Islam”, Herald Tribune,1 e 9.Zakaria, Fareed (2003), “The arrogantempire”, Newsweek, 24 de Março, 2003.
371
7.
SOBRE A UNIÃO EUROPEIA E A NATO202
202 O presente artigo é uma versão alargada de umaconferência, integrada no Curso de Comando e Direcção doInstituto de Altos Estudos Militares, dedicado à formação deOficiais-Generais, que se realizou na manhã de 1 de Abril de2003. A sessão foi intitulada “A União Europeia e o seufuturo”. Por isso se explica que o ponto focal do que redigise mantenha posto na Europa comunitária, quando várias outrasalternativas haveria. Levei comigo o meu Colega e Amigo NunoPiçarra, que interveio para falar longamente sobre a“cooperação JAI”, uma área em que é especialista. Agradeço aoSenhor General-Director do Instituto, Tenente-GeneralCardeira Rino, aos outros Oficiais-Generais que nos honraramcom a sua participação, e aos muito numerosos oficiaispresentes, de todas as armas e de variadíssimas
372
1.
A União Europeia não é uma organizaçãorecente. É verdade que a sua coesão e o seuprotagonismo têm vindo a crescer a olhosvistos: cada vez mais integrada, a Uniãotem também vindo a afirmar-se de maneiramais audível como um actor relativamenteactivo na ordem internacional complexa emultidimensional203 que resultou da Queda doMuro de Berlim, do desmembramento da UniãoSoviética e do consequente fim dabipolarização que durante uma cinquentenade anos manteve o Mundo num equilíbrioinstável. Ainda que com outro nome, a
nacionalidades, as questões e os comentários suscitados, bemcomo a profícua discussão que connosco desencadearam. Nãoquereria deixar de agradecer ao Nuno Piçarra o seu interessepelo tema, a sua colaboração no Colóquio do IAEM, e aquiloque com ele aprendi sobre os meandros de um futuro para oespaço europeu de liberdade e justiça interna. Versõesanteriores deste texto foram também lidas (ou discutidas) ecomentadas, no todo ou em parte, por Armando M. MarquesGuedes, Constança Urbano de Sousa, João Marques de Almeida,José Cervaens Rodrigues, José Luís da Cruz Vilaça e MiguelPoiares Maduro. Muito beneficiei com os comentários que opresente artigo recebeu; a responsabilidade pelo produtofinal é, no entanto, integralmente minha. 203 Como se viu recentemente, com a “crise do Iraque”, o pesointernacional da postura europeia (e até a sua coesão internano que a isso toca) não é estável; a situação existentemostra que o recém-conseguido protagonismo internacional daUnião, enquanto actor efectivo que contracena nos palcosinternacionais, está realmente em dúvida a não ser em termosabstractos e muitíssimo gerais.
373
entidade que com uma velocidade históricasurpreendente veio a tornar-se na UniãoEuropeia nasceu, no entanto, muito antesdisso, nos já longínquos anos 50 do passadoséculo.
A União, convém em todo o caso começarpor sublinhá-lo, é uma entidadecaracterizadamente atípica. Enquanto formapolítica é dificílima de classificar: nãosendo um super-Estado, uma federação, ousequer uma confederação, partilha com essasvárias figuras políticas canónicas,idealizadas, alguns traços característicos.As inovações interiores e exteriores a quetem dado corpo não param de emergir, emresposta a variadíssimos constrangimentosexternos e internos. Tanto sincrónica comodiacronicamente, as especificidades queexibe são muitas204. Aparentemente bastantebem integrada no meio internacional em quevive, a Europa comunitária moderna nasceu etem-se desenvolvido sob os signos dainovação e da mudança. O que é fácil decompreender: as particularidades que naEuropa se manifestam respondem àspeculiaridades da posição estrutural que oContinente tem tido face às inúmerasalterações a que a ordem internacional setem visto sujeita. Uma centralidade que, a
204 Desses pontos de vista, mais uma vez a Europa tem vindo ainovar no que diz respeito a uma “ordem internacionalliberal” como aquela em que hoje vivemos, e que foilargamente construída sob a sua égide e liderança e em muitossentidos se apresenta à sua imagem e semelhança.
374
traço grosso, se mantém. É assim de crer (ede esperar) que as especificidadeseuropeias continuarão o seu percurso e asua maturação em formatos sui generis, mas nãomuito diferentes do que tem sido o caso atéaqui.
E isto apesar das sombras que seperfilam no horizonte. Sombras tais como achamada “crise do Iraque” (que opôs, edurante algum tempo ainda previsivelmentecontinuará a opor, alguns dos Estados-membros da União aos outros e aos EstadosUnidos da América), ou como a tensão quevivemos no que toca à Convenção sobre oFuturo da Europa e ao seu projecto (o qual,se não nos dividiu a todos, nos tem em todoo caso posto de sobreaviso uns em relaçãoaos outros). Devo ser claro: por muitopreocupante que a situação nos possaparecer, em minha opinião não há muito, naconjuntura de crise difícil que hoje em diaa União Europeia vive, que indicierealmente que esta deixará de continuar oseu processo criativo de fruição. Acumulam-se problemas de maneira cada vez maisvisível. Mas trata-se decerto de questõesque, de uma ou outra forma, serãoresolvidas. Tal não significa todavia, comoé óbvio, que devamos ser de opinião quetudo está bem. Se em linhas gerais nãotenho sobre os escolhos hoje enfrentadosuma postura catastrofista, o que pareceimprovável é que tudo possa continuar como
375
antes. Mais: é decerto ponderando asdirecções plausíveis de mudança que podemosesperar aventar hipóteses credíveis quantoàs transformações que seguramente seavizinham, ou que saberemos para elasreceitar eventuais profilaxias.
Questão prévia a essa ponderação éobviamente lograr empreender umacontextualização apropriada das mudançasanunciadas. Para encetar e começar a levara bom porto esse esforço, será sem dúvidaútil começar por fazer um rastreio (maisindicativo que descritivo nos objectivos)de alguns dos aspectos mais diacríticos daorigem e maturação dessa entidade emcrescimento, com o intuito de assim melhorequacionar uma visão de detalhe sobre estesprocessos complexos de formação (ou, talvezmelhor, de formatação), acomodação, edesenvolvimento: para conseguirperspectivá-los de uma forma que nospermita aventar hipóteses minimamenteplausíveis quanto ao andar da carruagemeuropeia, por assim dizer. No sentido emque é meu objectivo olhá-la sob uma luznova, ou pôr em relevo ressonâncias menosóbvias, será evidentemente vantajosorevisitar esses processos de fruição emcontexto, analisando-os enquanto os repomosno tempo.
Desde logo é-o pelo que de novo nostraz. Um enquadramento cronológico-conjuntural de alguns dos aspectos hoje
376
mais problemáticos desta curiosa União,ainda que breve e sucinto, põe em evidênciamais nítida as traves-mestras principaisnesses âmbitos, ou contextos, nela gizadasenquanto projecto. O que já, por sipróprio, poderia ter alguma utilidade. Maspossibilita, em minha opinião, muito mais:permite-nos pô-la em paralelo com processoshistórico-políticos e com outrasorganizações que de algum modo a par delanasceram, cresceram e se têm vindo atransformar: entidades como a NATO (eoutras congéneres, criadas depois da 2.ªGuerra Mundial para defender o VelhoContinente), sem as quais, irei argumentar,muitas das condições de viabilidade daUnião Europeia decerto não existiriam. Esteponto é crucial para a discussão que sesegue: muito há, na União Europeia, que sóse torna plenamente inteligível no contextodo crescimento paralelo da NATO e afins,bem como em termos da ligação que seestabeleceu entre a Europa do pós-2.ªGuerra Mundial e os Estados Unidos daAmérica. Como iremos verificar, essaimbricação é complexa e em muitos dos seusaspectos tem sido efectuada por intermédiode ligações e laços indirectos. Não deixapor isso de ser profunda. Para utilizarduas metáforas que irei revisitar: tomar emlinha de conta os respectivos processoscomplexos de formação, acomodação, edesenvolvimento permite-nos encarar a NATO
377
e a União Europeia como dois pássaros quevoam e evoluem em conjunto, ou como doisbailarinos envolvidos num pas de deuxelaborado mas harmónico.
Poderão parecer inesperados tanto oestabelecimento desses paralelismos entre aUnião Europeia e a NATO como a afirmação dainterdependência de tais processos205. Asurpresa é compreensível. Durante muitosanos habituámo-nos a pensar estas duasentidades e estes dois processos comointeiramente separados um do outro e a suavizinhança pode por conseguinte não nos terocorrido. Em larga medida essa perspectivatradicional é justificada: a NATO tem desdesempre sido encarada pela “sabedoriaconvencional” vigente na Europa como dandocorpo a uma Aliança transatlântica muitoparticular e concreta, de base estritamentepolítico-militar. Enquanto que, emcontraste, a construção europeia tem sidocarente precisamente dessas dimensões e nessequadro geográfico alargado. Concebemo-las,por norma, como instituições, ou
205 Como iremos ver, nem Franklin Delano Roosevelt, nem HarryTruman, nem Winston Churchill, Josef Staline, ou mesmoCharles de Gaulle ficariam surpreendidos com esteparalelismo. Aquilo que decerto os surpreenderia, seria adissociação nocional a que nos habituámos. Em grande parte, adiferença de perspectiva advém da fase inicial, em 1945, queFareed Zakaria (2003) recentemente apelidou de “the age ofgenerosity”: “when America had the world at its feet, Franklin Delano Rooseveltand Harry Truman chose not to create an American imperium, but to build a worldof alliances and multilateral institutions”. Uma atitude que parece ter-semodificado com a reacção norte-americana ao 11 de Setembro ea Administração Bush. Um ponto a que quererei regressar.
378
organizações, inteiramente diferentes umada outra. Em resultado tendemos a “arrumá-las” cada uma para seu lado e propendemos,por isso, a pensá-las e a estudá-las comose de entidades totalmente distintas setratasse. O que, como irei tentardemonstrar, não é na realidadeverdadeiramente o caso; bem pelo contrário.Embora como é óbvio estejamos perante duasorganizações distintas e separadas, trata-se de duas construções profunda eumbilicalmente ligadas entre si. Para oconfirmar, basta entrevê-las noenquadramento maior providenciado pelaordem internacional existente, ou nocontexto disponibilizado num quadrotemporal de mais longa duração. Contraesses panos de fundo as articulaçõesgenéticas e as congénitas existentestornam-se bastante nítidas.
Esse enquadramento é fácil de traçar.Numa monografia recente, G. John Ikenberry206
206 G. John Ikenberry (2001). Neste estudo comparativo, que demaneira sugestiva Ikenberry intitulou After Victory, foi levado acabo um rastreio pormenorizado dos enquadramentosinstitucionais em cujos termos, segundo este Autor de formacrescente desde 1815, as potências vencedoras tentamreorganizar a ordem internacional nos momentos-charneira(1919, 1945, e no pós-Guerra Fria) a que esta tem estadosujeita. Sem que isso necessariamente signifique uma adesãointegral às posições de Ikenberry, um quadro conjuntural(como indiquei, Ikenberry apelidou-os de historical junctures)genérico deste tipo parece-me um excelente ponto de partidapara esforços como aquele que aqui tento levar a cabo. JoãoMarques de Almeida (2003) publicou uma recensão crítica doestudo de Ikenberry que, ao que penso, aponta na direcção queaqui sugiro.
379
levou a cabo uma análise detalhada dasestratégias, cada vez mais elaboradas eprocedentes, de reformulação institucional(e até mesmo “constitucional”) dos padrõesdos seus relacionamentos externos, por meiodas quais, desde pelo menos 1815, asgrandes potências que saíram vencedoras deconflitos-chave têm vindo a tentar delinearordens internacionais em simultâneo maisestáveis, mais amplamente convenientes paraos seus próprios interesses genéricos, emais aceitáveis para os Estados por elasderrotados. É, em minha opinião,precisamente no quadro de umacontextualização deste tipo que podemosesperar compreender as razões de base parauma ligação como aquela que, alego, existeentre a NATO e a União Europeia. É trivialafirmar que os Estados Unidos da América seempenharam em assegurar transformaçõesprofundas na ordenação do Mundo deixado numpós-1945 em que a distribuição do poderlhes concedia uma posição hegemónicadifícil de contestar. Menos óbvia será asugestão de que o desencadeamento daintegração europeia e a edificação daaliança transatlântica, que a breve trechocomeçaram a ser gizadas, constituíam, senãoduas peças da estratégia norte-americanaentão seguida, pelo menos dois processosdesencadeados em paralelo que só emconjunto se tornam, a nível político defundo, plenamente inteligíveis. Dois passos
380
de um autêntico processo deconstitucionalização, ao nível “regional” ecomo parte de uma agenda implícita deconstrução de uma nova ordem internacional.
Para além de ressonâncias menos nítidasque me esforçarei em tentar pôr emevidência, basta atentar no facto de quetanto um como outro desses processos visavaa dupla finalidade de pacificar uma Europacujos desentendimentos internos pareciaminsanáveis, e de conter uma União Soviéticaque emergia como uma ameaça para essa mesmaEuropa e para os próprios Estados Unidos.Com o fim da ordem internacional bipolar, olone superpower norte-americano deparou maisuma vez com uma situação-charneira, e viu-se de novo na posição, dificilmentecontestável, de exercer uma potencialhegemonia. Apenas neste enquadramento, ireidefender, se torna possível perceber aperenidade das razões para essa velhaindissociabilidade política estruturalentre a União e a Aliança. Naquilo que sesegue, farei pouco mais do que tentarfundamentar razões de fundo para essapermanência.
A um nível mais analítico, muita datrama estrutural de base para a ligaçãosugerida não custa a compreender. Comecemospor desconstruir modelos excessivamenteidealistas. Releva da mais pura fantasia edo mais puro wishful thinking a leitura segundoa qual a integração da Europa resultaria
381
apenas de uma qualquer tomada deconsciência pelas nossas populações egovernantes das suas vantagens intrínsecas,ou de um hipotético altruísmo e de umacomplacência das grandes potênciaseuropeias tradicionais, a França, aAlemanha e a Grã-Bretanha. Sem embargo detodos esses factores terem indubitavelmenteestado presentes, o processo de integraçãoda Europa foi no essencial encetado porquea preponderância dos Estados Unidos numaNATO que incluiu as maiores dessaspotências do Velho Continente tornoupossível que os Estados europeus deixassemde viver obcecados com o equilíbrio decoligações que garantissem a sua segurançauns em relação aos outros e a de todosrelativamente a um Mundo exteriormarcadamente hostil207. Ao tomar a seu cargo
207 Para uma defesa recente e acérrima desta perspectiva, éútil a leitura do artigo e do livro associado de Robert Kagan(2002 e 2003). Segundo Kagan (e este é um ponto que ireidesenvolver mais à frente nesta comunicação) a “Paz Perpétua”kantiana, em cuja sombra a Europa tem sido construída só épossível porque os Estados Unidos decidiram ficar no VelhoContinente depois da 2.ª Guerra Mundial, deliberaramassegurar a protecção deste, e se comprometeram a tomar a seucargo as actividades necessárias de segurança e defesa noMundo hobbesiano e anárquico, exterior a cada um dos Estados-membros e ao seu conjunto. Esta posição (com algumasmodulações) foi recentemente defendida, em Portugal por VascoRato (2003) e, em termos algo diferentes mas em muitossentidos equivalentes a uma das partes da interpretaçãoanalítica que aqui propomos por João Marques de Almeida(2003) e, ainda, por António Barreto (2003), para só citartrês dos muitos exemplos recentes de autores portugueses quedecidiram debruçar-se (por via de regra de maneira tão-sóindicativa, ou pelo contrário mais “especializada”) sobre
382
a “anarquia hobbesiana”, os norte-americanos permitiram aos europeus erigirno seu interior protegido um inesperado masbem-vindo “oásis kantiano”. Não será nessesentido porventura abusivo afirmar que oprocesso de integração da Europa sócontinuará com a velocidade e a intensidadeque tem enquanto o manto tutelar deprotecção norte-americana se mantiver. Nãoé, por isso, surpreendente que existamalgumas ressonâncias e paralelismosmúltiplos nas várias fases da progressãohistórica e geográfica da NATO e nas daUnião Europeia: já que esta última nãoseria em boa verdade, num sentidoestrutural e material, inteiramente viávelsem a primeira.
temas afins do meu. Para o tipo de leitura idealizada com queaqui me contrasto, ver, por todos, o muito bem ponderadoartigo de Craig Parsons (2002).
383
Pode-se ir mais longe208. Abordo aquiuma estratégia de como fazê-lo. Parece-meimportante sublinhar que a emergência, tãorápida quão surpreendente, de um “espaçoeuropeu de liberdade, segurança e justiça”(a montante do Terceiro Pilar da UniãoEuropeia) só é verdadeiramente explicávelem termos desse mesmo quadro que põe de para União e a Aliança. Para o reconhecer,basta atentar na evidência dos factos. Alivre circulação de pessoas, bens e
208 O que, aliás, repito, tem sido tentado por muitosanalistas em Portugal. Parecem-me porém algo exageradas eexcessivamente genéricas as sugestões formuladas. Assim, porexemplo, Vasco Rato (2003, op. cit.) insiste em que “mesmo quefosse possível ultrapassar as desconfianças e as rivalidadeshistóricas [entre os Estados europeus], os investimentos nadefesa necessários para dar à Europa uma capacidade militarsuficiente para “equilibrar” com os Estados Unidos levariam àdestruição do modelo social europeu. Basta que façam ascontas”. Isso pode ser verdade, se nos ativermos tão-somenteao curto prazo; para além de que não toma em linha de conta opotencial multiplicador e lucrativo, a nível económico e numamais longa duração, de eventuais investimentos na áreamilitar-industrial, contabilizando V. Rato na sua equaçãoapenas despesas a fundo perdido. António Barreto (2003, op. cit.)esgrime uma variação sobre o modelo de R. Kagan, e concluicom pessimismo que “as torres gémeas” (a expressão que usapara aludir ao par NATO-UE) merecem um “requiem”; umaprojecção futurológica pouco fundamentada e menosconstrutiva. O mesmo não se passa com o mais longo edidáctico artigo de João Marques de Almeida (2003, op. cit.); numtrabalho mais académico e mais teoricista, Marques de Almeidacomeça por tipificar a situação actual de acordo com amodelização proposta por E. Kant, para depois acenar com osriscos de sedimentação regional de uma “federação hobbesiana”tirânica liderada pelos mais fortes, os franco-alemães, casoa presente crise acabe por afastar os norte-americanos daEuropa. Parece-me no entanto mais útil melhor fundamentarmodelos do que especular relativamente a cenários futuros,sempre imprevisíveis.
384
capitais e a colaboração policial ejudiciária alargadas apenas se começaram atornar palatáveis para as grandes potênciaseuropeias quando, sob o manto protector etutelar da NATO, estas deixaram de tanto setemer umas às outras. A abertura proposta anovas políticas de vistos, migrações easilo, combate ao terrorismo e aonarcotráfico, também não teria sido viávelsem o importante papel de guardião,assumido pela Aliança Atlântica,relativamente à “anarquia hobbesiana” queforma o pano de fundo sobre o qual aconstrução europeia se tem vindo aefectuar.
No que se segue irei abordar estasquestões na sequência em que foramexpostas, seguindo sempre uma ordenaçãocronológica que, naturalmente, irádesembocar no presente. Porei na primeiralinha das minhas atenções a progressãosincronizada dos vários organismos eorganizações a que aludo, sublinhando a pare passo as confluências, convergências econcordâncias que se vão tornando notórias.Delinearei, em seguida, os termos em que,progressivamente, foi sendo gizado um“espaço de liberdade, justiça e segurançainterna” na União. Concluo com algumashipóteses relativas ao que o futuro nosreserva. O acento tónico das minhasanálises será sempre essencialmentecolocado em duas frentes, por assim dizer:
385
por um lado, na formação de consensos; e,por outro, nas pressões sistémicas emanadasda ordem internacional que se têm feitosentir a nível “regional”, e que se tornamvisíveis ao nível do Continente europeu seo nosso ponto de vista for (como creiofirmemente que deve ser) mais global einclusivo.
2.
Começando então pelas condiçõesestruturais de possibilidade, não serátalvez abusivo dizer que aquilo a que hojechamamos a União Europeia se temdesenvolvido sobretudo em dois grandesplanos (ou, como iremos ver, dois planos eum parâmetro de um deles) e sob a égide devários tipos de pressões formatadoras,chame-se-lhes assim. Planos, parâmetros,dimensões e pressões em última instânciaindissociáveis uns dos outros209, como ireisubsidiariamente tentar demonstrar. Por um
209 Uma rápida salvaguarda metodológica: não pretendo aquiexpor uma qualquer teoria (muitas há já) sobre a emergênciada União Europeia, ou sobre as suas condições genéticascausais; quero apenas delinear linhas de força nos seusprocessos de formação e desenvolvimento. Mais ainda, a ordemde exposição que escolhi para o levar a cabo não visaenunciar uma qualquer hierarquia de causas. A ordenaçãoseguida foi preferida por meras razões pragmáticas: dado queas relações entre estes três planos e os tipos de pressões(ou constrangimentos se se preferir) que lhes são próprias,não têm todas o mesmo peso, descrevê-los-ei na ordem em que oseu entrosamento recíproco se torna mais sensível.
386
lado, a Europa tem sido gizada em largamedida em resposta a condicionalismospolítico-militares ou, como hoje diríamos,de segurança e defesa. Delineá-lo é facílimo.Face à destruição maciça e às intoleráveisperdas humanas e materiais a que osEuropeus tiveram de fazer frente depois deduas Guerras Mundiais rapidamenteencadeadas uma na outra, muitas foram asvozes que insistiram num ponto que a todosparecia evidente: que o velho e jávenerando balance of power, a solução legadapela Paz de Westphalia em 1648 comomecanismo de eleição para moderar conflitose reduzir as guerras210, era insuficientepara manter um mínimo de paz, ou mesmo umsemblante de harmonia, num Concerto daEuropa que a História parecia tornar cadavez mais dissonante.
O mote, curiosamente, fora dado muitosanos antes por um Presidente norte-americano, Woodrow Wilson, em numerososescritos e, mais famosamente, nas suasintervenções e nos seus fourteen pointsenunciados nas negociações conducentes ao
210 São muitíssimo numerosos os estudos dedicados ao papelfundador que a Paz de Westphalia teve na construção inicialdas traves-mestras daquilo que se veio a tornar numa ordeminternacional duradoura e ainda hoje em larga medida vigente.Para uma discussão recente e pormenorizada, redigida do pontode vista em simultâneo histórica e de gestação do que hojechamaríamos uma ordem internacional, ver, por todos, os doiscapítulos a isso dedicados da autoria de Daniel Philpott(2001).
387
Tratado de Versailles211. Tratava-se, como ébem sabido, de um mote que decorrialargamente dos pressupostos histórico-políticos do Liberalismo e nomeadamente daideia programática de base segundo a qualeram povos e não Estados as “unidades deconta” do sistema internacional. Urgiatestar uma qualquer nova receita: o sistema“clássico” de contrapesos deixara de sereficaz. O descalabro do equilíbriovenerando era já antigo212, e a eclosão de
211 Para uma discussão histórico-política clássica, se bem quemarcada por uma perspectivação “realista” fria, ver HenryKissinger (1994: 218-246). Para além de se tratar de uma dasmais bem articuladas (apesar da sua brevidade) descriçõesfactuais de um processo riquíssimo sobre o qual muito temsido escrito, parece-me esta dar azo a uma análiseparticularmente bem conseguida das relações de forçaspresentes e dos vários níveis de interpretação possíveis paraelas. Para um muito maior pormenor quanto a processo, queinclui um retrato exemplar de Woodrow Wilson, éimprescindível a leitura da monografia de Margaret MacMillan(2003), sugestivamente intitulada Paris 1919.212 Relembremo-lo de maneira cursória. À aventura napoleónicaque assolou a Europa no rescaldo da Revolução Francesa de1789 seguiu-se, em 1815, uma Conferência em Viena, umcongresso ambicioso e prolongado cujos resultados serevelaram ser sol de pouca dura. Os finais do século XIXtornaram a mergulhar a Europa em conflitos, agora maismortíferos pelos avanços tecnológicos saídos da RevoluçãoIndustrial. O pesadelo recomeçara. Da Guerra da Crimeia queentre 1854 e 1856 aliou Franceses e Britânicos aos Otomanosnum conflito com a Rússia, à guerra Franco-Prussiana quedurou de 1870 a 1871 e envolveu uma invasão da França por umaAlemanha acabada de forjar por Bismark, desembocando numacuriosa e ameaçadora Tripla Aliança que em 1882 comprometeude maneira pouco consequente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a recém-unificada Itália, o panorama não auguravanada de bom. E os mais pessimistas viram-se vingados. Tantono centro da Europa como nas fronteiras entre este e osImpérios Russo czarista, o arquiducado imperial Austro-
388
uma guerra tão sangrenta e disseminada comoa Grande Guerra, como veio a ser apelidada,demonstrava-o à saciedade. Alguma coisairia ter de mudar.
Os quadros intelectuais dominantesnaturalmente serviram para adjudicar umasolução-quadro para essa mudança. Para umPresidente norte-americano de formação econvicções democrático-liberais comoWoodrow Wilson, o descalabro que a todosentrava pelos olhos dentro soletrava, porum lado, a imoralidade intrínseca do modelowestphaliano “clássico” e, por outro, a suaincapacidade de dar conta de uma ordemmundial dia-a-dia mais complexa. A Históriaparecia dar-lhe razão. A Primeira GrandeGuerra e a cavalgada dos nacionalismosexclusivistas das primeiras décadas dosangrento século XX213, tiveram uma retomaainda pior uma mera vintena de anos depois(menos de uma geração) num segundocapítulo: aquele a que se convencionouapelidar de 2.ª Guerra Mundial. No primeiropasso morreram mais de 15 milhões depessoas. No passo seguinte o número demortes saltou para 50 milhões. Se o Mundoensanguentado de 1918 estava predisposto a
Húngaro e o sultanato Otomano, morticínios grassaram. À bocado século XX, a catadupa parecia não ter fim, a hemorragiaparecia não querer estancar.213 Para um contraste entre estes “nacionalismosexclusionários” e os nacionalismos mais construtivistas doséculo XIX é útil a leitura de Michael Ignatieff (1993) e deBenjamin Barber (1995). É extensíssima a bibliografia recentepublicada sobre vários aspectos deste tópico.
389
aceitar uma receita supra-estadual, adevassa inimaginável sentida em 1945dispunha-o a quase todas as experiências depacificação.
Em inícios-meados dos anos 40, apostura democrático-liberal do Presidentenorte-americano Franklin Delano Rooseveltencontrava ecos numa nova entidade queentão se começava a afirmar: o que hojechamaríamos “a opinião públicainternacional”. Para um número crescente decidadãos e políticos Europeus havia que pôrcobro à escalada infernal de violência emque a Europa ciclicamente mergulhava. OsEstados e as suas coligações reactivas degeometria variável manifestamente nãopareciam saber dar conta da efervescênciacíclica, e mostravam-se cada vez menoscapazes de a conter. Para muitos deles,influenciados ademais decerto pelosprojectos wilsonianos de collective security a queF. D. Roosevelt viera dar um novo fôlego nasua tentativa de (com os outros Aliados,alguns mais renitentes que outros, dadas asdisparidades de agendas) “conquistar a paz”em meados dos anos 40 do passado século XX,a solução era a criação de mecanismossupranacionais fortes e minimamente“independentes”. Mecanismos cujo papelseria, sobretudo (na linha de umaperspectivação liberal vincadamente“iluminista” que insistia de formaprogramática em ver a soberania e a
390
legitimidade políticas como estando defacto sedeadas nos “povos”) o de“domesticar” a anarquia internacional, esseespaço política e juridicamente rarefeitoque servia de palco aos Estados nacionaisque nele contracenavam214.
Vistas as coisas nesta perspectiva desegurança e defesa, foi contra este pano defundo político-ideológico e de opinião quea Europa institucional moderna (aquilo queviria a tornar-se na “União Europeia”)nasceu. Nos termos desta primeira pressão,deste primeiro constrangimento, os Tratadosde Paris (1951) e de Roma (1957)215,assinados não muito tempo após a 2.ª GuerraMundial, foram celebrados no sentido delograr assegurar uma institucionalização decondições jurídicas, políticas esocioeconómicas que esbatessem (ouajudassem a esbater) o perigo de novasguerras numa Europa devassada vezes demais.
O lugar geográfico de gestação desteprocesso não foi seguramente acidental. Oeixo França-Alemanha, que então emergiu, e214 Para uma discussão introdutória mas de grande pormenor,sobre a mecânica destes processos e os vários níveis em que asua análise é possível e desejável, ver Joseph S. Nye, Jr.,1997: sobretudo pp. 50-71, 74-95 e 98-129. Para um excelenteestudo recente sobre a génese muitíssimo laboriosa e bastantecontestada da Organização das Nações Unidas, ver a longamonografia de Stephen Schlesinger (2003).215 Em Abril de 1951, foi criada pelo Tratado de Paris a CECA,a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que veio a darorigem à CEE. Um ano e um mês depois, em Maio de 1952, comoiremos ver, foi criada a Comunidade Europeia de Defesa, umaestrutura militar federal que nunca passou do papel.
391
o papel preenchido pelo Benelux, podem servistos, com algum fundamento histórico,como ingredientes diacríticos desteprocesso – já que, indubitavelmente,constituíam uma espécie de núcleo durodessa Europa ocidental que se queriafinalmente pacificada. De fora ficou, nestaprimeira fase, um Reino Unido cultural egeograficamente insular, por isso mesmomais isolado, e que uma França (ciosa delograr um ascendente, uma vez a Alemanharelativamente neutralizada) de qualquermaneira preferia manter à margem doprojecto. A União Europeia foi, nos termosdestas pressões e desde o seu início, umprograma estratégico de contenção de mais epiores guerras no Velho Continente. Comotal, as pressões sistémicas foram noessencial exercidas sobre a região detradicional eclosão dessas contendas.
Mas os Tratados de Paris e Roma nãoforam nem por sombras a única resposta aessas pressões próprias do plano político-militar de segurança e defesa. Muitas maishouve. Os seus lugares de gestação eimplantação não foram muito diferentes evale decerto a pena enumerar alguns.Recuemos um curto par de anos: a 17 deMarço de 1948, por exemplo, fora assinado oTratado de Bruxelas pelos três países doBenelux (a Bélgica, a Holanda e oLuxemburgo) e por dois outros, a França e oReino Unido, no qual foi criada a chamada
392
União Europeia Ocidental (UEO). Tratava-sede uma entidade vaga e difusa, ancorada nostermos do artigo 51.º da Carta das NaçõesUnidas que pouco antes fora gizada em SãoFrancisco: a UEO tinha em vista umacolaboração económica, social e culturaldos seus membros, mas talvez e sobretudo umobjectivo de defesa comum216, face tanto auma sempre possível re-emergência da velha“ameaça alemã” como frente aos novos riscossuscitados por uma União Soviética compretensões tidas como cada vez maisassustadoras. Em Setembro de 1948, a UEOfoi dotada de um órgão militar, a chamadaOrganização de Defesa da União Ocidental,chefiada pelo célebre General Montgomery.No que se iria revelar ser umdistanciamento crónico, Paris hesitou edemorou a ratificação do novo organismo. Anova entidade parecia ter um parto difícil.
A ideia de que tal medida seriasuficiente foi todavia sol de muito poucadura. Menos de um ano depois, a 4 de Abrilde 1949, foi decidido que a UEO, tal comotinha sido gizada, não lograria fazerfrente às novas ameaças que se perfilavamno horizonte: já não a da Alemanha, masantes a da URSS. Foi assim fundada emWashington, nessa data, a Organização do
216 São muito numerosas as referências possíveis quanto àUnião Europeia Ocidental [UEO], ou União da Europa Ocidental,como alguns preferem chamá-la). Para efeitos destacomunicação, é porém suficiente o curto estudo de José Manuelda Costa Arsénio, publicado em 1988 na revista Nação e Defesa.
393
Tratado do Atlântico Norte (a NATO), emresultado de esforços conjuntos e,sobretudo, de Paul-Henri Spaak, ocarismático Ministro dos NegóciosEstrangeiros belga, e um inesperadamentenotável Presidente norte-americano, HarryTruman. Um breve ano e pouco depois, emDezembro de 1950, os países co-signatáriosdo Tratado de Bruxelas decidiram transferirpara a NATO a responsabilidade pela defesada Europa Ocidental (como então se passou achamar)217. A Declaração de Washington,assinada a 14 de Setembro de 1951 foidecisiva, ao recomendar a participação daAlemanha numa nova Comunidade de DefesaEuropeia, uma entidade do âmbito da NATO218.No palco entraram os Estados Unidos e aAlemanha Federal: o quadro que hojeconhecemos começava a compor-se.
217 As competências em matérias culturais, económicas esociais foram mantidas na UEO, apesar da criação paralela doConselho da Europa em 1949. Em arranjos institucionaismultilaterais variados que iam sendo desenhados lado a lado,a Europa saída da guerra ia-se consolidando.218 Entretanto, muito ia com efeito mudando, face às profundasalterações ocorridas nos cenários internacionais em fluxoentão. Como escreveu A. da Costa Arsénio (1988, op. cit.: 4),em inícios dos anos 50 “um dos motivos determinantes doespírito do Tratado de Bruxelas – a ameaça alemã – passou aser encarado sob óptica diversa”: o que levou à Declaração deWashington, de 14 de Setembro de 1951, na qual os Ministrosdos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, da França e daGrã-Bretanha manifestaram o desejo de incluir a Alemanha comoparticipante activo na defesa do Ocidente, através de umaComunidade de Defesa Europeia criada no âmbito da NATO; umaproposta francesa reiterada na reunião seguinte do Conselhodo Atlântico Norte, realizada em Fevereiro de 1952 em Lisboa.
394
Uma vez as decisões políticas de fundoassumidas, a passada acelerou. Na frente dagestação paralela daquilo que se iriachamar a “União Europeia”, o Tratado daComunidade de Defesa Europeia foi celebradoa 27 de Maio de 1952 pela Bélgica, França,Holanda, Itália, Luxemburgo e RFA:inicialmente fora imaginada como etapa nadirecção da Federação Europeia que tinhasido idealizada no chamado Plano Schuman.Como vimos, o Tratado, no entanto, falhou:o Parlamento francês recusou (a 30 deAgosto de 1954) ratificar uma Comunidade aque uma Grã-Bretanha anti-federalista serecusara a aderir.
Uma velha clivagem reacendia-se.Interesses estreitos dos Estados(nomeadamente do francês) opunham-se aointeresse colectivo europeu. Coligações queviriam a revelar-se ser sólidas eduradouras formavam-se ou afirmavam-se. Ofuturo iria demonstrar que se tratava deposicionamentos e configurações decomportamento de assaz longa duração. Sobnova guisa, como aliás seria decerto deesperar, tais alinhamentos são os que setêm vindo a manifestar na conjuntura hoje(nestes finais de 2003) vivida.
Os esforços de coordenação da defesa eos processos de integração não pararam noentanto, apesar do revés temporáriosofrido. Mas os interesses exclusivistas eas ânsias de protagonismo não se calaram.
395
Logo nos meses de Setembro e Outubroseguintes219, ainda portanto em 1954, sob oimpulso de Anthony Eden, o célebre Ministrobritânico, os Ministros dos NegóciosEstrangeiros reuniram primeiro em Londres edepois em Paris para o efeito. Apesar deuma pesada e dolorosa demora causada pelaexigência francesa em condicionar orearmamento alemão (ainda que limitado eparcial, i.e. sem quaisquer armas“atómicas, químicas ou biológicas”) àresolução do “problema do Sarre”220, osAcordos de Paris (que formalmente deram àluz a União Europeia Ocidental) foram,enfim, devidamente ratificados pelosEstados co-signatários a 6 de Maio de 1955.
Numa posição intercalar difícil, e comoé bem conhecido, a UEO acabou por ficar219 A reunião em Londres durou de 28 de Setembro a 3 deOutubro. Nessa Conferência participaram os cinco Estadossignatários do Tratado de Bruxelas e quatro outros: aAlemanha e a Itália, e os Estados Unidos e o Canadá. Entre 20e 23 de Outubro seguinte, em Paris, uma nova Conferênciaaprovou Protocolos Adicionais, estreitou os laços com a NATO,decretou o fim da ocupação-administração da Alemanhaocidental, criou uma Assembleia para a UEO e instaloumecanismos vigorosos de defesa colectiva para os Estados-membros da União.220 Um processo moroso. Face à incapacidade bilateral dosGovernos, francês e alemão, para encontrar uma solução, oConselho Consultivo da UEO propôs uma fórmula conciliatóriaque passava pela atribuição de um Estatuto Europeu, no quadroda UEO, ao Sarre; em resultado, foi assinado um AcordoFranco-Germânico (em 23 de Outubro de 1954) e foi realizadoum referendo (em Outubro de 1955) no Sarre. Face à rejeiçãodo Estatuto uma vez este referendado pela população daregião, o Sarre foi reintegrado na Alemanha num processofaseado prolongado começado no mês de Janeiro de 1957 econcluído no distante mês de Julho de 1959.
396
aquém das expectativas. O seu esbatimentofoi progressivo; mas a solução encontradapara o levar a cabo foi institucional. Umprimeiro esvaziamento de conteúdo ocorreuem 1950, data em que, como vimos, ascompetências em matéria de manutenção edefesa de paz europeia foram transferidaspara a NATO. Em 1960, dez anos mais tarde,a UEO transferiu as suas responsabilidades“sócio-culturais” para o Conselho daEuropa. Outra década depois, em 1970,entregou à então CEE todas as competênciasem matéria económica. Só em 1987 foi re-acordada, com a chamada Plataforma daHaia221, na qual foi enfim asseverado que umaverdadeira integração europeia exigia ainclusão de uma dimensão de segurança edefesa, e na qual foi ainda reiterada aconvicção de que a segurança da AliançaAtlântica é “indivisível”, pelo que asegurança e defesa da Europa terá de semanter em estreita conexão com os norte-americanos, os únicos que a poderão a médioprazo assegurar222.
221 Muitas vezes intitulada, algo hiperbolicamente, com “aMagna Carta da segurança e defesa europeias”. Para além dedelinear papéis e interdependências no que toca a forçasconvencionais e a forças nucleares, a Plataforma alude aodesarmamento e controlo de armamentos e ao diálogo ecooperação “Leste-Oeste”.222 Uma espécie de irmã gémea da Cooperação Política Europeia(um forum dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UniãoEuropeia), entidade ademais de algum modo também paralela àNATO, tem desde então tido altos e baixos que se prendem comas reduplicações de papéis que essas vizinhanças orgânicasimplicam.
397
O que se seguiu é muito mais bemconhecido. Em calhas paralelas, osprocessos de integração prosseguiram nafrente político-económico-social e napolítico-militar. As clivagens e afirmaçõesindividuais de alguns Estados também, nalinha, aliás, daquelas que antessublinhámos. Uma simples listagem põe-no emrelevo. As negociações empreendidas em 1963com vista à entrada da Grã-Bretanha na CEEesbarraram com o veto de uma Françagaullista que se opunha terminantemente àideia, argumentando, famosamente, que osbritânicos, “entre a Europa e le grand large”,prefeririam sempre este último223; só em 1970começaram negociações que apenas em Janeirode 1972, com Charles de Gaulle já morto,levaram à assinatura tardia do tratado deAdesão da Grã-Bretanha à ainda CEE. Em1966, num gesto paralelo, o General-Presidente retirara a França do ComandoMilitar Integrado da NATO; neste caso aatitude fizera já frente a britânicos enorte-americanos e baseara-se na opinião deC. de Gaulle de que era crucial manter umacapacidade francesa própria de dissuasãonuclear independente (a célebre force de frappe
223 Uma frase sibilina que, segundo Charles de Gaulle, teriasido proferida pelo próprio Winston Churchill num almoço adois, em Londres, quando da preparação da invasão aliada daspraias da Normandia a 6 de Junho de 1944.
398
autónoma224) face a uma URSS tida como cadavez mais ameaçadora.
As tensões de conjunto, com facesvariadas, mas com pontos de aplicaçãobastante regulares, continuaram até hoje.Estes foram os sucessivos finca-pés do eixofranco-alemão; as constantes expressões deuma “special relationship” entre os britânicos eos norte-americanos; e a permanênciaintocada de um receio profundo da Alemanha224 Vale a pena aproveitar a oportunidade para estabeleceraqui uma comparação-contraste. Desde cedo que os franceses,no domínio do armamento nuclear, insistiram em reter uma forcede frappe autónoma, até mesmo a nível tecnológico-industrial.Opôs-se-lhe a decisão britânica de usar tecnologia provindado outro lado do Atlântico (primeiro a respeito dos mísseisPolaris e depois dos Pershing), o que muito aumentou ainterdependência em relação aos norte-americanos, diminuindoos custos e, no essencial, ampliando enormemente a eficáciado sistema de segurança e defesa do Reino Unido, um dospilares históricos da Europa. A reaproximação britânicaculminou depois do fim abrupto da détente, em 1979, com ainvasão soviética do Afeganistão e a subida ao poder, em1980, de Ronald Reagan e a sua consequente ligação especialcom Margaret Thatcher: iniciou-se aquilo a que muitosanalistas chamaram “the New Cold War”, com uma aceleraçãoinusitada em tempo de “paz” da corrida aos armamentos entreos dois blocos. Do lado norte-americano, em todo o caso, nãohouve nesse novo período nenhum desinvestimento na ligaçãoestratégica à Europa, bem pelo contrário. Um exemplo disso(para além da reacção de mão pesada aos SS-20) deu-se logo apartir de meados da década de 70, quando a supremacia navalda NATO no Atlântico norte (essencial, tal com a base dasLajes, para reforçar a frente europeia no caso de eventualinvasão do Continente com os famigerados tanques provindos doleste) foi posta em dúvida pela expansão das capacidades daMarinha de Guerra soviética, deslocada a partir de Murmansk,no mar de Barents. O eventual desequilíbrio (porventura maissentido que real) foi sol de pouca dura; logo em 1981, RonaldReagan, no quadro, aliás, do rearmamento generalizado queliderou, respondeu com um ressurgimento em força que ficouconhecido como “the Maritime Strategy”.
399
e de um medo das pretensões político-territoriais da Europa Ocidental em relaçãoà de Leste. Re-emergiram, em momentos-chavecomo os processos de alargamento da UniãoEuropeia nos anos 70 e 80, os processos dereformulação e alargamento da NATO depoisda dissolução-fragmentação da URSS e, emcasos avulsos como a contenção nos anos 90de uma ex-Jugoslávia explosiva, na abertura“a leste” esboçada na passagem do milénioou, hoje em dia, tanto na concretizaçãodisso quanto nas movimentações e nosalinhamentos que rodearam a questão doIraque. O processo, é verdade, não tem sidolinear: os avanços foram sempre sendoatenuados por recuos. Mas embora aprogressão geral fosse inexorável, o factoé que a nível de defesa e segurança poucofoi aquilo que efectivamente aconteceu.Nisso, a distância entre as declaraçõesretóricas de intenção e as práticasconcretas manteve-se. O que não deixa deser significativo.
As involuções (no sentido de “os passosde dança”) deste verdadeiro minuete sãonossas conhecidas. Um giro foi aquele dadocom as negociações225 conducentes à
225 As notáveis “Conversações Dois mais Quatro”, quedecorreram entre finais de 1989 e Setembro de 1990 emdiversas Cimeiras ao mais alto nível e culminaram com umlongo encontro entre George Bush (pai) e Mikhail Gorbatchov,envolvendo as duas Alemanhas e as quatro potências Aliadas, aUnião Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e aFrança. Para uma discussão fascinante da “racionalidadeargumentativa” destas negociações, ver Thomas Risse (2000:
400
reunificação da Alemanha e à inclusãoparalela e simultânea da nova unidade naNATO, mediante uma conjugação de restriçõesquanto ao estacionamento de tropas daAliança no leste do país reunificado com apromessa de uma transformação programáticadesta última de coligação militar anti-Soviética para uma instituição cooperativade segurança: o que redundou na delineaçãode uma nova arquitectura de segurança edefesa para a Europa226. A criação,
23-28). Risse conta, designadamente, como G. Bush logrouconvencer M. Gorbatchov (para grande desalento dosconselheiros deste último, que em resultado desencadearam umadiscussão fervorosa ali mesmo, no decurso da reunião cimeiraentre os dois Chefes de Estado) da bondade da unificação,apelando para o efeito a convicções que sabia serempartilhadas pelo líder soviético, nomeadamente o papel e ospressupostos da OSCE e o direito inalienável àautodeterminação dos alemães como de todos os outros povos.Descrições mais impressionistas (e que reflectem algumaselectividade nas reminiscências) podem ser encontradas nosvolumes de Memórias de Mikhail Gorbatchov, James Baker, Hans-Dietrich Genscher e Edvard Shevardnadze.226 Curiosamente, aliás, nessas a vários títulosextraordinárias conversações “Quatro mais Dois”, e face a umaconjuntura negocial em que todos pareciam temer asconsequências de uma reunificação que reconstituísse umaGrande Alemanha e a deixasse em roda livre, os argumentos queparecem ter sido mais persuasivos foram precisamente os dosnorte-americanos, que insistiram (neo-realisticamente) queuma Alemanha integrada na NATO e em que se mantivessem tropasnorte-americanas ofereceria melhores garantias de segurançaque uma Alemanha neutra, como desde os anos 50 o preferia adoutrina estratégica soviética. As partes concordaram com asolução liberal segundo a qual competia aos alemães, emvirtude do princípio da autodeterminação consagrado entreoutros pela OSCE, decidir se desejavam integrar a Aliança.Para uma discussão pormenorizada, ver Philip Zelikow eCondoleezza Rice (1995: 184) e Thomas Risse (2000, op. cit.: 25-28).
401
imediatamente subsequente, pelo Tratado deMaastricht de 1992, de uma “unidade”política e económica europeia mais densa eintensa foi outro compasso harmónicoimportante. Tal como o foram, ao longo dosanos 90, as respostas político-militareseuropeias face às crises sucessivas queassolaram os Balcãs, e em reacção às quaisse começou a esboçar o projecto (mas tão-somente o projecto) de uma política externae de segurança e defesa europeias. Apreponderância manifesta dos norte-americanos na condução militar e políticadas operações, primeiro em 1995 na Bósnia-Herzegovina, e depois em 1999, no Kosovo,acordaram a vontade de criação de umacapacidade militar europeia independente,que limitasse uma dependência que o fim daGuerra Fria tornara obsoleta aos olhos dealguns e que a vontade de nas novasconjunturas emergentes em delinear umapolítica externa própria tornaraimprescindível.
Nova fase do minuete parece ter sidoiniciada perto do virar do milénio, numaconjuntura em que se tornara evidente tantoa descolagem tecnológica e armamentista deuns Estados Unidos cada vez mais bemequipados e apetrechados227 face a uma Europa227 Não vale a pena fornecer aqui mais, a este respeito, doque alguns elementos diacríticos desta mudança. Com o fim daGuerra Fria, os países europeus diminuíram por norma as suasdespesas militares. Não os Estados Unidos: em 2002, a maisbem armada das dezassete maiores potências do Mundo, os EUA,detinha mais poder de fogo do que as outras dezasseis juntas.
402
militarmente cada vez mais enfraquecida,quanto à profundidade da alteração decircunstâncias nos panoramas internoseuropeus e internacionais num sentido maisglobal e abrangente. Era a própria essênciadas involuções emparelhadas que parecia irmudar.
Decerto denotando consciência dosriscos, um novo e arriscado passo de dançafoi executado: em finais de 1998, numainiciativa política audaciosa quesurpreendeu muita gente, Tony Blairestendeu a mão a Jacques Chirac, numatentativa de agregar as duas potênciasnucleares da União Europeia em redor de umprojecto comum de defesa gizado apenas emparte fora do quadro da NATO228. De uma formasurpreendente para muitos observadores eespecialistas, assim se encetou o chamado
Um “avanço” que tende a aumentar. No artigo já citado, F.Zakaria (2003, op. cit.) nota que “the crucial measure of military might inthe early 20th century was naval power, and Britain ruled the waves with a fleet aslarge as the next two navies put together. By contrast, the United States will spendas much next year [2004] as the rest of the world put together (yes, all 191countries). And it will do so devoting 4 percent of its GDP, a low level by postwarstandards”. Uma claríssima hegemonia político-militar.Evidenciada, por exemplo, no desenrolar fulgurante da SegundaGuerra do Golfo.228 Como também o Tratado de Amesterdão o fez. Mas, (demaneira significativa) apenas e não totalmente. E emsubordinação explícita e absoluta em relação a esse quadro. Oartigo 17.º, número 1, do Tratado de Amesterdão (2001: 11)declarava que “a política da União [...] respeitará asobrigações decorrentes do Tratado do Atlântico-Norte paracertos Estados-membros que vêem a sua política de defesacomum realizada no quadro da organização do Tratado doAtlântico-Norte (NATO) e será compatível com a política desegurança e defesa comum adoptada nesse âmbito”.
403
“processo de St. Malo”, com negociaçõesentre as duas potências nucleares da UniãoEuropeia. Mas a sua eficácia tem sidoduvidosa; cinco anos depois, em 2003, nemos 60 mil homens tidos como imprescindíveistinham sido mobilizados para a ambicionadae programada Força de Intervenção Rápidaeuropeia229, nem a PESC (para dirigir osdestinos da qual fora avisadamente eleitoJavier Solana, até aí Secretário-Geral daAliança Atlântica) realmente avançara, nemo projecto parecia já minimamentecredível230. Pior, o processo de certo modocomo que retrocedeu: como é bem sabido, em29 de Abril de 2003, franceses e alemães
229 Uma ideia adaptada do original norte-americano. O ano de1979 (como antes o fora o de 1975) foi de algum modo um annushorribilis para a segurança ocidental. Nesse ano a URSS invadiuo Afeganistão. O regime do Xá da Pérsia, Reza Pahlevi, ruiu efoi substituído por uma teocracia liderada pelo AyatollahKhoimeni. Assustados com eventuais intuitos hegemónicossoviéticos numa Ásia central de importância geoestratégicacrescente (sobretudo para a URSS, cujas fronteiras confinavamcom essa região na sua instável soft belly islâmica, e ademaisdesejosa de adquirir acesso aos “mares quentes” do sul), aAdministração dos Estados Unidos desenvolveu o conceito deuma Rapid Reaction Force para eventual interposição na zona,dedicada no essencial à protecção do Irão.230 Para uma discussão interessante dos motivos para estefalhanço histórico, é útil a leitura de Robert Kagan (2003:49-55), que os localiza “somewhere in the realm of ideology”, e comalgum reduccionismo, como já indiquei, os vê como resultadoda “fraqueza pós-moderna” de uma Europa kantiana por obra egraça de uma protecção assegurada pelos norte-americanos.Tudo se tornaria seguramente mais claro e inteligível seKagan, em vez da sua alusão construtivista a uma “ideologia”,tivesse aludido explicitamente ao nacionalismo unilateralistaque tem sempre sido apanágio da política externa moderna doEstado francês.
404
(com o apoio de dois dos países do Benelux,a Bélgica e o Luxemburgo) ensaiaram aconstituição de uma força militar conjuntaautónoma, no seguimento, aliás, da reacçãode repúdio antes esboçada em resposta ao“unilateralismo” norte-americano quefranceses e alemães insistiram emvislumbrar na intervenção coligada levada acabo no Iraque.
Um terramoto? Um mero gesto retórico,inconsequente? Em finais do decénio, umanalista norte-americano influente, SamuelHuntington (1999)231, pôde asseverar que umaEuropa a crescer a olhos vistos viria atornar-se num outro “pólo” de um mundo“multipolar” que se iria, em sua opinião,seguir ao panorama “uni-multipolar”existente desde o rescaldo da Guerra doGolfo em 1991. Foi uma ilusão que o papelrotundamente preponderante dos EstadosUnidos na Bósnia-Herzegovina em 1995atenuou e essa mesma centralidade (em 1999,quando da intervenção da NATO no Kosovo)estilhaçou, ao demonstrar que, longe dediminuir, o gap tecnológico-militar entre aEuropa e os Estados Unidos tinha-seentretanto continuado a ampliar de formasubstancial. Uma descolagem que o tempo eos acontecimentos dramáticos que sesucederam iriam aprofundar.231 Um artigo notável do célebre autor das famosas teses deque estaria iminente um Clash of Civilizations, em que parece terhavido algum recuo de Huntington no que toca à aplicação“mecânica” do modelo antes desenvolvido.
405
Cedo isto se tornou claro. Depois do 11de Setembro de 2001, numa situação em queos norte-americanos aumentaram em flecha afatia do seu orçamento dedicada à defesaenquanto os europeus continuavam a diminuiras suas232 (com raras excepções, sobretudo aLeste), tornava-se cada vez mais difícilargumentar que a “estrutura da conjuntura”concentrada no pas de deux entre a Europa e osEstados Unidos não estaria verdadeiramentea alterar-se de forma qualitativa. Tratava-se, bem pelo contrário, de uma evidênciaque entra pelos olhos dentro. Cada vez maisé mais nítido o objectivo central dapolítica externa norte-americana deassegurar a sua posição hegemónica na ordeminternacional em mudança; em simultâneo como novo unilateralismo a que isso dá corpo;e re-emergem do outro lado do Atlânticoteses isolacionistas que podem sugerir aeventualidade de um eventual rápidodesinvestimento político-militar norte-americano na Europa. Enquanto a finalidade232 Para uma discussão construtivista sobre as pretensões daUnião Europeia em se tornar um actor militar global, baseadano essencial em documentação do Conselho de Ministroseuropeus e nas construções discursivas de Javier Solana, vero artigo de Henrik Larsen (2002). Larsen conclui que o“discurso dominante” durante os anos 90, que se manteve nochamado “processo de St. Malo”, tem vindo a retratar a Uniãocomo uma potência no essencial civil, que mobiliza meios depoder sobretudo políticos e económicos: uma modelizaçãoperfeitamente compatível, curiosamente, com as teses de R.Kagan, embora nenhum deles cite o outro. Segundo H. Larsen,um discurso construtivista como esse “explica” (no sentido emque é congruente com) o foco regional da União Europeia e oseu uso limitado de meios militares.
406
de muitos dos políticos europeus (não sepode, em boa verdade, aqui aludir numsentido útil a uma qualquer “políticaexterna europeia”233) é a de contrariarprecisamente uma ou outra dessaspretensões, muitas vezes abusivamentetomadas como sendo antinómicas.
3.
No que precede, e sem de maneiranenhuma ensaiar um levantamento exaustivode um primeiro plano, como lhe chamei, fizaté aqui questão de me deter um pouco maisno período coberto pela vintena de anosimediatamente posterior ao fim da 2.ªGuerra Mundial. Não o decidi fazer com aintenção de propor uma qualquer linha dedesenvolvimento de uma “história” dasinstituições envolvidas. Antes ensaieideslindar um fio condutor, por muitoredutor que fazê-lo possa significar.Tentei um levantamento parcial e selectivode algumas das linhas de força dos inúmerosacontecimentos e decisões tomadas nesteintervalo de tempo, empreendido de maneiraa melhor pôr em evidência os fundamentos emque se foi gizando a conjuntura actual e os233 O que antes era mais um problema para os americanos do queporventura hoje em dia o será. No que dizia respeito ao tempoda Administração Nixon, Henry Kissinger desbafou lamentando-se de não ter “a single telephone number to call in Europe”. O facto éque, trinta anos volvidos, um “telefone vermelho” europeucontinua a brilhar pela sua ausência.
407
mecanismos de expressão de uma fissuraentre um eventual eixo americano-britânicoe um hipotético eixo franco-alemão nocontexto particular da interacçãotransatlântica.
Não é no entanto o plano da segurança eda defesa o único em que tem tido lugar agestação da entidade que viríamos adenominar União Europeia. Como houveoportunidade de verificar, um segundoplano, menos directamente histórico epolítico-estratégico e mais político-económico e financeiro, colocou-se-lhe amontante. Este segundo plano éconceptualizável como um domínio noessencial de natureza organizacional. Para oesboçar, importa sublinhar as propriedadesespecíficas deste outro plano que temcondicionado em muito a progressivaconstituição dessa nova entidadeintergovernamental (e, nalgum sentido,supranacional) que os Europeus vieramintroduzir nos palcos internacionais.Apesar daquilo que antes já sobre esteplano tive a oportunidade de dizer,delineá-lo requer um esforço, menos linear,de repescagem de dados. No intuito demelhor o compreender, ou o cartografar, háque voltar atrás na sequência cronológicados acontecimentos; para trazer àsuperfície os seus atributos ecaracterísticas é imprescindível retomar aquestão político-militar como contexto, o
408
que põe bem em relevo a hierarquia dosconstrangimentos no que toca a estes tãocomplexos processos.
Vale a pena mais uma vez começar pelopano de fundo organizacional-histórico,agora de um outro ângulo. Ao contráriodaquilo com que os líderes Aliados, pelamão de Winston Churchill e de FranklinDelano Roosevelt pelo menos, tinhamidealizado como modo de conquistar a paz, oMundo do pós-1945 cedo descambou. O queveio à tona foi, não numa ordeminternacional liberal e multilateral comofora sonhado e traçado a compasso eesquadria em Bretton Woods em Julho de1944, ou em S. Francisco (Dumbarton Oaks)no mês seguinte de Agosto, e depois, emFevereiro de 1945, em Yalta, sob aprotecção de um sistema neo-wilsoniano de“segurança colectiva”. Não se tratou, emboa verdade, de uma entrada em força dosistema das Nações Unidas como “umainstância de governação global”. A ONUredundou no essencial num arranjo deEstados, que se saldava em pouco mais, nofundo, do que um upgrading da extinta e coxaSociedade das Nações nascida em Versaillesem 1919 pela mão de um Woodrow Wilson quecom tanta vivacidade (e frustração,decerto, ao ver o Senado imprudentemente
409
não ratificar a adesão a ela dos EstadosUnidos) a imaginara234.
O que depois de 1945 veio à superfície,e se instalou para ficar, depressa secristalizou, antes, numa ordem bipolar. Emresultado, a grande organizaçãointernacional desenhada e instalada viu-sevítima de uma longa paralisia. A paz nãofora afinal conquistada: com a clivagem quese aprofundou e opôs a União Soviética aosseus antigos aliados, segui-se-lhe umaGuerra Fria, para muitos (os menos atentos,diríamos nós hoje com os benefícios daretrospecção) uma contenda inesperada. Aosmilitares no terreno e aos diplomatas naschancelarias, acrescentavam-se, na novaordem internacional, vários tipos de ColdWarriors nos seus gabinetes.
Perante uma ordenação inovadora dascoisas, a nova distribuição do poder noMundo pós-1945 não foi de factoinconsequente. Dois grandes blocos,fortemente armados e tanto política comomilitarmente hegemónicos nas suasrespectivas zonas de influência,defrontaram-se um ao outro durante quasemeio século. A estabilidade lograda por um
234 Cf. Henry Kissinger, op. cit.: ibid. e pp. ss., para umadescrição pormenorizada das posturas e tomadas de posição,dos acontecimentos e dos meandros político-burocráticosdestes processos complexos que tão importantes foram para ainstalação de uma nova ordem internacional no pós-guerra. Commuitíssimo maior resolução de imagens, ver o já antesreferido estudo, monográfico mas multi-dimensionado, deMargaret MacMillan (op. cit.: 2003).
410
equilíbrio bipolar simples revelava-se umafórmula relativamente eficaz: finalmente, eapesar do paradoxal que tal possa terparecido aos observadores liberais daépoca, alguma pacificação local foraconseguida na Europa. Longe de umequilíbrio conseguido por mecanismos supra-estaduais de collective security desenhados comfervor e cuidado idealistas, o que no fundose saldava numa nova variante do antigobalance of power, o chamado balance of terror (umequilíbrio tenso, mas bastante estável,viabilizado e exigido pelos novosarmamentos nucleares) foi o que mantevealguma ordem no Mundo do pós-guerra.Instalou-se, pelo menos na Europa Ocidental(como então era chamada) uma paz tensa masaparentemente estável. Uma oportunidadedoirada para reformas de fundo.
E, de facto, políticos e cidadãoscomuns das intelligentsias ocidentais, cedoreagiram a essa nova conjuntura regional eglobal. A situação de pacificaçãoefectivamente favorecia-o. Numa Europadestruída e dorida, em processo dereconstrução acelerada (mas desigual) porobra e graça de um Plano Marshall norte-americano235 e sob a protecção de um nuclear235 Em valores actuais, o Plano Marshall envolveuinvestimentos públicos e privados norte-americanos nareconstrução e reorganização económica da Europa no montantede 120 biliões de dólares US (sensivelmente o mesmo em Euros,à taxa de câmbio actual, meados de 2003). Ao invés do quemuitas vezes se afirma, as iniciativas financiadas e o seucontrolo couberam largamente aos recipientes europeus e não
411
umbrella cauteloso e firme, cedo se começarama sentir clamores, dentro e fora dassociedades civis, que urgiam umareorganização social, política, económica,profundas. Do lado de cá de uma Cortina deFerro menos simbólica do que dolorosamentereal, muitos foram, entre políticos ecidadãos atentos, aqueles que sublinharam oimperativo de conciliar vontades como únicafórmula capaz de minimizar riscos naquiloque viam como um futuro incerto236.
Para além de uma solução político-militar, a saída consensual complementarencontrada foi de algum modoconfiguracional e prendeu-se com umareorganização-reordenamento político-administrativo-económico do VelhoContinente. Por razões políticas eeconómicas mais conjunturais do que aspressões histórico-políticas de fundo quese continuavam a fazer sentir (e de maneiraaté talvez mais aguda e premente), umaintegração regional (a tantos níveisquantos possíveis) da Europa Ocidental, foi
aos investidores norte-americanos. Constituiu um efectivoarranque para os projectos para uma futura União da Europa.236 Da muita bibliografia publicada sobre temas relativos aosmovimentos políticos e sociais desta época, aconselhamos aleitura da fascinante monografia de Frances Stonor Sunders(1999), sobre o papel, sobretudo nos difíceis anos 50 e 60 doséculo XX, das agências norte-americanas de informações naformatação de uma opinião pública europeia democrática que seopusesse às pretensões hegemónicas de uma União Soviéticaentão ainda capaz de uma grande capacidade de penetraçãonalguns meios intelectuais, académicos e artísticos. Umcontrapeso de peso.
412
tida como sendo coisa imprescindível. Umaespécie de New Deal em versão europeia foiesquissada. O parto não foi difícil: noquadro da reconstrução empreendida, nasciaa par e passo uma “Europa social” comlaivos do welfare system que tantos, nos anos30, tinham só visado ou invocado. A tomadade consciência foi ampla. Do “lado de lá”sentiram-se decerto pressões semelhantes eforam de modo consequente encontradassoluções parecidas; mas não idênticas. Omodelo económico da COMECON era,naturalmente, convergente com as economiasplanificadas e a lógica implícita dedivisão do trabalho que tal modelizaçãosugeria. O modelo político também seguia deacordo com coordenadas próprias econjunturais. Se o Bloco de Leste achou porbem, certamente no intuito de assegurar asua própria sobrevivência, criar ao seuredor o que no fundo redundava num cordãosanitário, uma espécie de Linha Maginot emgrande escala237, os Europeus Ocidentaispreferiram organizar-se num bloco coeso eimpermeável q.b., para assim garantir peloseu lado alguma autonomia238. Nada disto é237 Exigência, aliás, da doutrina estratégica soviética que,nisso, seguiu de perto uma tradição czarista antiga. Umadoutrina, efectivamente, de longa duração: muita da oposiçãocontemporânea da Rússia de Vladimir Putin ao recente acordode alargamento da NATO corresponde a considerandosgeoestratégicos que fluem das versões actuais dessa mesmadoutrina.238 Muitas outras eram as diferenças estratégicas e“texturais” existentes entre os dois blocos, e designadamenteentre o par COMECON-Pacto de Varsóvia e o emparelhamento
413
surpreendente: como seria de esperar, cadabloco reagiu em termos congruentes com ostemores e as certezas que sustentava sobreo seu próprio futuro. A nível militar toutcourt, como vimos, reinava o mesmo tipo deconvicções, ou pelo menos dominavamopiniões com implicações semelhantes239.
Alguma razão havia de facto para isso.Aquilo que teve lugar foi uma espécie derescalonamento face a uma nova ordenaçãointernacional das coisas em que o tamanho ea dimensão relativas tinham a suaimportância. Para além de ter sido (esta épelo menos uma interpretação possível, quemuitos não deixaram de fazer) um gestosensato e cordato de resistência a ameaçasmúltiplas, executado, à boa maneira deeuropeus experientes em questões dediplomacias em conjunturas por alguns(nomeadamente os franceses) lidas comosendo de um balance of power, sem fecharquaisquer portas. Tratava-se, com efeito,
paralelo Comunidade Económica Europeia-NATO. Parece-me, noentanto, que a nível macro a distinção proposta tem algumfundamento já que encontra algum eco empírico nos factos eprocessos vividos.239 Se isto foi verdade nos domínios organizacionais maispolíticos como lhes chamei, é de frisar que um mesmo tipo depressão se fez também sentir em áreas mais estritamentemilitares. Do ponto de vista da segurança e defesa, e face àsresistências e renitências soberanas de muitos dos Estadoseuropeus, a coligação com os Estados Unidos, senhores doumbrella e a grande potência deste lado das barricadas, umacoligação a que a Aliança Atlântica cedo deu corpo (logo emAbril de 1949), apareceu como uma solução providencial.
414
de uma boa solução estratégica em váriasfrentes.
Nos termos destas outras pressões etambém desde o seu início, a União Europeiafoi um projecto económico e sociopolíticode afirmação própria, de abrangência emrelação ao cíclico “perigo alemão”, e decontenção da expansão do comunismo no VelhoContinente. Designadamente, uma fórmulaque, em simultâneo, permitia aos europeusincluir os alemães, aplacar os medos dosfranceses, erguer-se ao nível dos norte-americanos e distanciar-se dos soviéticos.Se a NATO foi celebremente definida porLorde Ismay240, seu primeiro Secretário-Geral, como uma maneira to keep the Americans in,the Russians out, and the Germans down, talvez nãoseja totalmente descabido entrever aintegração europeia como uma agendadelineada para, em paralelo, keep the Germansin and keep the Russians out by growing to an Americanscale and organizing up to an equivalent level ofintegration, while trying not to frighten away theFrench241.
240 Um famoso General, Chefe de Estado-Maior das ForçasArmadas britânicas durante a invasão da Normandia, e tal comoprimeiro F. D. Roosevelt, depois W. Churchill, um fogoso“inimigo de estimação” de Charles de Gaulle, que os Aliadosconsideravam um “oportunista” ignóbil e um “traidor” empotência à causa democrática. São bem conhecidas ashesitações firmes e o desprezo de F. D. Roosevelt em relaçãoao General de Gaulle.241 Se bem que esse não seja o tópico do presente trabalho,vale a pena notar que o formato-solução idealizado pelaspotências vencedoras e proposto em 1945, depressa se mostroudesadequado: entretanto, a distribuição do poder no Mundo
415
Antes de passar ao ponto seguinte,importa fazer aqui uma breve excursão a umtema lateral: o do papel preenchido pelosnorte-americanos neste processoorganizacional. Trata-se de um papel muitasvezes mal entendido na Europa. Com efeito,seria abusivo conceptualizar orescalonamento e a organização almejadoscomo tendo sido gizados em oposição aosnorte-americanos. Nisso, e este ponto nemsempre é devidamente reconhecido, oprojecto europeu desde sempre teve o apoiooficial explícito dos Estados Unidos daAmérica. Basta ampliar imagens no que tocaà história da política externa norte-americana do pós-guerra para o confirmar.Mais uma vez sem pretendermos ser mais doque indicativos quanto a processosintrincados e complexos: o Plano Marshall
alterara-se e os arranjos estruturais internos da ONU jádesde há muito tinham deixado de representar bem a novageometria emergente. A relação Europa-Estados Unidos daAmérica foi desde cedo disso uma vítima, infelizmente nemsempre como tal reconhecida. As dissensões, quando não asconfrontações, multiplicaram-se. Nesse como noutros fora,arenas cada vez mais importantes num Mundo cada vez maismultilateral, muitos Estados europeus sentiram mais e maisque a sua representação avulsa se revelava insuficiente paragarantir que os seus interesses fossem devidamenteprecavidos. Acresce que muitos nos Estados Unidos começarampelo contrário a decifrar a nova ordem pós-bipolar como “ummomento unilateral”, de que havia que tirar benefícios. NumMundo palco de desigualdades crescentes e com perspectivastão dissonantes, a aquisição de uma voz forte e grossamostrou-se imprescindível aos olhos da maioria dos europeus.Uma voz que a Europa ainda não tem, mas de que tem nosúltimos anos andado claramente (com PESCs e PESDs e Missõesde Petersberg, etc.) à procura.
416
(posto em prática pela Administração deWashington em aplicação directa da famosaVandenberg Resolution de Março de 1948242), deuum enorme estímulo à criação da RepúblicaFederal Alemã e à gestação da NATO “porcima” de uma UEO que, como vimos, depressafoi considerada como sendo insuficiente. Doponto de vista norte-americano internotratou-se de uma clara vitória da DoutrinaTruman, como foi crismada: uma longa fasede um isolacionismo que se revelava sercíclico cessara243.
O apoio público norte-americano àconstrução e solidificação de uma Europademocrática não deixou dúvidas a ninguém;como Henry Kissinger, um americano deorigem europeia, hiperbólica mascerteiramente escreveu, “ajudando a242 Como notou num recente artigo de opinião o antigoSecretário-Geral da UEO, José Cutileiro (2003), mais do quesimbólica, a data era apropriada: urgia fazer alguma coisa deconcreto no mesmo fatídico mês de Março de 1948 em que ostanques e Estaline irromperam pela Checoslováquia adentro eBerlim se viu transformada numa cidade bloqueada, numaantecipação avant la lettre daquilo a que os soviéticos viriam aapelidar de tolerância de uma “soberania limitada” a Leste.243 As novas conjunturas assim o pareciam aconselhar. Comolembrou R. Kagan (2002, op. cit.: 14), “when the Cold War dawned,Americans such as Dean Acheson hoped to create in Europe a powerful partneragainst the Soviet Union”. A essa função cedo se veio juntar opapel de “tripwire”, de primeiro palco para uma eventualconfrontação com o bloco soviético. Contrasta com estaperspectiva (ainda que Kagan lhe não aluda) a curiosainterpretação “culturalista” de Thomas Risse-Kappen (1996),segundo a qual a NATO seria, no essencial, uma comunidade quecongrega uma “família” cultural; um modelo que temdificuldades em explicar a pertença à Aliança de Estados comoa Turquia, ou a entrada nela de Portugal, da Espanha e daGrécia, todos eles então Estados não-democráticos.
417
reconstruir a Europa, encorajando a unidadeeuropeia, criando instituições decooperação económica e ampliando o quadroprotector da nossa aliança, salvaram aspossibilidades da liberdade. Essa erupçãode criatividade é um dos momentos gloriososda história americana”244. Havia decerto paraisso fortes pressões conjunturais. Durantemais de cinquenta anos, os Estados Unidos ea Europa colaboraram num grande projectoestratégico transatlântico cujos objectivoseram os de criar um Continente próspero,democrático e em paz, livre de ameaçasinternas e externas245. A ideia norte-244 Henry Kissinger (1979). Estas frases de Kissinger foramcitadas num artigo de José Cutileiro, intitulado “O fosso”,publicado no Expresso, na p. 24 do caderno 2, a 8 de Março de2003. Cutileiro, nesse curto artigo, intitula essa ajuda “apedra sobre o qual o mundo livre assenta há mais de meioséculo”; uma pedra que, lamenta, “foi rachada da alto abaixo” com a crise recente que se saldou em numerosas tensõesentre os Estados Unidos e o eixo franco-alemão a pretexto daquestão iraquiana. É interessante verificar, neste processo,a instrumentalização da figura do General de Gaulle: o mesmode Gaulle que, note-se, apoiou imediata e incondicionalmenteo Presidente John F. Kennedy e a Administração norte-americana durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962; nadadisso tem impedido Jacques Chirac de se apresentarpublicamente como estando a assumir uma postura “gaullista”.Como com admirável lucidez escreveu Fareed Zakaria (2003, op.cit.), “France’s Gaullist tendencies are, of course, simply its own version ofunilateralism”. Um ponto de que muitos francófilos não-francesesparecem não ter suficiente consciência.245 Como à época foi afirmado, com o objectivo de retomar “umatradição europeia de paz”. Tendo em vista a história daEuropa, uma asserção verdadeiramente extraordinária nooptimismo. Vale a pena aqui uma pequena excursão marginal. Ointerregno de pacificação relativa vivido no século XIXdeveu-se segundo os defensores desta opinião a uma bem-vindaPax Democratica, que por sua vez resultaria de uma reputada
418
americana de um partenariado europeu varioucom o tempo e o andar das coisas; masmanteve-se. A visão, ambiciosa,integracionista e interessada de HarryTruman substituiu as intenções de FranklinDelano Roosevelt de arredar definitivamentea Europa dos palcos internacionais depoisdas duas guerras mundiais sucessivas porela causadas.
Ao apoio da Doutrina Truman seguiu-se avontade explícita de Dwight Eisenhower deque emergissem os “United States of Europe” àimagem e semelhança dos Estados Unidos daAmérica, a que o Presidente norte-americanoaludia com frequência como a “terceira
falta de propensão das Democracias para os conflitos de umascom as outras. Uma posição algo voluntarista que data davisão kantiana da “Paz Perpétua” e de uma “união republicanapacífica”, que tem sido desde os anos 80 ecoada por diversosespecialistas liberais de teoria das Relações Internacionais,e nomeadamente por Michael Doyle (e.g. 1996). Para umadesconstrução sistemática desta asserção liberal clássica,ver Vasco Rato (1998). A nível das suas “condições depermissibilidade”, a expansão verificada decerto muito ficoutambém a dever à Pax Economica, ao reconhecimento, pelospoderes de então, dos alegados inconvenientes da guerra paraum comércio internacional que a industrialização acelerara demaneira nunca antes vista. Mas a dívida também foiseguramente grande em relação ao “scramble for Africa” (e alémdisso “for Asia”) que as acompanhou. Para umarecontextualização ainda mais ampla do problema, fascinantenas implicações, no quadro dos processos de integração globale de uma redefinição “marxizante” de conceitos, ver TarakBarkawi e Mark Laffey (1999). É extensa a bibliografiacontemporânea mais recente a este respeito. Para discussõesdetalhadas, escritas de uma perspectiva favorável aos norte-americanos, ver Robert Kagan (2003), e ainda Ronald D. Asmuse Kenneth M. Pollack (2002), “The new Transatlantic Project”, PolicyReview 115, The Hoover Institution.
419
força”, no contexto da Guerra Fria246. JohnF. Kennedy era um quasi-incondicional de umamaior integração da Europa e, se temiaalguma coisa, era um atenuamento e umesbatimento do supra-nacionalismo europeuuma vez removidas as objecções francesas àacessão da Grã-Bretanha como Estado-membro.É bem verdade que, no interlúdioRepublicano que se seguiu, algumas dúvidasconjunturais significaram um módicoretrocesso no apoio norte-americano àintegração da Europa: Ronald Reagan,apoiando-se no “eurocepticismo” militantede Margaret Thatcher, não foi propriamenteum entusiasta do “welfare State” que ambosatribuíam à “dupla socialista” JacquesDelors-François Mitterrand. Mas tratou-sede uma resistência leve, passiva epassageira. Empolgado com a implosão daUnião Soviética, a Queda do Muro de Berlime a democratização das “soberaniaslimitadas” da Europa de Leste, George Bush(pai) via a Alemanha como o “líder natural”de uma “nova Europa”, aliada e coesa.
246 Ecoando, aliás, a célebre asserção construtivista de SirWinston Churchill, que no pós-Guerra insistira serimprescindível que a Europa se transformasse numa “kind of UnitedStates of Europe”.
420
Apesar de uma maior frivolidade247, aAdministração Clinton não foi dissonante248,como o demonstraram tanto o apoio à Europano que tocou à Bósnia-Herzegovina, em 1995,quanto a disponibilidade para liderar asacções da NATO no Kosovo, em 1999: em ambosos casos, tratou-se de intervenções em queos Estados Unidos se embrenharam,contrafeitos249, em nome da estabilidade daEuropa e em nome, de modo expresso, daligação transatlântica. A anuênciarelativamente à vontade europeia de criaçãode uma força militar autónoma deintervenção rápida, esteve em sintonia comessa postura geral250 de uns Estados Unidos
247 Um só exemplo, relativo a uma questão ligada ao que aquidiscuto. Num artigo recente, Robin Harris (2002) escreveu que“the former US Ambassador to the Court of St. James, Ray Seitz, recalls in hisautobiography preparations for President Bill Clinton’s first meeting with Britain’sthen–prime minister, John Major. Sitting in the Oval Office, the president wasreminded by one of his aides to mention the magic phrase ‘special relationship’.‘Oh yes,’ said Clinton. ‘how could I forget?’. And he burst out laughing”.248 Bill Clinton apoiou explicitamente, por exemplo, a criaçãoda moeda única europeia, o Euro, apesar das vozes que naEuropa insistiam que a primeira finalidade desta seria a defazer frente ao Dólar norte-americano.249 Como o atesta a famosa recusa inicial do Secretário deEstado James Baker em intervir na turbulência que em meadosda década de 90 começou a fervilhar na ex-Jugoslávia, com oargumento realista de que “we have no dog in that fight”.250 Ao contrário do que muitas vezes tem sido aventado, não seencetou verdadeiramente um processo simples de compressão daEuropa e das suas extensões pelos norte-americanos. Ou, pelomenos, não se tratou de um movimento unidireccional, se bemque esse tenha decerto sido um dos ingredientes; a atestá-loestá o famoso desabafo de Adlai Stevenson, a pensar no fim dahegemonia britânica e na tomada dessa posição pelos norte-mericanos: “now it´s our turn”. Essa perspectivação é todaviabastante parcial e muitíssimo reducionista. Uma outra boa
421
que continuavam a operar nos termos damesma doutrina “clássica” legada por HarryS. Truman. George W. Bush, pelo menos nosprimeiros tempos da sua Administração, nãofoi uma voz dissonante num coro que jávinha de trás: afirmou formalmente numdiscurso em Berlim, em 2002, que “when Europegrows in unity, Europe and America grow in security”.
É certo que, se bem que a muitos níveisa diferença de atitude face a uma e a outrapor via de regra tenha sido nítida, oamparo norte-americano à Europa nem sempreincluiu distinções finas entre a AliançaAtlântica e a União Europeia. Porventuraporque, vistas do outro lado do Atlântico,as coisas não fossem de fácil dissociação251.maneira de pôr as coisas é afirmando que, pelo contrário,foram os europeus que, uma vez tornadas evidentes asvantagens da escala, apanharam o barco e se decidiram poradquirir um peso e tamanho semelhante ao dos Estados Unidosda América. Como, aliás, não podia deixar de ser se oseuropeus não fossem cegos. Bastava, com efeito, olhar para oMundo para o compreender. Para um eficaz exercício de um novotipo de poder, num Mundo simultaneamente maior e maispequeno, e face a blocos com core powers enormes, como o norte-americano e o soviético, tornava-se imperativo aumentar detamanho e peso. As lições sucederam-se. Acontecimentos deimplicações cada vez mais globais, como a crise do petróleode 1973, ou a implosão da União Soviética, em 1989, vierampô-lo em evidência. Ao abrir-se, o Mundo regionalizara-se emgrandes unidades.251 Ou talvez como consequência da relativa indiferença comque a União Europeia sempre tendeu a ser olhada a partir dolado de lá do Atlântico, associada ao facto de para osestrategas norte-americanos a Aliança, durante o período daGuerra Fria, ter tido, ainda que decerto entre outras, afunção de assegurar a criação de um primeiro teatro deoperações (a Europa) num eventual conflito com a UniãoSoviética. Decerto em parte por esse tipo de razões (evitar aeclosão de conflitos no Velho Continente e fazer frente,
422
Seja como for, hoje as pedras de toqueestão no seu lugar. Todas as grandesquestões estratégicas que durante toda asegunda metade do século XX preocuparam os“trumanistas”, tanto de lá como de cá doAtlântico, parecem estar bem e seguramenteencaminhadas: o “problema da Alemanha” e doseu lugar na Europa, uma articulação entrea Europa ocidental e a Oriental, a aberturaa um gigante russo democratizado. Comoescreveram R. D. Asmus e K. M. Pollack, “ifHarry Truman and his European counterparts could lookdown upon us today, they would undoubtedly be proud ofwhat has been accomplished in their name”252.Seguramente.
Mas tratou-se, além disso, de umamanifestação de afinidade. Facto que, semexagerar o seu alcance, importa afirmar.Para tornar a dar palco à postura
primeiro à URSS e depois ao terrorismo internacional) desde ofinal da 2.ª Guerra que a América tem promovido a ideia deuma “ever closer union” na Europa. Em 1948 foi fundado um AmericanCommittee for a United Europe, ao qual pertenciam, por exemplo,Allen Dulles, o histórico Director da CIA (cf. Charlemagne,2003a: 25); durante duas décadas, através de indivíduos eorganizações, esse Committee canalizou fundos para a entãoCEE, ajudando a escorar a sua consolidação.252 Op. cit.: 1. Numerosos autores têm vindo a circunscreverposições-leituras deste tipo. Uma perspectiva mais neutral emenos moralizante (mas também mais inclusiva) foi a oferecidapor Martin Shaw (1997: 501 e ss) que, no quadro e umainterpretação weberiana “clássica” do Estado como centroautónomo e monopolista da força político-militar, argumentouque com a NATO viveríamos numa fase de criação de “um Estadoocidental” cuja edificação terá tido o seu início nosprojectos pós-Guerra de reconstrução, ajuda e cooperaçãoeconómica, política e militar. Para uma interpretação mais“imperial”, cf. Tarak Barkawi e Mark Laffey (1999, op. cit.).
423
voluntarista de Robert Kagan253: “the moreimportant American contribution to Europe […] stemmednot from anti-European but from pro-European impulses.It was a commitment to Europe, not hostility to Europewhich led the United States in the immediate postwar yearsto keep troops on the continent and to create NATO”.Por detrás do interesse norte-americano emconter uma URSS expansionista, vislumbrava-se sem dúvida algum esprit de corps. Talvez. Masse foi esse o caso, importa frisar que setratou de uma afinidade que, seja qual fora fundamentação invocada, só com uma grandedose de idealismo poderíamos tomar comopermanente254, como aliás a evoluçãosubsequente das coisas tem vindo aevidenciar.
Com efeito, mais recentemente tem-severificado uma propensão que parececrescente para um acentuar de divergênciasentre os dois membros da parelha queidentificámos, a União Europeia e a NATO.Indícios disso incluem desde o “processo deSt. Malo”, à criação da PESC e da PESD, àturbulência associada à invasão do Iraque,ao “novo unilateralismo” e isolacionismo253 Uma afirmação self-serving, apesar de no essencial autêntica,de Robert Kagan, 2002, op. cit.: 14. Para uma leitura históricaalternativa, de um neo-realismo puro e duro, são fascinantesas páginas anti-institucionalistas recentes de Kenneth Walz(2000: 18-26) sobre a evolução do papel da NATO e a suareestruturação e inesperada permanência depois de terminada aGuerra Fria.254 Numerosos têm sido os ensaios e estudos sobre o anti-americanismo na Europa. Menos estudado tem sido o anti-europeísmo norte-americano. Para um ensaio recente sobre esteúltimo tema, ver Timothy Garton Ash (2003).
424
americano e ao reafirmar do fervorunilateralista tradicional francês. A novaconjuntura de divergência está, ao que tudoindica, a assentar arraiais255. Mais uma vezde algum modo indexando as questõespolíticas e organizacionais nas militares,de segurança e defesa.
As questões suscitadas por esse esboçode uma reformulação fundamental das coisassão preocupantes. Pois que o problema defundo mantém-se: para o futuro da Europa,muito no evoluir da situação depende doenquadramento que venha a ser logrado parafazer face à anarquia hobbesiana, interna eexterna, como condição para que se possacontinuar a delimitar, no Velho Continente,o oásis kantiano de “paz republicana” deque temos vindo a beneficiar. E mantém-se,agora num meio político e diplomaticamentemuito mais hostil, em que tanto algunsEstados europeus quanto numerosas dasopiniões públicas no Velho Continente sevêem empurradas pelo cada vez mais claro e255 Variadíssimos têm sido os estudos e ensaios que, de uma oude outra forma, têm vindo a dar voz ora ao alargamento dessafissura, ora ao unilateralismo das Administrações norte-americanas visto como dele concomitante. Citei jácriticamente Robert Kagan, sobretudo os seus trabalhospublicados em 2002 e 2003. Para uma posição com pontos departida em muito semelhantes, mas com conclusões divergentes,é útil a leitura do artigo e da detalhadíssima monografia deCharles Kupchan (ambos de 2002), bem como o longo ensaioanterior de Joseph S. Nye, Jr. (2002); esta linhainterpretativa foi, evidentemente, inaugurada pelo magistralestudo comparativo sobre a mecânica da queda dos grandesImpérios redigido e publicado há uma quinzena de anos porPaul Kennedy (1989).
425
“arrogante”256 ascendente norte-americano atentar contrabalançar o seu poder. Aspressões são múltiplas. Romano Prodi, oentão Presidente da Comissão Europeia,afirmou recentemente (em meados de 2003)que “um dos objectivos principais da Uniãoé o de criar uma superpotência noContinente igual aos Estados Unidos”.Jacques Chirac, na linha de uma “tradição”mais apoiada em Hubert Védrine257 e emDominique de Villepin do que no General deGaulle que prefere invocar, declarou que“precisamos de um meio de combater a256 A expressão é de Fareed Zakaria (2003, op. cit.), quelamenta o facto, enquanto comenta que “perhaps what is mostsurprising is that the world has not ganged up on America already”, dada adisparidade existente de poder e a nova e agressiva políticaexterna da Administração Bush. Não é precisa uma grandeadesão às teses do realismo, ou do neo-realismo, paracompreender a preocupação das potências europeias. Porventuraparticularmente preocupante para muitos europeus (e poucasvezes frisado), tem sido a subalternização a que Bush temcondenado a NATO: a Casa Branca na prática ignorou ainvocação unânime pelos Aliados Atlânticos do artigo 5.º doTratado (que considerou o 11 de Setembro uma agressão atodos), marginalizou com deliberação a Aliança na campanha doAfeganistão e (ainda que de maneira sui generis) na mais recenteacção no Iraque. Bush criou, para algumas das potênciaseuropeias, o que gráfica e porventura premonitoriamente F.Zakaria apelida “the America problem”.257 O famoso Ministro dos Negócios Estrangeiros francês quecaracterizou derrogatoriamente os Estados Unidos pós-PrimeiraGuerra do Golfo como uma hyperpuissance. Tanto um como o outro,parecem ter decidido retomar o ideal de um ascendente que aFrança não conhece desde Charles Tallyerand, desde o iníciode um século XIX pós-Revolucionário em que o país era o maisrico da Europa, a segunda potência demográfica do Continentee, com a célebre “levée en masse” (e um Napoleão que o Duque deWellington, lamentou valer no campo de batalha por 40 milhomens) detinha as mais numerosas e eficazes forças militaresde toda a Europa.
426
hegemonia americana”. Como notou num artigobastante recente o colunista do Economist,Charlemagne258, “given that the Bush administration’ssecurity doctrine is explicitly aimed at preserving thathegemony, it is hardly surprising that the United States isnow a little wearier of the process of Europeanintegration”. O eventual desenlace éassustador. E de pouco serve tentarmosatribuir responsabilidades, sobretudo se ofizermos com base em meras consideraçõespolítico-ideológicas.
A questão é, efectivamente, estrutural.Ainda que os problemas da União possam vira encontrar soluções (nomeadamente noquadro da “constitucionalização” em curso)e os da Aliança também, não é improvávelque as respostas encontradas venham aacentuar de modo insanável as divergênciashoje já tão sensíveis. O que soletrariaestarmos perante uma alteração radical de“regime”: não seria nesse casosurpreendente que os dois pássaros seautonomizassem e voassem cada um na suadirecção. Ou se, para manter o meucruzamento de metáforas, os dois dançarinosse fossem afastando um do outro em piruetase passos de minuete cada vez maisindependentes entre si. Sobreviveriam?
4.
258 Charlemagne, 2003a, op. cit..
427
Proponho-me agora dar um passosuplementar, extraindo do que antes dissealgumas implicações, no contexto de brevescomentários sobre o comparativo sucesso quetem tido a solidificação de políticascomuns europeias no âmbito de justiça e dosassuntos internos. Darei realce a apenasumas poucas, e tão-só em termos genéricos:a livre circulação de pessoas (entendida naacepção da livre passagem das fronteirascomuns dos Estados-membros) e a cooperaçãopolicial e judiciária alargadas (em matériacivil e penal) que, alego, apenas setornaram palatáveis para as grandespotências europeias quando, sob o quechamei o manto protector e tutelar da NATO,estas deixaram de se temer umas às outras.Não é difícil intuir mais do que isso: aabertura proposta a novas políticas devistos, imigração e asilo, combate aoterrorismo e ao narcotráfico, também nãoteriam sido viáveis do mesmo modo sem opapel de guardião, assumido pela AliançaAtlântica, relativamente à velha “anarquiahobbesiana” que forma um dos panos de fundosobre o qual a construção europeia se temvindo a efectuar. A “protecção” não étotal, nem é decerto o único factor emcausa; mas tem sido decerto suficiente paraalguns avanços notáveis em domíniossensíveis.
Naquilo que imediatamente se segue,irei argumentar que a emergência, de facto
428
tão rápida quão surpreendente, de umchamado “espaço europeu de liberdade,segurança e justiça” (o que Maastricht nosensinou a apelidar de o Terceiro Pilar daUnião Europeia) só é verdadeira eintegralmente explicável em termos doquadro antes defendido que põe a par aUnião e a Aliança. O que complementa aquiloque implicitamente argumentei, no queprecedeu, que o subdesenvolvimento doSegundo Pilar da União (a política externae de segurança e defesa) e quanto àsrenitências suscitadas as quais, insisti,também só com esse enquadramento se tornamintegralmente compreensíveis.
Começo por um conjunto de factos bemconhecidos. O Tratado da União Europeia,comummente denominado o Tratado deMaastricht, entrou em vigor a 1 de Novembrode 1993. Trouxe ao projecto europeu umredimensionamento importante:institucionalizou laços de cooperação entreos Estados-membros aos níveis cruciais dajustiça e dos assuntos internos. Aoarticular esforços entre os então Doze, oTratado aproximou com prontidão ostensivauns dos outros os respectivos Ministériosda Justiça e do Interior. Foi assim não sópotenciado o diálogo, mas viram-se tambémactivadas formas múltiplas de ajudarecíproca que inevitavelmente começaram adesembocar em actividades conjuntas e emformas cada vez mais estreitas de
429
cooperação entre Polícias, entre serviçosalfandegários, serviços de imigração e oscongéneres da justiça dos Estados co-signatários. Maastricht foi por conseguinteuma espécie de momento fundador, maiortambém nessa dimensão intergovernamental esupranacional que tanto tem contado paraentrosar entre si os Estados europeus.
Em boa verdade porém, a “CooperaçãoJAI” (como é vulgarmente apelidada estacolaboração mútua no plano “da justiça edos assuntos internos”, de onde o acrónimo)vinha já de trás. O Tratado da UniãoEuropeia, e designadamente o seu Título VI(que abrange a cooperação policial ejudiciária em matéria penal, que constituio chamado Terceiro Pilar da UniãoEuropeia), deu seguimento e inovou numquadro de variadíssimas iniciativas sobrecooperação policial, aduaneira e judiciáriaque tinham tido início nos longínquos anos50. O Conselho da Europa formara o seuâmbito e lugar de implantação. À margem doquadro institucional das então ComunidadesEuropeias, foram formados e reuniam, desdeessa época, diversos agrupamentos de“peritos” especializados em problemasrelativos a esses domínios. A base dessesgrupos era meramente intergovernamental. OTítulo VI não veio por conseguinte senãodar coerência, racionalizar e evitar umadispersão excessiva de esforços ao criar umquadro formalizado e maior para essa
430
cooperação, disponibilizando-lhe oSecretariado Permanente do Conselho,concentrando esforços, nomeando agentes edefinindo instrumentos comuns para o quemuitas vezes eram questões sensíveis atidasa coutadas ciosamente guardadas daquilo queaté à Segunda Guerra Mundial tinham sidoexpressões privilegiadas da soberania dosEstados europeus.
A cooperação JAI incidia, nos termos doseu Título VI, sobre domínios como apolítica de asilo, as regras aplicáveis àspassagens nas fronteiras externas dosEstados-membros, a política de imigração,as lutas contra a droga e a fraudeinternacional, e as já referidascooperações judiciárias em matéria civil,penal, aduaneira e policial. Osinstrumentos criados para lograr adoptarmedidas conjuntas nestes domínios foram a“acção comum”, a “posição comum” e a“convenção”. Em poucos anos foi imprimidauma enorme aceleração ao processo com oTratado de Amesterdão, assinado a 2 deOutubro de 1997 e entrando em vigor em 1 deMaio de 1999. A cooperação maastrichtiananos domínios da justiça e dos assuntosinternos viu-se reorganizada por uma novalinha de horizonte: a criação, a prazo, deum espaço único europeu de liberdade,segurança e justiça. Vários sectores destestrês domínios foram transferidos para oâmbito comunitário (no jargão de Bruxelas,
431
viram-se “comunitarizados”); e surgiramnovos domínios, métodos e instrumentosespecificamente desenhados para melhorpermitir atingir as metas visadas, de parcom a decisão de integrar, no quadrojurídico dos Tratados da União Europeia, o“espaço Schengen”, uma entidade criadatambém à sua margem como iniciativa dealguns do Estados-membros apostados emconseguir desenvolver a livre circulação depessoas na Europa259. Para esses domínioscomunitarizados, passaram com Amesterdão aaplicar-se instrumentos mais robustos, como“regulamentos”, “directivas”, “decisões”.
Para entrever a dimensão do passo dadobasta enunciar as suas implicações no planodifuso da segurança e defesa. Um objectivoprimeiro do processo de construção europeiafoi a criação de um mercado único ao nívelcontinental (ou, pelo menos, ao europeu-ocidental, como então concebido). Adescompartimentalização consequente aboliu(ou reduziu) as fronteiras entremercadorias, capitais e serviços, cujas
259 Em 1985, a França, a Alemanha e os Estados do Beneluxcelebraram, numa base estritamente intergovernamental, oAcordo de Schengen. Em 1990, esse Acordo foi completado poruma Convenção de aplicação. Tal como referi, o Tratado deAmesterdão integrou o acervo de Schengen no quadro da UniãoEuropeia delineada uns meros quatro anos antes em Maastricht.Dois dos Estados-membros não aderiram a Schengen, a Grã-Bretanha e a Irlanda; um terceiro, a Dinamarca, insistiu emdisposições-salvaguardas específicas. Par contre,significativamente, dois Estados não-comunitários da NATO, aNoruega e a Islândia, aderiram a Schengen antes da inclusãodeste no acervo da União Europeia.
432
circulações se passaram, a par e passo, arealizar sem entraves. A essas trêsliberdades veio juntar-se uma quarta, maisdifícil, a liberdade de circulação depessoas. Não é árduo ver a razão para esseacréscimo de dificuldade: essa quartaliberdade punha em cheque a forma“tradicional” de garantir a segurançainterna de cada Estado por intermédio defronteiras erigidas com objectivoinstrumental (naturalmente entre outros) decontrolar e filtrar a identidade, a entradae a circulação de pessoas no território sobsua tutela soberana. Não será por issosurpresa que grande parte da oposição queentão se manifestou em vários palcospolíticos nacionais europeus tenhaprecisamente batido nas teclas dos riscos edas perdas de soberania que a criação desseespaço inevitavelmente acarretaria. Etorna-se mais fácil de compreender porque éque foram rapidamente adoptadas o que sechamou “medidas compensatórias ecomplementares”, com o intuito de minimizartanto a redução na segurança da população,da ordem e da liberdade pública, como apercepção de tudo isso por opiniõespúblicas nacionais muitas vezes atentas evigilantes260.260 Por exemplo, o reforço das fronteiras externas da União (acélebre “Fortaleza Europa”), bem como uma cooperaçãoreforçada das administrações da justiça e do interior,sobretudo no que toca aos serviços policiais, aduaneiros e deimigração. Emergiram assim com novos contornos questões comoaquelas que se prendem com políticas de asilo, de imigração
433
O facto, porém, é que os passos foramsendo dados, e foram-no com comparativarapidez e eficácia. Ainda que,naturalmente, de forma cautelosa: dada asensibilidade presente e sempre inevitávelem questões que digam respeito à ordempública, as matérias relativas à justiça eaos assuntos internos não são postas emprática do mesmo modo em que o são, porexemplo, questões relacionadas com apolítica agrícola comum ou com a políticaregional europeia: naquilo que toca a JAI,o Tratado dá uma comparativamente grandeimportância aos Estados-membros e àquelasinstâncias da União Europeia em que estesparticipam directamente; com uma ratiosemelhante, foram no caso da cooperação JAIlimitados os poderes da Comissão Europeia,do Parlamento Europeu e do Tribunal deJustiça.
Mais uma vez não demorou muito tempopara que um novo Tratado, no caso o Tratadode Nice, contribuísse para umaintensificação dos processos de cooperaçãoJAI que Maastricht encetou. Nice fê-loalargando às decisões tomadas nos domínioscomunitarizados o voto por maioriaqualificada. De fora ficaram, é verdade, asmatérias ligadas à cooperação policial e
clandestina. A criação de um Serviço Europeu de Polícia, aEuropol, sedeado na Haia, nos Países Baixos, dependeuformalmente da assinatura de uma “Convenção Europol”, queentrou em vigor a 1 de Outubro de 1998 e está a serefectivamente aplicada desde 1 de Julho de1999.
434
judiciária em matéria penal, decerto emparte por motivos nacional-corporativos epelo melindre que tais questões podemmuitas vezes assumir para os Estados-membros. Mas deu-se, de novo, um passolargo. Os procedimentos para a célebre“cooperação reforçada” tornaram-se com Nicemenos restritivos do que antes. Eintensificou-se (constitucionalizando-se umdos seus elementos, o Eurojust) a tãoimportante cooperação judiciária, com todoo potencial multiplicador que isso tem. Asbarreiras existentes e que têm criadodificuldades são fáceis de arrolar: acooperação JAI confronta tradições einteresses nacionais arreigados, bem comológicas administrativas e ordenamentosjurídicos à partida nem sempre comfacilidade miscíveis entre si. Não é porisso surpreendente que questões deharmonização e coerência, e aquelas ligadasà eficácia de processos decisórios (o quedeu azo, como vimos, à criação, lenta masprogressiva, dos instrumentos apropriadospara melhor agilizar a progressão dosrelacionamentos nestes domínios) tenhamvindo a ser suscitadas.
Longe estamos, é certamente porémóbvio, do muito pouco conseguido no planoda PESC, do âmbito do Segundo Pilar. Emtermos comparativos, note-se, para sófornecer um exemplo, que muito daquilo quenos Estados Unidos da América apenas se
435
conseguiu nos anos 30 do século XX, ouseja, mais de século e meio depois daIndependência, os europeus lograram numacurta geração. Não restam dúvidas, creio,que mesmo em áreas de grande melindre comoo são as relativas à ordem pública, aEuropa tem vindo a progredir a passosbastante amplos, difíceis de explicar forade um contexto alargado: designadamenteaquele que resulta de uma ordeminternacional em que a posição da Europaface ao resto do Mundo tem sido mediada poruma entidade como a NATO.
5.
Com os olhos postos na História –designadamente na terrível herança deguerras e violência mútua que duranteséculos a fio vivemos na Europa – muitosforam os analistas e políticos que, naúltima meia dúzia de meses, no VelhoContinente como na América do Norte, têmvindo a manifestar temores quanto a umeventual reatamento dessa pesada“tradição”. Os medos desse regresso aopassado tendem a ser vislumbrados emformato narrativo, por assim dizer.
Entre 1871 e 1945, é por via de regralembrado, a Alemanha e a França estiveramem guerra. Esses quase oitenta anos,previne-se, foram pontuados por intervalos
436
ilusórios de uma aparente tranquilidade.Apesar do mais de meio século de paz vividodesde 1945, vários são os factos dosúltimos anos, alega-se, que nos deveriampôr de sobreaviso. Alguns dos “indícios”que tendem a ser listados quanto à re-emergência do legado europeu são decertoassustadores: as sucessivas e sangrentaseclosões de brutalidades étnico-nacionalistas nos Balcãs, durante osrecentes anos 90, as tensões “intestinas”ressentidas na Europa com processos como oda inicialmente tão contestada reunificaçãoalemã, o associado ao processo truculentodo estabelecimento de um espaço Schengen,ou aqueloutro ligado à longa batalha pelacriação de uma moeda única. Todos eles,afirma-se com alguma plausibilidade, lançamuma luz preocupante sobre os palcos quehoje despontam. E fazem-no invariavelmente,insiste-se, enquanto expressão teimosa deposicionamentos divergentes de alguns dosEstados europeus mesmo quanto a questões deinteresse comum: tal como aliás, diz-se,hoje em dia ocorre com as oposições eresistências que se manifestamrelativamente às intervenções “unilaterais”norte-americanas na Ásia Central e no MédioOriente, à eventual auto-suficiênciaeuropeia no que diz respeito a uma políticaexterna geral e em particular à suapolítica de segurança e defesa, ou no quetoca à natureza e alcance do processo,
437
moroso mas em curso, deconstitucionalização “local” da Europacomunitária.
As reacções de políticos e analistasface à percepção do perigo (tal como, de umou de outro modo, a própria escala dele)naturalmente variam; mas é mais o que asaproxima do que aquilo que as distingue. Osmais optimistas têm afirmado ser ténue orisco. Para outros, mais propensos aoapocalíptico, o descalabro estará iminente.Os mais comedidos (ou menos seguros quantoà plausibilidade de quaisquer previsõesbaseadas na presunção de uma hipotéticaciclicidade histórica) tendem muitas vezesa descartar estes tipos de especulações,preferindo-lhe análises conjunturais maisconcretas e “presentistas” em que asregularidades históricas aparecem comomeras linhas de força e tensão. Todos, noentanto, parecem estar de acordorelativamente à urgência de um diagnósticoque possa funcionar como um aviso sonoro eprudente à navegação.
O mais preocupante é que a justificaçãoaduzida para a necessidade desse alertaparece assentar numa pré-compreensão muitopouco convincente261: a ideia, infinitamente261 Das muitas formulações deste tipo que a procuramfundamentar, atenho-me a uma só, por esta parecer bemencapsular o consenso existente entre os formadores deopinião europeus. Segundo um artigo recente de Charlemagne(2003b: 34), “an aid to Javier Solana, the EU’s foreign policy chief [recentlymused] that there are three broad reasons for why western Europe has enjoyedalmost 60 years of peace since 1945. The first is a shared memory of the horrors of
438
repetida, de que a paz, que por fim naEuropa lográmos ter, se deve à obra e graçada União Europeia; e de que é por isso que,ao pôr em cheque a União, se joga tambémuma paz tão arduamente conquistada. O quedá voz a uma convicção arreigada que nasúltimas décadas se começou a generalizar.Na Europa tem com efeito sido cada vez maiscomum a perspectiva segundo a qual o “maisde meio século de paz” conseguido se deve,sobretudo, ao processo político-económicode integração continental que desembocou naUnião Europeia. Sem União, acredita-se, nãohá, não pode haver, paz.
A litania de explicações fornecidaspara esta relação causal tende a bater emtrês teclas. Em primeiro lugar, diz-se, amemória, partilhada no Continente, doshorrores da guerra tem trazido a paz. Poroutro lado, a interdependência económicatem vindo a tornar cada vez mais“irracional” um qualquer recurso às armas.E, finalmente, o processo de consultasrecíprocas, a insistência no diálogointergovernamental e, em última instância,a efectiva integração política crescente daEuropa, têm esbatido distinções eexclusivismos que antes separavam uns dos
war; the second is the deep economic integration that has been fostered by the EU;and the third is the intense and continuing political dialogue between the countriesof the European Union, which means that ‘the way we talk to each other these daysis so completely different. There is no longer a clear distinction between foreignand domestic policy’”.
439
outros, contrapondo-os, os váriosinteresses nacionais.
Vale a pena que nos debrucemos um poucosobre esta racionalização, sobre estaautêntica convicção-crença, desmontando-a.Começo por notar que o primeiro argumentoda tríade não é muito forte: apesar detudo, e mesmo perante a memória dolorosadas carnificinas ocorridas na Grande Guerrade 1914-1918, a guerra voltou em 1939, umageração apenas depois: regressou em força enuma versão agravada. Para além disso, eparadoxalmente para os defensores dessaprimeira linha de argumentação, o país queporventura mais sofreu as agruras doconflito (a URSS) foi precisamente aqueleque menos dúvidas teve (decerto por razõespolíticas, internas e externas) em suscitarlogo de seguida uma Guerra que, apesar de“fria”, durou cinquenta anos e teveigualmente terríveis consequências.
Também a segunda tecla é fraca: peseembora em finais do século XIX e inícios doXX tivesse havido um enorme adensamento defluxos comerciais, uma intrincação cada vezmaior dos investimentos estrangeirosdirectos e indirectos e gigantescasmigrações, numa conjuntura que assegurouníveis “globais” de integração económicaaté aí desconhecidos, tal não impediu aeclosão do primeiro grande conflito,primeiro na Europa e depois à escalamundial. Bem pelo contrário, ao acicatar
440
exclusivismos nacionalistas que reagiram,incendiou-os. Esmiuçados, nenhum dos doisprimeiros argumentos, por si mesmo ou emcombinação, acaba por produzir umaexplicação particularmente convincente.
Mais sedutora é decerto a invocação dopapel pacificador da integração políticaeuropeia, aptamente apelidada de “the realinsurance policy”262 do Continente. Não é difícilarrolar êxitos em prol de um processo quetem viabilizado fora para diálogospermanentes entre os europeus, e tem vindoa criar referenciais comunicacionais comunsentre os Estados. Trata-se de um processode integração, ainda que esta tenha sidobastante limitada, cujos sucessos têm sidoretumbantes em questões tão potencialmenteespinhosas como as transições democráticaslevadas a cabo em Portugal, na Espanha, ena Grécia, nos anos 70 e 80; e, depois,durante os anos 90, nas dos inúmerosEstados leste-europeus em muitos dos quaisa pacificação resultou em grande parte doscondicionalismos impostos pela Uniãorelativamente a uma sua futura acessão aoestatuto de Estados-membros.
Este tipo de racionalizações assentessobre esta autêntica convicção-crença, nãoé, de facto, inteiramente convincente. Comovimos, para retomar a terminologia que262 Charlemagne (2003b, op. cit.). Charlemagne cita nesse artigo-editorial um funcionário superior da União (que não nomeia),que a terá descrito nos seguintes termos: “the European Union isthe greatest peacemaking project in history”.
441
atrás utilizei, têm com efeito sido óbviasas vantagens político-militares soletradaspelas reconfigurações organizacionais quetiveram lugar na Europa. Mas seriaseguramente abusivo ver, na integraçãopolítica europeia, uma causa muito eficazpor si só. Trata-se, em todo o caso, de umprocesso exíguo e ainda severamenteinacabado. Tem sido, ademais, e como fizquestão de sublinhar, um processoindissociável de um conjunto de factoresexternos: a ocupação Aliada da Alemanha em1945, a Guerra Fria e a oposição coordenadaà União Soviética e (porventura sobretudo)o papel crucial preenchido pela NATO e pela“garantia nuclear” norte-americana na ordeminternacional emergente com a derrota doEixo e, uma vez esta consolidada e de parcom a progressão da cristalização da ameaçasoviética que, de maneira inesperada, deuorigem a um Mundo equilibrado numa tensaordenação bipolar que se manteve durantequase toda a segunda metade do séculopassado.
Em termos de uma pacificação do VelhoContinente, quando são vistas as coisas numquadro mais amplo, parecem óbvios os ganhosque advieram de uma relegação, para segundalinha, de antigas grandes potências daEuropa ocidental; finalmente “libertadas”da “necessidade” de competir por umasupremacia mundial, ou sequer regional,puderam, pelo menos em parte, escapar a um
442
security dilema com que, manifestamente, nãologravam conviver. Juntamente com elestornam-se nítidas aquelas outras vantagens,essas mais comezinhas mas tambémresultantes da reorganização interna e dacomparativa insulação externa viabilizadaspela permanência norte-americana noContinente, que possibilitaram a uma Europadeixar de se preocupar com a sua segurançae defesa, e consequentemente adquirindo umarelativa tranquilidade que lhe permitiudedicar-se, com ainda hoje o faz, ao seupróprio desenvolvimento económico e à suaimprescindível (e criativa) reconstruçãopolítica.
Os ganhos foram evidentes. Mas asperdas também. Quase sessenta anos de uma“hegemonia tranquila e benevolente” daparte norte-americana deixaram os europeus(pelo menos os europeus ocidentais)prósperos, satisfeitos e pacíficos. Ficçõescomo a de um “partenariado entre iguais” oua de “interesses e objectivos comuns”, quenos habituámos prazenteiramente asustentar, deram, durante meio século, azoa representações idealistas mas bemimplantadas de ambos os lados do Atlântico,que convinha a quase todos alimentar. NumMundo imponderável como aquele em quevivemos, era porém inevitável que maistarde ou mais cedo a ilusão viesse a serdesfeita. E foi isso o que aconteceu. A“reactivação hobbesiana” de uns Estados
443
Unidos menos pacíficos e muitíssimo menosdisplicentes do que a maioria dos Estadoseuropeus, que foi desencadeada de maneiraindirecta pelo fim do quinquagenário balanceof terror bipolar e como correlato da eclosãode uma imprevisível war on terror, emsimultâneo abriu o fosso e tornou-ovisível. As ficções perderam plausibilidadee deixaram de convir fosse a quem fosse. Opessimismo instalou-se.
6.Em tons ora triunfalistas ora
derrotistas, instalou-se infelixmente ohábito de pontuar a progressão do que hojechmamos a União Europeia com “momentosconstituintes” e “momentos de crise”. Noprimeiro caso, tende-se a recorrer acritérios “essencialistas” consubstanciadosem datas a processos como, por exemplo –para me ater a apenas alguns indicadoreshabitualmente trazidos à baila – a CECA, osTratados de Roma, Paris, Maastricht, Nice eAmesterdão, ou os timings do alargamento damancha geográfico-nacional formada peloconjunto dos Estados que foram a par epasso aderindo a uma entidade cada vez maisintegrada,. No segundo, ao invés, atendência tem sido a de sublinhar assucessivas crises – a muitas delas fizalusão no que precede, do veto aosbritânicos às agruras da gestação de uma
444
política externa e de segurança comum masmuitas outras houve, das opt-out clauses ao“cheque inglês” – que têm ciclicamentevindo afligir esse aparente movimento“orgânico”.
Em valorações agregadas, por assimdizer, alguns analistas têm, emconsequência (e de acordo com as suaspreferências pessoais), ora celebrado ossucessos, ora sorrido aos precalçosassociados aos esforços endógenos de“constituição” de uma “Europa”. Nuns casosalinhavando cronologias de tratados ebatalhas vencidas, noutros encadeandoperdas e derrotas, mas sempre nos termos deuma “história de feitos”, cujas limitaçõesme escuso de sublinhar. Em minha opiniãotudo isto tem de ser repensado. Por muitointeressantes e reveladores que taisanálises nos possam parecer, creio que aolevá-las a cabo perdemos de vista asincontornáveis dimensões relacionais defundo que – e apenas elas o podem fazer –tornam inteligível a mecância complexatanto da progressão em curso, como dos seusóbvios avanços e recuos. Dimensões essasque há que saber por em evidência, sob penade cairmos em visões parcelares querecapitulam, no organicismo que patenteiame nos timbres “heróicos” que nelas ressoam,a teleologia voluntarista que lhes deualento. É precisamente um re-enquadramentodeste tipo aquilo que proponho.
445
Em guisa de conclusão: é dos ângulosque esmiucei, nesses outros tantos planos eface a esses (e certamente em virtude demuitos outros) múltiplos tipos deconstrangimentos e pressões a que aludi quese tornam mais inteligíveis, defendo, osprocessos de integração crescente da Europae os seus vai e vens. O meu ponto central émuitíssimo simples de enunciar. Só nostermos destas conjunturas complexas é quese pode compreender que Estados poderosos eciosos da sua autonomia e dos seusinteresses nacionais tenham voluntariamentedecidido abdicar de parte da sua soberania,por apego a um projecto como o da UniãoEuropeia263. É também perante dificuldades e263 Cabe aqui um curto comentário. Com recuo, sem dúvida queem nome de uma preservação abstracta e idealizada dessasoberania tradicional, alguns são os que têm vindo a suscitardúvidas quanto à exequibilidade do projecto. Muitos o têmfeito em termos de um nacionalismo primordialistaapriorístico. Muitos, formalmente em termos afins(nomeadamente norte-americanos de convicções realistas e neo-realistas), são ainda os que têm vindo a professarincredulidade na viabilidade de uma integração que parecedesafiar o interesse estrito e estreito de Estados, enquanto,e como, unidades políticas independentes. Estados esses quetais oponentes tendem além disso, dando mostras de uma certainércia, a reificar como os únicos actores internacionaispossíveis numa ordem que seria imutável desde o limiar dostempos, num estado de natureza, que seria um permanent state ofwar, inalterado pelo menos desde Atenas e a guerra doPeloponeso sobre a qual escreveu Tucídides – a velha anarquiahobbesiana revisitada. O facto, porém, é que a União temvindo a progredir. Com avanços e recuos, é verdade; massempre num movimento cumulativo, pelo menos até à crisepresente desencadeada pela intervenção no Iraque liderada pornorte-americanos e britânicos e pela oposição radical ecoordenada dos Estados francês e alemão. Veremos o que ofuturo nos reserva.
446
soluções como aquelas a que fiz alusão quese tornam plenamente inteligíveis muitasdas crises que hoje assolam o laboriosoprocesso de construção europeia.
Durante a Guerra Fria, a NATOdesenvolveu recursos focados em consultaspolíticas recíprocas dos Estados-membros daAliança, outros virados para as tomadas dedecisão, outros ainda para planeamentos,coordenação e execuções militares. Depoisde ter terminado a Guerra Fria, asadaptações incluíram uma redução no númerode comandos, a formação de task forcesconjuntas e e a constituição de “forças deintervenção rápida”. Porventura maisexpressivo da reorientação-reestruturaçãoque a Organização sofreu, novos recursosforam criados tais como, por exemplo, o“Partenariado para a Paz”264. Quando foiinstituída em 1949, a NATO diferia dostradicionais pactos de ajuda mútua egarantia: para além da sua missão dedissuasão e defesa em relação à UniãoSoviética, a Aliança devia também ajudar aconstruir paz e segurança entre os seusmembros como países democráticos. O pontoprincipal que venho tentando fazerressaltar é o de que é no interior do264 Para uma excelente discussão institucionalistapormenorizada das transformações incorridas pela NATO com ofim da Guerra Fria, o seu significado e o da suasobrevivência para muitos inesperada, ver Celeste A.Wallander (2000). Não será exagerado afirmar que foi essesegundo papel, transformado e alargado, que desde então aNATO tem vindo assumir como função central.
447
espaço em expansão da Paz kantiana, que aAliança delimita ao conter a Anarquiahobbesiana, que a União Europeia tem vindoa medrar.
Em consonância com isto, insisti comalguma trivialidade na necessidadeimperativa de não deixar de tomar sempre emlinha de conta a dimensão de segurança edefesa se quisermos bem compreender amecânica da construção comunitária daEuropa. Tentei todavia pôr em evidência ofacto de que, para além de as questões desegurança e defesa emergirem como problemase motivações de motu próprio, por assimdizer, elas operaram também indirectamenteem termos de uma causalidade estruturalmenos evidente (mas nem por isso menoseficaz). Não é nada difícil comprová-lo anível macro, pelo menos negativamente. Comefeito, de outra maneira tornar-se-iaimpossível explicar a curiosa “dançasincronizada” que tem levado a fascinantesevoluções conjuntas e históricas nos váriosprocessos paralelos de integração daEuropa: a União Europeia e a NATO foramtomadas como dois pontos altos (porventuraos mais altos) deste complexo processo.
Para terminar, cabe-me novamente (agoraem contexto devidamente alargado) trazer àsuperfície estas tão surpreendentesconfluências sincrónicas. De forma muitocursória e indicativa: temporal comogeograficamente, e tanto no arranque como
448
na amplitude que tiveram, na delimitaçãodos diversos períodos que as integram, comoainda nos timings e na orientação das váriasfases por que passaram sucessivos esforçosde alargamento, a solidificação progressivada Europa comunitária andou de mãos dadascom a cristalização daquilo em que veio atransformar-se a NATO de hoje. A União e aAliança têm sido como que dois pássaros avoar em conjunto ou, na minha metáforaalternativa, como dois dançarinos a evoluirnum pas de deux.
Não quer isto, evidentemente, dizer,que as duas entidades se confundam: muitopelo contrário, trata-se de criaturas bemdistintas. São todavia criaturas queevidenciam paralelismos fascinantes. Pordetrás das óbvias diferenças, tanto deinclusividade geográfica como de âmbitofuncional, a sintonização entre elas, nasvárias conjunturas em que têm coexistido,foi sempre (e mantém-se ainda) muitonítida.
Essa sintonização emerge também a níveldo pormenor. Verificámo-la além do mais emtodos os planos e parâmetros que atrásesbocei. Os lugares de arranque eimplantação desse processo em duas calhasde cristalização-consolidação foramsemelhantes. As lógicas que subtenderamambas como que formam veios confluentes. Asinflexões que sofreram coincidiramlargamente. Nos dois casos a emergência de
449
um eixo franco-alemão não parecedissociável da de um outro eixo, esseanglo-americano265. As suas divergênciastambém não. A evolução sincronizada em duascalhas tem sido de longa duração: noperíodo pós-bipolar, uma simples observaçãosuperficial revela-o, e essas marcadascoincidências-concomitâncias de fundomantiveram-se. Mutatis mutandis, mesmo umaresolução maior das imagens o põe emevidência. As frentes mais problemáticastêm sido as mesmas; os espaços de expansãotambém, tal como aliás as linhas declivagem e de tensão. Para além das óbviasdiferenças de finalidade e de naturezafuncional, só por hábito e miopia oudistracção as poderíamos pensar comoentidades verdadeiramente conceptualizáveisem separado uma da outra.
É verdade que, nos últimos tempos,sinais fortes de clivagens e fracturas se265 Nem sempre, os factos mostram-no, de maneira totalmentenão ambígua e linear. Um só exemplo, anedótico. Em 1956, aintervenção franco-britânica no Suez, contra as medidasprecipitadas de um Nasser em pleno auge pan-arabista, foibloqueada e efectivamente neutralizada por pressõeseconómicas e políticas dos norte-americanos, que se lheopunham. O historiador William Hitchcock (citado porCharlemagne, 2003) contou que quando Anthony Eden, oPrimeiro-Ministro britânico, telefonou ao seu congénerefrancês, Guy Mollet, a informá-lo do facto e da decisãobritânica de retirar, interrompeu este último, que estava numencontro com Konrad Adenauer, o Chanceler alemão. Aoregressar à sala, perturbado, e ao informar Adenauer do queacabara de ouvir (contou Mollet a Hitchcock) K. Adenauerretorquiu-lhe que “ingleses e americanos” não eram “deconfiança”; e acrescentou: “agora é o momento de construirmosa Europa”.
450
têm feito sentir266. Não parece totalmenteinevitável, no entanto, que as divergênciasentre os percursos da União Europeia e osda Aliança Atlântica continuem a aumentar.Os Estados europeus “de Leste” querecentemente acederam, em termos formais,ao estatuto de membros de ambas267, podemtornar-se no ponto focal de uma pressãocentrípeta importante para o que podedenominar-se, misturando metáforas, umrealinhamento dos seus voos coordenados. Osmotivos para tanto são simples deequacionar. Para os Estados europeus de
266 Numa colectânea bastante interessante, Richard Haass(1999) já há alguns anos o vem anunciando com base em estudosde caso relativos a vários cenários internacionais em que asdiferenças de perspectiva se começaram a tornar sensíveis.Como R. Haass então escreveu, a Europa e a América estão“divided by more than an ocean when it comes to designing and carrying out[foreign] policies”. Em resultado, afirmou premonitoriamente,“Americans and Europeans often work at cross purposes”. Muito antes deR. Haass ou de R. Kagan, já em 1997 Irving Kristol tinhainsistido que as nações europeias eram “dependent nations, thoughthey have a very large measure of local autonomy. The term imperium describesthis mixture of dependence and autonomy”. E concluiu,provocadoramente, “Europe is resigned to be a quasi-autonomousprotectorate of the United States” (I. Kristol, 1997, op. cit.: 1).Curiosamente, estas asserções não nos causam tanto espantohoje como há cinco anos, época em que foram redigidas. Paraum estudo magnífico e de algum modo avant la lettre quanto aofuturo da articulação entre os Estados Unidos e a Europa nocontexto de uma NATO em mudança, ver o trabalho monográficopós-realista mas também pós-institucionalista de Sean Kay(1997).267 Muitos deles, aliás, antes incluídos tanto no“Partenariado para a Paz” de NATO como na largamente co-extensiva revoada de pactos e acordos de associação, mais oumenos estreita, celebrados durante sensivelmente o mesmoperíodo de tempo entre vários Estados não-comunitários e aUnião Europeia.
451
leste as entradas na União Europeia,formalizadas a 16 de Abril de 2003,redundam em apostas políticas e económicasessenciais. Mas a nível de segurança edefesa, a proximidade espacial e temporalda Rússia fá-los olhar além-Atlântico nadirecção da única entidade (a coligaçãotransatlântica, que como é compreensíveldistinguem mal dos Estados Unidos daAmérica) que os faz sentirem-se seguros. Oapoio que vocalizam em relação à NATO temsido por isso explícito e fervoroso. Na suaopinião virtualmente unânime, essa“lealdade” não se opõe à que desejamedificar e nutrir no que toca à suapertença à União Europeia: complementa-a.
Mais tarde ou mais cedo pareceinevitável um acordar generalizado para anova arrumação conjuntural, trazida pelacrise recente, apesar de nem sempre haverhoje disso consciência política – umaconsciência porventura mais óbvia emEstados histórica e geograficamenteencostados ao colosso russo do que noutrosEstados europeus em posição e situaçãosistémica de algum modo “isomorfa” (ou pelomenos estruturalmente equivalente). Bastaráem princípio uma polarização da conjunturapara que as correlações mais macro deforças se tornem manifestas. Direcções ecenários plausíveis de mudança ir-se-ãotornar muito mais nítidas. Modeloscredíveis quanto a hipotéticas
452
transformações poderão ser formuladas comum maior grau de segurança; ou pelo menoscom uma menor margem de arbitraridade. E sóentão saberemos aventar eventuaisprofilaxias, no quadro de umacontextualização de uma ou de outra maneiraafim daquela que aqui propus.
Uma breve consideração final. No quadrodo que apelidei o “processo deconstitucionalização regional”, o momentoque vivemos é daqueles que G. JohnIkenberry apelidou historical junctures. Trata-sede um verdadeiro momento constituinte.Quando vistos nesse contexto, os sinaisemitidos pelas partes são preocupantes. Dosdois lados do Oceano, da França e Alemanhaaos neo-conservatives norte-americanos, algumasvozes revisionistas insidiosamente radicaisse têm erguido, desfiando a velha Aliançatransatlântica em nome de um mais antigobalance of power e de novas coalitions of the willingavulsas. Oxalá tanto uns como outros vãoperdendo depressa a capacidade de mobilizarvontades colectivas. Nisso está indexada apossibilidade de uma participação europeiacondigna na nova ordem “constitucional”internacional em construção. Nesta como emtantas outras frentes, muito dependerá dosfuturos ditames da Realpolitik do Estado norte-americano. Tal como muito é também aquiloque irá depender da capacidade dos lídereseuropeus em compreender esta fase no quadro
453
da dinâmica de um longo processo que paratodos é crucial.
BIBLIOGRAFIA
Garton Ash, Timothy (2003), “Anti-Europeanism in America”, The New York Review ofBooks, February 13, 2003.Asmus, Ronald D. e Pollack, Kenneth M.(2002), “The new Transatlantic Project”,Policy Review 115, The Hoover Institution.Barber, Benjamin (1996), Jihad vs. McWorld. Howglobalism and tribalism are reshaping the World,Ballantine Books, New York.Barkawi, Tarak e Laffey, Mark (1999), “TheImperial Peace: democracy, force andglobalization, European Journal of InternationalRelations 5 (4): 403-434.Barreto, António (2003), “Requiem”, OPúblico, 23 de Março de 2003.Charlemagne (2003), “From Suez to Baghdad”,The Economist, 20 de Março, 2003.____________(2003a), “Divide and rule?”, TheEconomist, 26 de Abril, 2003.____________(2003b), “Après EU, ledéluge?”, The Economist, 25 de Julho, 2003.Costa Arsénio, António da (1988), “A UniãoEuropeia Ocidental: sinopse histórica edevir existencial”, Nação e Defesa 48: 3-16.
454
Cutileiro, José (2003), “O fosso”, OExpresso, 8 de Março, caderno 2: 24.Dowd, Alan W. (2000), “NATO after Kosovo:toward ‘Europe whole and free’”, AmericanOutlook Today, 1 de Janeiro, 2000.Doyle, Michael (1996), “Kant, liberallegacies, and foreign affairs”, em (eds.)M. Brown, S. M. Lynn-Jones e S. E. Miller,Debating the Democratic Peace, MIT Press.Harris, Robin (2002), “The state of thespecial relationship”, Policy Review 113: 1-11,The Hoover Institution.(ed.) Haass, Richard N. (1999), TransatlanticTensions: the United States, Europe and ProblemCountries, The Brookings Institution.Hudson Institute (2002), “NATO and theEuropean Union’s defense and foreign policyidentity: challenges and requirementsthrough 2010”, Special Report.Ignatieff, Michael (1993), Blood and Belonging:journeys into the new nationalism, The NoondayPress, New York.Ikenberry, G. John (2001), After Victory,Princeton University Press.Kay, Sean (1998), NATO and the Future of EuropeanSecurity, Rowman & Littlefield Publishing.Kennedy, Paul (1989). The Rise and Fall of the GreatEmpires: economic change and military conflict from 1500to 2000, Vintage Books, New York.Kissinger, Henry (1979), White House Years,Little, Brown & Company.__________(1995), Diplomacy, Little, Brown &Company.
455
Kristol, Irving (1997), “The emergingAmerican Imperium”, American Enterprise Institutefor Public Research.Kupchan, Charles (2002), The End of the AmericanEra. US foreign policy and the geopolitics of the Twenty-first Century, Alfred A. Knopf, New York._____________(2002a), “The end of theWest”, The Atlantic Monthly, November 2002.(ed.) Kupchan, Charles (1998), Atlantic Security:contending visions, The Council of ForeignRelations Press.Larsen, Henrik (2002), “The EU: a globalmilitary actor?”, Cooperation and Conflict:Journal of the Nordic International Studies Association,37 (3): 283-302.MacMillan, Margaret (2003), Paris 1919,London.Marques de Almeida, João (1998), “A paz deWestfália, a história do sistema de Estadomoderno e a teoria das relaçõesinternacionais”, Política Internacional 18 (2):45-79.____________(2003), “A Europa kantiana nãosobrevive ao fim da Aliança Atlântica”, NovaCidadania 16: 46-53.____________(2003), “Recensão do After Victoryde Ikenberry”, Política Internacional 65, Lisboa.Nye Jr., Joseph S. (1997), UnderstandingInternational Conflict. An introduction to theory andhistory, Longman._____________(2002), The Paradox of AmericanPower: why the world’s only superpower can’t go it alone,Oxford University Press.
456
Parsons, Craig (2002), “Showing ideas ascauses: the origins of the European Union”,International Organization 56 (1): 47-84.Philpott, Daniel (2001), Revolutions inSovereignty, Princeton University Press.Rato, Vasco (1998), “Mas elas são mesmopacíficas?”, Política Internacional 18(2): 93-115.________________(2003), “Portugal e a criseiraquiana”, O Independente, Sexta-Feira, 21 deFevereiro: 47.Risse, Thomas (2000), “’Let’s argue!’:communicative action in world politics”,International Organization 54 (1): 1-39.Risse-Kappen, Thomas (1996), “Collectiveidentity in a democratic community: thecase of NATO”, em (ed.) Peter J.Katzenstein, The Culture of National Security: normsand identity in world politics: 357-399, ColumbiaUniversity Press.Schlesinger, Stephen (2003), Act of Creation, thefounding of the United Nations: a story of superpowers,secret agents, wartime allies and enemies and their questfor a peaceful world, Westview Press.Shaw, Martin (1997), The state ofglobalization: towards a theory of statetransformation”, Review of International PoliticalEconomy 4 (3): 497-513.Stonor Sunders, Frances (1999), Who Paid thePiper? The CIA and the cultural Cold War, GrantaBooks, London.Vilaça, José Luís e -Henriques, MiguelGorjão (2001), Tratado de Amesterdão, Almedina.
457
Wallander, Celeste A. (2000),“Institutional assets and adaptability:NATO after the Cold War”, InternationalOrganization 54 (4): 705-735.Walz, Kenneth (2000), “Structural realismafter the cold War”, International Security 25(1): 5-41.Zakaria, Fareed (2003), “The arrogantempire”, Newsweek, 24 de Março, 2003.Zelikow, Philip e Rice, Condoleezza (1995),Germany unified and Europe transformed: a study instatecraft, Harvard University Press.
458



















































































































































































































































































































































































































































































![c/LINS, M.A.del T. Educação superior e complexidade: integração entre disciplinas no campo das relações internacionais. Cad. Pesqui. [online]. 2014, vol.44, n.151](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c084793f371de19013e77/clins-madel-t-educacao-superior-e-complexidade-integracao-entre-disciplinas.jpg)