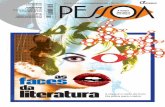Juan Ramón Jiménez leitor de Verlaine: um exame da questão a partir de suas cartas
Transcript of Juan Ramón Jiménez leitor de Verlaine: um exame da questão a partir de suas cartas
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS
ANO 6, NÚMERO 10 - TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura”
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
Unidade Universitária de Campo Grande
REITOR
Fábio Edir dos Santos Costa
VICE-REITOR
Eleuza Ferreira Lima
GERENTE DA UUCG
Kátia Cristina Nascimento Figueira
COORDENADORES DA REVELL
Lucilene Soares da Costa e Ravel Giordano Paz
COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UEMS
João Fábio Sanches Silva
EDITORES DO NÚMERO
Antonio Roberto Esteves (UNESP/Assis) e Márcio Antonio de Souza Maciel (UEMS)
COMITÊ CIENTÍFICO
Andre Rezende Benatti (UFRJ)
Ana Aparecida Arguelho de Souza (UEMS)
Antonio Roberto Esteves (UNESP/Assis)
Antonio Rodrigues Belon (UFMS)
Benjamin Abdala Junior (USP)
Cilaine Alves (USP)
Danglei de Castro Pereira (UnB)
Daniel Abrão (UEMS)
Elanir França Carvalho (UFMS)
Fabio Akcelrud Durão (UNICAMP)
Fábio Dobashi Furuzato (UEMS)
Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL)
José Batista Sales (UFMS)
Lucilo Antonio Rodrigues (UEMS)
Luiza Leite Bruno Lobo (UFRJ)
Maira Angélica Pandolfi (UNESP/Assis)
Márcio Antonio de Souza Maciel (UEMS)
Milena Magalhães (UNIR)
Paulo Custódio de Oliveira (UFGD)
Rauer Rodrigues (UFMS)
Ravel Giordano Paz (UEMS)
Regina Zilberman (UFRGS)
Rogério da Silva Pereira (UFGD)
Rosana Nunes Alencar (UNIR)
Rosana Cristina Zanelatto Santos (UFMS)
Sandra A. F. Lopes Ferrari (IFRO)
Susanna Busato (UNESP)
Susylene Dias Araújo (UEMS)
DIAGRAMAÇÃO E FORMATAÇÃO
Lucilene Soares da Costa
TÉCNICO RESPONSÁVEL
Joab Cavalcante da Silva
O conteúdo dos artigos e a revisão linguística e ortográfica dos textos são de inteira responsa-
bilidade dos autores.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS,
ano 6, n. 10 - TEMÁTICO: Estudos Hispânicos em
Literatura e Cultura. Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul. Campo Grande: UEMS, 2015.
Semestral
ISSN: 2179-4456
1. Literatura. 2. Teoria literária.
SUMÁRIO
SUMÁRIO .................................................................................................................................. 3
APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 4
DOSSIÊ ...................................................................................................................................... 7
A outra que fulgura (Ángeles Mateo del Pino; Andre Rezende Benatti) ............................... 8
O olhar da antropologia urbana como chave de leitura para a literatura argentina
contemporânea: culturas, fronteiras e mediação (Lívia Santos de Souza) .......................... 21
Borges e García Márquez versus Rosa e Jorge Amado: breves considerações sobre
disparidades na recepção literária internacional (André Barbosa de Macedo) ................... 36
Juan Ramón Jiménez leitor de Verlaine: um exame da questão a partir de suas cartas
(Rodrigo Conçole Lage) ...................................................................................................... 46
O velho em texto, o velho em contexto nas obras de Hemingway e Sepúlveda: o velho e o
mar e um velho que lia romances de amor (Altamir Botoso; Maria de Lourdes Marcelino
da Silva) ............................................................................................................................... 57
Todos os caminhos conduzem à morte: o suicídio exemplar em “As noites da Íris negra”,
de Enrique Vila-Matas (Fabiola Farias Brandão; Gabriel de Melo Lima) ........................ 73
SEÇÃO DE TEMA LIVRE ...................................................................................................... 83
Personagem e ambiguidade em Senhora, de José de Alencar (Mauricio Silva) .................. 84
Jogos infantis: uma geografia erótica (Francisco Pereira Smith Júnior) .......................... 97
A ausência do amanhã: a eterna infância em ‘Peter Pan e Wendy’, de J.M. Barrie, e
‘Entrevista com o vampiro’, de Anne Rice (Eldes Ferreira de Lima) .............................. 110
APRESENTAÇÃO
Em quase vinte de dois anos de existência, a completar-se agora em dezembro de
2015, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, talvez, por sua característica,
primeira, no início, de interiorização e acesso ao Ensino Superior, quiçá, por estar em um es-
tado vizinho e fronteiriço com dois países hispano-falantes (Bolívia e Paraguai) sempre este-
ve, de alguma forma, dialogando com o universo hispânico. Quer seja na Graduação (com os
cursos de Comércio Exterior, em Ponta Porã/MS; Letras (Português/Espanhol), em Amam-
baí/MS, em Dourados/MS, e, em Campo Grande/MS, e, por fim, Turismo, em Jardim/MS, e
Dourados/MS) quer seja na Pós-Graduação (com os cursos de Especialização e Mestrado em
Letras) com os diversos trabalhos na área de confrontos lingüísticos entre línguas fronteiriças
assim, também, como pesquisas na área de Literatura Paraguaia, a universidade e seus pesqui-
sadores, nas diversas áreas do saber, sempre estiveram, em diferentes graus, em contacto com
a língua espanhola e as literaturas e culturas hispânicas.
Isso posto, é com muita alegria que a REVELL (Revista de Estudos Literários da
UEMS) edita em seu número 10, o 6º número temático - Dossiê - cujo título é “Estudos His-
pânicos em Literatura e Cultura” e, por sua vez, cujos trabalhos reportam os Estudos Lite-
rários, Historiográficos, Sociais e Culturais do universo hispânico (Espanha e Hispano-
américa). No entanto, para além do Dossiê Temático, como uma prática usual da revista,
igualmente, esta edição traz na Seção Livre trabalhos de literatura brasileira assim como, tam-
bém, um texto sobre literatura norte-americana.
Como sói acontecer, esta edição da Revista REVELL traz colaborações de diversos
autores de, igualmente, diversas IES brasileiras e estrangeiras o que tem sido uma prática re-
corrente na revista assim como uma preocupação de seu corpo editorial. Tal prática, parece-
nos, para além de fugir à endogenia que fragiliza qualquer meio de publicação acadêmico,
abre um campo, por conta disso, maior e mais amplo e mais oxigenado para a discussão no
campo das Letras.
No primeiro ensaio, “A outra que fulgura”, de Ángeles Mateo del Pino, da Universi-
dad de Las Palmas, Gran Canaria, Espanha, em uma tradução, autorizada pela autora, feita
pelo pesquisador Andre Rezende Benatti (UFRJ/Capes), temos um artigo desenvolve um tex-
to biográfico de Josefina Plá, artista hispano-paraguaia, retratando os enfoques de sua vida em
contato com a cultura paraguaia e o desenvolvimento de seus trabalhos relacionados às artes
plásticas, literatura, ensaísmo, e demais vertentes de trabalho realizadas por Josefina Plá.
Já no segundo artigo, “O olhar da antropologia urbana como chave de leitura para
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
a literatura argentina contemporânea: culturas, fronteira e mediação”, de Lívia Santos
de Souza (UFRJ/UNILA), encontramos um estudo que tem como proposta analisar de que
maneira conceitos como fronteira e mediação, lidos a partir da abordagem da antropologia
urbana, se converteram em matéria literária nas mãos de alguns narradores argentinos con-
temporâneos.
Para o terceiro estudo, “Borges e García Márquez versus Rosa e Jorge Amado:
breves considerações sobre disparidades na recepção literária internacional”, de André
Barbosa de Macedo (USP/Capes/FU-Berlim), o objetivo do trabalho é realizar breves consi-
derações sobre a recepção internacional de quatro escritores latino-americanos: dois hispano-
americanos (Jorge Luis Borges e Gabriel García Márquez) em contraste com dois brasileiros
(João Guimarães Rosa e Jorge Amado).
No quarto ensaio, “Juan Ramón Jiménez leitor de Verlaine: um exame da questão
a partir de suas cartas”, de Rodrigo Conçole Lage (UNISUL), temos um trabalho cujo obje-
tivo é examinar, a partir do estudo de uma carta do poeta espanhol Juan Ramón Jiménez, es-
crita em resposta a um pedido do critico literário Enrique Díez-Canedo, a relação do poeta
com a obra de Paul Verlaine.
Já no quinto artigo, “O velho em texto, o velho em contexto nas obras de He-
mingway e Sepúlveda: O velho e o mar e Um velho que lia romances de amor”, de Altamir
Botoso (UENP/UNIMAR) e Maria de Lourdes Marcelino da Silva (UNIMAR), encontramos
um estudo que tem como proposta o estudo comparativo dos romances O velho e o mar
(1952), e Um velho que lia romances de amor (2005), obras de Ernest Miller Hemingway
(1899 -1961) e do escritor chileno Luís Sepúlveda (1949), respectivamente.
Para o sexto estudo, “Todos os caminhos conduzem à morte: o suicídio exemplar
em ‘As noites da íris negra’, de Enrique Vila-Matas”, de Fabiola Farias Brandão (UEMS)
e Gabriel de Melo Lima Leal (UEMS), o objetivo central do trabalho é tecer uma breve análi-
se estético-filosófica do conto “As noites da íris negra”, do escritor espanhol Enrique Vila-
Matas, que consta do livro Suicídios Exemplares, publicado em 1985.
Por sua vez, na Seção Livre, o estudo que abre essa seleta é “Personagem e ambigüi-
dade em Senhora, de José de Alencar”, de Mauricio Silva (UNINOVE), cujo objetivo é
tratar da construção de personagens no romance Senhora, de José de Alencar, com destaque
para Aurélia e Seixas, buscando inseri-los tanto na dinâmica do enredo criado por Alencar
quanto nos pressupostos estéticos do Romantismo literário.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
No segundo ensaio, também, em literatura brasileira, dessa Seção Livre, “Jogos infan-
tis: uma geografia erótica”, de Francisco Pereira Smith Júnior (UFPA), encontramos um
estudo que apresenta a obra Jogos infantis (1986), de Haroldo Maranhão, como um texto
dotado de uma linguagem ousada no limiar de uma discussão dialética a respeito de sexo.
Fechamos, por fim, essa Seção Livre, com o trabalho “Ausência do amanhã: a eter-
na infância em ‘Peter Pan e Wendy’, de J.M. Barrie, e ‘Entrevista com o vampiro’, de
Anne Rice”, de Eldes Ferreira de Lima (UFMS), cujo objetivo é analisar a eterna infância em
‘Peter Pan e Wendy’ e ‘Entrevista com vampiro’, observando a questão do gênero na vida
cheia de aventuras do protagonista do livro de Barrie e na sexualidade perpetuamente repri-
mida de Cláudia, a menina-vampiro que se torna mulher sem nunca sê-la fisicamente.
Tudo isso, no entanto, só foi possível graças ao empenho de tod@s @s autor@s dos
textos e a tod@s el@s damos os nossos mais sinceros agradecimentos assim como, também, a
tod@s pareceristas da revista que contribuíram com o número.
Uma boa leitura a tod@s.
Os Editores.
A OUTRA QUE FULGURA1
LA OTRA QUE FULGURA
Ángeles Mateo del Pino (Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, España)
RESUMO: O presente artigo é uma tradução do texto original intitulado La Otra Que Fulgu-
ra, de Ángeles Mateo del Pino, publicado em 2011, na Revista Boca de Sapo - Revista de
Arte, Literatura y Pensamiento, traduzido com autorização da autora. O artigo desenvolve um
texto biográfico de Josefina Plá, artista hispano-paraguaia, retratando os enfoques de sua vida
em contato com a cultura paraguaia e o desenvolvimento de seus trabalhos relacionados às
artes plásticas, literatura, ensaísmo, e demais vertentes de trabalho realizadas por Josefina Plá.
Para a concretização do texto, foram utilizadas entrevistas concedidas por Josefina Plá à auto-
ra, em época da realização de sua tese de doutorado, assim como demais textos produzidos
por Josefina Plá e, também, sobre ela.
Palavras-chave: Josefina Plá; Vida; Obra.
RESUMEN: El presente artículo es una traducción del texto original intitulado La Otra Que
Fulgura, de Ángeles Mateo del Pino, publicado en 2011, en la Revista Boca de Sapo - Revista
de Arte, Literatura y Pensamiento, traducido con autorización de la autora. El artículo desa-
rrolla un texto biográfico de Josefina Plá, artista hispano paraguaya, retratando los enfoques
de su vida en contacto con la cultura paraguaya y el desarrollo de sus trabajos relacionados a
las artes plásticas, literatura, ensayismo, y demás vertientes de trabajo realizadas por Josefina
Plá. Para la concretización del texto, fueron utilizadas entrevistas concedidas por Josefina Plá
a la autora, en época de la realización de su tesis de doctorado, así como demás textos produ-
cidos por Josefina Plá y, también, sobre ella.
Palabras clave: Josefina Plá; Vida; Obra.
Josefina Plá, apesar de sua intensa trajetória de vida e artística e sua indubitável
importância no panorama cultural do Paraguai em particular e da Latino-américa em gerl,
continua sendo uma grande desconhecida mais além da geografia paraguaia. Se bem é que nos
últimos anos encontramos uma série de edições na Espanha, Uruguai, Chile e Portugal que,
entre outros motivos, tenta paliar o imerecido silêncio que se cerne em torno à sua obra, ainda
nossa divida com ela segue vigente. Oxalá estas páginas possam servir como lembrete, lo-
1 Texto traduzido por Andre Rezende Benatti, Graduado em Letras - Português/Espanhol, pela Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, Mestre em Letras: estudos literários, pela Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - UFMS, Doutorando em Letras Neolatinas: estudos literários hispânicos, pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Pesquisador da obra de Josefina Plá, publicado por Ángeles Mateo Del Pino,
anteriormente em Boca de Sapo - Revista de Arte, Literatura y Pensamiento. Tercera época | año XII | Nº 10 |
Septiembre 2011.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
grando assim frear nossa inata tendência a deixar-nos envolver por águas de Lete2.
ILHA DE LOBOS
Josefina Plá nasce no dia 9 de novembro de 1903 na Ilha de Lobos (Forteventura).
Filha de Leopoldo Plá e Botella e de Rafaela Guerra Galvani, sua família procedia de Alican-
te, mas o trabalho de seu pai nos faróis obrigou a família a mudar-se regularmente por quase
todo o litoral espanhol. Em 1902 seu pai é destinado como faroleiro suplente nas Ilhas Caná-
rias, e o atribuíram o farol de Martinho na Olha de Lobos. Estes primeiros anos, não os que
vinculam Josefina Plá com o espaço canário, no entanto, apesar de suas lembranças serem
escassas, a criação e recriação da paisagem insular demonstram que este âmbito deixou uma
profunda marca em sua vida.3
Em 1908 o trabalho do pai obriga a família a um novo translado e a abandonar de-
finitivamente as ilhas, para viver sucessivamente em Guipúzcoa, Amería, Murcia, Alicante,
Valencia... Cenários nos que transcorre a meninice e a adolescência de Josefina Plá. Seu pai,
um homem culto, possuía uma enorme biblioteca na que satisfazia sua prematura inclinação
pela leitura. Um trecho quase imperceptível de azar e magnetismo se unem no pai os espaços
telúricos que conformaram a geografia de nossa autora: sua pátria natal e sua pátria por ado-
ção, pois foi seu pais quem infundiu na artista o interesse pelo Paraguai, o país que, como o
passar do tempo, se haveria de converter-se em seu destino (O certo é que mantenho em mim
um momento especial da estadia em Fuestrventura e foi quando meu pai, na sala de estar de
nossa casa “majorera”, leu um apaixonante relato das Missões Jesuíticas no Paraguai”4).
Aos onze anos começa seus estudos se segundo grau que finaliza dois anos e meio
2 Grande parte dos dados que oferecemos neste trabalho procedem de uma documentação que nos cedeu a pró-
pria Josefina Plá: Ficha-bio-bibliográfica (abreviada).
3 “Nunca esqueci que era canária, e para mais, majorera (pessoa natural de Fuerteventura). Mas nunca tampou-
co, pude lembrar como eram – como são – estas Canárias, com cujo barro se amassaram anos parvos meus. Tudo
o que dela podia evocar era soltas, breves imagens: um par de camelos, terror de párvula; umas plantas de folhi-
nhas como dedos de anjos, de diversas cores; um touro, invisível monstro furioso do qual fugíamos, minha mãe e
eu através de um campo semeado cujas plantas eram mais altas que eu... Outras imágens que desta terra tivera,
me desejaram alheios labios nostagicos. A ilha de Lobos, onde nasci, verruga no mar da epopeia definitiva na
conquista do planeta, é uma estampa que me construiram; como a de tormenta que foi orquestra no nascimento
ou a do charco com peixinhos “impescáveis”, que passou, com o tempo, a ser, para mim, o símbolo de ser, per-
seguido e constantemente fugitivo na poesia... Outras estampas mais tarde me desenhariam os livros: os vales,
paraísos da fertilidade; as rocas com fungos telúricos moldados pelo fogo e o vento; o vulcão senhorial supervi-
vente. Plá, Josefina. “Se pode chamar-se prólogo” in: Grito e tortura. Seleção poética. Josefina Plá. . Puerto
del Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura, 1995, pág. 25. Dito texto, escrito expresamente para esta obra, a
petição nossa, apareçe fechada em Assunção 1992.
4 Entrevista radiofônica realizada pelo jornalista Zenaido Hernández Cabrera, quem nos cedeu o texto.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
mais tarde. Ditos cursos não pode realizá-los como aluna regular, já que os translados da fa-
mília lhe impediram de assistir a escola com regularidade. Um ano depois termina Peritaje
Mercantil e realiza estudos de Magistério, que não chegará a concluir. Estas disciplinas as
acompanham com a aprendizagem do inglês e do alemão, sob a orientação de um professor
particular, pois o francês já o havia aprendido durante sua estadia no colégio das monjas
L’Inmaculeé Conception (São Sebastião), onde esteve dois anos como aluna meio bolsista.
Durante o verão de 1923 a família se muda para Villajoyosa (Alicante); ali a
aguardará outro encontro com o destino. Em sua mesma rua - r. Costereta - reside o artista
paraguaio Andrés Campos Cervera, quem, bolsista por seu governo, pesquisa a cerâmica de
Manises. Andrés Campos Cervera havia nascido em Assunção do Paraguai em 3 de maio de
1888, no seio de uma família de origem espanhola. Seu pai, Cristóbal Campos Sánchez, dou-
tor em Ciêcias Naturais, havia abandonado as paisagens de olivais da alta Andaluzia pelo Pa-
raguai, depois de uma permanência de uns poucos anos em uma capital de província da Repú-
blica Argentina, onde havia exercido a docência. No Paraguai participa ativamente empresas
culturais: é um dos fundadores do Colégio Nacional, dita cátedras diversas, trabalha em diá-
rios... Cristóval Campos Sánchez havia se casado com Aurelia Cervera de la Herrería, que
pertencia a uma família oriunda do Cantábrico. Esta família se encontrava por sua vez com
outra da que haviam saído alguns literatos, como Nicolás Díaz Pérez5, que foi cronista de Ex-
tremadura. Andrés Campos Cerveja, um dos filhos mais novos, mostrará desde cedo uma ine-
quívoca vocação artística. Sua inclinação pela arte o leva a passar uns anos na Espanha, onde
já residia seu irmão Eugenio e onde se matricula na Academia de Belas Artes (Sevilha) e na
Escola de São Fernando (Madri) fazendo breves escapadas à França e Itália6.
Uma bolsa do governo paraguaio o leva de novo a Paris, desta vez para fixar ali
sua residência. Compartilha tertúlias com Picasso, Foujita, Matisse, Dufy e inclusive toma
notas do perfil de Amado Nervo. Foram seis anos de paris, “e mais que de Paris de Montmar-
nasse”7. Desta época dá conta um artigo publicado em Assunção em 1920:
5 Os filhos deste serão Viriato Diaz Pérez, polígrafo espanhol, radicado no Paraguai desde 1906, e Alicia Díaz
Pérez, casada com um dos irmãos de Andrés, Hérib Campos Cevera, com quem terá um filho, Juam Cristóbal
Campos Díaz, que levará logo o nome de Hérib Campos Cervera, uma das vozes poéticas mais importantes do
Paraguai, personalidade fundamental, junto com Josefina Plá, no desenvolvimento da cultura moderna do país.
6 Permanece na Espanha desde meados de 1907 até princípios de 1912. Depois de uma breve escapada a Paris,
volta de novo a Madri e Dalí empreende viagem à Itália, onde morará até princípios de 1913.
7 Plá, Josefina. El espíritu del fuego. Biografía de Julián de la Herrería. Asunción, Imprenta Alborada, 1977,
pág. 37.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Era, aquela reunião, diária, em seu ateliê do Bairro Latino, nas cercanias de Luxem-
burgo, onde passávamos as tardes pintando e discutindo problemas de ordem geral.
Por esse lugar desfilaram quanto argentino, paraguaio, oriental, chileno, brasileiro,
peruano, etc. que chegavam à Paris à procura de luzes. Ali se falou de política, de
revoluções, de futuros triunfos artísticos, de uma completa reforma das artes, da mú-
sica e das letras.
Depois de uma breve viagem à Inglaterra regressa ao Paraguai na primavera de
1919, depois de haver estado doze anos ausente de seu país. Realiza exposições, vende qua-
dros, participa de tertúlias e colabora com ilustrações nos jornais locais. Deixa Assunção em
agosto de 1920 e durante quatro anos e meio permanece na Espanha: Madri, Santander... Uma
segunda bolsa do governo paraguaio o leva a estudar a cerâmica de Manises. Se instala em
Valencia e assiste a aulas na Escola de Cerâmica. Depois de uma longa etapa de trabalho ex-
põe na Feira Mostruário de Valencia8; decide então tirar uma temporada de descanso em Vil-
lajoyosa, onde havia se instalado seu irmão Eugênio. É precisamente neste lugar onde se en-
contra com “Niní”, apelido familiar com que se conhecia Josefina Plá. Na biografia que faz de
seu marido, ela mesma evoca este feito:
Ela é uma menina ainda, e ele é um homem já sério - trinta e seis anos - mas a afini-
dade é indubitável. E o namoro começa e a seguir apesar da obstinada oposição da
família da namorada, enquadrada em um rígido sentido pequeno purgues da vida: “a
vida com um artista não oferece garantia de estabilidade moral nem econômica”9.
Depois de seis dias de cortejo e de muito conversar, a namorada se compromete a
realizar traduções que lhe havia solicitado Andrés Campos Cerveja dos textos de Kulturen der
Erde - Culturas do mundo -. O namorado, por sua vez, deve partir de novo a Manises, dando
por terminadas suas curtas férias. A relação continuará por correspondência - duas cartas por
semana, as vezes três - até o final do namoro. “Mimí”10, assim rebatizada pelo artista, perma-
nece algum tempo em Villajoyosa, mas pouco depois uma nova mudança de trabalho do pai a
8 O artista concorre com um plano monumental de uma coleção de indígenas sentados; um grupo deles foi adqui-
rido pelo Rei Alfonso XIII.
9 Plá, Josefina. El espíritu del fuego, op. cit., pág. 82.
10 Ainda que não haja dados do porquê o artista elege este nome, chama a atenção a coincidência do mesmo com
o do protagonista da obra de Alfred de Musset, Mimí Pinsón, uma das figuras mais representativas do roman-
tismo, encarnação ideal da amada do artista, que simboliza a alegria de viver.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
leva a residir em Almería.
Enquanto o namorado trabalha incansavelmente em Manises, ainda que um pro-
blema de inscrição na Escola de Cerâmica de Valência o obriga a matricular-se na Escola de
Belas Artes de Madri, aproveitando sua estadia na capital para realizar uma exposição de ce-
râmica, inaugurada em 16 de dezembro de 192, pela que recebe numerosos elogios da crítica.
De volta a Levante, entre março e abril de 1925 apresenta sua obra em Alicante. Ao acabar o
prazo da bolsa, volta ao Paraguai.
Seu encontro com Andrés Campos Cervera foi qualificado por Josefina Plá como
o segundo acontecimento capital de sua vida, ainda que o ambiente familiar não resultasse
propício para a relação. A família, e em especial o pai, respirou com alívio com a partida do
artista. Esta despedida, no entanto, não foi causa suficiente para o esquecimento. Assim o
demonstra o seguinte fragmento de seu “Autoesboço”:
Quase imediatamente cometi outro disparate: me apaixonei. A casa retumbou de
trovões premonitórios. O namorado, no entanto, depois de seis dias de cortejo se au-
sentou rumo ao Paraguai nada menos; e meu pai, esquecendo-se de seus êxitos histó-
ricos ante o prodígio das Missões Jesuitas, prediz o recesso e evaporação do malfa-
dado donzel. No entanto, vinte meses mais tarde me chegou uma petição à mão,
aquilo foi trágico. Não sei como meus pais consentiram. Suponho que chegaram à
conclusão de que o homem que havia sido capas de permanecer fiel, rodeado de to-
dos os feitiços tropicais, era capaz de tudo.11
O artista, já estabelecido em Assunção, realiza outra exposição de cerâmica. Além
disso, empreende a construção de um forno, vende algumas peças e, com o dinheiro que ob-
têm, afronta os gastos de um casamento à distância. Os fundos não dão para duas passagens,
pelo que escreve a Mimí “Não me é possível ir buscar-te... Virias sozinha?” Ainda que o artis-
ta jamais posou em Almería se casou por poderes nesta cidade em 17 de dezembro de 1926.
As crônicas da boda se publicaram tanto em Assunção quando em Almería.
O CORAÇÃO DA AMÉRICA: PARAGUAI
Uma vez celebrada a boda, Josefina Plá embarca rumo ao Paraguai em 6 de janei-
11 “Autosemblanza escrita a pedido de un periodista extranjero”, enero de 1968, citada por Ramón Atilio Bor-
doli Dolci em: La problemática del tiempo y la soledad en la obra de Josefina Plá [Facsímil de Tesis]. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 1984, pág. 517.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ro de 1927, pisando em terra americana no dia 1 de fevereiro.
E cruzei o oceano, como Colombo, com esse sonho nas costas. Sonho grande como
pode sê-lo uma terra nova para uma mulher; sonho identificado com o de um mundo
de amor inesgotável. Agora bem, ainda que este país novo se figurasse nos mapas e
tivesse nome e história, para mim era âmbito desconhecido: existia, mas eu devia
descobri-lo.12
A esposa se instala primeiramente na quinta paterna dos Campos Cervera - Vila
Aurélia - e aos fins de 198 se muda para Assunção - rua Estados Unidos e Republica da Co-
lômbia -, à casa onde continuará residindo nossa autora até seus últimos dias. A esposa ajuda
o marido na construção de um forno e aprende a arte da cerâmica.
No Paraguai Josefina Plá inicia logo sua verdadeira vocação, a literária. Se inte-
ressa pelas atividades teatrais, chegando inclusive, durante o mesmo ano de sua chegada, a
estrear uma primeira obra, Vitima propiciatória, uma comédia em três atos representada no
Teatro Granados pela companhia Diaz-Perdiguero em agosto de 1927. Neste mesmo ano se
inclui na diretoria da Sociedade de Autores locais e no seguinte de Assunção. Cria uma seção
bibliográfica de caráter fixo na que resenha livros de poesia. Esta é a primeira vez que a im-
pressa paraguaia arruma uma inquietude cultural deste tipo. Além disso, é nomeada corres-
ponsável da revista argentina Orientação e colabora nos últimos números da revista literária
Juventude.
Pesa sua dedicação ao jornalismo, Josefina Plá trabalha com seu marido, apare-
cendo com ele em uma exposição que haviam preparado conjuntamente e que se apresentou
no Salão Alegre de Assunção em agosto de 1928, primeira ocasião em que ela aparece como
expositora e vende suas obras. Nesta mostra Andrés Campos Cervera muda seu nome pelo de
“Julián de la Herrería”: Julián era seu segundo nome, De la Herrería o segundo sobrenome de
sua mãe. Tal como nos disse Josefina Plá em sua biografia, o motivo não é outro que o orgu-
lho do artista, que tenta conseguir a fama por si mesmo e não por mediação dos conhecidos
sobrenomes paternos.
Nossa autora continua seu trabalho literário e ensaístico nos jornais de Assunção,
e inicia seu trabalho como locutora cultural na rádio El Orden. Este feito a converte na primei-
12 Plá, Josefina. “Si puede llamarse prólogo” em: Latido y Tortura. Puerto del Rosario, Cabildo Insular de Fuer-
teventura, 1995.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ra mulher locutora na história da rádio paraguaia; todo isso sem abandonar a arte, pois com
seu pseudônimo “Abel de la Cruz” dá a conhecer suas gravuras em linóleo ou na madeira no
jornal El País de Assunção.
Em junho de 1929 o casal de artistas realiza uma nova exposição no Ginásio Pa-
raguaio, cujo objetivo principal é o de absorver os gastos que se reverterão em remédios, mui-
to repouso e boa comida. As penúrias são cada vez mais dirigentes. O doente vai se degradan-
do, não surtem efeitos os medicamentos, nem sequer a sangria, último remédio de urgência.
Em 11 de julho de 1937, “um domingo esplendido de sol”, morre Julián de la Herrería. Logo
sua mulher, ajudada por alguns amigos faz um molde do rosto do artista, mas ao pode fazer o
mesmo com as mãos. Essas mãos, tantas vezes recriadas na poesia, se converterão no vestígio
indelével do esposo.
Josefin Plá renova os tramites para regressar ao Paraguai, mas a penúria econômi-
ca se acelera e só dispõe de dinheiro para sobreviver. Longe fica o pagamento de um bilhete
que a leve de novo a sua terra de adoção. Em setembro desse mesmo ano, durante uma visita a
sua família em Villajoyosa, recebe uma carta do segundo marido de sua cunhada Andrea
Campos Cervera, Roberto Huber, quem toma conta do pagamento do bilhete de Marselha ao
Paraguai. Em troca receberá algumas peças do artista. Só resta conseguir a passagem que cu-
bra a distância de Barcelona a Marselha; para isso há de ser vender quase todos seus perten-
ces: roupas, cobertas, objetos domésticos e até uma coleção de selos paraguaios. Antes de
viajar, deixa em bom cuidado a coleção de Julián de la Herrería no Museu Nacional de Bellas
Artes de Valencia, na espera de que no futuro viaje à terra paraguaia, o que não ocorrerá até
1956. Não sucederá o mesmo com sua coleção de cerâmicas, a biblioteca e as valiosas lem-
branças pessoais, condenados a perder-se no transcorrer dos anos.
Solucionados os trâmites, em 27 de fevereiro de 1938, toma o três para Barcelona.
Até em 5 de março não sairá para Marselha, e no dia seguinte o destino será Buenos Aires.
Vários dias depois embarca rumo ao Paraguai, onde chega em 10 de abril de 1938.
Em seu regresso ao Paraguai, o governo, supondo laços da artista com a Repúbli-
ca espanhola, determina confiná-la em Clorinda, cidade da província de Formosa (Argentina),
a quatro quilômetros da fronteira com o Paraguai. Josefina Plá apela a suas credenciais de
correspondente e jornalista durante os primeiros anos da guerra e, pouco depois, retorna a
Assunção.
Agora Josefina Plá se encontra com m pais que, havendo saído vencedor da Guer-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ra do Chaco (1932-1935), mantém uma situação política instável. Muitos eram os desastres
causados pelo enfrentamento, e a isto se somava um caos de lutas fraternas, de greves violen-
tas, de revoluções e ditaduras que culminariam com o estouro da Guerra Civil em 1947. Não
obstante, em meio desta desordem é capaz de realizar um imenso labor de renovação artístico
e literário.
Em 1938 reinicia seu trabalho dramático. Com Roque Centurión Miranda escreve
La hora de Caín, drama em três atos que é emitido parcialmente pela Rádio Livieres entre
1938 e 1939. Do mesmo ano é La humana impaciente, drama em três atos do qual se conhe-
cem algumas cenas em 1939, graças ao trabalho da Rádio Proal. Nestes anos escreve em jor-
nais e revistas paraguaias numerosos sobre critica teatral, tanto de obras nacionais como es-
trangeiras, e investiga diversos aspectos do teatro.
Junto com Roque Centurión Miranda funda e dirige Proal (Pró Arte e Literatura),
primeiro jornal literário radiofônico no Paraguai. Se encarrega de sua redação no El Diario
durante os anos de 1938-1939. É nomeada diretora do diário Pregón em 1939 e exerce como
redatora na revista Guarán.
Fiel à sua ideia de manter a viva a memória do artista, funda em 1938 o Museu de
Cerâmica e Belas Artes “Julián de la Herrería”, do qual será proprietária e diretora (mais tar-
de, será reconhecido pela UNESCO e incluído em sua lista de Museus Latino-americanos).
Durante a década de 1940 o panorama artístico paraguaio é o do país abafado em velhas con-
cepções estéticas. Surge nestes anos uma série de escritores preocupados por arejar o panora-
ma cultural e por em dia a literatura paraguaia. Este grupo se conhecerá posteriormente como
Geração de Quarenta. Esta geração é formada por Josefina Plá, Hérib Campos Cervera, Au-
gusto Roa Bastos, Julio Correa, Ezequiel González Alsina, Hugo Rodríguez Alcalá, Oscar
Ferreiro y Elvio Romeo. Para difundir sua tarefa contam com um espaço semanal no jornal
asuceno El País.
Estes artistas, entre os quais se encontram poetas, pintores, músicos, dramaturgos,
criam um cenário cujo objetivo principal é o de reunir seus integrantes em tertúlias que se
realizam na casa de alguns de seus componentes, como na do pintor Liber Fridman. O cenário
recebe cenáculo recebe o nome guarani de V’y Raytí (“Canto” o “Ninho da alegria”). Tanto a
Geração de Quarenta como o cenáculo se dissolvem com a Guerra Civil de 1947, que obriga a
abandonar o país a alguns de seus integrantes.
Durante estes anos tem lugar na vida de Josefina Plá uma série de acontecimentos
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
de cunho mais pessoal. Em 1940 nasce seu primeiro filho, Ariel Tabaré, a quem registram
com o sobrenome materno. A vivencia da concepção foi recriada poeticamente em 193913.
Um fato doloroso marcará sua vida pouco depois, a morte de seu pai em 1941, quando este se
encontrada no farol de Torrevieja; a imagem paterna ficara para sempre identificada poetica-
mente como o mar14.
Ainda que sejam anos duros, Josefina Plá seguirá para futuro desempenhando um
prolífero trabalho cultural, pois não só escreve e Poe em cena obras dramáticas, como também
trabalha como assídua colaboradora e frequentemente como produtora de quantas iniciativas
que surgem nesses primeiros momentos e até 1950 em prol da cristalização de um novo teatro
próprio. Seu trabalho jornalístico se incrementará com posterioridade tal como suas atividades
radiofônicas. Mas também dará numerosas conferências e aulas de cerâmica. A ela se deve a
aparição dos ceramistas nativos que continuam à esteira de Julian de la Herrería. A artista
propaga de maneira efervescente o interesse por este exercício e, a partir de 1947, expõe suas
peças em diferentes salas de Assunção, mais tarde fora do país. Funda junto com Roque Cen-
turión Miranda a Escuela Municipal de Arte Encénico, e redata a primeira carta organizacio-
nal desta entidade, aprovada em maio de 1948. Nesta mesma escola desempenha o cargo de
secretária assessora de 1948 a 1967. Ocupa diversas cátedras: Historia del Teatro, Análisis
Teatral, Accesorios Escénicos, Análisis de personajes, Teoría del Teatro y del Drama, Análi-
sis de Obras, e Fonética. Ainda que a escola feche por motivos políticos, de 1949 até 1950,
uma vez reaberta continua ensinando no dito centro. Traduz para seus lunos obra de Paul Mo-
rand, Luigi Pirandello, Sacha Guitry…
Josefina Plá segue dando aulas de cerâmica durante estes anos. Em 1952 sua obra
e a de seu aluno José Laterza Parodi são expostas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os
anos de 1952-1953 se constitue, junto a João Rossi, na principal teórica e divulgadora dos
princípios estéticos do “Arte Nuevo”. Em 1953, com Olga Blinder, Lilí del Mónico e José
Laterza Parodi, funda o Grupo Arte Novo, que propunha a renovação da Arte Paraguaia, an-
corado até mediar o século no pós-impressionismo acadêmico. A este Grupo se deve a organi-
zação da Primeira Semana de Arte Moderna Paraguaia (1954), durante a qual se expõem as
peças de vários artistas nas vitrines dos principais comércios da rua Palma de Assunção.
A concessão de uma Bolsa do Instituto Hispânico para o ano de 1955-1956 a per-
13 Plá, Josefina. “Concepción” en: La raíz y la aurora. Asunción, Ediciones Diálogo, 1960, pág. 11.
14 Plá, Josefina. “Amaste el mar” en: Cambiar sueños por sombras. Asunción, Alcándara, 1984, pág. 66.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
mite viajar à Espanha. Ali administra a recuperação da coleção de Julián de la Herrería, guar-
dada no Museu de Bellas Artes de Valencia. Em 1957 é designada pela UNESCO organizado-
ra oficial da primeira Mesa Redonda sobre Artesanato do Paraguai.
Aos fins da década de cinquenta e inícios da seguinte colabora estreitamente para
a Revista Alcor - dirigida por Rubén Bareiro Saguier -, oferecendo traduções, contos, artigos e
resenhas. Em 1963 recebe um convite do Departamento de Estado dos EUA para visitar este
país durante os meses de setembro a novembro. Durante sua estadia dita uma conferencia na
Alfred University, na Seattle University e em outros centros acadêmicos americanos. Em
1964 lhe concedem o Prêmio Lavorel de escritor, que durante os vinte últimos anos, mais se
distinguiu por suas atividades em prol da cultura paraguaia. Também participa de diversos
encontros internacionais de escritores, entre eles cabe citar os realizados em Gênova15 (1965),
Caracas (1967) e Estados Unidos com o motivo do Ano Internacional da Mulher.
Junto com o artista Laterza Parodi confecciona o mural em cerâmica veneziana do
edifício do Instituto de Previsão Social (Assunção, 1961). Ambos criam também os murais do
hall do Teatro Municipal de Assunção (1963). Em 1964 organiza, junto com Miguel Ángel
Fernández, a Exposição Retrospectiva da Arte Moderna Paraguaia. É nomeada jurada local
para representação paraguaia nas Bienais V, VI e VII de São Paulo (1959, 1961 e 1963) e
também na II Bienal de Córdoba (Argentina, 1964). Por sua vez, nos primeiros anos da déca-
da de sessenta realiza numerosas exposições de cerâmica: São Paulo, Washington e Buenos
Aires, além de sua habituais mostras em Assunção. De forma paralela, publica diversos livros
sobre artes plásticas: El Grabado en el Paraguay (1962), Las artesanías en el Paraguay
(1969), El barroco hispano-guaraní (1964). Continua publicando em revistas e cadernos so-
bre arte. Ao mesmo tempo redata o capítulo correspondente ao Paraguai para a Enciclopedia
del arte en América de Vicente Gesualdo, Buenos Aires, 1968.
Durante os anos seguintes continua seu trabalho de difusão e crítica artístico-
literária, o que dá lugar a um volumoso número de publicações sobre o particular. Além disso,
nos anos cinquenta começa o reconhecimento ao trabalho cultural desenvolvido por nossa
autora no Paraguai. Se no campo da dramaturgia e da narrativa o trabalho criativo de Josefina
Plá é ingente, não o é menos no âmbito da criação poética. Desde sua cegada ao país não ha-
15 Participa no Congresso e cria a Associação de Escritores Latino-americanos com o auspicio da Fundação Co-
lombianum. Junto a ela assistem Miguel Ángel Asturias, Ciro Alegría, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Leo-
poldo Zea, Luis Alberto Sánchez, José María Arguedas y Augusto Roa Bastos, entre outros escritores de Améri-
ca Latina.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
via deixado de escrever poesia, mas esta só se conhece através de jornais e revistas, salvo seu
primeiro livro de poemas El precio de los sueños (1934). É a partir de 1960 quando sua pro-
dução lírica começa a ser recolhida sob a forma de livros: La raíz y la aurora (1960), Rostros
en el agua (1963), Invención de la muerte (1965), Satélites oscuros (1966), El polvo enamo-
rado e Desnudo día (1968).
Na década de 70 Josefina Plá recebe numerosas distinções, cargos honorários,
homenagens, etc. Em 1976 é distinta com a Medalha do Bicentenário da Independência dos
Estados Unidos. Em 1977 recebe do Governo Espanhol a condecorações da Ordem “Isabel la
Católica. Lhe concedem, no mesmo ano, um jubileu pela Academia Paraguaia de Língua Es-
panhola; Cinquentenário, pela Universidade Católica e o Instituto Paraguaio de Cultura His-
pânica. É eleita “Mulher do Ano no Paraguai” e em 1979 lhe dão a Medalha do Ministério da
Cultura de São Paulo. Em 1971 é convidada a dar conferencias no Instituto Hispânico de Ma-
dri, motivo pelo qual viaja à Espanha.
Os anos oitenta são igualmente significativos neste aspecto. É nomeada Membro
do Número da Academia Paraguaia da História (1983), finalista do Prêmio Príncipe de Astu-
rias e Doutora Honoris Causa, pela Universidade Nacional de Assunção (1981). Recebe o
OLLANTAY galardão teatral (Venezuela, 1983), e a nomeiam Membro de Honra do Instituto
Literário e Cultural Hispânico dos Estados Unidos (1984). Igualmente é Membro Correspon-
dente da Real Academia Espanhola da História (1987), Membro Correspondente da Academia
Colombiana de História (1988), Prêmio Mottart de Literatura (Academia Francesa, 1987).
Além disso, de outros reconhecimentos, como ser Membro da Academia de Língua Espanhola
e da Sociedade de Escritores do Paraguai e Membro Honorário da Sociedade Argentina de
Escritores (SADE).
Especial relevância tem a obra narrativa de Josefina Plá que se incrementa nota-
velmente nesta década. Aparecem editados os seguintes títulos: El espejo y el canasto (1981),
La pierna de Severina (1983), Alguien muere en San Onofre de Cuaremí (1984), esta última
realizada em colaboração com Ángel Pérez Pardella. Também publica sua coleção de contos
La Muralla robada (1989), e uma série de contos infantis, Maravillas de las Villas (1988). O
mesmo ocorre com sua produção lírica: Follaje del tiempo (1981), Tiempo y tiniebla (1981),
Cambiar sueños por sombras (1984), La nave del olvido (1985), Los treinta mil ausentes:
elegía a los caídos del Chaco (1985). Esta última havia recebido o Primeiro Prêmio do con-
curso realizado com o motivo do Cinquentenário da Guerra do Chaco (1982). Posteriormente
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
aparecerá seu último livro de poemas, La llama y la arena (1987). Além disso, cabe destacar
as diversas antologias e traduções que realiza.
A enorme tarefa de Josefin Plá desenvolveu-se no âmbito da cultura paraguaia le-
vando a crítica a considera-la uma figura símbolo, sem cuja presença não poderia entender-se
o panorama intelectual deste país. Por este motivo, o Governo paraguaio lhe atribuiu, em
1990, uma pensão vitalícia e o Centro de Artes Visuais inaugurou uma sala com seu nome. De
igual forma, recebeu o Prêmio da Sociedade Internacional de Juristas por seu trabalho em
defesa do Direitos Humanos.
Em 1992, em recorrência de uma homenagem, a cidade de Assunção celebrou
uma exposição sobre a vida e a obra de Josefina Plá. Durante a celebração do dito ato, organi-
zado pela Embaixada da Espanha no Paraguai, deram conferências sobre a poesia, narrativa,
teatro, obra artística, historiografia e crítica de arte, história social e cultura, ensaio e crítica
literária desta célebre criadora.
Não só pela diversidade, senão pela qualidade de sua produção, é pelo que deve-
mos contar Josefina Plá entre as mais valiosas criadoras da América Hispânica. Uma “mulher
excepcional que elegeu como parte de um destino ineludivel, o Paraguai” - no sentir de Carlos
Colombino16 - e que soube elevar a cultura paraguaia tirando-a de sua ilha, enquanto levou à
revisão e atualização da cultura do seu país de adoção.Segundo Augusto Roa Bastos, outro
autor que universalizou esta cultura: “Este é seu valor e seu mérito mais definitório17. Por ele
não há duvida, a maneira do reconhecimento pessoal, em dedicar-lhe seu romance Vigila del
Almirante (1992): “A Josefina Plá, o mais alto valor das letras hispânicas na América atual,
que soube unir ao longo de sua vida austera e fecunda seu amor e lealdade por sua terra espa-
nhola com sua adoção da dor paraguaia e converter-se no vínculo exemplar da vida cultural
dos dois povos”18.
Em 11 de janeiro de 1999 morre Josefina Plá, oportuno para retomar as palavras
que pronunciara a despedida de Julián de La Herreía: “Já seu frio não é deste mundo e desta
carne”19, nos deixa seu legado, grande parte dele. As distâncias deste mundo já não são obstá-
culos para chegar a sua obra.
16 Colombino, Carlos. Josefina Plá: Su vida. Su obra. Asunción, Dirección de Cultura/Municipalidad de Asun-
ción, 1992, pág. 5
17 Roa Bastos, Augusto. “La poesía de Josefina Plá”, ob. cit., pág. 61.
18 Roa Bastos, Augusto. Vigilia del almirante. Madrid, Alfaguara, 1992.
19 Plá, Josefina. El espíritu del fuego, ob. cit., pág. 148.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Referências
COLOMBINO, Carlos. Josefina Plá: Su vida. Su obra. Asunción, Dirección de Cultu-
ra/Municipalidad de Asunción, 1992.
PLÁ, Josefina. “Amaste el mar” en: Cambiar sueños por sombras. Asunción, Alcándara,
1984.
_______“Autosemblanza escrita a pedido de un periodista extranjero”, enero de 1968. In.:
DOLCI, Ramón Atilio Bordoli. La problemática del tiempo y la soledad en la obra de Jose-
fina Plá [Facsímil de Tesis]. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filo-
logía, 1984.
_______. El espíritu del fuego. Biografía de Julián de la Herrería. Asunción, Imprenta Albo-
rada, 1977.
_______. Se pode chamar-se prólogo. In: Grito e tortura. Seleção poética. Josefina Plá. .
Puerto del Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura, 1995.
_______. Si puede llamarse prólogo, In.: Latido y Tortura. Puerto del Rosario, Cabildo Insu-
lar de Fuerteventura, 1995.
________ .Concepción. In.: La raíz y la aurora. Asunción, Ediciones Diálogo, 1960.
ROA BASTOS, Augusto. “La poesía de Josefina Plá” en: Revista Hispánica Moderna. Nro.
32, julio-octubre 1966.
_______. Vigilia del almirante. Madrid: Alfaguara, 1992.
O OLHAR DA ANTROPOLOGIA URBANA COMO CHAVE DE
LEITURA PARA A LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÂNEA:
CULTURAS, FRONTEIRAS E MEDIAÇÃO
THE LOOK OF URBAN ANTHROPOLOGY AS KEY TO READING
ARGENTINE CONTEMPORARY LITERATURE: CULTURES,
BORDERS AND MEDIATION
Lívia Santos de Souza (UFRJ/UNILA)
RESUMO: A literatura contemporânea apresenta importantes relações com as ciências soci-
ais. No caso específico da antropologia das sociedades complexas, pode-se identificar esse
encontro de duas formas, por um lado, os autores de ficção tratam com muita frequência de
temas relativos a essa área do conhecimento, por outro, a tarefa do escritor se assemelha à do
etnógrafo, ambos atuam como um tipo especial de espectador da realidade, colocando em
circulação textos e discursos que problematizam os conflitos do espaço urbano. Este trabalho
tem como proposta analisar de que maneira conceitos como fronteira e mediação, lidos a par-
tir da abordagem da antropologia urbana, se converteram em matéria literária nas mãos de
alguns narradores argentinos contemporâneos. Para tanto, partiremos de um corpus composto
por três contos publicados na última década em antologias dedicadas a criar novos espaços no
mercado editorial. Tartagal queda cerca de Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal de
Fabio Martínez, Animetal, de Leonardo Oyola e El hombre del casco azul de Washington
Cucurto são textos que se constroem tanto entre fronteiras no sentido tradicional do termo, o
primeiro conto se passa entre Argentina e Bolívia, como em fronteiras simbólicas, internas ao
espaço da urbe contemporânea. Os narradores dos três contos atuam como guias entre os limi-
tes existentes nos territórios da cidade, são, nesse sentido, mediadores, capazes de efetuar um
tipo especial de tradução entre distintas realidades.
Palavras-chave: Narrativa argentina contemporânea; antropologia urbana; fronteira; media-
ção.
ABSTRACT: Contemporary literature has important relations with social sciences. In the
specific case of anthropology of complex societies, it is possible to identify this meeting in
two ways: on the one hand, fiction authors treat very oftenty issues relating to this area of
knowledge, on the other, the writer's task is similar to the ethnographer, both act as a special
kind of reality viewer, placing outstanding texts and discourses that question conflicts of ur-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ban space. This paper aims to analyze how concepts such as border and mediation, conceived
from the approach of urban anthropology, have become literary matter in the hands of some
contemporary Argentine narrators. Therefore, we work with a corpus made up of three short
stories published in the last decade in anthologies dedicated to creating new spaces in publish-
ing world. Tartagal queda cerca de Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal by Fabio
Martínez, Animetal, by Leonardo Oyola and El hombre del casco azul by Washington Cucur-
to are texts built both across borders in the traditional sense, the first story takes place be-
tween Argentina and Bolivia, for instance, as in symbolic boundaries, the internal space of the
contemporary metropolis. Also, the narrators of the three tales act as guides between existing
limits on city territories, becoming, in this sense, mediators, able to make a special kind of
translation between different realities.
Keywords: Argentine contemporary literature; urban anthropology; border; mediation.
1. Introdução
As cidades latino-americanas desenvolveram um considerável caráter cosmopolita
nas últimas décadas. Por cosmopolitismo compreende-se “a coexistência de diversos mundos
sociais e correntes culturais que expressam diferentes modos de relacionamento e interação
com a realidade”, nos termos propostos por Gilberto Velho (2010, p. 19). Qualquer estudo
que se proponha a analisá-las, portanto, deve levar em consideração essa crescente diversida-
de e as demandas por ela geradas.
Dessa forma, o espaço urbano representa o local de convivência com a diferença,
com o outro, por excelência. No entanto, a diversidade raramente se configura de forma ho-
mogênea. O que se observa na realidade é o crescimento da separação no espaço urbano. Pro-
cessos como o de fragmentação sócio-espacial identificados por estudos geográficos tem ga-
nhado especial força nas metrópoles latino-americanas na contemporaneidade. Josefina Lud-
mer (2010, p. 122), pensando textos literários que lidam com essa questão, fala sobre a cidade
latino-americana da atualidade como um conjunto de ilhas, espaços muitas vezes vizinhos em
sua localização, mas que ao mesmo tempo apresentam profundas diferenças culturais que di-
ficultam, quando não inviabilizam, o trânsito entre seus territórios. Torna-se necessário, por-
tanto, o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a interação entre essas diferentes
realidades. Entra em cena, nesse contexto, a figurar do mediador, fundamental para possibili-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
tar a circulação muitas vezes travada pelos processos de segregação e auto-segregação.
Indivíduos identificados com essa forma de atuação apresentam a habilidade de
transmitir valores, traduzir elementos culturais pertencentes a diferentes grupos. Pretende-se
com esse trabalho analisar a construção de algumas formas de mediação identificadas com
cidades argentinas na contemporaneidade. Para tanto, escolhemos realizar uma leitura relaci-
onada a obras literárias identificadas com um movimento conhecido como Nueva Narrativa
Argentina, um grupo heterogêneo de autores nascidos a partir da década de 70 que tem ga-
nhado alguma visibilidade através de espaços alternativos de publicação como a internet e
antologias de contos de tiragem relativamente reduzida.
A opção por esse grupo não é arbitrária, a relação entre esses autores relativamen-
te jovens e o espaço urbano argentino é intensa. Há em muitas de suas obras, a intenção de
representar o urbano, de falar dos conflitos na cidade. Uma das muitas antologias publicadas
com o rótulo Nueva Narrativa Argentina, Buenos Aires Escala 1:1 é composta exclusivamen-
te por contos relacionados aos bairros da capital do país, outros volumes com o mesmo perfil
ocupam-se de outras regiões argentinas e também apresentam notáveis retratos de suas cida-
des. Nota-se, portanto, uma preocupação com a construção de uma cartografia dos espaços
simbólicos da cidade, um exercício constante de elaboração de sua identidade
(DRUCAROFF, 2001, p. 18).
Dentre os muitos textos que poderiam ter sidos selecionados para essa análise, fo-
ram escolhidos três que apresentam uma relação muito produtiva com os conceitos que se
pretende trabalhar; Una mañana con el hombre del casco azul de Washington Cucurto, publi-
cado em 2005 na antologia La Joven guardia, a primeira publicação do gênero, Animetal, de
Leonardo Oyola, de 2007 e retirado da Buenos Aires Escala 1:1 e Tartagal queda cerca de
Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal de autoria de Fabio Martínez e incluído em Es
lo que Hay antologia dedicada à nova narrativa argentina originada em Córdoba.
O texto de Washington Cucurto é narrado pelo próprio homem do casco azul que
nomeia o conto e se dirige, ambiguamente, aos seus “leitores”. Esse narrador-protagonista é
repositor em uma rede de supermercados em Buenos Aires e apresenta sua visão sobre varia-
dos aspectos da vida social nessa cidade a partir desse ambiente específico.
O conto de Leonardo Oyola, Animetal, assim como a narrativa de Cucurto, se es-
trutura como uma espécie de diálogo. Seu interlocutor, entretanto, não é um leitor hipotético
abstrato, mas sim um personagem interno à narrativa, sobre o qual recebemos poucas infor-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
mações ao longo das páginas do texto. Toda a narrativa se passa em uma zona de Buenos Ai-
res conhecida como bajo flores, um lugar identificado como hostil, uma zona de confluência
de muitas comunidades, especialmente estrangeiros, paraguaios, coreanos e bolivianos.
Já em Tartagal queda cerca de Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal Fa-
bio Martínez apresenta uma região bastante distante da capital argentina: a fronteira entre Ar-
gentina e Bolívia. Em comum com as narrativas anteriormente apresentadas encontra-se a
narrativa dialogada e a presença de vozes narrativas que são ao mesmo tempo guias entre os
espaços que apresentam e tradutores\intérpretes da complexidade cultural da região em ques-
tão.
Os três textos, portanto, trabalham ficcionalmente de maneira produtiva alguns
conceitos caros à antropologia urbana, como fronteira e mediação. Pode-se ainda observar que
como pano de fundo dessas questões está em jogo uma ideia bastante contemporânea de cul-
tura, que compreende esse complexo conceito como uma rede de significados que muitas ve-
zes entram em conflito entre si (CANCLINI, 2009, p. 41). As narrativas se utilizam da liber-
dade que o texto literário possui para evidenciar como significados se constroem diversamen-
te em distintos espaços e acabam por aproximar escritor de ficção e etnógrafo na tarefa de
trazer à tona novas leituras para o peculiar texto que é o urbano.
2. O olhar da antropologia urbana como chave de leitura para a literatura
argentina contemporânea: culturas, fronteiras e mediação
O sociólogo norte americano Howard S. Becker, em seu livro Falando da socie-
dade, tenta pensar como vários recursos, entre eles a literatura, podem apresentar chaves para
a compreensão de fenômenos sociais. Becker defende que obras ficcionais frequentemente
apresentam percepções “que merecem ser lidas sobre como a sociedade está construída e fun-
ciona” (p. 16).
Entretanto, não é uma pretensão de Becker que o artístico seja visto exclusiva-
mente como representação do social: “Dizer que essas obras e autores fazem “análise social”
não significa dizer que isso é “tudo” o que fazem, ou que essas obras são “apenas” sociologia
sob um disfarce artístico” (2009, p.79). A constatação presente na citação evidencia que o
literário pode servir como objeto para as ciências sociais, mas também deixa implícito que
uma análise que tenha em conta o artístico pode incorporar o aspecto análise social. Dessa
forma, a relação entre essas duas áreas do conhecimento, longe de comprometer o aspecto
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
estético intrínseco ao artístico ou o rigor necessário à elaboração do discurso do cientista soci-
al, pode contribuir para ambos os universos em questão.
As narrativas curtas Uma manhã com o homem do casco azul, Animetal e Yacuiba
queda cerca de Tartagal y Tartagal queda cerca de Yacuiba apresentam claramente condi-
ções para uma leitura desse tipo, relacionada ao contexto urbano. Pode-se observá-las como
mapas, uma vez que descrevem trajetos e apresentam possibilidades de leitura para toda a
complexidade do cosmopolitismo e dos conflitos existentes nesse espaço. Sobre essas narrati-
vas, pode-se ainda afirmar que à semelhança do que afirma Magnani (2009, p. 32) enxergam
a cidade, mais do que (como) um mero cenário onde transcorre a ação social, (co-
mo) o resultado das práticas, intervenções e modificações impostas pelos mais dife-
rentes atores (poder público, corporações privadas, associações, grupos de pressão,
moradores, visitantes, equipamentos, rede viária, mobiliário urbano, eventos, etc.)
em sua complexa rede de interações, trocas e conflitos.
Outro ponto comum fundamental entre os textos literários selecionados e o fazer
antropológico se observa na própria elaboração da voz narrativa. Nos três contos as vozes
narrativas estão identificadas com seus protagonistas. Esses personagens apresentam regiões,
fragmentos de cidade “ilhas urbanas” para usar o termo proposto por Josefina Ludmer para
tentar dar conta da heterogeneidade da cidade latino-americana contemporânea e de sua repre-
sentação literária (2010, p. 125), assumindo para si uma posição análoga à do informante ou
mesmo do etnógrafo.
Observa-se nos textos também o interesse pelo crescente processo de fragmenta-
ção sócio-espacial observado não só em Buenos Aires que ganhou força nas cidades argenti-
nas com a grave crise econômica enfrentada pelo país no início da última década. Intensifica-
ram-se, desde então, a presença de espaços identificados com a pobreza e a ausência das con-
dições mínimas de saneamento e higiene, as Villa Miserias, termo muitas vezes traduzido ao
português como favela e bairros identificados com grupos específicos de imigrantes
(JANOSCHKA, 2005, s/n).
Nesse contexto, os narradores-protagonistas atuam como mediadores, uma vez
que possuem a capacidade de transitar entre distintos grupos e espaços traduzindo seus códi-
gos. São, como afirma Gilberto Velho “intérpretes e reinventores da cultura” (2010, p. 20).
Por essa razão, esses textos literários apresentam bastante significativos pontos comuns com a
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
etnografia, já que esse gênero, tão característico das ciências sociais, tem como especificidade
a presença de “um olhar de perto e de dentro” como afirma Magnani (2009, p. 133) articula-
do, no entanto:
a partir dos arranjos dos próprios atores sociais, ou seja, das formas por meio das
quais eles se avêm para transitar pela cidade, usufruir seus serviços, utilizar seus
equipamentos, estabelecer encontros e trocas nas mais diferentes esferas - religiosi-
dade, trabalho, lazer, cultura, participação política ou associativa etc (MAGNANI,
2009, p. 133).
O fazer etnográfico, portanto, não se restringe às ciências sociais, antes, ele pode
ser visto como um método, uma espécie de “atitude”, nos termos proposto por Klinger (2007,
p. 76) produtivo sempre que o objetivo é gerar discursos sobre culturas e sociedade. Faz-se
necessário, assim, verificar de que forma o corpus selecionado se apropria desse método e o
converte em discurso literário.
2.1. Uma manhã com o homem do casco azul: Buenos Aires a partir do su-
permercado
Cucurto é conhecido por seu estilo peculiar e irônico, mas também por frequen-
temente empregar recursos auto-ficcionais em seus contos. No texto em questão, os persona-
gens chamam o protagonista de Vega, sobrenome real do escritor. Washington Cucurto é na
realidade um pseudônimo, que também surge como nome de personagem com alguma fre-
quência em sua obra. Com um título já publicada no Brasil seu nome já possui certa circula-
ção no campo literário argentino.
Em Una mañana con el hombre del casco azul, o narrador-protagonista está com-
pletamente identificado com o conceito de mediação, já que ao circular numa bicicleta, des-
creve o trajeto que faz enquanto percorre os supermercados da rede Coto e o relaciona às
questões sociais que permeiam esse espaço:
Pedaleo, el corazón me acelera y ya estoy llegando por Mitre hasta Once. De repen-
te, chas, nos encontramos con las luces de la Plaza Once que la cruzamos en bicicle-
ta en dos segundos. ¿Más despacio? Quieren contemplar el panorama. Okey, esos
son los borrachitos cumbianteros de Latino Once (CUCURTO, 2005, p. 68)
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
A cidade se torna, nesse contexto, mais do que cenário, um personagem funda-
mental para a narrativa. O narrador de Cucurto cria ainda una imensa e interessante galeria de
‘tipos’ profissionais que atuam em supermercados portenhos, também fundamentais para a
compreensão do local que se pretende caracterizar:
En los distintos puestos del súper hay de todo, como en el mundo. Pero estas defini-
ciones son las que abundan sin caer en generalidades. Reponiendo, escuchando y
mirando durante más de diez años en distintos supermercados de la ciudad me fui
estableciendo estos distintos tipos de empleados (CUCURTO, 2005, p. 69).
Entre eles estão a operadora de caixa que se aproveita de sua beleza para enganar
aos chefes, e seu oposto, a que não fala com ninguém. Vega descreve os supervisores e encar-
regados, responsáveis por fazer o controle dos serviços mais básicos. São apresentados tam-
bém os tipos de repositor, os que acabaram de chegar do interior da Argentina e que por suas
condições sociais fazem e suportam tudo o que seja pedido pelos chefes, os que querem che-
gar a postos mais destacados e se aproximam dos superiores, e o grupo com o qual se identifi-
ca Vega: os que fazem todo o possível para tirar vantagem do ambiente de trabalho.
Um grupo específico é considerado o pior de todos para o narrador: os clientes.
Esses também estão divididos em subgrupos, as mulheres da classe média que não fazem na-
da, e vão ao supermercado vestidas como estivessem indo à praia, os que gastam metade de
seu salário em cosas inúteis, os que deixam os produtos desorganizados e afastados de seu
lugar de origem.
De ambos os grupos, um tipo de personagem se salva: os que roubam. O narrador
do conto defende abertamente os que frequentam o espaço do supermercado não para consu-
mir os produtos ali oferecidos de forma tradicional, mas sim para apropriar-se deles ilicita-
mente:
Claro que entre los clientes están lo que se salvan, los que marcan la diferencia, di-
ría Bilardo; estos son los ladrones, los rompetodos, los saboteadores, hay miles,
vuelven loca a la seguridad y representan uno o dos puntos de pérdida por mes. Yo
los conozco a todos y obviamente, los dejo hacer lo que se les cante (CUCURTO,
2005, p. 70).
Esse fato se relaciona diretamente às propostas estéticas defendidas por Cucurto;
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
o autor com frequência descreve sua obra como parte de uma literatura chorra, termo pejora-
tivo diretamente vinculado ao submundo do crime argentino. Entram em jogo, nesse contexto,
outros conceitos bastante caros à antropologia, as ideias de subversão e negociação. O conto
em questão, à semelhança da definição de etnografia apresentada por Magnani, se propõe a
observar e descrever a cidade “de perto e de dentro”, explorando toda a complexidade e as
contradições que esse espaço apresenta.
À semelhança do que afirma Gilberto Velho (2003) sobre as amplas possibilida-
des de circulação das empregadas domésticas no Rio de Janeiro, o repositor de supermercado
também demonstra suas habilidades nesse sentido. Entre o Once o Palermo, o narrador de
Cucurto cruza as ilhas que compõem a cidade e apresenta sua interpretação para cada uma
delas. De um posto subalterno, ignorado por grande parte dos moradores da cidade, ele tece
sua leitura sobre Buenos Aires contemporânea, um lugar marcado pela desigualdade e pela
hipocrisia, no qual só os mais espertos têm vez.
Nota-se, portanto, que o texto apresenta também postulações sobre temas como
consumo e identidade. Estão também referências ao período do neoliberalismo na argentina,
sempre mediadas pelo ponto de vista do repositor:
Yo repuse para el neoliberalismo argentino, década del 90 en Carrefour no se olvi-
den, repuse para el menemismo, para el duhaldismo, yo viví, cogí, cumbiantié, repo-
ní, comí, para el neoliberalismo hasta que me echaron del Carre por no afeitarme y
ahora estoy de repo externo para la firma Baggio (CUCURTO, 2005, p. 67).
O ambiente do supermercado configura, dessa forma, uma representação de ele-
mentos mais amplos como as relações de poder e a situação político-econômica do país, a
partir desse espaço, inesperado porém significativo, são levantadas hipóteses de compreensão
para a própria Argentina contemporânea.
2.2. Animetal: quem é o outro?
Como no conto de Cucurto, em Animetal, de Leonardo Oyola, somos guiados por
uma Buenos Aires que em nada lembra a cidade dos guias de turismo. O protagonista-
narrador, nosso guia nessa outra visita, também atravessa fronteiras culturais, dessa vez dentro
de um mesmo bairro: o Bajo Flores, também conhecido como Koreatown. Ao estabelecer
relações entre os grupos que da região, frequentando locais identificados com a comunidade
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
coreana: restaurantes e locadoras de vídeo, e, ao mesmo tempo, demonstrando amizade com
os nomes do crime na favela, imigrantes paraguaios, essa interessante figura demonstra que
mesmo entre espaços delimitados como é o caso de um bairro existem também fronteiras
simbólicas, dificilmente cruzadas impunemente.
Sang-Jin Kim, ou taekwondo, como prefere ser chamado o narrador-protagonista
do conto, no entanto, parece conhecer as estratégias necessárias para transitar nesse espaço
tanto física quanto simbolicamente, passa noites com moradores de rua ao mesmo tempo em
que narra seu interesse por animação japonesa e pelo estilo musical dela derivado, o
Animetal que dá nome ao conto, popular entre jovens de diferentes origens. O conto é
recheado de referências culturais díspares; de Shakespeare a Dragon Ball Z, elementos de
várias origens são mencionados em seu discurso.
Sobre a região em que se situa o conto, a zona do Bajo Flores, ou Koreatown, po-
de-se compreendê-la como um território desconhecido muitas vezes para o próprio morador
de outras regiões da cidade, uma “ilha urbana”, espaço público, mas que ainda assim apresen-
ta características e demandas próprias, para utilizar a nomenclatura proposta por Josefina
Ludmer em Aquí América Latina (2010). Nesse espaço, é o local que se converte em estran-
geiro, fato que desestabiliza a pretensa fixidez das noções do “eu” em oposição ao “outro”.
Esses elementos revelam a ampla rede de interações que possui o protagonista.
Sua trajetória na cidade ilustra bastante bem a ideia de campo de possibilidades, um conceito
central para a compreensão das ideias de mediação e fronteira cultural: “campo de possibili-
dades (...) representa o reconhecimento dos limites e fronteiras socioculturais nos quais se
movem categorias, grupos, agentes sociais e indivíduos-sujeitos (Velho, 2010, p. 17)”.
Taekwondo partilha significados com os distintos grupos com os quais interage. Isso é um
efeito possível principalmente nas chamadas sociedades complexas. O cruzamento de trajetó-
rias culturais distintas, pessoas de diferentes origens e posições sociais nesse espaço e sua
atuação em relação a esses indivíduos reforçam seu papel como mediador.
A reflexão sobre o campo de possibilidades desenvolvida no conto aponta tam-
bém para outra questão cara aos estudos de antropologia urbana: a ideia de identidade. O nar-
rador, identificado com una das comunidades imigrantes vistas como mais fechadas do país, a
coreana, se mostra bastante familiarizado aos elementos da cultura local. Todavia, não se ob-
serva nele uma resistência em relação a suas origens:
(…) entré al bar de sangsoo Hong. Le pedí, para empezar, dos chimangu y una cer-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
veza de litro (…) Un abuelo hacía zapping sin mirar nada. Hablé con él en nuestro
idioma. Fui respetuoso y logré mi objetivo: me cedió el control remoto (OYOLA,
2007, p. 34).
Outro indicio nesse sentido é a recorrente afirmação dessa origem. Em distintos
momentos o personagem esclarece que não é chinês o japonês, resiste também aos apelidos
depreciativos dados aos orientais, como ponja.
Acordate: para dirigirte a mi persona es taekwondo. Nada de ponja, chinito, Bruce o
Yoko. Ésas son faltas de respeto, yo soy coreano, a no confundir (OYOLA, 2007, p.
34).
Taekwondo é um exemplo do que se conhece como multipertencimento, sua iden-
tidade não passa exclusivamente por sua etnia, antes, recebe influencias das mais variadas
origens, como seus gostos e elementos da cultura de massas (VELHO, 2010). Por essa razão,
em Animetal ao atuar como mediador o narrador-protagonista acaba funcionando também
como um informante, alguém que nos posiciona de outra forma diante de características de
um determinado grupo, mesmo se tratando de um texto ficcional, a abordagem da questão do
imigrante oriental fornece chaves de leitura para a compreensão da formulação identitária
desses indivíduos.
Outro aspecto relativo à representação do espaço urbano que se pode notar nas
três narrativas são as descrições de trajetos. Cucurto mostra o caminho entre os distintos su-
permercados em que trabalha:
(…) estamos retrasados y todavía nos queda uno, el más grande. Coto Honduras de
Palermo. Vamos bajando por la calle Maza que se convierte en Mario Bravo y de ahí
hasta Honduras, derecho el Hollywood! (CUCURTO, 2005, pag 62)
Taekwondo dá, com essa intenção, instruções erradas para dois homens que pas-
savam pela região do Bajo Flores e que o chamaram “ponja”:
Tienen que volver a Carabobo, la do Bulevar. Doblan a la izquierda y por ésa e me-
ten derecho unas cinco cuadras. Van a cruzar una avenida, Castañares, ahí la calle
cambia de nombre, se llama Corea. Hay una bajada pronunciada y después la calle
hace una ese. Sigan por esa que salen derecho. No tienen como perderse (OYOLA,
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
2007, p. 32).
O protagonista de Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tar-
tagal também descreve a região pela qual transita:
Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tartagal. Pero antes de
llegar a Yacuiba hay que pasar por Salvador Maza, que todos conocen como Pocitos
Argentino, y mostrarle el documento a los gendarmes que con su gesto te dicen ade-
lante y pasás por un pasillo sin ningún problema. Del otro lado, más gendarmes con
caras recias piden a señoras y a señores de rostros gastados que muestren sus paque-
tes (MARTINEZ, 2009, p. 61).
Beatriz Sarlo, em seu livro La ciudad vista (2009) chama a esse efeito de recria-
ção literária do urbano cidade escrita. Os textos analisados, como afirma a autora, se conec-
tam à realidade através da linguagem, mostram ao leitor referências da cidade real.
A mediação, ocorre, por tanto, de forma dupla. Por um lado os narradores põem
em cena uma mediação interna ao conto. Isso se dá com mais força em Animetal e Tartagal
queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tartagal. Taekwondo em suas voltas pelo
bajo flores negocia com diversos grupos, recebe favores dos paraguaios da favela e, dessa
forma, ajuda aos que vivem na rua, o narrador boliviano do conto de Fabio Martinez apresenta
ao seu interlocutor argentino uma descrição própria do local, sua versão para a região. Em
ambos os casos os personagens ficcionais funcionam como informantes do leitor do texto,
assim como de seus interlocutores internos à narrativa.
Simultaneamente, tanto nesses casos como no conto de Cucurto, há uma mediação
em processo entre o conto e o leitor. Somos apresentados ao cotidiano das vidas periféricas
da cidade, de forma análoga ao que faria una etnografia tradicional. Beatriz Sarlo, em Escritos
de Literatura Argentina chega a denominar o estilo dos escritores das últimas décadas ‘litera-
tura etnográfica’ em um claro reconhecimento das semelhanças existentes entre as duas pos-
sibilidades de fala sobre a sociedade.
2.3. Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tartagal:
fronteiras simbólicas, fronteiras reais
Em Tartagal queda cerca de Yacuiba, y Yacuiba queda cerca de Tartagal, conto
publicado na antologia Es lo que hay, dedicada à narrativa cordobesa recente, temos um texto
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
também fortemente marcado pela atitude etnográfica, como se observou nos contos anterior-
mente trabalhados, mas no qual a voz narrativa se alterna entre dois personagens; um argenti-
no que visita a região da fronteira e o dono de um negócio de roupas. O personagem-narrador
local é responsável por contar episódios que se passaram na região, fala do tráfico de drogas,
dos crimes comuns no local, demonstra como é simples conseguir de tudo na região, da parti-
cipação em negócios com o tráfico a abortos.
O conto constrói uma representação bastante rica da região da fronteira. São des-
critos os motoristas de remis, os choripaneros, as pessoas que frequentam os negócios, suas
atitudes e reações narradas nos mínimos detalhes, como em um trabalho etnográfico:
- Amigo, pues en Yacuiba se consigue de todo y al mejor precio. ¿No te gusta la ro-
pa?, las zapatillas Naiki, los relojes caros o los perfumes, pues interesa mi amigo. Fí-
jese en esos chicos que caminan sin mirar ningún puesto. ¿Usted cree que vinieron a
comprar algo? No tienen bolsas, y vea los ojos de la gringa, rojos, bien rojos, se llo-
ró todo. Ellos vienen del enfermero, amigo. ¿Usted tiene novia? Ah, bueno, cuando
tenga un problema parecido, cuando meta la pata, búsqueme que yo soy amigo del
enfermero y en un ratito se soluciona todo. También está el doctor, pero dicen que es
más caro, yo por él no meto las manos en el fuego. Espéreme un cachito
(MARTINEZ, 2009, p. 64).
Entretanto, há toda uma outra dimensão descritiva no texto, os narradores relatam
sons, cheiros, e diversos aspectos sensoriais menos presentes em textos de outros gêneros,
mas que desempenham um papel fundamental na elaboração do mapa literário da região.
A partir da dinâmica da existência de dois narradores no conto, temos acesso a di-
ferentes versões da região descrita, o que diferencia a narrativa de Fabio Martínez das duas
anteriormente trabalhadas. O narrador que visita as cidades de Yacuiba e Tartagal nos apre-
senta uma descrição bastante sensorial do que encontra, seu olhar parece perdido diante de um
local tão diferente do que está acostumado. Os trechos que apresentam seu ponto de vista re-
tratam as pilhas de lixo, o cheiro da comida que é vendida a aparência das pessoas:
un río de basura, de pañales usados, botellas vacías, bolsas plásticas, cajás de repro-
ductores de DVD, televisores, equipos de música y todo otro envoltorio de artefactos
eléctricos que deba pagar impuesto: las zapatillas Naiki, los relojes caros o los per-
fúmenes (MARTINEZ, 2009, pp 62-63).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
O relato do narrador local, no entanto, é mais dedicado ao que alguém de fora não
conseguiria compreender. Ele traduz a realidade que o forasteiro observa mas não consegue
compreender, explica que o jovem casal argentino aparentemente de passagem pela cidade
veio procurar a clínica clandestina de abortos, que os traficantes locais exigem passagem por
terrenos particulares aos que moram na região da fronteira, as estratégias adotadas pelos que
tentam atravessar mercadorias sem pagar impostos na fronteira. Aqui, como nos relatos ante-
riores a fronteira não é somente um dado geográfico, mas um índice de diferenças culturais:
El bar de Luvina…; hay chicas y otras cosas, queda cerca del centro. Muchos de sus
compatriotas van ahí, aunque a veces la gente pierde la noción de si. Ustedes no lo
ven. Sólo caminan por el centro, por estas diez cuadras o más que están armadas pa-
ra extranjeros. Fíjese, ¿ve a algún paisano mío comprando? No, mi amigo. Todo está
armado para los hermanos argentinos. Ustedes sólo ven lo bonito, pero en Yacuiba
pasan muchas cosas, es que a veces uno pierde la noción de sí y no sabe lo que hace,
y otras veces porque no es hijo de Dios (MARTINEZ, 2009, p. 64).
Dessa forma, em Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tar-
tagal a representação da fronteira se dá através de uma dupla mediação, a que ocorre interna-
mente ao conto, quando o local apresenta a região ao forasteiro, e a que se dá externamente ao
texto, direcionada ao leitor. O conto encena a própria relação informante/etnógrafo, demons-
trando mais uma vez a íntima relação que existe entre as narrativas argentinas contemporâ-
neas e esse método.
3. Conclusão
A representação do espaço urbano em toda a sua diversidade e complexidade,
portanto, é uma questão que une áreas aparentemente distintas do conhecimento como
antropologia urbana e literatura contemporânea. Essa relação não é recente, como aponta
Klinger (2007, p. 80) e pode ser observada já nas vanguardas históricas. No entanto, a
aproximação do literário com o que pode ser definido como uma atitude etnográfica é uma
características bastante marcante da narrativa argentina contemporânea, fato observado por
nomes reconheidos da crítica desse país como Beatriz Sarlo (2007, p. 476)
O corpus analisado corrobora essas observações e permite ainda concluir que a
construção dos narradores das três histórias possibilita a observação de aspectos fundamentais
da realidade social argentina a partir de uma luz diferente. As narrativas demonstram a
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
capacidade de tráfego que certos indivíduos têm entre os diferentes grupos e uma habilidade
para traduzir aspectos culturais divergentes, ou seja, tematizam a função de mediação
exercida por determinados personagens.
Portanto, esses textos, como muitos na literatura contemporânea, apresentam um
diálogo significativo com os conceitos relacionados às ciências sociais, especificamente da
antropologia urbana. São ficções que lidam com questões de interesse para essa área de
conhecimento: os imigrantes, as transições possíveis entre as diferentes áreas da cidade, as
possibilidades de comunicação entre os grupos. Falam da periferia, mas sem a pretensão de
simular a voz das pessoas que vivem nestas áreas, tentam, antes, uma possível leitura dessa
realidade. Os pontos de contato com o trabalho etnográfico são inegáveis.
Os textos literários analisados, dessa forma, tematizam as fronteiras internas ao
espaço urbano ao mesmo tempo em que evidenciam a possibilidade de cruzar esses limites
através das relações de mediação, chamando assim atenção para a necessidade de não se
aceitar as formas de segregação como naturais, sem no entanto oferecer saídas ingênuas para
esse impasse ou tentar negar os conflitos existentes nesse espaço.
Faz-se necessário observar, assim, que reconhecer a aproximação entre essas áreas
do conhecimento, longe de enfraquecer a natureza científica da antropologia ou questionar a
qualidade artística dessas manifestações literárias, torna mais evidentes as ricas possibilidades
oferecidas pela identificação dos pontos de contato.
Referências
BECKER, Howard. Falando da sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2009.
CANCLINI, Néstor García. A cultura extraviada em suas definições. In: Diferentes, desiguais
e desconectados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, pp. 35-53.
CUCURTO, Washington. Una mañana con el hombre del casco azul. In: TOMAS, Maximili-
ano (org.) La joven guardia. Buenos Aires: Grupo editorial Norma, 2005.
DRUCAROFF, Elsa. Los prisioneros de La torre - política, relatos y jóvenes en la postdicta-
dura. Buenos Aires: Emecé, 2011.
JANOSCHKA, Michael. El modelo de ciudad latinoamericana - privatización y fragmenta-
ción del espacio urbano de Buenos Aires: el caso Nordelta. In: Buenos Aires a la deriva -
Transformaciones urbanas recientes. Max Welch Guerra (ed.) Buenos Aires: Biblos, 2005.
KLINGER, Diana Irene. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etno-
gráfica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
LARDONE, Lilia. Es lo que hay. Córdoba: Babel editorial, 2009.
LUDMER, Josefina. Aquí América Latina. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Etnografia como prática e experiência. Horiz. antro-
pol., Porto Alegre, v. 15, n. 32, p. 129-156, Dec. 2009. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832009000200006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29 de Abril de 2015.
MARTÍNEZ, Fabio. Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba queda cerca de Tartagal. In
LARDONE, Lilia. Es lo que hay. Córdoba: Babel editorial, 2009.
OYOLA, Leonardo. Animetal. In: TERRANOVA, Juan (org.) Buenos Aires/ Escala 1:1. Bu-
enos Aires: Entropía, 2007.
SARLO, Beatriz. La novela después da historia in Escritos sobre literatura argentina. Buenos
Aires: Siglo XXI editores, 2007.
______. La ciudad vista. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.
TOMAS, Maximiliano (org.) La joven guardia. Buenos Aires: Grupo editorial Norma, 2005.
TERRANOVA, Juan (org.) Buenos Aires/ Escala 1:1. Buenos Aires: Entropía, 2007.
VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2003.
______. Metrópole, cosmopolitismo e mediação. Horiz. antropol., Porto Alegre, v. 16, n. 33,
p. 15-23, June 2010. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832010000100002&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de Abril 2015.
BORGES E GARCÍA MÁRQUEZ VERSUS ROSA E JORGE AMADO:
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPARIDADES NA RECEPÇÃO
LITERÁRIA INTERNACIONAL
BORGES AND GARCÍA MÁRQUEZ VS. ROSA AND JORGE AMADO:
BRIEF CONSIDERATIONS ON DISPARITIES IN THE
INTERNATIONAL LITERARY RECEPTION
André Barbosa de Macedo1
RESUMO: O objetivo do artigo é realizar breves considerações sobre a recepção internacio-
nal de quatro escritores latino-americanos. Dois hispano-americanos (Jorge Luis Borges e
Gabriel García Márquez) em contraste com dois brasileiros (João Guimarães Rosa e Jorge
Amado).
Palavras-chave: Borges; García Márquez; Guimarães Rosa; Jorge Amado; recepção compa-
rada.
ABSTRACT: The aim of the article is briefly consider the international reception of four
Latin American writers. Two Hispanic American writers (Jorge Luis Borges and Gabriel Gar-
cía Márquez) in contrast to two Brazilian writers (João Guimarães Rosa and Jorge Amado).
Keywords: Borges; García Márquez; Guimarães Rosa; Jorge Amado; comparative reception.
El universo (que outros llaman la Biblioteca)...
[...] es una enorme adivinanza, o parábola, cuyo tema es el tiempo...
Jorge Luis Borges
Macondo era entonces una aldea...
El mundo era tan reciente...
Gabriel García Márquez
1 Doutorando em Literatura Brasileira sob orientação de José Miguel Wisnik. O presente texto vincula-se, como
passo além, a uma pesquisa que investiga de maneira abrangente a recepção crítica de Guimarães Rosa desde os
rodapés. A pesquisa contou com bolsas do CNPq (doutorado na FFLCH/USP) e CAPES (doutorado sanduíche
na FU-Berlin).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos;
onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador...
João Guimarães Rosa
Aventuras & desventuras de um bom brasileiro […]
com amores, assassinatos, banquetes, presépios,
histórias variadas para todos os gostos...
Jorge Amado
Partindo de estudos recentes, o propósito aqui é realizar comparativamente algu-
mas breves considerações sobre a recepção literária internacional de Jorge Luis Borges, Ga-
briel García Márquez, João Guimarães Rosa e Jorge Amado. Como se sabe, os dois escritores
de língua espanhola obtiveram êxito internacional tanto de público como de crítica principal-
mente a partir do boom. Em contraste, apesar do relativo sucesso de público sobretudo da se-
gunda fase de Jorge Amado, os dois escritores brasileiros não alcançaram o mesmo reconhe-
cimento internacional.
Como é possível compreender esse acontecimento?
1. As disparidades
Os estudos de recepção literária, via de regra, estabelecem o boom como divisor
de águas para as narrativas provenientes da América Latina - basta conferir o que é tratado
por Andrade (2009), Perrone (2003), Vejmelka (2002, 2007, 2014), Penjon (2009), Bedate
(2009), Maura (2007, 2014), Barbosa (2012), Mulinacci (2009), Fantinatti (2009a, 2009b),
Tooge (2009, 2014), Mérian (2014) e Pina (2014).
Na passagem dos anos 1950 para a década seguinte, a literatura latino-americana
veio verdadeiramente a interessar europeus e norte-americanos. E embora o interesse se diri-
gisse a diversos escritores, não parece ser exagerado colocar em lugar de preeminência o Jor-
ge Luis Borges de Ficciones e o Gabriel García Márquez de Cien Años de Soledad.
Temos, assim, duas obras em língua espanhola às quais se juntam outras dos
mesmos dois escritores e de Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, José María Ar-
guedas, Alejo Carpentier, Bioy Casares, Cabrera Infante, Manuel Puig, Juan Carlos Onetti,
Lezama Lima - confira, por exemplo, a seleção de Alfred J. Mac Adam (1977).
Para ficar em apenas dois exemplos que atestam a preeminência de García Mar-
quez e Borges, o colombiano é um escritor que merece, sozinho, um Companion na Universi-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
dade de Cambridge (SWANSON, 2010). Antes e depois de Cien Años de Soledad, obras e
questões diversas merecem abordagem por parte de vários estudiosos (a vida, a recepção críti-
ca, “the early novels”, contos, outros romances, obras de não-ficção, filmes, realismo mágico
etc.). O escritor parece ser, de fato e de direito, “Latin America's most internationally famous
and successful author”, portanto, justifica-se que muitos especialistas procurem compreendê-
lo abrangentemente: “His life in Colombia, the context of Latin American history and culture,
key themes in his works and the critical reception are explored in detail.” (SWANSON, 2010,
p. ii).
Jorge Luis Borges, por sua vez, é um escritor tão preeminente para os escritores
do boom e para aqueles que o estudam que outro Companion da mesma Universidade de
Cambridge afirma: Borges “never wrote a novel, and yet he had a transforming effect on the
way the Spanish American novel was written”, “years before his international fame, he was a
writer’s writer”; Borges “was studiously read by many who followed in his footsteps, intro-
ducing fantastic touches, irony, philosophical ideas, technical sophistication, literary self-
reflection, and a mixing of genres” (KRISTAL, 2010, p. 8).
No caso da nossa língua portuguesa, o êxito editorial coube a Jorge Amado, so-
bretudo a partir de Gabriela, cravo e canela - muito embora em alguns países, como na Fran-
ça e no bloco socialista, a primeira fase, de apelo mais diretamente político, tenha tido recep-
ção considerável. Uma pesquisa de 1979 com franceses, mencionada por Jacqueline Penjon,
muito provavelmente deve conservar suas proporções - talvez até com queda - ainda nos dias
de hoje: “a difusão da literatura brasileira obteve os seguintes resultados: 8% dos entrevista-
dos tinham ouvido falar de Jorge Amado, 3% de Guimarães Rosa” (PENJON, 2009, p. 88).
Os dois eram, por essas percentagens, os dois escritores mais conhecidos, com
ampla margem na dianteira, como se nota, para o criador de Gabriela, Tieta e Dona Flor.
Marcel Vejmelka (2014), por sua vez, afirma que também na Alemanha, até o ano de 1990,
Jorge Amado era igualmente o escritor brasileiro mais conhecido. E ainda em mais um exem-
plo da posição ocupada por Jorge Amado, é importante o fato de a introdução de Grande Ser-
tão: Veredas em inglês ser de sua autoria (AMADO, 1963).
Os estudos, também via de regra, procuram compreender o horizonte de expecta-
tiva no qual a literatura brasileira se insere, identificando que o esperado de nossa literatura é
o exotismo, o qual tem como pressuposto certas imagens ligadas ao país e, um passo além, ao
conjunto da América Latina. Diante do fato, estratégias foram traçadas pelas editoras para
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
satisfazer um público a conquistar, muitas vezes com auxílio de tradutores e estudiosos - nem
sempre plenamente conscientes da exotização em andamento.
Um bom exemplo disso é a análise que Marcel Vejmelka faz sobre o fato de Curt
Meyer-Clason - tradutor alemão - endossar sem crítica posições de Guimarães Rosa e, como
decorrência disso, manter na edição alemã o título “Grande Sertão”, explorando e reforçando
as ressonâncias exóticas que “sertão” obtém de um leitor alemão (VEJMELKA, 2002, 2007).
E se em países como Alemanha, França e Espanha ainda houve alguma recepção
literária para Guimarães Rosa, na América do Norte e no Reino Unido ela foi praticamente
inexistente. O exotismo de títulos como Sagarana e The Devil to Pay in the Backlands não foi
suficiente para atrair o interesse de leitores de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia
etc.
Em um detalhe que reforça o pouco interesse por obras como as do escritor minei-
ro e brasileiro, encontramos como introdução da edição norte-americana de Sagarana a sim-
ples tradução de um rodapé que o crítico brasileiro Franklin de Oliveira publicou no Correio
da Manhã dez anos antes, ainda em 1956 (OLIVEIRA, 1966). Deve ser lembrado, em mais
um detalhe, que o editor e a tradutora nem se deram ao trabalho de pesquisar, o rodapé de
Franklin de Oliveira, amigo de Guimarães Rosa, foi indicação do próprio escritor (ROSA;
ONÍS; VERLANGIERI, 1993).
Assim, a via do exotismo foi insuficiente para levar adiante o enfrentamento por
parte do público anglo-americano de um escritor que era osso duro de roer. E isso (o ser osso
duro) justamente segundo palavras de advertência de “preeminente tradutor” norte-americano,
Gregory Rabassa, ao editor responsável pelo escritor mineiro nos Estados Unidos - “este su-
jeito é provavelmente um dos ossos mais duros de roer que já apareceram”, deve ser colocado
“junto a Borges, talvez até melhor a longo prazo” - confira citação em texto de Perrone (2003,
p. 90).
Por outro lado, num procedimento diametralmente oposto à ênfase no exotismo, é
comum sobretudo no caso de Borges que os estudiosos procurem em seus escritos afinidades
que possibilitem colocá-lo estritamente na órbita cultural, intelectual e literária de algum país
- como Inglaterra ou França (KLENGEL, s.d.) -, quase transformando o escritor argentino em
um escritor europeu. Há, portanto, nesse caso, uma espécie de apagamento da proveniência
latino-americana do escritor e de sua literatura.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
2. O âmbito anglo-saxão
Pensando nas diferenças entre os países que constituem esse âmbito, é possível
afirmar que o exotismo tenha garantido sucesso de público a obras de García Márquez e Jorge
Amado, mas, por outro lado, esse não é o caso de Jorge Luis Borges - o realismo mágico ou
realismo “de erotismo, luz e vida” (MAURA, 2014) de narrativas literárias é quase confundi-
do com uma realidade mágica latino-americana, mas isso em termos de grande público.
Haveria, entretanto, para o caso do autor de Ficciones, que não se vale dessa pre-
tensa realidade mágica latino-americana, maior êxito de crítica quando comparado aos auto-
res de Cien años de soledad e Gabriela, cravo e canela - afinal, o escritor argentino era quase
um autor europeu. Por seu turno, o Guimarães Rosa e o sertão que os editores tentaram em-
placar principalmente pela via do exotismo, não chegaram nem aos pés da difusão obtida por
García Márquez e sua Macondo.
Essa linha de abordagem, contudo, parece valer mais para a recepção européia
principalmente no que diz respeito aos dois escritores hispano-americanos. Se atentarmos a
particularidades dos Estados Unidos, verificaremos que a língua espanhola adquiriu, com as
sucessivas ondas imigratórias, o status de segunda língua do país, levando a outro enfoque.
O crescimento das ondas imigratórias na segunda metade do século XX, junta-
mente com a criação e o crescimento dos departamentos de Spanish and Portuguese Langua-
ges and Literatures em muitas das universidades norte-americanas, sem dúvida foi acompa-
nhado pela maior presença - em massa, aos milhões - de hispânicos em todos os setores da
vida e da sociedade norte-americana (universidades, imprensa, escolas, mercado de trabalho
etc.)2.
E a maior parte dos imigrantes, é necessário deixar bem marcado, provém justa-
mente do país que Gabriel García Márquez escolheu para se radicar, em larga medida elegen-
do-o como o seu próprio país, ou seja, a casa por opção - o vizinho México3.
Outro ponto importante a considerar é a maior preocupação e precaução estaduni-
dense com a América Latina após a Revolução Cubana. Fora atitudes questionáveis que não
2 Devido a um ponto a ser investigado para a pesquisa de doutorado, acompanhamos o processo de criação do
departamento de Spanish and Portuguese Languages and Literatures na Universidade de Nova York (NYU)
através do que ficou registrado no New York University Bulletin, Graduate School of Arts and Science. Consta-
tamos, assim, que o que antes estava abarcado na grande área de Romance Languages and Literatures foi ga-
nhando mais e mais espaço, com destaque, no sentido do que argumentamos, para a parte Spanish do novo de-
partamento. Cf. New York University Bulletin, Graduate School of Arts and Science (publicados entre 1967-1968
e 1979-1980).
3 Cf., como exemplo, as tabelas disponíveis em: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
cabe aqui questionar, os Estados Unidos precisavam conhecer melhor, em todos os sentidos,
aquilo que sempre consideraram como seu “quintal”, a começar pelos países próximos que
escapavam à sua órbita de influência e controle.
Assim sendo, haveria no contexto dos Estados Unidos mais elementos para o êxi-
to da literatura de origem hispânica quando fazemos a comparação com o contexto europeu.
Por outro lado, pensando nos dois contextos, haveria em qualquer um deles mais condições
favoráveis do que aquela existente para a recepção literária de escritores brasileiros.
Isso ganha ainda mais força quando constatamos que as trocas de todo tipo são
muito mais rápidas e frequentes entre os países do norte, os quais constituem a parte mais
moderna do mundo e, consequentemente, mais cultural e literariamente em sintonia.
3. O âmbito neolatino
No âmbito neolatino de línguas que são estrangeiras (francês, espanhol, italiano)
para nós falantes do também neolatino português, é necessário começar pela afirmação direta
e reveladora de um pesquisador alemão, o que dá ainda mais peso à proposição: o campo lite-
rário francês “representa o espaço da consagração internacional ‘por excelência’”
(VEJMELKA, 2014).
Assim sendo, embora o italiano e o espanhol tenham a sua importância cultural e
literária na Europa, há a preeminência do francês - e não apenas na segunda metade do século
XX, o período que aqui importa diretamente. E embora a língua espanhola tenha também no
contexto europeu o status de língua internacional (o que é negado ao português), a maior im-
portância mundial dela é mesmo garantida pelos falantes das três Américas.
Na Europa, o interesse por produções literárias em língua espanhola quando com-
parado ao daquelas em língua portuguesa é incomparável desde as obras-marco que são Don
Quijote e Os Lusíadas. Por mais que a modernidade esteja, de fato, ao lado da primeira obra,
não se trata apenas da qualidade literária que lhe é intrínseca, há todo um estado de coisas que
é constantemente reafirmado, como revela a afirmação contundente do alemão Marcel Vej-
melka sobre o campo literário francês.
Por outro lado, precisamos também considerar o magnetismo que o âmbito literá-
rio anglo-saxão, sobretudo o anglo-americano, conquistou ao longo do século XX graças ao
poderio dos Estados Unidos em todos os aspectos, desde o poder militar e econômico até o
amplo domínio da indústria cultural - favorecendo inegavelmente, nesse processo, a difusão
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
dos escritores de língua inglesa dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Irlanda etc.
Nesse sentido, a constatação de Pilar Gómez Bedate (citada por Antonio Maura)
para “la comunidad hispanohablante” parece valer para a “comunidade neolatina”: “por razo-
nes que tienen que ver quizás con la colonización y con los múltiples intereses que rodean a
los hechos culturales, se inclina más hacia la literatura anglosajona” - e pensando especifica-
mente sobre as coisas brasileiras, Antonio Maura conclui de maneira que também serve para o
todo da “comunidade neolatina”: tal comunidade “manifiesta una ignorancia salvaje en todo
lo que se relaciona a un país casi tan grande como un continente y que sin duda posee una de
las literaturas más ricas y apasionantes” (MAURA, 2007, p. 120).
A oportuna e cáustica expressão “ignorancia salvaje” sugere muitas inversões e
muitas reflexões que certamente objetivam questionar e abalar os muitos muros que cercam a
indústria cultural e, indo além, cercam também os muitos e rotineiros muros dos circuitos
consolidados da dita alta cultura.
4. Considerações finais
Os pontos levantados, breve e preliminarmente discutidos ao longo do texto, per-
mitem considerar, para concluir provisoriamente, que a recepção internacional de um escritor
e suas obras literárias é atravessada por uma série de questões sociais, econômicas, culturais e
literárias. Ou seja, não se trata apenas de literatura.
Tais questões precisam ser compreendidas em suas diferenças de país para país,
levando em conta os diferentes contextos através do cruzamento de todas as questões, con-
forme abordamos sucintamente nas páginas precedentes.
A separação em dois grandes âmbitos (anglo-saxão e neolatino) revela que, pela
importância que possuem na cena internacional, deve ser atribuído maior peso no poder de
difusão ao que é escrito e propagado a partir do que poderíamos chamar de campo literário
anglo-americano e campo literário francês - e utilizamos campo, aqui, apenas para repetir a
palavra usada por Marcel Vejmelka (2014), sem aderir estritamente a propostas de Pierre
Bourdieu (1996) ou quaisquer outras que se valem desse conceito.
O que é escrito e propagado a partir de países e regiões que falam como língua
materna o espanhol, o italiano e o alemão, como propusemos, encontra muito menor resso-
nância no processo de repercussão cultural e literária internacional. Isso se deve ao status cul-
tural atribuído à França ao longo dos últimos séculos e, por outro lado, ao espaço conquistado
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
e dominado pelos Estados Unidos no decorrer do século XX.
Nessa situação, a língua portuguesa é o primeiro “entrave” - possui relevância in-
ternacional muito menor do que a das três línguas “menores” (espanhol, italiano, alemão) em
todos os sentidos (menor relevância nas Américas, menor relevância no contexto europeu).
Entretanto, diversos outros “entraves” poderiam ser elencados, limitamo-nos a re-
cordar e assinalar o exotismo, pois ele funciona como uma espécie de background - muitas
vezes preconceituoso - que se torna impossível de superar pelo fato de afastar potenciais leito-
res ao rotular realidades e obras brasileiras.
Sendo assim, faz-se necessário aprofundar - em outros escritos - sobre um proces-
so de recepção literária internacional no qual a qualidade intrínseca das obras é obtusamente
ignorada pela dinâmica dos mecanismos de consagração. Isso vale para obras brasileiras como
as de Guimarães Rosa e muitas outras, mas, certamente, também vale para diversos outros
países de línguas e literaturas tidas como tão insignificantes internacionalmente quanto o por-
tuguês e suas literaturas.
É certo que existem, como se sabe, conhecedores especializados de literaturas
como a brasileira - muitos deles foram aqui referidos através de seus textos -, mas, fora desses
círculos restritos, as obras permanecem silenciosa e invisivelmente como inexistentes, como
páginas mudas numa biblioteca inerte, sem tempo, sem vida.
Referências
AMADO, Jorge. “The place of Guimarães Rosa in Brazilian Literature”. In: ROSA, João
Guimarães. The Devil to Pay in the Backlands. Nova York: Alfred A. Knopf, 1963, pp. vii-x
(trad. Tayler e de Onís).
ANDRADE, Mirna Soares. “A recepção de Guimarães Rosa nos EUA: processo tradutório e
contexto cultural em foco”. Actas del II Congreso Internacional “Cuestiones Críticas”. Rosa-
rio, 2009.
BARBOSA, María M. V. “Traducir la literatura brasileña: traición, imposibilidad o milagro.
Reflexiones sobre la recepción de la literatura brasileña en España”. SENDEBAR, n. 23, 2012,
pp. 111-140.
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.
BEDATE, Pilar Gómez. “A recepção de João Guimarães Rosa na Espanha: a Revista de Cul-
tura Brasileña”. In: CHIAPPINI, Ligia; VEJMELKA, Marcel (orgs). Espaços e caminhos de
Guimarães Rosa: dimensões regionais e universalidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2009, pp. 101-112.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
FANTINATTI, Tatiana Arze. “Na Itália em busca do grande sertão: recepção das veredas
nascoste”. Anais do X Encontro Nacional de Tradutores & IV Encontro Internacional de
Tradutores. Ouro Preto, set. 2009a, pp. 293-300.
______. Mitotradução em Grande Sertão: Veredas - enfoque descritivo e receptivo da inter-
culturalidade ítalo-brasileira. Tese de doutorado, UFRJ, 2009b.
KLENGEL, Susanne. “'El universo (que otros llaman la Biblioteca)' y L’univers concentra-
tionnaire: la recepción de Borges en la Francia de la segunda posguerra”. Sem data. Mimeo.
KRISTAL, Efraín. “Introduction”. In: ___ (org). The Cambridge Companion to the Latin
American Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 1-20.
MAC ADAM, Alfred J. (org). Modern Latin American narratives. Chicago: University of
Chicaco Press, 1977.
MAURA, Antonio. “Recepción en España de Gran sertón: veredas”. Revista de Cultura Bra-
sileña. Madri, n. 5, pp. 108-125.
______. “Brasil, terra de erotismo, luz e vida (Jorge Amado na Espanha)”. Amerika. Rennes,
n. 10, 2014 [disponível em: http://amerika.revues.org/4981]
MÉRIAN, Jean-Yves. “Jorge Amado dans la collection 'La Croix du Sud' de Roger Caillois”.
Amerika. Rennes, n. 10, 2014 [disponível em: http://amerika.revues.org/4992]
MULINACCI, Roberto. “Traductor in fabula: a cooperação linguística nas traduções italianas
de Guimarães Rosa”. In: CHIAPPINI, Ligia; VEJMELKA, Marcel (orgs). Espaços e cami-
nhos de Guimarães Rosa: dimensões regionais e universalidade. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2009, pp. 62-71.
OLIVEIRA, Franklin. “Introduction”. In: ROSA, João Guimarães. Sagarana. Nova York:
Alfred A. Knopf, 1966, pp. Vii-xiv (trad. de Onís).
PENJON, Jacqueline. “A recepção de João Guimarães Rosa na França”. In: CHIAPPINI, Li-
gia; VEJMELKA, Marcel (orgs). Espaços e caminhos de Guimarães Rosa: dimensões regio-
nais e universalidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009, pp. 82-91.
PERRONE, Charles A. “A terceira margem do diabo: a recepção norte-americana da obra de
João Guimarães Rosa”. Itinerários. Araraquara, 21, 2003, pp. 89-98.
PINA, Maria da Graça G. “De pubas, carimãs e outras iguarias: truques de tradução q. b. Para
o leitor italiano de Dona Flor e seus dois maridos”. Amerika. Rennes, n. 10, 2014 [disponível
em: http://amerika.revues.org/4604]
ROSA, João Guimarães; ONÍS, Harriet de; VERLANGIERI, Iná J. Guimarães Rosa: corres-
pondência inédita com a tradutora norte-americana Harriet de Onís. Dissertação de Mestra-
do, Unesp, 1993.
SWANSON, Philip (org). The Cambridge Companion to Gabriel García Márquez. Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 2010.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
TOOGE, Marly D'Amaro B. Traduzindo o Brazil: o país mestiço de Jorge Amado. Disserta-
ção de mestrado, FFLCH/USP, 2009.
______. “Traduzindo o Brazil: o país mestiço de Jorge Amado”. Amerika. Rennes, n. 10,
2014 [disponível em: http://amerika.revues.org/5008]
VEJMELKA, Marcel. “Guimarães Rosa na Alemanha: a metafísica enganosa”. Scripta. Belo
Horizonte, v. 5, n. 10, 2002, pp. 412-424.
______. “Zur Rezeption von Guimarães Rosa in Deutschland”. In: CHIAPPINI, Ligia;
VEJMELKA, Marcel (orgs). Welt des Sertão; Sertão der Welt: Erkundungen im Werk João
Guimarães Rosas. Berlim: Tranvia, 2007, pp. 116-133.
______. “Entre o exótico e o político: características da recepção e tradução de Jorge Amado
na Alemanha”. Amerika. Rennes, n. 10, 2014 [disponível em: http://amerika.revues.org/4522]
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LEITOR DE VERLAINE: UM EXAME DA
QUESTÃO A PARTIR DE SUAS CARTAS
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ READER OF VERLAINE: AN
EXAMINATION OF WHETHER BY MEANS OF YOUR LETTERS
Rodrigo Conçole Lage (UNISUL)
RESUMO: O objetivo desse trabalho é examinar, a partir do estudo de uma carta do poeta
Juan Ramón Jiménez, escrita em resposta a um pedido do critico literário Enrique Díez-
Canedo, a relação do poeta com a obra de Paul Verlaine. Para isso, comentamos as cartas. Em
anexo apresentamos uma tradução das cartas.
Palavras-chave: Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez-Canedo, Correspondência, Paul Verlai-
ne.
ABSTRACT: This article analyses, through study of letter from poet Juan Ramón Jiménez,
written in reply to the requesto of Enrique Díez-Canedo, the relationship of the poet with the
work of the Paul Verlaine. To that end, comment on letter. In annex we present the translation
of the letters.
Keywords: Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez-Canedo, Correspondence, Paul Verlaine.
Introdução
O estudo da correspondência ativa e passiva de um escritor nos fornece dois im-
portantes conjuntos de informações. Em primeiro lugar, podemos conhecer detalhes de sua
vida pessoal e da de seus correspondentes, o que é fundamental para os estudos de caráter
biográfico. Em segundo lutar, temos maiores informações sobre suas leituras, projetos, textos,
ideias a respeito da literatura e do fazer literário e outros assuntos referentes à sua obra e a
literatura de modo geral.
As cartas existem desde a antiguidade, como as que fazem parte da Bíblia ou as
atribuídas a Platão, por exemplo, e foram um dos principais meios de comunicação a longa
distância. Essa situação veio a mudar com o advento da internet, quando foram parcialmente
substituídas pelas mensagens eletrônicas (e-mail, MSN, etc.). Por outro lado, os pesquisadores
demoraram a reconhecer seu valor como fonte de informação para as pesquisas e “o estudo
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
das correspondências de escritores e de personalidades artísticas e/ou históricas adquiriu legi-
timidade principalmente a partir do século XIX, período em que os museus passaram a ser
valorizados institucionalmente” (BORGES, 2009, p. 10).
Desde então elas têm sido estudadas de forma sistemática e a crítica literária pas-
sou a lhes dar o devido valor como fonte documental para as pesquisas. No Brasil temos al-
guns trabalhos nessa área como, por exemplo, a tese de doutorado de Silvana Moreli Vicente,
de 2008 (USP), Cartas provincianas: correspondência entre Gilberto Freyre e Manuel Ban-
deira; a dissertação de Rosângela Fonseca Casagrande, de 2006 (Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo), Análise da correspondência entre Manuel Bandeira e Ribeiro Couto; a
tese de doutorado de Cesar Augusto Garcia Lima, de 2011 (UERJ), Modos de ser poeta brasi-
leiro nos anos 1920: uma leitura do diálogo epistolar de Carlos & Mário.
Com esse objetivo examinaremos duas das cartas trocadas entre o crítico literário
Enrique Díez-Canedo e Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura de 1956, com a finalidade
de identificar a presença do poeta francês Paul Verlaine na vida e na obra de Jiménez. Em
anexo, apresentamos uma tradução inédita das duas cartas.
1. Enrique Díez-Canedo e Jiménez: conexões
Enrique Díez-Canedo foi um importante poeta, tradutor, professor, editor e crítico
literário nascido na cidade de Badajoz, Espanha, no dia 7 de janeiro de 1879. No conjunto de
sua obra temos importantes livros de crítica e muitos textos publicados em diferentes jornais e
revistas (que ele organizou ou de terceiros). Sua amizade com Jiménez contribuiu para que
trabalhassem juntos em diferentes ocasiões. Parceria que só terminou com a morte de Enrique.
Conjuntamente publicaram, em 1904, o livro de poemas de Fernando Fortún, Re-
liquias e organizaram a revista Índice, em 1921. Além disso, a amizade e o apreço pela obra
do amigo levaram a Enrique a auxiliá-lo na publicação de alguns trabalhos no jornal El Sol.
Outro exemplo desse apreço foi o fato de que Enrique, de janeiro a fevereiro de 1943, minis-
trou na Universidad Nacional Autónoma de México o curso La poesia de Juan Ramón Jimé-
nez, que deu origem ao livro de crítica Juan Ramón Jiménez en su obra, um marco da crítica
sobre o poeta.
Muitas cartas foram trocadas entre os dois e Marcelino Jiménez León informa, em
sua tese de doutorado, ter localizado parte delas “no México (no AEDC1)” (LEÓN, 1999, p.
1 Sigla do Archivo de Enrique Díez-Canedo.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
481, tradução nossa) e outras na “Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez da Universidade de Por-
to Rico e com uns cartões postais existentes no Arquivo Histórico Nacional de Madri”
(LEÓN, 1999, p. 482, tradução nossa).
Temos um total de 79 cartas, reunidas na tese de León, juntamente com artigos,
poemas e outras cartas de diferentes missivistas. A primeira foi remetida em 1907 e a última
entre 1915 e 1924. Dentre elas selecionamos duas onde podemos examinar a relação de Jimé-
nez com a poesia do poeta francês Paul Verlaine. Na primeira Enrique escreve, no dia 30 de
julho de 1910, pedindo informações sobre os trabalhos de Jiménez sobre Verlaine.
O crítico estava trabalhando na parte espanhola da bibliografia verlainiana para o
livro de M. Tournome (LEÓN, 1999, p. 513) - o autor e o livro não são mencionados em ou-
tras cartas, nem temos maiores informação sobre os dois - e precisava desses dados para in-
cluí-los nesse trabalho. Pedia também que lhe enviasse qualquer texto inédito que sobre o
assunto, desde que fossem pequenos, assim como informações sobre artigos dedicados ao
poeta francês e sobre traduções de sua obra.
O fato de Enrique ter igualmente traduzido e escrito artigos sobre Verlaine (inclu-
indo uma resenha da tradução de Manuel Machado do livro Fêtes Galantes) é um indício da
afinidade intelectual que unia os dois amigos e dos interesses em comum. Assim como o fato
de ter participado da organização da edição das obras completas do poeta francês, em espa-
nhol. Apresentamos, na sequência, a carta tal como Marcelino Jiménez León (1999, p. 510-
511) a reproduz:
[tarjeta postal remitida desde Francia]
30-VII-1910
Querido Juan Ramón:
Gracias por las palabras amables de su última carta. Todas lo eran. Hoy salgo para
Madrid. Le ruego que, para una bibliografía verlainiana, de cuya parte española es-
toy encargado, que me diga en seguida a Madrid (Ventura Rodríguez, 4) si además
del artículo y las traducciones de Helios ha publicado algo más sobre Pauvre Leli-
an2, o si tiene algún inédito, y en este caso, si no es cosa larga, le suplico una copia.
Gracias desde luego
2 Anagrama criado por Paul Verlaine.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Enrique
[En el anverso añade:]
Si de algo sobre Verlaine tiene noticia, fuera de lo corriente, comuníquemelo, con
dato preciso de fecha y lugar de publicación e impresión. Lo mismo de traducciones
que de estudios, artículos literarios, etc. El libro ha de salir en septiembre. Ya le es-
cribiré.
2. A presença de Verlaine na vida e na obra de Jiménez: análise da carta
O primeiro contato com um autor ocorre normalmente, com algumas exceções
(por meio de referências ou citações diretas e indiretas, por exemplo) por meio da leitura.
Contudo, como saber quais livros e autores foram lidos por determinada pessoa? Diante da
inexistência de um registro que liste todas as leituras realizadas no decorrer de uma vida o que
podemos fazer para conhecê-las é buscar fontes que nos dêem uma visão parcial desse con-
junto.
Alguns, por diferentes razões, decidem fazer uma listagem de suas leituras (que
comumente deixam de fora leituras anteriores, esquecidas ao longo do tempo), mas quando
não as temos podemos utilizar entrevistas, cartas, diários, memórias, autobiografias e outras
fontes textuais como fontes, pois encontramos nelas referências a algumas das obras lidas. A
biblioteca pessoal (que inclui também os que foram comprados sem terem sido lidos) e as
informações que podem ser fornecidas por familiares e amigos são outras fontes importantes
para esclarecer a questão.
No caso de Jiménez é sabido que, dentre as influências que o levaram ao moder-
nismo e ao simbolismo francês, estão incluídas as leituras que fez de Verlaine. Normalmente
se considera que o contato com o poeta francês se deu através de Ruben Dário. Mas, ao co-
mentar essa afirmação em uma entrevista, a nega dizendo:
Cuidado. Nós lemos Verlaine antes que Darío o lesse. O conhecemos diretamente,
nos originais. Note que no Azul não se cita Verlaine; ali estão Catulle Mendès, Le-
conte de Lisle, Richepin. Em nós, nos Machado e em mim, os simbolistas influíram
antes que em Darío. Os Machado o leram quando de sua estadia em Paris, e eu em-
prestei a Darío livros de Verlaine que ele ainda não conhecia. (JIMÉNEZ apud
GULLÓN, 1958, p. 56, tradução nossa).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Não temos como saber com absoluta precisão quais os nomes de todos os livros
de Verlaine comprados por Jiménez ao longo de sua vida, mas sua biblioteca nos permite ela-
borar uma listagem que reponde, de forma mais ou menos precisa, a essa questão. Nela en-
contramos as obras: Bonheur, Vers, Chansons pour ele e Fêtes galantes (que está entre os
livros que mais admirava). Há também um volume da coletânea de poemas Choix de poèmes,
editada por Eugène Fasquelle.
Por outro lado, do ponto de vista da crítica literária, Jimenez demonstra ter pouco
interesse pelos estudos sobre o poeta. A única obra preservada foi uma edição do estudo críti-
co Verlaine intime (1898) de Charles Dono. Esse pequeno acervo confirma o fato de que o
tradutor foi primeiramente um leitor e nos fornece um primeiro quadro de suas leituras. Po-
demos também perceber que está interessado na poesia e não de prosa, como podemos dedu-
zir pela ausência desse gênero em seu acervo.
Como foi um grande leitor e poeta compreende-se que tenha desejado traduzi-lo
por ser um caminho para a criação e a evolução da própria obra. Enrique conhecia o trabalho
de Jimenez, por serem amigos, e não podia deixar de inclui-lo na bibliografia que estava ela-
borando. Todavia, apesar da amizade, o crítico não sabia com certeza se o que conhecia era
tudo o que havia produzido. Consequentemente, Jiménez responde ao seu questionamento na
carta que também reproduzimos a seguir, tal como se encontra na tese de León (1999, p. 511):
[segundo semestre de 1910]
Mi querido Enrique:
nada de importancia tengo, sobre Verlaine, en lo inédito; únicamen-
te algunas referencias a "Ideas líricas", pero ninguna de ellas constituye artículo, ni
aun nota extensa. Además de "Pablo Verlaine y su novia la luna" y de las traduccio-
nes, publiqué en "Helios" una nota que debió servir de comentario a una fotografía
del desdichado maestro, desaparecida en el laberinto de Villaespesa3. Búsquela entre
unas "Páginas dolorosas".- Todo lo demás a que pudiera referirme, lo sabe usted.
Escríbame. Y tenga ese abrazo de su
Juan Ramón
3 Referência ao poeta e dramaturgo espanhol Francisco Villaespesa (1877-1936).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Não sabemos a data exata em que Jiménez lhe respondeu. A única certeza é o fato
de que a resposta foi enviada no mesmo ano em que recebeu a carta. Nela menciona ter es-
crito algumas referências as “Ideas líricas” de Verlaine, mas não fornece maiores detalhes
sobre tais apontamentos. Na lista dos textos de apresentada por Javier Blasco Pascual (1982,
p. 23), no livro La poética de Juan Ramón Jiménez: desarrollo, contexto y sistema, encontra-
mos, em 1908, um texto com o mesmo nome, que foi publicado postumamente no Libro de
prosa: I, organizado por Francisco Garfias. Contudo, como não foi possível consultar a refe-
rida obra, não podemos dizer se é ou não o texto citado ou outro trabalho com o mesmo nome.
O artigo citado, Pablo Verlaine y su novia la luna, foi publicado na revista Helios,
em 1903. Por meio dele podemos medir seu conhecimento do poeta francês, pois, segundo um
de seus críticos, o texto deixa claro que seu autor tinha um “excelente conhecimento da poesia
de Verlaine [ e ] ... é, sem dúvida, o melhor trabalho publicado sobre Verlaine até então e vá-
lido até hoje” (FERRERES apud RÓDENAS, 2001, p. 100).
Jiménez também publicou no mesmo ano quatro traduções na Helios. Os poemas
traduzidos foram: Ariettes oubliées V (Arieta olvidada e Romanzas sin palavras-V, em outra
versão), L’heure du Berger (La hora del pastor), Mandoline (Mandolina) e Clair de lune (Cla-
ro de luna). As três últimas traduções foram republicadas, com algumas correções, na antolo-
gia La poesia francesa moderna, em 1913, organizada por Enrique Díez-Canedo. Por fim, em
1933, as quatro foram republicadas, com mais correções, em um volume de oito páginas da
coleção Presente.
Apesar do número de poemas traduzidos ser pequeno Jiménez se tornou naquele
período, entre os espanhóis, o “tradutor mais importante do poeta francês” (RÓDENAS, 1999,
p. 51, tradução nossa). Como as traduções foram anexadas no artigo Juan Ramón Jiménez em
sus traducciones de Verlaine: relectura, reinterpretación, reafrimación de Soledad Gonzáles
Ródenas (vide referências) não as reproduzo aqui.
Como os que pesquisaram o tema não fornecem outros dados sobre a nota que
acompanhou a foto incluída no texto de Francisco Villaespesa, também publicado na Helios,
nem sobre os outros trabalhos, não podemos fornecer maiores detalhes sobre eles. Só uma
pesquisa nas diferentes edições da revista, nas obras da Jiménez e em seus arquivos, permiti-
ria sua identificação, o que fugiria aos limites desse artigo.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Conclusão
A amizade de Enrique e Jiménez permitiu um rico intercambio intelectual entre os
dois que, direta e indiretamente, os influenciou e deu origem a diferentes trabalhos em con-
junto. Por meio das cartas aqui analisadas nós podemos ver que Verlaine, de uma forma ou de
outra, foi uma presença marcante na vida e obra de ambos.
Vemos que foi lido pelos dois, que igualmente escreveram sobre Verlaine e o tra-
duziram. Contudo, apesar dos estudos sobre a presença do poeta francês na obra de Jiménez
vemos que ainda não existe nenhuma pesquisa que identifique, reúna e estude o conjunto des-
ses textos. Ao mesmo tempo, podemos mostrar como a análise da correspondência de um
escritor pode nos ajudar a conhecer melhor o seu ofício por meio de detalhes que, de outro
modo, ficariam ignorados.
Referências
BORGES, Fernanda. 72 f. A crítica nas cartas: reflexões acerca da correspondência passiva
de Caio Fernando Abreu. Dissertação (Licenciatura em Letras) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em:
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/21631>.
LEÓN, Marcelino Jiménez. 605 f. Enrique Díez-Canedo, crítico literário. Tesis (Doctorado
en Filología Española) - Universidad de Barcelona, Barcelona, 2001. Disponível em:
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35044>.
PASCUAL, Javier Blasco. La poética de Juan Ramón Jiménez: desarrollo, contexto y sis-
tema. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
RÓDENAS, Soledad González. 397 f. Juan Ramón Jiménez y su biblioteca de Moguer:
lecturas y traducciones de poesia em lengua francesa e inglesa. Tesis (Doctorado en Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada) - Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1999. Dispo-
nível em: <http://www.tdx.cat/handle/10803/83651>.
________. Juan Ramón Jiménez em sus traducciones de Verlaine: relectura, reinterpretación,
reafrimación. In: PEGENAUTE, Luis. La traducción en la Edad de Plata. Barcelona: Pro-
mociones y Publicaciones Universitarias, 2001, p. 99-114. Disponível em:
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/juan-ramon-jimenez-en-sus-traducciones-de-verlaine-
relectura-reinterpretacion-reafirmacion/>.
VERLAINE, Paul. Ariettes oubliées V. Disponível em: <http://www.eternels-
eclairs.fr/Poeme-Paul-Verlaine-Ariettes-oubliees-V>.
__________. Poèmes. Disponível em:
<http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/paul_verlaine.html>.
Site
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>.
Anexo I - Tradução da Carta de Enrique
[cartão postal enviado da França]
30-VII-1910
Caro Juan Ramón:
Obrigado pelas amáveis palavras de sua última carta. Todas o eram. Hoje saio para Madrid.
Peço-lhe que, para uma bibliografia verlainiana, de cuja parte espanhola estou encarregado,
que me diga imediatamente em Madri (Ventura Rodríguez, 4) se além do artigo e das tradu-
ções da Helios publicou mais alguma coisa sobre Pauvre Lelian, ou se tiver algum inédito e,
nesse caso, se não for coisa grande, eu lhe peço uma cópia.
Desde já agradeço
Enrique
[No anverso acrescentou:]
Se tem notícia de algo sobre Verlaine, fora do comum, contate-me, com dados precisos da
data e do local de publicação e impressão. O mesmo de traduções, de estudos, artigos, etc. O
livro há de sair em setembro. Já o escrevi.
Anexo II - Tradução da Carta de Juan Ramón Jiménez
[segundo semestre de 1910]
Meu caro Enrique:
nada de importante tenho, sobre Verlaine, de inédito; unicamente algumas
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
referências as “Ideias líricas”, porém nenhuma delas constitui artigo, nem nota extensa. Além
de “Pablo Verlaine y su novia la luna” e das traduções, publiquei na “Helios” uma nota que
devia servir de comentário a uma fotografia do desafortunado mestre, desaparecida no labirin-
to de Villaespesa. Procure-a entre umas “Páginas dolorosas”.- Todo o resto a que poderia re-
ferir-me, você conhece. Escreva-me. Um abraço de seu
Juan Ramón
Anexo III - Poemas de Verlaine traduzidos por Jiménez
Ariettes oubliées V
Le piano que baise une main frêle
Luit dans le soir rose et gris vaguement,
Tandis qu’avec un très léger bruit d’aile
Un air bien vieux, bien faible et bien charmant
Rôde discret, épeuré quasiment,
Par le boudoir longtemps parfumé d’Elle.
Qu’est-ce que c’est que ce berceau soudain
Qui lentement dorlote mon pauvre être?
Que voudrais-tu de moi, doux Chant badin?
Qu’as-tu voulu, fin refrain incertain
Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre
Ouverte un peu sur le petit jardin?
L’heure du berger
La lune est rouge au brumeux horizon;
Dans un brouillard qui danse, la prairie
S’endort fumeuse, et la grenouille crie
Par les joncs verts où circule un frisson;
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Les fleurs des eaux referment leurs corolles;
Des peupliers profilent aux lointains,
Droits et serrés, leur spectres incertains;
Vers les buissons errent les lucioles;
Les chats-huants s’éveillent, et sans bruit
Rament l'air noir avec leurs ailes lourdes,
Et le zénith s’emplit de lueurs sourdes.
Blanche, Vénus émerge, et c’est la Nuit.
Mandoline
Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
Echangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.
C’est Tircis et c’est Aminte,
Et c’est l’éternel Clitandre,
Et c’est Damis qui pour mainte
Cruelle fait maint vers tendre.
Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queues,
Leur élégance, leur joie
Et leurs molles ombres bleues
Tourbillonnent dans l’extase
D’une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.
Clair de lune
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.
O VELHO EM TEXTO, O VELHO EM CONTEXTO NAS OBRAS DE
HEMINGWAY E SEPÚLVEDA: O VELHO E O MAR E UM VELHO QUE
LIA ROMANCES DE AMOR
THE OLD IN TEXT, THE OLD IN CONTEXT IN THE BOOKS BY
HEMINGWAY AND SEPÚLVEDA: THE OLD MAN AND THE SEA AND
AN OLD MAN WHO READ LOVE STORIES
Maria de Lourdes Marcelino da Silva (PG UNIMAR - Universidade de Marília-SP)
Altamir Botoso (UNIMAR - Universidade de Marília-SP)
RESUMO: Este artigo tem como proposta o estudo comparativo dos romances O velho eo
mar (1952), e Um velho que lia romances de amor (2005), obras de Ernest Miller Hemingway
(1899 -1961) e Luís Sepúlveda (1949), respectivamente. Aborda as relações entre as persona-
gens protagonistas das duas obras, que são velhos, e a forma como o discurso das personagens
e o cenário dialogam no contexto literário.
Palavras-chave: Literatura comparada; intertextualidade; monólogo interior; Ernest He-
mingway; Luís Sepúlveda.
ABSTRACT: This article has the purpose of studying the novels Theold and the sea (1952)
and An old man who read love stories (2005), works by Ernest Miller Hemingway (1899-
1961) and Luis Sepúlveda (1949), respectively. Addressing the relationships between the pro-
tagonist characters of the two books, who areold, and how the speech of the characters and the
setting dialogue in the literary context.
Keywords: Comparative literature; intertextuality; interior monologue; Ernest Hemingway;
Luis Sepúlveda.
O homem velho deixa a vida e morte para trás
Cabeça a prumo, segue rumo e nunca, nunca mais
O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais
O homem velho é o rei dos animais
A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol
As linhas do destino nas mãos a mão apagou
Ele já tem a alma saturada de poesia, soul e rock'n'roll
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
As coisas migram e ele serve de farol
A carne, a arte arde, a tarde cai
No abismo das esquinas
A brisa leve traz o olor fulgaz
Do sexo das meninas
Luz fria, seus cabelos têm tristeza de néon
Belezas, dores e alegrias passam sem um som
Eu vejo o homem velho rindo numa curva do caminho de Hebron
E ao seu olhar tudo que é cor muda de tom
Os filhos, filmes, ditos, livros como um vendaval
Espalham-no além da ilusão do seu ser pessoal
Mas ele dói e brilha único, indivíduo, maravilha sem igual
Já tem coragem de saber que é imortal.
Caetano Veloso
1. INTRODUÇÃO
O velho continuava sua leitura, sem deixar-se importunar pelo ruído áspero da pedra
contra o aço, murmurando palavras como se rezasse.
Luis Sepúlveda
Este artigo pretende, em sua essência, estabelecer uma relação entre duas perso-
nagens de obras distintas: o velho Antonio José Bolívar Proaño, beirando os setenta anos,
solitário na imensidão da mata, que lia lentamente, escandindo as palavras, os romances de
amor que amenizavam as difíceis horas vividas em sua cabana - Um velho que lia romances
de amor, do escritor chileno Luis Sepúlveda, e o velho pescador, também solitário em sua
cabana, astuto e experiente com a vida no mar - O velho e o mar, do escritor norte-americano,
Ernest Hemingway. Em ambos os textos, o protagonista, o velho, será o foco da análise e da
comparação aqui pretendida.
Buscamos identificar as marcas da literatura em torno do homem velho, adjetiva-
do como aquele que possui diversas experiências, que são norteadas por valores, metas, cren-
ças e formas próprias de interpretar situações e relacionar-se. Apresentados em contextos e
épocas diferentes, embora seus autores tivessem como cenário de criação a América, e como
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
palco de atuação dessaspersonagens cenários, a princípio, ímpares: parauma obra, o mar e
para a outra, a selva. Isso pode sugerir muitos contrastes, mas na verdade o discurso literário
proporciona ecos, antecipações e analogias. São essas marcas discursivas que buscamos nas
obras.
Nas narrativas analisadas, consideramos também as condições de produção, en-
tendida aqui como o contexto, as questões ideológicas e as referências de tempo e espaço.
Olhando para o movimento de recursos linguísticos, pretendemos, ainda, identifi-
car relações intertextuais, considerando as técnicas narrativas e os autores entrelaçados em
uma possível interdiscursividade.
2. OS ESCRITORES E SUAS OBRAS
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=hemingway
Ernest Miller Hemingway foi jornalista e um escritor norte-americano (1899 -
1961). Trabalhou como correspondente de guerra em Madrid, o que lhe serviu como inspira-
ção para uma de suas maiores obras, Por quem os sinos dobram. Instalou-se em Cuba ao final
da Segunda Guerra Mundial, onde escreveu The Old Man and the Sea, em 1951, mais preci-
samente em Havana.
O romance, publicado em 1952, foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em
1954.Sua narrativa exerceu grande influência no estilo de autores contemporâneos - Gabriel
García Márquez foi um deles.
Hemingway teve uma vida bastante conturbada, vários casamentos e uma paixão
fervorosa por Cuba, onde viveu cerca de vinte e três anos. Retorna aos Estados Unidos, sua
terra natal em 1960. E, no dia 2 de julho de 1961, aos 61 anos de idade, cada vez mais instável
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
emocionalmente, Hemingway comete suicídio.
A obra traduzida em português, O Velho e o Mar, escrita dez anos antes de sua
morte, abarca a luta de um homem que prefere chamar o mar de la mar, no feminino, porque
o ama. Entende que mulheres exercem a mesma influência que a lua exerce sobre o mar.
A história se passa em torno de um velho pescador, Santiago. Sozinho em alto
mar, próximo à região do Golfo do México, ele luta para trazer um peixe gigante ao barco. A
narrativa envolve o leitor na batalha e na perseverança desse personagem.
Fonte:http://www.portaldaliteratura.com/autores.ph
O escritor Luis Sepúlveda nasceu no Chile, Ovalle, em 1949. Atualmente mora na
Espanha, Gijón. Durante o Golpe militar de Augusto Pinochet, anos setenta, teve que abando-
nar seu país. Viveu em vários países, e entre os índios shuar no Equador. Trabalhou no Brasil
e em outros países da América do Sul. No Brasil, conheceu Chico Mendes, o grande defensor
da floresta Amazônica, a quem dedicou o prêmio Tigre Juan conferido à obra Um viejo que
lia novelas de amor, publicada em 1989, considerado o seu romance de maior sucesso.
Sepúlveda narra de forma envolvente viagens por vários lugares, descrevendo-os e
também paisagens que nem sempre tão reais. Aproveita de suas experiências para contar his-
tórias sobre o homem e suas relações mais diversas. É um romancista, escritor e ilustrador de
alguns dos seus próprios livros. Obras principais: Encontro de Amor Num País em Guerra,
(1997), Mundo do fim do mundo (1998), Diário de um Killer Sentimental (1999), The story of
a seagull and the cat who taught her to fly (2003), Uma História Suja (2004), As rosas de
Atacama (2006), O poder dos sonhos (2006), Crônicas do Sul (2007), O poder dos sonhos
(2006) e Fim de século (2008). Mais recentemente, publicou Últimas notícias do Sul (2012),
Mundo do fim do mundo - (2012), História de um gato e de um rato que se tornaram amigos
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
(2013) e História de um caracol que descobriu a importância da lentidão (2014).
Os autores abordam temas comuns em seus textos, contam em suas obras histórias
sobre guerra, caçadas, touradas, o mar e lugares visitados, como por exemplo Paris. He-
mingway é membro da “Geração Perdida”, formada por boêmios e Sepúlveda da gera-
ção latino-americana que vivenciou regimes políticos ditatoriais.
Americanos, um da América do Norte, Hemingway, e o outro da América do Sul,
Sepúlveda, trazem nas obras analisadas as vivências e cenários dessa América, mais precisa-
mente de Cuba e do Brasil, países próximos aos de sua de sua pátria. Embora não seja nacio-
nalidade de nenhum deles, utilizam lugares desses países que podem aguçar qualquer aventu-
ra, paragens sem limites e sem donos. Se para um existe a imensidão de um Oceano Atlântico,
para a outro há a imensidão de uma Floresta Amazônica. Floresta que também serviu de palco
para as personagens de João Carlos Marinho, escritor brasileiro, na obra Sangue Fresco, 1982.
3. CONFABULANDO
“-Nunca vi ou ouvi falar de um peixe desse tamanho. Mas tenho de matá-lo. É bom
saber que não tenho de tentar matar as estrelas. Imagine o que seria se um homem
tivesse de tentar matar a lua todos os dias", pensou o velho. "A lua corre depressa.
Mas imagine só se um homem tivesse de matar o sol. Nascemos com sorte”.
Ernest Miller Hemingway
O romance O Velho e o Mar tem como protagonista Santiago, um velho pescador
queapós umlongo períodosem conseguir pescar nenhum peixe, sente-se desanimado, pois já
não tinha o jovem Manolín, seu aprendiz, que foi impedido, pelos pais, de acompanhá-lo à
pesca. Em uma madrugada, ajudado e incentivado pelo rapaz, prepara a canoa e mais uma
vez, lança-se ao mar. Era setembro, mês dos peixes grandes, dizia o velho.
Seria então o octogésimo quinto dia sem nenhum peixe, se não fosse a sorte de
conseguir fisgar um espadarte gigante. O peixe oferece uma resistência brutal. Travam uma
luta descomunal e a canoa é arrastada para o alto-mar. Ambos sofrem muito por vários dias.
Até que Santiago consegue matá-lo e amarrá-lo em sua canoa. Porém, quando tudo parecia
resolvido e a batalha vencida, sua pesca é atacada por um grupo de tubarões que, aos poucos,
vai sendo devorada. Mais uma luta é travada. Com muito sacrifício Santiago chega à praia,
mas, do estandarte só trazia a espinha.
O livro O velho que lia Romances de Amor é uma obra que narra a aventura de
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
António José Bolívar Proaño, num local chamado El Idílio, onde se refugiou e aprendeu a
sobreviver após a morte de sua esposa, um lugar remoto na Região Amazônica, junto aos ín-
dios shuar, com quem ele aprendeu a conhecer a selva, suas leis e também a caçar.
Nas noites solitárias, José Bolívar lia, soletrando, os romances de amor trazidos,
duas vezes por ano, pelo doutor Rubicundo Loachamín, o dentista que aliviava as dores dos
poucos habitantes de El Idílio e aventureiros vindos das redondezas que se reuniam no cais
quando da chegada do Sucre, um barco que trazia caixas de cerveja, de aguardente Frontera,
de sal e botijões de gás e levava dali a banana.
O enredo evolui quando é encontrado o cadáver de um homem, atacado por uma
onça. Na tentativa de caçar o animal, organiza-se uma expedição comandada pelo administra-
dor da aldeia. Mas é António José Bolívar Proaño quem, sozinho, consegue abater o animal,
usando da perspicácia, da astúcia e da sabedoria do velho habitante da floresta.
4. APRECIAÇÃO E RÉPLICA
“Mas o homemnãofoi feito para a derrota - disse em voz alta. - um homem pode ser
destruído, mas nunca derrotado”.
Ernest Hemingway
O comportamento leitor proporciona o estabelecimento de relações logo ao se de-
parar com um novo título. Em meio a tantas leituras, um leitor proficiente, encontra elos entre
obras. Por exemplo, quem leu O Velho e o Mar de Hemingway, provavelmente, estabelecerá
uma relação com o título O velho que lia Romances de Amor. Primeira curiosidade: será que
esse velho é solitário como Santiago? Mediante a leitura inicia-se a busca por essas relações
entre as obras. E assim vai descobrir que tanto Santiago como José Bolívar moravam sozi-
nhos, mergulhados nas lembranças e na simplicidade das coisas que realmente necessitavam,
um verdadeiro cotidiano singular de velhos solitários.
Tais comparações podem ser amparadas na afirmação de Leyla Perrone-Moisés
(1990, p. 94), “a literatura se produz num constante diálogo de textos, por retomadas, emprés-
timos e trocas. A literatura nasce da literatura, cada obra nova é uma continuação, por consen-
timento ou contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já existentes. Escrever é,
pois, dialogar com a literatura anterior e com a contemporânea”.
Esse diálogo que a literatura proporciona, traz à tona implicações sobre o interdis-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
curso, que tem se apresentado sobre diversos nomes e muitos estudos. Um dos termos essen-
ciais para a literatura comparada foi intertextualidade, pautado pelos escritos deMikhail Bakh-
tin. A semióloga búlgara Julia Kristeva, ao retomar os escritos de Bakhtin, concebeu o concei-
to de intertextualidade, segundo o qual “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo
texto é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64).
A crítica e romancista Tiphaine Samoyault (2008, p. 9) complementa o conceito
exposto acima, afirmando que a intertextualidade é “a presença de um texto em outro texto:
tessitura, biblioteca, entrelaçamento, incorporação ou simplesmente diálogo”, que possibilita
o surgimento de fecundas e instigantes interpretações por parte dos leitores.
Puxando fios entre os tecidos ou entre textos, buscando ressonâncias entre as
obras, e estabelecendo uma comparação entre as literaturas, encontramos possível interdiscur-
sividade e intertextualidadena solidão em que vivem as protagonistas; momento em que os
autores falam de coisas essenciais presentes nas modestas cabanas: a cama rede, a mesa, o
fogão e as folhagens utilizadas na construção das moradias. Há ainda uma peculiaridade in-
discutível: o retrato da mulher amada que já não se faz mais presente. Em O velho e mar le-
mos:
[...]O mastro era quase da altura do único quarto da cabana, que era construída como
o compartimento único da choupana. Esta era feita de guano, a resistente madeira
duradas palmeira-reais. Dentro só havia uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um
canto no chão para cozinhar a carvão de choça. Nas paredes castanhas do duro gua-
no, viam-se uma imagem colorida do Sagrado Coração de Jesus e uma outra da Vir-
gem de Cobre. Ambas eram relíquias de sua mulher. Em outros tempos, houvera
ainda uma fotografia da esposa, mas ele a tinha tirado por se sentir muito só ao olhá-
la todos os dias; agora estava escondida numa prateleira debaixo da camisa lavada.
(HEMINGWAY, 2013 p. 19).
E em O Velho que lia romances de amor, verificamos as seguintes descrições da
casa do protagonista:
Morava numa cabana de bambu de uns dez metros quadrados nos quais ordenava os
poucos móveis; a rede de juta, o engradado de cerveja que sustentava o fogareiro a
querosene e uma mesa alta, [...]ela lhe servia para comer em pé e para ler seus ro-
mances de amor. [...] A cabana era protegida por um teto de palha tranada e tinha
uma janela aberta para o rio. [...] Junto à porta pendia uma toalha desfiada eo sabão.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Com cheiro penetrante de sebo, e lavava bem a roupa, [...] Numa parede ao pé da re-
de havia um retrato [..] O homem, Antonio José Bolívar Proanõ[...] a mulher, Dolo-
res Encarnacíon Del Santíssimo Sacramento EstupiñánOtavalo vestia roupas que
sim existiram e continuavam existindo nos rincões obstinados damemória, aqueles
mesmos emque se esconde o inseto da solidão (SEPÚLVEDA, 2005, p. 35-36).
Essa solidão é inferida pelas falas das próprias personagens, “- Gostaria tanto de
ter aqui o garoto! Para me ajudar e para ver isto”, “Pessoas da minha idade nunca deveriam
estar sozinhas”, pensou. Mas é inevitável...” (HEMINGWAY, 2013, p.52). Além disso, a per-
da da esposa é outro fator que intensifica a solidão de Santiago.
Esta personagem, na sua condição de velho, dependia da amizade de um garoto
para tudo. Era Manolín quem trazia sua alimentação e providenciava condições mínimas para
sua sobrevivência.
Quando ele voltou, mais tarde, O velho Santiago estava dormindo e o sol já começa-
va a baixar no horizonte. O garoto foi buscar a velha manta e colocou-a sobre os
ombros do velho. Eram ombros estranhos, ainda poderosos embora muito velhos, e
o pescoço também era muito forte. Não se viam tanto as rugas quando estava dor-
mindo assim, com a cabeça descaída para a frente. A camisa havia sido remendada
tantas vezes que mais se assemelhava a uma vela, e os remendos, sob a ação do sol,
tinham se esbatido em diversos tons. A cabeça do velho era muito velha e, com os
olhos fechados, não havia vida no seu rosto. [...]O garoto trouxera a comida da Es-
planada numa marmita dupla de alumínio. [...] “Preciso trazer-lhe água para a caba-
na, sabão e uma toalha nova” [...]tenho de arranjar outra camisa para ele, um casaco
para o inverno e uns sapatos, além de outro cobertor” (HEMINGWAY, 2013, p. 25-
26).
Bolívar, após a morte da esposa, Dolores, consumida pela malária, com quem se
casara aos quinze anos e não tivera filhos, permanecia solitário na selva, em companhia de
suas lembranças e estabelecendo relações entre ascenas e os lugares descritos nos romances
com as situações vividas com a mulher e com o povo shuar.
E quanto a beijar, como dizia?, “ardorosamente”. Como diabos se faria isso? Lem-
brou de ter beijado muito poucas vezes Dolores Encarnación.... Talvez numa dessas
raras ocasiões tenha feito assim, ardorosamente, como Paul do romance, mas sem
saber disso. Em todo caso, foram muitos poucos beijos porque a mulher, ou respon-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
dia com ataques de riso, ou dizia que podia ser pecado. Beijar ardorosamente. Bei-
jar. Descobriu nesse instante que fizera isto muito poucas vezes e apenas com sua
mulher, por que entre os shuares beijar era um costume desconhecido. [...] Ao que
parece, em Veneza as ruas estavam inundadas e, por isso, as pessoas precisavam se
deslocar em gôndolas. (SEPÚLVEDA, 2005, p. 78-79).
Comia quando sentia fome, selecionava os frutos mais saborosos, os peixes mais
rápidose animais selvagens mais difíceis de caça. Quando precisa de companhia, procurava os
shuaresque o recebiam com prazer, dividiam a comida e conversavam entorno da fogueira.
Era aosshuares que também recorria em busca de tratamentos para a saúde, como quando,
num descuido, foi picado por uma cobra.
Beberagens deervas o aliviaram do veneno. Banhos de cinza fria atenuaram as febres
e os pesadelos. E uma dieta de miolos, fígados e rins de macaco lhe permitiu cami-
nhar ao fim de três semanas. Durante a convalescência foi proibido de se afastar da
aldeia, e as mulheres se mostraram rigorosas com o tratamento para purgar o corpo.
[...] - Você ainda tem veneno dentro. Tem que expelir a maior partee deixar só a
porção que o defenderá de novas picadas. Empurravam-lhe frutos suculentos, águas
de ervas e outras beberagens até fazê-lo urinar até quando já não tinha mais vontade
(SEPÚLVEDA, 2005, p. 45).
Nas obras, a identidade do velho é percebida enquanto sujeitos que convivem com
a perda do cônjuge, com a perda de seu papel social e o estabelecimento de uma nova condi-
ção humana em relaçãoa um tempo biológico e sociocultural, a velhice. Os autores retrata-
messe lugar solitário, improdutivo e excludente destinado ao velho, ao mesmo tempo em que
abordam o desejo e a capacidade desse mesmo homemrevigorar-se, “- Pode ser que eu não
esteja tão forte como penso - admitiu o velho -, mas conheço todos os truques não me falta
decisão” (HEMINGWAY, 2013, p. 27).
Algumas imagens dos velhos transmitem, também, identidades bem diferentes.
Bolívar demostra certa alegria, serenidade, tranquilidade e um convívio harmonioso com o
momento presente, principalmente diantedas leituras que trazemas lembranças do passado. Já
Santiagorevela muito sofrimento, uma pessoa depressiva, triste e nem sempre lúcida.
Outra possível relação, sem querer focar aqui aspectos psicológicos tão presentes,
mas identificar como o protagonista, o velho, é apontado dentro da obra, verificamos que a
palavra velho aparece em quase todas as páginas de O velho que lia Romances de Amor, e é
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
assim descrito: José Bolívar tinha muitos anos “Uns sessenta segundo os papéis, mas, sele-
varmos em conta que me registram quando eu já nadava, digamos que estou beirando os se-
tenta”. [...] “- Você pode se negar a participar da caçada. Já está velho para essas coisas”
(SEPÚLVEDA, 2005, p. 32-33). E o narrador ainda acrescenta as seguintes informações:
[...] A vida na selva temperou cada detalhe de seu corpo. Adquiriu músculos felinos,
que com o passar dos anos se tornaram rijos. Sabia tanto da selva quanto um shuar.
Era tão rastreador quanto um shuar. Nadava tão bem quanto um shuar. Definitiva-
mente, era como um deles, mas não era um deles (SEPÚLVEDA, 2005, p. 48).
Na obra O velho e mar a palavra velho aparece com maior frequência, talvez pos-
samosrelacionar a issoo menor número de personagens.Podemos verificarque nas oito primei-
ras páginas, também compostas de ilustrações, a palavra velho surge vinte e seisvezese a per-
sonagem é descrita de forma tão contundente que seu retrato se estabelece com muito realis-
mo:
O velho era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas
rugas. As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre, nos mares tropi-
cais, enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam
cobertas de cicatrizes fundas, causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas
em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma destas cicatrizes era recente.Tudo nele
e dele era velho, menos os olhos, que eram da cor do mar e alegres e não vencidos
(HEMINGWAY, 2013, p.13 - 14).
Durante a pesca, olha para sua mão e diz: “Para quem tem fama de inútil, você
não se portou muito mal” (HEMINGWAY, 2013, p.14). Observando os trechos acima, perce-
bemos como o autor apresenta o típico velho. Sendo possível notar também como a persona-
gem se vê e como é vista enquanto uma pessoa velha, deixando as ações e os cenários próxi-
mos a essa realidade.
Esse mesmo realismo emdado momento, dentro das obras,se dá de forma mági-
ca,quando as personagens nos colocam umasituação irreal, mas que não deixa dúvida: trata-se
de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação.Santiago sonha com leões saindo da
floresta e brincando na praia; Bolívar sonha com seu corpo pintado nos tons irisados dajiboia,
sentado diante do rio para receber os efeitos da natema, o doce licor alucinógeno preparado
fervendo-se as raízes deyahuasca, também conhecida no Brasil como “chá do Santo Daime”.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
A sua frente, algo que parecia ter todas as formas e nutrir-se ao mesmo tempo de todas elas,
como se fosse sua morte. Essa expressão de realismo aparece como um disfarce, como se fos-
se a morte a rondar os velhos. Essa realidade, na qual parece que o consciente ocupa o lugar
da imaginação, é umacaracterística estilística dos autores.
Em relação à leitura, como comportamento das personagens, verificamos que en-
quanto José Bolívarlia os romances de amor trazidos semestralmente pelo dentista, e essas
leituras faziam com que se esquecesse, muitas vezes, das barbáries humana; Santiago lia, no
jornal do dia anterior, que ganhava no botequim, as notícias do beisebol, que depois, em alto
mar, faziam-no pensar nos possíveis resultados dos jogos.
As narrativas ouospequenos romances, assim classificados, fazem parte da litera-
tura contemporânea e foram traduzidos em diversas línguas. Como prosa de ficção, apresen-
tam narrador onisciente, mas no relato há intercalação de longos monólogos das personagens.
O enredo apresenta uma organização lógica que provoca a verossimilhança, o lei-
tor é capaz de acreditar no que lê, de sentir a solidão do homem na mata e a solidão do ho-
mem no mar. O leitor ainda angustia-se e torce para que um consiga trazer o peixe a praia e o
outro a caçar a onça. Assim, o grande conflito, a pesca do grande peixe ea caçada da onça, faz
dos protagonistas heróis obstinados e dos leitores cúmplicesaprisionados frente ao possível
desfecho. Se de um lado o velho pescador tenta sair de uma maré de azar e usar de seus mui-
tos conhecimentos sobre o mar para conseguir a pesca, do outro, o velho, na mata, vê-se dian-
te da necessidade de vencer a fera, o que também exige conhecimentos acumulados durante a
vida.
O espaço da narrativa descrito no romance Um velho que lia Romances de amor,
ElIdilio, nos remete ao cenário do romance de Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão:
“Macondo era então uma aldeia de vinte casas de pau a pique e telhados de sapé construídas
na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedra polidas, bran-
cas e enormes [...]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2014, p. 7). O espaço, no romance de Sepúlveda,
guarda similaridades com este, criado pelo escritor colombiano.
Fica evidente o conhecimento do espaço pelas personagens. A descrição dos am-
bientes édiluída nanarrativa, sem abordar aspectos morais e políticos, embora os tenha como
pano de fundo: a devastação ambiental da Floresta Amazônica, asolidão e a perseverançado
velho.
As personagens parecem mais importantes que o enredo. Realizam coisas que pa-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
recem coerentes, são carregadas de conceitos éticos e morais que em dado momento são dei-
xados de lado para resolver o conflito na história, mas que não se afastam da personalidade
das personagens. Santiago via assim sua pesca:
[...]- O peixe também é meu amigo - disse em voz alta. - Nunca vi ou ouvi falar de
um peixe desse tamanho. Mas tenho de matá-lo.[...] Depois teve pena do enorme
peixe que não tinha nada para comer, mas a sua determinação de matá-lo jamais ar-
refeceu, mesmo naquele momento de compaixão. “Quantas pessoas ele irá alimen-
tar? Mas serão merecedoras de um peixe assim? Não claro que não. Ninguém mere-
ce comê-lo, tão grande a sua dignidade e tão belo seu modo de agir.” [...] “não com-
preendo essas coisas”. “[...] Já é ruim o bastante viver no mar e ter de matar os nos-
sos verdadeiros irmãos” (HEMINGWAY, 2013 p.76-77).
O mesmo sentimento José Bolívar demonstrava por sua presa:
[...]Antonio José BolívarProaño levantou-se lentamente. Aproximou-se do animal
morto e estremeceu ao ver que a dupla carga a destroçara. [...] O velho acariciou-a.
[...] e chorou envergonhado, sentindo-se indigno, envilecido, de nenhum modo ven-
cedor desta batalha. (SEPÚLVEDA, 2005, p.132).
Dispondo muitas vezes de monólogo interior, que, de acordo com David Lodge
(2011), é aquele em que o sujeito gramatical do discurso é um “eu” e o leitor “escuta” a per-
sonagem verbalizar seus pensamentos à medida que ocorrem, os romances apresentam a ex-
pressão literária como se fosse de fluxo de consciência, ou seja, processo de pensamento e
associação de ideias das personagens protagonistas entremeados à narrativa, gerando muita
simpatia para com os personagens, que revelam suas emoções, sensações e fantasias interio-
res.
Na solidão do mar e na solidão da selva, identificamos o monólogo interior consti-
tuindo-se num ideal, num direcionamento, numa meta a cumprir. Obstinadas as personagens,
apontadas no título das obras como velhas, colocam os leitores como plateia curiosa com o
desfecho do enredo, envolvidos nessa incessante busca pela capacidade de vencer.
Em ambos os romances, apesar da existência de narradores em terceira pessoa, a
todo momento, surgem monólogos interiores das personagens. Hemingway faz uso do traves-
são para introduzir as vozes do velho, que falava sozinho, e aspas para marcar seus muitos
pensamentos.A narrativa se dá de forma tão envolvente que essas marcas, às vezes, não se
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
fazem perceptíveis, transformando-se num discurso indireto livre. Tem-se a impressão que é a
própria personagem quem narra a história o tempo todo.
Embora não dispense algumas convenções de uma narrativa formal do discurso,
como: “pensou o velho”, “refletiu em pensamento”, o frequente monólogo aproxima o leitor
do velho de tal forma que mais parece um romance de fluxo da consciência.
Portanto, como afirma David Lodge (2011): “[...] o romance de fluxo da consci-
ência é a expressão literária do solipsismo, a doutrina filosófica segundo a qual nada é neces-
sariamente real além das fronteiras da nossa mente, mas também podemos argumentar que ela
suaviza essa hipótese assustadora ao nos dar acesso a vida íntima de outros seres humanos,
ainda que ficcionais”.
Podemos perceber o quanto o monólogo e toda a realidade ao sujeito pensante é
intensa:
Mais adiante olhou para trás e verificou que já não via terra. “Não faz diferença”,
pensou. “Para voltar posso sempre guiar-me pelo resplendor da Havana. Ainda fal-
tam duas horas para o pôr do sol e pode ser que ele venha à tona antes disso. Senão,
pode ser que venha para cima como a lua. E, se isso também não acontecer, pode ser
que resolva vir à tona com o nascer do sol. Não tenho cãibras e sinto-me forte.
Quem tem o anzol na boca é ele. Mas que tipo de peixe deve ser para puxar dessa
maneira! Deve ter a boca fechada com o anzol. Gostaria de poder vê-lo. Gostaria de
vê-lo uma só vez para saber o que tenho pela frente” (HEMINGWAY, 2013, p. 50-
51).
E, de modo semelhante, o protagonista do romance de Sepúlveda tece longos mo-
nólogos nos quais deixa transparecer o seu mundo e inquietações interiores:
- Aqui estou eu. Sou Antonio José Bolívar Proaño, e a única coisa que me resta é
paciência. Você é um animal estranho, disso não há dúvida. Fico me perguntando se
sua conduta é inteligente ou desesperada. Por que não me cerca e tenta simulações
de ataque? Por que não vai rumo ao leste, para que possa segui-la? Movimenta-se de
norte a sul, gira para o poente e retoma o caminho. Acha que sou estúpido? Está me
cortando a saída para o rio. Esse é seu plano. Quer me ver fugir selva adentro e se-
guir-me. Não sou tão idiota, companheira. E você não é tão inteligente quanto pen-
sei. (SEPÚLVEDA, 2005, p. 124).
Assim, verificamos nas obras esse percurso, empreendido nas narrativas, essas
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
profundas tensões e ambivalênciasda consciência humana.
Os romances ainda nos proporcionam um olhar às limitações a que o velho é
submetido, bem como a capacidade de superação. Talvez uma das frases do livro que mais
elucidaesse fato seja: “[...]Mas uma câimbra, se não era humilhante ante os outros, humilha-
va-o diante dele mesmo”. “Se o garoto estivesse aqui, podia friccionar-me o antebraço”, pen-
sou.Mas espero ficar logo bom”. Neste fragmento do romance O velho e o mar, ficam explici-
tadas a fraqueza, a debilidade e as limitações que o avançar dos anos acarretam à personagem
do romancista norte-americano, as quais também são comuns à personagem de Luis Sepúlve-
da.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma história não é mais que um grão de trigo. É ao ouvinte, ao leitor que compete
fazê-logerminar, Se não germinar é questão de falta de ar, de sol, de liberdade, de
solidão.
Michel Déon
Levando em conta o fato deque aliteratura proporciona entrelaçamentos eque es-
ses entrelaçamentos são o modo de funcionamento da linguagem, a forma de composição do
discurso e as relações entre esses discursos, as obras analisadas nos proporcionam esse olhar,
o qual Bakhtin chamou de dialogismo.
O estudo comparativo da literatura pautado no interdiscurso, nas relações entre os-
textos, converge para seu movimento principal: o perpétuo diálogo que a literatura tece consi-
go mesma. Esse diálogo, entendido aqui como intertextualidade, conforme aponta Botoso
(2011), “revitaliza a literatura e possibilita a valorização de textos e escritores de todas as
épocas, ao estabelecer um constante e fecundo diálogo e aproximando escritores, textos e paí-
ses diferenciados e ao permitir encarar a literatura como sistema de trocas e o ato de escrever
como um processo dialógico entre a literatura da tradição e a contemporânea”. Dessa forma, o
intertexto, segundo as colocações de Michael Riffaterre (apud SAMOYAULT, 2008, p. 28), é
“a percepção, pelo leitor, de relações entre uma obra e outras que a precederam ou a segui-
ram”.
Importante considerar que nesse diálogo, tanto na produção como na recepção de
um texto, é condição vital o conhecimento de outros textos com os quais de alguma forma
possa-se relacionar duas ou mais obras. Essa relação é cada vez mais eloquente quanto maior
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
for a proficiência leitora. Logo, concordamos com Samoyault (2008), quando diz que essa
relação “é antes de tudo um efeito de leitura”, pois sabemos que diante do comportamento
leitor desenvolvido, torna-se possível, a esse leitor, identificar, relacionar e utilizar estruturas
textuais, estabelecendo então a possível relação nesses inúmeros tecidos, que podem pertencer
a um artesão, mas com pontos e laços de vários autores.
Em síntese, o velho de Hemingway nos parece o mesmo velho de Sepúlveda.
Dorme pouco, pensa muito, vive e fala sozinho, é conhecedor do espaço onde vive. Astuto e
perseverante. Possuem a imensidão, do mar, da floresta. A morte os ronda. São cativantes,
velhos em sua essência e ternura, e como disse Rubens Alves (2015): “Vem depois as grosse-
rias a que nós, os velhos, somos submetidos nas salas de espera dos aeroportos. Pra começar,
não entendo por que “velho” é politicamente incorreto. “Idoso” é palavra de fila de banco e de
fila de supermercado; “velho”, ao contrário, pertence ao universo da poesia. Já imaginaram se
o Hemingway tivesse dado ao seu livro clássico o nome de “O idoso e o mar”?”.
Enfim, pela leitura dos dois romances analisados neste artigo, fica evidente o va-
lor, a grandeza e a capacidade que as personagens mais experientes fazem brotar em seus res-
pectivos espaços - mar e selva - cativando e aliciando leitores no passado e no presente - por
meio de suas aventuras ímpares, que desvelam a beleza e o intrincado universo que povoa
seus mundos interiores, revelando também a sua extrema humanidade e o destino de todos
nós, que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos.
Referências
ALVES, Rubem. Gestos amorosos. Folha de São Paulo. São Paulo, 27 de maio de 2008. Dis-
ponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2705200804.htm. Acesso em: 05.
jun. 2015.
BOTOSO, Altamir. Intertextualidade e realismo mágico no conto “Borges no inferno”, de
José Eduardo Agualusa. Comunicação: Veredas - Revista do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da UNIMAR Ano 10, nº 11 - 2011, p. 205-226.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. Trad. Eric Nepomuceno. Rio de Janei-
ro: Record, 2014.
HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar. Trad. de Fernando de Castro Ferro. 78. ed. Rio de
Janeiro: Bertand, 2013.
KRISTEVA, Julia. A palavra, o diálogo e o romance. In: KRISTEVA, Julia. Introdução à
semanálise. Trad. de Lúcia Helena França Ferraz. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 61-90.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
LODGE, David. A arte da ficção. Trad. de Guilherme da Silva Braga. Porto Alegre: L&PM,
2011.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Literatura comparada, intertexto e antropofagia. In: PERRONE-
MOISÉS, Leyla. Flores da escrivaninha: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.
91-99.
SEPÚLVEDA, Luis. Um velho que lia romances de amor. Trad. de Josely Vianna Baptista.
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005.
SAMOYAULT, Tiphaine. A Intertextualidade. Trad. de Sandra Nitrini. São Paulo: Aderaldo
& Rothschild, 2008.
TODOS OS CAMINHOS CONDUZEM À MORTE: O SUICÍDIO
EXEMPLAR EM “AS NOITES DA ÍRIS NEGRA”, DE ENRIQUE VILA-
MATAS
TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA MUERTE: EL SUICIDIO
EJEMPLAR EN “LAS NOCHES DEL ÍRIS NEGRO”, DE ENRIQUE
VILA-MATAS
Fabiola Farias Brandão (G - UEMS)
Gabriel de Melo Lima Leal (G - UEMS)
RESUMO: Neste trabalho, teceremos uma breve análise estético-filosófica do conto “As noi-
tes da íris negra”, de Enrique Vila-Matas, que consta do livro Suicídios Exemplares, publica-
do em 1985. Partimos de questões estruturais visando identificar na narrativa uma tessitura
filosófica a respeito da morte/do suicídio que acaba por remeter-se ao pensamento de Sêneca -
do estoicismo -, que é citado mais de uma vez no conto assim como, também, por fim, o de
Albert Camus, havendo aqui, no entanto, diferenças a serem destacadas.
Palavras-chave: Suicídio; Estética da existência; Camus; Sêneca; Vila-Matas.
RESUMEN: En este trabajo, tejeremos un breve análisis estético-filosófico del cuento “Las
noches del iris negro”, de Enrique Vila-Matas, parte del libro Suicidios Ejemplares, publicado
en 1985. Partimos de cuestiones estructurales apuntando a identificar en la narrativa una tesi-
tura filosófica a respecto dela muerte/del suicidio que acabe remetiéndose al pensamiento de
Séneca - del estoicismo -, que es citado más de una vez en el cuento, y también, por fin, al de
Albert Camus, habiendo aquí, entretanto, diferencias por destacarse.
Palabras clave: Suicidio, Estética de la existencia, Camus, Séneca, Vila-Matas
“Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio.
Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a questão funda-
mental da filosofia.”
Albert Camus
Pretende-se aqui efetuar uma análise, de cunho tanto estético como filosófico, do
conto “As noites da íris negra”, de Enrique Vila-Matas, que pertence à coletânea de contos
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
intitulada Suicídios Exemplares, de 1985.
O conto em questão traz uma similitude entre o primeiro parágrafo e o último que
é ponto de partida para a compreensão de todo o texto. Há, no entanto, uma diferença funda-
mental entre eles que é a presença da “tarde”, no primeiro parágrafo, e da “noite”, no segundo
parágrafo (aquilo que“cabe inteiro num único olhar”, VILA-MATAS, 2012, p. 85), e que,
mais do que oposição dá a ideia de progressão na narrativa. O personagem passa por um traje-
to de formação no que tange ao relacionamento com a morte e, consequentemente, na forma
de se pensar a vida - no primeiro parágrafo é um olhar de sossego, no último, um olhar de
“íris negra”.
A noite forma em relação ao dia a dualidade fundamental do homem, entre pele e
pensamento, entre objetividade e subjetividade; se a luz possibilita traços, cores, o trabalho da
visão, a escuridão torna a superfície das coisas e suas leis próprias, meros constituintes do
conteúdo, cheiro e tato cegos dos corpos; nela tudo se relaciona de um modo mais despido, a
hipocrisia dá lugar à violência, o ego ao id, a materialidade iluminada das coisas dá lugar à
compreensão íntima, melhor, à comunhão dionisíaca do ser com a sua existência.
Os elementos principais do conto se encontram todos no primeiro parágrafo: a
atração pela morte (ainda que “só a morte me atraia”, VILA-MATAS, 2012, p. 85), o absurdo
da existência (“a ilusão de viver”, VILA-MATAS, 2012, p. 85) e a convivência com a morte
como liberdade. Estes são os pontos de crisis, tópicos que subjazem como rota, categorias
simultaneamente norteadoras às trajetórias da análise que aqui se discorrerá.
Com relação à estrutura, a mescla do início com o fim, a trama não totalmente so-
lucionada, tudo dá margem a que Port Del Vent (a cidade é ficcional) represente um espaço
fora do tempo, pelo menos fora do tempo histórico, pertencente à natureza cíclica do tempo
conforme concernente ao mito e aos clássicos (passim PAZ, 2013, p. 21-36).
Ao mesmo tempo em que poderíamos dizer que o texto termina em aberto - sem
sabermos se o casal irá se matar, ou se já o fizera entre o penúltimo e o último parágrafo, ou
ainda se o marcador do feito seria o “há poucos instantes” -, nos direcionando a isso, podemos
também efetuar uma leitura a partir desse ponto, que tomamos como evidência de que, assim
como um mito, a narrativa se curva e se fecha sobre si mesma. A proximidade formal e de
conteúdo do primeiro e último parágrafos nos solicitam um olhar cíclico, fugindo do essencia-
lismo do fato histórico em direção a um pensamento dialético sobre o conto.
Assim, como o mito não procura descrever conceitos, a narrativa de Vila-Matas
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
não pretende ser unívoca. Se empreendêssemos aqui uma tentativa de desvendar a verdade
factual do conto (da trama), focando-nos em perguntas como ‘o pai de Victória era mesmo
Eceiza?’ ou ‘quem estava enterrado na lápide sem nome dentro do cemitério e quem o estava
na extramuros?’, não estaríamos nos atendo ao de mais importante na história. Além disso,
cremos que não há de fato uma solução possível como unívoca aos problemas propostos pelo
texto. O autor o deixa propositalmente em aberto ao nos dizer que “loucura e lucidez se con-
fundem numa só figura, como a verdade e a mentira, aqui em Port Del Vent” (VILA-
MATAS, 2012, p. 109).
Camus já dizia que “se você quer ser filósofo, escreva romances. Só se pensa por
imagens” (CAMUS, 1935-37, p.18) e é dessa forma que devemos buscar a compreensão do
conto, dialeticamente, e não buscando sua “verdade”, como se executássemos uma investiga-
ção criminal.
É com uma ternura cristalinamente lúcida que Vila-Matas conduz o conto “As
noites da íris negra”. Diz-se “conduz” justamente pela leveza das nuances narrativas que nos
levam do início ao fim; linhas levemente curvas que projetam a si um centro virtual pelo qual
se orientam. Sem querermos nominar inequivocamente este que seria o ponto de convergência
do texto, podemos chamá-lo de visão de mundo - uma em específico que seria a mediterrânea
clássica. Poderíamos também chamar a esse ponto imaginário de visão da vida (ou da morte)
conformeo estoicismo, devido às várias referências, principalmente a Sêneca, que existem no
conto. Ao alegar que a visão de mundo pregada pelo estoicismo seria o cerne da narrativa, no
entanto, estaríamos reduzindo-a em demasia, não dando conta de suas nuances líricas e onto-
lógicas. Optamos então por inferir que o estoicismo se encontra próximo do centro da narrati-
va.
O suicídio, para além de constante em todos os contos do livro a que pertence o
analisado, aparece nesse com um timbre específico de exemplaridade, a da sobriedade filosó-
fica antiga face à morte, como consta no estoicismo de Sêneca, que é referido em alguns mo-
mentos, por exemplo, no epitáfio de Bonet (VILA-MATAS, 2012, p. 92) que é um trecho das
Epístolas a Lúcio.
A citação deste, Sêneca, que abre o conto já denuncia um olhar hoje incomum pa-
ra com a morte, o de possibilidade de “saída”: “Nada melhor a lei interna fez do que nos dar
uma entrada para a vida e muitas saídas”. É com esse olhar que veem a vida os membros da
sociedade da íris negra que têm na morte uma contínua opção frente ao que quer que seja que
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
lhes ocorra em vida, como uma volta para casa sempre disponível ao viajante. Conforme nos
diz o pai de Victoria, citado por Catão:
sem a possibilidade do suicídio eu já teria me matado há muito tempo... O suicídio é
um ato afirmativo, vocês podem cometê-lo quando quiserem. Por que a pressa?
Acalmem-se. O que torna a vida suportável é a ideia de que podemos escolher quan-
do abandoná-la (VILA-MATAS, 2012, p. 105).
E também é citado por Durán, após a morte do pai de Victoria (segundo a história
de Catão), como modo de confortar aos outros Notáveis: “Durán imitava o pai de Victória e
nos dizia (...) que o suicídio era a única liberdade autêntica” (VILA-MATAS, 2012, p.107).
O fato de o suicídio ser um “ato afirmativo” exige um sujeito contra o qual será
exercido esse ato, o que pode ser, segundo Camus, os deuses como um todo, constituindo uma
forma de revolta inerente à própria condição humana:
O espírito revolucionário está por inteiro em um protesto do homem contra a condi-
ção do homem. Nesse sentido ele é, sob diversas formas, o único tema eterno da arte
e da religião. Uma revolução sempre se dá contra os deuses - a começar por aquela
de Prometeu. É uma reivindicação do homem contra seu destino cujos tiranos e títe-
res burgueses são apenas pretextos (CAMUS, 1937-39, p. 36).
Essa possibilidade de poder encerrar a vida racionalmente traz consigo a ideia da
“morte digna” que é continuamente citada no conto, inclusive nas iniciais presentes nas lápi-
des dos Notáveis (“MCDSSV”: “Morreu Com Dignidade, Sua Sombra Voa”). Por sua vez, a
necessidade de encerrar a vida ante uma ameaça de desvalor que o mundo ofereça ao homem
denuncia a existência do absurdo camusiano, o divórcio que existe entre o homem e o mundo:
Camus não define o termo absurdo, não faz dele um conceito. O absurdo é visto co-
mo um paradoxo, uma contradição que extrapola os limites do raciocínio e da lógica
e atinge o plano da existência concreta do homem; por isso, é apresentado como
uma sensibilidade, uma experiência através da qual o homem se depara com a ambi-
guidade e as limitações da própria existência, é tratado sob a forma de uma figura: o
divórcio. O absurdo não está no homem, nem no mundo, mas em sua presença co-
mum (SILVA in CAMUS, 2014, p. 101).
Camus afirma em seus cadernos que é justamente a essa natureza fraturada do
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
homem com relação ao mundo que se ergue qualquer forma de rebeldia. A existência do ab-
surdo ameaça continuamente a liberdade do homem sobre si mesmo, que seria nada mais que
o poder de sujeitar-se somente ao que delibera sua alma (racional):
A liberdade, que é o “bem específico do homem”, consiste na capacidade de a alma -
racional - tudo submeter a si própria sem a nada se submeter, desprendendo-se do
jugo da necessidade, da servidão, do poder, das prisões, das cadeias, dos acasos da
fortuna e de todos os receios, incluindo o da própria morte (SERRA, 2008, p. 15).
O suicídio desse conto é exemplar exatamente porque surge ao homem como pos-
sibilidade de se livrar da sujeição ao absurdo, fazer valer sua vontade racional sobre o destino
ou simplesmente sobre esse todo externo ao ser que é o mundo. Isso nos é dito sucintamente
pelo Barão de Teive, heterônimo pessoano, no Livro do Desassossego: “Se o vencido é quem
morre e o vencedor é quem mata, com isto [o suicídio], confessando-me vencido, me instituo
vencedor” (PESSOA, apud. SERRA, 2008, p. 17).
A liberdade do suicídio, então, é do ser racional, do arbítrio humano sobre os deu-
ses ou sobre o destino ou acaso, qualquer que seja o nome que se dê a tudo em nossa vida a
que estamos sujeitos para além de nossas meditações e escolhas. Não à toa, Camus alega em
O Mito de Sísifo que o que mantém o homem vivo é o amor: esse não é o amor romântico,
mas a paixão em seu sentido etimológico, o “sujeitar-se a”. O que mantém um homem vivo,
sem que se entregue ao (ou opte pelo) suicídio, é o amor pela vida, o interesse e a consciência
lúcida de não se ter poder total sobre a própria vida (tanto que o próprio narrador o compara a
um touro-alado, imagem de força, aquilo que subjulga); a pedra deve ser empurrada morro a
cima, mesmo que saibamos que voltará a descer. Se pensarmos em um propósito para tal fica-
remos presos ao atrito constante e desgastante do mundo sobre o homem, o absurdo: “O ho-
mem deseja saber e percebe que a razão é limitada, deseja amar e se depara com um amor
impossível, deseja viver e se depara com a morte” (SILVA in CAMUS, 2014, p. 102). Deve-
se eximir-se a vida de qualquer propósito que a sustente além do amor em viver, do sujeitar-
se, e isso é o que não ocorre aos suicidas da sociedade d’As noites da íris negra.
Por mais que possa parecer dissonante, esses homens da sociedade que nos é apre-
sentada no conto, a qual se juntam o protagonista e Victória, não procedem o esvaziamento de
objetivos a que se refere Camus. Todos (ou quase, visto quedarem Catão e Ulisses) buscam
uma vida honrada, digna. Essa honra ou dignidade que optam conseguir pela morte está sub-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
sidiada também pela noção de Sêneca de que a vida de um homem é sua obra de arte:
Os fins naturais são dados primeiro, depois a razão sobrevem e trabalha-os como um
artista trabalha uma matéria; por isso a vida moral é assimilada a uma arte, não às ar-
tes em que a obra é exterior à própria arte, mas às artes em que o resultado se mostra
uno com a própria arte, como o histrião, a representação do actor ou os movimentos
do dançarino (BAYER apud. SERRA, 2008, p. 10).
Essa obra, que somos nós mesmos, está continuamente em processo de criação,
um workingprogress que só se encerra quando o artista/obra para de se modificar, isto é, deixa
de viver:
se a vida é uma “obra de arte”, então o último gesto do artista, aquele que dá a obra
como acabada - no caso da vida, a morte - é um gesto não apenas final como decisi-
vo: dependerá dele, em última análise, a beleza ou a fealdade do todo - ou, no caso
da vida, a sua dignidade ou indignidade definitivas. Se uma “bela morte” - uma mor-
te corajosa, heróica - pode tornar digna uma vida miserável, também o contrário po-
de acontecer: uma morte cobarde, aviltante, pode tornar miserável uma vida vivida
até aí de forma digna (SERRA, 2008, p. 12).
A liberdade do suicida estaria então em escolher o último golpe do cinzel, de pena
ou de pincel, o que dará a última feição, será o constituinte soberano dessa obra que é ele
mesmo. A formação do eu então fica sujeita, em última instância, à vontade desse mesmo eu -
maior soberania não pode ser concebida: uma liberdade estética sobre a própria existência.
na vida é como no teatro: não interessa a duração da peça, mas a qualidade da repre-
sentação. Em que ponto tu vais parar, é questão sem a mínima importância. Para on-
de quiseres, mas dá a tua vida um fecho condigno (SÊNECA apud. SERRA, 2008,
p.12).
A chamada estética da existência está presente, então, nos clássicos, de maneira a
vincular intimamente a moral e a arte:
Com os Estóicos torna-se visível a concepção, já implícita na cultura grega, a que
Raymond Bayer chama a “concepção estética da moralidade”, e que se pode resumir
na tese de que a ética é uma “arte” (...) em consequência do que a própria sabedoria
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ou filosofia - que Séneca praticamente identifica com a ética - é uma arte, ainda que
especial, na medida em que, ao contrário das outras artes (técnicas), ela é exercida
não apenas por alguns, mas por todos e cada um dos homens que, com ela, visa pro-
duzir-se a si próprio e não um qualquerobjecto exterior (SERRA, 2008, p. 10-11).
Podemos também notar o quanto, ante essa perspectiva clássica, o suicídio se
enobrece. Se a vida (a moral) é uma obra de arte, o conhecimento de si mesmo interfere dire-
tamente no possível último corte dado a essa obra, e se “o homem se determina ao longo de
sua vida”, então “conhecer-se profundamente é morrer” (CAMUS 1935-37, p. 41), ou seja, o
suicídio surge como clareza: nunca se pode dizer que um suicida não refletiu sobre sua ação
antes de realizá-la.
A associação da vida à obra de arte liga imediatamente a ela, à arte, também a
morte. A noção estética de existência, podemos dizer, é o que suporta a própria capacidade de
haver beleza na morte.
Aumentar a felicidade de uma vida de homem é ampliar o trágico de seu testemu-
nho. A obra de arte (se for um testemunho) verdadeiramente trágica deve ser a de
um homem feliz. Porque essa obra de arte será inteiramente inspirada pela morte
(CAMUS 1937-39, p. 50).
O protagonista, já no primeiro parágrafo, nos fala de sua atração para com esta, no
entanto, essa relação que, conforme nos conta, é de uma estranha atração, será amadurecida
para uma lucidez serena da convivência com a morte: a de que toda a noite cabe num olhar de
íris negra. O narrador-personagem nos chama atenção para sua atração pela morte em mais de
um ponto, além do explícito no primeiro parágrafo, quando nos fala de Victória, de como ela
enfrenta sua condição condenada à morte por um tumor cerebral:
Há na atitude de Victoria perante a morte uma profunda e admirável serenidade,
como se suspeitasse de que o mais importante, talvez a única coisa que realmente
conte na vida, fosse preparar-se para morrer com dignidade (VILA-MATAS, 2012,
p. 91).
E acrescenta:
notei que ela [Victória] e aquela ameaça de morte que a embelezava ainda mais ante
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
meus olhos me atraíam poderosamente, com essa força incomum e incontrolável que
faz com que, de uns tempos pra cá, tudo que pareça abrigar a morte me seduza de
maneira irremediável. E então pensei que isso talvez explicasse minha estranha con-
duta, o fato de ter abandonado daquela forma a concentração da seleção, como se
seduzido por tanta beleza e morte, e me precipitado para a rua para acompanhar Vic-
toria em seu caminho pelo bairro da Recoleta (VILA-MATAS, 2012, p. 88).
A atração pela morte se faz presente também quando nos fala sobre o lugarejo de
PortDelVent:
E à atração que sinto por ela se juntou a que sinto por este lugarejo e por esse mar, e
desde esse momento Victoria e Port Del Vent compõem uma única figura que se
perde não muito longe desta paisagem de beleza e morte, não muito longe da linha
de meu próprio horizonte (VILA-MATAS, 2012, p. 101).
Se até certo ponto da narrativa ele não consegue comer se houver um olho de pei-
xe parado à mostra (a presença da morte) - “era um problema que eu tinha, desde a infância,
com os peixes, por conta do horror que me causavam, e ainda me causam, os inexpressivos e
extraviados olhares que se podem ver nos peixes arrebatados do mar (VILA-MATAS, 2012,
p. 89)” - ao final, ele reconhece nitidamente seu interesse para com ela como forma de digni-
dade, ‘integrando-se à ordem’ do lugar, mas
não era o apaziguamento do amor que nascia nele, mas uma espécie de pacto interior
que ele firmava com essa natureza estranha, a trégua estabelecida entre dois sem-
blantes duros e selvagens, a intimidade de dois adversários, e não o abandono de
dois amigos (CAMUS 1935-37, p. 53).
Essa evolução em direção à ‘intimidade de adversários’ com a morte nos é apre-
sentado simbolicamente na cena do jantar em que Victoria e o protagonista estão conversando
acerca dos últimos eventos. Após refletirem sobre a última carta do pai de Victória, onde des-
velam o acróstico “suicida-te” a partir da lista de nomes da sociedade, o narrador, que já hou-
vera terminado de comer, retira o que cobria os olhos do peixe morto sobre a mesa:
retirava a folha de papel laminado que cobria a cabeça do besugo, como se desse o
primeiro passo para que meus olhos começassem a parecer com o que eu mais temia
e, ao mesmo tempo, tanto me atraía: os olhos desses peixes de olhar inexpressivo e
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
extraviado (VILA-MATAS, 2012, p. 102-103).
Essa espécie de resignação com o inevitável vai além da simples aceitação, esta-
belece uma relação entre o homem e sua finitude, o mais próximo que pode chegar o homem
de uma integração com o mundo, o que ao protagonista soa inexplicavelmente sedutor:
Logo ao chegar em Por Del Vent tive a obscura sensação de que vir para esse lugar
significava abraçar uma certa ordem, integrar-se, aceitar alguma coisa como a dele-
gação de uma continuidade, como se chegar ali implicasse que não se pode ser in-
digno de quem antes aqui esteve. Tem que ser como eles. Agora (parece nos dizer o
povoado) é a sua vez (VILA-MATAS, 2012, p.108 - friso nosso).
A integração como superação do absurdo é, talvez, o que incite no protagonista a
sensação de bem estar inexplicável com relação ao mar, a sua representação de um “corpo-
único”: a impressão de unidade que ele sugere, é a impressão de que o absurdo não existe, ou
seja, um momento de se iludir enquanto homem que não é separado do mundo, “a ilusão de
viver”.
No entanto, a integração encontrada pelo protagonista, a liberdade que conquista
ao longo do texto, vem de sua “intimidade com o adversário”, uma vez que
a única liberdade possível é uma liberdade em face da morte. O homem verdadeira-
mente livre é aquele que, aceitando a morte como é, aceita ao mesmo tempo as con-
sequências - isto é, a inversão de todos os valores tradicionais da vida. O ‘tudo é
permitido’ de Ivan Karamazóv é a única expressão de uma liberdade coerente. Mas é
preciso ir até o final da fórmula (CAMUS 1937-39, p. 48).
A liberdade conquistada resulta justamente do reconhecimento de que essa liber-
dade que tanto se desejava era uma ilusão. Sua conquista ocorre no momento em que o ho-
mem compreende profundamente que é um condenado, uma vez que “os homens têm a ilusão
de serem livres. Os condenados à morte não têm essa ilusão. Todo o problema está na realida-
de dessa ilusão” (CAMUS 1937-39, p. 71).
Para finalizar, fazemos constar aqui uma reflexão que toma o todo (inclusive as
entrelinhas) do conto e o projeta de modo muito específico sobre o leitor. Os únicos persona-
gens que não possuem nome na narrativa são o próprio protagonista e o pai de Victoria. O que
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
teriam eles em comum? Ambos são os pontos que articulam o enredo: o narrador e o nó - vai-
se parar em PortDelVent por ter sido a cidade onde ele morreu. Mas por que reservar um ano-
nimato justamente aos articuladores da narrativa? Ora, fica claro o intento do autor nesse pro-
cedimento. O de metonimizar a narrativa, até mesmo por termos em vista o seu forte caráter
ontológico: o protagonista somos todos, o nó, todos o temos: todos os caminhos conduzem à
morte.
Referências
CAMUS, Albert. Cadernos (1935-37) - Esperança do mundo. São Paulo: Editora Hedra,
2014.
_______. Cadernos (1937-39) - A desmedida na medida. São Paulo: Editora Hedra, 2014.
PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
SERRA, J. M. Paulo. O suicídio considerado como uma das Belas Artes. Universidade da
Beira Interior. UBI, 2004.
VILA-MATAS, Enrique. Suicídios exemplares. São Paulo, SP. Editora Folha de São Paulo,
2012.
PERSONAGEM E AMBIGUIDADE EM SENHORA, DE JOSÉ DE
ALENCAR
CHARACTER AND AMBIGUITY IN JOSÉ DE ALENCAR SENHORA
Mauricio Silva (UNINOVE)
RESUMO: O presente artigo trata da construção de personagens no romance Senhora de José
de Alencar, com destaque para Aurélia e Seixas, buscando inseri-los tanto na dinâmica do
enredo criado por Alencar quanto nos pressupostos estéticos do Romantismo literário. A tôni-
ca da análise centra-se na idéia de ambiguidade, conceito fundamental para se entender não
apenas o processo de construção das personagens do romance em causa, mas ainda a comple-
xidade de sua trama romanesca.
Palavras-chave: José de Alencar; Senhora; Personagem; Ambiguidade; Romantismo.
ABSTRACT: The present article analyzes the construction of characters in the novel Senhora
of José de Alencar, especially Aurelia and Seixas, seeking to insert them both in the dynamics
of the romantic plot created by Alencar. The analysis focuses on the idea of ambiguity, fun-
damental concept to understand not only the process of building the characters in this novel,
but also the complexity of his novelistic plot.
Keywords: José de Alencar; Senhora; Character; Ambiguity; Romanticism
Com o surgimento e posterior desenvolvimento do romance no século XVIII, as-
pectos estruturais da prosa de ficção começam a se destacar no cenário teórico da literatura,
ganhando cada vez mais consistência analítica e interpretativa. Entre os elementos principais
que passam a compor, estruturalmente, a narrativa romanesca, a personagem distingue-se não
apenas pela importância que naturalmente possui para a composição da obra, mas também
pela multiplicidade de formas como se apresenta, tornando-se componente imprescindível à
economia do romance.
Este fato torna-se particularmente verdadeiro durante o Romantismo, movimento
estético que, historicamente, surge na Europa numa época de contestação das monarquias
absolutistas setecentistas, da qual a Revolução Francesa (1789) foi o principal episódio, e de
ascensão da burguesia, tendo como consequência imediata o desenvolvimento do comércio, a
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
expansão urbana e o aperfeiçoamento de laços pré-capitalistas que dariam ensejo às seguidas
revoluções industriais que marcariam o século XIX. No dizer de um estudioso do assunto,
o período de gestação e desenvolvimento do romantismo foi extremamente rico pe-
las sugestões revolucionárias, pelas rápidas e profundas transformações que irão
marcar a Europa e a América. O romantismo será, ao mesmo tempo, expressão des-
sas circunstâncias históricas e a afirmação, talvez em um de seus momentos de mai-
or complexidade, dos descompassos entre os avanços econômicos e as tragédias
humanas; das glórias revolucionárias e dos desencantos com a nova ordem formam
o emblema contraditório do sentimento de desajuste que marca boa parte do movi-
mento (CITELLI, 1986, p. 14).
Se do ponto de vista histórico o Romantismo assinala uma verdadeira inflexão no
modo de pensar e de se relacionar socialmente, do ponto de vista estético a revolução não foi
menor, a começar pelo fato de a estética romântica promover, num deliberado espírito de opo-
sição, a contestação do ideário neoclássico e os embates contra os dogmatismos das regras
artísticas, o apego a expressões mais pessoais, naturais e subjetivas, além de valorizar o popu-
lar e o nacional. Trata-se, portanto, como afirma Dante Tringali, de uma clara posição anti-
iluminista, em favor de conceitos fundamentalmente “irracionais”:
o Iluminismo achava que a razão humana, apesar de seu poder, apenas chegava a
aceitar a existência de Deus, sem conhecer sua natureza. Mas mesmo assim havia
uma corrente atéia dentro do iluminismo. O romantismo renega a razão. Não lhe dá
a menor importância como forma de conhecimento. E busca outro caminho. Não é
pela estúpida razão humana que se conhece o infinito, mas pelo sentimento e pela
fantasia. Não é pela discursividade, mas pela intuição (TRINGALI, 1994, p. 103).
Assim, numa perspectiva estética e, mais particularmente, do ponto de vista estri-
tamente literário, o Romantismo promove uma autêntica renovação das artes, insurgindo-se
contra os clássicos e os neoclássicos e suas regras, defendendo a liberdade artística, a mistura
de gêneros literários etc. A arte torna-se individualista, supervalorizando a figura do autor,
desaguando numa perspectiva em que o eu passa a ser a dimensão artística mais importante
(egocentrismo), primando, portanto, pelo ensimesmamento (subjetivismo). Valoriza-se, ainda,
o sentimentalismo (em oposição ao racionalismo), a imaginação (em oposição à especulação),
a anarquia dos sentidos (em oposição ao seu equilíbrio), a introversão (em oposição à extro-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
versão) e o tom intimista (em oposição ao tonos coletivo). Essas e outras características do ser
romântico só poderiam desencadear um série de peculiaridades do sentir romântico, tais como
a angústia, o sofrimento, o desespero, o trágico, tudo resumido no conceito central, para o
Romantismo, de tédio (spleen, mal-de-siècle). As saídas, diante de um quadro tão massacrante
para o ego romântico, seria ou o sacrifício pessoal, pelo suicídio; ou a auto-imolação, pela
tuberculose; ou o escapismo, pela busca da Natureza; ou o exotismo, pela dedicação às via-
gens; ou ainda a ilusão do passado, pelo retorno às idades antigas. Trata-se do sujeito proble-
mático de que fala Citelli, (CITELLI, 1986, p. 11) decorrente da própria complexidade ineren-
te à estética romântica.
No Brasil, em especial, o Romantismo surge como uma manifestação artística
que, necessariamente, adquirirá feições próprias, reproduzindo, inclusive, as contradições de
uma sociedade politicamente recém-independente e economicamente ainda vinculada à pro-
dução agrária, à mão-de-obra escrava e à exportação, mas já apontando para um vindouro
processo de industrialização, o que teria consequências diretas no modo de produção literário
do século XIX, bem como na recepção da literatura aqui produzida por nossos primeiros ro-
mancistas, como afirmam Benjamin Abdala e Samira Campedelli:
o desenvolvimento econômico do país e o consequente processo de urbanização
trouxeram novas necessidades para as famílias patriarcais brasileiras. Aos poucos,
elas adquiriram a ideologia do consumismo dos produtos da Revolução Industrial. E,
da mesma forma que o homem burguês aprendeu a comprar mercadorias, o novo
público leitor deveria adquirir a matéria literária (...) Formou-se, assim, o novo pú-
blico para as produções românticas. Um público burguês, mas impregnado ainda da
ideologia conservadora do sistema escravista colonial, que inviabilizou o surgimento
de produções artísticas de caráter mais crítico em relação à realidade brasileria. O
gosto pelos padrões estéticos do Romantismo - a forma literária da burguesia - veio
mais através da importação de modelos estrangeiros. Uma economia dependente traz
a dependência cultural (ABDALA JÚNIOR & CAMPEDELLI, s.d., p.79).
Produção diversificada, nossa prosa de ficção romântica pode ser dividida em
quatro tendências majoritárias, de acordo com algumas características estéticas que cada uma
delas apresenta. Teríamos, portanto, o romance regionalista, em que se promove uma ideali-
zação da paisagem regional, com a exposição de costumes e hábitos regionais, bem como a
exploração de temas típicos de certas regiões do país (escravidão, cangaço, sertanejo etc.),
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
raramente problematizado no contraste entre o campo e a cidade; alguns dos autores que a
representam são José de Alencar (O Sertanejo, O Tronco do Ipê), Visconde de Taunay (Ino-
cência), Bernardo Guimarães (A Escrava Isaura) e Franklin Távora (O Cabeleira). Uma se-
gunda tendência seria o romance indianista, no qual prevalece a idealização da paisagem lo-
cal, a ênfase no nativismo e a valorização do homem primitivo, neste caso, o indígena; José de
Alencar (O Guarani, Ubirajara, Iracema) seria o principal representante. A terceira tendência
estaria assinalada por nosso romance histórico, cuja principal característica é a reconstituição
idealizada da história pátria, seguida de certa valorização nacionalista (ufanismo) e da ficcio-
nalização de fatos históricos, expressão praticada por tanto por um José de Alencar (A guerra
dos Mascates, As Minas de Prata) quanto, em menor grau, por um Bernardo Guimarães (Len-
das e Romances). Finalmente, a quarta tendência seria o romance urbano, espécie de romance
de costumes em que prevalecem os temas amorosos, com ênfase nas personagens femininas e
uma crítica superficial à sociabilidade burguesa; entre seus principais representantes figuram
Joaquim Manuel de Macedo (A Moreninha), Manuel Antônio de Almeida (Memórias de um
Sargento de Milícias) e José de Alencar (A Viuvinha, Lucíola, A Pata da Gazela, Senhora).
É dessa última tendência, desse último autor e desse último romance que tratare-
mos, com mais acuidade, neste ensaio.
1. Alencar e Senhora
Partindo da perspectiva esboçada por certa historiografia literária brasileira, per-
cebe-se claramente que, no século XIX e particularmente durante a vigência romântica, a fi-
gura de José de Alencar avulta como uma das mais importantes. Numa abordagem estritamen-
te estética, por exemplo, Alfredo Bosi propõe uma divisão tripartite de seus romances, os
quais, portanto, deveriam ser avaliados de acordo com as seguintes categorias: primeiro, ro-
mances ligados a peripécias inverossímeis (A Viuvinha, A Pata da Gazela, Diva); segundo,
romances que apresentam maior "fôlego descritivo" (O Sertanejo, O Gaúcho, O Guarani); e,
terceiro, romances construídos a partir de um “tom justo e economia e meios" (Lucíola, Se-
nhora). (BOSI, 1988) Já António Cândido, baseado numa perspectiva que toma como princí-
pio de avaliação estética a construção dos personagens alencarianos, propõe uma divisão de
seus romances em três tipos: os romances heróicos, aqueles cujos protagonistas seriam heróis
delineados de acordo com padrões de grandeza épica (O Sertanejo, O Gaúcho, O Guarani,
Ubirajara); os romances de perfis femininos, traçados sob a ótica das futilidades mundanas
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
(Diva, A Viuvinha, A Pata da Gazela); e os romances de maior senso artístico e humano, pela
densidade psicológica de seus personagens principais (Lucíola, Senhora). (CÂNDIDO, 1981)
Embora ambas abordagens historiográficas apontem para uma diversidade da pro-
dução ficcional de Alencar, há que se destacar o fato de que elas assinalam também a superio-
ridade estética de seus romances urbanos, evidentemente com as devidas ressalvas, feitas pe-
los dois críticos, em relação a outras obras alencarianas que consideram de primeira grandeza,
principalmente O Guarani e Iracema.
Figura central, portanto, do romance romântico brasileiro, José de Alencar procu-
rou, em toda sua vasta produção ficcional, aliar os conceitos de localismo (representado por
uma espécie de nacionalismo literário) e de universalismo (representado pela imitação de
padrões europeus), como aliás já assinalara o mesmo Antônio Cândido ao propor a compreen-
são da evolução da nossa vida espiritual a partir da dialética do localismo e do cosmopolitis-
mo. (CÂNDIDO, 1985)
Com efeito, são estes os dois pólos que marcam - genericamente - o embate, por
vezes dramático, entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas, presente em seu romance Senho-
ra (1875): ela, uma linda e rica jovem da sociedade carioca, bajulada por muitos pretendentes,
mas desprezando a todos, por entrever na adoração que lhe devotavam apenas um vil interesse
por sua fortuna; ele, que, temeroso da decadência financeira que se avizinhava e movido por
escusos interesses financeiros, aceita a proposta de casamento oferecido por Aurélia mediante
o pagamento de cem contos de réis. Instala-se a trama da vingança de Aurélia, mulher que
outrora fora traída pelo próprio Seixas e, agora, casava-se com um marido comprado, ambos
passando a viver uma vida de aparências. A convivência torna-se monótona, quase intolerá-
vel, não sem, contudo, a presença de alguns indícios de um oculto afeto mútuo. Com o ressar-
cimento de Seixas do valor pago por Aurélia, o conflito adquire inesperado equilíbrio, finali-
zando com a redenção de Seixas, a confissão amorosa de Aurélia e o final feliz para o casal.
Romance por mais de um motivo inovador para os padrões estéticos e ideológicos
do século XIX, sobretudo no Brasil, embora o desfecho da trama aponte para sua inegável
vinculação à moralidade burguesa e ao perfil estético romântico, Senhora pode ser lido tam-
bém sob um viés crítico, em que, por exemplo, condena-se a educação feminina, marcada por
excessivo convencionalismo; ou em que se critica a própria sociedade urbana burguesa, apre-
sentada como visceralmente materialista e arrivista. Neste sentido, não parece ser exagero
afirmar que o romance demonstra, de modo mais ou menos acentuado, o complexo processo
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
de reificação de que o indivíduo era vítima, na referida sociedade. Mas sua marca principal,
genericamente falando, parece estar mesmo naquele profundo contraste entre o amor ideal
(mundo da inocência) e o universo da realidade (mundo da experiência), de que nos fala João
Luiz Lafetá. (LAFETÁ, 1989)
Em Antônio Cândido, essa oposição desdobra-se na dicotomia conflito social ver-
sus conflito pessoal, o que ele apropriadamente chamou de “dialética do individual e do soci-
al”, (CÂNDIDO, 2002, p. 28) já que, para o eminente crítico, Senhora seria um romance onde
tal conflito (social e pessoal) atinge o ápice, sendo que o processo narrativo dá-se de dois mo-
dos: desnivelamento nas posições sociais, provocando um desnível; e o contraste entre o
“bem” e o “mal”, ocasionando uma desarmonia. (CÂNDIDO, 1981)
Duplo registro, por fim, é o que também aponta Roberto Schwarz, crítico de igual
acuidade, para quem o contraste entre um aspecto periférico/familiar e um central/mundano
levaria em Senhora, no rastro das idéias fora do lugar, a um deslocamento entre a realidade
européia e as circunstâncias locais. (SCHWARZ, 1982)
É, aliás, a partir destas considerações críticas que assinalam a vigência de uma
duplicidade na própria composição temática do romance, que podemos analisar a constituição
da personagem em Senhora, não exatamente em termos de duplicidade, mas sob a ótica de um
conceito correlacionado, o da ambiguidade.
2. Personagem e ambiguidade
As teorias que procuram dar conta da representação humana nos textos literários -
as personagens - remontam à Antiguidade Clássica, em que eram consideradas reflexo da
pessoa humana, passando à Era Moderna não apenas como reflexo, mas como tentativa de
aprimoramento das virtudes humanas, para, finalmente, em épocas mais recentes, surgirem
como representação do universo psicológico do autor ou como instância da linguagem, isto é,
como signo que, ao lado de outros, compõe a mensagem.
Daí a pertinência em se considerar a personagem - instância composta a partir de
“uma seleção do que a realidade oferece [ao autor], cuja natureza e unidade só podem ser con-
seguidas a partir dos recursos utilizados para a criação” (BRAIT, 1999, p. 31) - a representa-
ção literária de uma pessoa, logo uma criação, não uma reprodução da realidade. Portanto, a
personagem está para a ficção (ser ficcional) assim como a pessoa está para a realidade (ser
real), donde advém seu caráter não verdadeiro, mas verossímil.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Com funções diversas dentro da economia narrativa - que vai da função decorati-
va (sem significação particular para o enredo) à função condutora (em que se torna agente da
ação), passando ainda pela função representativa (revelando-se porta-voz do autor) -, a perso-
nagem é um elemento estrutural da prosa de ficção cuja construção depende tanto de fatores
extrínsecos (físicos) quanto de fatores intrínsecos (psicológicos) ou circunstanciais.
Como se verificou no rápido percurso crítico de Senhora que aqui traçamos, a du-
plicidade (essencia/aparência, individual/social, periférico/central) é uma de suas principais
marcas estéticas. Os romances urbanos de José de Alencar demonstram, em geral, de forma
exemplar esse fenômeno, sendo construídos sob o influxo de uma dialética cerrada, a qual se
traduz basicamente pela dicotomia entre o indivíduo e a sociedade, estabelecendo conflitos
que vão do ideológico ao estético, do psicológico ao linguístico.
Das obras de Alencar tomadas, pela historiografia e pela crítica literárias, como
exemplares, avulta o romance Senhora, cuja aparente simplicidade é logo desmentida pela
qualidade estética que se verifica na composição do enredo, no apuro descritivo, na articula-
ção ideológica, na crítica à sociedade burguesa do Segundo Império, na maneira original co-
mo os temas da ambição e da vaidade são tratados. Mas sobretudo pela maneira como Alencar
aborda a questão dos conflitos sociais e pessoais, conflitos esses que se desdobram, finalmen-
te, no modo como suas personagens - particularmente Seixas e Aurélia - são concebidos e
inscritos na trama romanesca, uma vez que, conforme já dissera Anatol Rosenfeld, é “a perso-
nagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada imaginária se
adensa e se cristaliza”. (ROSENFELD, 1987, p. 35)
No que diz respeito à figura de Seixas, não é difícil perceber como o conceito de
ambiguidade se instala nos modos de inscrição da personagem na trama romanesca, passando
a constituir elemento definidor de sua personalidade e características estéticas. A descrição
feita pelo autor do aposento de Seixas, por exemplo, em que se contrastam as velhas mobílias
(vida doméstica) com a luxuosa vestimenta (vida mundana), representa alegoricamente a di-
cotomia interior/exterior que explica sua própria condição humana: interiormente, Seixas re-
vela-se mesquinho e interesseiro; exteriormente, faz-se passar por um fino e educado cava-
lheiro:
o aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação (...) O pa-
pel da parede de branco passara a amarelo e percebia-se que em alguns pontos já ha-
via sofrido hábeis remendos (...) Tudo isso, se tinha o mesmo ar de velhice dos mó-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
veis da sala, era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado, respirando o
mais escrupuloso asseio. Não se via uma teia de aranha na parede, nem sinal de po-
eira nos trastes. O soalho mostrava aqui e ali fendas na madeira; mas uma nódoa se-
quer manchada as tábuas areadas (...) Assim no recosto de uma das velhas cadeiras
de jacarandá via-se neste momento uma casaca peta, que pela fazenda superior, mas
sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa
do Raunier, que já era naquele tempo o alfaiate da moda (...) Ao lado da casaca esta-
va o resto de um trajo de baile, que todo ela saíra daquela mesma tesoura em voga;
finíssimo chapéu claque do melhor fabricante de Paris; luvas de Jouvin cor de palha;
e um par de botinas como o Campas só fazia para seus fregueses prediletos (...) No
velho sofá de palha escura, havia uma almofada de cetim azul bordada a froco e ou-
ro (...) Passando à alcova, na mesquinha banca de escrever, coberta com um pano
desbotado e atravancada de rumas de livros, a maior parte romances, apareciam sem
ordem tinteiros de bronze dourado sem serventia; porta-charutos de vários gostos,
cinzeiros de feitios esquisitos e outros objetos de fantasia (ALENCAR, 2002, p.
40/41).
Este longo trecho da Primeira Parte do romance revela bem o hiato entre a vida
social/exterior de Seixas e sua mesquinha existência individual/interior: com o papel de pare-
de amarelado e remendado e com os móveis velhos e antigos contrasta a limpeza e o asseio do
ambiente; ao soalho fendido opõe-se o apuro das tábuas areadas; no recosto das cadeiras ve-
lhas, descansam a casaca preta de fazenda superior e corte elegante, além do restante do traje
refinado e na moda; sobre o velho sofá de palha escura, avista-se rica almofada de cetim azul,
bordada a ouro; em oposição à mesquinha banca de escrever, coberta com pano desbotado,
destacam-se tinteiros de bronze dourado, porta-charutos e cinzeiros variados... Trata-se de um
universo claramente antitético, revelando, já na descrição da ambientação romanesca, a ambi-
guidade como um dos traços mais incisivos da personagem referida. Desse modo, embora
desempenhando função decorativa, não orgânica, (DIMAS, 1987) o espaço descrito reproduz
concretamente a filosofia da oposição entre essência e aparência que perfaz todo o romance.
Personalidade social, marcada pela futilidade do meio mundano em que vivia,
Seixas revela-se também uma figura ambígua do ponto de vista moral, já que demonstra pos-
suir uma dupla moralidade: uma, para uso doméstico e íntimo; outra, para uso público e soci-
al. Trata-se de uma espécie de falseamento psicológico, em que defender determinado ideário
para depois negá-lo por completo, por meio de ações inescrupulosas, passa a ter valor de regra
social, revelando, por extensão, uma duplicidade do próprio caráter de Seixas:
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si
próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e qua-
se órfã, imprudência a que pusera remate o pedido do casamento. O rompimento
deste enlace irrefletido era para ele uma cousa irremediável, fatal; mas o seu proce-
dimento o indignava (...) Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a
sua vontade uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos na socie-
dade atual. O falseamento de certos princípios da moral, dissimulado pela educação
e vonvivências sociais, vai criando esses aleijões de homens de bem (...) A moral in-
ventada para uso dos colégios nada tinha que ver com as distrações da gente do tom
(ALENCAR, 2002, p. 130).
Nesse seu percurso dramático, que vai do interesse mesquinho e arrivista à inespe-
rada humilhação, até chegar à redenção final, pelas mãos da própria Aurélia, Seixas revela-se,
com frequência, uma personagem em tudo ambígua, uma vez que, exteriormente, emerge na
sociedade com um cavalheiro de fino trato e educado, mas interiormente, sabemo-lo possui-
dor de uma personalidade inescrupulosamente ambiciosa.
Agindo de acordo com a humaníssima complexidade a que alude Antônio Cândi-
do, (CÂNDIDO, 1981) Seixas dá mais sentido ao enredo, atualizando-lhe a dinâmica, ao
mesmo tempo em que passa a adquirir - ao lado de Aurélia - importância cabal para a econo-
mia da trama e a ocupar um espaço central e determinante na condução dos acontecimentos.
Evidentemente, ao falar de Senhora, não se pode dizer que se trate de um romance de perso-
nagem, tal e qual o definiu Edwin Muir ao destacar as obras em que "os personagens não são
concebidos como partes do enredo; pelo contrário, existem independentemente e a ação lhes é
servil”, com situações destinadas a “dizer-nos mais acerca dos personagens ou a introduzir
novos personagens”. (MUIR, 1975) Porém, é inegável o fato de que a construção de Seixas e
sua inscrição nesse romance de costumes urbanos concentram boa parte do vigor ficcional e
da qualidade estética alencariana.
O mesmo pode-se falar de Aurélia. Personagem ambígua por excelência, Aurélia
congrega, até mais do que Seixas, todas as contradições, incoerências e indecisões das gran-
des personagens romanescas, o que a torna, em definitivo, mais humana do que a maior parte
dos protagonistas de nossos romances românticos. Aparentando, a todo instante, segurança e
agudeza de espírito, dispensando arrivistas interessados em sua fortuna, revelando um prag-
matismo pouco comum em mulheres de sua estirpe, Aurélia, no fundo, não passa de uma típi-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ca personagem romântica, cujos principais traços - a maior parte deles adormecida sob uma
máscara de auto-suficiência - são a puerilidade, a ingenuidade e o idealismo. Revela-se, nesse
sentido, como outras mulheres de Alencar (Diva, Lucíola), heroína romântica de constituição
moral irrepreensível que sonha com um grande amor imaculado, pelo qual seria capaz de sa-
crificar a própria vida.
Não é difícil perceber esta ambiguidade em Aurélia, quando sabemos que, embora
manifestasse uma enorme gama de desejos negativos em relação a Seixas - como vingança,
ódio, decepção, mágoa e necessidade de humilhá-lo - eram bem outros os sentimentos que,
vez por outra, esta heroína romântica deixava aflorar:
o sentimento que animava Aurélia podia chamar-se orgulho, mas não vingança. Era
antes pela exaltação de seu amor que ela ansiava, do que pela humilhação de Seixas,
embora essa fosse indispensável ao efeito desejado. Não sentia ódio pelo homem
que a iludira; revoltava-se contra a decepção, e queria vencê-la, subjugá-la, obrigan-
do esse coração frio que não lhe retribuía o afeto, a admirá-la no esplendor de sua
paixão (ALENCAR, 2002, p. 219).
A par dessa ambiguidade congenial de Aurélia, percebe-se uma outra, socialmente
construída pela própria protagonista da história, feita sob medida para seu usufruto: trata-se
do contraste que marca uma compleição ao mesmo tempo divina e demoníaca, por meio da
qual humilha Seixas apenas pela presença física em ambientes frequentados pelos dois. Per-
sonagem visceralmente dúplice, portanto, Aurélia fica, psicologicamente, entre o divino e o
satânico, e, fisicamente, entre o recato e a sedução. Caracterizada, ora por Seixas, ora pelo
narrador, como uma pessoa fascinante, arrebatadora, espécie de divindade na terra, é contudo
como uma mulher verdadeiramente ambígua que Aurélia é representada pelo autor, apresen-
tando-se entre maliciosa e casta:
Seu passo [de Aurélia] deslizou pela alcatifa de veludo azul marchetado de alcacho-
fras de ouro, como o andar com que as deusas perlustravam no céu a galáxia quando
subiam ao Olimpo. A formosa moça trocara seu vestuário de noiva por esse outro
que bem se podia chamar trajo de esposa; pois os suaves emblemas da pureza ima-
culada, de que a virgem se reveste quando caminha para o altar, já se desfolhavam
como as pétalas da flor no outono, deixando entrever as castas primícias do santo
amor conjugal. (...) Pelos golpeados deste simples roupão borbulhavam os frocos de
transparente cambraia, que envolviam as formas sedutoras da jovem mulher (...) O
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
casto vestuário da moça recatava-lhe as graças do talhe; entretanto quando ela anda-
va, e que seu corpo airoso nadava nas ondas de seda e cambraia, sentia-se mais
n’alma do que nos olhos o debuxo da estátua palpitante de emoção. A cada movi-
mento que imprimia-lhe o passo onduloso, acreditava-se que o broche da ombreira
partira-se e que os véus zelosos se abatiam de repente aos pés dessa mulher sublime,
desvendando uma criação divina, mas de beleza imaterial, e vestida de esplendores
celestes (ALENCAR, 2002, p. 97, grifos meus).
Encoberta por vestuário ao mesmo tempo casto e sugestivo, divino e sedutor, Au-
rélia surge como uma mescla de mulher deificada e deusa humanizada, qualidades justas para
uma heroína romântica particularmente ambígua. E exatamente por se tratar de uma persona-
gem essencialmente romântica, a relação faz-se unilateral e unívoca: por detrás de sua aparen-
te sedução demoníaca e vingativa - e, não, ao contrário! -, esconde-se uma figura de retidão
moral e idealismo amoroso inabaláveis.
Nem plana, nem esférica, naquela tradicional distinção feita por Forster,
(FORSTER, 1969) Aurélia situa-se antes a meio caminho destas duas categorizações, pois o
fato é que embora sua complexidade surpreenda, ela não convence.
Conclusão
Se no plano do conteúdo o Romantismo entre nós consistiu numa relativa ruptura
de conceitos e padrões estéticos que ainda mantínhamos com Portugal, no âmbito da expres-
são formal os cânones linguísticos que vigoravam acabaram sendo praticamente solapados
pela fúria renovadora de um Alencar, consolidando uma nova expressão literária no país.
(CUNHA, 1986) Assim, com Alencar e sua geração, começa a se consolidar no Brasil as ba-
ses para a formação de uma expressão literária autenticamente nacional. (MATTOSO
CÂMARA, 1968; CIDADE, 1946)
Evidentemente, não se pode medir, com precisão, o grau de eficiência alcançado
pelos românticos no seu intuito de fundar uma tradição literária definitivamente nacional. Sa-
be-se, inclusive, que os objetivos concretos de constituição de uma identidade a partir de uma
ruptura cultural, idealizados pelos românticos, só se efetivariam no século seguinte, com os
modernistas. (BRITO, 1974) De qualquer maneira, a gênese da transformação estética verifi-
cada na Literatura Brasileira a partir do século XIX e consolidada no século seguinte ainda se
situa entre os nossos mais célebres românticos, o que faz também do Romantismo, senão uma
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
estética visceralmente comprometida com a ruptura, ao menos um eficiente pólo irradiador de
tendências estéticas renovadoras.
Para Antônio Cândido, “enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do
romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam", sendo a
personagem o elemento estrutural “mais atuante, mais comunicativo da arte novelística mo-
derna, [que] se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser
fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste”. (CÂNDIDO, 1987,
p. 51-80) Sobretudo em Senhora, percebe-se o esforço em se criar, a par de um enredo que
revela habilidoso equilíbrio, personagens bem construídas, de traçado rigoroso e fundadas
numa constituição psicológica adequada aos propósitos artísticos do autor. São, aliás, os con-
trastes psicológicos aqui assinalados, sobretudo em Aurélia, que fazem de Senhora um ro-
mance esteticamente bem acabado: é no interstício psicológico de uma figura constituída, de
um lado, pelo fulgor satânico, percebida pela sociedade como mulher fatal, tomada por um
instinto de perversidade; e, de outro lado, definida como uma mulher sublime e admirada co-
mo uma divindade, que se afirma uma personagem que pode ser ambiguamente caracterizada,
nas palavras do próprio Alencar, como uma feiticeira menina.
Tudo isso faz com que Alencar, além de desempenhar papel relevante no amadu-
recimento estético de nossa expressão artística, ocupe um lugar de destaque em todo o proces-
so de renovação literária nacional, contribuindo sobremaneira para o alargamento de uma
consciência cultural autonomista e dando à Literatura Brasileira um lastro identitário mais
consistente.
Referências
ABDALA JÚNIOR, Benjamin & CAMPEDELLI, Samira. Tempos da Literatura Brasileira.
São Paulo, Círculo do Livro, s.d.
ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo, Ediouro, 2002.
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo, Cultrix, 1988.
BRAIT, Beth, A Personagem. São Paulo, Ática, 1999.
BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo Brasileiro. Antecedentes da Semana de Arte
Moderna. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1974.
CÂNDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira (Momentos Decisivos). Belo Hori-
zonte, Itatiaia, 1981.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
CÂNDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Estudos sobre Teoria e História Literária. São
Paulo, Nacional, 1985.
CÂNDIDO, Antonio. Romantismo. São Paulo, Edusp/Humanitas, 2002.
CÂNDIDO, Antônio et alii. A Personagem de Ficção. São Paulo, Perspectiva, 1987.
CIDADE, Hernâni. O Conceito de Poesia Como Expressão da Cultura. São Paulo, Livraria
Acadêmica, 1946.
CITELLI, Adilson. Romantismo. São Paulo, Ática, 1986.
CUNHA, Celso. Língua Portuguesa e Realidade Brasileira. Rio de Janeiro, Tempo Brasilei-
ro, 1986.
DIMAS, Antônio. Espaço e Romance. São Paulo, Ática, 1987.
FORSTER, E. M. Aspectos do Romance. Porto Alegre, Globo, 1969.
LAFETÁ, João Luiz. “As imagens do desejo”. In: ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo,
Ática, 1989.
MATTOSO CÂMARA, V. "A Língua Literária". In: COUTINHO, Afrânio (dir.). A Literatu-
ra no Brasil. Rio de Janeiro, Editorial Sul-Americana, 1968.
MUIR, Edwin. A Estrutura do Romance. Porto Alegre, Globo, 1975.
ROSENFELD, Anatol. "Literatura e Personagem". In: CANDIDO, Antonio et alii. A Perso-
nagem de Ficção. São Paulo, Perspectiva, 1987.
SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. São Paulo, Duas Cidades, 1982.
TRINGALI, Dante. Escolas Literárias. São Paulo, Musa, 1994.
JOGOS INFANTIS: UMA GEOGRAFIA ERÓTICA
GAMES FOR CHILDREN: AN EROTIC GEOGRAPHY
Francisco Pereira Smith Júnior
Professor Adjunto II da Universidade Federal do Pará
Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
Pesquisador em Literatura Comparada [email protected]
RESUMO: O presente artigo apresenta a obra JOGOS INFANTIS(1986) de Haroldo Mara-
nhão como um texto dotado de uma linguagem ousada no limiar de uma discussão dialética a
respeito de sexo. O estudo propõe uma análiseda forma como os narradores tratam da sexuali-
dade nos quinze contos da obra. O humor e a ironia exercitam com dinamismo e simplicidade
a linguagem do texto e tentam filtrar os fatos sexuais das narrativas, de maneira que possam
explicar a sexualidade com senso de humor e que interprete o cotidiano com mais naturalida-
de, típica proposta pelos escritores do Modernismo Brasileiro.
Palavras-chave: narrativa, sexualidade, infância, metáfora.
ABSTRACT: This article presents the work of children's games Haroldo Maranhão as a text
endowed with a bold language on the threshold of a dialectical discussion about sex. The
study proposes an analysis of how the narrators deal with sexuality in fifteen tales of work.
Humor and irony exercise with dynamism and simplicity the language of the text and attempt
to filter the sexual facts of the narrative, so that might explain sexuality with humor and
interpret everyday life more naturally, typical proposal by the writers of Brazilian Modernism.
Keywords: narrative, sexuality, childhood, metaphor.
A obra literária JOGOS INFANTIS (1986) do escritor paraense Haroldo Maranhão
faz um percurso pelo espaço urbano de Belém nos anos 30 e 40, demonstra ficcionalmente a
sexualidade de crianças e de adolescentes e de forma “lúdica” constrói um roteiro de experi-
ências sexuais, em que, também valoriza as referências locais, construindo um texto que situa
o leitor a uma referência espacial. Assim, a cidade de Belém é “desenhada” pelo narrador
através de narrativas curtas, que mostram a cidade como pano de fundo, permitindo noção
ficcional do espaço da cidade.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Pelas narrativas de JOGOS INFANTIS (1986) é possível que o leitor construa uma
visão mais profunda dos aspectos culturais e históricos da cidade e para isto, o narrador se
utiliza de prédios (colégios, cinemas, farmácias e hospitais), praças, ruas, bosques, bairros e
até lugares do interior do estado. São referências locais que servem de recurso estilístico para
reforçar o caráter verossímil da obra e para estreitar os laços com o leitor. Os contos misturam
sexualidade, cultura e a história de Belém, proporciona ao leitor uma visão do passado num
ritual de revivescência, em que o narrador assume uma presença no tempo da narrativa, em
um diálogo de conhecimento e se revela conhecedor das experiências narradas.
A narrativa de Haroldo Maranhão faz parte daqueles textos da literatura que se
destacam pela sua específica linguagem “lúdica”. Repleta de expressões que criam imagens
que “brincam” com o imaginário do leitor, utiliza uma linguagem que proporciona dinamismo
e simplicidade, no qual há um jogo das imagens (ou entrelaçamento) do mundo ficcional com
as imagens do mundo real. Faz o mundo ficcional ser integrado à estrutura de realidade pela
experiência crítica do leitor e pela funcionalidade intertextual que a obra provoca. Percebe-se
que o escritor procura tecer relações impensadas, que multiplica imagens e se dá por gestos
sensíveis, estabelecendo novos campos de consistência e sentido. Em JOGOS INFANTIS
(1986) há um jogo que reorganiza o valor do signo, combinando ideais que possibilitam uma
inversão na estrutura literal de certas construções lexicais.
Carlão aproximou-se, os olhos brilhavam, facilitava:
- Pega. Segura pra ver como parece aço, só parece, que o aço é frio e o meninão tá
fervendo.
Delicadamente Luizinho segurou. (MARANHÃO, 1986, p. 18).
Foi quando percebi que uma cortina de papel se rasgava e eu entrei por um
corredorzinho ensopado. (MARANHÃO, 1986, p. 9).
Presta atenção Gastão, foi o que me disse o Ápio, a gente deve dar alegrias ao catzo,
tratar ele a pão-de-ló, sabe como é, ser amiguinho do catzo da gente, agradar, fazer
fosquinhas. (MARANHÃO, 1986, p. 47).
Eu sei que é, que eu sei fazer ele gozar até a última gozada, eu sugo tudo o que ele
tem dentro, sugo todo o creme. “Vamo fudê?” (MARANHÃO, 1986, p.60)
Eu fingia sempre que dormia, mas estava em brasas, aposto se ela não enxergava
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
logo que eu estava em brasas, o tempo todo em que o Nando montava nela eu me
revirando na cama. (MARANHÃO, 1986, p. 12).
Sabe-se que a linguagem depende da lógica estabelecida aos signos pelos seus
usuários, para que haja uma compreensão, é necessário que seus falantes sirvam de “intérpre-
tes” e sejam capazes de realizar a decodificação de palavras muito peculiar dos falantes. Atra-
vés da sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos e de coisas, junto da língua
haverá uma sugestiva “explosão” de sentidos. O signo poderá ser plurívoco, com vários signi-
ficados derivados de um significado primeiro, assim, a metáfora é uma das aliadas para se
entender a lógica do discurso das personagens, executando uma translação, consistindo em
uma transferência de significado de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do
objeto por ela designado. Dessa mesma forma, sabemos que outros sistemas de signos reve-
lam seu sentido diferenciado dependendo de seu usuário e a vontade de expressão depende da
forma como é conduzida por este indivíduo.
Ela metia o peruzinho lá nela, mas metia mesmo, enfiava, entrava todo, e era uma
carne que queimava, a carne dela, como se tivesse um molho apimentado de quente,
que aquilo me apertava, isto é, a Tatá não me agarrava com as mãos, era o buraco
dela que me apertava. (Maranhão, 1986, p.14).
“ai, ai, ai, ai”, mas ele, não sei por quê, dizia: “mais, mais, depressa, depressa” é ela
aumentava a pulação de sapa. (MARANHÃO, 1986, p. 23).
A linguagem figurada dos contos de JOGOS INFANTIS (1986) proporciona uma
leitura de interessante interpretação, dando origem a um jogo com as palavras que permitem
encontrar um tom cômico nos textos, em função do trabalho de reelaboração de valores das
palavras, utilizando em algumas vezes a oposição por contrariedade, ou por contradição, entre
dois termos, além de paradoxos, absurdos e coloquialismos.
O corpo se arqueava como os gatos se arqueiam, e aquela flor escura abriu-se para
mim, por onde entrei. Nem conto nada! Foi a minha primeira decepção na vida, que
quando arriei o corpo a impressão é de que tinha desabado sobre uma gelatina de
côco mole-mole, mole não, molíssima, parecia que a bunda da Lenira tinha um
recheio de coalhada. Eu não sei por que idealizava carne dura, e a bunda dançava
desengonçada, a bunda mais frouxa que até hoje encontrei, nunca vi coisa ao menos
parecida, uma bundona daquelas toda aguada, que duvido quem desconfiasse, du-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
vido mesmo. Há bundas sólidas, que a gente agarra, belisca, morde. Bundas gasosas,
que são as que a gente imagina no banheiro. E bundas líquidas, como a porcaria
daquela bunda da Lenira. (MARANHÃO, 1986, p. 39).
A descontração na escolha das palavras que constroem o texto e a forma de
expressão que foge à norma padrão da linguagem, explorando alterações fonéticas,
morfológicas ou sintáticas são ferramentas de expressão da representação do imaginário do
autor que fazem com que se perceba a forma irreverente e eloquente que dá às mais variadas
situações sexuais cotidianas e como observa e explora a consciência perturbadora do homem.
JOGOS INFANTIS (1986) é uma obra inovadora, pois reconstroi o léxico da
língua portuguesa, utilizando-a funcionalmente a uma abordagem que se refere à
sexualidadede em uma perspectiva psicanalítica, desta forma consegue fazer com que o leitor
atento perceba o potencial criativo do texto e tire conclusões de suas próprias interpretações.
Sabe-se que o grande problema de entender os signos é compreender as diferenças de lugar
para lugar, ou seja, de código para código, já que esse tem seu valor em um sistema e, além
desta dificuldade que sabemos existir, há também uma necessidade de afinamento do leitor
com a obra, pois em alguns momentos é necessário malícia e experiência de mundo, já que o
discurso do textoconstrói um sentido metafísico a respeito da sexualidade.
Aí não sei por que me deu uma vontade maluca não de beijar mas de passear a lín-
gua e secar o melzinho, que eu fui bebendo como se engole mingau, e saí atrás da
lasquinha até que encontrei e ajeitei a língua na lasquinha que eu já nem entendia di-
reito o que fazia, era uma coisa parecida com sonho, dava a impressão que eu so-
nhava, mas que sonhar, nada, eu agarrava com as mãos aquele mar de coxonas e eu
ali no meio do mar. (MARANHÃO, 1986, p. 63)
O narrador de JOGOS INFANTIS (1986) discute a temática da sexualidade e esta-
belece uma união de elementos para constituir seu texto, a ideia de identidade aliada àexperi-
ência popularconstrói os elementos do imaginário ficcional da obra eservem como base cultu-
ral para produzir as narrativas.A obra nos revela cenários encantatórios por sua beleza exube-
rante da região amazônica que fazem com que as personagens se movimentem em uma narra-
tiva nos limites entre o fictício e o real. Isso revela ilusoriamente personagens-narradorque
estabelecem a comunicação e o encontro com os leitores. Estes inconscientes da sua partici-
pação na narrativa se permitem construir a imagem e o espaço ficcional a partir de sua própria
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
referência local.
O conto “Cachorro doido” inaugura a obra fazendo uma referência à uma escola
tradicional de Belém, o conhecido “Vilhena Alves”, um prédio inaugurado em 1938, em estilo
moderno, no bairro de São Brás, que serve de ícone para a lembrança de muitos paraenses que
nele estudaram.
No primeiro dia de aula a gente vê logo quem vai ser amigo da gente e quem não
vai. Muito difícil se errar, basta só olhar as caras. Pois foi só bater o olho que vi que
o Luizinho era um menino bom, e era. Ele é que se aproximou:
- Tu estudou no Grupo ou em casa?
- No “Vilhena Alves”. (MARANHÃO, 1986, p. 14)
No conto “Como as rãs” há uma referência ao antigo prédio das Centrais Elétricas
do Pará, na Avenida Magalhães Barata, cujo nome, à época, era Pará Elétrica, nome substituí-
do em sua história, no ano de 1947. A cidade de Belém neste período já iniciava seu processo
para transformar-se em uma cidade moderna.
Mas o Lauro sempre teve dessas bobagens, grandíssima bobagem, que mal ele
dormia vinha nossa avó e apagava a lâmpada, que ela dizia que nós não éramos
sócios da Pará Elétrica. (MARANHÃO, 1986, p. 21-22).
O conto “Movimento no porão” alude à ilha de Algodoal como cenário onde
ocorrerá a narrativa. Apresenta a localidade a partir de sua importância turística, revelando-se
um lugar destinado ao descanso, aos passeios e recanto aprazível para férias anuais, por ser
um lugar de belas praias e ar pitoresco. A região é conhecida pelo misticismo, fala-se até em
um lago encantado por uma princesa.
Minha avó me punha no porão para dormir quando eu ia passar as férias em
Algodoal. O porão praticamente se achava entupido de livros. (MARANHÃO,1986,
p. 25).
O texto faz referência à esquecida Praça da Estação, que hoje deu lugar à Praça do
Operário, também revela a existência de um teatro de marionetes e da imagem das pessoas
que iam pegar trem e que acabavam passeando no local, enquanto esperavam a sua saída. O
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
narrador descreve o comportamento dos garotos que se divertiam com liberdade nos espaços
públicos, sem a procupação com a violência da modernidade.
Aos domingos eu gostava de ir à Praça da Estação para ver um teatrinho de
marionetes, os garotos daquele tempo eram mais soltos, não havia essas mães cheias
de nove-horas, algumas, né?, que até sufocam as coitadas das crianças. Pipoca havia,
pirulito havia, sorvete havia. Nada de cokas-kolas e xicabôs, esses sorvetes
americanos que nem gelados são, sendo feitos de preparados químicos onde as frutas
nem comparecem, os sorvetes de antigamente é que eram. (MARANHÃO, 1986, p.
25)
Quanto aos “Covões”, apresentados na narrativa de “Rede de quatro pés”, tratava-
se de um local no bairro de São Brás, em que as pessoas retiravam barro e areia para utilizar
em suas construções. Com o tempo, a cavidade ficou tão profunda que os moradores e os
animais passavam a se instalar no local.
Depois, a Narcisa já era uma professora, ensinava num Grupo, não lembro o tal de
Grupo da Narcisa, parece que para o lado dos Covões, sei lá!, acho que nos Covões
não tinha nada de Grupo, penso que até hoje não puseram lá um miserável de um
Grupo que fosse. (MARANHÃO, 1986, p. 31)
Ainda em “Rede de quatro pés” há uma outra referência ao espaço de Belém, o
Hospital da Ordem Terceira, um dos poucos hospitais daquela época. Além deste existiam
apenas a Santa Casa e o Hospital D. Luiz I, também conhecido como “Beneficente
Portuguesa”. O Hospital da Ordem Terceira continua localizado em um antigo prédio na
travessa Frei Gil de Vila Nova, no bairro do Comércio. É ainda de um importante referencial
médico no tratamento das pessoas da capital e do interior do estado.
A Narcisa ia passar uns dias conosco, que Dona Giselda foi acompanhar Seu
Pernamanca no hospital; Seu Pernamanca teve não sei o quê nas pernas, não andava,
e a Dona Giselda ficou com ele na Ordem Terceira uns não sei quantos dias.
(MARANHÃO, 1986, p. 33).
O conto apresenta ainda uma cidade turística do interior do estado, chamada
Salvaterra, na ilha de Marajó, região de atrativos naturais e um ambiente místico.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
A “Joana-sem-braço” tinha mandado para a casa do tal tio em Salvaterra e a Dona
Giselda pediu à minha mãe que a Narcisa ficasse conosco. (MARANHÃO,1986, p.
33)
O Bosque Rodrigues Alves também foi cenário para a imaginação de escritor,
pois a narrativa “Mar de coalhada”, apresenta um narrador encantado com a beleza de uma
mulher, comparando seu “encanto” ao da floresta do Bosque.
Lenira não raspava, de modo que aquilo é que me excitava, eu imaginando que as
coxas seriam também, e mais acima a glória das glórias, a floresta, o Bosque
Rodrigues Alves no centro daquele mundo. (MARANHÃO, 1986, p. 37)
A Ilha de Mosqueiro também serviu de referência na narrativa “O Ápio, a
mosca”, o pequeno distrito é lembrado como local para o qual as pessoas da capital se
deslocavam a fim de aproveitar suas praias de água doce e passar o período de férias ou os
finais de semana prolongados.
A Pindoba tem umas coxas cheinhas de penugem, é aquela penugenzinha na pele
morena, que eu sei que ela tem casa no Mosqueiro, mas nunca vou para o
Mosqueiro, que lá ela deve ficar de maiô, mas aí não tinha a mínima vantagem,
vantagem é a gente ver de relance, o vento bateu na saia, mostrou um bruto pedaço e
eu vi, tudo foi muito rápido. (MARANHÃO, 1986, p. 46)
Enfim, a referência espacial à cidade de Belém “desenha” uma geografia de
antigas ruas, avenidas, travessas, espaços públicos e logradouros da cidade e constrói uma
sensação de intimidade com o texto de Haroldo Maranhão. A narrativa se manifesta por
intermédio de uma relação histórica-cultural e estabelece um significativo reconhecimento do
espaço urbano de Belém e das cidades do interior do estado.
Ninguém atrapalhou batendo na porta, estava um calor do rabo, em casa dormiam a
sesta e mais que depressa pensei na Pindoba que eu tinha visto tomando o bonde na
Serzedelo. (MARANHÃO,1986, p. 46 e 47).
Outro conto que explora o espaço urbano de Belém é “Viagem ao curro”. A partir
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
do imaginário de um garoto, desenha-se o mapa de um ponto de encontro em pleno centro da
cidade de Belém; é apontado no texto um determinado local à guisa de um marco, um registro
espacial dentro da narrativa, que fixa no leitor uma consciência física da cidade,
proporcionando um melhor reconhecimento da cidade e a consequente valorização e
reconhecimento desse espaço.
Nós se encontra às duas da tarde, mas em ponto, no canto da Caripunas.
(MARANHÃO,1986, p. 52).
Um fato interessante a ser observado no conto “Viagem ao curro” é a referência à
capital do Estado do Amazonas, Manaus. O texto “traz a cidade” na figura de uma
personagem manauara e sugere características negativas ao comportamento da personagem.
Talvez isso aponte para uma antiga “rivalidade” entre manauras e paraenses existente desde
os tempos da Belle Époque1.
Dona Celuta, ela enfrentou de igual para igual a minha mãe, o que achei insolência
nunca vista, que enfim ela era hóspede, passava dias conosco vinda não sei de onde,
parece que de Manaus. (MARANHÃO, 1986, p. 52)
Neste conto o escritor continua apresentando o espaço urbano da cidade,
rememorando o meio de transporte pioneiro da cidade e esclarecendo certos trajetos que os
moradores desta época poderiam realizar.
Eu tinha conseguido aquelas notas amarrotadas, que ela desamarrotou e foi lá para
dentro com a tal de amiga, e depois nós saímos e pegamos de novo o bonde para o
Jurunas. (MARANHÃO, 1986, p. 56)
O Bosque Rodrigues Alves é novamente relembrado no conto “A violinista”
enquanto lugar aprazível em meio à cidade que crescia. Era pois o lugar predileto para os
passeios dominicais das famílias e agradabilíssimo para as brincadeiras infantis.
A Lastênia era um anjo de delicadeza e um domingo me levou para passear no
1 Período artístico, cultural e político do Brasil que começou em fins do Império e que se prolongaria até fins
da República Velha (1889-1931).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Bosque. (MARANHÃO, 1986, p. 64)
Esse conto também menciona o cinema Iracema, local que era destinado aos mais
variados filmes na época, inclusive com programações matinais e vesperais para crianças. O
lugar apresentava gêneros de filmes diferentes dos que estão sendo apresentados na
atualidade.
No outro dia eu estava tão cansado que perdi o seriado “A mão que aperta” na
matinê do “Iracema. (MARANHÃO, 1986, p. 64)
Novamente o narrador se refere aos bairros de Belém, reconstruindo o desenho
espacial dessa cidade imaginária, reconstruída pelas lembranças do narrador, e fazendo
referência a uma bebida que à época, era a mais conhecida, já que liderava o comércio dos
refrigerantes e possuía uma grande fábrica na rua Tiradentes.
Me lembro direitinho do bonde que a gente pegou, o “Sousa”. (MARANHÃO, 1986,
p. 64).
Aí nós fomos tomar guaraná Simões num bar que ficava no ponto final do “Sousa”,
aquelas mesas embaixo das mangueiras. (MARANHÃO, 1986, p. 65).
O texto de JOGOS INFANTIS (1986)traz ao leitor o Círio de Nazaré2, como uma
manifestação religiosa do povo da região norte do Brasil. Hoje, o evento é símbolo religioso e
referência cultural do povo paraense para o mundo. Há ainda uma referência à vinda a Belém
de artistas famosos da era do rádio (Dircinha Batista) e que se apresentavam em um teatro
popular (o Poeira), como parte da programação cultural das noites de arraial dos festejos da
Santa Padroeira.
A gente pega com amor tudo o que se ama, como eu, que agarrava com o maior dos
cuidados o meu trem que a Tia Cota me deu no Círio daquele ano que a Dircinha
Batista veio cantar no “Poeira”. (MARANHÃO, 1986, p. 65)
O escritor faz citação a uma das lojas mais antigas e tradicionais do comércio
2 Manifestação religiosa Católica do Brasil em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e um dos maiores even-
tos religiosos do mundo.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
esportivo da cidade de Belém, que hoje ainda continua disputando o mercado de vendas da
cidade.
Quando ela foi embora, ela comprou de presente uma bengalinha numa loja da João
Alfredo, parece que no “Ao Ganha Pouco”. (MARANHÃO, 1986, p. 65)
Em “Os três mosqueteiros” tem-se uma narrativa que elege o espaço urbano de
Belém com facilidade, pois o autor já havia apresentado alguns locais nos contos anteriores.
Além de esse conto fazer uma retomada referencial da ilha de Mosqueiro, nela se relembra o
único transporte existente na época, que servia aos moradores e visitantes da Vila.
Pedrão soltou uma gargalhada de escutar na Cremação. (MARANHÃO, 1986, p. 69)
Ele caprichava no vai-e-vem, igualzinho ao pistão da caldeira do navio do
Mosqueiro. (MARANHÃO, 1986, p. 69)
As últimas citações ao espaço da cidade de Belém encontradas na obra JOGOS
INFANTIS (1986) estão no conto “Menino que faz menino” e se referem a uma rede de
farmácias que dominava a cidade e ao ainda existente Colégio Moderno.
Para mim era - e ainda é - camisa-de-vênus, que uma vez me deram de troco na
Farmácia Beirão. Mas usar mesmo só usei uma única vez, que para mim o bom está
na esfregação, na molhação. (MARANHÃO, 1986, p. 71)
Quando o Nivaldo foi empinar curica no canto do “Moderno”. (MARANHÃO,
1986, p. 72).
O Largo da Pólvora, a atual praça da República, é o espaço destinado ao lazer de
namorados, mas lugar de prostituição, de feiras ambulantes nos finais de semana e passeios
familiares aos domingos, também é lembrado no conto.
“Quer dizer que tu já tem namorada?” “Nada disso. Namorada não, que eu não sou
de perder tempo, sabe? Não sou desses bobocas de passearem no Largo da Pólvora
de mão dada, entendeste? Gosto de ir logo ao fundo do fundão, dá pra
entender?(MARANHÃO, 1986. p. 72).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
O que se observa em JOGOS INFANTIS (1986) são referências a uma geografia
erótica construída pelas experiencias de narradores que parecem ter “vivido” essa narrativa
ficcional, são atores de uma narrativa pulsante que se utiliza de uma linguagem que
reconstroi uma consciência sociocultural e estabelece uma troca de experiências com o leitor e
o faz inconscientemente investigarsua própria sexualidade.
Considerações Finais
Na obra JOGOS INFANTIS (1986) identifica-se uma interatividade de vários ele-
mentos que integram cultura, identidade, experiências, sexualidade e História. Todos esses
recursos culminamem quinze contos com linguagem visceral e de tom erótico que leva o lei-
tor a ser provocado por uma linguagem marcante e provocante, em que são propostas experi-
ências sexuais de adolescentes em um espaço que faz parte das próprias memórias do escritor.
A estrutura narrativa de um texto e os elementos que a compõem se unem como
em um processo de costuras. Um exemplo disto são as personagens de cânones literários que
possuem valor reconhecido, estas emitem idéias ao leitor de uma ficção próxima da sua
realidade, fazendo-nos avançar para os mais variados campos, como o da Psicologia,
permitindo-nos ter noções do subconsciente e inconsciente, para entendermos melhor a
relação do homem com o espaço, como é o caso da obra DOM CASMURRO de Machado de
Assis.
A obra JOGOS INFANTIS (1986) ao ser interpretadapela ótica da sexualidade,
atravessa os campos da narrativa, da história, da estética da recepção e da psicologia, para
deixar claro que os quinze contos podem ser entendidos além dos seus elementos da narrativa,
pois explora também aspectos psicologicos do homem que são fundamentais para a discussão
da literatura. O texto ao promover uma abordagem da sexualidadeque enfrenta “tabus”em
uma sociedade que preza pela mudança nos seus comportamentos e revê hábitos antigos.
A obra JOGOS INFANTIS (1986) discute o universo sexual da família e se utiliza
de uma simbologia muito especifica que por vezes se confunde com o “falar paraense”, às
vezes faz a sexualidade diferenciar-se da genitalidade, além de ter se voltado para a
observação do autoerotismo como algo inseparável da natureza do homem.
Olha lá, hein! Daqui a pouco eu vou conversar um particular com a mãe do Valdo e
passo por lá. Mas eu era também passado na casca do alho e sabia que era tudo
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ameaça. (MARANHÃO,1986, p. 53)
A observação do homem e da mulher como elementos sociais responsáveis por
suas ações e pela imagem que constroem no momento em que buscam encontrar um
equilíbrio entre o psíquico e o social, também foram elementos experimentais para a
discussão dentro da obra.
Várias obras já exploraram a temática da sexualidade em curtas histórias, são as
mais variadas histórias que falam de pedofilia, de infidelidade, de doenças contagiosas, de
lesbianismo, de homossexualidade e outros pontos de discussão. Outras obras na literatura
brasileira, já possuem seu reconhecimento literário, em função da firmeza e seriedade com
que exploram o tema da sexualidade.3
O que se propõe é uma reavaliação do valor da obra Jogos Infantis sob outro
prisma, observando o potencial de comunicação da obra em discutir e fazer o leitor refletir
sobre sexualidade na adolescência, para que não exista uma avaliação precipitada ou que se
faça um levantamento de valores, levando em consideração apenas o grau erudito da
linguagem, sem considerar o quanto esta poderá desobedecer à norma culta. Assim talvez se
possa contribuir para um novo olhar que “desmistifique” esse preconceito literário sobre obras
tachadas de estarem à margem literária, em virtude da evidente espontaneidade coloquial, tal
como o recurso estilístico e de linguagem.
As inovações trazidas na linguagem de JOGOS INFANTIS (1986)e em outras
obras de Haroldo Maranhão são confirmadas no dinâmico e coloquial discurso de seus
personagens e reforçam o potencial do autor em saber conduzir uma escrita, que se aproxima
da imagem de um cotidiano urbano, familiar, que se repetiria por décadas em uma sociedade
burguesa, acomodada e decadente.
Ao analisar a obra que se pauta na ambigüidade de sentidos, no relato de diversas
formas de experiências sexuais, percebe-se a inquietação em discutir o universo da criança e
do adolescente enquanto objeto de análise do homem. Talvez esta proposta possa encontrar
respostas através de reflexões coerentes, por meio de uma relação do lúdico com a realidade.
Isto nada mais é que uma proposta de aproximar o homem de si mesmo, tornando-o objeto de
sua própria análise.As metáforas encontradas na obra JOGOS INFANTIS (1986) permitem
3 Citem-se as obras Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, A vida como ela é, de Nelson Rodrigues e
Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, que podem, futuramente, ser meio para estudos literários com-
parativos à obra JOGOS INFANTIS (1986), de Haroldo Maranhão.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
sentido de extremo valor dialético, a partir do momento em que servem de ferramenta do
autor para construir um texto instigante, no qual possibilita que a sociedade encontre um
progresso a respeito do pensamento sexual e traga a rediscussao da sexualidade na família.
A invenção, a criação literária, tem função de aproximar os sentidos do leitor e
permitir que este viaje pelos campos da imaginação e da memória, desencadeando neste
processo uma aliança entre o ficcional e a realidade, estabelecendo um diálogo da obra com o
receptor, permitindo-lhe suas interferências interpretativas e tornando o leitor um mediador
entre a literatura e a “vida vivida”, aproximando os fatos da obra como os acontecimentos do
passado ,ou do presente do próprio receptor; a obra dá liberdade a este receptor para deixar de
permanecer em um lugar de simples destinatário do texto, para ocupar um importante espaço
de “interventor” e crítico das situações e experiências sexuais narradas nos contos estudados.
JOGOS INFANTIS (1986) é uma obra que reúne quinze contos de profunda
reinvenção artística sobre a temática da sexualidade, e tenta contribuir para um esclarecimento
profundo e coletivo, reavaliando os valores de discussão da educação, de questões éticas e
morais, procurando deixar evidente o interesse pelo caráter informativo da obra; o autor
formula, sobretudo, reflexões nos seus receptores, já que apresenta uma linguagem coloquial e
inventiva que conduz o leitor a perceber os caminhos que os protagonistas da obra percorrem
para ter, no registro de sua memória ficcional, uma história que relata suas experiências
sexuais muito próximas da realidade do homem de qualquer tempo.
Referencias
ASAS DA PALAVRA. Revista da Graduação em Letras, Belém: Unama, v. 6 n.13, 2002.
CANDIDO, Antonio. A personagem de ficção. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
_________________. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
_________________. A Literatura e sociedade. Estudos de Teoria e História Literária. São
Paulo: T.A. Queiroz, 2000.
FRANCONI, Rodolfo A. Senhoras & Senhores [Diário: 5.000 p.]: Haroldo Maranhão. Letras.
Curitiba, n. 46, p. 43-51, 1996.
MARANHÃO. Haroldo. Jogos infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986.
A AUSÊNCIA DO AMANHÃ: A ETERNA INFÂNCIA EM ‘PETER PAN
E WENDY’, DE J.M. BARRIE, E ‘ENTREVISTA COM O VAMPIRO’,
DE ANNE RICE
THE ABSENCE OF TOMORROW: THE ETERNAL CHILDHOOD IN
J.M. BARRIE'S PETER PAN AND WENDY AND ANNE RICE'S
INTERVIEW WITH THE VAMPIRE
Eldes Ferreira de Lima (PG - UFMS)1
RESUMO: A infância idílica que povoa nossas mentes é uma criação recente. Para a maioria
dos historiadores, data do século XIX, junto com o ideal da família burguesa. Antes, as crian-
ças eram imposições da natureza ao cotidiano dos adultos e não eram preservadas de nenhuma
de suas agruras. Naquela época, a perspectiva de uma infância sem fim equivaleria a viver
permanentemente em perigo. Entretanto, é justamente a infância que nunca termina que J. M.
Barrie propõe em ‘Peter Pan e Wendy’, sua obra mais famosa. Evidentemente, essa proposta
surgiu quando as crianças já usufruíam outro status e recebiam cuidados e mimos antes ini-
magináveis. Em ‘Entrevista com o vampiro’, Anne Rice também apresenta uma criança que
jamais se tornará adulta. E nas duas obras, o preço da eterna infância é o esquecimento. Este
artigo analisa a eterna infância em ‘Peter Pan e Wendy’ e ‘Entrevista com vampiro’, obser-
vando a questão do gênero na vida cheia de aventuras do protagonista do livro de Barrie e na
sexualidade perpetuamente reprimida de Cláudia, a menina-vampiro que se torna mulher sem
nunca sê-la fisicamente.
Palavras-chave: Peter Pan e Wendy; Entrevista com o vampiro; infância eterna; literatura
comparada.
ABSTRACT: The idyllic childhood we have in our minds is a recent creation. For most his-
torians, dating from the nineteenth century, along with the ideal of the bourgeois family. Be-
fore, children were a burden of the nature to adult everyday and were not preserved in any of
their plight. At that time, the prospect of an endless childhood would be the equivalent to live
permanently in danger. Nonetheless, it is precisely the childhood that never ends that JM Bar-
rie proposes in 'Peter Pan and Wendy', his most famous work. Obviously this proposal arose
1 Mestre em Letras pela UFMS e aluno-especial do doutorado em Estudos Literários pela mesma instituição. E-
mail: [email protected]
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
when children have already enjoyed another status and received care and pampering previous-
ly unimaginable. In 'Interview with the Vampire', Anne Rice also has a child who will never
become an adult. And in the two novels, the eternal childhood price is forgetfulness. This arti-
cle analyzes the eternal childhood in 'Peter Pan and Wendy' and 'Interview with Vampire',
observing the gender issue in the adventurous life of the protagonist of the book of Barrie and
the sexuality perpetually repressed of Claudia, the vampire-girl who becomes a woman but
never physically.
Keywords: Peter Pan and Wendy; Interview with the Vampire; Eternal childhood; Compara-
tive Literature.
1. Introdução
Livros crescem, como meninos.
Livros sangram, como meninas.
Fernando Bonassi
A infância cheia de brincadeiras e livre das obrigações do mundo dos adultos está
tão sedimentada na cultura atual que é difícil acreditar que nem sempre foi assim. Para a mai-
oria dos historiadores, é uma concepção de menos de duzentos anos. Antes do século XIX, as
crianças eram adultos pequenos que trabalhavam tanto quanto seus pais, precisavam de pouca
comida e morriam tão frequentemente, que não causavam grandes abalos à estrutura emocio-
nal de suas famílias ou comunidades.
Para Ariès (1981), a sociedade europeia ocidental só viria a iniciar um processo de
reconhecimento de suas crianças a partir do século final do século XVI e início do XVII. Po-
rém, ainda não era possível considerar uma particularização do indivíduo criança na socieda-
de, apenas de um sentimento de “paparicação”. E tão logo a criança não precisava mais dos
cuidados da mãe ou de uma ama, ocorria seu ingresso no mundo adulto:
A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote do
homem ainda não conseguia bastar-se; a criança, então, mal um desembaraço físico,
era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha
pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas
etapas da juventude. (ARIES, 1981, p. 10).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Antes de se tornarem adultos, as crianças não tinham sequer trajes específicos ou
diversões diferenciadas. Tampouco, a adolescência como período de transição entre o mundo
infantil e o juvenil. E se fossem das classes populares, trabalhavam tanto quanto seus pais. A
aprendizagem - normalmente, um ofício - ocorria no próprio cotidiano. Não havia a preocupa-
ção em oferecer uma educação formal às crianças nesse período.
Segundo Ariès, o sentimento de infância como conhecemos atualmente data do
século XIX. No momento que o espaço privado foi se constituindo e a organização da família
burguesa se delimitando, as crianças ganharam um status que nunca tiveram antes. De impo-
sição obrigatória da natureza tornaram-se desejadas pelos pais e idealizadas como sinônimo
de pureza e fragilidade, exigindo atenção e orientação específicas. Mesmo após Freud expor
os meandros da complexa sexualidade infantil, sua áurea de inocência prevalece. E a literatura
romântica da época contribuiu decisivamente para esta idealização bem como do lar burguês
formalmente constituído por pais provedores, esposas devotadas às obrigações domésticas e
filhos amáveis e exemplares.
A família começou então a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma tal im-
portância, que a criança saiu de seu antigo anonimato, que se tornou impossível per-
dê-la ou substituí-la sem uma enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida
muitas vezes, e que se tornou necessário limitar seu número para melhor cuidar dela.
(ARIÈS, 1981, p. 12).
Assim, o pensamento de Ariès (1981) sobre a infância estabelece: primeiro, a so-
ciedade tradicional da Idade Média não reconhecia a criança como um ser distinto do adulto.
Segundo, indica a transformação pela qual a criança e a família passaram no século XIX para
ocupar o centro da dinâmica social. Com essa transformação, o lar se tornou palco da afeição
entre os cônjuges e seus filhos, o que formalmente não existia antes como expectativas nem
obrigações matrimoniais ou paternas. Desta forma, a criança passou de um ser sem importân-
cia à razão de qualquer família existir.
Um dos maiores críticos de Ariès, Heywood (2004) não concorda que antes do sé-
culo XIX não houvesse o reconhecimento da infância nas sociedades europeias. Para o autor,
a Igreja medieval já se preocupava com a educação de crianças, colocadas a serviço do mo-
nastério. Nos séculos XVI e XVII, existia “uma consciência de que as percepções de uma
criança eram diferentes das dos adultos” (HEYWOOD, 2004, p. 36-7).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
Heywood (2004) cita também os estudos de Locke, Rousseau e dos primeiros ro-
mânticos como evidências de que a infância já existia de forma particularizada e era objeto de
estudo próprio. Coube a Locke, por exemplo, difundir a ideia de tábua rasa para o desenvol-
vimento infantil, afirmando que as crianças nasciam como folhas em branco, nas quais se po-
deriam inscrever o que se quisesse. Combatendo, por conseguinte, a associação cristã da cri-
ança como fruto do pecado original, que a tornava impura desde seu nascimento. Rousseau foi
ainda mais longe ao substituir o conceito do pecado original nas crianças pelo da pureza natu-
ral, que deveria ser respeitada para florescer em sua totalidade. Já as concepções românticas
da infância trataram de apresentar as crianças como portadoras de sabedoria e sensibilidade
estética apurada, necessitando que se criassem condições favoráveis ao seu pleno desenvol-
vimento.
Contudo, Heywood reconhece que o século XIX foi particular na concepção atual
da infância ao desprover a criança de seu valor econômico - não as da classe operária, inici-
almente - para dotá-la de um valor emocional inquestionável desde então. Desta forma, o au-
tor observa que “a história cultural da infância tem seus marcos, mas também se move por
linhas sinuosas com o passar dos séculos: a criança poderia ser considerada impura no início
do século XX tanto quanto na alta Idade Média” (HEYWOOD, 2004, p. 45).
Ao refutar um sentimento homogêneo e característico de uma época na exclusão
ou reconhecimento da criança em sua história cultural, Heywood (2004) atenta para as singu-
laridades como diferentes segmentos de uma mesma sociedade e período compreendiam a
infância. E não apenas dos mais carentes e desprovidos de instrução formal. O cuidado bur-
guês dado à criança também inexistia entre os nobres, como atenta a biógrafa da célebre Lady
Almina (1876-1969), “o tratamento das crianças entre a aristocracia em 1898 era radicalmente
diferente de tudo que conhecemos hoje” (CARNARVON, 2012, p.69). Nos castelos, os filhos
dos aristocratas cresciam longe dos pais em alas particulares. Inclusive, deviam usar as esca-
das de serviços como os empregados.
Observa-se que, independente de como a infância foi compreendida ao longo da
história ocidental, o século XIX foi decisivo para moldá-la como a compreendemos hoje. Nos
anos 1800, a convivência social havia se tornado mais íntima, acompanhando a reorganização
espacial das residências que passaram a se ordenar pelos pressupostos da Revolução Industri-
al. A necessidade de intimidade e privacidade encontrou na família um caminho para o dis-
tanciamento da coletividade. A partir da construção - ou reconstrução, se preferirem - do mito
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
do amor materno e paterno, o lar se impõe como local de afeto e aprendizado entre pais e fi-
lhos (ARIÈS, 1981, p.12). Cenas domésticas representando o amor familiar se tornaram tão
frequentes nas pinturas elegantes quanto nas gravuras anônimas dos jornais baratos. A litera-
tura popular da época também produziu uma infinidade de histórias edificantes sobre pais
dedicados e seus filhos amorosos. Notoriamente, o romance havia se tornado a expressão lite-
rária clássica da burguesia proeminente e grande difusor dos seus valores (LYONS, 1999, p.
166).
E somente em contexto social que valorizasse tanto a infância como no século
XIX, a ideia de torná-la infinita poderia ser tão encantadora para crianças e adultos de todas as
idades. Anteriormente, tanto os relatos bíblicos como os contos de fadas mostravam o quanto
as crianças precisavam ser fortes, obedientes e também protegidas pelos pais ou por forças
sobrenaturais para sobreviverem. E se a perspectiva de uma infância sem fim significava viver
permanentemente em perigo, quando J. M. Barrie escreveu a peça Peter Pan ou O menino que
não queria crescer e depois a tornou livro, representava uma existência livre das obrigações e
imposições dos adultos. Uma vida cheia de brincadeiras e das mais incríveis aventuras. Pelo
menos, para os meninos seria assim.
2. PETER PAN E A LIBERDADE MASCULINA
É que o menino vê muito. Vê até demais da conta.
Autran Dourado
O autor escocês James Matthew Barrie (1860-1937) escreveu pela primeira vez
sobre Peter Pan em uma obra intitulada The Little White Bird, em 1902. Dois anos depois,
tornou-o protagonista da peça teatral Peter Pan ou O menino que não queria crescer. E so-
mente em 1911, decidiu reescrevê-la e transformá-la no romance que conhecemos atualmente.
Desde então, Peter Pan and Wendy - na maioria das edições e adaptações brasileiras apenas
Peter Pan - tornou-se um dos grandes clássicos da literatura infantil mundial.
Apesar do seu sobrenome fazer alusão ao incorrigível Pan da mitologia grega, Pe-
ter Pan é uma personagem sem paralelo nos contos de fadas tradicionais ou no folclore anglo-
saxônico. Portanto, não é uma releitura de um mito ou de uma estória anterior. Pelo menos,
nunca foi admitida pelo autor ou identificada postumamente pelos estudiosos de sua obra.
Barrie sempre fez questão de afirmar que se inspirou nos eventos da própria biografia para
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
escrever sua obra mais famosa. Sendo o primeiro e mais trágico, a precoce morte do seu ir-
mão David em um acidente enquanto patinava no gelo (BIRKIN, 2005, p. 3). Os cinco anos
que estudou na Dumfries Academy - tido pelo autor como os mais felizes de sua vida - tam-
bém lhe serviram de inspiração.
Porém, a ligação já na fase adulta de Barrie com os filhos pequenos da família
Llewelyn Davies - em especial com o mais velho, George - é constantemente atribuída como
fator decisivo para criação da estória do menino que não queria crescer. Ele os conheceu em
1897 em Kensington Gardens, onde costumava passear com o cachorro de sua esposa
(BIRKIN, 2005, p. 41).
Autor do celebrado Barrie and the Lost Boys The Real Story behind Peter Pan e
responsável pelo www.jmbarrie.co.uk, Andrew Birkin observa que essa proximidade com os
garotos não era bem-vista. Diferente do filme semidocumental Finding Neverland (Em busca
da Terra do Nunca, 2004), Sylvia Llewelyn Davies não era viúva quando conheceu Barrie e
seu marido ficava bastante incomodado em vê-lo brincando com seus filhos.
Em 1910, Barrie foi nomeado co-guardião dos irmãos George, Michael, Jack, Pe-
ter e Nicholas Llewelyn Davies após a morte dos seus pais, adotando-os extra-oficialmente.
Sobre os insistentes rumores de uma possível atração pedófila de Barrie pelos garotos, Birkin
obteve uma refutação taxativa de Nicholas, o caçula da família:
I’m 200% certain there was never a desire to kiss (other than the cheek!) [...] All I
can say for certain is that I... never heard one word or saw one glimmer of anything
approaching homossexuality or paedophilia [...] He was innocent which is why he
could write Peter Pan2. (BIRKIN, 2005, p. 130)
Em 1915, George Llewelyn Davies perdeu a vida lutando na Primeira Guerra
Mundial. Seis anos depois, Michael morreu afogado. Em 1960, Peter se suicidou. Mas Bairre
já havia falecido e não presenciou o trágico fim de quem deu nome ao menino que não queria
crescer. Embora tenha seu nome, Peter Pan foi inspirado em George e não em Peter (BIRKIN,
2005, p. 97).
Desde sua concepção inicial para o teatro, Peter Pan é uma personagem anárquica
2 “Estou 200% certo que nunca houve um beijo (exceto no rosto!) [...] Tudo o que eu posso dizer com certeza é
que eu... nunca ouvi uma palavra ou vi um vislumbre de algo que se aproxime da homossexualidade ou da pedo-
filia [...] Ele era inocente e é por isso que pode escrever Peter Pan” (BIRKIN, 2005, p. 130 - tradução livre).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
que rejeita tanto a passagem do tempo quanto os rigores sociais de sua época. É um garoto
que não estuda nem se submete à autoridade de nenhum adulto. Também é inconsequente,
egocêntrico e tão esquivo que até sua descrição física é vaga. Ao descrevê-lo, o narrador diz
apenas “Se você, eu ou Wendy estivéssemos lá, veríamos que ele se parece muito com o beijo
da sra. Darling” (BARRIE, 2002, p. 17). Não há sequer uma menção a cor dos seus olhos ou
cabelos. E mesmo sua idade é incerta. Sabe-se apenas que todos seus dentes são de leite, sen-
do possível deduzir que ele tenha por volta de sete anos.
A senhora Darling é esposa do senhor Darling e, como o narrador faz questão de
observar, “se casou de branco” (BARRIE, 2002, p. 8). Mãe de três filhos pequenos - Wendy,
João e Miguel - e esposa dedicada, ela contrata uma cadela terra-nova chamada Naná para
ajudá-la a cuidar das crianças. Sem que nenhum deles suspeite, sua casa é visitada por um
certo Peter Pan. O garoto gosta de ouvir as estórias que a senhora Darling conta aos filhos
antes de dormir. Uma noite, Wendy acorda ouvindo o barulho de um choro e descobre que é
de Peter Pan, que havia perdido sua sombra. A menina lhe ajuda a costurar a sombra e aceita
fugir para a Terra do Nunca com os irmãos menores.
A distante Terra do Nunca é um território de meninos. Eles são levados para lá
quando caem dos carrinhos de bebês e ninguém os coloca de volta. Como “as meninas são
sabidas demais para cair do carrinho” (BARRIE, 2002, p. 8), não há nenhuma na Terra do
Nunca. Wendy seria a primeira. Pelo menos, é o que Peter acredita. Durante sua prolongada
ausência, a ilha experimenta uma tranquilidade única:
As fadas acordam uma hora mais tarde; as feras cuidam dos filhotes; os peles-
vermelhas se empanturram durante seis dias e seis noites e os piratas e os Meninos
Perdidos se limitam a fazer ameaça uns para os outros, quando se veem frente a
frente. No entanto, com a chegada de Peter, que detesta falta de ação, todos retomam
suas atividades habituais. (BARRIE, 2002, p. 63-4)
O retorno de Peter Pan devolve à Terra do Nunca seu ritmo alucinante de aventu-
ra, discórdia e perigo. Capitão Gancho e seus piratas voltam a perseguir os Meninos Perdidos
e a serem perseguidos por um enorme crocodilo, que engoliu um relógio e faz um tic-tac ater-
rorizador. Wendy seria apresentada aos Meninos Perdidos como mãe deles, mas a fada Sini-
nho consegue separá-la de Peter antes e convence Beicinho a acertar a rival com uma flecha.
Por sorte, ela não morre. Para protegê-la da noite, os Meninos Perdidos constroem uma casi-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
nha provisória exatamente onde ela desmaiou.
Quando desperta, Wendy é surpreendia com o pedido de Peter e dos Meninos
Perdidos para ser sua mãe. Ela aceita e passa a cuidar dos afazeres domésticos. “Wendy esta-
va encantada com o todo o trabalho que seus meninos baderneiros lhe davam. Passava sema-
nas inteiras sem sair da casa subterrânea, a não ser à noite, e mesmo assim levava algum tra-
balho para fazer lá fora” (BARRIE, 2002, p. 93). Uma atitude bem diferente das personagens
femininas residentes na ilha. Em especial das fadas com sua libertinagem explícita: “Umas
fadas bêbadas que voltavam de uma orgia tiveram que passar por cima dele para chegar em
suas casas. Se qualquer outro menino estivesse atravancando seu caminho, elas o teria casti-
gado, mas, como se tratava de Peter [...]” (BARRIE, 2002, p. 89).
Dona de uma família postiça, Wendy tem em Peter Pan tanto um filho extra quan-
to um marido ausente. “O pai é que sabe” (BARRIE, 2002, p. 124), ela repete a cada decisão
doméstica. E não esconde o temor de ser substituída por outra mulher: “Meu querido, com
uma família tão grande, sei que já não sou como antes, mas você não quer me trocar por outra,
quer?” (BARRIE, 2002, p. 124). E não faltam motivos para esse receio.
As sereias, Sininho e as demais fadas também disputam a atenção de Peter e ele
não hesita em agredi-las quando elas se tornam inconvenientes ou “muito atrevidas”
(BARRIE, 2002, p. 100). E depois de salvar a princesa pele-vermelha Raio-de-Sol, ela tam-
bém passa a assediá-lo. Contudo, ele se mantém inume às investidas delas. E não é por ter um
apreço especial por Wendy, mas por intuir que isso lhe fará deixar de ser criança. Em dado
momento, Peter se queixa à Wendy que não poderia ser pai de verdade dos Meninos Perdidos:
“eu ia parecer muito velho se fosse mesmo pai deles” (BARRIE, 2002, p. 129). Preocupada
com a inconstância dele, Wendy se vê obrigada a esclarecer a situação:
- Peter, o que é que você sente por mim? - perguntou, tentando falar com firmeza.
- O que um filho amoroso sente.
- Foi o que eu pensei - ela murmurou, indo sentar-se no canto oposto da sala.
- Você é esquisita - Peter reclamou, francamente confuso - e a Raio-de-Sol também.
Ela quer ser uma coisa para mim, mas diz que não é minha mãe.
- Não, é claro que não - Wendy falou com uma ênfase assustadora. (BERRIE, 2002,
p. 129)
Ao se negar a crescer, Peter Pan abdica da própria sexualidade. Mas não da mas-
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
culinidade viril. Como todo herói aventureiro, ele não teme o perigo nem o desconhecido.
Quando Wendy lhe oferece um beijo no primeiro capítulo, ele aceita sem saber o que é e es-
tende a mão para recebê-lo. Nota-se que ela é uma menina familiarizada à corte e ao flerte.
Ele, não. Todo seu conhecimento se resume a lutas e a aventuras infantis. Assim, o único inte-
resse que Peter Pan tem pelas mulheres é o filial. E somente assume o papel de pai - não de
esposo - nas brincadeiras de faz de conta (BERRIE, 2002, p. 129).
Depois de muitas aventuras, Wendy retorna com os irmãos para a casa dos pais.
Leva consigo os Meninos Perdidos e convence seus pais a adotá-los. A senhora Darling tenta
adotar Peter também, mas ter uma família acabaria por conduzi-lo à vida adulta:
- A senhora vai me mandar para a escola? - o espertalhão quis saber.
- Vou.
- E depois vai me mandar trabalhar?
- Acho que sim.
- E logo eu vou ser homem?
- Logo, logo.
- Eu não quero ir para a escola aprender um monte de coisas chatas - ele declarou,
exaltado. - Não quero ser homem. Ah, seria horrível se um dia eu acordasse e desco-
brisse que tinha barba! (BERRIE, 2002, p. 203)
Peter Pan combina com a senhora Darling para levar Wendy uma vez por ano à
Terra do Nunca. Ele cumpre sua promessa por apenas duas primaveras não-consecutivas.
Como todas as crianças, Wendy cresce e chega “à idade adulta, por sua livre e espontânea
vontade, um dia antes das outras meninas” (BERRIE, 2002, p. 207). Anos depois, Peter e
Wendy tornam a se encontrar. Mas ela é mãe de uma menina chamada Jane e não pode mais
voltar à Terra do Nunca, como explica à filha: “Só as pessoas alegres, inocentes e sem cora-
ção sabem voar” (BERRIE, 2002, p. 208). Peter leva Jane no lugar de Wendy e depois a neta
dela, Margaret. “E assim por diante, enquanto as crianças forem alegres, inocentes e sem co-
ração” (BERRIE, 2002, p. 208).
A estória de Peter Pan permite inúmeras interpretações: desde uma ode à infância
e à imaginação pueril, passando pela crítica à sociedade capitalista do final do século XIX e
até uma leitura do complexo de Édipo na relação de Peter com Wendy. Contudo, em qualquer
possibilidade de análise, será facilmente identificado o protagonismo aventureiro destinado
aos meninos e as expectativas matrimoniais impostas às meninas. E nem mesmo a infância -
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
eterna ou não - pode apagar esses paradigmas sociais e suas consequências para as persona-
gens.
3. CLÁUDIA E O FARDO FEMININO
O que não vemos, podemos ignorar.
Grahan Greene
Lançado nos Estados Unidos em 1976, Entrevista com o vampiro é o primeiro de
uma série de romances que Anne Rice intitula como Crônicas Vampirescas. Única persona-
gem que não será retomada nos demais livros da autora, Cláudia teve sua estória recentemente
adaptada para os quadrinhos. Assinada por Ashley Marie Witter e devidamente aprovada por
Rice, Entrevista com o vampiro - a história de Cláudia é fiel à obra original. Entretanto, ao
tornar a menina-vampira protagonista da própria estória, evidencia o fascínio e o horror de sua
condição de mulher adulta confinada em um corpo infantil.
Devido ao grande sucesso de sua adaptação cinematográfica, o enredo de Entre-
vista com o vampiro é bastante conhecido. Como o próprio título indica, trata-se da entrevista
ficcional de um vampiro concedida a um repórter em um quarto de hotel. O vampiro chama-
se Louis e era um rico fazendeiro na Louisiana colonial quando foi atacado por Lestat. “Era
um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791” (RICE, 1996, p. 13).
Transformado em vampiro, Louis se vê obrigado a conviver com seu criador. A
tensão entre ambos se instaura desde o primeiro momento, quando têm que dividir o mesmo
caixão: “Deitei-me voltado para ele, extremamente confuso e sentindo um mal-estar por estar
tão próximo dele, belo e intrigante como era” (RICE, 1996, p. 31). Ao comentar o erotismo
do ataque de Lestat a Louis e a ambígua relação deles, Rice é direta: “because it was two men,
I was able to deal witch the real essense of dominace and submission [...] I remember being
conscious of that at the time and knowing later that it wouldn’t have worked with a woman”3
(RILEY, 1996, p. 48-9).
Na tentativa de estabelecer um vínculo mais forte entre eles, Lestat transforma em
vampiro uma menina de cinco anos, que Louis vitimou em um ataque de fome. Como narra-
dor da própria estória, ele expõe seu terror ao reencontrá-la transformada: “Era a criança mais
3 “porque eram dois homens, eu era capaz de lidar com a verdadeira essência da dominação e submissão [...] Eu
me lembro de estar consciente disso na época e sabia que se fosse uma mulher não teria funcionado” (RILEY,
1996, p. 48-9 - tradução livre).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
bonita que eu já vira, e agora cintilava com o fogo frio dos vampiros. Seus olhos eram olhos
de mulher, eu percebia. Ela ficaria branca e etérea como nós, mas não perderia suas formas”
(RICE, 1996, p. 93).
Inicialmente, Cláudia cumpre o papel de apaziguar a difícil convivência entre seus
dois pais, como Lestat explica à menina-vampira: “Você é nossa filha. Filha de Louis e mi-
nha, compreende?” (RICE, 1996, p. 94). Ela se torna sua pupila e o surpreende com uma cru-
eldade inesperada. “Cláudia e Lestat conseguiam caçar e seduzir, passar muito tempo em
companhia da vítima ludibriada, saboreando o esplêndido humor de sua amizade traiçoeira
com a morte” (RICE, 1996, p. 93). Com o passar dos anos, esse arranjo familiar se deteriora
irremediavelmente. Mas Louis reluta em admitir que Cláudia não é mais criança - apesar de
continuar a sê-la fisicamente - nem que não está mais disposta a continuar encenando o papel
de filha postiça deles:
- Deveria ser um demônio infantil para sempre - disse, a voz baixa, como se pensas-
se a respeito. - Assim como continuo a ser o rapaz da época em que morri. E Lestat?
O mesmo. Mas sua mente era uma mente de vampiro. E fui obrigado a ver como se
aproximava da vida adulta. [...] E cada vez mais seu rostinho de boneca parecia pos-
suir dois olhos totalmente adultos e conscientes, e a inocência parecia perdida em
algum lugar como brinquedos esquecidos e a perda de uma certa paciência. Havia
algo terrivelmente sensual no modo como se estendia no sofá numa camisola de
renda e pérolas. Transformara-se numa sinistra e poderosa sedutora. (RICE, 1996, p.
100).
Ao tornar consciência de sua condição de mulher e vampira, Cláudia corporifica
simultaneamente dois estigmas noviços ao homem. Para Dottin-Orsini (1996, p.277), o termo
vampiro não tem o mesmo sentido para homens e mulheres. Para o homem, designa apenas o
ser sobrenatural que se alimenta de sangue e pode ser morto com uma estaca no coração. Para
a mulher, “imediatamente se torna tão amplo como banal; pode designar qualquer mulher real,
se considerada perigosa para o homem: perigosa para sua saúde, fortuna, inteligência, honra,
alma” (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 277).
A imagem do vampiro se funde à da mulher fatal no final do século XIX para ex-
plicitar seu perigo. Segundo Dottin-Orsini (1996, p. 277), uma ameaça tida como “uma espe-
cialidade eminentemente feminina”. Portanto, ameaçar o universo masculino doméstico com
sua presença não foi uma opção para Cláudia, mas uma imposição de sua natureza. E Lestat
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
já não consegue tolerá-la tão próxima e inequívoca, como Louis narra: “Faça-a parar! - disse
ele para mim. Apertava as mãos. - faça algo com ela! Não posso suportá-la!” (RICE, 1996, p.
108-9).
Lestat não se incomoda apenas de Cláudia arruinar seu arremedo de família, mas
também por disputar Louis abertamente com ele. E após ameaçá-la, Cláudia não hesita matar
seu criador sem a ajuda de nenhum adulto. Porém, não o faz do modo certo e ele volta para se
vingar dela e recuperar Louis. Na luta, a casa que moravam em Nova Orleans é incendiada.
Cláudia e Louis conseguem fugir para Europa do século XIX. Aparentemente, Lestat foi con-
sumido pelas chamas.
Livre da opressão do seu criador, a feminilidade de Cláudia eclode cada vez mais
forte e incompleta no seu corpo infantil: “sua nova paixão eram anéis e pulseiras que uma
criança não usaria. Seu andar firme e orgulhoso não era o de uma criança” (RICE, 1996, p.
192). Louis passa a temer a mulher que ela se tornou, pois sabe que sua autoridade perdeu
toda importância. Cláudia se torna plenamente uma femme fatale. Ou seja, uma mulher que
“encarnava um exagero de feminilidade, mistério insondável, como era sabido, tanto para si
própria como para o homem. Enfim, era simplesmente a mulher má” (DOTTIN-ORSINI,
1996, p. 15).
A ameaça que a mulher havia se tornado - nas artes e na vida cotidiana - no final
do século XIX corresponde ao medo masculino de ser questionado. A dúvida aniquila a segu-
rança de sua masculinidade e o aproxima das incertezas próprias do universo feminino
(DOTTIN-ORSINI, 1996). E Cláudia traduz bem esse “incômodo” de fin-de-siècle, ao per-
guntar a Louis com sarcasmo: “mas diga-me uma coisa, uma coisa diferente, do alto de sua
arrogância. Como é... fazer amor? [...] Não se lembra?” (RICE, 1996, p. 194). Certamente, ele
não esperava ser indagado sobre isso. Não por quem passou a desempenhar o papel de sua
mulher. Neste ponto, é importante observar que tanto Wendy quanto Cláudia exercem a fun-
ção de esposa, sem nunca sê-las realmente.
Quando a feminilidade de Cláudia já não admite subterfúgios de qualquer ordem,
sua relação com Louis perde os últimos vestígios parentais. As conotações eróticas tornam-se
mais explícitas e erroneamente incestuosas, pois as personagens não são mesmo pai e filha.
Em entrevista a Michael Riley, Rice revela seu interesse particular pelo tema: “[...] ting that
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
fascinates me for reasons I don’t know is incest [...] the love between who are so close”4
(RILEY, 1996, p. 63).
Apesar do caráter assumidamente polêmico, Entrevista com vampiro é um roman-
ce casto. A mente dos vampiros fervilha de desejo, enquanto o corpo permanece imaculado.
As sugestões homoeróticas, incestuosas ou mesmo pedófilas nunca se concretizam corporal-
mente. Não há sequer a menção de um beijo que não seja na face entre Cláudia e Louis, por
exemplo. Como ele mesmo revela em sua entrevista: “para os vampiros, o amor físico culmi-
na e se satisfaz em um uma coisa: a morte” (RICE, 1996, p. 254). E Cláudia falha duplamente
em seus anseios: não se tornou filha nem mulher de ninguém. Tampouco, mãe. A eterna in-
fância lhe foi imposta, condenando-a a uma exclusão permanente.
Pouco antes de morrer, Cláudia reconhece seu fracasso e pede a Louis que trans-
forme em vampiro a dona de uma loja de bonecas para ser sua mãe: “Dê-me Madeleine para
que possa cuidar de mim, para que me forneça o que preciso [...] Estou lutando pela sobrevi-
vência” (RICE, 1996, p. 244). Sacrificar a sexualidade e psique de mulher adulta para se ade-
quar à imutabilidade do seu corpo infantil é uma anulação voluntária que termina por anteci-
par sua destruição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cruel é o tempo que devora todos seus filhos.
Antonin Artaud
Embora destinados a públicos diferentes, Peter Pan e Wendy e a segunda parte de
Entrevista com o vampiro se passam no final do XIX e abordam a face masculina e feminina
da eterna infância. Pela análise comparada das duas obras, nota-se que a mesma situação -
uma infância sem fim - tem desdobramentos particulares para homens e mulheres. Embora,
exija de ambos o esquecimento. Do homem, o esquecimento de seus pais, irmãos e de tudo
que lhe faça amadurecer. Somente desenraizado da própria origem, ele pode impulsionar o
nomadismo aventureiro de suas fantasias infantis. Para a mulher, acostumada a imobilidade
das brincadeiras de ser mãe e esposa, passado e futuro se fundem no presente. Como perma-
necer criança se todas suas brincadeiras são voltadas para a futura vida matrimonial? A bone-
4 “[...] coisa que me fascina, por razões que não entendo é o incesto. [...] o amor entre as pessoas que são muito
próximas” (RILEY, 1996, p. 63 - tradução livre).
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
ca é a filha da menina e seus demais brinquedos, a casa que deve sonhar desde sempre.
Os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não se limi-
tam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser co-
merciante ou professor, mas também de moinho de vento e trem. A questão impor-
tante, contudo, é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da atitude
mimética. (BENJAMIN, 2002, p.108)
Para Benjamin, o brincar ultrapassa a mera imitação do mundo adulto. A criança
também brinca de ser objetos, árvores e animais. Contudo, o brinquedo acaba impondo uma
brincadeira específica. Evidentemente, as crianças podem ignorar essa brincadeira pré-
definida e usar o carrinho como um submarino ou a boneca como um taco. Entretanto, cedo
ou tarde, acabará devolvendo o brinquedo ao seu contexto original e o carrinho andará por
estradas invisíveis e a boneca terá seu sono irreal embalado.
Como reconhece Heywood (2004, p. 13), “a fascinação pelos anos da infância, um
fenômeno relativamente recente”. Com seu novo status na família, a infância tornou-se praze-
rosa, protegida e nostalgicamente invejada. Contudo, mesmo idílica, seu prolongamento infi-
nito tem um preço. Para os meninos, a perpétua errância e inconsequência. Para as meninas,
brincar eternamente de casinha sem jamais ser esposa ou mãe. A sexualidade estagnada, mas
em pleno exercício nas funções domésticas de faz de conta.
O esquecimento se impõe como condição fundamental para viver o eterno presen-
te. Se a memória é uma resistência à passagem do tempo, o esquecimento é sua completa ren-
dição. Ao se esquecer, tudo passa a ser novo. “Mais do que uma ruptura com o passado, 'novo'
significa um esquecimento, uma ausência de passado” (LE GOFF, 1990, p. 173).
Assim, as meninas devem se esquecer daquilo que se preparam a vida inteira: o
matrimônio e a maternidade. Os meninos se esquecer dos pais e arrumar eventuais substitutos
para colocá-los para dormir como Peter Pan fez com a senhora Darling, depois com sua filha e
a filha dela, infinitamente. A ausência do amanhã existe em um presente também sem o on-
tem.
Referências
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1981.
REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS - ANO 6, Número 10 -
TEMÁTICO
“Estudos Hispânicos em Literatura e Cultura” ISSN: 2179-4456
Agosto de 2015
BARRIE, James Matthew. Peter Pan e Wendy. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 2002.
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação. São Paulo: Editora
34, 2002.
BIRKIN, Andrew. J.M. Barrie and the Lost Boys The Real Story behind Peter Pan. New Ha-
ven and London: Yale University Press, 2005.
CARNARVON, Fiona. Lady Almina e a verdadeira Downton Abbey. Trad. Helena Londres.
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.
DOTTIN-ORSINI, Mireille. A mulher que eles chamavam de fatal - textos e imagens da mi-
soginia fin-de-siècle. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média à época contemporânea no
Ocidente. Porto Alegre: Artmed, 2004.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão...[et al]. Campinas: Unicamp.
1990.
LYONS, Martyn. Os novos leitores no século XIX: mulheres, crianças, operários. In:
CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. São
Paulo: Ática, 1999. v. 2.
RICE, Anne. Entrevista com o vampiro. Trad. Clarice Lispector, Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
RILEY, Michel. Conversations with Anne Rice. New York: Ballantine Books, 1996.
WITTER, Ashley Marie. Entrevista com o vampiro - A história de Cláudia. Trad. Daniel Ri-
bas. Rio de Janeiro: Rocco, 2015.