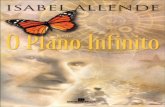Tango, parodia e intertextualidad en A tango abierto de Ana Maria del Rio
João Albergaria; Samuel Melro; Ana Cristina Ramos; Ana Jorge; Maria Isabel Dias; Maria Isabel...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of João Albergaria; Samuel Melro; Ana Cristina Ramos; Ana Jorge; Maria Isabel Dias; Maria Isabel...
MEMÓRIAS d’ODIANA 2.ª Série
EDIA Empresa de Desenvolvimentoe Infra-Estruturas do Alqueva S.A.
MEMÓRIAS d’ODIANA2.ª série
7UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeude Desenvolvimento Regional
MEMÓRIAS d’ODIANA 2.ª SérieEstudos Arqueológicos do Alqueva
OCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICA NA MARGEMESQUERDA DO GUADIANA
João AlbergariaSamuel Melro
OC
UPA
ÇÃ
O P
ROTO
-HIS
TÓ
RIC
AN
A M
AR
GEM
ESQ
UER
DA
DO
GU
AD
IAN
A
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
OCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICANA MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA
FICHA TÉCNICA
MEMÓRIAS d’ODIANA - 2.ª Série
TÍTULOOCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICANA MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA
EQUIPA TÉCNICA* (ver página 4)
1ª FASECOORDENAÇÃO DE PROJECTO: João AlbergariaRESPONSÁVEIS CIENTÍFICOS: Miguel Lago, António Valera, João Albergaria
2ª FASEDIRECTOR TÉCNICO: António ValeraCOORDENAÇÃO DE PROJECTO: Inês Mendes da SilvaRESPONSÁVEIS CIENTÍFICOS: João Albergaria, Samuel Melro
EDIÇÃOEDIA - Empresa de desenvolvimentoe infra-estruturas do AlquevaDRCALEN - Direcção Regional de Cultura do Alentejo
COORDENAÇÃO EDITORIALAntónio Carlos SilvaFrederico Tátá Regala
DESIGN GRÁFICOLuisa Castelo dos Reis / VMCdesign
PRODUÇÃO GRÁFICA,IMPRESSÃO E ACABAMENTOVMCdesign / Ligação Visual
TIRAGEM500 exemplares
ISBN978-989-98805-5-9
DEPÓSITO LEGAL356 090/13
FINANCIAMENTO EDIA - Empresa de desenvolvimentoe infra-estruturas do AlquevaINALENTEJOQREN - Quadro de Referência Estratégico
NacionalFEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
Évora, 2013
EQUIPA TÉCNICA*
1ª FASE
Coordenação de projecto: João AlbergariaResponsáveis científicos: Miguel Lago, António Valera,
João Albergaria
TRABALHO DE CAMPO
Altas Moras 2Direcção de escavação: Miguel Lago, Marta Macedo, Sandra Brazuna, Sofia Gomes; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão e Lucy Shaw Evangelista; Trabalhadores: José Luís Valido, Jorge Rosário, An-tónio Ricardo Ramalho, Francisco Vogado, Domingos Cidades, José Manuel e Luís Fialho; Fotografia: Miguel Lago, Sandra Brasuna, Sofia Gomes.
Monte NovoDirecção de escavação: João Albergaria; Arqueóloga: Sofia Go-mes; Técnica auxiliar: Páscoa Perdigão; Trabalhadores: Francisco Va-ladas, Luís Cachaço; Fotografia: João Albergaria.
Monte da Ribeira 2Direcção de escavação: António Valera (1999), João Albergaria (2000); Arqueólogos: Miguel Lago, Ana Sofia Antunes e Renata Almei-da; Antropólogo: Álvaro Figueiredo; Trabalhadores: Francisco Vogado, Domingos Parreira, Francisco Graciano, Avelino Baúto, Luís Cachaço, Hélder Gaiato; Fotografia: António Valera e João Albergaria.
Serros Verdes 4Direcção de escavação: Miguel Lago; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão, Lucy Shaw Evangelista, Sérgio Rocha Gomes, Maria Teresa Alves Freitas; Trabalhadores: José Luís Valido, António Tomás Fialho, Jorge Rosário, António Ricardo Ramalho, Francisco Vogado, Domin-gos Cidades; Fotografia: Miguel Lago.
Monte do Judeu 6Direcção de escavação: João Albergaria; Arqueólogos: Samuel Melro, Ana Cristina Ramos; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão, Paula Maurício; Trabalhadores: Francisco Vogado, Hélder Gaiato, An-tónio Colaço, Nelson Mendes, Luís Cachaço, Nelson Miranda, Paulo Conceição, Francisco Graciano; Fotografia: João Albergaria.
Monte das Candeias 3Direcção de escavação: Miguel Lago, Marta Macedo, Sofia Go-mes, Sandra Brasuna; Arqueólogos: Alexandre Sarrazola; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão, Lucy Shaw Evangelista;Trabalhadores: José Valido, António Tomás Fialho, Jorge Rosário, António Ricardo Ramalho, Francisco Vogado, Domingos Cidades, José Manuel; Foto-grafia: Sofia Gomes, Sandra Brasuna.
Estrela 1Direcção de escavação: João Albergaria; Arqueólogos: Renata Al-meida; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão; Trabalhadores: Francis-co Vogado, António Tomás Fialho, José Valido, Jorge Rosário, António Ricardo Ramalho; Fotografia: João Albergaria.
Monte da Pata 1Direcção de escavação: António Valera; Arqueólogos: Pedro Aldana; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão, João Rabuje; Trabalha-dores: Francisco Vogado, António Tomás Fialho, José Valido, Jorge Rosário, António Ricardo Ramalho; Fotografia: António Valera.
Castelo das JuntasDirecção de escavação: João Albergaria; Arqueólogos: Samuel Melro, Ana Cristina Ramos, Pedro Aldana, Isabel Inácio, Gertrudes Branco, Ana Jorge; Técnicos auxiliares: Páscoa Perdigão; Trabalha-dores: Francisco Vogado, António Tomás Fialho, José Valido, Jorge Rosário, António Ricardo Ramalho, Virgílio Silva; Fotografia: João Albergaria.
TRABALHOS DE GABINETE
Desenhador de Auto-Cad: Renata Almeida, José Pedro MachadoDesenhador de materiais arqueológicos: Ana Sofia Gomes, Carlos Lemos, Maria João Sousa.
2ª FASE
Director Técnico: António ValeraCoordenação de projecto: Inês Mendes da SilvaResponsáveis científicos: João Albergaria, Samuel Melro
Autores: João Albergaria (Era-Arqueologia. Cç. St. Catarina, 9C, 1495-705 Da-fundo, Cruz Quebrada, Portugal. [email protected] Melro (Rua Afonso I 23, 7780 Castro Verde, Portugal, [email protected])
Ana Cristina Ramos (Era-Arqueologia. Cç. St. Catarina, 9C, 1495-705 Dafundo, Cruz Quebrada, Portugal. [email protected])
Ana Jorge (Era-Arqueologia. Cç. St. Catarina, 9C, 1495-705 Dafun-do, Cruz Quebrada, Portugal. [email protected])
Maria Isabel Dias (Instituto Tecnológico Nuclear, Estrada Nacional 10, 2686-953 Sacavém, Portugal. [email protected])
Maria Isabel Prudêncio (Instituto Tecnológico Nuclear, Estrada Na-cional 10, 2686-953 Sacavém, Portugal. [email protected])
Fernando Rocha (Dep. Geociências, Univ. de Aveiro, Campo Santia-go, 3810-193 Aveiro, Portugal [email protected] )
Álvaro Figueiredo
Ana Pajuelo Pando ([email protected])
António Faria
Colaboradores: Alexandra Pires, Alexandre Gonçalves, Iola Filipe, Luís Pinto, Ricardo Santos, Rita Ramos.
Desenho de materiais: Mafalda Nobre, Carlos Lemos
Desenho de Auto-Cad: Tiago Queiroz, José Pedro Machado.
Fotografia de materiais: Miguel Almeida.
EQUIPA TÉCNICA
4
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
ÍNDICE
5
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
10 Nota Editorial 11 Prólogo 13 1 - INTRODUÇÃO
19 2. METODOLOGIA – CONCEITOS, MÉTODOS E FORMAS DE REGISTO21 2.1.1. Metodologia de campo21 2.1.1.1. Marcação do terreno e sistema geral de coordenadas22 2.1.2. Metodologia de análise de recipientes cerâmicos22 2.1.2.1. Algumas palavras introdutórias22 2.1.2.2. Uma metodologia de estudo para a cerâmica dos séculos IV/I a.C. 23 2.1.2.3. Critérios de análise morfológica e tecnológica26 2.2.3.2. Tipologia morfológico – funcional27 2.1.2.4. Cerâmica comum de tradição local e regional28 2.1.3. Metodologia aplicada ao estudo dos restos humanos28 2.1.4. Metodologia do estudo arqueozoológico
29 3. BRONZE
31 3.1. Introdução32 3.2. Percursos de investigação44 3.3. Sítios intervencionados44 3.3.1. Altas Moras 244 3.3.1.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos47 3.3.1.4. Materiais arqueológicos47 3.3.1.6. A redescoberta de uma necrópole49 3.3.2. Monte Novo49 3.3.2.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos53 3.3.2.4. Materiais arqueológicos53 3.3.2.5. Crónica de um sítio revisitado53 3.3.3. Monte da Ribeira 255 3.3.3.1. Interpretação dos contextos arqueológicos58 3.3.3.2. Materiais arqueológicos58 3.3.3.3. Estudo dos restos humanos62 3.3.3.4. Considerações finais
ÍNDICE
ÍNDICE
6
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
62 3.4. Arquitectura68 3.4.1. Altas Moras 268 3.4.1.1. Sepultura 168 3.4.1.2. Sepultura 268 3.4.2. Monte Novo68 3.4.2.1. Sepultura 169 3.4.2.2. Sepultura 271 3.4.3. Monte da Ribeira 271 3.4.3.1. Sepultura 172 3.4.3.2. Sepultura 272 3.4.3.3. Sepultura 375 3.5. Rituais funerários78 3.6. Conclusão
81 4. FERRO
83 4.1. Introdução91 4.2. Sítios Intervencionados91 4.2.1. Serros Verdes 491 4.2.1.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos94 4.2.1.2. Caracterização da cultura material101 4.2.1.3. Considerações finais
103 4.2.2. Monte do Judeu 6103 4.2.2.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos108 4.2.2.2. Caracterização da cultura material115 4.2.2.3. Síntese dos resultados
116 4.2.3. Monte das Candeias 3116 4.2.3.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos128 4.2.3.2. Distribuição estratigráfica133 4.2.3.3. Considerações finais
134 4.2.4. Estrela 1134 4.2.4.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos140 4.2.4.2. Caracterização da cultura material149 4.2.4.3. Considerações finais
150 4.2.5. Monte da Pata 1150 4.2.5.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos156 4.2.5.2. Caracterização da cultura material167 4.2.5.3. Considerações finais
169 4.3. Castelo das Juntas170 4.3.1. Interpretação dos contextos arqueológicos171 4.3.1.1. Sondagem 1172 4.3.1.2. Fase de ocupação 3183 4.3.1.3. Fase de ocupação 2185 4.3.1.4. Fase de ocupação 1186 4.3.1.5. Sondagem 2194 4.3.1.6. Sondagem 3194 4.3.1.7. Fase de ocupação 3200 4.3.1.8. Fase de ocupação 2211 4.4. Caracterização da cultura material212 4.4.1. Recipientes cerâmicos213 4.4.1.1. Elementos técnicos da produção de recipientes cerâmicos225 4.4.2. Distribuição estratigráfica225 4.4.2.1. Sondagem 1227 4.4.2.2. Sondagem 2228 4.4.2.3. Sondagem 3231 4.4.2.4. Sondagem 4234 4.4.3. Elementos de tecelagem234 4.4.4. Objectos de adorno236 4.4.5. Metais237 4.4.5.1. Artefactos metálicos237 4.4.5.2. Elementos de funda238 4.4.5.3. Escória e produção metalúrgica239 4.4.6. Elementos de moagem239 4.4.7. Outros materiais líticos241 4.5. Castelo das Juntas: modelo explicativo de ocupação241 4.5.1. Fase 1242 4.5.2. Fase 2242 4.5.3. Fase 3
ÍNDICE
7
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
INDICE
8
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
245 5. PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO247 5.1. Introdução247 5.2. Problemáticas orientadoras e questões específicas248 5.3. Materiais249 5.4. Métodos251 5. 5. Produção cerâmica à escala intra-sítio257 5.6. Produção cerâmica à escala inter-sítio262 5.7. Síntese final: Problemáticas arqueológicas e resultados arqueométricos
267 6. CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS269 6.1. Âmbito da nossa amostra 269 6.2. Conjunto cerâmico270 6.2.1. Produções manuais: formas fechadas273 6.2.2. Produções a torno: formas fechadas275 6.2.3. Cerâmicas cinzentas: formas fechadas276 6.2.4. Produções manuais: formas abertas278 6.2.5. Produções a torno: formas abertas278 6.2.6. Cerâmicas cinzentas: formas abertas279 6.2.7. Outros280 6.2.8. Grandes recipientes de armazenagem281 6.3. Diacronia e as sincronias estabelecidas282 6.4. Uma cultura material de longa tradição
289 7. CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO291 7.1. Introdução291 7.2. Arquitectura, espaço e uso do espaço: enquadramentos teóricos292 7.3. Problemáticas gerais: abordagens arqueológicas ao espaço construído293 7.4. Construir sítios de habitat na Idade do Ferro na margem esquerda do Guadiana: arquitectura e uso do espaço294 7.4.1. A arquitectura doméstica: habitacional e outras294 7.4.1.1. Análise formal dos elementos construtivos309 7.4.1.2. Análise estrutural315 7.4.2. O sistema de fortificação do Castelo das Juntas319 7.4.3. O uso do espaço no Castelo das Juntas
INDICE
9
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
323 8. A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA: PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
327 8.1. Paisagem e recursos330 8.2. Estudo arqueofaunístico331 8.3. Rotas e vias de comunicação332 8.4. O povoamento conhecido no ocidente da Beturia Céltica333 8.5. O povoamento pré-romano entre o Guadiana e o Ardila: o âmbito local e regional334 8.6. As estratégias de povoamento336 8.7. As possíveis leituras transversais do povoamento338 8.8. Castelo das Juntas nas vésperas do novo milénio: um mundo de conflitos e mudanças339 8.9. Um compasso de espera entre dois mundos
341 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
343 9.1. Considerações finais
345 BIBLIOGRAFIA
NOTA EDITORIAL
O presente volume é parte integrante da 2ª Série da coleção “Memórias d’Odiana- Mono-grafias Arqueológicas de Alqueva”, uma iniciativa editorial instituída pela EDIA em 1999 para divulgação científica dos resultados do plano de trabalhos arqueológicos de minimiza-ção promovidos e financiados por esta entidade, no âmbito das obras do empreendimento de Alqueva. Interrompida desde 2006 após a publicação de 4 monografias, está programada no âmbito desta nova série, a edição de 14 volumes completando, no essencial, a divulgação dos resultados dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nas margens do Guadiana na fase de construção da Barragem de Alqueva. O presente esforço editorial, só foi possível graças à cooperação estabelecida entre a EDIA e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, atra-vés de um Protocolo (2010) que criou as condições indispensáveis para a aprovação de uma candidatura aos fundos europeus através do QREN-INALENTEJO, associando as compe-tências e atribuições específicas da DRCALEN, enquanto tutela no âmbito do património cultural, à garantia do financiamento da comparticipação nacional por parte da EDIA, a entidade promotora do empreendimento.
EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva)DRCALEN (Direção Regional de Cultura do Alentejo)
NOTA EDITORIAL
10
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
É com satisfação que assistimos à publicação na presente Memórias d’Odiana dos trabalhos por nós concluídos há uma década atrás. A sua edição aufere a essa satisfação uma igual sensação de alívio, no agora concretizado virar de página daquele que foi um mo-mento chave da arqueologia portuguesa.
Tratou-se de um momento único e enriquecedor que vivemos então como arqueólogos e que motivou nesses anos passados animadas espectativas de uma ati-vidade consolidada da arqueologia portuguesa. Passada uma década não temos certamente o mesmo otimismo nesta nossa atividade, que hoje desempenhamos, parte em continuidade na arqueologia empresarial, parte en-tretanto em funções da Tutela. Entre diversos balanços que poderiam ser feitos, cabe-nos aqui realçar essencial-mente a ausência de uma verdadeira política de inves-tigação e divulgação pública dos dados que emergem todos os dias daquele que é o cenário por excelência da arqueologia nacional: as intervenções preventivas, de sal-vamento e de acompanhamento arqueológico.
Para lá da hoje serena paisagem alentejana do “grande lago” do Alqueva, é importante frisar que con-tinua a dever-se aos trabalhos desenvolvidos em torno do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), o eixo principal ao conhecimento arqueoló-gico no Alentejo. As obras do vasto sistema do regadio determinaram, aproximadamente desde a data em que concluíramos a presente monografia até à atualidade, um salto assinalável da quantidade de sondagens, esca-vações arqueológicas e uma nunca antes vista quanti-dade de dados novos. Fazemos votos assim para que as Monografias do Alqueva prossigam, não ignorando a efetiva produção de conhecimento científico, aspeto que na maior parte das vezes tem tido um alcance limitado. Há urgentemente que ultrapassar a situação estabele-cida na arqueologia portuguesa, como um verdadeiro “corpo de bombeiros” do património, ao qual acodem no seu papel de técnicos de registo arqueológico, sem assumir o seu último compromisso como arqueólogos: traduzindo esse registo em monografias especializadas e valorizando esse registo (e vestígios materiais) com vista ao retorno social deste investimento no património que é de todos. Para que tal ocorra é vital que se entenda a arqueologia para lá da mera lógica da minimização de impactes e é essencial que essa lógica, que hoje preva-lece, passe a incorporar, desde o início, a noção que a escavação não se encerra no relatório e nos contento-res de materiais arqueológicos, mas que deve antes ser integrada numa rede de investigação e valorização do conhecimento, na qual todos os agentes desse processo devem participar.
PRÓLOGO
Face a esse atual cenário, reforçamos a nossa sa-tisfação com a presente edição. Mas, face ao exposto é igualmente óbvio que essa satisfação é acompanhada por algum “desconforto” dada a evidente desatualização do quadro de referência sobre o qual o nosso trabalho assentou. Cumpre-nos assim alertar que estamos peran-te um trabalho datado no tempo, no qual e em nosso en-tender, devem ser valorizados os dados empíricos, pers-petiva que presidiu ao próprio estudo final dos dados decorrentes do Bloco 9 – Proto-História na Margem Esquerda do Guadiana.
Sem omitir responsabilidades nas nossas próprias lacunas, o certo é que o inevitável contraponto com todo o novo conjunto de dados entretanto surgidos (dezenas de sítios novos), requere obrigatoriamente a perceção que nos dias de hoje estamos a assistir a uma verdadeira revolução do conhecimento. O II milénio a.C. e a Idade do Bronze do Sudoeste não mais podem ser vistos à luz dos pressupostos com que partimos, pois no âmbito de uma “nova Proto-História do Sul de Portugal” surgiu todo um mundo da Morte que se desenha atualmente a partir das arquiteturas funerárias em fossa ou hipo-geu que vão surgindo. Nesse sentido merece particular importância acompanhar os estudos de investigado-res como António Valera, Lídia Baptista ou António Monge Soares, alguns dos arqueólogos portugueses que têm vindo a debruçar-se sobre este “reescrever” da pré e proto-história do Sul. Já para o I milénio e a Idade do Ferro, teremos que chamar a atenção obrigatoriamente para o facto de não termos atendido aos trabalhos, en-tão não publicados, de Rui Mataloto sobre a Herdade da Sapatoa (Alandroal) – essencial na compreensão do mundo rural que partilhamos – assim como aos traba-lhos e monografias de referência para a Margem Es-querda do Guadiana que são a do Castro de Ratinhos, de Luís Berrocal-Rangel e António Carlos Silva, e do Castro da Azougada, de Ana Sofia Antunes. E para lá dos dados e reflexões que continuam a prevalecer vindos da Extremadura e Andaluzia espanhola ou das recentes novidades sidéricas em torno de Beja, outros dados da Margem Esquerda do Guadiana serão certamente com-plementares a esta monografia, nomeadamente o estudo de Castelo Velho de Safara de Teresa Costa, os traba-lhos em curso no Castelo de Moura, por José Gonçalo Valente e no Cabeço Redondo (Moura), por Rui Soares e António Monge Soares.
Com este aviso à navegação futura esperamos as-sim que sejam úteis aos leitores as presentes Memórias d’Odiana.
João Albergaria e Samuel Melro, Maio de 2012
11
INTRODUÇÃO
15
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
1. INTRODUÇÃO
1 Monte do Ramalho 1 e Monte dos Estevais.2 Monte da Pata 1, Estrela 1, Monte do Judeu 6, Castelo das Juntas e Monte da Ribeira 2.
Quando o volume do Quadro Geral de Referên-cias da Barragem do Alqueva foi divulgado e foi aberto o concurso público para a apresentação de projectos científicos, com vista à minimização patrimonial da Barragem, começou uma das etapas mais importantes da arqueologia recente em Portugal, não só pelo grave impacto do projecto em causa e pelo elevado grau de destruição de sítios e de paisagens com valor histórico, mas também, pelo grande investimento humano e fi-nanceiro necessário para pôr em prática um complexo programa de trabalhos arqueológicos.
Ainda com os ecos da descoberta das gravuras rupestres em Foz Côa e da interrupção da construção daquela mega-barragem na memória da generalidade da opinião pública, o promotor desta obra (EDIA, SA) e o Estado Português (Instituto Português de Arqueo-logia) optaram politicamente pela salvaguarda mínima de algum do nosso passado, como forma de atenuar a perda irremediável da maioria dos vestígios materiais, entretanto, identificados, localizados e inventariados numa longa e exaustiva listagem.
Ao assumir-se que a destruição seria um facto, foi delineada uma estratégia que permitisse valorizar positivamente aquela vasta acção, através do desenvol-vimento planeado de projectos de investigação temáti-cos, que enquadrassem as escavações arqueológicas de “emergência” ou de minimização, num discurso “cien-tífico”, em que os trabalhos de campo e de gabinete seriam regularmente acompanhados e avaliados por uma “comissão científica independente”.
O cenário prévio de cada projecto, ou Bloco te-mático/geográfico, era formado por um conjunto de sítios, a maioria dos quais desconhecidos, com escassos materiais arqueológicos recolhidos e poucas estrutu-ras arquitectónicas visíveis à superfície do terreno, que foram sendo registados, descritos e cartografados, por sucessivas equipas de arqueólogos na área do regolfo do Alqueva (EDIA, 1996). Ou seja, logo à partida, o conteúdo científico de cada Bloco estaria condiciona-do quer pelos locais identificados em prospecções, que seriam abrangidos pelas águas da barragem, quer pelo seu estado de conservação.
Desta forma, começou-se por intervir nos sítios
que seriam afectados, com o objectivo de cumprir as tarefas previamente contratualizadas, tendo sido ne-cessário reorientar o programa inicial de trabalhos, a partir dos dados entretanto obtidos.
No caso específico do Bloco 9 (Ocupação Proto--Histórica da Margem Esquerda do Guadiana) cons-tavam na listagem inicial nove sítios, dos quais dois1 não foram escavados, por estarem praticamente des-truídos e por revelarem poucos ou nenhuns sinais de ocupação humana naquele local. Do conjunto original, confirmou-se a cronologia genérica atribuída e a sua importância patrimonial em cinco dos sítios2; no sítio do Monte do Ramalho 2 não foram encontrados con-textos arqueológicos conservados e verificou-se que o Monte do Tosco 1 tinha uma ocupação predominante-mente calcolítica. Assim, para esta última fase de aná-lise e apresentação dos resultados, decidiu-se entregar à equipa técnica do Bloco 5 (Ocupação Pré-Histórica da Margem Esquerda do Guadiana) o estudo siste-mático deste sítio, tal como, esta mesma equipa optou por “devolver” ao período Proto-Histórico os sítios dos Serros Verdes 4, Monte das Candeias 3 e Altas Moras 2. Já durante a execução das intervenções, foi acres-centado ao primeiro agrupamento, o sítio do Monte Novo, entretanto re-localizado pelo IPA e pela EDIA.
Quando começou a segunda etapa deste pro-cesso de minimização do Alqueva, “preparação de um relatório final de cariz monográfico”, a base do nosso trabalho era então formada por três necrópoles da Ida-de do Bronze, cinco pequenos povoados abertos, com cronologias em torno de meados do milénio e por um grande povoado fortificado, cuja fundação poderá re-montar ao século IV e o seu abandono ao primeiro quartel do séc. I a.C. ( Albergaria, Melro, 2000).
O primeiro problema a resolver consistia na au-sência de ligações culturais entre os contextos funerá-rios da Idade do Bronze, aparentemente despegados da respectiva rede de povoamento, e os povoados da Idade do Ferro, devido à inexistência de vestígios ma-teriais datáveis do Bronze Final na nossa amostra. Pe-rante a ausência de informação sobre uma ocupação diacrónica linear e visível na nossa sequência estrati-gráfica e numa pequena escala geográfica, optou-se por
INTRODUÇÃO
17
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dividir este texto em duas partes - a primeira relativa à Idade do Bronze e a segunda à Idade do Ferro – , mas conscientes que o espaço é o mesmo, embora as paisagens sejam naturalmente diferentes, por repre-sentarem distintas formas de organização social e de territorialidade.
Outro problema, de resolução mais complexa, consistia na escolha da escala de análise espacial e no significado da distribuição dos sítios arqueológicos escavados, nomeadamente dos pequenos povoados. Assim, a sua relativa proximidade e aparente sincro-nia, com a excepção dos Serros Verdes 4, indicia a existência de uma importante malha de povoamento, numa reduzida área situada entre a ribeira do Alcar-rache e a ribeira do Zebro, que foi detectada devido ao mérito dos prospectores de campo da EDIA, mas que de facto pode apenas representar um pequeno segmento de uma “realidade” bastante mais vasta, sobre a qual existe pouca informação concreta dis-ponível.
A identificação e escavação destes pequenos ha-bitats não deixa de ser um factor muito importante, que merece ser forçosamente destacado, porque de-monstra que a realização de trabalhos de minimização arqueológica, em locais com escassa monumentalidade contribui fortemente para o aumento do nosso conhe-cimento, sobretudo dos aspectos menos “visíveis”. Se qualquer um destes sítios fosse analisado isoladamen-te, certamente que os resultados obtidos seriam desa-nimadores, devido ao seu elevado grau de destruição e às reduzidas área escavadas, mas a possibilidade e a sorte de ter uma imagem de conjunto, permite com-preender melhor um modelo de povoamento, para os últimos séculos do milénio.
Face à distribuição destes sítios, que é no nos-so entender o resultado dos trabalhos de prospecção e não de uma concentração específica de povoados, dis-tinta daquela que poderá existir em zonas vizinhas (se calhar algumas delas já submersas), optou-se por valo-rizar uma escala de estudo local, sem nunca esquecer as abrangências regionais, quer aquelas que são mais pró-ximas e directamente relacionadas com o rio Guadiana e a sua margem esquerda, quer as mais distantes, que se encontram associadas ao desenvolvimento das rotas terrestres, do nível de comunicação e de contacto ou intercâmbio entre diferentes comunidades do interior e do litoral peninsular.
Assim, para além desta análise local, optou-se por destacar o actual território português da margem esquerda, como forma de corresponder à designação criada pela EDIA “Proto-História da margem esquer-
da do Guadiana” e de integrar a informação disponível num universo de estudo mais alargado e consistente. Trata-se evidentemente de uma amostragem espacial de natureza artificial, que procura corresponder exclu-sivamente às necessidades de investigação deste mo-mento, não podendo os dados existentes na margem direita do Guadiana e para além da fronteira ser esque-cidos, nem sequer desvalorizados.
A dicotomia litoral / interior continua a ser o ponto de partida mais válido e usado para o enqua-dramento da Idade do Ferro no Sudoeste peninsular. Configuram genericamente dois esquemas distintos de evolução, ditados pela consequente dualidade das aportações exógenas com o devir indígena das popula-ções em análise. Nesse esquema, a diacronia recorrente do I milénio observa as suas “continuidades” e “des-continuidades” num quadro mais amplo que o liga às movimentações mediterrânicas, por um lado, e indo--europeias por outro, para findar com a sua integração no mundo romano. A observação de uma realidade interior como a margem esquerda do Guadiana pa-rece ser especialmente importante na hora de definir semelhante(s) enquadramento(s) e avaliar o signifi-cado e a mais valia dos pressupostos orientalizantes, pós-orientalizantes e continentais, e definitivamente o protagonismo do actor local nessa (nossa) construção histórica.
Esta região pode ser destacada por constituir, ao longo da Idade do Ferro, uma zona de confluência de rotas fluviais, articuladas em função do eixo principal que é o Guadiana, e de rotas terrestres ao longo da bacia do Ardila, e consequentemente de identidades culturais. Uma região onde, na segunda metade do mi-lénio, se observa uma dinâmica social susceptível quer às influências da esfera mediterrânico-turdetano ou à esfera lusitano-vetão, como será mais tarde ao domínio de Roma.
Esta abertura aos agentes e aos elementos exó-genos trata-se de um comportamento, que decorre a par da manutenção de elementos materiais, de valores e de técnicas tradicionais, bem visíveis, no tipo de im-plantação e na arquitectura dos pequenos sítios ou na perduração formal das cerâmicas comuns encontradas nos sítios intervencionados, enformando o que se de-signa de tradição local e regional.
Na nossa abordagem, perante a oportunidade de estudar três necrópoles do Bronze e um pequeno núcleo de povoamento da Idade do Ferro, situado no interior alentejano e muito próximo do Guadiana, valorizou-se, neste texto monográfico, a componente contextual e material dos vestígios arqueológicos, por-
INTRODUÇÃO
18
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
que considerou-se fundamental divulgar primeiro as estratigrafias dos sítios, as interpretações dos respec-tivos faseamentos e sobretudo a relação dos materiais arqueológicos com os contextos de proveniência.
A opção tomada justifica-se ainda mais, quan-do se constata a quase ausência de povoados da Idade do Ferro, na margem esquerda do Guadiana, com es-tratigrafias publicadas ou com o estudo de materiais discutido. Uma situação que se repete um pouco por todo o Sul peninsular, com a excepção de alguns pou-cos projectos de investigação desenvolvidos há vários anos em Almodôvar ou em Castro Marim, ou mais recentemente no Alentejo central, e de algumas inter-
venções pontuais relevantes como aquelas que ocorrem em Mértola, Odemira ou em Tavira.
Ao caracterizar o presente povoamento local e regional da Idade do Ferro procurou-se assim com-preender melhor a identidade cultural dos indivíduos que viveram numa determinada área territorial, apeli-dada de Baeturia Celtica pelos autores clássicos, num período de importantes alterações sociais e políticas, que se desenvolveram de forma bastante complexa e em múltiplas orientações, quer nas etapas que esta-belecem tradicionalmente a segunda Idade do Ferro, quer na efectiva mudança que se opera nas vésperas da nossa Era.
METODOLOGIA
21
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
2. METODOLOGIACONCEITOS, MÉTODOS E FORMAS DE REGISTO
2.1.1. Metodologia de campoJoão Albergaria
A escavação de todos os sítios arqueológicos foi metodologicamente baseada nos princípios teóricos estabelecidos por P. Barker (1989) e E Harris (1991), procedendo-se geralmente à remoção das Unidades Estratigráficas por níveis naturais, numa sequência oposta à da sua formação; embora, em algumas situa-ções muito específicas, os depósitos tenham sido re-movidos por camadas artificiais.
O registo de Unidades Estratigráficas consistiu na descrição das suas características físicas (cor, tex-tura, grau de compactação), na definição dos vários interfaces de contacto entre as UEs e na representação gráfica desses interfaces em planos de conjunto ou em planos individuais. As linhas de interfaces foram com-pletadas com o desenho de todos os elementos pétreos e de todos os materiais arqueológicos que surgiam no topo de cada unidade.
O registo planimétrico foi feito por planos su-cessivos, identificados como momentos individuali-záveis do processo de formação da sequência estrati-gráfica observada, sendo alguns deles apresentados ao longo deste texto. Os cortes estratigráficos, elementos gráficos que possibilitam uma leitura imediata da es-tratigrafia, foram registados de forma cumulativa ao longo da escavação ou no final da intervenção.
Em cada sítio escavado os contextos arqueoló-gicos foram registados com um número sequencial de UE3, que abrange a totalidade dos vestígios materiais identificados nas várias áreas intervencionadas (sonda-gens ou sectores)4.
A interpretação dos contextos arqueológicos foi elaborada a partir da sua disposição na estratigrafia vertical e, sobretudo, na estratigrafia horizontal. Para facilitar o registo do enquadramento espacial da maio-ria destes contextos e a devida leitura cultural, optou--se, sempre que possível, por integrar as unidades nos respectivos compartimentos.
A análise estratigráfica conduziu à concepção de um esquema da sua sequência, do tipo Matriz de Har-ris, com o objectivo de criar um instrumento funda-mental para a síntese e para a compreensão dos dados observados.
No decorrer das diversas escavações arqueológi-cas decidiu-se, na maioria dos casos, por não remover as estruturas arquitectónicas (muros, lareiras, fornos, etc), nem os pisos de ocupação identificados (lajea-dos ou pavimentos de terra), para evitar a ruptura da unidade contextual de cada espaço e permitir, assim, a totalidade do seu registo em futuros trabalhos.
Convém ainda referir que um dos principais ob-jectivos deste texto, sobretudo nos trechos de leitura estratigráfica, consistiu na análise dos processos tafo-nómicos identificados no decorrer das várias escava-ções. Este estudo enquadra-se no conjunto de propos-tas relacionadas com a formação dos contextos arqueo-lógicos, dado que os níveis estratigráficos representam diferentes etapas desse processo e associam em cada uma as unidades estratigráficas com características ta-fonómicas comuns.
Da mesma forma, procurou-se interpretar a estratigrafia de cada sítio, a partir das relações físicas directas de cada UE e segundo o seu processo de cons-tituição, ou seja, do mais recente para o mais antigo. Esta opção justifica-se pela nossa vontade em trans-mitir a sequência do registo arqueológico, reflectir so-bre as dúvidas que surgiram durante os trabalhos de campo, bem como, demonstrar que qualquer escavação constitui um acto contínuo de interpretação.
2.1.1.1. Marcação do terrenoe sistema geral de coordenadas
O sistema de registo adoptado para a interven-ção arqueológica assentou num sistema de coordena-das implantado no terreno, devidamente orientado se-gundo os principais eixos de coordenadas (Norte/Sul; Este/Oeste) e inserido na rede geodésica nacional. Para
3 No sítio das Altas Moras 2, Serros Verdes 4, Monte das Candeias 3 e Estrela 1 fez-se inicialmente um registo sequencial de UEs por sondagem, tendo-se depois corrigido todo o registo para uma única sequência.4 As UEs são apresentadas numa ficha descritiva concebida em Lotus Notes e podem ser consultadas juntamente com os respectivos relatórios de escavação.
METODOLOGIA
22
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
esse efeito foi utilizado um aparelho do tipo estação total com uma precisão angular de 0,0015g e uma pre-cisão na medição de distâncias de ±(3+2ppm ´ D)mm.
Por uma questão de facilidade de registo, o siste-ma de coordenadas nacionais foi adaptado, por forma a serem obtidos valores numéricos mais reduzidos e de leitura mais prática. O procedimento para a obtenção desta adaptação do sistema de coordenadas permite, por sua vez, o rápido reenquadramento no sistema nacional.
Para facilitar o registo dos materiais e dos con-textos arqueológicos adoptaram-se as coordenadas lo-cais, que são obtidas a partir das coordenadas nacionais através do uso da seguinte fórmula de conversão:
Xnacional = Xlocal + 264000 Ynacional = Ylocal + 144000
Assim, aproveitaram-se as coordenadas do Ponto 1, por ser a referência mais próxima da área a escavar, e à coordenada X - 264,045.00 atribuiu-se o valor 45 e à coordenada Y - 144,909.83 atribuiu-se o valor 10; a cota absoluta deste ponto, a partir da qual se obtiveram todas as outras é 144,87.
2.1.1.2. Registo de materiais
Os materiais arqueológicos foram registados se-gundo o seu valor informativo. As peças consideradas mais importantes, devido à sua especificidade cronoló-gico-cultural5 e ao seu contexto de proveniência, foram catalogadas individualmente, com o objectivo de criar um inventário de materiais6, e foram, na sua grande maioria, referenciadas tridimensionalmente com coor-denadas absolutas7, para permitir a sua localização exacta e estudar a sua dispersão.
Os restantes materiais arqueológicos foram re-gistados de forma genérica, ou seja, cada fragmento de bojo tem uma anotação com o número da Unidade Estratigráfica de onde foi recolhido. No Castelo das Juntas, as peças de carácter geral, recolhidas em con-textos associados à utilização de um compartimento ou de uma área funcional, foram, na maioria dos casos, integradas num quadrado e registadas com o respecti-vo número.
2.1.2. Metodologia de análise de recipientes cerâmicos
Ana Cristina Ramos
2.1.2.1. Algumas palavras introdutórias
O conjunto estudado é o resultado material das escavações efectuadas, entre 1998 e 2000, nos seis sítios da Idade do Ferro afectos ao Bloco 9 (Proto-história da margem esquerda do Guadiana) do Empreendimento da Barragem de Alqueva.
Para além da simples descrição morfológica e enquadramento cronológico comparativo pretende--se, antes de mais, com este estudo tentar reconstituir as actividades económicas e culturais e descodificar os usos sociais dos artefactos. Deste modo, tendo considerado nas primeiras abordagens aos conjuntos cerâmicos8 como denominador comum a todos eles uma nítida tradição local e regional, tornou-se agora essencial perceber até que ponto esta hipótese pode ser confirmada e o que a caracteriza concretamente para, então, tentar compreender de que forma são os elementos exógenos enquadrados no seio das comu-nidades indígenas.
Há ainda que determinar que leituras e pistas podem ser apreendidas a partir dos materiais arqueo-lógicos, para os modelos e dinâmicas do povoamento sidérico. Assim, numa época de transição política/eco-nómica/religiosa e cultural, é fundamental distinguir os aspectos de “continuidade” e “descontinuidade” des-ses dados empíricos, numa perspectiva de evolução em cada sítio, no seu conjunto e numa perspectiva regio-nal e supra-regional, caracterizando e interpretando as principais permanências, inovações e ausências.
2.1.2.2. Uma metodologia de estudopara a cerâmica dos séculos IV/I a.C.
Na escolha de uma metodologia de estudo para o conjunto cerâmico aqui analisado surgiu desde logo um problema comum à maioria dos arqueólogos que estu-dam colecções provenientes de escavações de salvaguarda ou de emergência: o facto de estarmos a lidar apenas com um segmento de uma realidade muito maior, que neste
5Bordos de recipientes cerâmicos, fragmentos de vasos com decorações, objectos metálicos, restos de escória, ossos de animais, ossos humanos, amostras de argilas, etc.6 Neste inventário foram incluídas todas as amostras recolhidas (carvões, argilas, escórias, etc).7O Monte da Pata 1 foi o único sítio onde os materiais foram localizados em função das coordenadas relativas da quadrícula de escavação.8 Relatórios das campanhas de escavação.
METODOLOGIA
23
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
caso vai desde os pequenos povoados, ou núcleos fami-liares, do Monte Judeu, da Pata ou da Estrela, só para dar alguns exemplos, até uma realidade de maior dimen-são como o povoado fortificado do Castelo das Juntas. Um outro aspecto desta realidade segmentada passa pelo próprio estado de conservação dos artefactos, que na sua maioria e mais precisamente no que respeita à cerâmica, se traduz numa amálgama de bojos, em que nem sempre é fácil fazer uma distinção por recipientes, sendo poucos os fragmentos que permitem uma reconstituição integral da forma do vaso e menos ainda os que permitem a re-constituição de pelo menos 2/3 da peça.
Perante este cenário toda a informação que se possa retirar deste universo de análise, é preciosa e in-dispensável à interpretação dos dados. Deste modo, o processo do estudo efectuou-se em três fases de organi-zação e caracterização do espólio. Numa primeira fase9 procedeu-se à lavagem de todo o material cerâmico e lítico, a uma limpeza primária dos metais e à marcação e inventariação de todos os materiais líticos, metálicos e dos cerâmicos que permitissem aferir formas de ar-tefactos do quotidiano ou que de algum modo fossem características de uma determinada cultura material. Incluem-se neste último caso os bojos decorados, que embora não permitam uma reconstituição de forma, podem, no entanto, constituir importantes elementos cronológicos, quer pela gramática decorativa, quer pela conjugação desta com outros elementos tecnológicos e/ou morfológicos, nomeadamente o tipo de modela-ção, espessura das paredes ou a forma do vaso10.
Uma observação mais cuidada do conjunto in-ventariado permitiu a remontagem e individualização de alguns recipientes, determinando, deste modo, o seu número mínimo (NMR) para cada um dos sítios es-tudados.
Após esta fase os exemplares cuja forma foi pos-sível aferir e os bojos decorados foram desenhados a carvão e à escala real. A última fase deste processo passou pela escolha dos descritores considerados ade-quados ao nosso universo de estudo e pela criação de uma base de dados que sustente a informação relativa a cada um dos exemplares (NMR) recolhidos e inven-tariados. Esta contemplou a descrição morfológica e técnica de cada um dos recipientes individualizados, e teve como resultado, no primeiro caso, a elaboração de uma tabela de formas11 e, no segundo, a individualiza-ção de distintos fabricos12, ambos, intra-sítio.
A opção por linhas de avaliação independentes para estes descritores prende-se com a sua lógica intrín-seca diferenciada, assim, se o Fabrico está essencialmen-te ligado às fontes de matéria-prima de uma região e depende de um maior grau de especialização no seu ma-nuseamento, tendendo por isso a perdurar, já no que às Formas diz respeito, a sua variabilidade depende muito mais de modas ou necessidades dos consumidores, pelo que num mesmo tipo de Fabrico podemos encontrar diferentes Formas (Vaz, 1999: 65).
Esta observação não é, por certo, taxativa para o conjunto aqui analisado, até porque o inverso também se verifica, sendo a mesma forma reproduzida em dife-rentes fabricos, razão pela qual a sua abordagem separa-da poderá trazer resultados interessantes ao nosso estu-do e ao conhecimento da cerâmica dita de uso comum.
2.1.2.3. Critérios de análise morfológicae tecnológica
A necessidade de sistematizar toda a informação de modo a facilitar o seu tratamento e posterior inter-pretação no sentido de alcançar os objectivos propos-
9 Esta fase decorreu, parte dela, no decurso dos próprios trabalhos de campo.10 É deste exemplo o caso das estampilhas em recipientes de armazenagem de grandes dimensões, para os quais temos dados cronológicos fiáveis e cuja identificação através dos elementos anteriormente expostos se torna relativamente fácil.11 As tabelas de formas foram organizadas tendo em conta três grandes grupos: Cerâmica Manual; Cerâmica a Torno e Ce-râmica Cinzenta. As formas foram numeradas sequencialmente dentro de cada grupo tendo em conta primeiro os recipien-tes fechados e seguidamente os abertos. Apenas no Castelo das Juntas se atribuiu numeração independente a recipientes fechados e abertos. Também aqui foi criado um outro grupo, o dos Grandes Recipientes de Armazenagem. Todas as restantes categorias que não encontram expressão na cerâmica dita de uso comum, designadamente ânforas, sigillatas, campanienses ou paredes finas, foram tratadas separadamente e dentro da correspondente categoria pelo que não fazem parte destas tabelas de formas.12 Por fabrico entende-se o tratamento específico dado à argila para obtenção de uma pasta cerâmica com determinadas características, nomeadamente, tipos de desengordurantes utilizados, as suas dimensões, distribuição e frequência na pasta e tipo de modelação.
METODOLOGIA
24
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
tos, conduziu à elaboração de uma base de dados e à escolha dos descritores que possibilitem a classificação dos recipientes quanto à forma e fabrico dos mesmos. A eleição dos critérios de análise teve em consideração as proposta apresentadas por Balfet, Fauvet-Berthelot e Monzon (1983); Martins e Ramos (1992); Orton, Tyers e Vince (1999); e os estudos de António Valera (1997) para o Castro de Santiago e de Alarcão (1974) para a cerâmica comum local e regional de Conim-briga.
Deste modo, a ficha descritiva divide-se em três grandes campos. O primeiro diz respeito à in-formação extrínseca ao exemplar analisado, nomea-damente ao local de proveniência: Nome do “Sítio”, UE e “Nº de inventário” por nós atribuídos e ao “Tipo de fragmento” descrito (bordo, colo, bojo, base etc.). Os outros blocos dizem respeito à descrição dos elementos morfológicos e tecnológicos, os quais seguidamente passarão a ser expostos de forma por-menorizada.
2.1.2.3.1. Tipologia
2.1.2.3.1.1. Elementos morfológicos
Por elementos morfológicos entendem-se to-dos os aspectos que permitem descrever determinado artefacto quanto à sua forma exterior. Os critérios adoptados quanto à escolha das variantes de cada descritor, prendem-se apenas com a observação à priori dos materiais estudados, pelo que somente se consideraram aquelas que se encontravam presentes no conjunto, deixando espaço para o aparecimento de novas variantes.
Forma do bordoO bordo é a parte do recipiente que borda a
abertura. Quanto à forma o bordo pode ser direito; em bisel o qual poderá ser interno ou externo; afunilado (por vezes denominado bisel duplo); espessado interna ou externamente; bi-espessado; enrolado; triangular e redondo.
Orientação do bordoA orientação do bordo poderá ser invertida,
quando há convergência para o interior do recipiente, ou exvertida quando há divergência. Poderá ainda ser direita, ou seja quando não apresenta qualquer inflexão para o interior ou para o exterior ou em aba quando se apresenta claramente perpendicular ao desenvolvi-mento do corpo do recipiente.
Forma do coloO colo ou gargalo, ou seja, a parte do recipiente
que faz a ligação entre o bordo e o bojo (nos recipien-tes fechados), poderá ser direito; côncavo (estrangula-do); convergente (invertido) ou divergente (exvertido).
Forma do bojoO bojo corresponde à parte central do recipiente
e encontra-se limitado pelo bordo ou pelo colo e pela base. A sua forma pode ser simples quando se asseme-lha a uma figura geométrica: cilindro; cone; esfera, etc, e composta quando é necessário recorrermos a duas ou mais figuras geométricas para a classificar.
Secção do elemento de preensão (asa, mamilo ou pega)
As categorias encontradas para classificar a sec-ção dos diferentes tipos de elemento de preensão, que melhor se adaptam à nossa realidade são as seguintes: sub–circular; semi–circular; oval; em fita; com canelu-ras longitudinais; com depressão longitudinal e plana.
Forma da basePor fim, a base corresponde à parte inferior do
recipiente e pode ser plana; côncava; convexa; com om-phalos; plana alta (espessada) em pedestal; com pé “em bolacha” e com pé “em anel”.
Para além da descrição da forma e da orienta-ção das diferentes partes do recipiente, foram também consideradas algumas dimensões que posteriormente permitiram o enquadramento dos diversos registos numa nomenclatura de formas de recipientes. As di-mensões consideradas pertinentes para este enqua-dramento são as seguintes: d= diâmetro da boca; e= espessura do bordo; hm = altura máxima do colo; dm = diâmetro mínimo do colo; hbj = altura máxima do bojo ; dbj= diâmetro máximo do bojo; db = diâmetro da base; D= diâmetro máximo ; H= altura total; E= espessura máxima do bojo.
2.1.2.3.1.2. Elementos tecnológicos
Elementos tecnológicos são todos aqueles que permitem uma caracterização da concepção técnica de determinado artefacto, ou seja, são todos os proce-dimentos que contribuíram para a transformação da matéria-prima em produto final.
ModelaçãoPor modelação entende-se a técnica pela qual o
oleiro dá forma a uma peça. A dificuldade sentida na
METODOLOGIA
25
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
observação em pequenos fragmentos, que por vezes se encontram igualmente em mau estado de conservação, de elementos que possam fazer a distinção entre a mo-delação a torno lento e torno rápido, condicionou a opção de apenas considerar a modelação a torno por oposição à modelação manual.
CozeduraEntre outros factores, os diferentes tipos de co-
zedura são produzidos pela reacção de alguns dos ele-mentos que constituem a pasta à atmosfera no interior do forno. Quando esta atmosfera é rica em oxigénio, diz-se que a peça cozeu em ambiente oxidante, apre-sentando uma coloração entre os amarelos e rosas até aos laranjas e vermelhos. Contrariamente, se a atmos-fera dentro do forno é pobre em oxigénio, diz-se que a peça cozeu em ambiente redutor, produzindo pastas de cor negra. As designações redutora/oxidante e oxidan-te/redutora caracterizam cozeduras parciais, casos em que por um qualquer motivo houve entrada de oxigé-nio dentro do forno, ou, pelo contrário, houve obstru-ção à entrada de oxigénio dentro do forno.
Cor da superfície externa A cor de um recipiente cerâmico depende de
uma série de factores e nem sempre é uniforme. As características dos barros que compõem a pasta, a dis-posição da peça no interior do forno, o ambiente e a temperatura de cozedura, ou os próprios factores de utilização, ou fenómenos pós-deposicionais podem originar oscilações na coloração das peças, pelo que se optou por apenas considerar a cor da superfície exter-na (na sua generalidade vermelha alaranjada, castanha avermelhada, etc.), uma vez que a cor do núcleo é for-necida pelo tipo de cozedura.
ENP’sPor enp’s (elementos não plásticos) entendem-
-se os diferentes tipos de desengordurante que se po-dem encontrar nas pastas cerâmicas. A preparação de uma pasta é normalmente feita com diferentes tipos de barros, uns mais plásticos e outros mais magros. A existência em maior ou menor grau de enp’s numa pasta está normalmente relacionada com o grau de depuração que esta teve durante a sua preparação, as-sim uma pasta muito depurada é uma pasta que du-rante o seu processo de preparação passou por diver-sas decantações com malhas cada vez mais apertadas
durante a fase de filtragem, deste modo os enp’s são finíssimos ou imperceptíveis numa observação ma-croscópica.
Os enp’s considerados são: os carbonatos; quart-zo; mica; minerais negros; minerais ferruginosos e chamotte13. É no entanto deixada em aberto a possibi-lidade de se observarem outros.
Dimensão ENP’sNo que se refere à dimensão, os enp’s, foram con-
siderados do seguinte modo:< 1 mm (finíssimos); > 1mm < 3mm (finos); >
3mm <5mm (medianos); > 5mm (grosseiros).
Distribuição ENP’sA sua distribuição na pasta poderá ser:Fraca ( < 15% ); Média ( > 15% - 30% ); Forte
( > 30% )
FrequênciaQuanto à frequência os enp’s poderão ser:Abundantes; Moderados; Escassos
TexturaQuanto à textura esta deve ser observada nas
fracturas e caracteriza-se como homogénea quando dificilmente se distinguem os elementos que com-põem a pasta, quer por não haver grande variedade de enp’s ou do seu tamanho; em densa quando a pasta é muito depurada com os componentes finíssimos e muito ligados entre si, onde os enp’s são reduzidos ao mínimo ou quase não existem; em grosseira quando possui grande variedade de enp’s, demonstrando não ter havido praticamente depuração da pasta; e em are-nosa a pasta que se apresenta aglomerada em grânulos de diâmetro pequeno, de consistência friável e com forte componente de areias.
Tratamento da superfície É o processo pelo qual se faz a regularização
das superfícies de uma peça. Esta, é feita com a pasta ainda fresca, acabada de ser modelada, como é o caso do alisamento ou da aplicação de aguada ou engobo, ou quando a peça se encontra já no processo de seca-gem, mesmo antes de ir para o forno, como no caso do brunimento. O facto de uma peça ter sido alisada, não exclui a possibilidade de poder ter um outro tra-tamento adicional, assim, para além de alisada poderá
13 Ou chamota também designado por grogue. Trata-se de barro cozido, normalmente restos de peças, triturado ou moído que por vezes é adicionado à pasta.
METODOLOGIA
26
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
ser-lhe igualmente adicionado uma aguada ou engobo, do mesmo modo uma peça com engobo poderá ser brunida. Na dificuldade de observar mais de um tipo de tratamento, optou-se por identificar o mais eviden-te, deste modo foram considerados os seguintes trata-mentos de superfícies de pastas cerâmicas:
Alisamento – trata-se de um tratamento feito com a pasta ainda fresca e que consiste na regulari-zação da superfície da peça com a ajuda de um pano, provocando deste modo o alisamento e a limpeza de alguns enp’s de maior dimensão.
Brunimento - é feito com a pasta quase seca (toque de cabedal) com a ajuda de um objecto duro, normalmente um seixo, confere à peça um aspecto brilhante que pode ir desde um ligeiro polimento até a um aspecto quase metálico dependendo do grau de brunimento.
Aguada – é um preparado só com barbotina (bar-ro muito depurado e diluído em água), normalmente do mesmo barro que foi utilizado para modelar a peça.
Engobo – trata-se de um preparado mais espesso do que a aguada e tem normalmente a adição de um colorante à barbotina.
Porosa – esta designação utiliza-se quando há ausência de tratamento ou impossibilidade de verificar a sua existência.
Rugosa – designam-se como tal as peças que apresentam um tratamento irregular, embora com ves-tígios de tratamento.
Grosseiro – É um tratamento pouco cuidado onde os enp’s estão bastante visíveis e são médios/grosseiros/muito grosseiros e abundantes.
DecoraçãoPor decoração entende-se qualquer elemento ou
técnica aplicados à superfície interna, externa ou am-bas de uma peça cerâmica, no intuito de produzir um qualquer efeito estético. Muito embora não seja paten-te uma funcionalidade na utilização de elementos de-corativos, verifica-se, no entanto, algumas associações forma/técnica decorativa, como se verá no decorrer do trabalho.
Conhecendo à partida o conjunto em análise, as diferentes técnicas e suas variantes, consideradas no presente trabalho foram as seguintes:
Pintura – Consiste na adição, à pasta, de subs-tâncias colorantes criando uma determinada gramática decorativa.
Brunido – É considerada uma decoração bru-nida quando um recipiente se encontra parcial ou to-talmente polido criando um motivo decorativo. Se o
polimento for uniforme numa ou em ambas as super-fícies terá um tratamento brunido e não uma decora-ção brunida.
Impressão – A decoração impressa é produzi-da pela pressão de um determinado objecto contra a superfície da pasta ainda fresca. Aqui foram consi-deradas apenas duas variantes: a impressão com uma matriz a qual pode ser de estampilha ou de roleta; a impressão por digitação, a qual pode ser simples ou ungulada.
Incisão – É produzida com um punção sobre a superfície da pasta ainda fresca. Foram consideradas três variantes: a linha (até 1 mm de espessura); o traço (entre 1 mm e 2 mm de espessura); e a canelura (fina (2 mm); média (3-4 mm); larga (5-6 mm)).
2.1.2.3.2. Tipologia morfológico – funcional
A nomenclatura dos recipientes aqui utilizada baseia-se essencialmente na proposta do Musée de l’ Homme de Paris, no entanto, apenas foram consi-deradas as denominações principais, deixando cair as variações mais próximas, uma vez que quanto à forma as suas diferenças não são muito evidentes, havendo apenas variação quanto ao tamanho dos recipientes e quanto à sua função. Dado que o estudo em causa se baseou em dados etnográficos e em recipientes inteiros, com uma função específica, realidade que não se adapta de todo à nossa amostra, parece mais prudente fazer a distinção entre um prato e uma tigela ou alguidar, ou entre um pote e uma talha ou cântaro, do que subdi-vidir estas formas nas suas mais diversas variantes, as quais podem ir desde o prato raso à travessa e ao prato fundo, ou desde a tigela à malga ou à escudela, passan-do pela taça e pela gamela.
2.1.2.3.2.1. Critérios de classificação
Recipiente aberto: “Designa-se como tal um re-cipiente que não apresenta constrição de diâmetro e no qual o diâmetro máximo coincide com a abertura (sem ter em conta uma eventual inflexão do lábio)” (Balfet, Fauvet-Berthelot, Monzon, 1983).
Recipiente fechado: “Designa-se como tal um recipiente que apresenta acima do diâmetro máximo do corpo, um diâmetro inferior a este, coincidente ou não com o da abertura.” Pertencem ainda a esta cate-goria os recipientes que acima deste diâmetro mínimo, apresentam um colo de paredes amplamente esvasadas (Balfet, Fauvet-Berthelot, Monzon, 1983).
METODOLOGIA
27
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Recipientes abertosPrato – Recipiente cuja funcionalidade primária
seria a de serviço de mesa e de cozinha. Apresenta as paredes exvertidas e o diâmetro de abertura poderá ser >24 cm e ≥5 vezes a altura.
Tigela – Tal como o prato, este recipiente faria par-te do serviço de mesa e cozinha. Trata-se de um recipien-te aberto de paredes exvertidas cujo diâmetro de abertura é < a 40 cm e está compreendido entre 1 vez e meia a 5 vezes a altura.
Pode ser ligeiramente fechado na abertura sem que o diâmetro de abertura possa ser <4/5 do diâmetro máximo.
Alguidar – Este recipiente estava ligado às fun-ções da cozinha na preparação de alimentos.
Os alguidares de grande dimensão poderiam es-tar relacionados com as funções de higiene. É um re-cipiente aberto de paredes exvertidas cujo diâmetro de abertura é >40 cm e até 3 vezes e meia a altura.
Copo – Recipiente de mesa, aberto de paredes verticais ou ligeiramente exvertidas em que o diâmetro de abertura (entre os 6 e os 12 cm) é ≤1 vez e meia a altura.
Recipientes fechadosPanela – Recipiente fechado, com colo curto
apresentando por vezes 1 ou 2 asas. Este recipiente está directamente ligado à confecção de alimentos.
Quanto às suas dimensões o diâmetro mínimo é ≥ a um terço do diâmetro máximo e a altura está nor-malmente compreendida entre 1 a 2 vezes o diâmetro de abertura, podendo ser sensivelmente inferior.
Pote – Recipiente fechado, com colo curto ou por vezes quase inexistente e estrangulado.
Este recipiente está directamente ligado ao transporte e armazenamento de alimentos. Apresenta dimensões idênticas às da panela, pelo que a sua iden-tificação se torna por vezes bastante complicada14.
Grande Recipiente de Armazenagem (corres-pondente à Talha no trabalho da equipa do Musée de l’ Homme de Paris) - Recipiente fechado de grandes dimensões cuja funcionalidade era o transporte e ar-mazenamento de alimentos. Idêntico ao pote apresen-
tando as mesmas proporções, mas de maior dimensão.Jarro – Recipiente fechado, pertencente ao serviço
de mesa. Muito idêntico ao pote, mas distingue-se deste por ter um corpo maior, entre 2 a 3 vezes o diâmetro de abertura, tem normalmente um bico vertedor e 1 asa.
Cântaro – Recipiente fechado, que servia para o transporte e armazenamento de líquidos. Tem geral-mente colo e 2 asas. É muito idêntico ao pote, mas distingue-se deste por ter um corpo maior, entre 2 a 3 vezes o diâmetro de abertura. Tem igualmente maior profundidade relativamente ao pote.
2.1.2.4. Cerâmica comum de tradição locale regional
A preponderância, para não dizer quase exclu-sividade, da presença das chamadas cerâmicas de uso comum em todos os conjuntos, torna pertinente que desde logo se defina este conceito, tão banalizado, mas nem sempre bem assimilado.
De facto, a grande abundância e variedade da cerâmica comum e o seu carácter eminentemente re-gional, com toda a carga inerente ao próprio conceito, desde sempre intimidou e, até certo ponto, frustrou os investigadores, limitando-se muitos deles a constatar somente a sua existência, delegando o seu estudo para segundo plano (Vaz, 1999:3).
Até ao principio dos anos 70, a arqueologia Histó-rico-Culturalista dava especial relevo aos aspectos morfo-lógicos dos vasos cerâmicos. Alguns destes estudos pro-duziram apurados sistemas de classificação tipológica, no entanto viram logrados os seus objectivos de transformar a cerâmica comum num eficaz instrumento de datação.
Já nos anos 70, com o advento da Nova Arqueo-logia, começou a dar-se especial importância aos as-pectos tecnológicos15, assim, os estudos da composição geológica das pastas cerâmicas passaram a ter um papel essencial na investigação, uma vez que permitem distin-guir diferentes tipos de produções e formular hipóteses de origem geográfica das matérias-primas utilizadas.
Um outro aspecto importante para esta nova cor-rente de pensamento, é que estes estudos contribuem para a abordagem sócio-económica das populações em análise – proveniência e circulação – redes de comércio.
Com o final dos anos 80 surge um novo tipo de
14 A dificuldade sentida ao longo do trabalho no que respeita à individualização dos potes das panelas levou a que fosse considerada apenas a primeira designação, sabendo à partida todos os condicionalismos de tal opção.15 “O estudo da tecnologia destina-se a compreender os métodos utilizados para preparar, dar forma e acabamento, e cozer a cerâmica, e revela toda uma cultura própria dos oleiros da respectiva região que não mudará tão facilmente quanto às formas que podem ser imitadas com pouco esforço” (idem: 19).
METODOLOGIA
28
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
abordagem da cerâmica comum, a qual privilegia os as-pectos funcionais através do estudo da relação entre os recipientes e a alimentação, permitindo um novo tipo de ilações de ordem cultural16.
No presente trabalho adoptou-se o conceito de cerâmica comum, desenvolvido por Inês Vaz Pinto17 se-gundo o qual, “cerâmica comum é aquela que é produzi-da com técnicas de olaria vulgares e bem disseminadas, isto é, a cerâmica modelada à mão ou ao torno, cozida em ambiente redutor ou oxidante, que pode ter decoração e engobe não vitrificado, não requer centros de fabrico es-pecializados, e que se destina à satisfação das necessidades de cozinha, mesa, higiene, armazenamento, transforma-ção dos produtos agrícolas e transporte a curta distância da unidade doméstica (...)”. Ainda segundo esta autora “o critério de fabrico não especializado abarca produções de cerâmica comum individualizadas como (...) a cerâ-mica cinzenta alentejana, mas exclui desde logo, todas as cerâmicas que requerem alta especialização técnica como as sigillata (...) e as paredes finas.” (Vaz, 1999:62).
No presente trabalho adoptou-se o conceito de tradição local e regional na acepção dada por Fabião, e na qual está implícita a ideia de produção, deste modo: “(...) por tradição toma-se um fabrico cujo protótipo remete para uma área cultural concreta, circunscrita ou exterior às que os produzem e utilizam” (Fabião, 1998: vol.2: 16). Este investigador desenvolve os mesmos conceitos de local e regional apresentados por Alar-cão no estudo das cerâmicas comuns de Conimbriga (Alarcão, 1994:29) e que também aqui foram adop-tados para os sítios estudados. Como tal, define-se como local a área contígua aos diversos sítios e como “regional toda a área do Portugal mediterrâneo e suas “extensões” na actual Espanha”, na continuidade do que foi enunciado por Fabião (id,ibidem).
2.1.3. Metodologia aplicada ao estudodos restos humanosÁlvaro Figueiredo
Na necrópole do Monte da Ribeira 2 foram identificados os restos de duas inumações humanas in-dividualizadas. Durante o trabalho de escavação efec-tuado pela equipa de arqueólogos, foi constatado que
os materiais osteoarqueológicos se encontravam num estado de preservação muito frágil. Assim, e numa fase preliminar de conservação, foram aplicados gaze e consolidante (plexigum) ao material enquanto ainda in situ. Este tratamento consolidou o material ósseo sobre um núcleo de sedimento, que pôde então ser re-tirado da sepultura para conservação e estudo.
No laboratório, e após uma observação prelimi-nar, procedeu-se à limpeza dos materiais com acetona removendo o sedimento e o excesso de consolidante. Em elementos muito deteriorados, a gaze e o conso-lidante não foram propositadamente removidos, como única forma de assegurar a estabilidade ao tecido ósseo.
O material osteológico encontra-se, de um modo geral, muito fragmentado e deformado. A pressão exer-cida pelo sedimento ao longo do tempo esmagou ou/e desintegrou grande parte do esqueleto. Apesar do esta-do muito fragmentado e incompleto dos restos mortais, tudo parece indicar que pertenceram a dois indivíduos.
Os ossos foram individualmente identificados em laboratório, mantendo-se o seu número na ficha que os acompanha. Finalmente, foram armazenados em película alveolar, dentro de sacos de plástico cristal. Os restos humanos exumados no Monte da Ribeira 2 foram analisados segundo a metodologia estabele-cida pelo “Protocolo de Chicago” (Buikstra, Ubelaker, 1994) e reconhecido internacionalmente na disciplina da antropologia biológica.
2.1.4. Metodologia do estudoarqueozoológicoAna Pajuelo
O método de trabalho que usámos consistiu numa análise macroscópica dos diferentes restos ós-seos recuperados nas escavações que são o objecto des-ta análise. Este trabalho tem como objectivo realizar uma identificação anatómica e uma classificação ta-xonómica dos restos faunísticos, determinação do NR (número de restos) e a determinação do NMI (núme-ro mínimo de indivíduos) que aparecem nas diferentes UE, ainda que estes dados tenham de ser considerados com precaução devido ao reduzido tamanho da amos-tra estudada.
16 “Nos últimos anos, o estudo da cerâmica comum tem-se desenvolvido com a preocupação de conjugar as múltiplas pers-pectivas, e a sua quantificação tornou-se essencial como único meio de avaliar e comparar a importância relativa das diferen-tes produções e dos diferentes tipos e formas de recipientes, e perceber a sua evolução ao longo dos tempos” (idem: 3).17 Apesar de ter sido desenvolvido para o estudo de realidades mais tardias das que são abordadas no presente trabalho, parece, no entanto, aplicar-se sem restrições ao conjunto aqui estudado.
BRONZE
31
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3. BRONZEJoão Albergaria
3.1. Introdução
O actual texto parte de um conjunto de três ne-crópoles de cistas, intervencionadas recentemente, para uma tentativa de abordagem ao sistema de interacção social das comunidades, que marcaram a paisagem do actual território da margem esquerda do Guadiana, durante a Idade do Bronze.
Considerando a existência de “continuidades” evolutivas na estrutura económica, no sentido da sua intensificação, diversificação e especialização, e de “descontinuidades” na forma de ostentação do poder social, entre o Bronze Antigo e o Bronze Final ( Jorge, 1995:16), será importante questionar e verificar no re-gisto arqueológico os sinais dessas mudanças e conse-guir as causas das rupturas e das permanências.
Assim, a nossa reflexão deve começar na trans-formação dos vestígios arqueológicos em formas de representação social, económica e simbólica das co-munidades locais, para de seguida conjugar todas as variáveis de uma identidade cultural múltipla e com-plexa.
Para cumprir este objectivo, torna-se fundamen-tal caracterizar exaustivamente os contextos locais e regionais e identificar o “perfil social e político dos agentes envolvidos no processo interactivo” ( Jorge, 1998:284).
O ponto de partida consiste na leitura da vas-ta panóplia de fontes de informação disponíveis e no reconhecimento das limitações inerentes às diferentes metodologias de registo arqueológico e às questões que motivaram gerações de investigadores a actuarem neste território.
Tal como nas restantes áreas do Sudoeste Penin-sular, a visibilidade dos vestígios arqueológicos encon-tra-se para os primeiros períodos condicionada pelo predomínio das necrópoles em detrimento dos povoa-dos e depois pela situação inversa, ou seja, proliferação de povoados datados do Bronze Final e ausência de necrópoles.
A aparente ausência de povoados do Bronze Pleno nos inventários de sítios e a inexistência de escavações sistemáticas nos povoados do Bronze Fi-nal, tem contribuído para uma imagem focada essen-cialmente na dicotomia entre “mundo dos mortos” e “mundo dos vivos”, que na realidade acaba por des-valorizar os aspectos de continuidade no quotidia-
no das comunidades e por valorizar os símbolos de poder.
Ao contrário das perspectivas mais funcionalis-tas e progressistas, que propõem uma evolução social baseada na exploração metalífera e no controlo dos respectivos meios de produção (Silva, Soares, 1981; Gomes, 1992; Soares, et alii 1994), a estrutura social deve-se manter organizada em função das relações de parentesco e com um modo de produção basicamente doméstico (Wagner, 1995:110), embora se identifique uma evolução nas formas de ostentação do prestígio social.
De facto, a exploração metalífera e o seu im-pacto na organização social, constitui um dos gran-des paradigmas que caracterizam o Bronze Final. A partir do pressuposto que a existência de recursos naturais propícios à actividade mineira foi aproveita-da automaticamente pelas comunidades do Sudoeste peninsular e esquecendo-se da quase ausência de da-dos concretos sobre a exploração directa de fílões de ouro, de prata, de cobre ou de estanho, neste período, ou sobre equipamentos relacionados com o processa-mento dos metais, apresentou-se a metalurgia como um importante factor económico e social (Garcia Sanjuán, 1999:52).
A valorização teórica do papel desempenhado pela metalurgia no desenvolvimento de uma área económica especializada ou de uma hierarquização social, que culminaria na afirmação de elites guer-reiras, contrasta de forma clara com a inexistên-cia de instrumentos metálicos relacionados com a agricultura, com a construção ou com o uso pessoal de cada individuo. Como refere Carlos Wagner, a maioria dos objectos metálicos correspondem a bens de prestígio “(...) estos bienes de prestigio no son en si riqueza sino su imagen, ya que la autentica ri-queza en estas sociedades la proporciona el control sobre los medios de producción mediante la redistri-bución y las alianzas matrimoniales (...) “ (Wagner, 1995:114).
Será num ambiente cultural formado por peque-nas comunidades, organizadas em pequenas chefatu-ras, e com uma vivência relacionada essencialmente com a agricultura, com a pastoricia e com uma me-talurgia reduzida e bem localizada, que os contextos arqueológicos abordados ao longo deste texto se vão provavelmente integrar.
BRONZE
32
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.2. Percursos de investigação
O conhecimento geral sobre a Idade do Bronze, no território em estudo, é escasso e pouco sistematiza-do, devido ao reduzido número de escavações arqueo-lógicas, às informações fragmentárias obtidas durante muitos anos de investigação arqueológica e à ausência de sínteses recentes, com sequências tipológicas de ma-teriais ou de arquitecturas, e com interpretações sobre a evolução social das comunidades autóctones. Embora, os recentes trabalhos de Rui Parreira (Parreira, 1995; Parreira, 1998), de A. Monge Soares (Soares, 1994a; Soares, 1996; Soares, Araújo, Cabral, 1994; Cardoso, Soares, Araújo, 2002; Soares, 2003) e o levantamento arqueológico da EDIA (EDIA, 1996; Silva, 1996) te-nham contribuído muito para o aumento substancial da informação sobre este período, o facto é que se man-têm muitas das lacunas observadas para as outras áreas do Sul do país, como já é sobejamente conhecido ( Jor-ge, 1990; Jorge, 1998; Senna-Martinez, 2002).
As primeiras informações associadas à Idade do Bronze18 reportam-se aos machados de pedra encon-trados na mina de Rui Gomes, que, em 1868, foram divulgados à comunidade científica, por intermédio de Pereira da Costa (Costa, 1868). No entanto, convém referir que a ausência de dados acerca dos contextos arqueológicos de onde são provenientes e a larga dia-cronia de utilização deste tipo de objectos, como re-fere aquele investigador, impede-nos de precisar com rigor o momento da sua utilização e de compreender o significado do seu uso na devida estrutura social e económica.
Seria outra notícia a despertar a atenção dos in-vestigadores e do público em geral, quando em 1931 foi publicada nos jornais a descoberta de um “tesouro” na Herdade do Álamo. Segundo a descrição do padre Jalhay, foi um trabalhador agrícola que ao cavar junto
de uma árvore, sentiu uma certa resistência na enxa-da, levando-o a retirar sucessivamente cinco jóias em ouro19 ( Jalhay, 1931:36).
O conjunto de peças da Herdade do Álamo é composto por três colares e por duas braceletes em ouro, que podem ser integrados cronologicamente no Bronze Final (Heleno, 1935:252), embora possam re-flectir estilos e técnicas de fabrico que evoluíram ao longo deste período até à Idade do Ferro e aos primei-ros contactos com os navegadores fenicios (Armbrus-ter et alii, 1993:74).
Apesar de muito recentemente Monge Soares relacionar estas peças com o povoado do Álamo (Soa-res, 2003:307), o facto é que a sua proveniência contex-tual permanece desconhecida, sendo qualquer tentati-va de enquadramento cronológico e cultural um mero exercício teórico, com base nos paralelos estilísticos das peças e nas técnicas de produção.
O primeiro trabalho de síntese arqueológica so-bre a ocupação antiga na margem esquerda do Gua-diana surgiu em 1942, com a apresentação das provas académicas de Fragoso de Lima, na Faculdade de Le-tras de Lisboa. Este texto, sob a orientação científica de Manuel Heleno, correspondeu a uma etapa muito importante na evolução dos estudos daquele investiga-dor, que desde muito cedo se preocupou em publicar pequenas notas informativas nos jornais locais, acerca de sítios arqueológicos relacionados essencialmente com os períodos pré-romano e romano, na região de Moura (Macias, 1988:9).
A Idade do Bronze foi abordada por Fragoso de Lima, numa perspectiva que valorizava o papel das jazidas metalíferas20 e dos instrumentos relacionados com a actividade mineira, as descobertas ocasionais (como os achados isolados21, como os tesouros22 ou as necrópoles de “influência argárica”) e uma leitura his-tórico culturalista do passado.
18 «Por este modo não fica precisamente determinada a época a que se refere a lavra d´estas minas com os martellos de pedra e outros utensilios, que com elles se acharam, porque póde, na opinião d´estes sábios, corresponder ao tempo que mediou entre edade da pedra polida e a do bronze, a esta mesma edade ou è época de transição do bronze ao ferro; mas em todo o caso refere-se a tempos anteriores aos históricos» (Costa, 1868;78).19 «Procurando verificar o que era, deu com um objecto metálico, de forma estranha, embora parecido com um diadema, como ao principio se julgou. Atrás deste, colheu outro e outro, e mais dois, ao todo cinco objectos, que depois duma limpe-za sumária, mostraram ser de oiro.» (Jalhay, 1931:36).20 Destaque para as referências antigas das minas de Ruy Gomes, Corujeira, Cabeça da Onça, Machados, Coutada e Adiça e para as descrições sobre poços, minas e superfícies de terreno na Serra da Adiça (Lima, 1988:51-52).21 Como o machado do Monte Branco, o machado do Morgado, o machado do Monte da Rola (Lima, 1988:54-55) e mais recentemente a alabarda da Herdade da Preguiça, o machado da Ferradura, o machado do Castro da Serra Alta (Lima, 1943).22 Conjunto de jóias da Herdade do Álamo, o conjunto de 3 machados em bronze e uma lança em bronze encontrados na Herdade dos Borrazeiros (Lima, 1988:54-55).
BRONZE
33
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A fase mais antiga da Idade do Bronze23 estaria representada na ponta de seta em cobre recolhida na Anta 2 do Touril, na ponta de seta em cobre encon-trada nas imediações da Anta da Preguiça e nos ins-trumentos encontrados na mina Ruy Gomes (Lima, 1988:53-54). Se as primeiras peças demonstram a reutilização de monumentos megalíticos, durante o processo de transição entre o Calcolítico Pleno (com materiais campaniformes) e o Bronze Antigo, para a prática de novas inumações, os materiais recolhidos na mina testemunham uma actividade económica (me-talurgia) sobre a qual, na realidade, ainda se conhece pouco.
O mesmo autor refere a existência de quatro necrópoles da Idade do Bronze, sendo duas de inu-mações e as outras de incineração. O primeiro conjun-to é constituído pelas cistas da Horta do Meio ou da Herdade de S. Catarina e pelas cistas da Herdade do Touril, sendo o nosso conhecimento sobre estes sítios muito reduzido, dado que em relação à primeira ne-crópole, Fragoso de Lima refere apenas a descoberta de sepulturas escavadas no solo, com paredes formadas por pequenas lajes de xisto, com grandes lajes de xisto a servirem de tampas e com enterramentos deposita-dos no seu interior, dobrados e com a cabeça no centro da sepultura24 (Lima, 1988:56-57). Da necrópole da Herdade do Touril, sabe-se apenas que não foram in-tervencionadas duas sepulturas e que nas restantes fo-ram descobertos enterramentos no seu interior (Lima, 1988:57).
Se as informações disponíveis sobre estas necró-poles de inumação são demasiado parcelares, a nossa leitura sobre as necrópoles de incineração tem de ser necessariamente mais cautelosa, porque Fragoso de Lima é menos objectivo na sua caracterização. Assim, a suposta necrópole dos Borrazeiros terá sido encon-trada junto ao já referido tesouro, pelo feitor da herda-de, que terá recolhido na necrópole alguns recipientes cerâmicos de colo estrangulado e de forma esférica (Lima, 1988:57). Após a observação destes achados, Fragoso de Lima encontrou semelhanças com outros recipientes recolhidos na Herdade do Touril, e sugeriu a existência de outra necrópole de incineração nas ter-ras desta herdade (Lima, 1988:57).
Sem conseguir distinguir as etapas cronológicas, a partir de achados isolados, de tesouros descontextua-
lizados e de necrópoles sem espólio funerário, Fragoso de Lima, divulgou uma massa de informação avulsa, que deve ser analisada com muita prudência, por não se conhecer a proveniência contextual dos achados e dos tesouros, por grande parte destes materiais ter de-saparecido e porque não foram realizados mais traba-lhos arqueológicos nas necrópoles, com vista à caracte-rização adequada dos dois agrupamentos de cistas e à confirmação da existência de rituais de incineração nos locais referidos.
Terminado o mais frutuoso ciclo de trabalhos de Fragoso de Lima, foi somente em 1947 que aparece-ram noticias sobre a descoberta de contextos da Idade do Bronze, mais concretamente com a publicação dos resultados da visita feita por Abel Viana, em 1943, ao Campo Experimental Agrícola de Vale Formoso (Via-na, 1947:3). Nesta deslocação ao concelho de Mértola, o investigador de Beja identificou dois núcleos de se-pulturas, na necrópole de Vale Formoso. O primeiro grupo era formado por oito sepulturas, estando seis já destruídas na altura da visita, enquanto que o segundo era constituído por seis sepulturas, também já destro-çadas.
A exploração das duas sepulturas ainda intactas, levada a cabo por Abel Viana, revelou duas “covas” pa-ralelas e orientadas no sentido E-O, aparentemente, sem revestimento de lajes de xisto, com uma cobertura formada por várias lajes, e sem qualquer tipo de espó-lio funerário ou vestígios dos corpos inumados (Viana, 1947:3-4). Perante a singularidade destas observações, não deixa de ser estranha a indicação de que as cistas não tinham as paredes revestidas, podendo esta situa-ção dever-se a violações antigas ou a uma deficiência no registo das realidades observadas.
Alguns anos mais tarde, na monumental obra realizada pelo casal Leisner sobre o megalitismo no Sudoeste peninsular, aparece a notícia da recolha de um punhal de cobre, em forma de lingueta, no monu-mento megalítico da Anta do Outeiro dos Bentinhos, no concelho de Moura (Leisner, Leisner, 1959:247, tf. 34). Tal como os artefactos metálicos recolhidos na Anta 2 do Touril e nas imediações da Anta da Pre-guiça, este punhal pode ser enquadrado na fase mais antiga da Idade do Bronze.
Na década de sessenta, são sucessivas as desco-bertas de novas necrópoles da Idade do Bronze. Assim,
23 Referida por Fragoso de Lima como Eneolítico.24 Convém ainda referir que perto desta necrópole foi encontrado um punção de cobre ou de bronze (Lima, 1943).
BRONZE
34
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
no concelho de Moura, o Padre José Rodrigues Lobato identificou, depois da abertura de um caminho para o Monte do Estanislau, uma necrópole com 13 sepultu-ras escavadas na rocha (Lobato, 1961:20).
O inicio dos trabalhos arqueológicos no Castelo da Lousa e as deslocações cada vez mais frequentes de Afonso do Paço ao concelho de Mourão, podem ter contribuído decisivamente para o registo e para a divulgação das necrópoles da Herdade da Queijeirinha (Paço, Leal, 1962a; Paço, Leal, 1963) e da Herdade da Folha das Palmeiras (Paço; Leal, 1962b).
Segundo os relatos transcritos, a necrópole da Queijeirinha seria formada por cerca de 30 sepulturas, com espólio arqueológico e com vestígios de inuma-ções, que foram totalmente destruídas pelos tractores agrícolas antes do seu registo arqueológico (Paço, Leal, 1962a:538).
No ano seguinte à sua divulgação, os mesmos investigadores deslocaram-se de novo à Herdade da Queijeirinha para reconhecerem a existência de mais uma cista (Paço, Leal, 1963:69). Quando lá chegaram, a cista já tinha sido aberta pelos trabalhadores agrí-colas, que recolheram no seu interior um recipiente cerâmico.
A exploração arqueológica realizada por Afonso do Paço e Bação Leal permitiu ainda a descoberta de um punhal de cobre25 e registar a arquitectura da se-pultura, que consistia em quatro lajes de xisto, dispos-tas verticalmente, sobrepostas por uma laje de xisto, e assentes sobre pequenas valas abertas no afloramento. O espaço que separava as lajes e as paredes das valas encontrava-se supostamente preenchido com barro amassado (Paço, Leal, 1963:70-71).
A necrópole da Herdade das Palmeiras encon-trava-se implantada num terreno ligeiramente inclina-do, sendo constituída por dois núcleos de cistas (um formado por quatro unidades e outro por três sepul-turas), e foi descoberta durante o arroteamento agrí-cola de um terreno que era propriedade de Bação Leal (Paço, Leal: 1962b: 339).
No momento da visita de Afonso do Paço e Ba-ção Leal26, do primeiro grupo só restava conservada uma sepultura, encontrando-se as outras já destruídas, tendo sido apenas identificadas algumas lajes de xisto à superfície do terreno (Paço, Leal: 1962b: 341). A sua exploração arqueológica levou à identificação de um pequeno espaço delimitado por quatro lajes de xisto (duas longitudinais e duas transversais).
Tal como na cista da Queijeirinha, os arqueólo-gos identificaram uma camada de barro a ligar as lajes de xisto e o limite da rocha escavada, embora desta vez os dados não sejam objectivos em relação à forma de como foi cortada a rocha-base, ou seja, se foram abertos pequenos rasgos ou se foi escavado um buraco, no qual foram colocadas as quatro lajes (Paço, Leal: 1962b: 340).
No interior da sepultura havia ossos de um indi-víduo adulto, já muito destruídos, e não foram identi-ficados vestígios do respectivo espólio funerário. Nas restantes sepulturas, recolheram-se dois pequenos re-cipientes cerâmicos (Paço, Leal: 1962b: 340).
Três anos após ter sido divulgada a noticia so-bre a descoberta da necrópole da Folha das Palmei-ras, Afonso do Paço apresentou um novo conjunto de cistas no concelho de Mourão, nomeadamente a ne-crópole do Monte da Ribeira27 (Paço, Ribeiro, Franco, 1965). A deslocação de Abel Viana e de Fernando Nu-nes Ribeiro à Herdade do Monte da Ribeira permitiu--lhes a recolha de dois recipientes cerâmicos, que de-veriam fazer parte do espólio funerário de duas ou de três cistas, postas a descoberto por um tractor agrícola (Paço, Ribeiro, Franco, 1965: 150).
As três necrópoles publicadas por Afonso do Paço foram consideradas como uma manifestação re-lacionada com o mundo argárico e enquadradas cul-turalmente no denominado Bronze II mediterrânico de Santa Olalla (Santa Olalla, 1946) ou no Bronze II Hispânico de Martin Almagro (Almagro Basch, 1960:764). Em concordância com os investigadores espanhóis, Afonso do Paço defendeu o difusionismo
25 Estes dois autores referem a recolha de um punhal de bronze (Paço, Bação, 1963:60), no entanto como os materiais de bronze só surgem no Sudoeste em contextos arqueológicos no Bronze Final (Soares et alii, 1996:561; Cardoso, Soares, Araú-jo, 2002:94), alterou-se a informação transmitida por A. Paço e Bação Leal, em conformidade com a descrição de H. Schubart (Schubart, 1975:267).26 A necrópole surgiu em 1960 e a visita ocorreu em 19 de Novembro de 1961 (Paço, Leal, 1962b).27 A necrópole do Monte da Ribeira seria intervencionada nos anos de 1999 e de 2000, no âmbito do plano de minimização de impacte ambiental da Barragem do Alqueva. A escavação integral de três cistas permitiu relacionar duas delas (Sepulturas 1 e 2) com as explorações realizadas em meados década de 60, dado que estas revelam sinais de revolvimentos recentes nos contextos funerários.
BRONZE
35
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
argárico como explicação para a proliferação deste tipo de contextos funerários pelo Alentejo e pelo Algarve (Paço, Ribeiro, Franco, 1965: 151).
No inventário de sítios realizado para o Museu Municipal de Serpa, Irisalva Moita refere somente a descoberta de artefactos metálicos no sítio da Car-rasca (apontado como eventual povoado da Idade do Bronze) e a existência de quatro necrópoles argáricas28, sendo a necrópole das Altas Moras29 o único conjunto inédito (Moita, 1965). Apesar de localizar esta necró-pole, a autora não revelou as suas fontes de informação, nem descreveu o sítio, não sendo possível, por esse mo-tivo, caracterizar melhor esta necrópole no momento da sua descoberta.
No início dos anos setenta, Octávio da Veiga Ferreira apresentou um conjunto formado por 16 ar-tefactos metálicos encontrados numa colecção de ma-teriais pré-históricos, pertencentes a Manuel Heleno, que estavam depositados no Museu Nacional de Ar-queologia e que se supõe serem provenientes do po-voado do Outeiro de S. Bernardo, situado no concelho de Moura (Ferreira, 1971:139).
Os utensílios e as armas do Outeiro de S.Bernardo foram recentemente discutidos e pro-blematizados, a pretexto da divulgação do caderno de campo de Manuel Heleno e da análise química não destrutiva daqueles artefactos metálicos (Cardo-so, Soares, Araújo, 2002). Neste último texto, os seus autores não só acrescentam mais três exemplares ao agrupamento original, como defendem a ideia de que o conjunto é culturalmente homógeneo, com a ex-cepção da ponta de lança de alvado, e que pode ser integrado cronologicamente numa fase tardia do cal-colítico ou nos inícios da Idade do Bronze (Cardoso, Soares, Araújo, 2002:100-101).
Para além dos objectos metálicos, a cerâmica cam-paniforme do Outeiro de S. Bernardo mereceu igual destaque, tendo sido divulgados por Thomas Bubner dez exemplares com decoração incisa (quatro recipien-tes, três bojos e um fundo) e um bojo com decoração penteada (Bubner, 1979:140-141). Estes vasos encon-tram-se associados a cerâmica comum lisa, a pontas de seta, em sílex, a lâminas de sílex, a pesos de tear do tipo crescente, constituindo um conjunto artefactual comum nos povoados calcolíticos do Sudoeste Peninsular com ocupações tardias, como é caso dos Perdigões (Lago
et alii, 1998), do Porto Torrão (Arnaud, 1982), ou do Monte do Tosco (Valera, 2000).
A segunda metade dos anos sessenta e década de setenta ficou também marcada pelos importantes trabalhos realizados e sistematicamente divulgados por H. Schubart. Este investigador alemão não só contribuiu para o conhecimento de importantes sí-tios arqueológicos, dos quais se destaca a necrópole monumental da Atalaia (Schubart, 1964a; Schubart, 1964b; Schubart, 1965), como procedeu à organiza-ção de dados sobre a Idade do Bronze, no Sudoeste Peninsular, criando um importante sistema teórico sobre a evolução da denominada Cultura do Bronze do Sudoeste.
Não sendo este o momento indicado para ana-lisar a importância dos seus trabalhos, quer ao nível técnico, quer ao nível da investigação, convém apro-fundar a informação recolhida e apresentada por este investigador, sobre a Idade do Bronze na margem es-querda do Guadiana, bem como, o seu enquadramento no modelo teórico criado.
A abordagem teórica ao complexo processo de continuidade entre as comunidades calcolíticas e os grupos do Bronze Antigo teve uma enorme evolução conceptual, quando H. Schubart concebeu o Hori-zonte da Ferradeira, no qual integra a lâmina de cobre encontrada na anta do Outeiro dos Bentinhos (Schu-bart, 1971:204). Segundo o autor, esta nova entidade cultural tem muitas semelhanças com a cultura cam-paniforme, mas a presença de recipientes cerâmicos sem decoração campaniforme sugere a existência de uma evolução no espólio usado nos rituais funerários e justifica a hipótese do Horizonte da Ferradeira pre-ceder a Cultura do Bronze do Sudoeste (Schubart, 1971:211-214).
No âmbito dos estudos sobre o Bronze do Su-doeste, Schubart publica, em 1974, os materiais reco-lhidos na necrópole de Belmeque (Schubart, 1974a). Embora o autor do texto não tenha inicialmente visi-tado o local, a descrição feita pelo seu emissário ( Jorge Paulino Pereira) revela a existência de uma gruta artifi-cial, com uma câmara, de 2 x 1.5m de diâmetro e cerca de 1m de altura, com um pequeno corredor diagonal e com uma entrada, orientada para Noroeste, tapada por um grande bloco (Schubart, 1974a:68; Schubart, 1974b:366).
28 Necrópole da Folha das Palmeiras, de Vale Formoso, Monte do Estanislau e das Altas Moras.29 A necrópole das Altas Moras seria intervencionada no ano de 1998, no âmbito do plano de minimização de impacte ambiental da Barragem do Alqueva.
BRONZE
36
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
No interior da câmara, a sudeste da entrada, “(...) teriam jazido, numa elevação, os ossos.” (Schubart, 1974a:69). As várias explorações realizadas no interior da sepultura, antes da sua completa destruição, rende-ram um singular recipiente cerâmico, decorado com dois canudos e com estrias largas na parede superior do vaso, de pastas finas; uma faca de cobre, com quatro buracos de rebites (dois deles de prata, ainda no lugar, um solto e outro desaparecido); oito botões de prata (Araújo, Alves, 1994:187); uma lâmina de punhal, com dois buracos de rebites e ainda um rebite conservado; uma lâmina de punhal, com quatro rebites ainda pre-servados; e por fim, um conjunto de ossos pertencentes a uma ou a duas inumações (Schubart, 1974a:68-69).
A singularidade do ritual funerário praticado em Belmeque não deixa de ser intrigante, sendo necessá-ria alguma cautela na leitura da informação disponível. Assim, segundo os dados divulgados, não é nada claro se os dois corpos (Oliveira, 1994:185) foram encon-trados in situ ou se estavam descontextualizados, como parece ser o caso; tal como, não é possível determinar se os ossos correspondiam a inumações primárias ou inumações secundárias, do tipo ossário. Da mesma forma, não é evidente a relação dos materiais arqueo-lógicos exumados, inclusive os vestígios de bovídeo, com aqueles dois enterramentos, não sendo possível determinar com rigor se aqueles objectos fazem parte do espólio original que acompanhava aqueles mortos.
Ao valorizar-se a contextualização dos elementos materiais recolhidos, põe-se naturalmente em causa a associação estabelecida entre as datas de radiocarbo-no30, obtidas a partir dos ossos humanos, com aqueles materiais arqueológicos. Assim, considera-se a hipóte-se dos contextos arqueológicos intervencionados, sem qualquer rigor metodológico de escavação, poderem eventualmente corresponder a um palimpsesto cultu-ral, sendo as ossadas de cronologia mais antiga e os materiais arqueológicos representativos de um período mais recente, provavelmente do Bronze Final.
No ano seguinte, em 1975, Schubart publica os resultados da sua investigação sistemática sobre a Cultura do Bronze do Sudoeste (Schubart, 1975), que ainda hoje prevalecem como um dos principais textos para o estudo da Idade do Bronze, devido sobretudo ao seu corpus de sítios arqueológicos e aos respecti-vos conjuntos materiais. Neste corpus, o autor refere a existência de dez necrópoles de cistas, sendo três iné-ditas31, e cinco locais onde foram recolhidos achados isolados32, no território da margem esquerda do Gua-diana (Schubart, 1975).
Das necrópoles da Aldeia Nova de S. Bento e de Santa Justa, Schubart refere somente a sua existên-cia (informação transmitida oralmente por António Monge Soares e por Bento Castelhano, respectiva-mente), não procedendo à sua caracterização (Schu-bart, 1975:257-258). Já no caso da Atalaia de Mértola, é descrita uma cista de xisto, com uma orientação NO--SE (Schubart, 1975:245, Tf. 8g). Em relação às ou-tras necrópoles, destaca-se somente a apresentação de materiais inéditos provenientes da necrópole das Altas Moras (Schubart, 1975:259, Tf. 43).
Integrado num enquadramento teórico, de natu-reza histórico-culturalista, onde se destaca a identifica-ção de uma unidade cultural com uma região, que re-presenta o somatório de elementos materiais comuns a sítios arqueológicos da mesma tipologia arquitectónica e durante um determinado período de tempo, Schu-bart sistematiza o conceito do Bronze do Sudoeste33, aprofundando as propostas de Fernando Nunes Ri-beiro, que distingue o Bronze Meridional Português (Ribeiro, 1965).
A fase seguinte da investigação arqueológica é marcada pelo importante contributo de Rui Parreira e essencialmente de A. Monge Soares, que introduzi-ram um novo conjunto de abordagens teóricas e me-todológicas (Soares, 1976/77; Parreira, Soares; 1980; Parreira, 1983; Soares, 1984; Soares, 1986; Soares, Araújo, Cabral, 1994), bem como, apresentaram dados
30 1525-1424 cal AC (1 d) e 1627-1395 cal AC (2 d), com intercepção de curva em 1510 cal AC (Soares, 1994:183).31 Necrópole da Atalaia de Mértola, necrópole da Aldeia Nova de S. Bento e a necrópole de Santa Justa. As restantes são as seguintes: necrópole da Queijeirinha, necrópole do Monte da Ribeira, necrópole da Folha das Palmeiras, necrópole do Mon-te do Estanislau, necrópole das Altas Moras, necrópole de Vale Formoso e necrópole de Belmeque.32 A foicinha de Mértola (Mértola), o punhal dos Machados (Moura), as duas espadas de Safara (Moura), o tesouro da Serra dos Borrazeiros (Moura) e o recipiente do Castro da Serra Alta (Moura).33 “Tampoco hay ningún yacimiento que caracterice bien todas las facetas de esta cultura – ni siquiera Atalaia – para que la pudiera dar el nombre, como lo hace El Argar, para el bronce del sudeste. Se propone como solución una designación «La Cultura de la Época del Bronce en el sudoeste de la Península Ibérica» o abreviando el uso más fácil: «Bronce del Sudoes-te»” (Schubart, 1974b:356).
BRONZE
37
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
inéditos sobre necrópoles e povoados, alguns dos sítios entretanto escavados por estes investigadores, nos con-celhos de Serpa e de Moura.
Entre a segunda metade dos anos setenta e o fi-nal da década de 80, foram publicados os resultados das intervenções arqueológicas realizadas na cista do Carapetal34 (Soares, 1976/1997), na cista do Monte de Santa Justa (Soares, 1984), e também nos povoados de S. Brás (Parreira, 1983) e do Passo Alto (Soares, 1986; Soares, 2003).
A divulgação científica destes sítios reflecte uma preocupação especial com o registo de povoados do Bronze Final, na continuidade do estudo realizado para a zona de Beja (Parreira, Soares; 1980) e com a realização de escavações arqueológicos de emergên-cia, como forma de recolher o máximo de informação possível antes da destruição do património histórico e arqueológico.
As cistas do Monte de Santa Justa e do Carape-tal (Serpa) foram intervencionadas, em 1970, no âmbi-to de impactes patrimoniais negativos provocados pe-los trabalhos agrícolas. Na primeira sepultura, apesar de ter sido parcialmente destruída, foi ainda possível identificar uma cista de xisto, de forma trapezoidal, que continha no seu interior vestígios da inumação de um indivíduo e um recipiente cerâmico (Soares, 1976/77:33).
A sepultura do Carapetal era formada por uma laje de cobertura, em grauvaque, que cobria um pe-queno espaço funerário, limitado por quatro lajes de grauvaque. Esta cista tinha uma forma trapezoidal e estava orientada no sentido nascente-poente. No seu interior, os investigadores recolheram os restos de um individuo adulto, disposto em posição flectida, do sexo masculino e de idade jovem, bem como, a lâmina de um punhal de cobre, com um rebite ainda in situ, e um recipiente cerâmico (Soares, 1984:275).
A informação respeitante ao povoado de S. Brás 1 está reduzida à publicação sumária dos resultados das primeiras campanhas de escavação (Parreira, 1983). Neste texto, são consideradas as hipóteses da fase de ocupação calcolítica se prolongar até ao Bronze Inicial
e de existir uma ocupação no Bronze Final, caracte-rizada pela presença de um conjunto de estratos com fragmentos de cerâmica de ornatos brunidas e vasos de carena média (Parreira, 1983:154, fig.12).
Do povoado do Passo Alto (Serpa), apenas se conhecem alguns materiais arqueológicos recolhi-dos à superfície do terreno e no decorrer das duas campanhas de escavações executadas naquele local (Soares, 1986; Soares, 2003). A partir da observação tipológica dos fragmentos cerâmicos recolhidos, das respectivas pastas e do seu tratamento de superfícies, aquele investigador integra este povoado no Bronze Final (Soares, 1986:98).
A datação proposta para os possíveis “cavalos de frisa” não deixa de ser problemática, como refere o próprio Autor (Soares, 1986: Soares, 2003), sendo ne-cessário prosseguir os trabalhos no povoado para ob-ter contextos arqueológicos que permitam relacionar estratigraficamente aqueles elementos arquitectónicos à fase de ocupação do Bronze Final, como parece ser o caso.
A última década do segundo milénio é caracte-rizada pelos trabalhos de Monge Soares (divulgação de dados e realização de escavações arqueológicas), na região de Serpa e de Moura (Ribeiro, Soares, 1991; Soares, 1994; Soares, 1998), pela publicação da Carta Arqueológica de Serpa (Lopes et alii, 1997), na qual são apresentadas treze novas necrópoles35 e quatro povoados inéditos da Idade do Bronze36, pelos resultados obtidos no decorrer do Estudo de Impac-te Ambiental37 realizado na Herdade dos Cachopos (Arnaud et alii, 1990) e, por fim, pelo desencadear do processo de minimização patrimonial da Barragem do Alqueva (EDIA, 1996; Silva, 1999).
A sepultura da Herdade do Montinho foi desco-berta, em 1977, devido à acção das máquinas agrícolas, tendo sido de imediato escavada por quem a desco-briu. Nesta exploração, recolheram-se dois recipientes cerâmicos e alguns ossos pertencentes a um individuo Alguns meses mais tarde, Monge Soares realizou a cri-vagem das terras provenientes do interior da cista e registou a sua arquitectura (Ribeiro, Soares, 1991:287).
34 Este monumento também é referido na bibliografia como cista da Aldeia Nova de S. Bento (Serpa).35 Margalhos 1 e 2; Cortesilhas; Covão; Aldeia Velha; Sobralinho 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As necrópoles de João de Matos de Cima 1e 2 foram identificadas por Monge Soares e apresentadas nesta Carta Arqueológica.36 Povoado do Laço, Casa Branca 1, Pulo do Lobo e Espinhaço.37 Convém ainda referir que foram registados três eventuais habitats (Herdade do Cerro Alto 12, Cerro da Oliveira do Cor-vo e Cerro da Forca), referidos como sendo da Idade do Bronze (ENDOVÉLICO; 2004), mas face aos reduzidos vestígios encontrados e divulgados, até ao momento optou-se por não os considerar neste estudo, sendo necessário aguardar os resultados de mais trabalhos arqueológicos, sobretudo no caso do Cerro da Forca.
BRONZE
38
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tal como a sepultura do Montinho, a sepultura do Barranco Salto, identificada em 1976, também foi violada no momento da sua descoberta. A crivagem dos sedimentos provenientes do interior da cista, realizada por Monge Soares, revelou somente alguns fragmentos de duas taças tipo Atalaia (Soares, 1994).
A necrópole do Talho do Chaparrinho era for-mada por três sepulturas. A sepultura 1 foi encontrada e destruída em 1970, não existindo qualquer tipo de registo acerca da sua natureza. A sepultura 3 consistia numa cista trapezoidal, construída com lajes de xisto, que terá sido explorada, sem que se conheça os resulta-dos dessa violação. A sepultura 3 destaca-se pela pre-sença de um pequeno tumulus, que envolvia a cista. O interior do espaço funerário já se encontrava revolvido, tendo Monge Soares recolhido apenas alguns restos de ossos e vários fragmentos de cerâmica, provenientes das terras do tumulus (Soares, 1994:181).
Já em finais dos anos noventa, o mesmo inves-tigador escavou as duas cistas de Margalhos 2 (ou necrópole dos Bugalhos, como prefere denominar Monge Soares), nas quais encontrou três recipientes cerâmicos completos, aparentemente in situ (cista 1), outro conjunto formado por dois vasos cerâmicos e duas lâminas de punhal, também, provavelmente, in situ (Soares, 1998).
Mais recentemente, após a viragem do milénio, foi escavada a necrópole dos Carapinhais, que se dis-tingue claramente das restantes até agora interven-cionada, devido à presença de um tumulus central, ao qual adossam outras estruturas tumulares, de menores dimensões (Soares et alii, 2001; Soares et alii, 2002).
Independentemente destes trabalhos, uma equi-pa de arqueólogos, coordenada por José Morais Ar-naud, registou na Herdade do Monte dos Cachopos (Mértola), os vestígios de seis necrópoles e uma cista isolada, que, com a devida cautela, também podem ser enquadradas no período em estudo. Deste agrupa-mento, destacam-se as necrópoles dos Cachopos 1, 2, 5 e 6138, devido à provável existência de sepulturas com tumulus, do tipo Atalaia (Arnaud et alii, 1990; Arnaud, et alii, 1991).
Embora não tenha sido realizado o registo grá-fico das últimas duas necrópoles, no que diz respeito aos Cachopos 1, foi possível verificar, numa planta de
superfície39, a presença de um tumulus central, com uma cista, ao qual deve encostar outro tumulus, com outra cista. No prolongamento destas duas sepulturas, identificou-se mais uma cista, não sendo visível qual-quer tipo de estrutura tumular.
As necrópoles inéditas constantes na Carta Ar-queológica de Serpa caracterizam-se sobretudo pela inexistência de escavações arqueológicas, pela violação de algumas cistas (Margalhos 3, Covão, Sobralinho 3) e pela destruição de outras (necrópole da Aldeia Velha e de João de Matos de Cima 2) (Lopes et alii, 1997).
Como seria de esperar de informações recolhidas a partir do registo de superfície, a integração cultural destes e de outros monumentos é muito complexa, dada a ausência de contextos escavados e de materiais que possibilitem enquadrar cronologicamente o mo-mento de construção e utilização das sepulturas. Pe-rante a escassez de dados mais concretos, considera-se este conjunto de sítios, como actual base de trabalho, e como uma possível unidade cultural sincrónica, ge-nericamente enquadrada no Bronze Pleno, a partir da qual se pode valorizar o tipo de monumento, a forma de implantação na paisagem e a respectiva arquitectura.
Para além das necrópoles, são apresentados na Carta Arqueológica de Serpa dois povoados fortifica-dos e outro povoado sem vestígios de muralha, mas implantado num local com defesas naturais, que foram situados no Bronze Final/Idade do Ferro, (Laço, Pulo do Lobo 1, Espinhaço, respectivamente), bem como, uma mancha de materiais datados do Bronze Final, no sítio da Casa Branca (Lopes et alii, 1997).
Apesar da ausência de contextos arqueológicos escavados nestes sítios e da natural imprecisão das leituras realizadas a partir de materiais e de estrutu-ras observadas à superfície do terreno, considera-se a hipótese destes fazerem parte de uma mancha de povoamento do Bronze Final composta por povoa-dos já conhecidos como o de Pantufe (Soares, 1986: fig.2), Passo Alto (Soares, 1986; Soares, 2003), S. Brás 1 (Parreira, 1983), Azenha da Misericórdia (Parreira, 1986; Soares, 1986), Vila Verde de Ficalho 1 (Soares, 1996, entre outros), Serpa (Soares, Braga, 1986) San-ta Margarida 1 (Soares, 1986) ou Castelo da Crespa (Soares, 1996).
A minimização dos impactes patrimoniais ne-gativos provocados pela construção da Barragem do
38 Optou-se pela numeração constante na Base de Dados do Instituto Português de Arqueologia (ENDOVÉLICO, 2004).39 Agradece-se a Jacinta Bugalhão o facto de ter mostrado gentilmente a planta deste monumento.
BRONZE
39
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Alqueva levou à identificação e escavação de três ne-crópoles da Idade do Bronze, na margem esquerda do Guadiana (Monte da Ribeira 2, Altas Moras 2 e Mon-te Novo) e ao registo da cista da Boavista, situada junto ao Alcarrache. Embora já existisse informação sobre os dois primeiros cemitérios (Paço, Ribeiro, Franco, 1965; Moita, 1965), as intervenções arqueológicas realizadas, entre 1999 e 2001, pelas equipas da ERA-Arqueologia, contribuiram para a identificação de três sepulturas no Monte da Ribeira 2, duas das quais já anteriormente exploradas (vide supra), e de duas cistas nas Altas Mo-ras 2 (vide supra).
Na necrópole do Monte Novo escavaram-se duas cistas, tendo sido uma delas já explorada, enquan-to a cista da Boavista foi aparentemente destruída, sem que se tivesse realizado o registo arqueológico comple-to. Desta forma, segundo o texto apresentado a sepul-tura possuía uma planta rectangular, existindo restos osteológicos humanos nas terras provenientes do seu interior (Canhão, 2000).
No que diz respeito aos povoados da margem esquerda, identificaram-se contextos domésticos no Monte do Tosco 1, onde se recolheram recipientes cerâmicos com decoração campaniforme e alguns vasos de colo estrangulado (Valera, 2000b). No sítio dos Serros Verdes 3 foi recolhido um recipiente ce-râmico acampanado, mas sem decoração campanifor-me (Lago, 1999), no povoado do Porto das Carretas também se encontraram recipientes campaniformes (Silva, Soares, 2002), tal como no povoado do Moinho de Valadares (Valera, 2000a) foi identificado um nível arqueológico com recipientes cerâmicos que podem ser enquadrados no Bronze Pleno, nomeadamente o fragmento de uma taça tipo Atalaia e outros três frag-mentos de taças de carena acentuada40.
Segundo informação pessoal do responsável por aquela intervenção41, a taça do tipo Atalaia encontra--se no mesmo depósito, de onde foram exumados al-guns ossos humanos (dentes e fragmentos cranianos), pertencentes a um indivíduo adulto, provavelmente de idade avançada (Duarte, 1999). A inumação de indi-víduos, mais concretamente de pacotes de ossos, em povoados mais antigos, consiste numa prática já obser-vada no povoado calcolítico do Monte Novo dos Al-bardeiros (Gonçalves, 1988/89), e constitui mais uma variante aos rituais funerários.
No âmbito da mesma acção de minimização patrimonial, pode-se ainda referir a identificação, na margem direita do Guadiana, de uma inumação se-cundária na Anta do Chão da Pereira, datada da Idade do Bronze, devido à presença de um punhal de rebites e de dois recipientes cerâmicos (Vilhena, 2000:26).
A informação disponível sobre os povoados in-tervencionados na margem direita é claramente dís-par, assim, se é possível verificar a existência de uma ocupação do Bronze Final no povoado da Rocha da Vigia 2, com taças abertas, de carena média, (Vilhe-na, 1999), é necessário aguardar pela publicação final dos resultados obtidos nos sítios do Cocos 12 (Calado, Ribeiro, 2000), Outeiro 2 (Calado, Mataloto, 2001), Rocha da Vigia 1 (Ambrona, 2000) e abrigo da Rocha da Moura (Correia, 2002) para compreender melhor a organização e funcionalidade destes sítios e a cro-nologia atribuída pelos vários autores (Correia, 2002; Calado, 2002).
Concluindo, o conhecimento existente sobre a Idade do Bronze, na margem esquerda do Guadiana, é proveniente de uma grande diversidade de fontes, resulta de trabalhos arqueológicos realizados em ne-crópoles, povoados ou de achados ocasionais, e tem naturalmente diversos níveis de interpretação.
O nível mais reduzido de leitura interpretativa é aquele que está condicionado pelo registo de sítios arqueológicos destruídos, especialmente as necrópoles de cistas, dos quais pouco ou nada se conhece, como é caso da cista da Boavista, da necrópole da Aldeia Ve-lha, de João de Matos de Cima 2, de Cachopos 12, ou mesmo, da necrópole do Monte do Estanislau e dos grandes conjuntos da Queijeirinha ou da Folha das Palmeiras. Assim, na maioria destes casos, reconhece--se apenas a sua existência, a possível localização e o eventual número de cistas.
O nível seguinte encontra-se limitado pelos achados ocasionais e pelos sítios identificados em pros-pecções, através da recolha de materiais arqueológicos ou da observação de estruturas arquitectónicas. No primeiro conjunto é possível caracterizar a morfolo-gia do objecto, as técnicas utilizadas na sua produção e atribui-lhe uma cronologia genérica, como é o caso das conhecidas “Jóias do Álamo”, dos machados de bronze da Herdade dos Borrazeiros ou a alabarda da Herda-de da Preguiça, mas a ausência de informação sobre o
40 Estes últimos fragmentos encontravam-se integrados num depósito de superfície, possivelmente distantes do seu contexto primário.41Agradece-se a António Valera a gentileza de ter facultado estes importantes dados.
BRONZE
40
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
local exacto da sua descoberta e sobre os contextos ar-queológicos de proveniência, pode suscitar discussões intermináveis acerca do seu significado cultural.
Os sítios arqueológicos identificados em pros-pecções arqueológicas, sobretudo aqueles que resul-tam de trabalhos recentes (como é caso do EIA rea-lizado na Herdade do Monte dos Cachopos), podem ser importantes para localizar a presença humana na paisagem e estabelecer modelos teóricos de povoa-mento, bem como, para observar estruturas arqui-tectónicas visíveis à superfície do terreno, como as várias necrópoles de cistas existentes no concelho de Serpa45.
Da mesma forma, o importante trabalho de cam-po desenvolvido por Monge Soares tem contribuído
positivamente para a divulgação de materiais arqueo-lógicos recolhidos à superfície de povoados datados do Bronze Final e da Idade do Ferro46. No entanto, a ausência de escavações arqueológicas na maioria destes sítios ou a reduzida área intervencionada, não permi-te obviamente caracterizar com precisão o seu tipo de ocupação, nem estabelecer a sua diacronia.
O terceiro nível interpretativo distingue-se pela informação resultante de observações47 e de interven-ções arqueológicas antigas. Embora a metodologia de registo seja, em alguns casos pouco ou nada rigorosa, como no caso da necrópole de Vale Formoso, da Her-dade do Touril ou da Herdade de Dona Catarina, o facto é que podem ser obtidos dados muito úteis so-bre as técnicas usadas na construção das sepulturas ou
Tabela 1Sitios da Idade
do Bronze intervenciona-
dos durante a minimização
do Alqueva
Designação Tipo de sítio Cronologia Bloco
Cocos 12 42 Habitat Bronze Final 8
Outeiro 2 Habitat Bronze Final 8
Rocha do Vigio 1 43 Habitat Idade do Bronze 4
Rocha do Vigio 2 Habitat Bronze Final 4
Abrigo de Rocha da Moura Habitat Idade do Bronze 4
Anta de Chão da Pereira Necrópole Bronze Antigo 7
Porto das Carretas Habitat Calcolítico/Bronze Antigo
Serros Verdes 3 Habitat Calcolítico/Bronze Antigo 5
Monte do Tosco 1 44 Habitat Calcolítico/Bronze Antigo 5
Moinho de Valadares Habitat Calcolítico/Bronze Pleno/Bronze Final 5
Cista da Boavista Necrópole Idade do Bronze
Monte da Ribeira 2 Necrópole Bronze Pleno 9
Altas Moras 2 Necrópole Bronze Pleno 9
Monte Novo Necrópole Bronze Pleno 9
42 Os sítios de Cocos 12 e do Outeiro 2 foram intervencionados no âmbito do Bloco 8 (Calado, 2002).43 Os sítios da Rocha do Vigio 1 e 2 e do abrigo da Rocha da Moura foram escavados no âmbito do Bloco 4 (Correia, 2002). O habitat da Rocha do Vigio 2 seria igualmente intervencionado pela equipa do Bloco 8 (Calado, 2002) e a anta de Chão da Pereira foi escavada no âmbito do Bloco 7 (Correia, 2002).44 Os povoados do Monte do Tosco e do Moinho de Valadares serão apresentados no âmbito do Bloco 5 (Valera, 2002). Enquanto que as necrópoles do Monte Novo, Monte da Ribeira 2 e das Altas Moras 2 serão analisadas pela equipa do Bloco 9 (Albergaria, Melro, 2002).45 Margalhos 3, Cortesilhas, João de Matos de Cima 1, Covão e Sobralinho 3, 4, 5, 6, 7 e 8.46 «Crespa, Misericórdia, S. Brás 1, Passo Alto, Serra Alta, Ratinhos, Álamo, Laço, Casa Branca, Quinta do Pantufo, Santa Marga-rida» (Soares, 2003:308, Fig.19).47 Das quais resultou o registo da existência da cista da Atalaia de Mértola, das reutilizações recentes da anta da Preguiça, da anta 2 do Touril e do monumento do Outeiro dos Bentinhos.
BRONZE
42
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 2 – Necrópoles da Idade do Bronze na margem esquerda do Guadiana
Designação Tipo de sepultura Cronologia Nº Sepulturas Concelho
Outeiro dos Bentinhos Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Anta 2 do Touril Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Anta da Preguiça Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Moinho de Valadares Povoado Calcolítico
e Bronze pleno Desconhecido Mourão
Monte do Estanislau Conjunto de cistas Indeterminado 13 Moura
Monte Novo Cistas com tumuli Bronze Pleno 2 Moura
Altas Moras 2 Conjunto de cistas Bronze Pleno 2 Moura
Cista da Boavista Cista isolada Indeterminado 1 Mourão
Monte da Ribeira Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Mourão
Herdade Dona Catarina Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Moura
Carapinhais Cistas com tumuli Bronze Pleno 4 Moura
Herdade do Touril Conjunto de cistas Indeterminado 2 Moura
Herdade da Queijeirinha Conjunto de cistas Bronze Pleno 30 Mourão
Folha das Palmeiras Conjunto de cistas Bronze Pleno 7 Mourão
Monte de Santa Justa Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Belmeque Gruta artifi cial Bronze Final 2 Serpa
Cista do Carapetal Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Barranco Salto Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Talho do Chaparrinho Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Serpa
Herdade do Montinho Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Margalhos 2 ou Bugalhos Conjunto de cistas Indeterminado 2 Serpa
Margalhos 3 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Cortesilhas Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
João de Matos de Cima 1 Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Serpa
João de Matos de Cima 2 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Covão Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Aldeia Velha Conjunto de cistas Indeterminado 20 Serpa
Sobralinho 3 Conjunto de cistas Indeterminado 7 Serpa
Sobralinho 4 Conjunto de cistas Indeterminado 3 Serpa
Sobralinho 5 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 6 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 7 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 8 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Cachopos 1 Cistas com tumuli Bronze Pleno 3 Mértola
Cachopos 2 Cistas com tumuli Bronze Pleno Desconhecido Mértola
Cachopos 3 Cistas isolada Indeterminada 1 Mértola
Cachopos 4 Conjunto de cistas Indeterminada 2 Mértola
Cachopos 5 ou Cerro da Viola Conjunto de cistas Indeterminada 10 Mértola
Cachopos 6 Cistas com tumuli Bronze Pleno 2 Mértola
Cachopos 10 Conjunto de cistas Indeterminada Desconhecido Mértola
Vale Formoso Conjunto de cistas Indeterminado 14 Mértola
Atalaia de Mértola Cista isolada Indeterminado 1 Mértola
Outeiro dos Bentinhos Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido MouraOuteiro dos Bentinhos Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Anta 2 do Touril Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura Anta 2 do Touril Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Anta da Preguiça Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura Anta da Preguiça Anta reutilizada Bronze Antigo Desconhecido Moura
Moinho de Valadares Povoado Calcolítico Moinho de Valadares Povoado Calcolítico
e Bronze pleno Desconhecido Mourão e Bronze pleno Desconhecido Mourão
Monte do Estanislau Conjunto de cistas Indeterminado 13 Moura Monte do Estanislau Conjunto de cistas Indeterminado 13 Moura
Monte Novo Cistas com Monte Novo Cistas com
Altas Moras 2 Conjunto de cistas Bronze Pleno 2 Moura Altas Moras 2 Conjunto de cistas Bronze Pleno 2 Moura
Cista da Boavista Cista isolada Indeterminado 1 Mourão Cista da Boavista Cista isolada Indeterminado 1 Mourão
Monte da Ribeira Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Mourão Monte da Ribeira Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Mourão
Herdade Dona Catarina Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Moura Herdade Dona Catarina Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Moura
Carapinhais Cistas com Carapinhais Cistas com
Herdade do Touril Conjunto de cistas Indeterminado 2 Moura Herdade do Touril Conjunto de cistas Indeterminado 2 Moura
Herdade da Queijeirinha Conjunto de cistas Bronze Pleno 30 Mourão Herdade da Queijeirinha Conjunto de cistas Bronze Pleno 30 Mourão
Folha das Palmeiras Conjunto de cistas Bronze Pleno 7 Mourão Folha das Palmeiras Conjunto de cistas Bronze Pleno 7 Mourão
Monte de Santa Justa Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa Monte de Santa Justa Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Belmeque Gruta artifi cial Bronze Final 2 Serpa Belmeque Gruta artifi cial Bronze Final 2 Serpa
Cista do Carapetal Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa Cista do Carapetal Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Barranco Salto Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa Barranco Salto Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Talho do Chaparrinho Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Serpa Talho do Chaparrinho Conjunto de cistas Bronze Pleno 3 Serpa
Herdade do Montinho Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa Herdade do Montinho Cista isolada Bronze Pleno 1 Serpa
Margalhos 2 ou Bugalhos Conjunto de cistas Indeterminado 2 Serpa Margalhos 2 ou Bugalhos Conjunto de cistas Indeterminado 2 Serpa
Margalhos 3 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Margalhos 3 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Cortesilhas Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Cortesilhas Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
João de Matos de Cima 1 Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Serpa João de Matos de Cima 1 Conjunto de cistas Indeterminado Desconhecido Serpa
João de Matos de Cima 2 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa João de Matos de Cima 2 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Covão Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Covão Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Aldeia Velha Conjunto de cistas Indeterminado 20 Serpa Aldeia Velha Conjunto de cistas Indeterminado 20 Serpa
Sobralinho 3 Conjunto de cistas Indeterminado 7 Serpa Sobralinho 3 Conjunto de cistas Indeterminado 7 Serpa
Sobralinho 4 Conjunto de cistas Indeterminado 3 Serpa Sobralinho 4 Conjunto de cistas Indeterminado 3 Serpa
Sobralinho 5 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Sobralinho 5 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 6 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Sobralinho 6 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 7 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Sobralinho 7 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Sobralinho 8 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa Sobralinho 8 Cista isolada Indeterminado 1 Serpa
Cachopos 1 Cistas com Cachopos 1 Cistas com
Cachopos 2 Cistas com Cachopos 2 Cistas com
Cachopos 3 Cistas isolada Indeterminada 1 Mértola Cachopos 3 Cistas isolada Indeterminada 1 Mértola
Cachopos 4 Conjunto de cistas Indeterminada 2 Mértola Cachopos 4 Conjunto de cistas Indeterminada 2 Mértola
Cachopos 5 ou Cerro da Viola Conjunto de cistas Indeterminada 10 Mértola Cachopos 5 ou Cerro da Viola Conjunto de cistas Indeterminada 10 Mértola
Cachopos 6 Cistas com Cachopos 6 Cistas com
Cachopos 10 Conjunto de cistas Indeterminada Desconhecido Mértola Cachopos 10 Conjunto de cistas Indeterminada Desconhecido Mértola
Vale Formoso Conjunto de cistas Indeterminado 14 Mértola Vale Formoso Conjunto de cistas Indeterminado 14 Mértola
Atalaia de Mértola Cista isolada Indeterminado 1 Mértola Atalaia de Mértola Cista isolada Indeterminado 1 Mértola
BRONZE
43
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 3 – Povoados referidos para a Idade do Bronze na margem esquerda do Guadiana
Designação Cronologia Concelho
Cerro da Forca (?) Bronze Final Barrancos
Castelo de Noudar Bronze Final Barrancos
Castro da Serra dos Borrazeiros (?) Bronze Final Moura
Carrasca (?) Bronze Final Moura
Serra Alta (?) Bronze Final Moura
Outeiro de São Bernardo Bronze Antigo Moura
Ratinhos Bronze Final Moura
Álamo (?) Bronze Final Moura
São Brás 1 Bronze Final Serpa
Azenha da Misericórdia Bronze Final Serpa
Vila Verde Ficalho 1 Bronze Final Serpa
Passo Alto Bronze Final Serpa
Crespa Bronze Final Serpa
Castelo de Serpa Bronze Final Serpa
Pulo do Lobo 1 (?) Bronze Final Serpa
Laço Bronze Final Serpa
Casa Branca 1 (?) Bronze Final Serpa
Pantufe Bronze Final Serpa
Santa Margarida 1 (?) Bronze Final Serpa
Espinhaço (?) Bronze Final Serpa
Cerro da Oliveira do Corvo (?) Bronze Final Mértola
sobre os rituais funerários praticados, como na cista da Folha das Palmeiras, na cista da Queijeirinha e na necrópole de Belmeque.
O grande problema nestes trabalhos mais anti-gos reside na qualidade do registo praticado e na des-contextualização dos achados obtidos, constituindo a necrópole de Belmeque e o povoado do Outeiro de S. Bernardo os melhores exemplos desta situação. Apesar das recentes tentativas de interpretação dos materiais arqueológicos recolhidos nestes dois sítios, o facto é que se desconhece a sua exacta localização, os seus contextos arqueológicos, as suas relações estratigráficas e as respectivas diacronias.
Por fim, o último patamar caracteriza-se pelos trabalhos feitos recentemente, dos quais se destacam as intervenções realizadas e divulgadas por Monge Soa-res nas necrópoles dos Carapinhais, dos Margalhos
2, do Talho do Chaparrinho, nas cistas do Monte de Santa Justa, do Carapetal, do Barranco Salto e da Her-dade do Montinho, ou então, nos povoados do Passo Alto e da Misericórdia.
Embora algumas destas escavações tenham sido de emergência e alguns dos contextos arqueológicos já tivessem sido violados, como a necrópole do Bar-ranco Salto ou a cista do Monte de Santa Justa, o conjunto de informações recolhido é fundamental para compreender melhor a ocupação deste território durante o Bronze Pleno e o Bronze Final, como se verá adiante.
Para além daquele investigador, foram escava-das três necrópoles da Idade do Bronze, no âmbito da minimização do impacte arqueológico da Barra-gem do Alqueva, cujos resultados serão apresentados e discutidos nos capítulos seguintes.
BRONZE
44
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.3. Sítios intervencionados
3.3.1. Altas Moras 2
O sítio arqueológico das Altas Moras 2 foi iden-tificado e classificado, pela EDIA, como sendo um ha-bitat neolítico/calcolítico, implantado no topo de uma pequena elevação, no qual se destacava um conjunto de blocos de quartzo com grandes dimensões, que configu-ravam um alinhamento semi-circular (Silva, 1999:324).
A intervenção arqueológica realizada pela ERA--Arqueologia não revelou vestígios evidentes desse habitat, mas possibilitou a identificação de duas cistas (Lago, 1999), que podem ser situadas cronologicamen-te na Idade do Bronze, devido aos paralelos existentes para a sua arquitectura. Esta recente descoberta aca-bou por confirmar os dados apresentados por Irisalva Moita e por H. Schubart, que sugeriam a existência de uma necrópole da Idade do Bronze no sítio das Altas Moras, na qual foi recolhido um recipiente cerâmico (Moita, 1965; Schubart, 1975:259; Taf.43: 409).
As duas cistas estavam muito destruídas e no seu interior não se recolheu qualquer tipo de espólio ar-queológico. Esta realidade contrasta com o conjunto de materiais arqueológicos, constituído sobretudo por fragmentos de recipientes cerâmicos, encontrados nos depósitos de terra existentes sobre a rocha-base. Ou seja, neste local, não foram detectadas estruturas ar-quitectónicas que possam ser associadas a um povoado Neolítico, Calcolítico ou mesmo da Idade do Bronze, mas recolheram-se materiais arqueológicos que po-dem estar relacionados com uma ocupação durante qualquer um destes períodos.
A necrópole está localizada a Sul do Alcarrache, precisamente numa zona de transição entre as terras mais aplanadas e as outras bem sinuosas, que se pro-longam para sul, sobretudo ao longo do Guadiana, e está implantada no topo de um esporão que avança sobre o vale de uma ribeira. Se para norte a paisagem é aplanada e a visibilidade muito alargada, sendo visíveis ao longe Monsaraz e Mourão, para sul e SO a linha de horizonte é limitada pela sinuosidade dos cabeços próximos. As encostas viradas a sul são relativamente suaves, embora o desnível até à ribeira seja bastante acentuado (Lago, 1999:4).
3.3.1.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
Os trabalhos arqueológicos consistiram na esca-vação de quatro sondagens, que tinham no total 96m2, distribuídas pelo topo da vertente norte do cabeço, de forma a integrar o alinhamento formado pelos grandes blocos de quartzo (sondagem 3) e a detectar diferentes áreas funcionais do possível habitat.
A estratigrafia das sondagens 1, 2 e 4 era mui-to simples por não terem sido registados contextos arqueológicos conservados e por as UEs observadas terem características idênticas nas três áreas de es-cavação. A camada de superfície era constituída por sedimentos de cor castanho-claro e pouco compacta-dos, que se sobrepunha a outra camada de terras de cor castanho amarelado e com textura fina. A segunda camada cobria com alguma regularidade a rocha-base, embora em alguns sectores, onde a lavra dos terrenos foi mais profunda, tivesse sido difícil distinguir a rocha alterada dos sedimentos que estavam por cima.
A sondagem 3 era, à partida, aquela que reunia mais expectativas, porque abrangia um alinhamento de grandes blocos de quartzo (UE 5) e uma concentração de pedras, com pequenas e médias dimensões, que apa-rentavam ser o derrube de uma estrutura arquitectóni-ca (UE 6). Com a remoção da camada de superfície48, depressa se verificou que estas pedras estavam soltas e que se encontravam sobre um depósito que apresen-tava claros sinais de revolvimento49, provocados pela passagem contínua de grades de arado.
Os blocos da UE 5 estão alinhados em semicír-culo, paralelamente à curva de nível e quase no limite da encosta, de forma a facilitar a acumulação de terras e criar, por esse meio, uma pequena plataforma artifi-cial no sector este. Estes blocos, juntamente com al-gumas pequenas pedras, misturadas com terra e com algum material cerâmico (UE 750), aparentam formar uma unidade morfológica cuja interpretação é relati-vamente problemática, porque os dados estratigráficos sugerem uma cronologia muito recente para a constru-ção do alinhamento, mas existem materiais cerâmicos que apontam para um período bastante mais antigo. Esta contradição estratigráfica pode ser explicada pelo arrastamento e revolvimento recente dos sedimentos
48 A UE 1 é semelhante às UEs 18, 21 e 24.49 A UE 2 é semelhante às UEs 19, 22 e 25.50 A UE 7 surgiu quando se removeu a UE 2 junto ao segmento inferior dos blocos de quartzo, no seu lado este.
BRONZE
46
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
que formam a UE 7 e pela sua acumulação junto da UE 5.
No canto nordeste da sondagem, após a remoção da UE 2, apareceram as duas cistas e um alinhamen-to formado por blocos de quartzo e por lajes de xisto com pequenas dimensões, misturadas com terra, que se prolonga para fora dos limites do corte (UE 17). Apesar deste contexto estar mal conservado e de não ter sido removido, sugere-se a hipótese de se tratarem dos restos de outra cista, sendo necessário, no entan-to, prolongar a área de escavação para confi rmar esta sugestão.
3.3.1.1.1. Sepultura 1
O topo da cista estava coberto por um depósito com muitos fragmentos de xisto, de pequenas dimen-sões (UE 8), resultantes da destruição da tampa que cobriria a sepultura ou da fragmentação das paredes da cista.
O seu interior estava preenchido por três depó-sitos sucessivamente sobrepostos (UEs 11, 12 e 15), todos eles com uma espessura média de 3 cm, não ten-do sido detectados enterramentos ou qualquer tipo de espólio funerário.
A cista consiste numa caixa de planta rectangu-lar, delimitada originalmente por quatro lajes de xisto, que foram possivelmente colocadas sobre uma conca-vidade escavada na rocha-base. Deve-se ainda referir que a laje situada a noroeste está tombada para o inte-rior e a laje localizada a nordeste encontra-se partida ao meio, estando ausente uma metade.Figura 3.4 – Alinhamento de blocos de quartzo (UE 5)
Figura 3.3 – Perfi l topográfi co de Altas Moras 2 (Sobreelevação de 2,5)
BRONZE
47
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.3.1.1.2. Sepultura 2
A informação obtida para a segunda sepultura é muito escassa e resume-se a um interface de corte da rocha-base (UE14), que estava preenchido por alguns fragmentos de xisto (UE 13), possivelmente resultan-tes da fragmentação de uma laje verticalizada.
As UEs 13 e 14 estavam cobertas por um con-junto de blocos de quartzo e de xisto, misturados com terra acastanhada (UE 10) que aparentavam estar sol-tos e que podem corresponder à destruição parcial do resto da sepultura.
3.3.1.2.1. Materiais arqueológicos
O conjunto de materiais arqueológicos recolhido neste sítio é muito reduzido, sendo formado por somen-te dezassete registos individuais51, por 85 fragmentos de bojo e por cinco materiais líticos.
3.3.1.3. Recipientes cerâmicos
A leitura do anterior quadro permite-nos logo concluir que a larga maioria da amostra é formada por fragmentos cerâmicos, que aparentam ser sobretudo de fabrico manual, com claro predomínio de cozeduras em ambientes redutores, e com a presença de muitos enp´s.
Dos cinco bordos recolhidos não se obteve mui-ta informação, devido ao seu reduzido tamanho e à impossibilidade de reconstituir com precisão as suas formas, com a excepção de um exemplar, que parece corresponder ao perfil de um vaso de forma esférica.
A presença de três bases, duas delas rectas e uma ligeiramente concâva, bem como, a homogeneidade de todo o conjunto cerâmico, leva-nos a considerar a hipótese destes materiais poderem ser eventualmente integrados, muito genericamente, na Idade do Bron-ze, embora alguns deles possam ser mais antigos ou mais recentes.
A distribuição dos materiais pelas áreas sondadas é relativamente homógenea, se excluirmos a sondagem 4, onde só foi recolhido um fragmento cerâmico e não tem grande significado cultural devido aos revolvi-mentos recentes do subsolo.
Sondagem UE Designação Nº
Super. 0 Bojo 1
1 18 Asa perfurada 1
1 18 Bojo 13
1 19 Bordo 1
1 19 Laje de xisto
com perfuração 1
2 21 Bojo 24
2 22 Bordo 3
2 22 Bojo 16
3 1 Bojo 11
3 2 Fundo 1
3 2 Bojos 5
3 7 Fundo 2
3 7 Bojo 14
3 10 Bojo 1
4 24 Bojo 1
Tabela 4 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelas Unida-des Estratigráficas
No que diz respeito ao recipiente recolhido na necrópole das Altas Moras e publicado por Schubart (Schubart, 1975:259, tf.43), trata-se de uma taça de carena baixa que é bastante comum nos contextos funerários do Bronze Pleno, com paralelos em sítios como a necrópole da Atalaia (Schubart, 1974: ) ou a necrópole da Alcaria (Caldas de Monchique) (Viana, Formosinho, Ferreira, 1953).
3.3.1.3.1. A redescoberta de uma necrópole
Embora a expectativa inicial fosse realizar uma es-cavação arqueológica num povoado, os resultados desta intervenção nas Altas Moras vieram confirmar a exis-tência, neste local, de uma necrópole do Bronze Pleno (Moita, 1965; Schubart, 1975; Gamito, 1988), formada por duas sepulturas, e indiciar a presença de um povoa-do, de cronologia indefinida, nas suas imediações.
A relação cultural entre estes dois ambientes é ainda impossível de estabelecer por causa da ausência
51 Três bases, cinco bordos, um fragmento cerâmico com asa perfurada, três bojos, um peso de rede, dois percutores e uma lasca.
de contextos habitacionais preservados e da escassez de dados sobre os rituais funerários praticados na ne-crópole.
3.3.2. Monte Novo
O sítio arqueológico do Monte Novo foi recen-temente identificado por uma equipa do Instituto Por-tuguês de Arqueologia (delegação de Castro Verde)52 e integrado no plano de trabalhos do Bloco 9, por indi-cação dos responsáveis técnicos da EDIA.
A primeira imagem da necrópole era formada por duas cistas da Idade do Bronze e por um grande aglomerado de blocos de quartzo que aparentavam es-tar aparelhados.
A cista 1 tinha à vista o topo das lajes de reves-timento da sepultura e o topo da camada humosa, en-quanto que na cista 2 só era possível observar o topo de duas lajes de revestimento e a camada de superfície.
Os trabalhos arqueológicos executados pela ERA-Arqueologia consistiram na escavação de um rectângulo, com 20m2, em torno das duas cistas. Devi-do à reduzida área escavada não se conseguiu determi-nar as dimensões da necrópole, nem estabelecer uma cronologia precisa para os momentos de construção das sepulturas e para os níveis de deposição funerária, devido à escassez de materiais arqueológicos e à ine-xistência de ossos humanos, que permitessem datações de radiocarbono.
3.3.2.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
A primeira tarefa realizada, após a implantação do quadriculado, consistiu no corte da vegetação ras-teira e na remoção da camada de superfície (UE 1).
Com as realidades subjacentes integralmente à vista foi possível observar um depósito de terras de cor castanho-alaranjado e de textura fina (UE 10). Esta realidade encostava nas lajes que delimitam as duas cistas e envolvia as pedras aparelhadas da UE 9. A sua remoção integral colocou à vista uma ligeira
depressão nos sedimentos que constituem o paleoso-lo e um interface de corte na rocha-base (UE 16), cuja presença comprova a existência de trabalhos agrícolas no pequeno cabeço onde foi instalada a necrópole, dado que o corte efectuado tem contornos claramen-te mecânicos.
A acção das grades, usadas nos tractores para o revolvimento das terras, pode ter provocado a destruição parcial das estruturas tumulares que, provavelmente, cobririam as cistas. Outros vestí-gios desta intervenção mecânica foram identifica-dos num contexto formado por blocos de quartzo e por sedimentos totalmente remexidos (UE 18), que preenchiam uma concavidade feita no paleoso-lo (UE 19). Estas pedras podem ser provenientes da destruição parcial de um eventual tumulus (UE 30), que estaria associada à cista 2.
No interior da cista 1 observou-se um buraco usado para o assentamento de um poste de vedação (UE 45). Esta concavidade tinha uma forma circular, cortava quase todos os contextos acumulados no inte-rior da cista, encontrava-se oco e estava coberto, so-mente, por fina camada de terra (UE 1).
3.3.2.1.1. Sepultura 1
O interior da cista 1 estava preenchido por três depósitos. A primeira unidade (UE 1153) surgiu logo após a limpeza da vegetação e a remoção da camada de superfície54.
Na UE 11 estava integrada uma laje de xisto com grandes dimensões que pode ter funcionado, originalmente, como laje de cobertura. Já durante a remoção da UE 29 encontrou-se um conjunto de la-jes de xisto que também podem ter pertencido aquele bloco, porque estavam localizadas na mesma zona da primeira laje e encontravam-se quase todas partidas em conexão.
A remoção da UE 11 colocou à vista a UE 2955. Este segundo depósito caracteriza-se, sobretudo, pela presença de um recipiente cerâmico, praticamente com-pleto, num dos cantos da cista. O possível revolvimen-
52 A delegação regional do Instituto Português de Arqueologia de Castro Verde foi informada por um habitante da povoação da Póvoa de S.Miguel da descoberta de duas cistas. Segundo o mesmo indíviduo a descoberta da necrópole decorreu duran-te um dia de caça, não sendo conhecidos outros trabalhos arqueológicos neste sítio.53 Depósito de terras cinzentas e com textura muito fina e porosa.54 O facto da área ocupada pela UE 11 ultrapassar os limites criados pelas quatro lajes de xisto pode justificar-se pelo revol-vimento do segmento superior da cista e pela remoção da sua laje de cobertura.55 Depósito formado por sedimentos de cor cinzento-avermelhado, muito compactados e textura muito fina.
BRONZE
49
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
BRONZE
50
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 3.6 – Localização da necrópole na topografi a da região
BRONZE
51
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
to do interior da cista pode ter deslocado o vaso da sua posição original (junto ao nível de deposição) para uma camada superior de sedimentos e pode ter contribuído para a fragmentação da parte superior do vaso, nomea-damente o bordo e o estrangulamento do colo.
O último depósito acumulado no interior da cis-ta era formado por sedimentos de cor cinzento-claro, muito compactados e com textura fi na, que cobriam o possível nível de deposição funerária (UE 40).
3.3.2.1.2. Sepultura 2
A cista 2 estava preenchida por três depósitos. A camada superior (UE 13) estava exclusivamente con-fi nada ao interior da sepultura e o seu topo apareceu após a escavação do nível de superfície. Este contexto consistia numa mancha de terras castanhas e de textu-ra granulosa, que envolviam uma grande quantidade de pedras com pequenas dimensões (lajes de xisto e blocos de quartzo).
Durante a defi nição dos limites da UE 13 pare-ceu-nos estranho a ausência das lajes que delimitariam transversalmente os topos da cista. As suspeitas iniciais seriam mais tarde confi rmadas, após a remoção da UE 2356 e a descoberta de duas lajes de xisto, com médias dimensões, sobrepostas. A disposição destes blocos demonstra que eles foram removidos da sua posição original e colocados de propósito sobre o nível de de-posição funerária.
Convém referir que a UE 23 está por baixo da UE 22; este facto demonstra a existência de uma so-breposição estratigráfi ca que contraria o processo de formação dos contextos, porque a UE 22 faz parte do aparelho de construção da Sepultura 2, enquanto que a UE 23 consiste num depósito formado após a violação da cista e a semi-destruição da sua estrutura arquitec-tónica.
A situação apresentada pode ter uma justifi ca-ção se analisarmos o processo tafonómico dos con-textos arqueológicos descritos e considerarmos a se-guinte hipótese: a composição inicial da UE 22 foi substancialmente alterada após a remoção da laje de
Figura 3.7 – Sequência estratigráfi ca das sepulturas
56 A UE 23 tem algumas semelhanças com a UE 13, mas distingue-se desta pela maior dimensão das pedras (lajes de xisto e blocos de quartzo) e pelas características dos sedimentos, que têm uma coloração castanho-claro, textu-ra fi na e encontravam-se medianamente compactadas.
BRONZE
52
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 3.8 – Imagem geralda sepultura 1 e dos restos
da estrutura tumular
Figura 3.9 – Localização in situdo recipiente cerâmico
revestimento que lhe encostava; o espaço vazio criado durante a primeira exploração da cista foi preenchido, pelos seus exploradores, com a UE 23; os sedimentos da UE 22 dispersaram-se e acumularam-se no inte-rior da cista.
A UE 35 foi o primeiro depósito a ser criado depois da exploração do interior da cista 2. Consistia numa unidade com muitas pedras, nomeadamente la-jes de xisto de pequenas e médias dimensões, e com se-dimentos acastanhados, de textura fina e relativamente compactados.
A principal característica deste contexto reside
na sobreposição propositada de duas lajes de xisto com médias dimensões. Estes blocos podem ser restos das lajes de revestimento que faltam, ou então, podem ser fragmentos da eventual laje de cobertura da cista. Ape-sar de ser impossível determinar a proveniência destas lajes, embora uma delas encaixe perfeitamente num dos topos da cista, a disposição em que foram encon-tradas comprova a violação da sepultura e o preenchi-mento recente do seu interior.
No interior da cista 2 não foram recolhidos ma-teriais arqueológicos, nem foram detectados vestígios de enterramentos.
BRONZE
53
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 3.10 – Recipiente cerâmico da Sepultura 1
3.3.2.2. Materiais arqueológicos
Na cista 1 encontrou-se um recipiente cerâ-mico praticamente completo, faltando-lhe somente o troço superior do vaso. A ausência do sector do bordo não permite determinar com precisão a sua forma, assim as semelhanças mais próximas podem ser detectadas no vaso carenado encontrado na Cista 1 de Santa Justa (Soares, 1994:196), no recipiente de carena alta da necrópole de Vale de Carvalho (Schu-bart, 1975; 263, Tf.41), ou eventualmente no vaso da necrópole do Cerro de Bartolomeu Dias (Schubart, 1975:190:Tf. 6).
3.3.2.3. Crónica de um sítio revisitado
Os trabalhos arqueológicos confi rmaram a exis-tência de duas sepulturas da Idade do Bronze, que po-dem estar envolvidas por tumulus, se considerarmos as UEs 9,15 e 30 como unidades estruturantes do apare-lho de construção dos monumentos funerários.
O primeiro nível arqueológico caracteriza-se pelos contextos formados recentemente, sendo a camada de superfície o resultado da acumulação natural de matéria orgânica, que cobre os depósitos revolvidos pelas máqui-nas agrícolas.
A escavação das cistas demonstrou que a cista 2 tinha sido violada recentemente. No seu interior não foram encontrados materiais arqueológicos. A leitura do processo de sedimentação da cista 1 é mais com-plexa, porque existiu uma intervenção humana no seu interior, que provocou a destruição parcial da cobertu-
ra da cista e revolveu os sedimentos já acumulados e os materiais arqueológicos.
A análise da arquitectura das necrópoles do Bronze, localizadas na margem esquerda do Guadia-na, permite-nos encontrar paralelos para o tumulus da Sepultura 2 na necrópole do Talho do Chaparrinho (Soares, 1994:181) e, possivelmente, na sepultura da Herdade do Montinho e na necrópole do Monte de Santa Justa57 (Soares, 1994:181 e 182).
A necrópole do Monte Novo deve fazer parte do grande número de cistas da Idade do Bronze já identifi cadas na margem esquerda do Guadiana. Em-bora a cronologia atribuída a este sítio não seja muito precisa, por basear-se na interpretação da forma de um recipiente cerâmico e na arquitectura das sepul-turas, parece-nos correcto associar este monumento à ocupação humana deste território durante os meados do 2º milénio a.C..
3.3.3. Monte da Ribeira 2
A necrópole do Monte da Ribeira, situada no concelho de Mourão, foi identifi cada por Abel Viana e por Fernando Nunes Ribeiro (Paço, Ribeiro, Franco, 1965:150). Mais recentemente, este sítio arqueológico foi re-localizado pelos técnicos da EDIA, inventariado no Quadro Geral de Referência (EDIA, 1996: 151) e integrado no Plano de Actuação do Bloco 9.
A intervenção arqueológica realizada pela ERA--Arqueologia incidiu em dois sectores, numa área to-tal de 106m2, tendo contribuído para a identifi cação de um edifício, de funcionalidade desconhecida e de cronologia indefi nida (período medieval ou moderno), e para a escavação integral de três cistas da Idade do Bronze.
A necrópole do Monte da Ribeira está implan-tada no topo aplanado de um interfl úvio alongado, com a vertente oeste muito suave e a vertente este de declive um pouco mais acentuado. Esta pequena pla-taforma aplanada está ligada a sul, a uma elevação com 170m, da qual se tem domínio visual sobre parte do vale da Ribeira de Alcarrache (Valera, 1999:5).
Este local encontra-se diluído na paisagem en-volvente, sendo a visibilidade limitada a este e a sul por relevo mais elevado, abrindo-se a norte e a oeste, possibilitando a observação do povoado do Monte do Tosco 1 (Valera, 1999:6).
57 Convém referir que as semelhanças resumem-se somente ao tipo de estrutura construída, porque as matérias-primas usadas na construção são diferentes: na sepultura foram usados blocos de calcário e na necrópole foram utilizados blocos de mármore (Soares, 1994:180-181).
BRONZE
54
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 3.11 – Localização da necrópole na topografi a da região
55
58 UE 2 e a UE 3.59 UE 20/21, UE 16 e UE 17. No topo norte, foi defi nida a maior destas estruturas de reparação, que preenchia uma depressão relativamente grande. Esta depressão era preen-chida por um empedrado formado por pedras de quartzo e lajes de xisto fracturadas in situ (UE 21). O nivelamento entre o empedrado e o caminho era depois feito por terras castanho claras que envolviam o empedrado (UE 20). Dois a três metros mais a sul, identifi caram-se dois outros aglomerados de pedras de quartzo e algumas de xisto (UEs 16 e 17), correspondentes ao preenchimen-to de mais dois buracos no caminho, com dimensões mais reduzidas. A UE 17 apresentava as pedras imbrincadas sem uma matriz diferenciada, enquanto a UE 16 apresentava as pedras imbrincadas numa matriz de areão grosseiro. A UE 1 e as três estruturas de reparação assentavam numa camada de terras castanho avermelhadas (UE 15). Esta unidade estava sobre o substrato rochoso de xisto em praticamente em toda a área do caminho, embora na extremidade sul, na zona da Sepultura 1, se sobrepusesse à UE 47 (Valera, 1999:11-14).60 Segundo informações locais, terá sido afectada aquando da descoberta da necrópole e poderá ser uma das duas sepulturas identifi cadas por Fernando Ribeiro e Abel Viana.61 Neste depósito recolheram-se bastantes fragmentos de lajes de xisto, pertencentes a um grande fragmento da laje lateral e ste, que partiu e tombou para o interior da cista.
3.3.3.1. Interpretação dos contextosarqueológicos
3.3.3.1.1. Sector 1
Após a limpeza da vegetação, identifi cou-se um nível arqueológico formado por depósitos de terras agrícolas58, que são revolvidos periodicamente, e pela camada superfi cial do caminho (UE 1). A escavação da UE 1 demonstrou que esta realidade envolvia três estruturas pétreas59, que materializam a reparação do caminho, nas áreas em que este ia abatendo, devido à acção das águas e da sua constante utilização (Valera, 1999:11).
3.3.3.1.1.1. Sepultura 1
A sepultura 1 localiza-se no canto SE do sec-tor 1 e encontrava-se muito afectada pelos trabalhos agrícolas60. O interior estava preenchido por um depó-sito de terras castanho-avermelhadas, muito argilosas e húmidas, que lhes conferia um aspecto “barrento”61 (UE 13). Esta realidade pode ter sido formada após a
Figura 3.12 – Sequência estratigráfi ca da Sepultura 1
descoberta e a violação da sepultura e nela foram re-colhidos apenas dois fragmentos de cerâmica manual.
A UE 13 sobrepunha-se ao fundo da sepultura, que era formado pelo afloramento do substracto xis-toso e pela UE 47, que corresponde ao substrato de argilas vermelhas e cascalheiras, com seixos rolados ou angulosos, pertencentes ao Cenozóico, que, nessa área, contactam com os xistos (Valera, 1999:14).
3.3.3.1.1.2. Sepultura 3
A sepultura 3 localiza-se junto ao corte oeste do sector 1, sob a UE 2, tendo o seu segmento superior sido muito afectado pela lavra mecânica. O interior da cista estava preenchido pela UE 40, que consistia num depósito formado por terras muito argilosas e húmi-das, pouco consistentes e de cor castanho avermelhado, e por muitos fragmentos de lajes de xisto e de pedras de quartzo.
A UE 40 cobria outra camada, com aproximada-mente 18 cm de espessura, que revelava alguns sinais de perturbação e que forneceu alguns fragmentos de cerâmica manual (UE 41)62. Junto ao interface infe-rior do depósito, na zona de contacto com a base da sepultura, identificaram-se os restos de um indivíduo, disposto em posição flectida e orientado para NE, e um recipiente cerâmico aparentemente in situ, situado no canto NE da cista (Valera, 1999:21).
3.3.3.1.2. Sector 2
A sequência estratigráfica do nível de superfície deste sector é equivalente à estratigrafia observada no sector 1. Assim, a UE 4 cobre a UE 5 (correspondente à UE 3) e a UE 6 (semelhante à UE 2).
A escavação da UE 5 permitiu identificar alguns fragmentos de cerâmica de construção, do tipo tijolo de pasta muito grosseira, e os restos de edificio, formado por dois muros (UE 8 e 32), compostos somente por uma fiada de blocos de quartzo, que aparentam delimi-tar um compartimento de planta rectangular, parcial-mente afectado pelos trabalhos agrícolas recentes.
No interior do compartimento, registou-se um depósito de terras claras (UE 31), que continha a base de um recipiente a torno lento. No exterior da constru-ção, existia um depósito equivalente à UE 31 (UE 33),
62 Depósito formado por terras castanho-avermelhadas e por pequenas lajes de xisto, provenientes das paredes da cista.
Figura 3.13 – Sequência estratigráfica da Sepultura 3
56
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
BRONZE
57
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
que se distinguiu devido à compartimentação exercida pelos muros63 (Valera, 1999:25).
Saliente-se que o edificio descrito não está re-lacionado com as sepulturas, dado que os materiais recolhidos nas UEs 31 e 33 são de cronologia recente.
3.3.3.1.2.1. Sepultura 2
Apesar do topo das lajes, que delimitam o espaço da cista, serem visíveis à superfície, o seu interior e a sua estrutura principal encontram-se em bom estado de conservação, com a excepção da fractura transversal observada na UE 26 (laje situada a oeste da sepultura).
O interior da cista (UE 34) estava preenchido por terras do caminho (UE 4), que cobriam um de-pósito formado por sedimentos, por blocos de quartzo e por lajes de xisto (UE 29). Esta camada pode estar associada ao entulhamento recente da sepultura.
A UE 29 estava sobre as UEs 30 e 35. A UE 35 correspondia a uma grande laje de xisto que cobria quase todo o interior da cista64 e a UE 30. A UE 30 consistia num depósito formado por terras castanhas claras, muito compactas e com textura mediamente granulosas, e por algum cascalho de xisto.
Na UE 30 foram identificados alguns fragmentos de ossos humanos, distribuídos pelo topo da camada, sem qualquer tipo de estruturação ou organização espa-cial especifica. Esta camada encostava directamente nas faces internas das lajes de xisto e sobrepunha-se à UE 53.
A UE 53 era um depósito de composição muito heterogénea, que pode estar associada ao entulhamen-to recente da cista ou à queda parcial da cobertura da cista. A presença de sedimentos de natureza distinta e de uma grande quantidade de elementos pétreos65, dis-persos de forma caótica, e alguns deles com inclinação oblíqua (lajes de xisto), sugere a possibilidade de existir
Figura 3.14 – Sequência estratigráfica da Sepultura 2
63 O edificio assentava sobre uma camada de terras avermelhadas, que continha algum cascalho (UE 48). Esta realidade estava sobre o substrato xistoso.64 A grande laje de xisto pode estar relacionada com o enchimento da cista, após a sua violação, ou pode ser um fragmento da laje de cobertura, que terá caído para o interior do espaço (Valera, 1999:28).65 A UE 53 é formada por sedimentos de natureza muito heterogénea. O topo era constituído por terras de textura muito fina, muito compactada e de cor castanha. Após a primeira decapagem verificou-se que estas envolviam uma grande quantidade de blocos de quartzo com médias e pequenas dimensões e alguns núcleos de terras barrentas, com textura mais granulosa e de cor avermelhada. Como estas três realidades estavam misturadas não se conseguiu estabelecer uma sequência estratigráfica rigorosa.
BRONZE
58
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
um nível de destruição, que é sobreposto por uma ca-mada com ossos humanos (UE 30). Esta camada pode representar outro momento de deposição ou pode es-tar associada ao entulhamento da cista com materiais recolhidos durante a sua escavação.
Embora qualquer uma das hipóteses seja viável, parece-nos mais pertinente a segunda proposta, devido à heterogeneidade dos elementos que formam a UE 53, à presença desestruturada das pedras e à ausência da laje de cobertura no interior da cista. Esta ausência pode ser interpretada por a cista não ser coberta com uma laje de xisto ou por a laje ter sido removida duran-te a sua exploração.
Apesar de terem sido recolhidos sete fragmentos de cerâmica na UE 53, não foram encontrados outros vestígios materiais relacionáveis com o espólio funerá-rio, nem foram descobertos mais ossos humanos.
Perante os dados disponíveis, parece-nos que a cis-ta foi, num determinado momento, violada e a maioria dos materiais e dos ossos humanos foram recolhidos. Já durante o processo de preenchimento do espaço vazio, os violadores voltaram a tapar o espaço com materiais de construção (lajes de xisto e blocos de quartzo), com sedimentos que preencheriam originalmente a cista e com alguns restos de ossos humanos.
A UE 53 cobria o piso de utilização da cista (UE 54). Sobre a UE 54 não foram descobertos mais ossos humanos, nem mais materiais arqueológicos. Este fac-to comprova a hipótese inicial da cista ter sido violada e todo o seu conteúdo material recolhido.
3.3.3.2. Materiais arqueológicos
O espólio arqueológico obtido é muito reduzido e reparte-se por três conjuntos bem diferenciados: 1) materiais de cronologia recente (anilha de ferro, frag-mentos de arame e moeda de 1926); 2) materiais as-sociados à construção identificada no sector 1, de cro-nologia aparentemente recente, mas indeterminada; 3) fragmentos cerâmicos relacionados com a necrópole (Valera, 1999:30).
Sendo o último conjunto aquele que interessa analisar de momento, a distribuição dos fragmentos cerâmicos é a seguinte: na UE 15 recolheu-se um bojo de cerâmica manual; do interior da sepultura 1 vie-ram dois bojos de cerâmica manual; no enchimento da sepultura 2 (UE 53) recolheram-se seis bojos de cerâmica manual; na sepultura 3, recolheram-se, na UE 41, três bojos de cerâmica manual, quatro bordos de cerâmica manual (dois deles pertencendo ao mes-mo vaso), um fragmento de bojo de cerâmica manual,
decorado com duas caneluras incisas e o fundo de uma taça em calote, que se encontrava na base da cista, em contexto de deposição primária (Valera, 1999:30; Al-bergaria, 2000:10).
Se os fragmentos cerâmicos recolhidos nas se-pulturas 1 e 2, aparentam estar descontextualizados, como também parece ser o caso dos fragmentos ce-râmicos recolhidos no topo da UE 41 (sepultura 3), a taça em calote pode estar associada à inumação pra-ticada naquela cista, constituindo parte do espólio do morto.
Para além deste conjunto, existem os dois reci-pientes cerâmicos recolhidos por Abel Viana e Nunes Ribeiro, quando visitaram a Herdade do Monte da Ribeira (Paço, Ribeiro, Franco, 1965:150), cuja a pro-veniência exacta é desconhecida. Considerando que as sepulturas 1 e 2 foram violadas ou exploradas recente-mente, considera-se a hipótese daqueles vasos serem de lá provenientes, no entanto não é possível deter-minar se vieram os dois da mesma sepultura, como no caso das sepulturas 5 e 6 da Vinha do Casão (Gomes et alii, 1986:24-26), ou se são oriundos de sepulturas diferentes.
Os dois recipientes consistem numa pequena taça fechada, de fundo convexo, e numa taça de care-na baixa, paredes reentrantes e com uma asa a ligar a carena ao sector inferior do bordo (Valera, 1999:30). O primeiro exemplar tem algumas semelhanças com um vaso recolhido na necrópole da Atalaia (Schu-bart, 1975: tf 25), na necrópole do Montinho (Soa-res, 1994:196) ou na necrópole da Queijeirinha (Paço, Leal, 1963:61; Schubart, 1975: tf 43). O segundo exemplar é mais raro, mas podem ser encontrados al-guns paralelos num recipiente da necrópole da Atalaia (Schubart, 1975: tf 43) e noutro proveniente da necró-pole do Hospital, situada no concelho de Alcácer do Sal (Schubart, 1975: tf 40).
Embora Schubart integre a forma da pequena taça na fase mais antiga do Bronze do Sudoeste (Schu-bart, 1975:Abb26), parece-nos que os dois recipientes do Monte da Ribeira se enquadram perfeitamente no Bronze Pleno.
3.3.3.3. Estudo dos restos humanosÁlvaro Figueiredo
No Monte da Ribeira 2, identificaram-se os ves-tígios de uma inumação na sepultura 2 (de idade e sexo indeterminado) e os restos de outro enterramento na sepultura 3 (individuo adulto, possivelmente de sexo masculino).
BRONZE
59
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.3.3.3.1.1. Descrição dos elementos do esqueleto humano
A exploração recente desta sepultura terá dei-xado o corpo desarticulado e poderá até mesmo ter removido ou danificado alguns dos elementos do es-queleto. Assim, durante a escavação da UE 30, foram identificados nove aglomerados de osso (indicados pe-los nº 1-9), assim como vários pequenos fragmentos dispersos pela mesma unidade.
Dos nove blocos de sedimento e osso conser-vados in situ, recuperaram-se fragmentos de osso hu-mano apenas dos blocos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Estes consistiam em vários fragmentos de crânio e em três fragmentos de diáfise pertencentes a três ossos longos, provavelmente oriundos do mesmo indivíduo. Assim, observou-se que os nº 1, 3, 4 e 7 continham fragmen-tos de crânio, enquanto que os nº 2, 5 e 6 consistiam em elementos de diáfise de três ossos longos:
Nº 1: constituído por dez pequenos fragmentos de crânio humano, cujas dimensões variam entre cerca de 0,6cm. por 0,9cm. no menor, e 1,8cm. por 1,2cm. no maior, com uma espessura média de cerca de 0,6cm. Consistem provavelmente em fragmentos de osso frontal de um indivíduo adulto, com o cortex e diploe em bom estado de conservação.
Nº 2: parte da diáfise (comprimento: cerca de 15 cm.) de um osso longo. Constituído por nove frag-mentos, e em estado de conservação muito pobre; o tecido destes encontra-se bastante distorcido e corroí-do por processos tafonómicos. Provavelmente consti-tuíam parte da diáfise de uma ulna do indivíduo.
Nº 3: nove fragmentos de crânio humano, cujo
3.3.3.3.1. Análise dos restos humanos (Sepultura 2)
A intervenção arqueológica realizada na sonda-gem 2 revelou a presença de vestígios de uma inuma-ção. Fragmentos de osso humano foram encontrados dispersos pela UE 30, sem qualquer aparente ordem na sua organização, revelando-se os restos do que te-ria sido um enterramento primário subsequentemente perturbado.
A análise dos restos humanos permitiu observar a presença de vários fragmentos relativamente bem preservados de crânio e de três segmentos de diáfise, em elevado estado de degradação, formando estes últi-mos parte do esqueleto apendicular, possivelmente de um dos membros superiores de um indivíduo.
Embora os restos humanos se encontrassem ex-tremamente mal preservados e em total desarticulação, parece-nos provável que todos os elementos exumados na sepultura 2 pertencem ao esqueleto de um único indivíduo, originalmente sepultado neste túmulo. Não é possível determinar o sexo e idade biológica à morte deste indivíduo, devido ao elevado grau de degradação e à falta de elementos do esqueleto que permitam tal diagnóstico.
Assim, podemos concluir que, no monumento funerário do Monte da Ribeira 2, foram descobertos os restos de um enterramento de carácter funerário, pertencentes a um indivíduo possivelmente de ida-de adulta e sexo indeterminado. Originalmente uma inumação primária, este foi subsequentemente per-turbado pela abertura da sepultura, o que resultou na dispersão e provável remoção de alguns dos elementos do esqueleto.
Tabela 5 – Inventário dos elementos do esqueleto
Nº Unidade Estratigráfica Osso Observações
1 UE 30 crâneo 10 fragmentos de crâneo, provavelmente do osso frontal
2 UE 30 osso longo elementos de uma diáfise de osso longo, talvez de ulna?
3 UE 30 crâneo 9 fragmentos de crâneo, provavelmente de frontal ou parietal
4 UE 30 crâneo 3 fragmentos de crâneo, provavelmente de parietal
5 UE 30 osso longo fragmentos da diáfise de um úmero humano?
6 UE 30 osso longo fragmentos de rádio ou (?) clavícula
7 UE 30 crâneo 2 fragmentos de osso humano provenientes do crâneo
BRONZE
60
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
cortex e diploe se encontram em bom estado de con-servação, com dimensões variando entre os cerca de 0,8cm. por 0,6cm. e 3,3m. por 1,8cm., e com uma es-pessura média de cerca de 0,5 a 0,6cm. Provavelmente fragmentos de frontal e/ou parietal de um indivíduo adulto.
Nº 4: três fragmentos de crânio humano com as seguintes dimensões: a) cerca de 1,0cm. por 15mm. de diâmetro e 6mm. de espessura; b) cerca de 19mm. por 25mm. de diâmetro e 7mm. de espessura; c) cerca de 26mm. por 28mm. de diâmetro e 7mm. de espessura. Cortex e diploe em bom estado de conservação. Possi-velmente partes de osso parietal.
Nº 5: fragmentos em estado de preservação mui-to semelhante ao indicado no nº 2, formando um ele-mento com cerca de 15,5cm. de comprimento. Sem dúvida parte da diáfise de um osso longo, talvez de um dos úmeros do indivíduo.
Nº 6: fragmento de osso humano, muito distor-cido, com cerca de 10cm. de comprimento formando talvez parte da diáfise de um rádio ou clavícula.
Nº 7: dois fragmentos de osso humano com cerca de 2,1cm. por 3,2cm., e 2,1cm. por 2,3cm, res-pectivamente, em elevado estado de degradação, pro-vavelmente oriundos de uma das partes do esqueleto craniano do indivíduo.
3.3.3.3.2. Análise dos restos humanos (Sepultura 3)
A análise realizada demonstra uma preservação muito heterogénea dos diferentes elementos consti-tuintes do esqueleto descoberto na sepultura 3. Assim, a parte axial não se encontra tão bem representada como os elementos do esqueleto apendicular, facto que tem lugar com frequência. Isto deve-se a diferenças na composição estrutural relacionadas com a dureza e densidade dos tecidos ósseos (Waldron 1994; 1998), que permite ao osso denso e duro das diáfises sobrevi-ver com maior frequência.
Apesar de muito fragmentados, os restos huma-nos provenientes desta sepultura parecem pertencer a um único indivíduo, provavelmente adulto e de sexo masculino. Assim, foram encontrados os restos de um crânio muito incompleto, em que parte dos ossos oc-cipital, parietais e temporais se encontravam ainda em articulação. A sua posição, com a superfície posterior virada a oeste, indica que o indivíduo fora posicionado
na sepultura com a face para noroeste. Foram encon-trados apenas alguns fragmentos amorfos na região fa-cial do esqueleto, sendo impossível a sua identificação correcta, devido ao elevado estado de degradação. Não foram encontrados quaisquer vestígios da dentição do indivíduo. Finalmente, o estado geral de conservação do esqueleto craniano não permite determinar com ri-gor o sexo do indivíduo66.
Os outros vestígios do esqueleto axial deste indi-víduo encontravam-se igualmente em elevado estado de degradação. Foi, no entanto, possível observar que se encontravam na sepultura em posição axial com o crânio. Estes consistiam apenas em dois fragmentos minúsculos da coluna vertebral, uma costela e frag-mentos muito reduzidos e disformes do os coxae. Estes não permitiram mais uma vez determinar o sexo do indivíduo.
Os elementos do esqueleto apendicular encon-tram-se melhor representados, embora mais uma vez nos deparemos com graus de preservação diferentes para os membros superiores e inferiores. Foram encon-trados apenas segmentos dos ossos longos, nada res-tando das extremidades do indivíduo. Entre segmentos muito fragmentados de rádio e ulna foi identificada a extremidade distal do úmero direito. Esta articulação, na região do cotovelo, é aquela que articula com os ossos longos do antebraço. Embora ligeiramente distorcida, é ainda possível identificar-se com precisão os elementos morfológicos da região articular do rádio, posicionada sobre a sua superfície ventral (anterior). A posição em que foram encontrados estes segmentos dos ossos lon-gos, parece indicar uma posição flectida para os braços, e a probabilidade do torso se encontrar originalmente virado para este.
Os ossos longos dos membros inferiores do indi-víduo, embora fragmentados, encontram-se em melhor estado de conservação. O fémur direito encontrava-se cruzado sobre o esquerdo. Ambos quebrados na região das metáfises, encontravam-se originalmente em arti-culação com o os coxae. Na área da extremidade distal do fémur direito encontraram-se restos bastante frag-mentados de segmentos de diáfise das tíbias e, prova-velmente das fíbulas. O posicionamento original destes elementos indica também uma posição flectida para as pernas, provavelmente com os joelhos juntos ao tórax.
Embora se encontrasse bastante esmagado e dis-torcido, uma observação visual das dimensões do fé-
66 Identificação correcta extremamente difícil devido ao facto de estes se encontrarem num estado muito deteriorado, em forma de uma “pasta” de tecido ósseo e sedimento.
BRONZE
61
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
mur esquerdo (o mais completo) parece indicar o sexo masculino deste indivíduo.
Deve-se ainda salientar que, devido ao mau esta-do de conservação dos restos humanos, não foi possível efectuar uma análise métrica dos ossos, muito útil na identificação do sexo e estatura do indivíduo inumado neste sepulcro. Embora o estado geral de conservação seja muito pobre, não foram constatados quaisquer vestígios de combustão ou patologias.
3.3.3.3.2.1. Descrição dos elementos do esqueletohumano
Nº 1:67 Fragmento de vértebra. Pequeno frag-mento de osso humano; provavelmente a faceta arti-cular de uma vértebra.
Nº 2: Fragmento de os coxae. Fragmento de pe-quenas dimensões de parte do ilium ou ischium.
Nº 3: Fragmento de apófise articular de uma vér-tebra.
Nº 4: Fémur (perna direita). A extremidade pro-ximal encontra-se orientada a oeste/sudoeste, e a dis-tal a este/nordeste. Consiste em um segmento central de diáfise do fémur direito, encontrado cruzado sobre o fémur esquerdo, e deitado na sua superfície medial. Embora esmagado e distorcido, a linea aspera parece ainda visível. Devido à fragilidade do tecido ósseo, nes-te caso a gaze e o consolidante não foram inteiramente removidos.
Nº 5: Fémur esquerdo. A extremidade proximal parece estar orientada a sudoeste, e a distal a nordeste. Originalmente descoberto posicionado sobre a sua su-perfície anterior e sob o fémur direito. Composto por quatro segmentos de diáfise bastante esmagados e cor-tex muito corroído. Epífises ausentes. Embora distor-cido, a linea aspera é ainda visível na superfície dorsal. A análise visual das suas proporções parecem indicar sexo masculino para este indivíduo, pela sua robustez.
Nº 6: Fragmento de fíbula. Pequena secção de diáfise muito esmagada. Possivelmente um fragmento relacionado com os segmentos de tíbia e fíbula encon-trados no nº. 10.
Nº 7: Osso humano de identificação impossível. Um núcleo de sedimento contendo pouco tecido ósseo de morfologia incerta.
Nº 8: Fragmentos de os coxae. Conservados sob a forma de massa amorfa de tecido ósseo consolida-
do num núcleo de sedimento. Provavelmente parte do ilium. Relacionado com o nº. 9.
Nº 9: Fragmentos de os coxae. Vários elementos (13 +), muito deteriorados (nível de conservação se-melhante ao nº. 8). Parte do ilium.
Nº 10: Fragmentos de tíbia. Dois segmentos de diáfise, orientados na sepultura de sudoeste a nordeste, conservados sem plexigum, cola ou acetona. Impossí-vel de determinar a que lado do corpo do indivíduo pertenceram.
Nº 11: Segmento de tíbia. Fragmento esma-gado de diáfise de uma das tíbias, orientado de su-doeste a nordeste. Posicionado na sepultura sob o nº. 12. Devido ao seu mau estado de conservação é impossível determinar se pertence ao membro infe-rior esquerdo ou direito.
Nº 12: Fragmento de tíbia. Pequeno segmento de diáfise de uma das tíbias do indivíduo. Foi descoberto na sepultura orientado originalmente de sul a norte.
Nº 13: Osso humano de identificação indeter-minável. Possivelmente um fragmento de cortex de osso longo dos membros inferiores do indivíduo.
Nº 14: Fragmentos de rádio, incluindo parte da epífise proximal.
Nº 15: Pequeno segmento de uma costela (?) humana.
Nº 16: Fragmento de osso humano de identifica-ção indeterminável.
Nº 17: Cinco segmentos de osso humano, muito distorcidos e em estado de conservação muito frágil. Uma das extremidades (orientadas de sudoeste a nor-deste), assemelha-se à parte acromial da clavícula.
Nº 18: Fragmentos de costela. Originalmente orientados na sepultura de sudoeste a nordeste, em esta-do de conservação muito frágil.
Nº 19: Fragmento de rádio ou ulna, em estado de conservação semelhante ao nº. 18.
Nº 20: Fragmento de rádio. Segmento de diáfise originalmente consolidado num único bloco de sedi-mento com os nº. 21 e 22. Extremidades orientadas de sudoeste a nordeste. A sua associação ao nº. 22 (extremidade distal do úmero direito) parece indicar pertencerem ao mesmo braço.
Nº 21: Segmento de rádio ou ulna. Preservado em bloco com o nº. 22, e parte do 20. Provavelmente o fragmento de um dos ossos longos do antebraço direito.
Nº 22: Úmero do braço direito. Segmento da
67 Número atribuído aos elementos ósseos descobertos durante a escavação da sepultura 2.
BRONZE
62
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
metáfise e epífise distal do úmero direito com a extre-midade distal orientada a sudeste.
Encontrava-se posicionado in situ sobre a sua superfície anterior (face posterior visível). Embora se encontre bastante distorcido, ainda são visíveis a fossa, o côndilo e o epicôndilo.
Nº 23: Fragmentos minúsculos de osso humano, provavelmente do os coxae.
Nº 24 e 25: Fragmentos de os coxae humano. Nº 26: Pequeno fragmento de osso humano de
identificação indeterminável. Devido à proximidade do nº. 25, é provavelmente parte do mesmo osso.
Nº 27: Crânio humano. Bloco de sedimento e tecido ósseo consolidados com plexigum e gaze. Em-bora toda a parte posterior do neurocranium se en-contra presente (occipital, parietais e possivelmente parte dos temporais68), toda a área anterior do crânio, incluindo o esqueleto facial, não sobreviveu. O corpo deve ter sido depositado na sepultura com a face virada a este, pois o crânio foi encontrado com a superfície posterior virada a oeste. Não foram encontrados ves-tígios da dentição. O mau estado de conservação não permitiu derivar dados relativos ao sexo e idade deste indivíduo através do esqueleto craniano.
3.3.3.4. Considerações finais
Após a visita de Abel Viana e Nunes Ribeiro à Herdade do Monte da Ribeira, que deram a conhecer mais uma necrópole argárica, a intervenção arqueoló-gica realizada no final do milénio contribuiu para o co-nhecimento exaustivo de três sepulturas que podem ser integradas no Bronze Pleno. Apesar das sepulturas 1 e 2 terem sido possivelmente violadas, foi possível iden-tificar os vestígios de uma inumação na sepultura 2. Mas, a sepultura 3 revelou ser a mais interessante deste conjunto, devido à sua arquitectura e ao facto de existi-rem os restos de outra inumação, desta vez com espólio associado (base de uma taça em calote). Assim, na base da cista, terá sido depositado o corpo de um indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino, em posição flectida e em decubitus lateral, com a cabeça situada no quadrante norte, virado para NE (Valera, 1999:41).
3.4. Arquitectura
O conjunto de necrópoles em estudo, que po-dem ser enquadradas no Bronze Pleno e eventual-mente no Bronze Final, apresenta uma grande di-versidade na qualidade da informação, o que natu-ralmente condiciona a nossa interpretação. Assim, se não existem dados disponíveis sobre a arquitectura das cistas do Monte do Estanislau, da Herdade de Dona Catarina, da Herdade do Touril ou mesmo da cista da Boavista, e das necrópoles identificadas na Herdade do Monte do Cachopo (Mértola) ou no de-correr das prospecções feitas para a Carta Arqueoló-gica de Serpa, que ainda não foram intervenciona-das69, algumas das escavações arqueológicas realiza-das nas últimas décadas, em sítios como o Monte da Ribeira 2, os Carapinhais, o Talho do Chaparrinho, entre outros, contribuíram com resultados que mere-cem alguma reflexão.
Com o mesmo cuidado, devem ser conside-radas as observações feitas sobre as necrópoles da Queijeirinha, da Folha das Palmeiras, de Belmeque, de Vale Formoso ou da Atalaia de Mértola, que ape-sar de serem muito parcelares, têm elementos infor-mativos com algum valor, quer para compreensão do processo de investigação, como para o conhecimento dos rituais funerários.
As necrópoles da margem esquerda do Guadiana apresentam concepções arquitectónicas diversificadas. O tipo de tumulação mais simples consiste na cons-trução de só uma sepultura, sem vestígios de estru-turas adjacentes, como é caso das cistas da Boavista, do Monte de Santa Justa, do Carapetal, do Barranco Salto, de Cachopos 3, da Herdade do Montinho e pos-sivelmente da Atalaia de Mértola70.
A segunda solução caracteriza-se pelo agrupa-mento de várias sepulturas, que tanto pode ser nu-clear (todas concentradas num local) ou polinuclear (distribuídas por vários núcleos, próximos uns dos outros). No primeiro caso, encontram-se as necrópo-les do Monte Novo, do Monte da Ribeira 2, das Altas Moras 2, dos Carapinhais, de Cachopos 1, 2, 4, 5 e 6, de Margalhos 2, do Sobralinho 3 e do Sobralinho 471,
68 Identificação correcta extremamente difícil devido ao facto de estes se encontrarem num estado muito deteriorado, em forma de uma “pasta” de tecido ósseo e sedimento.69 Margalhos 3; Cortesilhas; João de Matos de Cima 1 e 2; Covão; Aldeia Velha; Sobralinho 3, 4, 5, 6, 7, 8.70 Não se consideraram as cistas de Margalhos 3, Cortesilhas, João de Matos de Cima 2, do Covão, do Sobralinho 5, 6, 7 e 8, porque não se conhece a estrutura no seu conjunto.71 Do potencial conjunto não se consideraram as necrópoles de Cachopos 2 e 10, da Queijeirinha, do Estanislau, da Herdade D.Catarina, Herdade do Touril e João de Matos de Cima 1 por não existirem dados disponíveis.
BRONZE
64
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 3.16 – Plantas das necrópoles nucleares e polinucleares
BRONZE
65
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Necrópoles nucleares N º Sepulturas
Monte Novo 2
Altas Moras 2 2
Monte da Ribeira 2 3
Cachopos 1 3
Cachopos 4 2
Cachopos 5 10
Cachopos 6 2
Carapinhais 4
Margalhos 2 2
Sobralinho 3 7
Sobralinho 4 3
Tabela 6 – Distribuição das sepulturas pelas necrópoles nucleares
Necrópoles polinucleares N º Sepulturas
Talho do Chaparinho
Núcleo 1 1
Núcleo 2 1
Núcleo 3 1
Folha das Palmeiras
Núcleo 1 4
Núcleo 2 3
Vale Formoso
Núcleo 1 8
Núcleo 2 6
Aldeia Velha
Núcleo 1 4
Núcleo 2 4
Núcleo 3 4
Núcleo 4 4
Núcleo 5 4
Tabela 7 – Distribuição das sepulturas pelas necrópoles polinucleares
que são constituídas por um número muito reduzido de sepulturas (valor médio de cerca de 3.5 cistas).
O segundo conjunto é formado pelas necrópoles do Talho do Chaparrinho, das Folhas das Palmeiras, Vale Formoso e Aldeia Velha, que apresentam carac-
terísticas muito diferentes. Assim, no Talho do Cha-parrinho identificaram-se três sepulturas individuais distribuídas por três locais próximos uns dos outros. Da Herdade da Folha das Palmeiras conhecem-se dois núcleos, compostos por quatro e por três sepulturas, e na necrópole de Vale Vistoso, registaram-se outros dois núcleos, formados por seis e por oito sepulturas.
No entanto, destes quatro núcleos existe pouca ou nenhuma informação, dado que foram praticamen-te arrasados no decorrer dos trabalhos agrícolas, tendo subsistido apenas uma cista na Folha das Palmeiras e duas sepulturas em Vale Vistoso. Esta situação é idên-tica ao que se registou na necrópole da Aldeia Velha, onde teriam existido cinco núcleos de sepulturas, com vinte cistas no total, dos quais só se preservou uma se-pultura (Lopes et alii:96).
Perante a quase ausência de informação sobre as necrópoles polinucleares, o mesmo número médio de sepulturas por cada núcleo (cerca de 3.5) deve ser analisado com cuidado, porque não existe forma de de-monstrar a veracidade das fontes orais que informaram os mais variados investigadores.
Como é possível verificar nestas necrópoles, exis-tem outras diferenças importantes na sua arquitectura, como a organização geral dos núcleos e a presença de cistas sob tumulus. Embora não haja informação dis-ponível para alguns dos cemitérios, quer por falta de escavações arqueológicas72, quer por terem sido parcial-mente destruídas73, os trabalhos feitos no Monte da Ri-beira 2, no Talho do Chaparrinho, na Herdade da Folha das Palmeiras e nos Margalhos 2 (Lopes et alii, 1997), demonstram que as respectivas cistas têm orientações e tamanhos diferentes74, não existindo nestas necrópoles qualquer tipo de ordem pré-estabelecida.
Ao contrário deste conjunto, as sepulturas de Vale Formoso e do Monte Novo têm a mesma orientação, embora as duas cistas do Monte Novo estejam possivel-mente envolvidas por um tumulus, com características semelhantes à sepultura 1 do Talho do Chaparrinho e à sepultura do Montinho75, enquanto as de Vale Formoso não tinham vestígios de estruturas anexas.
Até ao momento, o núcleo de sepulturas dos Carapinhais é a única necrópole escavada76 com uma arquitectura estruturada em função de um tumulus central. Como nos vários monumentos da necrópole
72 Como é caso das necrópoles do Sobralinho 3 e do Sobralinho 4.73 Necrópole das Altas Moras 2 e necrópole da Aldeia Velha.74 Neste caso especifico predominam as cistas de menor volume: < 0,2 m3 = 4; < 0,4 m3 = 3; < 0,6 m3 = 2; < 0,8 m3 = 0; < 1 m3 = 1.75 Convém referir que as necrópoles do Covão e de Cortesilhas aparentam ter também um tumulus a envolver a cista, bem como, as necró-poles de Cachopos 1, 2, 5 e 6.76 Para além dos Carapinhais, os núcleos de Cachopos 1, 2 e 6 apresentam estruturas tumulares, de forma circular.
BRONZE
67
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
77 Agradece-se a António Monge Soares, a Manuela de Deus e a José Correia a disponibilidade em fornecer e discutir os dados sobre um sítio que não se encontra publicado.78 Como a necrópole do Monte do Estanislau, de Belmeque, da Herdade de Dona Catarina, Herdade do Touril, da cista da Boavista e dos Cachopos 10.79 Deste conjunto, anotou-se a presença/ausência de vestígios dos tumulus, a utilização de lajes de xisto para delimitar as cistas e em alguns casos as suas orientações, plantas e dimensões.
Tabela 8 – Área e volume das cistas
Necrópole Nº Cmp. Lrg. Área Profundidade Volume interior Forma cista (m) (m) (m2) (m)
Monte Novo 1 0,82 0,46 0,38 0,3 0,11316 Sub-trapezoidal
2 1,2 0,45 0,54 0,34 0,1836 Sub-trapezoidal
Altas Moras 2 1 0,64 0,44 0,28 Indeterminado Indeterminado Sub-rectangular
Monte da Ribeira 2 1 0,98 0,6 0,59 0,4 0,588 Sub-trapezoidal
2 0,8 0,7 0,56 0,6 0,336 Sub-trapezoidal
3 1,12 0,8 0,90 0,3 0,839 Sub-rectangular
Monte de Santa Justa 1 1,05 0,63 0,66 0,36 0,23814 Sub-trapezoidal
Cista do Carapetal 1 0,82 0,44 0,36 0,45 0,16236 Indeterminada
Talho do Chaparrinho 2 1,15 0,79 0,91 0,57 0,517845 Sub-rectangular
3 0,6 0,39 0,23 Indeterminado Indeterminado Sub-trapezoidal
Herdade do Montinho 1 0,8 0,65 0,52 Indeterminado Indeterminado Sub-trapezoidal
Folha das Palmeiras 1 0,83 0,65 0,54 0,37 0,199615 Sub-rectangular
Atalaia de Mértola 1 0,96 0,82 0,79 0,34 0,267648 Sub-rectangular
Margalhos 2 1 1,06 0,59 0,63 Indeterminado Indeterminado Indeterminada
2 1,5 0,86 1,29 Indeterminado Indeterminado Indeterminada
Margalhos 3 1 1,03 0,69 0,71 0,46 0,326 Sub-rectangular
da Atalaia (Ourique), onde ao círculo inicial (tumulus central) se adossam sequencialmente pequenos tumu-lus, que envolvem uma ou mais cistas (Schubart,1965), nos Carapinhais identificou-se um tumulus de planta circular (Cista 2), que é encostado por outro tumulus, em forma de alvéolo (Cista 1), que por sua vez pode estar encostado por uma terceira sepultura (Cista 3) (Soares, Correia, Deus. 200277).
A última variante arquitectónica é caracteri-zada pela gruta artificial de Belmeque, situada no concelho de Serpa, cuja singularidade não deixa de ser intrigante. A documentação enviada a H. Schu-bart levaram-no a descrever aquele monumento da seguinte forma: “(...) uma abóbada trabalhada na rocha, uma pequena sepultura de cúpula imitada na rocha de 2x1.95m de diâmetro e 1m de altura, que se atingia através de uma curta galeria diagonal, em cuja entrada, voltada para noroeste, se deve ter encontrado
verticalmente um grande bloco de pedra.» (Schubart, 1974a:68).
O nosso conhecimento sobre as técnicas e os materiais usados na construção das sepulturas varia consoante o seu estado de conservação, o tipo de tra-balho arqueológico executado e a qualidade do registo arqueológico efectuado. Assim, sabe-se pouco sobre os cemitérios destruídos78 e sobre os monumentos des-cobertos no decorrer das prospecções em Serpa, dado que, com a excepção de Margalhos 2, ainda não foram intervencionados79.
No âmbito da minimização patrimonial da barra-gem do Alqueva, as escavações feitas nas Altas Moras 2, no Monte Novo e no Monte da Ribeira 2, contribuí-ram com novos dados para a compreensão do processo de construtivo das sepulturas, que devem ser analisados em conjunto com os resultados obtidos por A. Monge Soares, por H. Schubart e por Afonso do Paço.
BRONZE
68
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.4.1. Altas Moras 2
Conforme as observações feitas na intervenção arqueológica nas Altas Moras 2, os trabalhos agrícolas destruíram a quase totalidade da sepultura 2 e a afec-taram parcialmente a cista 1.
3.4.1.1. Sepultura 1
A sepultura 1 está orientada no sentido NO-SE, tem uma caixa de planta rectangular e o seu interior tem dimensões relativamente reduzidas, se comparar-mos com a dimensão média do conjunto em estudo. Não se identificaram vestígios da laje de cobertura, de tumulus ou de qualquer outro tipo de estrutura de apoio às quatro lajes de xisto.
As lajes assentam verticalmente sobre uma concavidade feita na rocha-base (UE 16), não tendo sido registados os sulcos usados normalmente para o reforço da sustentação da laje.
3.4.1.2. Sepultura 2
A sepultura 2 encontrava-se muito destruí-da, tendo-se apenas identificado um sulco (UE14), preenchido por pequenos fragmentos de xisto (UE 13). Esta situação demonstra a existência de uma pe-quena diferença no processo de construção das duas cistas, dado que, as lajes da sepultura 1 não assentam sobre sulcos.
Figura 3.18 – Sepultura 1 e 2
Tabela 9 – Dimensões das lajes da Sepultura 1
Comprimento Largura Laje 1 0,87m 0,02m
Laje 2 0,45m 0,07m
Laje 3 Indeterminado 0,02m
Laje 4 0,45m 0,07m
3.4.2. Monte Novo
3.4.2.1. Sepultura 1
A sepultura 1 consiste numa cista, com planta ligeiramente sub-trapezoidal, construída a partir de um buraco escavado na rocha-base e com quatro la-jes de xisto ainda in situ. Esta cista encontra-se muito provavelmente integrada num tumulus e está disposta de forma praticamente paralela à cista 2, tendo ambas uma orientação NO-SE.
No decorrer dos trabalhos arqueológicos, identi-ficou-se um aglomerado de blocos de quartzo, de pe-quenas e médias dimensões (UE 9), que se encontra-vam estruturados e envolvidos por sedimentos aver-melhados e muito compactados (UE 15). Estes blocos não encostavam nas lajes da cista, ao contrário da UE 15 que adossava às lajes norte e oeste. Como a UE 15
BRONZE
69
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
envolvia o segmento inferior dos blocos de quartzo e estava por baixo destes, sugere-se a hipótese das UEs 9 e 15 fazerem parte da mesma estrutura e constituí-rem os vestígios do tumulus que envolveria a cista.
As duas realidades anteriormente referidas estão directamente associadas à UE 17, que consiste num interface de corte da rocha-base e de camadas associa-das ao paleosolo (UEs 12 e 24). Esta linha é aproxima-damente paralela às UEs 9 e 15 e pode ser um indica-dor sobre como se fez o tumulus.
Desta forma, a sua construção pode ter-se inicia-do com a escavação de uma concavidade no solo (UE 17), seguida pela deposição de uma camada de terras (UE 15) e, por fim, terminou com a criação de um nível de pedras convenientemente aparelhadas (UE 9).
A estrutura construída da Cista 1 encontra-se implantada numa concavidade aberta na rocha-base, através de três interfaces de corte80: a UE 3281, a UE 3982 e a UE 4083.
Após a abertura desta concavidade foram insta-ladas as quatro lajes de revestimento do espaço funerá-rio. As duas pedras maiores (UE 2 e UE 3) devem ter sido as primeiras a serem colocadas e foram directa-mente encostadas na parede formada pela rocha-base e pela UE 27 (depósito que corresponde ao paleosolo). Num segundo momento, devem ter sido colocadas as lajes transversais (UE 4 e UE 5), que são considera-velmente mais pequenas e que serviram para apoiar internamente as lajes maiores.
As lajes 3 e 4 eram apoiadas por depósitos que preenchiam os espaços vazios existentes entre os inter-faces de corte (UE 32 e UE 39) e o local de implan-tação das respectivas lajes. Assim, se compararmos a altura da laje 3 com as restantes lajes, verificamos que a primeira é bastante menor e que os construtores desta sepultura precisaram de colocar, por baixo da laje, uma fiada de blocos de quartzo com pequenas dimensões (UE 44), para elevar o seu topo e fazer com que esta tivesse, na parte superior da cista, a mesma altura que as restantes lajes.
Depois da laje 3 ter sido disposta no devido local, foram colocadas as UE 2584 e UE 3385. Estes
80 Optou-se por anotar várias realidades com o objectivo de caracterizar melhor a mesma unidade funcional (buraco escavado na rocha para facilitar o apoio das lajes de revestimento) e devido essencialmente a dois factos: 1) inexistência de uma linha de corte contínua que demonstre o contacto directo da UE 32 com a UE 39; 2) o comprimento dos cortes longitudinais do buraco (eixo norte-sul) ultrapassa, em alguns centímetros, a localização dos cortes transversais (eixo este-oeste).81 A UE 32 consiste num interface de corte realizado sobre a rocha-base e sobre o paleo-solo., que cria um espaço preenchido pela UE 25 e pelas lajes 1, 2 e 4.82 A UE 39 individualiza uma linha de corte executada sobre a rocha-base, que estabelece um espaço preenchido pelos depósitos da UE 33, da UE 26, da UE 44 e pelas lajes 1, 2 e 3.83 O registo individual da UE 40 deveu-se à necessidade de destacar o alisamento da rocha-base no fundo da cista e à possibilidade deste acto poder estar relacionado com o tratamento de superfícies do nível de utilização.84 Depósito de terras de cor cinzento-amarelado, com muito cascalho e blocos com pequenas e médias dimensões. Esta unidade encontra-va-se muito compactada e a sua textura era muito fina.85 Depósito de terras cinzentas, muito compactadas e com textura fina.
Figura 3.19 – Sepulturas 1 e 2
BRONZE
70
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
depósitos preencheram um espaço vazio, funcionaram como matéria consolidante dos pontos de intersecção das lajes de revestimento e como apoio externo dessas mesmas lajes.
No lado oposto, a situação registada é mais sim-ples. A laje 4 estava apoiada somente por um depósi-to (UE 26), que tem as mesmas funções atribuídas às UEs 25 e 33. A UE 26 caracteriza-se pela textura gra-nulosa dos sedimentos, pela sua coloração cinzento--claro e pela sua elevada compactação.
A cista 1 não tinha a laje de cobertura preservada in situ, embora tenha sido registado uma grande laje de xisto, tombada verticalmente no interior, que pode corresponder a um segmento do elemento que taparia o espaço funerário.
3.4.2.2. Sepultura 2
A arquitectura da cista 2 encontra-se muito alte-rada devido à remoção das lajes de revestimento mais pequenas e da laje de cobertura. Apesar desta contra-riedade, é possível afirmar que deve ter tido uma planta aproximadamente sub-trapezoidal e que preserva ain-da as duas lajes maiores in situ. A cista 2 estaria inte-grada num tumulus, formado por blocos de quartzo de pequenas e médias dimensões (UE 3086).
A cista está implantada num buraco escavado na rocha-base, através de dois interfaces de corte (UE 31 e UE 41). Ao contrário da cista 1, onde se distinguiram três linhas de corte (duas verticais e uma horizontal), na cista 2 observaram-se somente duas linhas: a UE 31 e a UE 41. A primeira realidade delimita um espaço de planta aproximadamente rectangular, enquanto que a segunda determina a profundidade da cista e regulari-za a superfície rochosa.
O registo estratigráfico realizado permite-nos reconstituir a sequência da construção da cista 2. As-sim, após a abertura da concavidade e da regularização das paredes escavadas, os seus construtores colocaram uma camada formada exclusivamente por terra (UE 3887).
A UE 38 deve corresponder ao nível dos enterramento/s, mas devido provavelmente à violação
ocorrida na cista não foram encontrados vestígios da inumação/ões.
A estrutura pétrea que configura a caixa da cista foi instalada sobre a UE 38. Primeiro deve ter sido er-guida a laje 5 (UE 6), que encostava na rocha-base e cuja a face externa era encostada pela UE 21.
A UE 21 era uma mancha de terras de cor cin-zento-claro, com textura fina e muito compactada; que preenchia uma pequena concavidade feita na rocha--base (UE 36). Sublinhe-se que este interface não está directamente relacionado com a UE 31, porque a sua linha de corte encosta praticamente na face da laje, ou seja, a sua realização e o preenchimento do espaço vazio com a UE 21 ocorreu depois da laje 5 ter sido colocada.
A laje 6 pode ter sido erguida ao mesmo tempo que a laje 5, mas a sua estrutura de apoio é claramente diferente, porque é encostada pela UE 14 e não pela rocha-base ou pelo paleosolo. A UE 14 é um contexto formado por pedras de pequenas e médias dimensões (quartzo e xisto) e por terras acastanhadas-amareladas, de textura granulosa e medianamente compactadas.
A UE 14 ocupa o espaço vazio existente entre o limite da UE 31 e o local de implantação da laje 6 e, tal como as UEs 25, 26, 33 (cista 1), serviu como apoio externo da laje e como reforço da estrutura de revesti-mento da sepultura.
As duas lajes transversais (eixo norte-sul) foram certamente postas depois das lajes 5 e 6, porque os de-pósitos que lhes servem de apoio (UE 22, UE 37 e 42) encostam directamente na UE 14 e porque, nor-malmente, as lajes mais pequenas são colocadas uns centímetros para dentro do espaço definido pelas ex-tremidades das lajes maiores, como forma de as travar directamente.
As UEs 2288 e 3789 preenchiam o espaço que existia entre a laje Este e o limite da concavidade es-cavada na rocha (UE 31). Como esta laje foi removida da sua posição original e como a UE 37 não foi muito afectada pela violação da cista, foi possível observar a face desta realidade.
A UE 42 preenchia o espaço que existia entre a laje oeste e a UE 31 e consistia num depósito de sedi-
86 Na metade superior da sondagem, definiu-se uma concentração de blocos de quartzo e algumas lajes de xisto, que aparenta ter algumas semelhanças com a UE 9. Convém ainda referir que se existem algumas dúvidas em relação à funcionalidade das UEs 9, 15 e 17, as mesmas questões agravam-se no que diz respeito à natureza da UE 30, porque esta encontra-se mais destruída que a UE 9 e não tem qualquer contacto com os aparelhos de construção das cistas.87 Sedimentos de textura relativamente grosseira, pouco compactadas e de cor castanho-escuro.88 A UE 22 é formada por terras de cor cinzento-claro, de textura medianamente granulosa e relativamente compactadas.89 A UE 37 consiste num depósito de terras acinzentadas-amareladas, muito compactadas e com textura granulosa.
BRONZE
71
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
mentos de cor castanho-amarelado, muito compacta-dos e com textura fina.
A arquitectura das duas sepulturas do Monte Novo destaca-se pela presença de tumulus, pela utili-zação de técnicas diferentes na abertura das duas con-cavidades, pela aplicação de materiais de construção semelhantes (blocos de quartzo e lajes de xisto) e so-bretudo pela variedade de opções técnicas usadas na concretização do projecto arquitectónico previsto.
3.4.3. Monte da Ribeira 2
3.4.3.1. Sepultura 1
A sepultura 1 era constituída por quatro lajes de xisto esverdeado, que formavam uma caixa rectangu-lar90, embora as extremidades das lajes longitudinais ultrapassassem em alguns centímetros as zonas de en-costo com as lajes transversais, e com o seu eixo maior orientado aproximadamente no sentido NO-SE (Va-lera, 1999: 15). Convém ainda referir que nesta sepul-tura, como nas outras duas, não foram identificados vestígios de tumulus.
A laje do topo NO (UE 11) apresentava-se bem conservada (apenas lascada na face externa), encon-
90 O espaço interior apresentava aproximadamente 98 cm de comprimento e 60 de largura, tendo uma área de 0.588 m2 e uma profundida-de conservada de cerca de 40 cm.
trava-se cravada, em alguns centímetros, na UE 47 e assentava no substrato xistoso. No lado exterior, foram detectados, junto à sua base, alguns blocos de quart-zo, com pequenas dimensões (UE 49), que podem ter servido como apoio desta laje.
A laje do topo SE (UE 9) apresentava-se igual-mente bem conservada, cravada na UE 47, mas não atingia o substrato xistoso. A laje lateral SO (UE 10) apresentava-se fragmentada a meio, devido ao impacto mecânico que causou um movimento com a direcção SO-NE, ficando as metades ligeiramente empurradas e inclinadas para o interior da sepultura. Esta laje estava parcialmente cravada na UE 47 e as-sente nos xistos.
A laje lateral NE (UE 12) era a que se encontra-va em pior estado de conservação. À superfície apenas se viam as extremidades, mas em escavação verificou--se que a laje havia sido fracturada por acção mecânica, num movimento com direcção NE-SO, tendo a base sido empurrada e inclinada e que a parte do meio havia tombado para o interior.
Neste sepultura, ao contrário das outras duas, o buraco escavado para criar o espaço necessário à cista não atingiu os xistos, tendo ficado pelas terras argilosas (UE 47).
Figura 3.20 – Sepultura 1
BRONZE
72
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
3.4.3.2. Sepultura 2
A cista 2 tem uma planta sub-trapezoidal e con-serva as quatro lajes de revestimento praticamente in situ. O seu eixo maior encontra-se orientado aproxima-damente no sentido NO-SE.
A cista assenta sobre um buraco parcialmente es-cavado na rocha-base (UE 36), aproveitando uma de-pressão já existente. Assim. as lajes foram encostadas às paredes de xisto, tendo sido colocados, no segmento superior, alguns blocos de quartzo para servirem de apoio externo à laje de xisto, como é demonstrado pela presença da UE 37 (Valera, 1999: 25-26).
A caixa funerária era constituída por duas lajes la-terais longas e por duas de topo, mais curtas e, tal como, nas sepulturas 1 e 3, as primeiras ultrapassavam ligeira-mente a zona de encosto com as lajes transversais.
A laje lateral NE (UE 24) encontra-se inteira e assenta na rocha-base. A laje lateral SO (UE 26) está parcialmente fragmentada e ligeiramente deslocada da sua posição original. A laje de topo NO (UE25) encontra-se intacta, bem como, a laje do topo SE (UE 23). Na base da cista, identificou-se o respectivo piso
de utilização (UE 54), com a sua superfície alisada e disposta horizontalmente.
Ao contrário das outras sepulturas, nas quais não se encontraram vestígios da laje de cobertura, no inte-rior da sepultura 2 identificou-se uma grande laje de xisto que cobria quase todo o seu interior (UE 35). Esta laje pode estar relacionada com o seu preenchi-mento, após a violação da cista ou pode ser um frag-mento da laje de cobertura, que terá caído para o inte-rior daquele espaço (Valera, 1999:28).
3.4.3.3. Sepultura 3
Em termos arquitectónicos esta sepultura apresenta alguns aspectos comuns às outras sepul-turas. O espaço interior apresenta uma planta sub--rectangular91 e o seu eixo principal encontra-se orientado aproximadamente no sentido NO-SE (Valera, 1999: 17).
Para a sua implantação foi aberta um grande bu-raco no substracto xistoso (UE 4292) e foram escavados ligeiros sulcos para facilitar o encaixe das quatro lajes de xisto. Seguidamente, as paredes NE e SE foram
Figura 3.21 – Sepultura 2
91 A caixa tem um comprimento máximo de 112 cm, uma largura máxima de 80 cm, uma altura conservada de 30 cm, e uma área de 0.839 m2.92 Com um comprimento máximo de 170 cm, uma largura máxima de 140 cm e uma profundidade (relativamente à superfície do substrato rochoso) máxima entre 30 e 35 cm.
BRONZE
73
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
muito destruídas, não sendo possível calcular a sua altura. A laje lateral da parede NE (UE 38), sendo a que estava melhor conservada, tinha algumas partes obliteradas.
A laje lateral de parede SO (UE 39) encontrava--se em pior estado de conservação, muito lascada, com bastantes fragmentos virados ou caídos para o interior da sepultura, documentando uma afectação mecânica, num movimento com a orientação SO-NE.
A laje de topo da parede SE (UE 46) encontra-va-se reduzida a uma pequena lasca na sua extremida-de SO, enquanto que a laje de topo da parede NO (UE 45) estava também limitada à sua base, encaixada num pequeno sulco escavado no xisto de base, emergindo apenas alguns centímetros.
A arquitectura das três sepulturas escavadas no Monte da Ribeira têm algumas semelhanças entre si, como seja a utilização dos mesmos materiais de cons-trução (lajes de xisto e blocos de quartzo) e a dimensão do espaço interno (sobretudo entre as cistas 1 e 2). No entanto, também se verificaram algumas diferenças in-teressantes, como a orientação ligeiramente divergente da cista 1, em relação às cistas 2 e 3, ou a utilização de várias opções técnicas no processo de escavação da concavidade e na construção da estrutura pétrea que suporta as lajes de revestimento das cistas.
Apesar do nosso estudo sobre a arquitectu-ra das sepulturas intervencionadas no Monte Novo, Altas Moras 2 e Monte da Ribeira 2 estar condicio-nado pelo seu estado de conservação, sobretudo no caso da segunda, onde as duas cistas se encontravam praticamente destruídas, e pelas explorações recentes da sepultura 2 do Monte Novo e das sepulturas 1 e 2 do Monte da Ribeira, as técnicas e os materiais de construção agora observados integram-se no sistema de construção documentado nas outras necrópoles da margem esquerda e sugerem a existência de uma gran-de variedade de soluções técnicas.
A suposta estrutura tumular identificada no Monte Novo pode ser semelhante ao tumulus da sepul-tura 2 do Talho do Chaparrinho (Soares, 1994:181), enquanto que a técnica usada na sepultura 1 do Monte Novo para elevar a laje NW é praticamente semelhan-te à opção adoptada na cista do Montinho (Ribeiro, Soares, 1991: 288) e a estrutura erguida na cista de Santa Justa, utilizada para apoiar as respectivas lajes de revestimento, é parecida com a estrutura identificada na sepultura 3 do Monte da Ribeira 2.
Tal como se registou no Monte Novo e no Monte da Ribeira 2, as cistas do Carapetal, do Barranco Salto, da Herdade do Montinho e do Monte da Santa Justa,
totalmente “forradas” com grandes pedras de quartzo colocadas verticalmente, ou com pedras de médias di-mensões sobrepostas (UEs 44 e 52), que chegaram a ultrapassar o topo da concavidade.
Na parede NO, a estrutura de apoio (UE 50) localizava-se apenas na metade superior do buraco, chegando igualmente a transpor o seu topo. Da mes-ma forma, a parede SO era apenas preenchida por blo-cos de quartzo (UE 51) na sua metade sul e na parte superior da concavidade. O revestimento restrito aos segmentos superiores deve-se ao facto destas paredes não serem verticais, mas apresentarem uma espécie de degrau, assentando as pedras nesse ressalto.
Na sequência construtiva é possível afirmar que, após a abertura da fossa no substrato xistoso (UE 42), primeiro foram forradas com pedras de quartzo as pare-des NE (totalmente) e SO (parcialmente) e depois colo-cadas as lajes laterais de xisto; seguidamente forraram-se as paredes SE (totalmente) e NO (parcialmente), igual-mente com pedras de quartzo que encostaram às lajes laterais e, por fim, colocaram-se as lajes de xisto de topo.
As lajes de xisto que constituíam as paredes in-teriores da sepultura apresentavam-se globalmente
Figura 3.22 – Vista geral da inumação
BRONZE
74
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
foram implantadas sobre fossas ou buracos escavados na rocha-base, embora não se conheçam pormenoriza-damente as técnicas usadas naquelas escavações, nem as formas de assentamento das lajes de revestimento.
O processo de construção das cistas pode ser di-vidido em várias etapas. Assim, a primeira consiste na abertura de um buraco para a instalação da caixa sepul-cral, que pode afectar somente a rocha-base, como no caso das cistas do Monte Novo ou pode atingir somente o paleosolo, como na sepultura 1 do Monte da Ribeira 2.
O corte é normalmente feito no sentido de criar paredes verticais ou com acentuada inclinação93, de forma a facilitar a colocação das lajes e servir de apoio consistente. Simultâneamente, o fundo da cista pode ser afeiçoado e posteriormente alisado, como se verifi-cou nas cistas do Monte Novo.
As lajes de revestimento podem ser colocadas em ligeiros sulcos previamente escavados, podem ser dis-postas sobre uma camada de terra, como na sepultura 2 do Monte Novo, podem ser colocadas sobre a rocha--base, como parecem ser os casos da cista da Queijei-rinha e do Carapetal, ou podem cobrir alguns blocos pétreos, como já foi referido anteriormente.
A primeira solução constitui a maioria das situa-ções registadas, mas pode aparecer de formas variadas, como seja: 1) os sulcos são escavados na base da cista e nas paredes, como nas três cistas do Monte da Ribeira; 2) os sulcos são escavados apenas nas paredes, como parece ser o caso da sepultura 1 do Monte Novo; 3) os sulcos são escavados apenas na base do buraco, como surge exemplificado nas Altas Moras.
O revestimento da pequena câmara funerária é feito normalmente com quatro lajes, duas de maiores dimensões colocadas no eixo longitudinal e duas mais pequenas dispostas segundo o eixo transversal, que configuravam um espaço de forma sub-rectangular ou trapezoidal.
A matéria-prima usada nas lajes de revestimento era sobretudo o xisto, como se verifica nas Altas Mo-ras, no Monte da Ribeira, no Monte Novo, na Herdade Dona Catarina, na sepultura 3 do Talho do Chaparri-nho e na maioria das cistas observadas nas prospecções de Serpa (Lopes et alii, 1997); embora também tenha sido utilizado o mármore na sepultura da Herdade do Montinho, a mistura de mármore e xisto na cista de Santa Justa e o grauvaque nas cistas do Carapetal e do Barranco Salto. Esta diversidade de matérias-primas
demonstra que os construtores usaram o material que estava disponível na zona e o que melhor se adaptava às suas necessidades.
Com o objectivo de facilitar o apoio das lajes de revestimento, era frequente usar terra muito compac-tada e colocar pedras a servirem de calços ou a refor-çarem a estrutura cistóide. Assim, existem soluções técnicas, onde a laje é reforçada com terra e blocos de quartzo ou mármore, com médias e pequenas dimen-sões, no segmento superior, como na sepultura 2 do Monte da Ribeira, na sepultura 2 do Monte Novo e eventualmente na cista de Santa Justa ou na sepultura 3 do Talho do Chaparrinho. Existem também situações, onde se aplicou terra muito compactada e poucos ele-mentos pétreos, como é caso da sepultura 1 do Monte Novo, da sepultura 1 do Monte da Ribeira, das cistas da Queijeirinha e da Folha das Palmeiras, ou então, a situação contrária, como na sepultura 3 do Monte da Ribeira 3 e na cista da Herdade do Montinho, nas quais se construíram praticamente pequenas estruturas pétreas, que serviam de encosto às lajes de xisto.
A última etapa consiste na cobertura das cis-tas, que era feita normalmente com uma grande laje, como se verificou na sepultura 1 do Monte Novo, na sepultura 2 do Monte da Ribeira, na necrópole de Vale Formoso e na cista do Carapetal (laje de grau-vaque). Nas restantes sepulturas, as tampas foram provavelmente retiradas, quer através de meios me-cânicos recentes, quer por meio de antigas violações; no entanto não se pode esquecer a possibilidade da cobertura destes ambientes ser feita com materiais perecíveis.
A orientação geral das sepulturas é ainda outro aspecto que merece ser destacado neste capítulo. Con-siderado tradicionalmente como um elemento indi-cador de rituais funerários diferenciados (Gomes, et alii, 1986:84), a escolha do principal eixo de orienta-ção das cistas, pode efectivamente constituir, também, uma opção técnica de construção, como se observou na necrópole do Monte da Ribeira (Valera, 1999:42).
De facto, o eixo do comprimento das cistas 2 e 3 encontra-se orientado no sentido NO-SE, acompa-nhando exactamente o laminado dos xistos, enquanto que a cista 1 apresenta um ligeiro desvio na sua orien-tação, provavelmente por a respectiva fossa de implan-tação ter sido parcialmente escavada sobre os depósitos naturais que cobriam os xistos.
93 Se utilizarmos os valores da profundidade, concluiu-se que existe uma maior concentração de cistas com uma altura entre os 30cm e os 40cm: < 0,10 cm = 0; < 0,20 cm = 0; < 0,3 cm = 0; < 0,4 cm = 6; < 0,5 cm = 3; < 0,6 cm = 1; < 0,7 cm = 1.
BRONZE
75
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A orientação das cistas do Monte da Ribeira, ge-nericamente NO-SE, é comum à maioria das sepultu-ras observadas ou intervencionadas, como se pode ob-servar na tabela 10. Embora a interpretação dos dados tenha de ser naturalmente cautelosa, as orientações dividem-se genericamente por três eixos principais: NO-SE, NE-SO e O-E94, sem que se identifiquem grandes diferenças no espólio destas sepulturas.
Conforme se pode verificar, neste conjunto só existe um eixo de orientação ausente (N-S), que se en-contra presente em necrópoles como a Atalaia, a Cam-pina ou a Vinha do Casão (Gomes, et alii, 1986:84), não existindo aparentemente um padrão previamente esta-belecido. Mas, então qual será a razão desta diversidade?
A resposta pode estar na possibilidade de nunca ter existido uma “norma concebida por uma superes-trutura religiosa” específica para a orientação das cis-tas. A variedade pode ser o resultado da adopção de um conjunto de soluções técnicas, que visavam dimi-nuir o esforço e os custos na construção das sepulturas e das necrópoles e, ao mesmo tempo, procuravam va-lorizar um concepção arquitectónica planificada para ser marcante ou mesmo monumental, como parece ser caso das necrópoles da Atalaia e da Alfarrobeira.
3.5. Rituais funerários
O nosso conhecimento sobre a materialização dos rituais funerários praticados está naturalmente condi-cionado pela informação disponível. Assim, pouco ou nada se sabe sobre as sepulturas que ainda não foram escavadas, como é o caso da sepultura de Cortesilhas, ou das sepulturas de Sobralinho 4, 5, 6, 7 e 8, das necró-poles da Herdade dos Cachopos, ou sobre as cistas que foram exploradas ou integralmente destruídas, como a cista da Boavista, a sepultura de Margalhos 3, as sepul-turas da necrópole de Sobralinho 3 ou a cista do Covão.
Da mesma forma, não existem dados sobre o conteúdo da cista da Atalaia de Mértola, das sepul-turas da necrópole do Estanislau e da necrópole de Vale Formoso. Em relação às inumações supostamente mais antigas, detectadas no monumento do Outei-ro dos Bentinhos, da Anta 2 do Touril e da Anta da Preguiça, conhecem-se apenas os artefactos metálicos (punhal de lingueta e as pontas de seta em cobre95) e a sua contextualização é bastante problemática.
Na necrópole da Herdade do Touril foram vis-tos enterramentos no interior de algumas sepulturas, embora não se saiba quantos, e na necrópole da Her-dade Dona Catarina também foram observados cor-pos dobrados e com a cabeça no centro da cista. Já na sepultura da Queijeirinha recolheu-se um punhal de cobre e um recipiente cerâmico, não existindo vestígios de restos osteológicos, enquanto na cista da Folha das Palmeiras existiam apenas alguns ossos de um indiví-duo adulto. Das restantes sepulturas desta necrópole vieram dois recipientes cerâmicos e o registo da pre-sença de esqueletos enterrados em posição flectida.
De facto, com a excepção de Belmeque, foram as escavações arqueológicas feitas recentemente que con-tribuíram com os resultados mais animadores acerca deste importante tema, apesar de algumas das sepul-
94 Ao primeiro grupo pertencem cerca de 57,8% do conjunto amostrado, ao segundo corresponde 10,5% e, por fim, o terceiro conjunto equivale a 31,5%.95 Convém referir que é necessário ter alguma prudência na atribuição cronológica destas duas últimas peças, devido à inexistência de regis-to gráfico ou fotográfico, à sua descontextualização e ao facto destas peças surgirem em contextos megalíticos tardios.
Designação Nº cista Orientação geral
Monte Novo Cista 1 NO-SE
Cista 2 NO-SE
Altas Moras 2 Cista 1 NO-SE
Monte da Ribeira 2 Cista 1 NO-SE
Cista 2 NO-SE
Cista 3 NO-SE
Monte de Santa Justa Cista 1 NE-SO
Cista do Carapetal Cista 1 O-E
Barranco Salto Cista 1 NO-SE
Talho do Chaparrinho Cista 2 NO-SE
Cista 3 NO-SE
Herdade do Montinho Cista 1 NE-SO
Vale Formoso Cista 1 O-E
Cista 2 O-E
Atalaia de Mértola Cista 1 NO-SE
Margalhos 2 Cista 1 O-E
Cista 2 NO-SE
Margalhos 3 Cista 1 O-E
Sobralinho 6 Cista 1 O-E
Tabela 10 – Orientação geral das cistas
BRONZE
76
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
turas intervencionadas já tivessem sido anteriormente exploradas (como o caso das sepulturas 1 e 2 do Mon-te da Ribeira 2 ou do Monto Novo) ou parcialmente destruídas (como as Altas Moras 2 ou a sepultura do Barranco Salto).
Do conjunto de 42 locais, com possíveis inuma-ções da Idade do Bronze, na margem esquerda do Gua-diana, contabilizaram-se no total 153 sepulturas (núme-ro mínimo estimado96), das quais apenas 72 foram efec-tivamente localizadas, escavadas ou mesmo exploradas.
Deste último agrupamento, foram identificados e recolhidos os vestígios de somente onze esqueletos: os restos de, provavelmente, um indivíduo na cista da Boavista, um no povoado do Moinho de Valadares, dois em Belmeque, dois no Monte da Ribeira (um por cada cista), um na Folha das Palmeiras, um na cista de Santa Justa, um no Montinho, um na cista do Cara-petal e um na sepultura 2 do Talho do Chaparrinho.
Segundo os raros estudos antropológicos realiza-dos, distinguiram-se, pelo menos, um individuo adulto, no Moinho de Valadares (Duarte, 1999), dois indiví-duos adultos, em Belmeque, sendo um deles de sexo masculino (Oliveira, 1994:185); um indivíduo, do sexo masculino, com 20-30 anos, inumado na cista do Ca-rapetal (Oliveira, 1994:186); e, por fim, um indivíduo, do sexo masculino e adulto, depositado na sepultura 3 do Monte da Ribeira 2 e outro adulto inumado na se-pultura 2. Em relação aos restantes, o escasso número de ossos e o seu mau estado de conservação, não per-mitiu determinar o sexo e a idade dos mortos.
Se a quase totalidade dos enterramentos conheci-dos parece corresponder a inumações primárias, com o
96 Para calcular este valor contabilizaram-se todas as referências orais e no caso das necrópoles sem referência ao número de sepulturas atribuiu-se o número mínimo (1).
corpo normalmente flectido e colocado em posição de decubitus dorsal, como é o caso da cista do Carapetal e da cista 3 do Monte da Ribeira 2, em Belmeque pode-se questionar o tipo de inumação: tratar-se-á de uma depo-sição de dois corpos completos ou de dois corpos incom-pletos (hipótese sustentada pela ausência dos crânios)? Ou corresponderá à colocação de um pacote de ossos?
O escasso número de enterramentos escavados constitui um claro obstáculo para a análise da popu-lação que ocupava este território, bem como, para o estudo do significado social destas inumações. Assim, com onze esqueletos exumados e estudados, dos quais só se conhece o sexo de três indivíduos (todos do sexo masculino) e a idade aproximada de cinco mortos, não é possível determinar se estão representados os dois géneros, todas as idades e todos os membros do grupo (familiar ou comunitário).
O reduzido número de cemitérios e de sepultu-ras identificadas no geral, permite-nos interrogar se a população era toda enterrada neste tipo de necrópoles (sepulturas isoladas, necrópoles nucleares ou polinu-cleares) ou se existiam outras práticas funerárias, me-nos “visíveis” no actual registo arqueológico. De facto, a identificação de inumações secundárias no povoado do Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Mon-saraz) e quem sabe, em Belmeque, pode indiciar outra forma de homenagear os mortos, cujos contornos ain-da não são muito claros.
No que diz respeito ao espólio que normalmente acompanhava o morto, a informação é mais substan-cial, devido à maior quantidade de objectos recolhidos, embora seja fundamental ter alguma cautela na inter-
Figura 3.23 – Recipientes cerâmicos (Schubart, 1975)
BRONZE
77
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
pretação do seu significado, dada a descontextualiza-ção estratigráfica da maioria das peças exumadas.
Das escavações e das observações mais antigas, desconhece-se a existência de qualquer tipo de espó-lio na necrópole do Estanislau, na cista de Atalaia de Mértola, na necrópole da Herdade de D. Catarina, na necrópole da Herdade de Touril, na cista da Folha das Palmeiras e na necrópole de Vale Formoso. Mas, já nas Altas Moras recolheu-se um recipiente cerâmico, de origem desconhecida, do Monte da Ribeira vieram dois recipientes cerâmicos, também de proveniência indeterminada, e da necrópole da Folha das Palmeiras, foram resgatados dois recipientes de cerâmica (uma taça tipo Atalaia e um recipiente de colo alto e com uma asa junto ao bordo), sem proveniência exacta.
A intervenção realizada por Afonso do Paço e Ba-ção Leal na única cista que não foi integralmente des-truída na Herdade da Queijeirinha, levou à descoberta de uma lâmina de cobre in situ e de um recipiente cerâ-mico, entretanto recolhido pelos trabalhadores agrícolas.
Terá sido em Belmeque que se encontrou a maior quantidade e variedade de objectos, como os oito bo-tões de prata, que deviam fazer parte da indumentária de um dos mortos, as duas lâminas de punhal (com rebites), a lâmina de faca (com rebites) e o recipien-te cerâmico, decorado com dois canudos, que deviam constituir o espólio dos indivíduos ali sepultados.
Figura 3.24Materiais arqueológicos de Belmeque (Schubart, 1975)
Nos trabalhos mais recentes, destaca-se a pre-sença de uma taça do tipo Atalaia a acompanhar o morto do Moinho de Valadares e a inumação primária identificada na cista do Carapetal, onde, para além do esqueleto, foi possível registar, in situ, um recipiente cerâmico, de colo alto, (com duas pequenas asas junto ao bordo) e uma lâmina de punhal de cobre arseni-cal, ainda com um rebite, também de cobre arsenical (Araújo, Alves, 1994: 187). Nos Margalhos 2, as esca-vações contribuíram igualmente com um importante espólio, nomeadamente: três recipientes cerâmicos na cista 1; dois na cista 2 e dois punhais (Soares, 1998:3).
Convém ainda salientar a presença de fragmentos de duas taças tipo Atalaia na cista do Barranco Salto (sepultura integralmente violada); a existência de dois recipientes na sepultura do Montinho; um recipiente cerâmico na cista do Monte de Santa Justa; um frag-mento cerâmico na sepultura 3 do Monte da Ribeira 2; e, por fim, um recipiente cerâmico na sepultura 1 do Monte Novo. No sentido oposto, não se encontra-ram materiais arqueológicos na sepultura 3 do Talho do Chaparrinho e na sepultura 2 da mesma necrópole (monumento possivelmente violado); na sepultura 2 do Monte Novo (cista violada); e nas sepulturas 1 e 2 do Monte da Ribeira (cistas provavelmente já escavadas anteriormente). Considerando as presenças e desvalo-rizando as ausências, sobretudo quando são provocadas
BRONZE
78
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
por fenómenos pós-deposicionais (violações e destrui-ção de sepulturas), sugere-se a hipótese do morto ser acompanhado sugere-se a hipótese do morto ser acom-panhado regularmente por um ou por dois recipientes cerâmicos e ocasionalmente por três, como na cista 1 dos Margalhos 2, e, por vezes, por um objeto metálico, nomeadamente um punhal de rebites ou uma faca, no caso específico das inumações de Belmeque, ou por dois punhais, como na cista 2 dos Margalhos 2.
A morfologia da maioria dos objectos encontra-dos nestas sepulturas é genericamente semelhante aos conjuntos obtidos nos restantes contextos funerários do Sudoeste Peninsular, se exceptuarmos os materiais de Belmeque, o que parece sugerir a partilha da mesma identidade material e possivelmente cultural, das co-munidades que ocupavam o Sudoeste Peninsular.
3.6. Conclusão
A minimização do impacte patrimonial da Bar-ragem do Alqueva levou à identificação e escavação de mais três necrópoles da Idade do Bronze, nos conce-lhos de Moura e de Mourão. Estas intervenções nas Altas Moras, no Monte da Ribeira e no Monte Novo, contribuíram positivamente para a confirmação de da-dos anteriormente divulgados, como é caso dos dois primeiros conjuntos de cistas, para o aumento do nú-mero de sepulturas escavadas com uma metodologia de registo estratigráfico mais exaustiva e, por fim, para o conhecimento de mais contextos arqueológicos re-presentativos dos rituais funerários.
Se a informação obtida nas Altas Moras é muito reduzida, limitando-se às duas cistas (uma delas prati-camente destruída e a outra mais completa, mas com o seu interior já violado) e ao recipiente cerâmico deposi-tado no Museu Regional de Beja, os dados recolhidos no Monte da Ribeira e no Monte Novo são mais interessan-tes. Assim, no Monte da Ribeira 2, escavaram-se três se-
pulturas em relativo bom estado de conservação, tendo--se identificado os restos de duas inumações individuais (uma na sepultura 2 e a outra na sepultura 3). Apesar das sepulturas 1 e 2 poderem já ter sido exploradas, na sepultura 3 os vestígios do indivíduo adulto comprovam a ocorrência de uma deposição primária do corpo.
As sepulturas do Monte Novo também se en-contravam em relativo bom estado de conservação, embora a cista 2 já tivesse sido explorada e parcial-mente destruída, como se verificou durante a sua esca-vação. Ao contrário do Monte da Ribeira 2, não foram detectados sinais das inumações, tendo-se recolhido apenas um recipiente cerâmico na sepultura 1. Desta pequena necrópole, destaca-se a possibilidade das cis-tas estarem envolvidas por uma estrutura tumular for-mada por blocos de quartzo, lajes de xisto e terra muito compactada, que parece ser semelhante ao tumulus da sepultura 2 do Talho do Chaparrinho.
As sepulturas das Altas Moras, do Monte da Ribeira e do Monte Novo estão implantadas em pe-quenas plataformas, com o controlo da paisagem ime-diatamente envolvente, mas com a visibilidade limi-tada, a média distância, por formas de relevo maiores. Embora possa ter existido o cuidado de seleccionar locais planos e relativamente elevados, aparentemente “disfarçados” num território conhecido, estas necrópo-les constituíam certamente marcos de referência rele-vantes na paisagem, por representarem acções sociais e simbólicas, que valorizavam o indivíduo, a família, a comunidade e a sua respectiva tradição.
As três necrópoles agora intervencionadas, se é que de facto uma ou duas sepulturas podem constituir um cemitério, fazem parte do conjunto de necrópoles nucleares, das quais se destaca os Carapinhais. A varie-dade de tipos genéricos de arquitectura funerária (se-pulturas isoladas, necrópoles polinucleares ou nucleares) tanto pode ter uma leitura sincrónica, como pode cor-responder a uma evolução diacrónica, de difícil percep-
Figura 3.25 – Materiais arqueológicos (Soares, 1994)
BRONZE
79
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
ção devido à inexistência de datações absolutas e à vul-garização genérica dos espólios, mas que pode transfor-mar o local onde existia uma sepultura individual, numa zona onde passa a existir um núcleo de sepulturas, cujo o número vai aumentando progressivamente. Ao núcleo original podem ser ainda acrescentados outros agrupa-mentos de cistas, com ou sem tumulus.
Independemente de qualquer outra hipótese aca-démica, a adopção de diferentes modelos arquitectóni-cos tem um significado social importante, já que pode demonstrar a manutenção dos laços familiares (relações filiais, ligações matrimoniais, etc) para além da vida, como pode reflectir uma selecção social prévia, ou seja, as sepulturas e a sua eventual monumentalização constitui-riam uma forma de afirmar o prestígio e o poder um in-divíduo ou de uma família, pertencentes a uma pequena chefatura, junto dos restantes membros da comunidade.
Sem análises de ADN aos ossos humanos reco-lhidos e sem datações absolutas dos contextos arqueoló-gicos funerários, não é possível valorizar qualquer uma destas hipóteses. De facto, se o ADN pode ser funda-mental para caracterizar a constituição do indivíduo e o seu parentesco, já as datações absolutas são essenciais para situar cronologicamente as práticas funerárias.
A perduração do uso de cronologias relativas, baseadas essencialmente nas tipologias artefactuais, quer dos recipientes cerâmicos, quer dos instrumentos metálicos, na arquitectura funerária e, por vezes, na au-sência de contextos arqueológicos estratigraficamente bem definidos, contribui para uma imagem forçosa-mente desfocada dos dados disponíveis.
Na verdade, não há forma de precisar a cronolo-gia da maioria das necrópoles analisadas neste texto, quer por terem sido destruídas ou exploradas, quer por não terem sido intervencionadas, quer por não exis-tirem datações absolutas ou não haver um registo ri-goroso da proveniência dos materiais arqueológicos. Como as identidades culturais de cada sociedade são efectivamente difusas e de sentidos múltiplos, po-dendo as suas manifestações prolongar-se no tempo, a dúvida permanecerá sobre o momento de utilização destes ambientes funerários.
Lamentavelmente, a imagem principal da ocu-pação da Idade do Bronze, na margem esquerda do Guadiana, é formada por um vasto conjunto de infor-mações soltas, muitas delas desconexas, descontextua-lizadas ou provenientes de violações ou de destruições. Embora os recentes trabalhos, sobretudo aqueles que de realizaram depois de 1974, tenham contribuído com um nível informativo mais sistematizado, a au-sência de contextos arqueológicos relacionados com
o povoamento e com o quotidiano dos grupos que ocupavam este território, impede-nos de caracterizar, de forma sustentada, as dinâmicas ocorridas nas suas estruturas económicas e sociais. No sentido de contra-riar a escassez de contextos arqueológicos, o discurso teórico genericamente adoptado apresenta uma socie-dade alicerçada na evolução da actividade metalúrgica e de distribuição de produtos. Essa actividade seria controlada por uma pequena elite, que terá desenvol-vido um espírito bélico e heróico, bem representado nas estelas do Sudoeste e na profusão de grandes po-voados fortificados durante o Bronze Final.
Os contextos arqueológicos agora analisados de-monstram que na construção das sepulturas usaram--se técnicas e materiais relativamente semelhantes e denota-se um comportamento que revela a sistemática adaptação dos meios disponíveis às necessidades, como a utilização de matérias-primas locais, que valoriza a experiência técnica adquirida e a tradição construtiva.
As diferentes arquitecturas são representativas, na sua generalidade, dos modelos adoptados no Su-doeste Peninsular, com a excepção de Belmeque. Tal como a arquitectura, o espólio e o tipo de inumações registados no interior das cistas são comuns aos outros contextos funerários identificados no Sudoeste, com-provando-se, assim, o elevado grau de comunicação e de inter-acção social entre as diferentes comunidades que ocupavam este vasto território, que se estendia muito para além das paisagens do Guadiana.
Se as necrópoles de cistas marcam a paisagem com constantes referências simbólicas para a vivência diária daqueles indivíduos, a “invisibilidade” dos po-voados é bastante intrigante, podendo justificar-se pela nossa incapacidade em identificar os respectivos locais de habitat, devido à sua tipologia ou ao seu tipo de im-plantação, ou pela falta de intervenções sistemáticas nos grandes povoados do Bronze Final, que permitissem obter o registo dos níveis de ocupação mais antigos.
De qualquer forma, o nosso actual conhecimento sobre o povoamento na Idade do Bronze, para além das necrópoles, encontra-se muito condicionado pela valorização das grandes fortificações do Bronze Final, embora, na realidade, se saiba muito pouco sobre a sua natureza, funcionalidade e significado cultural. Assim, a escassez de dados concretos sobre o quotidiano di-ficulta substancialmente qualquer interpretação sobre o processo de “intensificação, diversificação e especia-lização” económica e social, sendo ainda demasiado cedo para estabelecer um modelo completo do proces-so de mudanças e de permanências, durante a Idade do Bronze, na margem esquerda do Guadiana.
FERRO
83
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4. FERROSamuel Melro
4.1. Introdução
A margem esquerda do Guadiana abarca uma longa tradição de investigação arqueológica, resultan-do numa das áreas do Sudoeste com o maior número de referências respeitantes à proto-história peninsular. Procuremos, em seguida, esboçar as principais linhas de estudo da Idade do Ferro desenvolvidas por im-portantes investigadores que actuaram neste território de fronteira, mas no qual se acentuaram, nos últimos anos, as diferenças dos trabalhos arqueológicos entre os dois países peninsulares.
Qualquer leitura introdutória sobre esta região para lá do Guadiana, esboçada entre a bacia deste rio e importantes afluentes como o Ardila, encontra-se condicionada pelo peso tradicional das referências clássicas às suas riquezas mineiras e, por outro lado, pelas referências às entidades pré-romanas da Baetu-ria Céltica. De facto, os textos dos autores clássicos constituíram desde sempre o fio condutor, por exce-lência, da investigação arqueológica sobre esta região, ao considerarem a exploração das riquezas mineiras como a actividade responsável pela dinâmica do po-voamento, pela permuta entre influências exógenas, eminentemente mediterrânicas, e locais, e como pro-pulsora da complexificação social e política das comu-nidades indígenas.
Da mesma forma, as problemáticas relaciona-das com a etnogénese peninsular, enquadraram, desde muito cedo, esta região na movimentação dos povos, tendo orientado uma boa parte do discurso arqueoló-gico e influenciado as propostas da diacronia histórica ao longo do I milénio a.C..
À medida que a evidência arqueológica nesta região foi aumentado, a sua importância foi-se reflec-tindo em todos os compêndios respeitantes à Idade do Ferro, embora seja ironicamente marcada pelo desco-nhecimento de que dela se tem, devido à escassez de trabalhos continuados e sistematizados que permitam a leitura dos modelos e dinâmicas de povoamento da região.
As primeiras abordagens arqueológicas a res-peito deste período resultam das descobertas ocasio-nais transmitidas em jeito de notícia, acerca desta ou aquela peça, ou nos relatos de excursões arqueológi-cas levadas a cabo de terra em terra pelos pioneiros da arqueologia portuguesa. Fora isso, poderíamos considerar a região praticamente ausente nos primei-ros ensaios de síntese que vão forjando a disciplina arqueológica97.
Esta arqueologia tradicional, comummente de-signada por arqueologia histórico-culturalista, foi re-fém da literatura greco-latina, à qual procurou servir de ilustração, num exercício eminentemente descritivo de correlação de materiais e sítios com os locais e as etnias apelidadas pelos autores clássicos. É essa a sua característica central, discípula da ordem conceptual etnocêntrica desses historiadores e geógrafos, e que permanecendo ainda como instrumento analítico, re-pete à luz do paradigma clássico, os erros e distorções feitos ao outro (sejam povos ou paisagens) (Fabião, 1998:73-75). Por outro lado, os dados arqueológicos procuravam favorecer a propensão, latente às primei-ras etapas da arqueologia portuguesa, em demonstrar na geografia étnica pré-romana as raízes da identidade nacional.
A proposta de Leite de Vasconcellos acerca da antiga geografia étnica nacional delineia um território extensamente celtizado: a Lusitânia primitiva entre o Tejo e o Douro, e daí ao norte da Galiza, e um mundo celta na mesopotâmia d’entre Tejo e Guadiana, tal qual a denominara Estrabão (Geog.,III,1.6.). Uma realidade contraposta, por outro lado, com o mundo mediter-râneo cinético-tartéssico do Algarve (Cyneticum)98. O fundador do Museu Nacional de Arqueologia, embo-ra não lhe atribuindo grande atenção, não exclui dos seus estudos “o território português d’além do Guadia-na, com quanto elle (…) pertencesse à Bética”. A sua in-clusão é considerada como uma “pequena infracção de rigor histórico-geográfico” no seu estudo acerca da Lu-sitânia, uma vez que este território é entendido, quer de acordo com a denominação provincial romana, por
97 É imprescindível fazer referência aqui a Estácio da Veiga.98 A separação das áreas actualmente portuguesas de Espanha surge justificada em Leite de Vasconcellos tão só em virtude de um empenho nacionalista pouco fundamentado ainda que, por outro lado, ressalve claramente as afinidades com a Galiza (Vasconcellos, 1987: XXIV).
FERRO
84
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
indicações clássicas da Lusitânia primitiva (Plínio, III -1, 6, e IV, 22, 115; Pompónio Mela, II - 87), quer pelas indicações anteriores da Lusitânia pré-estrabo-niana, como o próprio refere (Vasconcellos, 1987: XXII-XXIV). Esta consideração reflecte no fundo a indefinição estabelecida a propósito dos limites da Lusitânia no sul, que se acentuam, como refere Jorge Alarcão, sobretudo, no troço entre o Chança e o Ar-dila (Alarcão, 1988: 33).
Suportado pela exposição pouco objectiva dos autores greco-latinos acerca dos povos em torno do tramo mais interior do Guadiana, que a caminho da foz resultaria no limite entre o Cyneticum (de cynetes e turdetanos) e o Ager Tartesius (Vasconcellos, 1897, vol.2: 14), Leite de Vasconcellos aproxima esta região à área interior da mesopotâmia celta. Valorizada pelas suas riquezas mineiras, como realçam as fontes clássi-cas, diversos achados e tesouros fortuitos vêem ampliar essa referência. Conta-se entre essas notícias o thy-miaterion recolhido em Safara (Moura) (Vasconcellos, 1924), uma notável peça que cedo chamou a atenção para a margem esquerda, convertendo-se até aos nos-sos dias, num ícone presente em toda a bibliografia e exposições sobre a proto-história do Sudoeste penin-sular, embora arraste consigo a falta de registo do con-texto arqueológico de proveniência (Alarcão (coord.), 1996; A.A.V.V., 2000).
Do outro lado da fronteira repete-se o mesmo cenário de testemunhos isolados, pouco conhecidos e concertados entre si99. Em ambos os países, os esforços desenvolvidos na leitura das realidades pré-romanas concentram-se essencialmente no equacionar e na in-terpretação das fontes clássicas, destacando-se, neste aspecto, o labor de A. Schulten, recorrentemente re-conhecido e citado pelos investigadores espanhóis e portugueses ao longo de todo o séc. XX.
Nos anos que se seguem a Leite de Vasconce-llos, sobretudo, a partir da década de 40, a exposição do manancial arqueológico desta região aumenta conside-ravelmente, devido sobretudo a José Fragoso de Lima (1916-1986), aluno de Manuel Heleno. No entanto, as singelas referências aos povoados proto-históricos, sem lugar para grandes abordagens teóricas ou, no caso dos poucos sítios intervencionados, sem a adequada publica-ção dos resultados, contrastam então fortemente com o
fulgor dos trabalhos realizados pelo casal Leisner acerca do megalitismo alentejano (Leisner, Leisner 1951).
Este contraste espelha o desconhecimento geral acerca das realidades pré-romanas e a sobrevalorização do substrato neolítico e do fenómeno megalítico em detrimento das épocas que se lhe sucederam, depreen-dendo-se, na esteira de Martins Sarmento, quer em Mendes Corrêa ou em Manuel Heleno, citados como dois pólos catalisadores da actividade arqueológica de então, uma natureza pré-celta para a Lusitânia primi-tiva (Fabião, 1998: 82-83).
Já na arqueologia proto-histórica a identidade celta e continental assumem a primazia, na senda do “paradigma racial” que pauta a arqueologia europeia na sua procura das bases étnicas dos estados-nações. Nesse âmbito inverte-se agora a oposição entre gregos e bárbaros, enaltecidos os primeiros no etnocentrismo clássico, para uma valorização das categorias célticas ao invés das mediterrânicas e semitas. As regiões me-diterrâneas do sul são, deste modo, claramente preteri-das em relação a realidades como a cultura castreja no norte de Portugal, embora tenhamos aqui que consi-derar o papel desempenhado pela disposição geográfi-ca dos próprios investigadores.
Também Abel Viana ou Afonso do Paço assu-mem as grandes dificuldades encontradas na identifica-ção e na caracterização das realidades pré-romanas e na caracterização histórica da passagem de era, referindo Afonso do Paço, a propósito do Castelo Velho do De-gebe (Reguengos de Monsaraz), que os “primeiros con-tactos das duas civilizações (…) não [foram] ainda vistos com olhos verdadeiramente científicos” (Fabião, 1998: 95).
De forma a responder a este desconhecimento e ao contraste entre os povoados fortificados do Sul e a realidade castreja do Noroeste, Manuel Heleno le-vou a cabo, no âmbito das responsabilidades do Museu Nacional de Arqueologia, uma série de intervenções arqueológicas em sítios da Idade do Ferro (Macha-do, 1956), entre as quais, as campanhas no Castro da Azougada (Moura) inscreveram definitivamente a margem esquerda do Guadiana no compêndio da Ida-de do Ferro peninsular. Este relevo não adveio porém da publicação das campanhas aí realizadas nos anos quarenta, mas sim da notícia do resgate de ricos es-pólios, que deste modo se viram mais uma vez conde-
99 Nesse âmbito, em torno da bacia meridional do Ardila, destacam-se, de acordo com Berrocal-Rangel, o povoado do Cercos del Castillejo (Medina de las Torres), e sobretudo o oppida pliniano de Nertóbriga, na Sierra del Coto (Fregenal de la Sierra), alvo desde os finais do século XIX de inúmeras “recolhas” de materiais arqueológicos (Berrocal-Rangel, 1992: 32-33).
FERRO
85
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
nados à sua descontextualização100, como já tinha sido o caso do Tesouro do Álamo ( Jalhay, 1931; Heleno, 1935).
Com justiça caberá salientar que a chamada de atenção para o Castro de Azougada surge, não directa-mente motivada pela actividade do Museu de Belém, mas igualmente pela iniciativa de Fragoso de Lima, aluno de Manuel Heleno, que apresentara em 1942 uma tese acerca da Romanização do Território Português da Bética, posteriormente publicada nos anos 80 pela Câmara Municipal de Moura na reabilitação deste ilustre local como figura cimeira da investigação regio-nal da margem esquerda.
Sob a égide de Manuel Heleno, Fragoso Lima desenvolve no concelho de Moura101 um trabalho cujo “fim visa, unicamente o estudo da Bética Ocidental” (Lima, [1942] 1988:15). Sem deixar de salientar, à luz do então estabelecido, os vestígios das civilizações neo--eneolíticas, no que respeita à época proto-histórica Fragoso Lima decalca o paradigma difusionista do in-vasor continental e a ordem conceptual das invasões como etapas civilizacionais, numa sequência cronoló-gica histórico-culturalista pautada pela enunciação de determinado tipo de artefacto com a citação deste ou daquele autor clássico. A Idade do Ferro é associada a uma dominação céltica que ocuparia os castros, seus castelos, a maioria dos quais pertencentes a civilizações anteriores (Id., Ibid.: 62). A importância das riquezas mineiras da região, uma vez mais, determinaria o po-voamento desta região.
Na listagem dos castros de Moura, que este in-vestigador reúne em volta da toponímia e das informa-ções orais que lhe vão chegando, estes são classificados
como pré-romanos ou romanizados, caso nestes últi-mos sejam observados materiais romanos. A listagem não corresponde, no entanto, a observações directas de todos estes sítios, mas sobretudo às sumárias informa-ções reunidas pela Comissão Municipal de Arte e Ar-queologia, que em conjunto com o Museu Municipal, o qual Fragoso Lima está incumbido de organizar, não deixa de demonstrar o interesse antiquário estabeleci-do em Moura. Nesse sentido, será certamente errado deduzir certezas às ocupações da Idade do Ferro dos 18 povoados enunciados na Monografia Arqueológica do Concelho de Moura, do mesmo modo que se reconhecia a existência de outros Castelos em outeiros nas mar-gens do Ardila e do Guadiana, mas que Fragoso Lima não teve oportunidade de os visitar (Id., Ibid.: 58-62).
Sendo estes castros ocupados pelos romanos, como lhe prefere chamar ao invés de romanizados, estes re-sultariam da necessidade em diminuir a resistência dos indígenas e de proteger os pontos de passagem das margens do Guadiana e do Ardila. Fragoso Lima, na ilustração do quadro enaltecedor da oposição lusitana, cita para o efeito Schulten (Schulten, 1940) que descre-ve esta região montanhosa, “habitada a SO pelos Celtas e a NO pelos Túrdulos”, como a “mais exposta às violências dos Lusitanos (…) tribus dáquem Guadiana, [que] costu-mavam atravessar o rio e provocar danos e pilhagens nos férteis terrenos da Bética” (Id., Ibid.: 62).
Quanto à influência fenícia, evitando assumir uma posição que lhe conferisse demasiada importân-cia (ainda que dando conta de achados orientalizantes na vila de Moura), o investigador de Moura102 lembra, em jeito de nota, que pesem as incertezas que a inves-tigação da época lhe apontava, incertezas subjacentes
100 De mais intervenções realizadas em meados do século passado em Moura pouco sabemos. Manuel Heleno, terá escavado o Castro de S. Bernardo (Bubner, 1979), Fragoso Lima chama a atenção para o povoado dos Ratinhos (Lima, 1943; 1960) e para o Castro vizinho dos Pardieiros (Portel), mas será o Castro da Azougada aquele cuja intervenção mais marcas deixou na arqueologia sidérica do Sudoeste penin-sular. Não directamente pelos trabalhos dos anos quarenta, cuja apresentação de resultados não ultrapassou muito mais do que o aspecto noticioso (Lima, 1988 [1942]; 1943; 1951; Heleno, 1953), mas por terem legado, ou antes delegado, às gerações seguintes de arqueólogos um manancial único de materiais arqueológico, cujas peças de excepcionalidade e riqueza, ilustraram boa parte dos modelos explicativos da proto-história do Sul da Península em diversos artigos (Blázquez, 1975 Rouillard, 1975; Almago-Gorbea, 1977; Gomes, 1983, 1990; Gamito, 1982, 1988; Berrocal-Rangel, 1992; Arruda, 1999-2000).101 No parco cenário científico que decorria de um Estado Novo centralista, o contributo de José Fragoso de Lima à arqueologia poderá resultar significativo, ainda que o verdadeiro alcance da sua obra não o coloque exactamente como uma resistência regional ao panora-ma da actividade arqueológica supra ditada pelo Museu de Belém. Para mais, Fragoso de Lima, associado ao longo da sua vida a cargos de estado e colocações que o levavam tão longe de Moura como para os Açores ou para o estrangeiro (onde teve hipótese de participar nas escavações de Pompeia, Herculano, Mérida, Lugo, Tarragona e Ampúrias), não terá tido ocasião sequer de desenvolver um continuado e aturado estudo da sua terra de origem. Pois, ainda que dele provenha o maior contributo quanto à sistematização dos dados arqueológicos na margem esquerda do Guadiana, é a bibliografia, a “toponímia, topografia, etnografia [entenda-se as lendas] e Filologia” as principais fontes de investigação de Fragoso de Lima, assentando os trabalhos de campo sobretudo numa recolha de materiais, cuja enunciação resulta quase sempre como sumária (Lima, [1942] 1988).102 Num artigo de imprensa de 1935, Fragoso Lima dá conta de uma escavação realizada na rua de Santana e Costa, onde foram recolhidos vários objectos de feição oriental (Lima, 1951).
FERRO
86
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
ao enaltecimento da componente céltica e desconside-ração da componente semita, não haveria lugar para estas dúvidas na Bética. Como tal, nesta parte ociden-tal a sua influência ter-se-ia feito sentir, mais uma vez na rota dos metais da Adiça, desde Cádiz às regiões da Serra Morena, ou pelo Guadiana acima (Id., Ibid.: 63).
Por fim, desde os anos sessenta, destacar-se-ão na região, pela sua dimensão, as intervenções conduzidas por Afonso do Paço e Joaquim Bação Leal no Castelo da Lousa103, colocando-o, aliás, no epicentro das expli-cações acerca do processo de conquista e romanização do sudoeste (mais tarde a par com os Castella da área de Castro Verde).
Desde a década de 70 opera-se na arqueologia portuguesa e espanhola um profícuo processo de pro-fundas transformações, quer do modo e dos meios, quer do alcance e dos objectivos desta disciplina. Re-flexo das propostas da Nova Arqueologia e reagindo ao debate epistemológico desenvolvido em torno do mé-todo e da teoria da actividade arqueológica, este é um período conduzido por uma geração de arqueólogos que vieram a consagrar as que são hoje tomadas como as visões tradicionais acerca da proto-história peninsu-lar, e que são responsáveis pela edificação de um verda-deiro corpo explicativo que então ganha forma e cujo peso ainda hoje se revê sobremaneira na investigação arqueológica.
As novas abordagens, resultaram sem dúvida numa multiplicação de dados e problemáticas sobre as vivências proto-históricas, embora este salto quantita-tivo e qualitativo resulte claramente a favor dos con-tributos espanhóis, cujas passadas ditam claramente o compasso aos colegas portugueses, facto rapidamente perceptível num olhar sobre a bibliografia arqueológica do Sul peninsular.
O certo é que se assiste então a um claro incre-mento à investigação arqueológica na margem esquer-da do Guadiana, embora seja importante frisar desde logo, que entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro se aprofundam as diferenças. Aumenta, na senda de Abel Viana, Afonso do Paço e Bação Leal104, o conhe-cimento acerca das necrópoles da Idade do Bronze, propulsionado pelos trabalhos de Schubart e Almar-go-Gorbea105, e expresso sobretudo nos trabalhos de Rui Parreira e Monge Soares, como já tivemos ocasião de salientar a propósito dos percursos de investigação da Idade do Bronze.
Porém, para a Idade do Ferro, a atenção centra--se sobretudo nas peças das colecções reunidas pelas anteriores gerações de investigadores, com ênfase para os objectos metálicos e/ou materiais exógenos. As lei-turas permanecem focadas nestes artefactos, ilustrando os contactos extra-regionais da região com o mundo mediterrânico, à semelhança de uma categorização histórico-culturalista, embora rompendo com esta para partir para uma fundamentação sistémica, social e económica, alicerçada nos pressupostos processualistas e no aprofundar dos estudos de arqueologia espacial. Daí resulta, numa evolução conceptual e epistemoló-gica, e em traços largos, um discurso eminentemente difusionista, a propósito das vagas populacionais cel-tizantes, cuja componente continental resulta na dife-renciação de uma segunda Idade do Ferro com uma primeira Idade do Ferro orientalizante.
É este o modelo explicativo dominante da Ida-de do Ferro do Sudoeste formulado por Caetano de Melo Beirão e pelos seus colaboradores (Beirão, Go-mes, Monteiro, 1979). Estes autores determinam uma I Idade do Ferro entre os sécs. VIII/VII e V, própria de um “vasto conjunto civilizacional (…) no Baixo Alentejo e Algarve, detentor de uma cultura altamente desenvolvida e com contactos intensos com o mediterrâneo oriental” sob a área de influência de Tartessos. Esta região seria palco, nos sécs. V-IV, “de uma profunda transformação cultural, ocasionada pela chegada de populações de origem continen-tal que se instalaram sobre uma civilização em adiantado declínio, criando uma II Idade do Ferro” (Beirão, Gomes, 1980: 3-6). Assim, às fortes influências mediterrâneas que “evoluiu da Idade do Bronze debaixo do estímulo en-riquecedor de intensos contactos” (Id.: 9), sucede-se uma “influência continental, recuada ao interior da Península e constituindo o substrato celtibérico que os romanos se aper-ceberam” (Beirão, 1986: 27).
A estratégia de povoamento inerente a esta se-quência diacrónica resultaria de uma Idade do Bronze Final com o povoamento dividido entre pequenos po-voados abertos e povoados de cumeada, onde residi-riam as elites, acentuando-se essa teia hierárquica de povoados fortificados com a intensificação dos contac-tos mediterrânicos, a partir do séc. X e até finais do séc. IX ou inícios do VIII a.C. (Gomes, Silva, 1992). Um “sistema económico-político emergente do Bronze Fi-nal com a administração organizada em escala hierárqui-ca, centralizada em cidades da qual dependeriam grupos
103 Paço, Bação, 1966a.104 Viana, 1947; Paço, Leal, 1962; 1963; Paço, Ribeiro, Franco, 1965.105 Schubart, 1971; 1974; 1975 e Almargo-Gorbea, 1977.
FERRO
87
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
de pequenos povoados fortificados e governados por chefes guerreiros – as chefaturas – que exerceriam o verdadeiro controlo político e administrativo dos territórios a seu car-go, sobretudo no que respeita à defesa, à exploração mineira e comercialização dos seus produtos como à redistribuição dos bens” (Beirão, Gomes, 1983: 26)
Esta citação ilustra a análise sistemática e a preo-cupação na reconstituição da hierarquia dos lugares e das relações económicas e políticas, vistas sob a égide de uma complexificação crescente e que contribuem para o incremento de uma arqueologia espacial e dos estudos de áreas regionais, como a margem esquerda do Guadiana, embora esta designação seja herdada de anteriores abordagens (Lima, [1942] 1988). Esta re-gião, na linha processualista que persiste desde então, é determinada em torno do meio físico, o que significa falar em torno das suas bacias hidrográficas, e na maxi-mização da exploração dos seus recursos metalúrgicos, que permanecem como o fio condutor do discurso da investigação arqueológica. Desde a Idade do Bronze, povoados como os de São Brás, Misericórdia (Serpa), Ratinhos ou Passo Alto (Serpa) atestariam essa com-plexidade social, e um “enriquecimento tecnológico e a sofisticação cultural, conferida por bens exógenos, a par de uma crescente estruturação político-administrativa que irá possibilitar a origem de sociedades proto-estatais” (Gomes, Silva, 1992: 114-155).
Teresa Gamito destacará, igualmente nos seus trabalhos sobre o Sudoeste peninsular (Gamito; 1986b; 1988; 1990), esta área, pelo seu potencial eco-nómico, salientado quer o papel do Guadiana, quer o papel das vias terrestres que a atravessam longitudinal-mente, como os seus eixos estruturantes. A este poten-cial estaria associado um surto demográfico detectável na elevada distribuição de necrópoles do Bronze, nos numerosos achados isolados e nos castros da região (Gamito, 1990: 19).
Debruçando-se sobre os materiais dos povoa-dos da Azougada e dos Ratinhos, esta investigadora integra-os num mesmo sistema social, e nos quais se manifestariam entre 800 e 700 a.C. até 600/500 a.C a introdução de diversas influências. A Azougada cons-tituiria “o lugar central da hierarquia social e económica, residência de uma elite dominadora e poderosa, localizada no eixo dos movimentos comerciais da região e controlan-do todo o movimento do Guadiana e a entrada ou foz do Ardila, no que era secundado pelo Castelo Velho” e pelo
Castro dos Ratinhos, sítios complementares do mes-mo sistema social e económico, mas de amplitude e importância menor (Gamito, 1990: 23-24). Na pers-pectiva dos lugares centrais, Teresa Gamito não me-nospreza igualmente a eventual importância de Mou-ra, embora aí faltem as evidências materiais como as disponibilizadas por Fragoso Lima e Manuel Heleno para a Azougada.
Teresa Gamito, como Caetano de Mello Beirão e Varela Gomes, apresentam a dicotomia entre as duas Idades do Ferro, intercaladas pelo desaparecimento do Reino de Argantónio, o crescimento do poder carta-ginês e as “novas etnomigrações” celtizantes (Gomes, Silva, 1992: 138). A sua leitura historicista dos povos é sustentada a partir da observação de materiais exóge-nos e no recurso às referências clássicas, uma persistên-cia na explicação dos fenómenos de mudança cultural. Os materiais do Castro da Azougada provenientes das intervenções dos anos quarenta, constituem a base de referência para a área em estudo, sucessivamente apre-sentados por diversos investigadores, nomeadamente os bronzes e a cerâmica importada106, embora não exis-ta à data qualquer abordagem global ao conjunto re-partido entre o Museu de Moura e o Museu Nacional de Arqueologia.
Os materiais da Azougada demonstram, segun-do Teresa Gamito, um entrecruzar de elementos e in-fluências orientalizantes e celtizantes, que junto com a própria evolução das populações autóctones, reflectia o mesmo universo observado na Estremadura Espanho-la e no Alto Alentejo e o estreito contacto desta região com o território de Tartessos (Gamito, 1990: 23-24). Já segundo Ana Arruda, a indicação de uma “outra” I Idade do Ferro, não exclusivamente orientalizante, estaria assim patente, nesta área interior, na “continen-talidade” dos espólios da Azougada, Ratinhos ou nas filiações decorativas, por exemplo, do tesouro do Ála-mo (Arruda, 1993: 52-53; 60). Convirá, por fim, não esquecer as naturais dificuldades no enquadramento destes conjuntos, atendendo à natureza dos seus regis-tos, como à sua repartição entre os conjuntos materiais tipificados para o Sudoeste.
Já quanto à determinação do contexto deste rico conjunto material da Azougada, Schüle sugere provir antes de um espaço de necrópole (Schüle, 1969:280), propondo Mário Varela Gomes a existência de um es-paço de santuário que estaria muito activo entre os sécs.
106 Schüle, 1969; Arnaud, Gamito, 1974-1977; Almargo-Gorbea, 1974; Rouillard, 1975; Blazquez, 1975; Almargo-Gorbea, 1977; Gamito 1982; 1983; 1988; 1990; Coffyn, 1985; Gomes, 1983, 1990; Beirão, Gomes, 1985; Berrocal-Rangel, 1992; Arruda, 2000.
FERRO
88
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
VI e V (Gomes, 1990: 86; Gomes, Silva, 1992: 180). Mário Varela Gomes destaca, em detrimento da cerâ-mica comum de fabrico local ou regional de tradição do Bronze Final (a que se juntara os estímulos continentais e mediterrânicos), o espólio de feição religiosa, debru-çando-se sobre a simbologia do mesmo e das distinções que se operam no povoado, na continuidade do modelo analítico que apresentara a respeito das estelas da Ida-de do Bronze Final (Gomes, Monteiro, 1976-1977). A estatueta de bronze da Azougada representando uma divindade ameaçadora de origem oriental (smiting god), relacionar-se-ia em continuidade com a linha de assi-milação cultural, enunciada nos guerreiros heroicizados das estelas, e o ambiente ideológico-religioso que aí se desenvolvia desde a Idade do Bronze107 (Gomes, 1992: 158). O fim deste santuário de feições orientais prestar--se-ia à falta de implantação junto das populações mese-tenhas fixadas na região ou à ascenção de outros santuá-rios, como o oppidium do Castelo de Moura (Id.: 180).
Os bronzes da Azougada, somados ao já referi-do tymiaterion do Castelo Velho de Safara (Vasconce-llos, 1924), ao touro de bronze encontrado na região de Mourão (Correia, 1989), acabaram por funcionar como peças representantes de um orientalizante in-terior observado na margem esquerda do Guadiana. Um aspecto realçado, na abordagem a este período por Ana Arruda, que rebate a feição continental antes ex-posta108 pela matriz mediterrânica, assinalada de igual modo nas cerâmicas de engobe vermelho e na cerâmi-ca ática do séc. IV provenientes da Azougada (Arruda, 1999-2000).
Para Ana Arruda, a concentração de objectos orientalizantes, na margem esquerda do Guadiana, concretamente na bacia do Ardila, relacionada com a exploração dos recursos mineiros locais e com o mun-do tartéssico da Baixa Extremadura Espanhola e da Alta Andaluzia Ocidental, resulta, não de uma rela-ção directa com o mundo litoral fenício, via Guadiana, mas sobretudo dos circuitos terrestres que envolveriam os povos indígenas da área tartéssica (Arruda, 1993: 48-49), ou seja, ”com a integração desta região no que, mais tarde, constitui a Baeturia Céltica dos textos clássicos” (Arruda, 1999-2000).
Sumariando, a par de uma importante actividade mineira, destacada sempre sobre as outras actividades económicas das populações proto-históricas, a aborda-gem a este território peninsular entre os fins do II mi-lénio e ao longo do I milénio a.C., é vista desde os anos sessenta, sob a égide da complexidade social – gerado-ra de sociedades proto-estatais e de geografias políticas (Gamito, 1990:17-28; Gomes, Silva, 1992: 114-155) – movida, por sua vez, pela intensificação dos contactos comerciais que determinariam a inclusão desta região em circuitos culturais supra-regionais.
Para lá da atenção dada ao Castro da Azouga-da e de algumas tentativas de cartas arqueológicas109, os contributos à arqueologia da margem esquerda do Guadiana centraram-se num conjunto de intervenções dispersas, traduzindo-se a grande maioria em reduzi-das sondagens.
Em 1980 e 1981, Pinho Monteiro realizou esca-vações arqueológicas no Castelo de Moura110. A cam-
107 Os bronzes da Azougada, o thymiaterion de Safara, ou a tampas toreutícas de thymiateria de Mourão, junto com o oenochoe de Beja (Gomes, 1989), seriam obra de torêutica peninsular tardia associada a uma vivência religiosa própria das divindades genésico-agrárias ou fecundantes (Gomes, Silva, 1992: 158).108 As distintas filiações culturais poderiam advir de uma sequência cronológica que não fora assinalada.109 Quanto aos ensaios de cartas arqueológicas, sem deixar de lado o inventário iniciado por Gustavo Marques e finalizado por Paulo Lima na Carta do Património de Portel (Lima, 1992), na margem esquerda do Guadiana Irissalva Moita ensaiou uma abordagem (Moita, 1965), pelo que na verdade essas cartografias só seriam publicadas em parte, e mais recentemente, nos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Alqueva, e para o Concelho de Serpa (Lopes, Carvalho, Gomes, 1997). Os trabalhos de levantamento e prospecção em torno do Alqueva remontam aos finais dos anos 70, pela iniciativa de Pinho Monteiro (Monteiro, 1979), que alerta, para a proto-história em particular, o impacto sobre os povoados dos Ratinhos e os Pardieiros (Silva, 1999: 33-36). Apesar dos esforços de Caetano de Mello Beirão para a elaboração de um plano de salvaguarda, apenas em 1986 surge o primeiro E.I.A., resultado de prospecções da equipe de Carlos Tavares da Silva (EGF/DRENA, 1986), mais uma vez salientando a protecção dos Ratinhos e Pardieiros, mas ressaltando de igual modo o Castelo das Juntas. Dez anos depois, passa-do o Projecto Arqueológico do Alqueva entre 1988 e 1991 (Sousa, 1994), o Campo Arqueológico de Mértola apresenta em 1996 o resultado de novas prospecções (Projecto LAPA) (CAM, 1996), completadas, nesse ano ainda, pelo Núcleo de Património da EDIA com as prospecções das bacias do Alcarrache e do Zebro. Em Setembro de 1996 é apresentado, na abertura aos trabalhos de minimização, o Quadro Geral de Referência, enunciando que “algo inesperadamente, a densidade de vestígios atribuídos às Idades do Bronze e Ferro é bastante reduzida (…) na totalidade não mais que 40” (Silva, 1999: 18).110 Os trabalhos arqueológicos que decorreram posteriormente no Castelo de Moura em 1989 e 1990, coordenados por Santiago Macias, não atingiram níveis pré-romanos. Não são contudo, ainda conhecidos os dados das intervenções de Mário Varela Gomes, nos finais dos anos 90, sendo que as últimas intervenções realizadas já neste século, não atingiram estratos proto-históricos.
FERRO
89
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
panha de 1980 deu a conhecer uma sequência, entre níveis do séc. V e princípios do IV e níveis do séc. II e I a.C. (Monteiro et alii 1980-1981), mas dado o malo-grado desaparecimento do arqueólogo da Universida-de de Évora (†1982) não se concretizou o estudo dos materiais recolhidos, sendo travada a marcha de um projecto de investigação que almejava, para lá da valo-rização patrimonial do Castelo, alcançar uma série de pressupostos processualistas em torno do estudo das ocupações proto-históricas de Moura.
Orientação exposta por Pinho Monteiro quando ciente que a sua eficácia passava por ultrapassar “o es-tudo atomístico e fragmentário de estações, para passar à compreensão das dinâmicas de utilização humana de um território (…) [no qual] os homens habitam em povoados mas vivem em regiões cujos recursos explo-ram mediante os seus sistemas económicos” (Id.: 7). A estratégia de povoamento sugerida (tomando em con-ta o Castelo de Moura, Azougada, Ratinhos e Pardiei-ro), espelha o modelo atrás enunciado, e “ditada pelo domínio das vias fluviais e das terras férteis que lhe são vizinhos, controlando o triângulo Ardila-Guadiana através de um sistema de articulação defensiva entre os povoados” (Id.: 7).
Com semelhante ênfase entre as estratégias de povoamento e as actividades económicas ditadas pelo meio envolvente, caberá a maior fatia de contributos na região a Monge Soares, que desde a década de 70 até à data, se têm debruçado sobre o Bronze do Su-doeste, entre o Ardila, Chança e Guadiana, estabe-lecendo a ponte com a Idade do Ferro no estudo da actividade metalúrgica, tema central de boa parte dos seus trabalhos.
Deste modo, a par dos trabalhos de inventaria-ção da mineração na antiguidade de Domergue (Do-mergue, 1987, 1990)111, é incontornável nos trabalhos acerca da proto-história desta área, a referência às ac-tividades metalúrgicas assinaladas por Monge Soares para o povoado sidérico do Castelo Velho de Safara (Moura), de cronologia entre o séc. IV a.C. e o I d.C. (Soares, et alii, 1984; Soares, et alii,1994; Soares, et alli, 1996), e às estruturas metalúrgicas do povoado da Azenha da Misericórdia e do Passo Alto (Soares, 1996; Soares, 1986), ambos do Bronze Final e com
ocupações da II Idade do Ferro, junto a fontes de abastecimento de minério, como as serras de Serpa, Barrancos, Ficalho, Adiça ou Preguiça.
Dos trabalhos de Monge Soares, uma referência deve ainda ser feita ao testemunho da ocupação sidé-rica do Castelo de Serpa entre os sécs. IV / III a.C., na sequência de intervenções de 1984 e 1985 (Soares, 1986), assim como, aos vestígios da segunda Idade do Ferro assinalados em Vila Verde de Ficalho.
Na margem esquerda do Guadiana deve refe-rir-se ainda a ocupação da Idade do Ferro detectada no Castelo de Noudar (Barrancos) (Rego, 1994), e os levantamentos arqueológicos que Miguel Rego e outros colaboradores do Campo Arqueológico de Mértola têm levado a cabo nas últimas décadas. Nesta vila, os vestígios proto-históricos têm aflora-do, aquém dos vestígios romanos e islâmicos (e como tal em menor escala) realçando a importância desta acesso natural com o mediterrâneo, e seu elo com o interior alentejano.
Mais recentemente Virgílio Lopes e David Hou-card aportaram novos dados à Mértola pré-romana, a juntar às primeiras notícias da equipe do C.A.M. que dera a conhecer um conjunto de cerâmicas áticas do séc. IV a.C. (Rego, Guerrero, Gómez, 1996), desenvol-vidas posteriormente (Arruda, Barros, Lopes, 1998). Ao troço amuralhado em torno de Mértola é agora atribuído por estes autores uma origem entre os sécs. IV-III a.C., aproveitando uma primeira construção da I Idade do Ferro, situada próxima da zona onde anos antes surgira uma estela epigrafada do Sudoeste (Faria, 1994). Este monumental esforço de construção de um recinto fortificado, de cerca de 70 hectares, constitui-ria assim indício da riqueza e importância do povoado pré-romano (Houcard, et alii, 2003), já antes atestada para a época republicana112.
Em todos estes contributos e à frente da linha condutora da investigação proto-histórica, permane-cem ainda como directores de cena, os elementos exó-genos, embora já não descurando o peso do elemento indígena, cujo “evolucionismo” salutarmente refreou o “difusionismo” tradicional. Uma perspectiva aliás reflectida nos trabalhos que dão a conhecer a grande densidade de povoamento proto-histórico em outras
111 Mais recentemente Maria da Luz Oliveira Van Schoor, com a colaboração de Miguel Rego, levou a cabo alguns esforços preliminares para detectar vestígios proto-históricos em torno da Mina de Rui Gomes (Moura) e da Mina de Aparis (Barrancos), de forma a aferir as informa-ções que davam conta dessas antigas explorações (Vasconcellos, 1922; Araújo, 1945; Silva, 1949; Lima, 1951; Moita, 1965; Alarcão, 1988), não tendo, no entanto resultado dessas averiguações quaisquer resultados positivos (Van Schoor, 1999).112 Cedo se pode exemplificar estes vestígios, como o depósito de ânforas romano republicanas recolhidas pela iniciativa de Leite de Vas-concellos em 1904 (Vasconcellos, 1905) e apresentadas por Carlos Fabião (Fabião, 1987).
FERRO
90
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
áreas do interior alentejano, nomeadamente no eixo de Ourique, Castro Verde e Almodôvar113 .
Esta sistematização tradicional e dominante da Idade do Ferro é rebatida, em Portugal, desde os anos 90, sobretudo, pela docência da Faculdade de Letras de Lisboa, numa crítica a uma visão linear bipartida e ge-neralizada da proto-história (Arruda; Guerra; Fabião, 1995). O que pretendem negar, como referem “não é tanto «uma concepção mediterrânica» e uma «concepção indo-europeia» de um amplo espaço que se teria seguido no tempo, mas sim a existência de uma enorme área po-lítico administrativa que terá sido imposta, primeiro por um processo de anexação por parte do reino de Tartessos e, depois, pela migração em massa e ou invasão, e consequente conquista do território português pelos povos celtas” (Arru-da, 1993: 68).
Na valorização do registo arqueológico como a chave da formulação de uma diacronia, era criticado no modelo tradicional historicista os pilares sobre o qual este se consubstanciava, isto é a relação de de-pendência com as fontes clássicas e a falta de contex-tos efectivamente escavados. Tendo isso em conta, a crítica ao modelo delineado nos anos 70 e 80, consi-dera que não terá sido ultrapassada a “arqueologia dos povos”, já antes exposta desde os inícios da disciplina numa perspectiva difusionista. Mesmo sobre outros pressupostos teóricos e metodológicos, a arqueologia proto-histórica tenderia ainda, como refere Ana Ar-ruda, “para uma interpretação que, se não é difusionista, pelo menos tenta integrar o processo evolutivo observado numa determinada região ou num determinado sítio, na evolução e transformação das comunidades de um amplo espaço, geralmente a Europa central e/ou mediterrânea” (Arruda, 1997: 26).
Ao invés, é contraposto um reconhecimento da especificidade das realidades peninsulares e de novos quadros conceptuais que não simplesmente o “célti-co” ou o “orientalizante”. Perante o parco panorama de dados empíricos existentes, Carlos Fabião reforça que “antes de insistir em perspectivas globalizantes haverá que indagar as realidades regionais (se não mesmo “micro--regionais”), para tentar, depois partir para as visões de conjunto” (Fabião, 1998: 107-114), pelo que enfatiza “os estudos arqueológicos, normalmente os que incidem sobre
um único sítio ou região, e que pretendem expor os seus da-dos e organizá-los coerentemente em sequência cronológica, independentemente das filiações étnicas ou linguísticas dos seus produtores/utilizadores” (Id.: 108).
Salientando como cerne da questão a corres-pondência entre nomes, conceitos e parâmetros cro-nológicos (id.: 109), o estudo da margem esquerda do Guadiana constituirá para Carlos Fabião um ele-mento de aferição à penetração de elementos orien-tais e à constituição de realidades concretas, como por exemplo: as chamadas “fases orientalizantes tardias” e “pós-orientalizantes”. Tais aspectos resultam, em pri-meiro lugar, das interrogações colocadas ao conceito de “orientalizante” – pilar da leitura de Caetano Mello Beirão – ou mais propriamente, às diferentes escalas do impacto orientalizante e ao modo como o mesmo pode ser aferido através da distribuição e difusão de artefactos orientalizantes nas sociedades: tão só como importações, ou se imiscuídos já nos comportamentos sociais e económicos destas áreas interiores.
A investigação espanhola por outro lado, negan-do o declínio clássico da queda de Tartessos sobre a sua área de influência, como demonstraram os trabalhos de referência de Cancho Roano e outros realizados na Extremadura espanhola, aportaram no conceito de um “orientalizante tardio”, como frisou Carlos Fabião, necessárias cautelas a ter com os parâmetros cronoló-gicos a usar (Id.110-111). A actividade arqueológica do lado espanhol da margem esquerda do Guadiana, constitui-se assim como o alicerce de boa parte das lei-turas no que respeita aos enquadramentos diacrónicos e culturais da proto-história peninsular das bacias do Guadiana e do Ardila.
Cabem a Berrocal-Rangel e a Rodriguéz Díaz, ampliando e somando-se ao impacto provocado pelo trabalho pioneiro de Almargo-Gorbea (Almargo--Gorbea, 1977) para o conhecimento do I milénio a.C., os principais e merecidos méritos no lançamento da investigação destas áreas e em concreto da Beturia Céltica. Semelhante labor, parte desde a década de 70 e 80, quando ecoam em ambos os lados da fronteira, pelo menos dois eixos que influem enormemente no estudo da região que temos vindo a focar: por um lado o boom da arqueologia tartéssica e do mundo orienta-
113 Região, que em virtude da geografia da investigação levada a cabo por Caetano de Mello Beirão e seus colaboradores (Beirão, 1972, 1986; Beirâo, Gomes, Monteiro, 1979; Beirâo, Gomes, 1980, 1984; Beirão et alii, 1985; Beirão, Correia, 1991; Dias, Beirão, Coelho, 1970; Dias, Coelho, 1971, 1983) e por Manuel e Maria Maia; (Maia, Maia, 1986, 1996; Maia, 1985-1986) se converteu em referência chave com evidentes reflexos na leitura de outras áreas regionais no centro/sul português.
FERRO
91
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
lizante fenício na vizinha Andaluzia; por outro lado, a celticidade e a etnogénese pré-romana na bacia do Ardila e no Sudoeste peninsular.
Já então em Espanha a arqueologia espacial con-vertera-se, como refere Pellicer Catalán (Pellicer Ca-talán, 2000: 43), num objectivo primordial e num dos eixos da nova arqueologia, multiplicando para as áreas da Andaluzia e Extremadura toda uma série de car-tas arqueológicas e estudos do povoamento daí emer-gentes, sem qualquer paralelo com o panorama até aí existente e claramente auxiliado pelo fulgor e o ânimo impulsionado à investigação pelas entidades regionais.
Da redescoberta de Tartessos, assim como à pro-cura da determinação das identidades étnicas célticas, lusitanas, túrdulas ou turdetanas, preocupadas no traçar das etnogénese regionais, tornou-se indiscutível para o conhecimento da margem esquerda do Guadiana os trabalhos de Berrocal-Rangel e de Rodriguez Diaz. A eles se devem não só as primeiras tentativas de orga-nizar as pautas tipológicas e cronológicas da cultura material cerâmica local e regional, como sejam para os casos do Castrejón de Capote (Higuera Real, Badajoz) (Berrocal-Rangel,1994) e da Ermita de Bélen (Zafra, Badajoz) (Rodriguez-Diaz, 1991), mas sobretudo por ultrapassarem o mero enfoque tipológico e tradicional baseado neste ou naquele sítio, funcionando a arqueo-logia espacial como a espinha dorsal desta linha de in-vestigadores114.
Como refere Rodriguez Diaz e Ortiz Romero, ainda que não desconsiderando o peso da historiogra-fia tradicional, e procurando a caracterização das enti-dades étnicas pré-romanas, nos modelos explicativos da protohistória das bacias do Guadiana e do Ardila ganham destaque, “libertando-se da servidão do monu-mental e das grandes fundações (…) questões importantes como podem ser as bases económicas do mundo indígena, a estrutura do povoamento, os recursos económicos ou a definição precisa dos ritmos do espaço cultural e político de Roma. (…) A bagagem conceptual incrementou-se de forma notável e com ela surgiram novos marcos interpre-tativos que foram deixando obsoletas as abordagens tradi-cionais ” (Ortiz Romero; Rodríguez Díaz, 1998: 248). Assim se definem as principais sínteses produzidas acerca desta região (Berrocal-Rangel, 1988; 1989-
1990; 1992; 1994; Rodriguez-Diaz, 1990; 1995; 1998; Almargo-Gorbea (dir), 1994; 1996).
Perante este cenário, a arqueologia do Alque-va aporta necessariamente, na sua contradição com a submersão de vestígios, sítios e paisagens, uma opor-tunidade de concorrer como nunca até aqui para o conhecimento das realidades do I milénio a.C.. Desta forma, o presente texto traduz o início dessa outra fase no percurso da investigação proto-histórica, na margem esquerda do Guadiana, a par de uma consolidação da investigação da Idade do Ferro no Sul de Portugal quer na continuidade de estabelecidos projectos de investiga-ção (como em Almodôvar ou Castro Marim), quer em áreas “redescobertas” como o Alentejo Central, Portel, Beja, Odemira, etc., muitas vezes na consequência da “arqueologia de salvamento” que lançou as novas gera-ções de investigadores, já apelidada de “geração alqueva”.
4.2. Sítios Intervencionados
4.2.1. Serros Verdes 4João Albergaria
O sítio dos Serros Verdes 4 foi identificado nas prospecções arqueológicas realizadas no âmbito do EIA do Empreendimento do Alqueva (EDIA, 1996), tendo sido classificado como um habitat Neolítico/Calcolítico e integrado no projecto de minimização dedicado à ocupação pré-histórica da margem esquer-da do Guadiana, devido à recolha de fragmentos de cerâmica manual e de indústria lítica do tipo langue-docense (Silva, 1999:308).
4.2.1.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
Nos Serros Verdes 4, foram escavadas três son-dagens arqueológicas, com uma área total de 50 m2, dispersas por uma pequena plataforma de encostas suaves, sobranceira a um ribeiro sazonal que desagua no rio Guadiana e circundada por outros cabeços.
Das áreas intervencionadas, a sondagem 3 era aquela que tinha a estratigrafia mais simples, dado que
114 Para lá destes dois últimos sítios, e depois de Medellin, também o emblemático sítio de Cancho Roano resulta como referência obrigató-ria na altura de proceder a uma análise à cultura material e ao povoamento que se estende pela margem esquerda do Guadiana. Outros sí-tios resultam igualmente como indicações cruciais, como os resultantes das intervenções em Badajoz; Los Castillejos 2 (Fuente de Cantos); Castro de La Martela (Segura de Léon), El Castañuelo (Aracena), La Nertóbriga (Fregenal de la Sierra); Castillo de Fregenal (Fregenal de la Sierra); Mata del Campanário (La Coronada), etc.
FERRO
92
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
se resumia a uma fina camada de terra, sobreposta à rocha-base, na qual não foram identificados contextos arqueológicos, nem recolhidos materiais.
4.2.1.1.1. Sondagem 1
As sondagens 1 e 2 foram implantadas numa área que tinha à superfície uma grande mancha de blocos de quartzo com médias e pequenas dimensões, provavelmente arrastados dos edifícios deste habitat.
Após a remoção da camada de superfície (UE 26), apareceu o topo do muro 4 e do muro 5, dispostos de forma perpendicular, um depósito com claros sinais de revolvimento (UE 12), um depósito possivelmen-te relacionado com o abandono do compartimento 1 (UE 14) e, por fim, um depósito formado já depois da destruição do edifício 1 (UE 15).
A UE 12 encontrava-se sobre a rocha-base, con-tinha alguns fragmentos cerâmicos (cerca de 50 bojos e o bordo de um prato), e deve corresponder ao resul-tado da acumulação de terras num espaço exterior ao edifício 1.
A UE 15 era um depósito que estava sobre os vestígios dos muros 3 (UE 19) e 6 (UE 20), e sobre três depósitos (UE 21, 22 e 23)115 que podem ser as-sociados ao abandono do edífício. Nestas três unidades
recolheram-se apenas fragmentos cerâmicos na UE 21 (13 exemplares), sem bordo e sem fundo, não sendo possível por esse motivo reconstituir a forma dos vasos.
A UE 14 encontrava-se somente no interior do compartimento 1 (ambiente delimitado pelos muros 4 e 5) e sobre a rocha-base e o seu processo de forma-ção pode estar relacionado com o abandono daquele espaço.
Neste depósito, recolheu-se cerca de 37% do conjunto total de fragmentos cerâmicos e aproxima-damente 43% do conjunto de recipientes com registo individual, do qual se destacam os Potes/Panelas (11 exemplares), em detrimento dos pratos (5 exemplares).
Ao paramento Sul do muro 4, foram encostados dois muros paralelos (muros 3 e 6), separados apenas por 60 cm, para os quais não se conseguiu atribuir fun-cionalidade, nem perceber a sua relação com o restante edifício, devido aos limites impostos pela sondagem.
O nosso conhecimento sobre a construção e a uti-lização do edifício 1 é naturalmente muito escasso, de-vido à reduzida área intervencionada e ao elevado grau de alteração pós-deposicional dos contextos escavados. Apesar destes condicionalismos, considera-se a hipóte-se de existir, pelo menos, um compartimento de planta rectangular, que se encontra integrado num conjunto de outros ambientes de natureza indeterminada.
Figura 4.1 – Vista geralda paisagem envolvente
115 A UE 22 estava depositada entre o limite oeste da sondagem e o muro 3, enquanto que entre os muros 3 e 6 foi registada a UE 23. A UE 21 encostava ao paramento este do muro 4. Qualquer uma destas realidades encontrava-se sobre a rocha-base.
FERRO
93
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.2 – Sequência de planos estratigráficos (sondagem 1)
4.2.1.1.2. Sondagem 2
Depois de retirada a camada de superfície (UE 1), ficou à vista, no lado este da sondagem, o topo dos muros 1 (UE 2) e 2 (UE 11), que definem o canto SO do compartimento 2, e um depósito de terras casta-nhas claras (UE 3), que preenchia o interior daquele espaço.116
No lado oposto da sondagem, após a remoção da UE 1, identificou-se o muro 7 (UE 5) e o muro 8 (UE 6)117. O muro 7 estabelecia um ambiente totalmente fechado, de planta sub-rectangular, que encostava ao paramento NE do muro 8 e que era preenchido por um depósito de cor castanho amarelado (UE 7).
O muro 8 servia também como limite norte do compartimento 3 (ambiente que se desenvolve para
116 Ao contrário da UE 14, não se recolheram materiais arqueológicos na UE 3.117 Entre o corte Oeste da sondagem e o paramento Oeste dos dois muros, registou-se um depósito de terras castanhas (UE 10).
FERRO
94
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.3 Vista geral do edíficio 1
Figura 4.4Vista geral do edifício 2
fora dos limites da escavação), no qual se identificou um lajeado formado por lajes de xisto com médias dimensões (UE 25), sobre o qual foi detectado um depósito de sedimentos de cor castanho-claro (UE 8), que pode representar o nível de abandono do edifício 3.
Entre o edifício 2 (a este) e o edifício 3 (a oes-te), existia um depósito de terras castanho-claro, com claros sinais de revolvimentos (UE 4), sobre um outro depósito de características muito semelhantes (UE 18).
A UE 18 estava muito revolvida pelas máquinas agrícolas, não tendo sido possível distinguir em plano
as terras remexidas da camada que se prolongava por debaixo dos muros 7 e 8. Desta forma, considera-se a hipótese da UE 18 ser um dos primeiros depósi-tos a formarem-se sobre a rocha-base, sobre o qual se instalou o edifício 3, acabando, no fim, por constituir o solo de ocupação do espaço existente entre os dois edificios.
4.2.1.2. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
Os materiais arqueológicos têm uma distribui-ção desiquilibrada entre as duas principais sondagens,
FERRO
95
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.6 – Sequência de planos estratigráficos (sondagem 2)
Figura 4.5 Vista geral do edíficio 3
FERRO
96
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dado que na sondagem 1 recolheu-se 72% do conjunto total, enquanto que na sondagem 2 foram recolhidos apenas 21% da amostra.
A maioria, cerca de 71%, dos materiais recolhi-dos na sondagem 2 é proveniente do nível de superfí-cie118; já na sondagem 1 apenas 45.6% dos materiais são provenientes do nível superficial119.
Nesta sondagem, a UE 14 foi o estrato que forneceu o conjunto mais significativo de materiais contextualizados aproximadamente 50,7% do total de registos.
Para além dos fragmentos de recipientes cerâ-micos, que constituem o maior conjunto artefactual, recolheu-se ainda um cossoiro, um elemento de moa-gem (dormente), um percutor, um cossoiro (UE 14), um elemento de moagem (dormente) (UE 8), um percutor (UE 1) e um denticulado (UE 1) e um den-ticulado.
4.2.1.2.1. Recipientes cerâmicos
A cerâmica constitui cerca de 99% dos mate-riais arqueológicos recolhidos durante escavação deste
sítio. Dos 537 fragmentos registados, 484 pertencem a bojos de diversos recipientes e 53 constituem ele-mentos diferenciados (NMR). Deste conjunto, só foi possível determinar a forma e a dimensão de 27 reci-pientes cerâmicos.
4.2.1.2.1.1. Elementos técnicos da produçãode vasos cerâmicos
4.2.1.2.1.1.1. Fabricos
O Fabrico 1 caracteriza-se por ser uma pasta de textura grosseira com abundantes enp’s carbonatados (na maioria com tamanhos entre 1 e 3mm e alguns casos com 3 a 5mm). Os recipientes deste fabrico são todos de modelação manual.
As cozeduras melhor documentadas são as re-dutoras com 14 exemplares, dos quais 4 tiveram arre-fecimento em ambiente oxidante. O tratamento das superfícies é feito na maioria das vezes apenas com a aplicação de uma aguada (14), mas também estão pre-sentes alguns engobes (7). Com este fabrico foram identificados 24 recipientes, dos quais 17 são formas fechadas e os restantes 7 formas abertas.
Quanto ao Fabrico 2, trata-se de uma pasta de textura homogénea com escassos enp’s carbonatados de tamanhos inferiores a 1mm.
Os recipientes pertencentes a este fabrico são todos modelados a torno e as cozeduras melhor do-cumentadas são as oxidantes com 9 exemplares, dos quais 1 teve arrefecimento em ambiente redutor. Os tratamentos de superfícies mais utilizados são a aplica-ção de engobe (9) ou de aguada (3). Com este fabrico foram identificados 16 recipientes, dos quais 13 são formas abertas e os restantes 3 formas fechadas.
Por fim, o Fabrico 3 é uma pasta de textura ho-mogénea, com micas de frequência moderada a abun-dante de distribuição na pasta fraca a média e tama-nhos inferiores a 1mm. Tem ainda algumas inclusões ocasionais de elementos carbonatados.
Os recipientes são todos modelados a torno e apresentam boas cozeduras. Estão equitativamente representadas quer as cozeduras redutoras quer as oxi-dantes, no entanto, as primeiras apresentam em alguns casos (2) as superfícies castanhas avermelhadas, deno-tando um arrefecimento em ambiente oxidante.
O tratamento das superfícies foi feito com a apli-cação de um engobe cinzento acastanhado escuro ou castanho acinzentado escuro e alguns recipientes apre-sentam vestígios de terem tido um ligeiro brunimen-to das superfícies internas, em particular no caso dos
UE Fragmentos cerâmicos
Sup. 33
1 40
4 38
7 25
8 6
10 1
12 17
14 198
18 1
21 13
26 161
28 4
Totais 537
Tabela 1 – Distribuição do número de achados por UE
118 Formado pelas UEs 12 e 26.119 Formado pelas UEs 12 e 26.
FERRO
97
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
pratos e tigelas. Com este fabrico foram identificados 13 recipientes, dos quais 10 são formas abertas e os restantes 3 formas fechadas.
A observação macroscópica das pastas leva-nos a considerar que a sua matriz sedimentar é aparente-mente muito semelhante, não se verificando grande variação na sua constituição mineralógica, e que as pastas devem ter na sua constituição barros provenien-tes de zonas próximas do povoado.
Se os três fabricos parecem demonstrar a ocor-rência de uma certa homogeneidade técnica, sugere-se também a hipótese de cada um destes fabricos corres-ponder a recipientes de funções diferentes e de existir uma especialização técnica de produção, no que diz respeito aos Fabricos 1 e 3.
Assim, enquanto que com a pasta do Fabrico 1 se produziram recipientes de aspecto bastante tosco e na sua quase maioria formas fechadas (panelas e potes directamente relacionados com a confecção e armaze-namento de alimentos), já com a pasta do Fabrico 3 fo-ram produzidos pratos, tigelas e pequenos potes, cujo aspecto bastante cuidado, quer na sua preparação, quer no tratamento final da peça, é notório. Os cuidados demonstrados na sua preparação e as formas represen-tadas parecem indicar que os recipientes podem fazer parte de um conjunto usado para comer. Com respei-to ao Fabrico 2, pode-se estar perante um conjunto multifuncional, que vai desde a preparação, confecção e consumo de alimentos até ao seu armazenamento, atendendo à presença, quer de potes/panelas, quer de tigelas e pratos.
4.2.1.2.1.1.2. Formas
No que diz respeito à distribuição das formas, existe uma clara correspondência entre os três tipos de fabrico e os grupos cerâmicos definidos. Assim, os re-cipientes de cerâmica manual estão associados ao Fa-brico 1, o Fabrico 2 está relacionado exclusivamente com as produções a torno, enquanto que o Fabrico 3 é exclusivo das cerâmicas cinzentas.
Destaca-se também o equilíbrio entre as produ-ções manuais e a torno, embora este conjunto ainda se subdivida, mas numa proporção muito semelhante. Do mesmo modo, existe uma maior quantidade de re-cipientes fechados (70,83%) nas cerâmicas manuais e de recipientes abertos (79,31%) nas produções a torno.
4.2.1.2.1.1.2.2. Cerâmica manual
Forma I – Recipiente fechado, do tipo pote, com 24 cm de diâmetro de abertura. Tem o colo médio alto, estrangulado e bordo exvertido na continuação do colo.
Esta forma encontra-se representada por um único exemplar que tem a particularidade de apresen-tar o bordo decorado com digitações unguladas.
Gráfico 1 – Distribuição do NMR por fabrico e por UE
Gráfico 2 – Distribuição percentual do NMR por tipo de cozedura
Gráfico 3 – Tratamento de superfícies
FERRO
98
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tem paralelos no Altar pré-romano de Capote, na Forma IV das cerâmicas manuais120, onde é propos-ta uma cronologia entre o século V e o século III a. C., atendendo à sua documentação no registo arqueológi-co em sítios da bacia do Guadiana cronologicamente enquadráveis nesse período de tempo (Berrocal-Ran-gel, 1994: 154-158).
Forma II - Recipiente fechado, do tipo panela, com 14 cm de diâmetro de abertura. O colo é médio alto e invertido e o bordo é muito exvertido. A ligação do colo e do bojo é feita por uma carena muito suave de onde saem duas asas de secção plana que ligam di-rectamente ao bordo.
Forma III – Recipiente fechado, com diâmetros de abertura entre os 10 e os 19 cm. Tem o bordo pouco exvertido ou de tendência vertical.
Os dois únicos exemplares desta forma apresen-tam o bordo decorado com digitações unguladas.
Vasos de morfologia semelhante estão docu-mentados na escavação da Travessa dos Apóstolos em Setúbal, são provenientes das fases mais antigas de ocupação e surgem a par de materiais de cariz orienta-lizante (Mayet e Silva, 1993: 132).
Forma IV – Recipiente aberto, do tipo tigela, com 22 cm de diâmetro de abertura e corpo de ten-dência tronco-cónica.
4.2.1.2.1.1.2.3. Cerâmica a torno
Forma I – Recipiente fechado, do tipo pote, com diâmetro de abertura de 20 cm de bordo exvertido.
Forma II – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 20 e os 24 cm e corpo de tendência hemisférica.
Forma III - Recipiente aberto, do tipo prato, com 26 cm de diâmetro de abertura e corpo de ten-dência hemisférica.
Forma IV - Recipiente aberto, do tipo prato, com diâmetro de abertura entre 21 e 26 cm, bordo exvertido e com suave carena na ligação com o corpo que tem tendência hemisférica.
Esta forma apresenta algumas semelhanças morfológicas, ao nível do bordo e carena, com alguns pratos de engobe vermelho de infl uência fenícia prove-nientes de sítios da baia de Cádiz121, Huelva122 (Rufete Tomico, 1999: 240) e da área da costa malaguenha123 (Maass-Lindemann, 1999: 142) com cronologias do século VIII-VII a. C..
Forma V - Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura de 30 cm, bordo direito e o corpo de tendência hemisférica.
4.2.1.2.1.1.3. Cerâmica cinzenta
Forma I – Recipiente fechado, do tipo pequeno pote, com diâmetro de abertura entre os 10 e os 14 cm, de colo médio- alto, estrangulado e bordo exvertido.
Forma II – Recipiente aberto, do tipo prato, com diâmetros de abertura entre os 22 e os 28 cm. O bor-do é espessado internamente e o corpo tem tendência hemisférica.
Gráfi co 4 – Representação dos grupos cerâmicos
Tabela 2 – Distribuição de formas por UE
UE Formas fechadas Formas abertas Totais %
Sup. 0 1 1 1,89%
1 2 1 3 5,66%
4 1 0 1 1,89%
7 0 2 2 3,77%
8 1 0 1 1,89%
12 0 1 1 1,89%
14 11 12 23 43,39%
26 8 13 21 39,62%
Totais 23 30 53 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00%
Sup. 0 1 1 1,89%Sup. 0 1 1 1,89%
1 2 1 3 5,66% 1 2 1 3 5,66%
4 1 0 1 1,89% 4 1 0 1 1,89%
7 0 2 2 3,77% 7 0 2 2 3,77%
8 1 0 1 1,89% 8 1 0 1 1,89%
12 0 1 1 1,89% 12 0 1 1 1,89%
14 11 12 23 43,39% 14 11 12 23 43,39%
26 8 13 21 39,62% 26 8 13 21 39,62%
Totais 23 30 53 100,00% Totais 23 30 53 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00%
Sup. 0 1 1 1,89%Sup. 0 1 1 1,89%
1 2 1 3 5,66% 1 2 1 3 5,66%
4 1 0 1 1,89% 4 1 0 1 1,89%
7 0 2 2 3,77% 7 0 2 2 3,77%
8 1 0 1 1,89% 8 1 0 1 1,89%
12 0 1 1 1,89% 12 0 1 1 1,89%
14 11 12 23 43,39% 14 11 12 23 43,39%
26 8 13 21 39,62% 26 8 13 21 39,62%
Totais 23 30 53 100,00% Totais 23 30 53 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00%
Sup. 0 1 1 1,89%Sup. 0 1 1 1,89%
1 2 1 3 5,66% 1 2 1 3 5,66%
4 1 0 1 1,89% 4 1 0 1 1,89%
7 0 2 2 3,77% 7 0 2 2 3,77%
8 1 0 1 1,89% 8 1 0 1 1,89%
12 0 1 1 1,89% 12 0 1 1 1,89%
14 11 12 23 43,39% 14 11 12 23 43,39%
26 8 13 21 39,62% 26 8 13 21 39,62%
Totais 23 30 53 100,00% Totais 23 30 53 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00% % 43,39% 56,61% 100,00%
Sup. 0 1 1 1,89%Sup. 0 1 1 1,89%
1 2 1 3 5,66% 1 2 1 3 5,66%
4 1 0 1 1,89% 4 1 0 1 1,89%
7 0 2 2 3,77% 7 0 2 2 3,77%
8 1 0 1 1,89% 8 1 0 1 1,89%
12 0 1 1 1,89% 12 0 1 1 1,89%
14 11 12 23 43,39% 14 11 12 23 43,39%
26 8 13 21 39,62% 26 8 13 21 39,62%
Totais 23 30 53 100,00% Totais 23 30 53 100,00%
120 “Vaso de perfi l continuo em “S” (...) acabamento superfi cial alisado e decorações relativamente abundantes (maioritariamente inciso-impressas).121 Cerro de Doña Blanca (inciso-impressas).122 Fase II de San Bartolomé de Almonte.123 Morro de Mezquitilla; Los Toscanos.
FERRO
99
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
O cuidado no tratamento das superfícies, as co-zeduras redutoras e as morfologias, aproximam estes recipientes aos modelos orientalizantes de pratos de bordo espessado de cerâmica cinzenta. Encontram-se difundidos por vários sítios ao longo da bacia do Gua-diana e de seus afluentes como no oppidum de Badajoz (Berrocal-Rangel, 1994:143-187), onde pratos, com características idênticas, estão documentados no nível III-A, correspondente ao “período pré romano ou cél-tico”, com uma cronologia entre os séculos VI e V a.C.. Estão igualmente presentes em Cancho Roano, Zala-mea de la Serena, Badajoz em níveis do século VI-V a.C. (Celestino Pérez,Jiménez Ávila,1993: 192; 201).
Forma III - Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetros de abertura entre os 16 e os 24 cm. O bordo é espessado internamente e o corpo tem ten-dência hemisférica.
Esta forma apresenta os mesmos paralelos cro-nológicos que a anteriormente descrita.
4.2.1.2.1.2. Decoração
Neste conjunto, os elementos decorativos regista-ram-se apenas em quatro exemplares, todos de produção manual, e com uma gramática decorativa muito limitada.
A impressão, por digitação simples e digitação ungulada, foi a única técnica utilizada. Assim, um dos exemplares faz parte de um recipiente fechado, prove-niente da UE 26, e apresenta duas linhas paralelas de digitações simples no bojo. Os outros três pertencem a potes/panelas, provenientes da UE 14, e têm o bordo decorado com digitações unguladas.
Este tipo de decoração surge frequentemente asso-ciada a vasos de perfil em “S” continuo na ligação do bor-do com o bojo e de bordo exvertido ou por vezes direito.
Recipientes com características semelhantes encontram-se documentados no Altar pré-romano de Capote (Berrocal-Rangel,1994: 154- 158); no Castro de Segovia, Elvas, Cabeça de Vaiamonte (Fabião,1998: vol.3, Est.53). No oppidum de Badajoz (Berrocal-Ran-gel,1994:143-187) estão documentados com cronolo-gias dos séculos VI-V a.C.. Estão igualmente presen-tes em Requena; Camino de Los Pucheros 1; Dehesa Nueva del Rey 2, Toledo (López-Astilleros,1993: 321-336); também no Castro de la Muralla, Alcántara, um sitio com ocupação do bronze final; Castillejo de Gu-tiérrez, Alcántara com ocupação da Iª Idade do Ferro (Martin-Bravo, 1993); em Conimbriga (Alarcão,1974: estampa II), e Villas Viejas del Tamuja, Cáceres (Ber-rocal-Rangel, 1994: 158).
Figura 4.7 – Formas de recipientes cerâmicos
FERRO
100
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.1.2.1.2. Distribuição estratigráfica
No estrato de superfície (UE 26), recolheram-se fragmentos de 21 recipientes, estando documentadas quase todas as formas das cerâmicas comuns e cinzen-tas modeladas ao torno.
O depósito que forneceu maior percentagem de materiais contextualizados foi a UE 14, de onde são provenientes fragmentos correspondentes a 23 reci-pientes e um cossoiro. A quantidade de recipientes abertos (12) é praticamente equivalente ao de reci-pientes fechados (11), tal como é quase semelhante entre as produções a torno124 e as manuais125. Refira-se ainda que as únicas formas ausentes são a Forma I e a Forma III das cerâmicas a torno.
O conjunto de materiais recolhidos na UE 14 é bastante coerente, denotando alguma homogeneida-de formal a par de uma estreita ligação entre o tipo de fabrico e a funcionalidade inerente ao recipien-te produzido, como é o caso dos pratos e das tigelas de bordo espessado feitos com a pasta bem depura-da do Fabrico 3. Estes apresentam superfícies bem cuidadas, por vezes brunidas, sem vestígios de uso ao fogo, pelo que podem ser categorizados como louça utilizada no consumo de alimentos. Com o mesmo fabrico também se produziram pequenos potes, que devido ao seu tamanho reduzido podem ser designa-dos como copos.
Neste depósito, os recipientes do Fabrico 1 es-tão igualmente bem representados com 11 recipientes, dos quais apenas dois são formas abertas. Quanto ao Fabrico 2 foram recolhidos 6 recipientes de formas abertas e 1 de forma fechada.
Na sondagem 2, entre os 25 fragmentos cerâ-micos recolhidos na UE 7 apenas se identificaram 2 recipientes: duas tigelas, uma das quais da Forma II das cerâmicas a torno, a outra não permitiu reconsti-tuição de forma.
4.2.1.2.2. Elementos de tecelagemAna Jorge
O único elemento de tecelagem recolhido con-siste num cossoiro proveniente do interior do compar-timento 1 (UE 14). Trata-se de um exemplar de pe-quenas dimensões (29x15 mm), bicónico, com paredes ligeiramente convexas e perfuração cónica.
A morfologia do topo, ligeiramente convexo com cavidade cónica, sugere a utilização de molde. A pasta é compacta, granular, com forte presença de elementos não plásticos de granulometria grosseira. A cozedura é redutora e irregular.
4.2.1.2.3. Elementos de moagemAna Jorge
O único elemento de moagem recolhido na es-cavação deste sítio arqueológico corresponde a um pe-queno dormente bifacial (15,7x10cm) em grauvaque, de forma sub-rectangular e secções (longitudinal e transversal) bicôncavas, com extremidades bojardadas,
Figura 4.8 – Cerâmica decorada
124 12 recipientes, dos quais 10 são formas abertas.125 11 recipientes, dos quais 9 são formas fechadas.
FERRO
101
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
que foi recolhido na UE 8. A diferença de espessura entre as extremidades (4,9cm) e o centro da superfície de utilização (3,2cm), com picotado apagado, sugere o uso exaustivo da peça.
4.2.1.2.4. Outros materiais líticosAna Jorge
O percutor sobre seixo rolado de quartzito, é de médias dimensões (94x84 mm), com forma e secções elípticas. O denticulado corresponde a uma lasca par-cialmente cortical de quartzito, na qual foram produzi-dos três entalhes bifaciais, obtidos por retoque directo, rasante, de repartição parcial e morfologia sub-paralela.
Em ambos os casos, os artefactos foram recolhi-dos na camada de superfície da Sondagem 2 (UE 1).
Figura 4.9 – Recipientes cerâmicos recolhidos na UE 4 e na UE 26
Desta forma, a presença destes materiais líticos não pode ser directamente associada à ocupação da Idade do Ferro, embora também não tenham sido encontra-dos vestígios de outra fase de ocupação neste local.
4.2.1.3. Considerações finaisSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
A escavação arqueológica de três sondagens reve-lou os vestígios de um pequeno habitat, formado, apa-rentemente, por três edíficios, que foram parcialmente destruídos pela passagem de máquinas agrícolas.
A cultura material dos Serros Verdes 4 assenta sobre uma diminuta informação estratigráfica e em material de superfície revolvido, podendo o conjunto ser enquadrado cronologicamente em torno dos sécs. VI e V a.C..
A cerâmica manual (45%) expressa em potes e pa-nelas (Formas I-III) e tigelas (Forma IV) de pastas do fabrico 1, surge quase a par da cerâmica a torno (55%), da mesma forma que partilha os mesmos tipos de coze-dura e de acabamentos. A cerâmica a torno (Fabrico 2) é de novo expressa em potes e panelas (Forma I), tige-las (Forma II), assim como por pratos (Formas III-IV); correspondendo o fabrico 3 já à cerâmica cinzenta, cujos pratos (Forma II), tigelas (Forma III) e o pequeno pote (Forma I) se destacam pela boa qualidade das cozedu-ras redutoras e dos acabamentos de engobes cinzentos (por vezes com ligeiros brunidos interiores). Salienta--se deste conjunto uma aproximação clara a uma matriz de inspiração orientalizante, cujos pratos são o melhor exemplo, sustentando a cronologia proposta.
A mesma matriz argilosa, macroscopicamente observada, destes três fabricos denota um fabrico local, cujas formas associadas parecem responder a três dis-tintas aplicações morfológico-funcionais. O conjunto da cerâmica cinzenta estaria associado ao consumo, ao passo que a cerâmica comum a torno se adequaria a uma maior multi-funcionalidade e a manual essen-
cialmente à confecção e armazenagem (facto pelo que predominam nesta última as formas fechadas ao invés das duas anteriores).
Nestas três categorias, é ainda trans-versal uma escassa variação formal, seja entre tigelas a torno comuns ou cinzentas, ou entre potes/panelas comuns a torno ou manuais. Estes aspectos conferem ao conjunto uma coesão e um vínculo local/regional (com a aparente exclusão de elementos exógenos), associado ao ambiente doméstico de um pequeno núcleo de povoamento, no qual se integraria também o cossoiro e o pequeno dormente.Tabela 3 – Distribuição do NMR por tipo de produção e por forma
Manual Torno Cinzentas Forma UE NMR Forma UE NMR Forma UE NMR
I 14 1 I 8 1 I 14 1 II 14 1 26 1 26 2 III 4 1 II 7 1 II 1 1 14 3 15 2 14 2 IV 14 1 26 1 III 14 3 III 26 1 26 1 IV 14 2 26 1
FERRO
102
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.10 – Recipientes cerâmicos recolhidos na UE 14
Figura 4.11 – Planta geral do sítio
FERRO
103
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.2. Monte do Judeu 6João Albergaria
O sítio arqueológico do Monte do Judeu 6 foi identificado no decorrer de prospecções arqueológicas feitas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento do Alqueva126, tendo sido localizado à cota de 150m e classificado como habitat da Idade do Bronze/Ferro (EDIA, 1996:167).
Segundo a descrição inicial, o sítio seria afectado pelas águas do regolfo do Alqueva, mas após a implan-tação da quadrícula de escavação no local indicado, verificou-se que as cotas iniciais não coincidiam com a principal área de dispersão dos materiais arqueológi-cos. Desta forma, concluiu-se que este sítio encontra--se à cota de 155.05m e que não será abrangido pelas águas do regolfo. Neste sitio foram escavadas duas sondagens, com uma área total de 72 m2, concentradas numa pequena plataforma, assente sobre encostas sua-ves, sobranceiras à ribeira do Zebro.
4.2.2.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
A imagem inicial deste sítio era formada por uma grande quantidade de blocos de quartzo disper-
sos pelo topo de um ligeiro montículo, aparentemente artificial, por um percutor e 54 fragmentos cerâmicos dispersos pela superfície do terreno.
A leitura da informação recolhida encontra-se muito condicionada pela reduzida área escavada, pelo arrastamento de materiais de construção da sua po-sição original, pela reduzida quantidade de materiais arqueológicos associados a níveis de ocupação e por não terem sido escavados todos os depósitos postos a descoberto.
4.2.2.1.1. Sondagem 1
Na sondagem 1, o nível arqueológico mais re-cente encontra-se associado às destruições provocadas pelas grades de arado127 e aos sedimentos acumulados sobre os contextos revolvidos.
Os trabalhos arqueológicos começaram com a remoção da camada de superfície (UE 1), formada por sedimentos relativamente soltos e de textura muito argilosa, que envolviam pedras de médias dimensões, concentradas no sector oeste da sondagem, junto ao muro 3, definindo um alinhamento de pedras muito soltas128.
A UE 1 cobria uma sequência de unidades re-volvidas (como as UE 9 e 11), das quais se destacam a
Figura 4.12Vista geralda implantação do sítio
126 “Situa-se a meia encosta da elevação, em pequena plataforma, sem condições naturais de defesa, sobre cascalheira, de calhaus pouco rolados, encontrou-se à superfície cerâmica de revestimento, fragmentos de cerâmica manual, alguns com bordo, fundos e asas, materiais dispersos numa área de cerca de 150m2. No Monte do Judeu recolheu-se uma mó dormente, de granito” (EDIA, 1996:167).127 A acção do arado está bem testemunhada na UE 8, que corresponde a uma sucessão de interfaces de corte, visíveis nos pavimentos1 e 2, bem como, no arrastamento de pedras com pequenas e com médias dimensões pertencentes ao muro 3.128 Este alinhamento pode ser interpretado de duas formas: 1) pode ser o resultado da destruição integral de uma estrutura arquitectónica, perpendicular ao muro 3; 2) pode corresponder ao arrastamento de materiais de construção de um muro.
FERRO
104
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
UE 15129 e uma pequena concavidade (UE 18), preen-chida sucessivamente por vários depósitos, sem mate-riais arqueológicos (UE 13, UE 14 e UE 17).
Nesta série de depósitos, recolheu-se apenas cerca de 9% do total de fragmentos de recipientes cerâmicos encontrados na escavação, destacando-se a UE 1 com aproximadamente 75% do conjunto. A descontextualização da maioria dos materiais é uma situação ainda agravada pela reduzida percentagem de fragmentos cerâmicos (0,7%) associados aos contextos de abandono dos edifícios 1 e 2.
Por debaixo do primeiro nível arqueológi-co, identificaram-se os vestígios de dois edifícios. O edifício 1 caracteriza-se por possuir, pelo menos, três ambientes, separados pelos muros 1 e 3. O primeiro
corresponde a um compartimento localizado junto ao canto SO da sondagem, limitado pelos muros 1 (UE 10) e 3 (UE 19) e associado ao pavimento 1 (UE 4). O segundo ambiente situa-se no sector NE da sondagem (na área existente entre o muro 1, o muro 2 e o muro 3) e está associado ao pavimento 2 (UE 5). Por fim, define-se um ambiente, limitado pelo paramento sul do muro 1 e pelo limite sul da escavação, cuja funcio-nalidade é desconhecida, por causa da reduzida área escavada.
No canto SE da escavação, detectou-se um pe-queno segmento do muro 2 (UE 16), que poderá even-tualmente fazer parte de outro edifício (edifício 2).
Na sondagem 1, não se distinguiram fases de ocupação, devido ao elevado grau de alteração dos
Figura 4. 13 – Distribuição dos materiais arqueológicos à superfície
129 A UE 15 era formada por elementos pétreos revolvidos, mas dispostos ao longo de um eixo SE/NO. Esta situação aparenta ser idêntica ao alinhamento identificado na UE 1, junto ao muro 3.
FERRO
105
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
contextos arqueológicos e à inconclusão dos trabalhos de escavação. Embora o muro 1 aparente sobrepôr--se a uma estrutura formada por pedras, com peque-nas e médias dimensões, dispostas de forma paralela ao muro 1 (UE 20130), e por terras de cor acinzentada (UE 21). A função desta unidade é uma incógnita que só poderá ser resolvida com a remoção do pavimento 2.
Perante a impossibilidade de compreender por completo a organização espacial deste sítio e a sua evolução, optou-se por enquadrar estas estruturas na mesma unidade funcional e cronológica, embora a so-breposição do muro 3 em relação à UE 20 possa suge-
rir uma remodelação arquitectónica e a UE 25131 seja uma realidade sobreposta pelo pavimento 2.
4.2.2.1.2. Sondagem 2
Depois da limpeza da vegetação, identificou-se o topo da UE 2, que consiste num depósito formado por terras de cor castanho-acinzentado, pouco com-pactadas, e por pedras soltas, com médias dimensões, concentradas junto ao corte sul da escavação132.
A UE 2 estava sobre outro contexto que eviden-ciava também sinais de remeximentos recentes (UE 3).
Figura 4.14 – Plano geral dos edifícios 1 e 2
130 A leitura estratigráfica da UE 20 tem um problema que consistiu na dificuldade em registar convenientemente o interface de ligação da UE 5 (Pavimento 2) com a UE 20 e a UE 21. Desta forma, neste momento, não sabemos se estas duas unidades preenchem uma concavidade feita na UE 5 ou se a UE 5 encosta na UE 20 e na UE 21.131 Depósito formado por terras de cor vermelho acastanhado, de consistência muito compactadas e argilosas.132 À semelhança da UE 1, é possível colocar a hipótese desta aglomeração de pedras, ser o resultado da destruição de uma estrutura, neste caso o muro 5.
FERRO
106
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Dado que este depósito sobrepunha-se aos interfaces de destruição dos muros 4 e 5, considera-se a hipótese desta unidade ser o resultado de um processo de acu-mulação de sedimentos e de materiais arqueológicos descontextualizados.
Nos dois depósitos de topo recolheu-se cerca de 73% do total de fragmentos de recipientes cerâmi-cos, salientando-se a UE 3 com perto de 96% deste conjunto. Ao contrário da sondagem 1, nos contextos relacionados com os solos de ocupação da 1ª Fase re-colheu-se um conjunto razoável de materiais (cerca de 17% do conjunto total de fragmentos cerâmicos), so-bretudo se compararmos com a percentagem do nível de abandono do Pavimento 2.
4.2.2.1.2.1. Fase de ocupação 2
Com a remoção das unidades de superfície fi-cou à vista o muro 4 (UE 6) e o que restava do muro 5 (UE 24). A primeira estrutura foi identificada no canto SO da sondagem, numa área muito reduzida, e apresentava dois cortes transversais. O muro 5 estava ainda em pior estado de conservação que o muro 4, correspondendo a dois núcleos de pedras estruturados e alinhados entre si.
Os muros 4 e 5 constituem os únicos vestígios desta fase. Como se encontravam muito destruídos e como não existia qualquer tipo de contacto entre as duas estruturas, optou-se por registar apenas um edifício (edifício 3), embora se possa considerar a possibilidade dos muros estarem associados a edifícios diferentes.
Figura 4.15 – Muro 2
Figura 4.16 – Vista geral
FERRRO
107
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.2.1.2.2. Fase de ocupação 1
A primeira fase de ocupação é caracterizada por três depósitos. A UE 7 consistia numa camada de terras castanhas-avermelhadas, de consistência muito compacta, que envolviam blocos de quartzo, com mé-dias dimensões e pequenas lajes de xisto, na qual foram recolhidos 85 fragmentos cerâmicos, correspondentes a dez recipientes (seis de formas fechadas e quatro per-tencentes a formas abertas).
Com os dados disponíveis, podemos considerar este depósito como o resultado da acumulação de se-dimentos, materiais arqueológicos e pedras soltas, cor-respondendo a um nível de abandono desta área num momento anterior à construção do muro 4 e provavel-
Figura 4.17Sequênciaestratigráfica (sondagem 2)
mente do muro 5, porque estas estruturas aparentam assentar sobre a UE 7.
Por baixo da UE 7 e do muro 5, foram encontra-dos dois depósitos com características muito parecidas (UE 22 e UE 23)133, mas com uma grande diferença: a presença de materiais arqueológicos na UE 22 (23 fragmentos cerâmicos e um cossoiro) e a sua ausência na UE 23.
Se a UE 23 pode ser interpretada como um de-pósito de cascalheira134, que deve cobrir a rocha base, o registo de materiais cerâmicos na UE 22 pode ser um fenómeno explicado pelo uso do depósito como solo de ocupação. Também, não se deve excluir a hipóte-se dos agentes naturais de erosão terem provocado o transporte de materiais da UE 7 para o topo da UE 22.
133 Depósitos formados por terras cinzentas-escuras, de consistência muito compacta, por uma grande quantidade de lajes de xisto e por blocos de quartzo, com médias dimensões.134 Depósito constituído por pedras com pequenas e médias dimensões e por terras, de cor castanho escuro e muito argilosas. As pedras são de matérias-primas diferentes, sendo as mais pequenas de quartzito, enquanto que as maiores são lajes de xisto ou blocos de quartzo.
FERRO
108
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.2.2. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
Os materiais arqueológicos são maioritariamen-te provenientes dos níveis de superfície e de contextos que apresentam um acentuado grau de revolvimento, como é o caso da UE 3. Esta circunstância, aliada à quase impossibilidade de reconstituir morfologica-mente a grande maioria dos vasos provenientes de de-pósitos conservados e ao facto da UE 5 não ter sido escavada, coloca-nos perante sérias dificuldades de interpretação dos diferentes espaços, quer a nível fun-cional, quer cronológico.
O espólio é constituído maioritariamente por fragmentos de cerâmica, sem vestígios de decoração, os quais representam cerca de 99% dos materiais re-colhidos durante a campanha de escavação do Monte do Judeu 6.
4.2.2.2.1 Recipientes cerâmicos
Dos 690 fragmentos de cerâmica recolhidos, a grande maioria (620) são de paredes de recipientes. Os restantes 70 são fragmentos individualizados, os quais permitiram a reconstituição parcial de 53 recipientes (NMR) e a definição de formas de 17 vasos.
4.2.2.2.1.1. Elementos técnicos da produçãode recipientes cerâmicos
4.2.2.2.1.1.1. Fabrico
O Fabrico 1 aplica-se a recipientes de modelação manual. Caracteriza-se por ser uma pasta de textu-ra grosseira com enp’s carbonatados, de frequência
moderada a abundante e de distribuição média-forte, com tamanhos entre 1 e 3mm (alguns entre 3 e 5mm). Esta pasta tem ainda elementos de quartzo, mica e chamotte.
Sete dos nove exemplares com esta pasta, foram cozidos em ambiente redutor com arrefecimento oxi-dante, enquanto que os restantes dois tiveram uma co-zedura e arrefecimento em ambiente oxidante.
O único tratamento das superfícies observado foi o alisamento, presente em seis dos recipientes. Como os outros três apresentavam as superficies mui-to porosas, não foi possível identificar o tratamento utilizado.
O Fabrico 2 foi utilizado em recipientes com modelação a torno. Tem uma textura grosseira com enp’s carbonatados, de frequência moderada a abun-dante, de distribuição na pasta média-forte e de tama-nhos entre 1 e 3mm, alguns entre 3 e 5mm. Para além destes elementos tem ainda quartzo, mica, minerais negros e chamotte.
Dos treze recipientes fabricados com esta pas-ta, seis foram cozidos em ambiente redutor com ar-refecimento oxidante, cinco em ambiente totalmente oxidante e dois em ambiente totalmente redutor. Os tratamentos das superfícies mais utilizados foram o alisamento, em sete dos vasos, e a aplicação de um engobe em quatro dos exemplares. Os restantes dois apresentam as superficies porosas.
Por fim, o Fabrico 3 está relacionado com re-cipientes de modelação a torno. Caracteriza-se por ter textura homogénea. com enp’s carbonatados, de frequência escassa a moderada, de distribuição fraca a média, e com tamanhos entre 1 e 3mm (alguns inferio-res a 1mm). Apresenta intrusões ocasionais de quartzo, mica, chamotte e minerais negros.
Figura 4.18 – Sondagem 2 após a escavação da UE 7
FERRO
109
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 4 – Distribuição dos achados por UE
UE Fragmentos cerâmicos Elementos de tecelagem Materiais líticos
Sup. 54 0 1
1 47 1 1
2 17 0 0
3 439 0 0
5 10 0 0
7 85 0 0
8 1 0 0
11 8 0 0
15 6 0 0
22 23 1 0
Totais 690 2 2
O fabrico 3 é o melhor representado, com 31 vasos identificados. As cozeduras redutoras com arre-fecimento oxidante foram observadas em dezasseis re-cipientes, as totalmente oxidantes em doze, e as total-mente redutoras somente em dois dos vasos. O único tratamento de superfícies identificado foi a aplicação de engobe, observada em dezoito exemplares.
4.2.2.2.1.1.2. Formas
Os 53 recipientes individualizados neste con-junto artefactual, foram divididos em recipientes abertos e recipientes fechados de acordo com deter-minadas características, nem sempre fáceis de serem observadas devido ao tamanho diminuto de alguns dos fragmentos.
Gráfico 5 – Distribuição do NMR por fabrico e por UE
Com base nos elementos técnicos evidenciados estes recipientes foram também categorizados em três grupos distintos: cerâmica manual; cerâmica a torno e cerâmica cinzenta.
4.2.2.2.1.1.2.1. Cerâmica manual
Este grupo encontra-se representado por nove recipientes, todos do Fabrico 1, dos quais apenas três permitiram reconstituição de forma.
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, de bor-do muito exvertido na continuação do colo, que neste caso se encontra praticamente ausente. Tem 28 cm de diâmetro de abertura.
A Forma I está representada apenas por um exemplar, o qual foi cozido em ambiente totalmente
oxidante e apresenta as superfícies porosas.Este tipo de vaso poderá corresponder à
Forma II b das cerâmicas manuais da Ermita de Belén135, muito embora o tamanho reduzido do fragmento agora observado suscite sérias dúvi-das acerca da sua forma. A variante b da For-ma II apresenta como particularidade um perfil em “S” continuado entre o bordo e o colo. Esta forma está presente no Nível IV deste sítio, em contextos de pleno século III até meados do século II a. C. (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43, fig.13; 136-137, fig. 78-79).
Forma II - Recipiente fechado, tipo pote, de bordo ligeiramente exvertido e colo curto e ligeiramente estrangulado. Tem a particularida-de de ter uma asa diametral ou de “cesta” de sec-ção sub-circular, que arranca do bordo pelo lado interno do recipiente. O fragmento é muito pe-
135 “Vaso de tamanho variável, com suave perfil em “S”” (Rodríguez Díaz, 1991: 43).
FERRO
110
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Gráfico 6 – Distribuição percentual do NMR por tipo de cozedura
Gráfico 7 – Tratamento das supefícies observado no NMR
queno pelo que foi impossível reconstituir totalmente a forma do vaso, bem como, o diâmetro de abertura. Este exemplar foi cozido em ambiente oxidante e tem as superfícies alisadas.
Este tipo de elemento de suspensão está nor-malmente associado a formas fechadas de perfil em “S” contínuo na transição bordo-bojo, de base plana, e aparecem, quer em produções manuais, quer a torno como veremos mais adiante.
À semelhança do Monte das Candeias, os pa-ralelos encontrados para este tipo de elementos en-quadram-se entre os séculos VI e meados do II a. C., denotando a longa sobrevivência desta forma.
Forma III – Recipiente aberto, tipo tigela, com 22 cm de diâmetro de abertura e de corpo de tendên-cia hemisférica. Esta forma encontra-se representada apenas por um exemplar, do Fabrico 1, de cozedura redutora com arrefecimento oxidante e as superfícies alisadas.
Trata-se de uma forma muito generalizada e com lata perduração de fabrico e utilização, quer em produções manuais, quer posteriormente a torno, apre-sentando pequenas variações no tamanho e na forma do bordo e da base. Podemos encontrá-la em quase todos os sítios com ocupação da 2ª metade do Iº mi-lénio a. C., como é o caso da Ermita de Bélen, onde está documentada em níveis datados de pleno século III a meados do II a. C., e identificada com a Forma VIII das cerâmicas manuais (Rodríguez Díaz,1991: 43-44;fig.14). Está igualmente presente no Monte das Candeias 3 e na Estrela 1.
UE Recipiente fechado Recipiente aberto Totais %
Sup. 4 0 4 7,54%
1 4 4 8 15,09%
2 4 1 5 9,43%
3 12 9 21 39,62%
5 1 1 2 3,77%
7 6 4 10 18,88%
11 0 1 1 1,89%
15 1 0 1 1,89%
22 1 0 1 1,89%
Totais 23 30 53 100,00% % 62,26% 37,74% 100,00%
Tabela 5 – Distribuição geral das formas por UE
Gráfico 8 – Representação percentual dos grupos cerâmicos
FERRO
111
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.19Formas de recipientescerãmicos
4.2.2.2.1.1.2.2. Cerâmica a torno
Representa 81% da nossa amostra, a que corres-pondem 43 recipientes distribuídos pelos Fabricos 2 e 3. Destes, apenas treze permitiram a reconstituição de forma.
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, com diâmetro de abertura de 14 cm, de colo médio-alto e estrangulado e bordo exvertido. O corpo tem tendên-cia oval. Está representada por um único recipiente do Fabrico 2, de cozedura oxidante e superfícies po-rosas.
Forma II – Recipiente fechado, tipo pote, com 25 cm de diâmetro de abertura, de colo estrangulado e bordo ligeiramente exvertido e curto. O corpo poderá ter tendência globular. Foi registado um único reci-piente desta forma do Fabrico 2, cozido em ambiente redutor com arrefecimento oxidante. As superfícies foram alisadas.
Forma III - Recipiente fechado, tipo pote, com diâmetro de abertura entre os 20 e os 25 cm, de colo curto e ligeiramente estrangulado; o bordo é pratica-mente direito ou pouco exvertido. Dos quatro exem-plares desta forma, dois são do Fabrico 2 e têm as su-
perfícies alisadas e os outros dois são do Fabrico 3 e têm as superfícies com engobe.
Forma IV – Recipiente fechado, tipo pote, com asa diametral ou de “cesta”. Encontra-se documenta-do apenas um recipiente com esta forma, produzido com a pasta do Fabrico 3. Foi cozido em ambiente redutor com arrefecimento oxidante e as superfícies têm engobe. Apresenta os mesmos paralelos crono-lógicos que o recipiente da Forma II das cerâmicas manuais.
Forma V – Recipiente fechado, tipo copo, com diâmetro de abertura de 9 cm, de colo médio-alto ligeiramente estrangulado e bordo pouco exvertido. O bojo é de tendência hemisférica. Esta forma está representada apenas por um recipiente do Fabrico 3, com cozedura redutora e arrefecimento oxidante. As superfícies apresentam-se porosas.
Forma VI – Recipiente aberto, tipo tigela, com 23 cm de diâmetro de abertura. O corpo apresenta al-guma tendência para a verticalidade. O único recipien-te desta forma é do Fabrico 3 e foi cozido em ambiente redutor com arrefecimento oxidante.
Forma VII – Recipiente aberto, tipo tigela com diâmetros de abertura entre os 18 e os 22 cm, bordo
FERRO
112
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.20 – Recipientes cerâmicos recolhidos nas UEs 1 e 5 (sond.1) e UEs 2 e 3 (sond.2)
espessado internamente e corpo com ligeira tendência troncocónica. Os dois recipientes com esta forma são do Fabrico 2 e apresentam as superfí-cies com engobe. Um deles foi cozido em ambiente redutor com arrefeci-mento oxidante e o outro em ambien-te totalmente oxidante.
Encontra-se representada no Nível III de Belén, com cronologia de pleno século III a meados do II a. C. (Rodríguez Díaz, 1991:133 – n.º 825).
Forma VIII – Recipiente aber-to, tipo tigela, com diâmetro de aber-tura de 22 cm. O bordo é direito e espessado internamente, e o corpo é de tendência hemisférica. Esta forma está representada por um exemplar do Fabrico 2, à de cozedura oxidante e com as superfícies com engobe.
Forma muito comum nos conjuntos da 2ª meta-de do Iº milénio, nomeadamente, na Ermita de Belén, onde corresponde à Forma X das cerâmicas de coze-dura oxidante, representando cerca de 40% das pro-duções desse grupo. Encontra-se bem documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III até meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:57 e 59). Em Capote corresponde à Forma X, com crono-logias em torno do século IV-III a.C. (Berrocal-Ran-gel,1994:68-171, fig.59). Está documentada no Monte das Candeias 3, Estrela 1 e Castelo das Juntas.
Forma IX – Recipiente aberto, tipo prato, com diâmetro de abertura de 25 cm. O bordo é ligeira-mente vertical, o que provoca uma suave carena na ligação com o corpo, que é baixo e com tendência hemisférica; a sua base é plana. O único exemplar re-gistado foi produzido com o Fabrico 2, em ambiente redutor com arrefecimento oxidante e tem as super-fícies com engobe.
4.2.2.2.1.1.2.3. Cerâmica cinzenta
Encontra-se praticamente ausente do conjunto, tendo-se identificado apenas um recipiente passível de poder ser integrado neste grupo.
Forma I – Recipiente aberto, tipo tigela, com diâmetro de abertura de 18 cm. O bordo é direito e ligeiramente espessado internamente, e o corpo é de tendência hemisférica. Foi produzido com o Fabrico 3 e as superfícies têm engobe castanho acinzentado es-curo com elementos muito finos de mica.
É uma forma muito frequente nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, designadamente, na Ermita Figura 4.21 – Recipientes cerâmicos recolhidos nas UEs 7 e 22
Manual Torno Cinzentas Forma UE NMR Forma UE NMR Forma UE NMR
I 7 1 I 1 1 I 3 1
II 7 1 II 3 1
III 1 1 III 3 3
7 1
IV 22 1
V 15 1
VI 1 1
VII 3 2
VIII 2 1
IX 5 1
Tabela 6 – Distribuição do NMR por tipo de produçãoe por forma
FERRO
113
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
FERRO
114
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
de Belén, onde está referida como forma IV, expres-sando quase 50% das cerâmicas a torno cinzentas. Encontra-se bem documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:62 e 65). Está também presente em todos os sítios da Idade do Ferro do Bloco 9.
4.2.2.2.1.2. Distribuição estratigráfica
4.2.2.2.1.2.1. Sondagem 1
Os materiais dos contextos da sondagem 1 são pouco esclarecedores quanto à diacronia de ocupação do sítio. A maioria é proveniente dos estratos super-ficiais muito revolvidos pelo arado, estando presentes a Forma III da cerâmica manual, e as Formas I e VI da cerâmica a torno. A UE 5, o único contexto que, à partida, poderia fornecer informação mais precisa não foi escavado, sendo que os materiais acumulados sobre o pavimento 2 foram recolhidos apenas durante a sua definição. Associado a este estrato encontra-se um prato da Forma IX, da cerâmica a torno.
4.2.2.2.1.2.2. Sondagem 2
No que respeita à sondagem 2, e apesar dos estratos superficiais encontrarem-se, também aqui, muito remexidos devido aos trabalhos agrícolas, foi possível registar duas fases de ocupação caracteriza-das por uma reorganização do espaço.
O contexto que forneceu mais materiais foi a UE 3, um depósito com evidentes sinais de revol-vimentos recentes. São provenientes desta camada fragmentos de bordos e fundos de 21 recipientes, dos quais apenas sete permitiram reconstituição da for-ma. Para além destes, procedem deste depósito 418 fragmentos de bojos, dimensionando em boa medida o volume de materiais associados a este estrato.
Estão representadas as Formas II, III e VII da cerâmica a torno e a Forma I da cerâmica cinzenta.
4.2.2.2.1.2.2.1. Fase de ocupação 2
Os depósitos associados a esta fase não têm ma-teriais datáveis.
4.2.2.2.1.2.2.2. Fase de ocupação 1
A UE 7 é o estrato de ocupação humana mais antigo, onde foram registados sete fragmentos de re-
cipientes cerâmicos, dos quais apenas três possibili-taram reconstituição de forma. Um dos fragmentos corresponde à Forma I da cerâmica manual, outro é de um vaso com asa de “cesta” da Forma II, também da cerâmica manual, e o terceiro é da Forma III da cerâmica a torno.
Do contacto com a UE 22 é proveniente, tam-bém, um fragmento de um pote com asa de “cesta”, mas de produção a torno. Este é aliás o único frag-mento individualizado na UE 22 uma vez que os res-tantes fragmentos recolhidos são bojos.
4.2.2.2.1.2.2.3. Elementos de tecelagemAna Jorge
Quanto aos cossoiros, foi recolhido um exem-plar num provável solo de ocupação (UE 22), en-quanto o outro proveio de uma camada de superfície (UE 1). Tratam-se de duas peças inteiras e comple-tamente distintas, tanto quanto à morfologia como quanto ao fabrico.
O exemplar de menores dimensões (28x18mm) é bitroncocónico, de topos planos e perfuração cóni-ca, enquadrável na variante P3+P1 de Berrocal-Ran-gel (Berrocal-Rangel, 1992:120).
A regularidade da sua morfologia sugere manu-factura por moldagem. Caracteriza-se por uma pas-ta compacta, granular, moderadamente homogénea, com percentagem média de elementos não plásticos de granulometria maioritariamente fina. A pasta do cossoiro de maiores dimensões (44x22mm), pelo contrário, caracteriza-se pela abundância de elemen-tos não plásticos de granulometria muito grosseira, destacando-se a forte presença de micas.
De morfologia bicónica, este exemplar apre-senta perfuração incompleta e topo convexo, possi-velmente devido à tentativa de perfurar o artefacto quando a pasta estava ainda muito húmida. Este cos-soiro destaca-se do conjunto de elementos de tecela-gem recolhidos no total dos sítios escavados no âmbi-to do Bloco 9 também pelas suas grandes dimensões e peso (43cm³ e 43g).
4.2.2.2.3. Outros materias líticosAna Jorge
O único percutor analisado é em quartzito, de forma esférica, com 6,7cm de diâmetro, sen-do proveniente de uma camada superficial de terras soltas, caracterizada por revolvimentos sistemáticos (UE1).
FERRO
115
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.22 – Planta geral do sítio
4.2.2.3. Síntese dos resultadosSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
A intervenção arqueológica realizada no Mon-te do Judeu contribuiu positivamente para a identifi-cação de um pequeno sítio, formado por, pelo menos três edifícios. No entanto, a leitura da cultura material parte de uma amostragem seriamente truncada por a maioria das cerâmicas ser proveniente das camadas re-volvidas de superfície.
Apesar desta contrariedade tafonómica, a análise formal dos recipientes permitiu enquadrar o conjunto apenas no lato intervalo da 2ª metade do I milénio a.C. com paralelos em níveis de Cancho Roano dos sécs. VI-V ou nas camadas dos sécs. III-II da Ermita de Bélen; ou perante elementos que se prolongam ao longo desta cronologia, como as asas de cesta identifi-cadas quer na cerâmica comum a torno ou na manual.
Atendendo, porém ao predomínio da cerâmica a torno (83%) sobre a manual (17%), o quadro mate-rial talvez deva ser visto preferencialmente no âmbi-to das cronologias mais tardias, quando para mais, é exactamente sobre as realidades mais antigas do sítio (na sondagem 2) que se centram as produções manuais (UE 7).
As produções cerâmicas denotam um equilíbrio nas pastas macroscopicamente observadas, num pre-domínio das cozeduras redutoras com arrefecimento oxidante, resultando em superfícies castanho alaranja-das, e num leque de acabamentos similares (alisamen-tos e engobes), pelo que poderão ser associadas a uma produção de âmbito local/regional. A escassa variabi-lidade de formas, onde predominam os recipientes fe-chados é transversal às três categorias e fabricos regis-tados, onde se realça igualmente a completa ausência de decorações.
FERRO
116
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.23 – Sequência estratigráfica da fossa 1
agrícolas realizados neste terreno, verificou-se que a UE 38 cobria a rocha base e o topo de uma fossa escavada na rocha base.
A fossa 1 (UE 8) corresponde a uma concavidade de forma sub-circular, que se encontrava preenchida por dois depósitos: a UE 5 e a UE 7. O primeiro estava acu-
O primeiro e mais reduzido fabrico diz respeito à cerâmica manual, sendo expresso em potes/panelas simples (Forma I) ou formas de asa de cesta (Forma II) e tigelas (Forma III). Os Fabricos 2 e 3 correspon-dem às cerâmicas comuns a torno, sobretudo potes/panelas (Formas I-II), repetindo-se as asas de cesta (Forma IV), pequenos potes/copos (Forma V), tigelas (Formas VI-VIII) e um prato (Forma V). O fabrico 4 relaciona-se já com a cerâmica cinzenta, apenas repre-sentada por uma tigela (Forma I).
Se a cerâmica cinzenta se assume, de novo, como “peça de mesa”, já nas restantes categorias técnicas se observa uma multifuncionalidade formal, desde a pe-quena armazenagem, à confecção e ao consumo. Assim, o conjunto de materiais obtido preenche claramente o ambiente de uma ocupação doméstica, onde se asso-ciam também outros elementos como os cossoiros.
4.2.3. Monte das Candeias 3João Albergaria
O habitat do Monte das Candeias 3 é outro sítio inédito, que foi localizado durante as prospecções ar-queológicas realizadas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento do Alqueva (EDIA, 1996). Ao contrário da amostra de materiais arqueo-lógicos recolhidos à superfície (cerâmica de produção manual, de percutores, de fragmentos de mós manuais), que sugeria uma cronologia do neolítico/calcolítico para a ocupação deste local, os trabalhos realizados revelaram a existência de um habitat ocupado entre os séculos III--II a.C., embora essa ocupação pré-histórica possa ter ocorrido no local ou nas suas imediações.
Tal como os restantes sítios analisados, este habi-tat está implantado numa pequena plataforma com vi-sibilidade restrita e próximo de pequenas linhas de água.
4.2.3.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
No Monte das Candeias 3 escavaram-se três son-dagens, que foram implantadas na área de maior con-centração de materiais arqueológicos existentes à super-fície, e que no final abrangiam uma área total de 96m2.
4.2.3.1.1. Sondagem 1
Após a remoção dos depósitos de superfície (UE 37 e UE 38), nos quais se encontraram muitos fragmen-tos cerâmicos (cerca de 10,4% do conjunto total), e que se apresentavam muito revolvidos, devido aos trabalhos
FERRO
117
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
136 A UE 7 continha poucos materiais arqueológicos (dois fragmentos de bojo).137 Este último corresponde a uma estrutura de planta semicircular, muito destruída pela passagem das máquinas agrícolas.
mulado no fundo e era constituído por sedimentos de cor castanho-escuro, por algumas pedras de pequenas e mé-dias dimensões e por fragmentos de recipientes cerâmi-cos (3 bordos de tigelas e 23 fragmentos de bojo). A UE 7 estava no topo da fossa, sendo formada por sedimentos de cor castanho-claro e medianamente compactados136.
4.2.3.1.2. Sondagem 2
A interpretação estratigráfica nesta sondagem é muito complexa devido ao mau estado de conservação da maioria dos contextos arqueológicos e à nossa difi-culdade em associar os níveis de ocupação do sítio com a utilização e eventual reconstrução do edifício 1.
Após a limpeza da vegetação que cobria a super-fície do terreno, escavaram-se dois depósitos de super-fície (UE 40 e 41), que continham uma grande quan-tidade de cerâmicas (cerca de 11% do conjunto total). A UE 41 cobria, na metade norte desta sondagem, três depósitos: UE 3, UE 14 e UE 43. A UE 3 estava si-
Figura 4.24 – Plano parcial do edifício 1e localização da Fossa 2
tuada na metade este da área escavada, co-brindo e encostando nos muros 1, 2, 3 e 4, devendo ser o resultado do revolvimento recente dos sedimentos acumulados após o abandono deste sítio.
Haverá a referir ainda os dois depósi-tos separados pelo muro 4 (UE 19). Assim, no recanto NO da sondagem estava uma camada de terras bejes, com textura fina e muito compactadas (UE 43). No sector sul do muro foi identificada uma camada de terras avermelhadas e compactadas (UE 14), também parcialmente sobreposta pela UE 3.
Enquanto a UE 14 estava sobre a rocha-base, a UE 43 encontrava-se por cima de outro depósito (UE 24) e de um empedrado (UE 33), formado por blocos de quartzo e por lajes de xisto, de funciona-lidade desconhecida.
A UE 3 foi o depósito onde se en-controu o maior número de materiais ar-queológicos, cerca 24,8% da amostragem total, sendo a larga maioria constituída
por fragmentos de recipientes cerâmicos. Já nos ou-tros dois depósitos, também revolvidos pela lavoura, identificaram-se na UE 43 algumas cerâmicas (36 fragmentos cerâmicos), enquanto na UE 14 só foram recolhidos 12 cacos.
Se os depósitos anteriormente descritos podem estar associados ao abandono deste sítio e ao seu re-volvimento recente, a ocupação desta área caracteriza--se por uma aparente remodelação arquitectónica do edifício 1. Assim, o muro 1 (UE 10) pode ter sido so-breposto pelo muro 2 (UE 32), não tendo sido possível determinar com clareza as relações estratigráficas da primeira estrutura com os muros 3 (UE 34) e 4137.
Durante a remoção da UE 41, identificou-se no sector sudeste da sondagem 1 o topo de mais uma fos-sa escavada na rocha-base (fossa 2). Esta concavidade era preenchida por três depósitos, sendo de destacar a UE 13, que consistia num aglomerado de pedras de médias e pequenas dimensões (incluindo um elemento
FERRO
118
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
de mó em granito), envolvidas por terras argilosas e de tom esverdeado.
A UE 13 estava acumulada no fundo da fossa e encontrava-se sobreposta pela UE 11 (depósito for-mado por terras castanhas-alaranjadas, compactas e com textura granulosa, e por blocos de quartzo e de xisto com médias dimensões) e pela UE 6. Se na UE 11 ainda foram recolhidos 16 fragmentos cerâmicos, dois dos quais permitiram reconstituição de forma, na UE 6 só foram encontrados três cacos, um dos quais representa um recipiente aberto.
4.2.3.1.3. Sondagem 3
A interpretação dos contextos arqueológicos re-gistados nesta sondagem encontra-se muito condicio-
nada pela reduzida área intervencionada e pela com-plexidade verificada na estratigrafia vertical.
A escavação desta sondagem começou com a re-moção das camadas de superfície (UEs 1 e 2) e com a identificação da UE 12138, que se sobrepunha e encos-tava nos muros do edifício 2.
Neste nível recolheu-se cerca de 16% do conjun-to total de materiais arqueológicos, sendo de destacar a presença de dois cossoiros e de uma grande quantidade de artefactos líticos.
4.2.3.1..3.1. Fase de ocupação 2
O muro 5 (UE 21) situa-se na área central da sondagem e consiste numa estrutura bastante espessa (com cerca de 1,6 m de largura), que forma um “coto-
138 Depósito formado por sedimentos de cor beje, textura fina e consistência compacta. A UE 12, como as UEs 1 e 2, apresenta sinais de revolvimentos provocados pelas máquinas agrícolas.
Figura 4.25 – Estruturas do edifício 1
FERRO
119
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
velo”, com o segmento mais largo orientado a NE-SO e com a parte menos larga orientada no sentido per-pendicular (NO).
O muro 5 era adossado pelo muro 6 (UE 18), que se desenvolvia na direcção NO-SE, e pelo muro 7 (UE 20), que apresentava uma orientação NE-SO.
Os muros 6 e 7 delimitam possivelmente o com-partimento 1 de planta ortogonal, que se deve prolon-gar no sentido SO. Para além desta possibilidade, o muro 6 e o muro 5 podem definir o canto de outro compartimento, que se desenvolverá no sentido SE como testemunha o pavimento lajeado, à semelhança do espaço que se desenvolve a norte do muro 5. Por fim, o muro 7 e o muro 5 aparentam limitar outro am-biente.
O interior do compartimento 1 era preenchido por uma camada de terras (UE 25), que se sobrepu-nha a uma grande concentração de lajes de xisto, com pequenas dimensões (UE 22), e a outro depósito (UE 23), fornecendo as três realidades 77, 23 e 37 fragmen-tos cerâmicos, respectivamente. A UE 23 encontrava--se por cima de outro depósito (UE 30), que pode corresponder ao piso de ocupação deste espaço, que assentava sobre a rocha-base e no qual foram obtidos 30 cacos.
Já no sector norte, após a escavação da UE 15, identificou-se um lajeado de xisto, bem estruturado (UE 26), adossado ao muro 5, muito parecido com ou-tro possível lajeado (UE 29), identificado noutro am-biente, situado no canto SE da sondagem139.
A UE 15 consistia num depósito formado por blocos de quartzo, por pequenas lajes de xisto, por se-dimentos acastanhados e por uma grande quantidade de materiais arqueológicos (145 fragmentos cerâmicos, ou seja, cerca de 10% do conjunto total). Esta unidade pode corresponder à mistura de materiais de constru-ção provenientes da destruição dos muros 5 e 6, com o nível de abandono desta fase de ocupação.
Na metade sul da sondagem, a UE 15 era so-breposta por dois depósitos separados pelo muro 6: no sector a oeste estava a UE 16 e a Este estava a UE 17. Os dois depósitos têm características semelhantes (se-dimentos castanhos-escuros, pouco compactados e ar-gilosos), sendo que na UE 16 foram recolhidos 22 cacos.
139 A UE 29 era encostada por um aglomerado de lajes de xisto, relativamente fracturadas e dispostas num plano ligeiramente inclinado (UE 28), que pode corresponder à destruição parcial do lajeado. A UE 28 era sobreposta por uma grande concentração de pequenos fragmentos de xisto e blocos de quartzo (UE 22).Figura 4.26 – Sequência estratigráfica da fossa 2
FERRO
120
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.3.1.3.2. Fase de ocupação 1
Os vestígios desta primeira fase são muito escas-sos e fragmentários. Assim, no canto NE da sonda-gem, identificou-se por baixo do pavimento 1 (UE 26), numa área muito circunscrita, um depósito de terras argilosas (UE 35), que por sua vez se sobrepunha a um aglomerado de pedras com pequenas dimensões (UE 38), que assentava noutro depósito (UE 27).
No canto SO, por baixo da UE 30 identificou-se o muro 8 (UE 31), que apresenta uma orientação NO--SE e que estava parcialmente coberto pelo muro 6. Tal como no canto oposto, a área intervencionada foi muito reduzida, não tendo sido possível, por esse moti-vo, compreender o processo de formação dos depósitos desta fase, nem a funcionalidade do muro 8.
4.2.3.2. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
O conjunto material é composto essencialmente por fragmentos cerâmicos, os quais representam cerca de 98% dos achados recolhidos. As restantes catego-rias artefactuais (elementos de tecelagem e materiais líticos), para além de estarem escassamente represen-tadas, estavam maioritariamente nos níveis superficiais como se poderá observar no quadro que se segue.
4.2.3.2.1. Recipientes cerâmicos
Recolheram-se 1405 fragmentos cerâmicos, dos quais 1270 são bojos. Os restantes 135 corres-pondem a fragmentos de bordo, bases, asas e bo-jos decorados, que após o processo de remontagem resultaram em 119 recipientes (NMR), sendo 1 de terra sigillata. Destes, apenas 31 tiveram reconstitui-ção de forma.
4.2.3.2.1.1. Elementos técnicos da produçãode recipientes cerâmicos
4.2.3.2.1.1.1. Fabrico
O Fabrico 1 caracteriza-se por ser uma pasta de textura grosseira com abundantes enp’s carbonatados, de distribuição forte, com tamanhos entre 1 e 3mm, alguns entre 3 a 5 mm. Esta pasta tem ainda elementos finís-simos de micas, quartzos e minerais negros ocasionais.
Dos dezasseis recipientes identificados com este fabrico, seis foram cozidos em ambiente redutor, dois em ambiente oxidante e os restantes oito em ambiente redutor com arrefecimento oxidante.
Todos os recipientes com este tipo de pasta fo-ram modelados manualmente e o tratamento das su-perfícies mais utilizado foi o alisamento, que foi obser-
Figura 4.27 – Fossa 2 (UE 13)
FERRO
121
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
vado em doze recipientes. Um dos vasos apresenta as superfícies com engobe, e os outros três têm as superfí-cies porosas, pelo que foi impossível detectar qualquer tipo de tratamento.
O Fabrico 2 é uma pasta utilizada, tal como a anterior, na modelação manual de recipientes. Apre-senta textura homogénea, com enp’s carbonatados, de frequência moderada, e de tamanhos entre 1 e 3mm, e com elementos de mica finíssimos.
Cinco dos onze recipientes foram cozidos em ambiente totalmente redutor, enquanto que os restan-tes seis tiveram arrefecimento oxidante. O tratamento superficial foi efectuado, na maioria dos casos (7 exem-plares), com a aplicação de um engobe, tendo sido ra-ramente utilizado o alisamento (2 exemplares). Dois dos vasos apresentam as superfícies porosas.
O Fabrico 3 trata-se de uma pasta de textura homogénea, com enp’s de mica, de frequência escassa a moderada, cujos tamanhos se situam entre 1 e 3mm, em alguns casos são inferiores a 1mm. Verifica-se a presença ocasional de enp’s carbonatados, quartzo e minerais negros.
Este tipo de pasta originou produções modela-das a torno com cozeduras oxidantes (8 exemplares), redutoras (6 exemplares) e redutoras com arrefeci-mento oxidante (8 exemplares). Os tratamentos de superfície são cuidados, sendo frequente a aplicação de engobes (19 exemplares), alguns dos quais brunidos (5 exemplares). Os outros três recipientes têm as super-fícies porosas.
A pasta do Fabrico 4 tem textura homogénea. Os enp’s carbonatados são escassos a moderados, com
Figura 4.28 – Planta parcial do edifício 2 (sondagem 3)
Figura 4.29 – Estruturas do edifício 2
FERRO
122
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
distribuição fraca a média, e tamanhos entre 1 e 3mm, e em alguns raros casos de tamanho inferior a 1mm. Verifica-se igualmente a presença de minerais negros e mica de tamanhos inferiores a 1 mm.
Este é o fabrico melhor representado no con-junto e foi utilizado na produção a torno de 43 dos 119 recipientes. Foi observada a cozedura redutora com arrefecimento oxidante em 21 recipientes, a to-talmente redutora em 14 e a oxidante em 8.
O tratamento superficial da pasta foi efectua-do com a aplicação de engobes em 28 exemplares, dos quais 4 são brunidos. Em 14 recipientes regista-ram-se superfícies porosas e apenas 1 tem vestígios de alisamento.
O Fabrico 5 foi uma pasta utilizada em pro-duções a torno e caracteriza-se por ter textura gros-seira, com abundantes enp’s de elementos carbona-tados, de distribuição média a forte, e com tama-
nhos entre 1 e 3mm. Verifica-se ainda a presença de micas, quase sempre inferiores a 1mm e de quartzo ocasional.
À semelhança dos anteriores fabricos, as coze-duras redutoras com arrefecimento oxidante são as que se encontram melhor representadas no conjun-to, com treze recipientes. Com cozedura totalmente redutora foram observados cinco exemplares e com cozedura oxidante foi apenas observado um vaso.
Quanto ao tratamento das superfícies, e apesar de muitos dos fragmentos apresentarem as super-fícies porosas (nove exemplares), é possível ainda detectar a utilização de engobes em sete dos reci-pientes. O simples alisamento da peça após a sua modelação está igualmente presente em fragmentos pertencentes a três recipientes.
Por fim, o Fabrico 6 foi utilizado na produção de cerâmicas a torno e caracteriza-se por ser uma
Figura 4.30 – Pormenor do Muro 8
FERRO
123
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
UE Fragmentos cerâmicos Elementos de tecelagem Artefactos líticos
Sup. 2 0 1
1 159 1 13
2 42 1 4
2/12 10 0 0
3 355 0 1
5 26 0 0
6 3 0 0
7 2 0 0
10 24 0 0
11 17 0 0
12 53 0 0
13 0 0 1
14 13 0 0
15 145 0 1
15/26 11 0 0
16 22 0 1
22 23 0 0
23 37 0 0
24 27 0 0
25 77 0 1
30 15 0 0
37 22 0 0
38 127 0 0
40 80 0 0
41 77 0 0
43 36 0 0
Totais 1405 2 23
Tabela 7 – Distribuição do número de achados recolhidos por UE
pasta de textura densa com escassos enp’s de mica, de distribuição fraca, e com tamanho inferior a 1mm. Tem ainda elementos ocasionais carbonatados e de quartzo, de tamanho inferior a 1 mm. Foram obser-vados apenas dois exemplares com esta pasta, ambos de cozedura redutora, com arrefecimento oxidante e tratamento superficial com engobe.
4.2.3.2.1.1.2. Formas
Os 119 recipientes individualizados neste con-junto artefactual foram divididos em recipientes aber-tos e recipientes fechados, de acordo com as suas carac-terísticas, nem sempre fáceis de serem observadas, de-vido ao tamanho diminuto de alguns dos fragmentos140.
140 Tal circunstância levou a que fosse criada a designação de indeterminado (IND).
FERRO
124
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Com base nos elementos técnicos evidenciados, estes recipientes foram também categorizados em três grupos distintos: cerâmica manual; cerâmica ao tono e cerâmica cinzenta141.
4.2.3.2.1.1.2.1. Cerâmica Manual
Este grupo encontra-se representado por 27 re-cipientes, distribuídos pelos Fabricos 1 e 2. No entan-to, apenas sete permitiram a reconstituição de forma, resultando em quatro formas fechadas e duas abertas.
Forma I - Recipiente fechado, tipo pote, de bor-do muito exvertido na continuação do colo. Tem entre 20 e 34 cm de diâmetro de abertura. Esta forma en-contra-se representada por dois exemplares ambos do Fabrico 1, com as superfícies alisadas. Têm cozedura
redutora e um deles teve arrefecimento em ambiente oxidante.
Esta forma tem alguma semelhança à Forma II-b das cerâmicas manuais documentadas no Nível III de Belén (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43, fig. 13;109-111), com uma cronologia de pleno século III até meados do século II a.C.. Encontra-se ainda documentada no al-tar pré-romano de Capote, com uma proposta de data-ção entre os séculos V a III a.C. para o Tipo IV142 e os séculos IV a III a.C. para o Tipo V (Berrocal-Rangel, 1994:154-158, fig. 54; 160-163, fig.56).
Forma II - Recipiente fechado, tipo pote, de bordo praticamente direito na continuação do colo e com diâmetro de abertura de 34 cm. Encontra-se re-presentada por um exemplar do Fabrico 1, de cozedura oxidante e superfícies alisadas.
UE Recipiente fechado Recipiente aberto IND* Totais
0 1 0 0 1
1 6 2 3 11
2 7 3 3 13
3 16 15 11 42
5 0 2 1 3
6 0 1 0 1
11 2 0 0 2
12 1 0 0 1
14 1 1 0 2
15 7 5 1 13
22 0 1 0 1
23 2 1 0 3
24 2 0 0 2
25 3 3 1 7
30 0 1 0 1
38 1 2 1 4
41 6 3 2 11
43 1 0 0 1
Totais 56 40 23 119
Tabela 8 – Distribuição genérica das formas
141 No que respeita ao fragmento de bojo de um recipiente de terra sigillata, devido ao seu tamanho francamente diminuto não mereceu qualquer tipo de individualização.142 “ Vaso de perfil continuo em “S” e base realçada, fabricado à mão, em cozeduras redutoras, acabamento superficial alisado e decorações relativamente abundantes (maioritariamente inciso-impressas)”, p.154-158.
FERRO
125
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A forma II é morfologicamente idêntica à Forma II-a da Ermita de Belén143 (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43, fig.13), que se encontra amplamente representada nos níveis III e IV, correspondentes à IIª fase de ocupa-ção do sítio, que está datada do pleno século III até mea-dos do II a.C. (idem, ibidem,: 111, fig. 53;107, fig. 49).
Forma III – Recipiente fechado, tipo copo, de bordo exvertido na continuação do colo, que é alto e pouco estrangulado. O bojo aparenta tendência he-misférica. Tem 12 cm de diâmetro de abertura e foi produzido com o Fabrico 2, é de cozedura redutora e as superfícies foram alisadas.
Poderá ter alguma correspondência com a For-ma II-b ou II-c da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43, fig. 13).
Forma IV - Recipiente fechado, tipo pote, de bordo ligeiramente exvertido. Tem a particularidade de ter uma asa diametral ou de “cesta”, de secção sub--circular que arranca do bordo pelo lado interno do recipiente. O fragmento é muito pequeno, pelo que foi impossível reconstituir totalmente a forma do vaso, bem como, o diâmetro de abertura. Este exemplar foi produzido com o Fabrico 2 e teve cozedura em am-biente redutor com arrefecimento oxidante. Tem as superfícies com engobe.
Estes elementos de suspensão são característi-cos de uma tradição das cerâmicas proto-históricas da Meseta Norte, estando igualmente documentadas em diversos povoados meridionais dos séculos VI e V a.C., como Cástulo, Colina de los Quemados ou Tejada la
Gráfico 9 – Representação percentual dos grupos cerâmicos
Vieja (Berrocal-Rangel, 1994: 174; idem, 1992: 97) e mesmo em algumas necrópoles do Alentejo, nomea-damente, em Fonte Santa (Ourique) datada do século VI a.C. por Caetano de Melo Beirão (Beirão, 1986, fig.18-19).
Encontramo-las, igualmente, em sítios como o Castro de la Muela, Alcazaba de Badajoz (Almagro--Gorbea, 1994: 178, fig.18, n.º4), Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991: 54-55, fig.21; fig. 90, n.º 1101 e fig.92, n.º 1170), onde se atesta a sua presença no Ní-vel IV a que corresponde a Fase III da ocupação do sí-tio, que tem uma datação de pleno século III até mea-dos do II a.C. , também presentes no Nível II de Can-cho Roano (Celestino Pérez, Jiménez Ávila, 1993:180, fig.71, n.º 2), bem como no altar pré-romano de Ca-pote, no Nível III de ocupação, com cronologia entre o século IV e meados do II a.C. (Berrocal-Rangel, 1994: 175, fig.60, n.º 4076 - lam. 98 (p.424) – Tipo XII - B b.) e na necrópole de El Raso, Candeleda, Ávila, em contexto funerário do século IV a. C. (Fernández Gó-mez, 1997: 48, sepultura 96; 49, fig.98, n.º 2).
Os vasos que suportam este tipo de asas são, ge-nericamente formas fechadas de perfil em “S” conti-nuo na transição bordo-bojo de base plana e aparecem, quer em produções manuais, quer a torno.
Forma V – Recipiente aberto, tipo tigela, com 20 cm de diâmetro de abertura. O corpo tem tendên-cia hemisférica e o bordo é ligeiramente reentrante. O único exemplar registado é do Fabrico 1, de cozedura redutora, com arrefecimento oxidante e superfícies ali-sadas.
Parece corresponder à Forma VII das cerâmicas manuais de Bélen (Rodríguez Díaz, 1991:43-44, fig. 14) documentada em níveis datados de pleno século III a meados do século II a. C..
Forma VI – Recipiente aberto, tipo tigela, com 21 cm de diâmetro de abertura e de corpo de tendên-cia hemisférica. Esta forma encontra-se representada apenas por um exemplar, do Fabrico 1, de cozedura redutora com arrefecimento oxidante e com as super-fícies alisadas.
Trata-se de uma forma muito generalizada e com lata perduração de fabrico e utilização, quer em produções manuais, quer a produções a torno, apre-sentando pequenas variações no tamanho e na forma do bordo e da base.
143 ”Vaso de tamanho variável, com suave perfil em “S”, em que a parte superior do recipiente - bordo e colo - é muito curta relativamente à inferior, ainda que nem sempre se verifique esta circunstância. O corpo é mais ou menos globular estreitando-se para o fundo. Este pode ser plano ou com pé saliente. É sem dúvida o recipiente mais frequente e pode aparecer indistintamente liso ou decorado. (...) A variante “A” tem a particularidade de ter o bordo vertical”.
FERRO
126
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.31 – Formas de recipientes cerâmicos
Na Ermita de Belén, assemelha-se à Forma VIII das cerâmicas manuais144 (Rodríguez Díaz, 1991: 43-44). Já Berrocal-Rangel, no “Altar pré-romano de Capote”, propõe para este tipo de vasos com perfil de tendência esférica e feitos à mão, uma datação entre os séculos V e II a.C., quando estes deixam de se docu-mentar, sendo substituídos por formas abertas feitas ao torno (Berrocal- Rangel, 1994: 148).
4.2.3.1.1.2.2. Cerâmica a torno
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, de bor-do exvertido e colo estrangulado, com diâmetros de abertura entre os 11 e os 30 cm. Esta forma está re-presentada por quatro recipientes, dois do Fabrico 3 de cozeduras oxidantes e outros dois do Fabrico 4, um de cozedura oxidante e outro redutora.
Forma II – Recipiente fechado, com 11 cm de diâmetro de abertura, de bordo espessado e exvertido em aba com uma ligeira depressão perímetral. O colo
é alto e direito. O único exemplar é do Fabrico 4 com cozedura redutora e arrefecimento oxidante e as super-fícies com engobe.
Forma III - Recipiente fechado, tipo pote, de bordo exvertido na continuação do colo, que é alto e ligeiramente estrangulado. Tem diâmetro de abertura entre os 20 e os 28 cm. Dois dos exemplares são do Fabrico 5, com cozeduras redutoras e arrefecimento oxidante. O terceiro é do Fabrico 3 de cozedura oxi-dante e tem vestígios de engobe brunido na superfície externa.
É semelhante à Forma II–b das cerâmicas toscas a torno de Belén145 ( Rodríguez Díaz, 1991: 49-51, fig. 17).
Forma IV – Recipiente fechado, do tipo pote, de bordo exvertido ligeiramente em aba e colo alto. Tem 20 cm de diâmetro de abertura, é do Fabrico 4, de co-zedura oxidante e tem as superfícies com engobe.
Apresenta algumas semelhanças com a Forma II da cerâmica de cozedura oxidante de Belén146 ( Rodrí-guez Díaz, 1991: 54-55, fig. 21).
144 “Vaso de diversos tamanhos com bordo normal ou afunilado, corpo hemisférico ou com tendência recta e base plana ou com pé salien-te. É uma forma muito frequente e sem decoração.”145 “Recipiente de tamanho médio, perfil mais ou menos globular e base possivelmente plana (...) a variante b corresponde aos vasos de perfil em “S” continuo”146 (...) de bordo exvertido, colo mais ou menos desenvolvido, corpo ovóide e base plana ou côncava. O diâmetro de boca destes recipien-tes gira em torno dos 20-25 cm.”
FERRO
127
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Forma V– Recipiente aberto, tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 19 e os 23 cm e de corpo de tendência hemisférica. Esta forma encontra-se re-presentada por quatro exemplares, três do Fabrico 4 e um do Fabrico 3.
As semelhanças morfológicas aproximam-na da Forma X das cerâmicas de cozedura oxidante da Ermita de Belén147 (Rodríguez Díaz, 1991:56-57, fig. 22) a qual se encontra presente nos Níveis III e IV, datados de ple-no século III até meados do II a. C.. Em Capote corres-ponde à Forma X, com cronologias em torno do século IV-III a.C. (Berrocal-Rangel,1994:68-171, fig. 59).
4.2.3.2.1.1.2.3. Cerâmica cinzenta
Forma I - Recipiente fechado, tipo pote, de bor-do exvertido e colo curto estrangulado. Tem 14 cm de diâmetro de abertura e foi produzido com o Fabrico 4, com cozedura redutora e superfícies com engobe brunido.
Parece ter algumas semelhanças com a Forma III das cerâmicas cinzentas de Bélen148 (Rodriguez Diaz, 1991:62; 64) identificada em níveis datados de pleno século III até meados do II a. C..
Forma II - Recipiente fechado, tipo pote, de bordo ligeiramente exvertido na continuação do colo. Tem 24 cm de diâmetro de abertura, é do Fabrico 3, de cozedura redutora e tem as superfícies com engobe brunido.
Forma III – Recipiente aberto, tipo prato, com 26 cm de diâmetro de abertura, de bordo direito e espessado internamente, produzido com a pasta bem depurada do Fabrico 6. A cozedura é redutora e as su-perfícies têm engobe brunido.
Vasos morfológica e tecnicamente semelhantes, estão presentes em grande parte dos sítios localizados ao longo da área de influência da bacia do Guadiana, durante a segunda metade do Iº milénio a.C., exemplos como Cancho Roano, onde pratos, com características afins, estão registados em níveis dos séculos VI-V a.C. (Celestino Pérez e Jiménez Ávila, 1993, figura 68, nº 2) ou como o oppidum de Badajoz, documentados no nível III-A (Berrocal-Rangel, 1994:143-187), cor-respondente ao “período pré-romano ou céltico” com idêntica cronologia.
Este tipo de recipientes apresenta, no entanto, uma diacronia de produção/utilização que pode ir até aos séculos III-II a.C. Como no caso dos pratos/ti-gelas da Forma IV das cerâmicas cinzentas, presentes no Nível III da Ermita de Belén, (Rodríguez Díaz, 1991:61-62;64;132,fig.74), verificando-se o desapa-recimento progressivo do espessamento interno do bordo e afastando-se dos modelos orientalizantes, que anteriormente imitava. O ligeiro espessamento do bordo, que se verifica nas tigelas deste conjunto são, muito provavelmente, já um prenúncio dessa evolução formal.
Forma IV - Recipiente aberto, tipo tigela, com diâmetros entre os 16 e os 24 cm de abertura. O cor-po tem tendência hemisférica e o bordo apresenta um ligeiro espessamento interno. Foram identificados sete recipientes com esta forma, cinco do Fabrico 4, com cozedura redutora, dois deles com arrefecimento oxidante. Os outros dois recipientes são do Fabrico 3, com a cozedura oxidante.
Esta forma apresenta os mesmos paralelos cro-nológicos que a anteriormente descrita.
Forma V - Recipiente aberto, tipo prato, com um diâmetro de 16 cm e corpo de tendência troncocónica e bordo espessado internamente. É do Fabrico 6 de cozedura redutora e as superfícies são brunidas.
À semelhança das duas formas anteriores este tipo de prato tem paralelos em recipientes morfologi-camente idênticos, com cronologias latas entre o sécu-lo V e II a.C..
4.2.3.2.1.1.3. Decoração
As decorações estão praticamente ausentes des-te conjunto, assim, num universo de 119 recipientes, apenas 9 apresentam decoração, sendo a sua gramática decorativa igualmente pobre. Quatro dos fragmentos apresentam impressão por digitação simples sobre o bojo e os outros cinco apresentam decoração incisa com caneluras finas, igualmente, sobre o bojo.
A decoração impressa por digitação simples sobre o bojo é uma gramática decorativa frequente em va-sos que remontam ao bronze final, geralmente aplicada sobre cordões plásticos. A sua reprodução prolonga-se durante a IIª metade do Iº milénio a.C., tornando-se
147 “Vaso de bordo normal, corpo hemisférico (...). O diâmetro destes recipientes é variável. Trata-se, sem dúvida, de uma das formas mais generalizadas.”148 “Vaso de perfil em “S”. O diâmetro de boca gira em torno dos 15 cm.”
FERRO
128
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
mais frequentes as digitações aplicadas directamen-te sobre o bojo. Em Capote, esta técnica decorativa é exclusiva da cerâmica manual, onde se encontra repre-sentada quer em conjugação com outras técnicas, quer isoladamente (Berrocal-Rangel, 1994: 103-106).
As duas técnicas estão representadas, quer em re-cipientes modelados manualmente, quer em recipien-tes levantados a torno.
4.2.3.2.1.2. Distribuição estratigráfica
4.2.3.2.1.2.1. Sondagem 1
Dos níveis superficiais desta sondagem são pro-venientes da UE 38 quatro fragmentos de recipientes
do Fabrico 4, dos quais apenas dois tiveram reconsti-tuição de forma: um pertence à Forma IV da cerâmica a torno e o outro à Forma IV da cerâmica cinzenta.
Para além deste depósito, somente a UE 5, o primeiro estrato de enchimento da fossa 8, forneceu matéria de estudo. Encontram-se documentados três fragmentos de bordo, de diferentes recipientes, to-dos de produção manual do Fabrico 1, mas somente um deles permitiu a reconstituição quase integral do perfil. Trata-se de um fragmento de bordo de uma tigela da Forma VI da cerâmica manual. Os outros dois fragmentos pertencem, 1 deles (n.º 57) a uma forma aberta, talvez uma tigela idêntica a atrás des-crita, o outro (n.º 60) é demasiado pequeno para se perceber.
Figura 4.32Cerâmica decorada
FERRO
129
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.3.2.1.2.2. Sondagem 2
Da UE 41, um estrato de superfície revolvido pelos trabalhos agrícolas recentes, é proveniente um fragmento de bordo com arranque de asa diametral também denominada de “cesta” de secção sub-circular – Forma IV da cerâmica manual.
Para além desta, estão também representadas neste estrato as Formas II, III e VI da cerâmica a torno.
O depósito que forneceu mais materiais arqueo-lógicos foi a UE 3, cuja formação terá ocorrido após o abandono do sítio e que se encontrava afectado por revolvimentos recentes provocados pela lavoura. Nesta camada o número de recipientes fechados é pratica-mente equivalente ao dos abertos.
Deste contexto, é proveniente um conjunto de cerâmicas produzidas a torno, com pastas homogé-neas maioritariamente do Fabrico 4, correspondentes às Formas III e IV das cerâmicas cinzentas. Apresen-tam acabamentos cuidados e na maioria dos casos com vestígios de engobe cinzento, por vezes brunido. Estão igualmente presentes as Formas I e VI da cerâmica a torno e as Formas II e V da cerâmica manual.
Sem forma definida, mas ainda assim merecedo-ra de comentário, encontra-se uma asa de “orelha” de secção sub circular proveniente deste depósito. Des-conhece-se o tipo de recipiente que a suportou, mas deverá ter sido um pote de grande dimensão.
Este tipo de recipientes, com asas semelhantes, têm paralelos em estratos de ocupação que vão desde o século VI ao século II a. C., estando normalmente as-sociadas a ânforas de tipo ibero-púnico, de cronologias à volta do século V; no entanto, este tipo de elemento está também presente em potes de grande capacida-de, não sendo exclusivo das primeiras, pelo que a sua descoberta isolada pode levar a uma atribuição crono-lógica viciada à partida por um pressuposto demasiado simplista.
Asas semelhantes estão presentes no nível II de Cancho Roano com datações dos séculos VI e V a. C. ( Celestino Pérez, e Jiménez Ávila, 1993: fig.54 (ân-fora); fig. 56 (ânfora); fig.61 (pote)) e nos níveis III e IV da Ermita de Belén, correspondentes à IIª fase de ocupação de pleno século III até meados do II a. C. ( Rodríguez Díaz, 1991: 122, fig.64, nº 588; 126, fig. 68, nº 683; fig. 93, nº 1171).
Quanto aos materiais provenientes dos estratos subjacentes, o cenário é idêntico apesar de diminuir drasticamente em termos quantitativos. Na UE 14, es-tão documentados apenas dois fragmentos, sendo am-bos modelados a torno: um bordo muito desgastado de um pote e uma base com pé em “bolacha”, provavel-mente de uma tigela de pasta homogénea e cozedura redutora com engobe cinzento.
Quanto ao estrato UE 43, foi individualizado apenas o fragmento de um recipiente da Forma II da cerâmica cinzenta.
Do depósito UE 6, correspondente ao últi-mo enchimento da fossa 9, é proveniente apenas um fragmento muito desgastado de uma base com pé em “anel”, provavelmente de uma tigela, produzida com a pasta do Fabrico 6.
Subjacente a este estrato identificou-se a UE 11, onde estão documentados fragmentos de 2 recipientes de produção manual do Fabrico 1; no entanto, somen-te de um deles houve reconstituição de forma (reci-
Gráfico 10 – Distribuição percentual dos diferentes tipos de decoração
Figura 4.33 – Recipientes cerâmicos recolhidos nas UEs 5 e 38
FERRO
130
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Manual Torno Cinzentas Forma UE NMR Forma UE NMR Forma UE NMR
I 11 1 I 2 1 I 25 1
25 1 3 1 II 43 1
II 3 1 24 1 III 3 1
III 15 1 25 1 2 1
IV 41 1 II 41 1 IV 3 5
V 3 1 2 1 38 1
VI 5 1 III 23 1 V 23 1
41 1
IV 38 1
V 15 1
3 1
VI 22 1
41 1
Tabela 9 – Distribuição do NMR por tipode produção e por forma
Figura 4.34 – Recipientes cerâmicos recolhidos nas UEs 3, 41 e 43
FERRO
131
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
piente tipo pote da Forma I). O outro exemplar é um bojo com decoração impressa por digitação simples.
4.2.3.2.1.2.3. Sondagem 3
Dos estratos superficiais apenas a UE 2 forneceu material com reconstituição de forma, estando presen-tes neste depósito as Formas I e III da cerâmica a tor-no e a Forma IV da cerâmica cinzenta.
Quanto à UE 15, estão presentes as Forma III da cerâmica manual e a Forma V da cerâmica a torno. Para além destas, é proveniente deste estrato, um reci-piente fechado de bordo exvertido e dobrado sobre o bojo, que é enquadrável em cronologias tardias o que levanta a hipótese deste estrato se encontrar revolvido dada a cronologia tão lata de materiais no mesmo de-pósito.
Este tipo de recipientes “adquire um especial de-senvolvimento a partir do século I d.C. perdurando durante muito tempo” (Rodríguez Díaz, 1991: 68; 105, fig. 47). Em S. Cucufate, corresponde à Forma VII A 1
a149, representada nos horizontes 1 (séculos I-II d.C.); 3 (séculos II-IV d.C.), 4 (século IV d.C.) e 6 ( século V d.C.), (Pinto, 1999: 383-385, fig. 258).
Da UE 25, são provenientes recipientes das For-mas I da cerâmica manual, Forma I da cerâmica a tor-no e Forma I da cerâmica cinzenta e da UE 23 estão representadas as Formas III da cerâmica a torno e a Forma V da cerâmica cinzenta.
Por fim, no estrato UE 22 apenas foi possível reconstituir um recipiente, pertencente à Forma V da cerâmica a torno.
4.2.3.2.2. Elementos de tecelagemAna Jorge
Os elementos de tecelagem recolhidos nas ca-madas de superfície do Monte das Candeias 3 corres-pondem a um fragmento de cossoiro discóide, de topo plano e perfuração cilíndrica, e a um cossoiro bicónico inteiro, de topo plano e perfuração cónica, provavel-mente produzido por moldagem.
As duas peças diferem ainda em termos de pasta. O primeiro, de menores dimensões, caracteriza-se por uma pasta compacta, granular, muito abundante em elementos não plásticos de granulometria muito gros-seira (frequentemente >5mm de diâmetro); o segundo apresenta uma pasta igualmente compacta e granular,
mas com menor percentagem de elementos não plás-ticos, que são menos grosseiros. Em ambos os casos a coloração das pastas sugere cozedura em atmosfera redutora irregular.
4.2.3.2.3. Elementos de moagemAna Jorge
Neste sítio arqueológico foram identificados três fragmentos de dormente e um segmento muito peque-no de movente, todos em granito.
No que respeita aos dormentes, apenas é possí-vel identificar uma forma sub-rectangular para o único exemplar bifacial. Todos se caracterizam por secções plano-côncavas e bordos ou extremidades bojardados. Dada a natureza do granito, que se desagrega com re-lativa facilidade, não é claro se as irregularidades da su-perfície de utilização de dois dos exemplares resultam da erosão heterogénea da rocha ou se correspondem ao picotado.
Todos os elementos de moagem foram iden-tificados na camada superficial de revolvimento, es-tando, por isso, descontextualizados da sua posição original.
4.2.3.2.4. Outros materiais líticosAna Jorge
No que respeita à pedra talhada, foram identifi-cados sete percutores, todos provenientes de depósitos de superfície. Trata-se de seixos rolados em quartzi-to, de forma maioritariamente elipsoidal (apenas um exemplar é sub-rectangular), com vestígios de percus-são numa (4 exemplares) ou em ambas as extremidades (3 exemplares). Em dois casos, a extremidade oposta à superfície de percussão foi afeiçoada por talhe. As dimensões variam entre 16,5 cm e 9,6 cm de compri-mento máximo, 8,5 cm e 5,6 cm de largura máxima, e 6,3 e 3,3 cm de espessura máxima.
Do Monte das Candeias 3 proveio ainda o único exemplar de pedra polida recolhido nos sítios integra-dos neste Bloco. Trata-se de uma enxó, de pequenas dimensões, em matéria-prima indeterminada (prova-velmente fibrolito), integralmente polida, de flancos trapezoidais e bordos ligeiramente convergentes no talão. O gume é simples, plano, de linha convexa simé-trica, e encontra-se intacto. O talão é truncado e tem 0,5 cm de espessura. As dimensões muito reduzidas
149 “Tachos de bordo dobrado sobre o ombro, pança esférica ou ovóide, sem asas e com diâmetros entre os 9 e os 20 cm”
FERRO
132
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
desta peça (2,4 cm de comprimento máximo, 1,1 cm de largura máxima e 0,6 cm de largura de gume) e a ausência de vestígios de utilização sustentam a hipó-tese de se tratar de um objecto de cariz simbólico. A sua recolha num depósito de superfície não permite associar a presença deste artefacto à ocupação da Idade do Ferro.
Dos conjuntos artefactuais líticos recolhidos no Monte das Cadeias 3 fazem ainda parte nove ele-mentos de classificação indeterminada. Entre estes destacam-se sete fragmentos de placas/lajes de xisto bastante irregulares (não polidas), com pesos e dimen-sões muito díspares (por exemplo, as espessuras variam entre 1,5cm e 0,7cm), cuja característica comum é apresentarem uma perfuração.
São materiais de classificação muito difícil pois podem representar categorias artefactuais diferentes. Entre estes destaca-se um exemplar, de pequenas di-mensões, com uma perfuração cónica regular e muito reduzida (cerca de 4,5 mm), que contrasta claramente com os restantes fragmentos, muito mais espessos e com perfurações com diâmetro superior a 11 mm). É possível que os exemplares de maiores dimensões correspondam a fragmentos de, por exemplo, elementos arquitectóni-cos (tipo soleira, lintel...) que, dadas as características naturais da matéria-prima (xisto), tenham lascado em ‘placas’ de dimensões variáveis. A irregularidade dos ele-mentos recolhidos concorre para esta interpretação.
Entre os elementos inclassificáveis consta ainda um fragmento pétreo (em grauvaque) em forma de
Figura 4.35 – Recipientes cerâmicos recolhidos nas UEs 2, 15, 23 e 25
quadrante. Apresenta polimento na superfície supe-rior, a qual é ligeiramente côncava, secção plano-côn-cava e bordo bojardado. Embora não possa ser excluí-da a hipótese de se tratar de um dormente, diferentes interpretações podem ser sugeridas, nomeadamente a possibilidade de se tratar de um fragmento de um ele-mento tipo tampa.
Finalmente, há ainda que referir um seixo cir-cular achatado, com 58 mm de diâmetro e 9 mm de espessura, cuja origem (natural ou antrópica) não pode ser determinada.
4.2.3.3. Considerações finaisSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
Apesar da presença de alguns materiais arqueo-lógicos, como a pequena enxó, de cronologia pré-his-tórica, e de outros que podem ser integrados no perío-do romano, como o fragmento de sigillata, os trabalhos arqueológicos realizados neste local contribuiram para a identificação de duas fossas escavadas na rocha-base, provavelmente contemporâneas da ocupação principal do habitat.
Figura 4.36 – Planta parcial do sítio
FERRO
133
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
FERRO
134
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Esta ocupação caracteriza-se pela construção de dois edifícios. O edifício 1 localiza-se na sondagem 2 e pode ter sido sujeito a uma remodelação arquitec-tónica, como é sugerido pela sobreposição do muro 2, em relação ao muro 1. Na sondagem 3, detectaram-se os vestígios do edifício 2, cujas paredes se sobrepõem aos restos de uma terceira construção, de cronologia mais antiga.
Devido à reduzida área intervencionada e ao mau estado de conservação dos contextos arqueoló-gicos, não se consegue determinar a funcionalidade, nem compreender a organização espacial destes três edifícios.
Uma vez mais, a informação obtida neste sitio reflecte as dificuldades encontradas na interpretação estratigráfica das UEs e o facto de uma larga parte da amostragem cerâmica provir de contextos revolvidos (cerca de 37,4%) ou de depósitos cujo processo de formação não é possível compreender. Ainda assim, os materiais arqueológicos apresentam alguma coe-rência cronológica, observando-se pelos paralelismos tidos em conta (sobretudo com a Ermita de Bélen) de que a ocupação proto-histórica do Monte das Can-deias 3 deverá ter ocorrido em torno dos séculos III a.C..
As observações macroscópicas das pastas pro-põem um conjunto de 6 fabricos, num conjunto de 119 recipientes, distribuídos pelas 3 habituais catego-rias consideradas, onde predominam as produções a torno – comuns e cinzentas – (77%) sobre as manuais (23%). Se nestas últimas dominam as formas fecha-das, o cenário de conjunto é antes de equilíbrio entre potes e panelas, por um lado, e tigelas e alguns pratos, por outro lado.
Os dois primeiros fabricos observados dizem respeito a produções cerâmicas manuais, cujas formas encerram potes/panelas (Formas I-III) e tigelas (For-mas V-VI). Nas produções manuais, a asa de “orelha” e a asa de cesta constituem elementos tradicionalmente arcaízantes, mas a sua perduração em níveis dos sécs. III/II a.C. é atestada noutros povoados do sudoeste.
Os Fabricos 3 e 5 estão associados maiorita-riamente a cerâmica comum a torno, sejam potes ou panelas (Formas I-V), sejam tigelas (Formas VI-VII); ao passo que os Fabricos 4 e 6 se denotam pelas pas-tas bem depuradas e cuidados técnicos que definem
a cerâmica cinzenta, através de alguns potes (Formas I-II), mas sobretudo pelas formas abertas de pratos (Forma III) e tigelas (Formas IV-V). Nestas últimas peças o particularismo observado no ligeiro espessa-mento do bordo das tigelas, reporta a uma evolução tradicionalmente tardia, face aos modelos orientali-zantes que ditaram a profusão desta categoria cerâ-mica no sudoeste peninsular.
Deste conjunto saliente-se ainda a escassa re-presentação de decorações (7%), patente em simples decorações impressas por digitação ou por finas ca-neluras incisas no bojo. O arcaísmo destas gramáticas decorativas, perceptível nos recipientes manuais às produções a torno, é exemplo de que estes elemen-tos, pese as inovações tecnológicas, permanecem sem grandes alterações ao longo do I milénio até aos sécs. III/II a.C..
À semelhança dos outros pequenos povoados vizinhos, o conjunto cerâmico do Monte das Can-deias 3, conjuntamente com os elementos de moagem e de tecelagem, espelham um ambiente doméstico, bem patente num serviço multifuncional de pequena armazenagem e confecção, ou de consumo, quando relacionado com acabamentos mais cuidados e com a cerâmica cinzenta.
4.2.4. Estrela 1João Albergaria
O sítio da Estrela 1 foi identificado durante as prospecções realizadas no âmbito do EIA do Em-preendimento do Alqueva150 e foi classificado como habitat da Idade do Bronze (EDIA, 1996:162).
A intervenção arqueológica consistiu na escava-ção de duas sondagens arqueológicas, com uma área total de 87m2, localizadas no topo de uma pequena área aplanada, situada junto à ribeira de Santa Maria.
4.2.4.1. Interpretação estratigráfica dos contextos arqueológicos
O nosso conhecimento sobre este sítio encontra--se muito limitado pela reduzida área escavada, pelo elevado grau de destruição da maioria dos contextos arqueológicos observados e pelo facto de nem todos os depósitos terem sido escavados.
150 «Situa-se a meia encosta de pequena elevação, em pequena plataforma, junto de linha de água. À superfície e sobre terrenos de aluvião, encontraram-se algumas lascas finas de xisto, cerâmicas de fabrico manual, com bordos sem espessamento, pasta muito depurada e com bom acabamento de superfície, algumas brunidas, percutores de quartzo e quartzito, seixos e lascas» (EDIA, 1996:162).
FERRO
135
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Se na sondagem 2, depois da camada de superfí-cie ter sido escavada, foi identificado o topo da rocha base, que continha vestígios dos cortes provocados pela passagem dos arados, na sondagem 1, os trabalhos rea-lizados puseram a descoberto, pelo menos, dois edifí-cios muito danificados, que podem estar relacionados com duas fases de ocupação.
Após a remoção da camada de superfície (UE 1), identificou-se o topo de um depósito formado por pedras, por sedimentos e por materiais arqueo-lógicos, que cobria grande parte da área intervencio-nada (UE 2).
O processo de formação desta unidade pode ser dividido em dois momentos: no primeiro, decorreu a acumulação natural e lenta de terra sobre o nível de abandono generalizado deste sítio, enquanto no se-gundo, aqueles sedimentos e os contextos pré-exis-tentes foram revolvidos pelas máquinas agrícolas, que provocaram a mistura de materiais arqueológicos, de materiais de construção e das terras existentes sobre os níveis de ocupação.
A UE 2 cobria ainda dois interfaces de corte (UE 21 e UE 28), que romperam um conjunto de contextos relacionados com as duas fases de ocupação, nomeada-mente os pavimentos 1 e 3151 e a UE 18.
4.2.4.1.2. Fase de ocupação 2
A segunda fase caracteriza-se pela criação do compartimento 2, que se encontra delimitado pelo muro 1152 (UE 5), pelo muro 4 (UE 10) e, prova-velmente, pelo muro 2 (UE 11). Esta reformulação, rompeu a disposição original do edifício, dado que o muro 1 fechou a entrada existente no muro 3 (UE 16) e se sobrepôs ao pavimento original (UE 12).
A extremidade SO do muro 1 parece encostar ao muro 4, alinhamento de pedras que constitui o único vestígio de uma parede, erguida provavelmente com materiais perecíveis, assentes num pequeno soco pé-treo, que dividiu ao meio o anterior compartimento.
O pavimento 3 e a lareira 2 podem estar asso-ciados à utilização do novo compartimento153, apesar das relações estratigráficas registadas não terem com-provado esta interpretação, devido à inconclusão dos trabalhos arqueológicos neste sector e ao mau estado de conservação de alguns contextos154.
Encostado ao pavimento 3, existia um depósito de terras de cor cinzento claro, com pedras de dimen-sões reduzidas (UE 18), que deve estar relacionado com a utilização da Lareira 2, dada a presença de pe-quenos nódulos de carvão misturados com a terra.
Sobre o nível de ocupação deste compartimen-to, identificou-se uma bolsa de terras avermelhadas (UE 15), muito compactadas e com a textura muito granulosa, que formam uma superfície irregular e só-lida, na qual se recolheu um recipiente cerâmico pra-ticamente completo in situ (Forma I, das cerâmicas manuais).
No sector sul da sondagem, após a escavação da UE 2, identificou-se uma estrutura pétrea (UE 4), de forma aproximadamente circular, assente sobre um depósito de terras castanhas (UE 14). Aparentemen-te, a construção desta estrutura pode ser enquadrada na etapa final da utilização do compartimento 1, uma vez que a área destruída do pavimento encontrava-se sobreposta pela UE 14, que pode corresponder à base de nivelamento daquela estrutura pétrea.
Figura 4.37 – Vista geral da paisagem
151 Depois da remoção da UE 2, identificaram-se dois depósitos (UE 3 e UE 9) que podem resultar da destruição de segmentos do pavimento 3.152 Convém referir que o segmento norte deste muro é definido pelo contorno da UE 26 (grande aglomerado de pedras dispostas horizon-talmente, para o qual não é possível atribuir-lhe uma funcionalidade devido ao seu mau estado de conservação e ao facto de não ter sido removido). Segundo esta hipótese, o espaço vazio deveria ser preenchido por uma parede de terra e que entretanto desapareceu.153 O pavimento 3 (UE 29) foi praticamente destruído, podendo eventualmente algumas das lajes de xisto recolhidas nas UEs 9 e 26 serem provenientes desta estrutura.154 Como o muro 1 o muro 3 ou a UE 26.
FERRO
138
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Para além deste empedrado, foram identificadas mais duas estruturas com algumas semelhanças entre si. A segunda foi detectada no canto NE da sonda-gem (UE 23) e estava sobre um depósito de terras de cor castanho-acinzentado e muito compactadas (UE 24)155 A UE 32 foi identificada junto ao canto SE e consiste num aglomerado de blocos de quartzo, cuja funcionalidade deve ser atribuída com prudência devi-do à reduzida área identificada.
Convém ainda salientar que estes empedrados têm uma funcionalidade indeterminada e a sua relação com os contextos envolventes é problemática, porque não foi possível escavar a totalidade da área abrangida por estas realidades. Desta forma, a sua integração nes-ta fase poderá ser de facto questionada, porque existe a hipótese dos empedrados serem posteriores à ocupa-ção principal do edifício 2.
4.2.4.1.2. Fase de ocupação 1
A primeira fase de ocupação está associada à construção e à utilização do edifício 1, do qual se conhecem apenas dois compartimentos. O compar-timento 1 está limitado pelo muro 3 e pelo muro 2. Neste ambiente foi ainda identificado um pavimento formado por argilas muito compactadas (UE 12)156 e uma lareira circular feita em argila cozida (lareira 1).
Figura 4.40 – Recipiente cerâmicorecolhido in situ na UE 15
(Forma I das Cerâmicas Manuais)
Figura 4.41 – Vista geral do empedrado 2
155 Este depósito era encostado por uma mancha de terras de tonalidade acastanhada, muito compactadas, que se prolongam por baixo da UE 26 e que não foram escavadas.156 O piso interno do compartimento está sobre uma película de terras mais claras e finas, que serviu como camada de preparação do pavimento (UE 20).
FERRO
139
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
O muro 3 aparenta estar interrompido pela en-trada para o compartimento 1 (UE 30). Esta hipótese é fundamentada na regularidade das faces do muro, na área cortada, e no facto do aparelho de construção, junto aos limites dessa zona, conter blocos relativa-mente grandes e bem consolidados. Curiosamente, o segmento SO do muro parece estar ligeiramente desa-linhado, em relação ao segmento NE, não sendo pos-sível explicar a causa desta situação.
No sector NO da sondagem e encostado ao pa-ramento do muro 3, detectou-se um depósito de terras
castanhas, muito compactadas (UE 17), sem materiais arqueológicos, que poderá corresponder ao solo de ocupação do edifício 1.
O muro 2 (UE 11) suscita outros problemas de interpretação estratigráfica, porque preenche um in-terface de corte no pavimento 1 (UE 19), que rompe a relação directa desta estrutura com os contextos envol-ventes, nomeadamente o pavimento 1. A formação da UE 19 pode ter duas explicações: corresponde à cons-trução de uma pequena vala de fundação para o muro 2 ou tratar-se-á de uma destruição natural, através dos
Figura 4.42 – Plano geraldo edifício 1
FERRO
140
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
agentes de erosão, do pavimento junto ao muro. Ape-sar das dúvidas em relação à natureza deste interface e ao momento de construção do muro, é evidente que existe nesta fase de ocupação uma unidade arquitectó-nica entre os dois muros e o pavimento 1.
O compartimento 3 prolonga-se para SE do muro 2 e preserva ainda restos de pavimento, nomea-damente a mesma camada de preparação do pavimen-to 1 (UE 20).
Os depósitos mais antigos deste sítio foram identificados no sector oeste da sondagem, consistindo num estrato de terras castanhas e muito compactadas (UE 22), que se encontra por baixo do pavimento 1, e num depósito de terras de cor castanho-claro (UE 13), acumuladas sobre a rocha-base (UE 7). Convém referir que nestes dois depósitos não foram recolhidos materiais arqueológicos.
4.2.4.2. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
Os materiais arqueológicos são maioritariamen-te provenientes do nível de superfície e de contextos arqueológicos revolvidos157 (92,3%). Esta situação aliada à quase ausência de depósitos conservados (com a excepção das UEs 12158, 14 e 15159), suscita alguns problemas interpretativos no momento de relacionar a evolução arquitectónica deste sítio com as distintas fases de ocupação e de estabelecer a sua periodização.
O conjunto material obtido é composto sobretu-do por fragmentos cerâmicos (cerca de 96%), estando as restantes categorias artefactuais (elementos de tece-lagem, metais, indústria lítica e elementos de moagem) representadas exclusivamente no nível de superfície.
4.2.4.2.1. Recipientes cerâmicos
Dos 718 fragmentos registados, 564 são bojos e os restantes são bordos, bases, asas e bojos decorados, aos quais foi atribuído um número individual de in-ventário. Do processo de remontagem resultaram 133 vasos (NMR), tendo sido possível determinar a forma de apenas 46 recipientes.
4.2.4.2.1.1. Elementos técnicos da produçãode recipientes cerâmicos
4.2.4.2.1.1.1. Fabrico
O Fabrico 1 caracteriza-se por ser uma pasta de textura grosseira com abundantes enp’s carbonatados com tamanhos entre 1 e 3mm. Tem ainda intrusão de micas, quartzo e de chamotte. Os recipientes deste fabrico são todos de modelação manual, maioritaria-mente formas fechadas160.
As cozeduras melhor documentadas são as redu-toras com 29 exemplares, dos quais 18 tiveram arrefe-cimento em ambiente oxidante, quanto às cozeduras oxidantes estão documentados 6 recipientes. O sim-ples alisamento foi o tratamento de superfície mais utilizado observado em 25 exemplares. Para além deste 1 fragmento apresenta vestígios de aguada e 9 têm as superfícies porosas.
O Fabrico 2 tem uma textura homogénea e uma presença escassa a moderada de elementos carbonata-dos com fraca distribuição e tamanhos entre 1 e 3mm. Tem igualmente intrusões de micas e de quartzos. Este Fabrico está relacionado com a produção manual de recipientes, sobretudo de vasos com formas fechadas161.
Os dez recipientes identificados com este fabri-co tiveram cozedura redutora, e destes, dois tiveram
157 Mais concretamente das UEs 1, 2, 3 e 9.158 No caso especifico do pavimento 1 considera-se que os fragmentos cerâmicos foram recolhidos sobre aquele piso.159 No empedrado 1 recolheu-se uma tigela com o perfil completo da Forma VII das cerâmicas cinzentas e do muro 2 veio o fragmento de um pote da Forma IV da cerâmica a torno. A origem destes materiais deve ser analisada com especial prudência, porque é mais provável que sejam provenientes do depósito que cobria as duas estruturas, nomeadamente a UE 2.160 21 recipientes fechados; 8 abertos e 6 indeterminados.161 6 dos recipientes são formas fechadas e 2 são abertas.
Gráfico 11 – Distribuição do NMR por fabrico e por UE
FERRO
141
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
arrefecimento em ambiente oxidante. O processo de tratamento fi nal mais usado foi o alisamento das su-perfícies162.
O Fabrico 3 caracteriza-se pela pasta de textura grosseira com enp’s carbonatados de frequência mode-rada a abundante, distribuição na pasta elevada e ta-manhos entre 1 e 3mm. Observou-se ainda a presença ocasional de mica, quartzo, minerais negros e chamotte. Foi usado na modelação de recipientes a torno, espe-cialmente de formas fechadas163.
Doze dos recipientes tiveram cozedura redutora com arrefecimento oxidante e cinco tiveram cozedura em ambiente totalmente oxidante.
Cerca de metade dos vasos apresentam as super-fícies porosas. Apesar disso, foi possível detectar nos restantes a utilização do alisamento (em 2 exemplares) do “esfumado” (em 5 dos exemplares) e do engobe (em 2 exemplares) como técnicas de acabamento.
O Fabrico 4 é o melhor representado em todo o conjunto, com 58% da amostra total (71 recipientes). A pasta apresenta uma textura homogénea, com enp’s carbonatados de frequência escassa a moderada, de distribuição fraca a média e tamanhos entre 1 e 3mm. Observaram-se também intrusões ocasionais de mica
UE
Fragmentos Elementos Elementos Artefactos líticos Metais cerâmicos de tecelagem de moagem Percutor Denticulado Outros Artefactos Escória
Sup. 9 0 1 0 0 0 0 0
1 150 2 1 5 1 5 0 0
2 482 3 0 3 0 3 1 2
3 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0
9 26 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0
12 27 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0
15 17 0 0 0 0 0 0 0
Total 718 5 2 8 1 8 1 2
Sup. 9 0 1 0 0 0 0 0 Sup. 9 0 1 0 0 0 0 0
1 150 2 1 5 1 5 0 0 1 150 2 1 5 1 5 0 0
2 482 3 0 3 0 3 1 2 2 482 3 0 3 0 3 1 2
3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
9 26 0 0 0 0 0 0 0 9 26 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
12 27 0 0 0 0 0 0 0 12 27 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0
15 17 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0 0 0 0 0 0
Total 718 5 2 8 1 8 1 2 Total 718 5 2 8 1 8 1 2
Tabela 10 – Distribuição do número de achados por UE
162 6 recipientes com alisamento, 1 com engobo e 3 apresentam as superfícies porosas.163 11 recipientes são formas fechadas; 4 são abertas e 2 são indeterminadas.164 14 recipientes apresentam as superfícies porosas; 5 têm alisamento; 1 tem aguada e 2 são “esfumadas”.
quartzo, minerais negros e chamotte. Foi usada para a modelação de recipientes a torno.
As cozeduras redutoras são as mais representativas com 38 exemplares documentados, dos quais 25 tiveram arrefecimento em ambiente oxidante. Nos restantes 33 recipientes foi observada uma cozedura totalmente oxi-dante. Quanto ao tratamento das superfícies, e apesar de alguns164 fragmentos cerâmicos apresentarem as su-perfícies porosas, verifi cou-se que a técnica mais usada consistiu na aplicação de engobes, verifi cada em 49 reci-pientes, dos quais 19 estão brunidos.
Gráfi co 12 – Distribuição do NMR por tipo de cozedura
FERRO
142
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.2.4.2.1.1.2.2. Formas
Para além dos grupos de produção, já apresen-tados nos outros sítios arqueológicos, introduziu-se neste texto o grupo respeitante às ânforas, dada a pre-sença de alguns fragmentos de bojo com arranque de asa pertencentes a um contentor desta categoria, apa-rentemente de produção pré-romana.
4.2.4.2.1.1.2.1. Cerâmica manual
As cerâmicas manuais representam cerca de 34% da amostra, estando presentes em praticamente todos os níveis arqueológicos, com especial incidência na UE 2, onde constituem mais de 1/3 dos recipientes aí recolhidos. Este grupo é constituído somente pelos fabricos 1 e 2, embora predomine o primeiro.
Forma I – Recipiente fechado, de pequena di-mensão (10 cm de altura conservada). Tem duas pe-quenas asas de secção sub-circular que arrancam da zona de junção do bojo com o colo, o qual se encontra ausente tal como o bordo. O bojo é de tendência glo-bular e a base é alargada. O recipiente apresenta ainda 7 perfurações, com cerca de 3 mm de diâmetro, distri-buídas pelo bojo sem uma qualquer ordem aparente. Estas perfurações foram feitas pré-cozedura denotan-do uma intencionalidade especifica relacionada, por certo, com a funcionalidade do recipiente, a qual é até ao momento desconhecida.
Forma II - Grande recipiente fechado, com diâ-metro de abertura de 30 cm, de bordo invertido e perfil de tendência hemisférica.
O fragmento de vaso recolhido poderá corres-ponder à Forma I das cerâmicas manuais da Ermita de Belén165, estando presente nos níveis III e IV, com cro-nologia de pleno século III até meados do II a. C. (Ro-dríguez Díaz,1991:107,136). No sítio pré-romano de Capote, aproxima-se da Forma III-Bc com cronologia sugerida entre o século IV e o século II a.C. (Berrocal Rangel, 1994: 149-153).
Forma III - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 26 cm, com o colo ligeiramente estran-gulado e bordo de tendência vertical.
A forma III poderá corresponder à Forma II-A das cerâmicas manuais da Ermita de Belén166 , tendo sido
Gráfico 13 – Tratamento das superfícies
UE
Formas Formas IND* Totais % fechadas abertas
Sup. 2 0 0 2 1,50%
1 20 15 1 36 27,07%
2 40 39 10 89 66,92%
4 0 1 0 1 0,75%
9 0 2 1 3 2,26%
11 1 0 0 1 0,75%
15 0 0 1 1 0,75%
Totais 63 57 13 133 100,00% % 47,37% 42,86% 9,77%
Tabela 11 – Distribuição do NMR por UE
Gráfico 14 – Representação percentual das produções cerâmicas
165 “Recipiente de tamanho variável entre grande e médio, de perfil quase globular, normalmente, denominado de “olla” ou vaso de paredes reentrantes” (Rodríguez Díaz, 1991:p.41-42, fig.13). 166 “Vaso de tamanho variável de suave perfil em “S” em que a parte superior (bordo e colo) resulta mais curta relativamente à inferior, mas nem sempre se verifica esta circunstância”. A variante A “tem perfil globular ou ovóide com a particularidade de ter o bordo vertical”.
FERRO
143
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
recolhida nos níveis de ocupação datados de pleno século III até meados do II a. C. (Rodríguez Díaz, 1991:42-43, fig.13). No Altar pré romano de Capote poderá corres-ponder quer à Forma III Ab, quer à III Cb, com crono-logia entre os séculos IV e III a.C., sendo muito escassos no século II (Berrocal-Rangel,1994, p.149-153).
Forma IV - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 14 e os 28 cm, de colo médio/alto, pouco estrangulado e o bordo ligeiramente exvertido. Os dois recipientes encontrados estão decorados no bordo com impressão digitada.
As características morfológicas conservadas aproximam estes recipientes aos vasos com suave per-fil em “S” continuo da Ermita de Belén167, correspon-dendo à Forma II-B das cerâmicas manuais, onde está documentada nos níveis de ocupação datados de ple-no século III até meados do II a. C. (Rodríguez Díaz, 1991,p.42, fig.13; p.43).
De tradição do bronze final, estes vasos de bordo ligeiramente exvertido e de perfil em “S” continuo são uma forma frequente nos contextos da 2ª metade do Iº milénio a. C. aparecendo frequentemente associada a decorações digitadas, quer no bordo, quer no bojo. A sua presença está atestada em vários sítios do Alentejo a partir do século V, nomeadamente em Garvão, na necrópole da Herdade da Chaminé, Pedra d’Atalaia, Miróbriga, Segovia, Pomar I (Berrocal-Rangel, 1994:149-153) ou no Cabeço de Vaiamonte (Fabião, 1998, vol.3, est. 53).
Esta forma encontra-se também documentada no Altar pré-romano de Capote, onde são mais frequentes os recipientes sem decoração. Estes têm uma cronolo-gia em torno dos séculos IV e III a.C., embora uma mi-noria possa prolongar-se até ao século II a.C. (Berro-cal-Rangel,1994:149-153). Este tipo de recipiente está presente no oppidum de Badajoz, em níveis datados dos séculos VI-V a.C. (Berrocal-Rangel,1994:143-187), ou ainda em áreas mais setentrionais como Requena; Camino de Los Pucheros 1; Dehesa Nueva del Rey 2, Toledo (López-Astilleros, 1993:321-336); no Cas-tro de la Muralla (Alcántara), um sitio com ocupação do bronze final; Castillejo de Gutiérrez (Alcántara), com ocupação da Iª Idade do Ferro, (Martin Bra-vo,1993:243-286), denotando deste modo uma longa permanência cronológica desta forma.
Forma V - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura à volta dos 15 cm, de perfil em “S”, com o colo alto e ligeiramente estrangulado e bordo pou-co exvertido. A ligação colo/bojo é marcada por uma suave carena. Um dos vasos tem decoração impressa por matriz, localizada abaixo da carena.
Esta forma assemelha-se à Forma II C de Be-lén, onde está documentada nos níveis datados do século III–II a. C., diferenciando-se das anterio-res formas devido à presença da carena (Rodríguez Díaz,1991:42,fig. 13; 43). Em Capote, identifica-se com a Forma V Ac e “apesar de parecer apresentar uma velha tradição anterior”, está documentada nes-te sítio em níveis datados entre os séculos IV e III a. C., desaparecendo no século II a.C.168 (Berrocal--Rangel,1994:159-163).
Forma VI – Recipiente aberto de pequena di-mensão. Com diâmetro de abertura de 13 cm. O colo é direito e o bordo é ligeiramente invertido e afuni-lado. Tem uma ligeira carena na ligação com o bojo.
Forma VII – Recipiente aberto, tipo tigela de tamanho variável, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 23 cm, bordo arredondado e corpo de tendên-cia hemisférica ou de tendência ligeiramente tronco-cónica. Esta forma encontra-se presente em prati-camente todos os sítios da península, com ocupação entre os séculos V e II a.C., passando a ser progressi-vamente substituída por formas abertas, mas já mo-deladas a torno (Berrocal-Rangel,1994,p.146-148). Na Ermita de Belén, corresponde à forma VIII, do-cumentada nos níveis de ocupação datados do século III-II a.C. (Rodríguez Díaz,1991:p.43-44;fig.14), enquanto que em Capote tem correspondência na Forma II A (Berrocal-Rangel,1994,p.146-148).
4.2.4.2.1.1.2.2. Cerâmica a torno
Este conjunto representa 41% das produções cerâmicas e quantitativamente distribui-se de for-ma idêntica por recipientes abertos e por recipientes fechados de vários tamanhos. Do ponto de vista es-tratigráfico, encontra-se disperso por todos os níveis arqueológicos, com especial destaque para os depósitos de superfície. Convém ainda referir que o fabrico 4 re-presenta mais de 2/3 das produções deste grupo.
167 “ (..) a parte superior do recipiente - bordo e colo é muito curta relativamente à inferior, ainda que nem sempre se verifique esta cir-cunstância. O corpo é mais ou menos globular estreitando-se para o fundo. Este pode ser plano ou com pé saliente”.168 “ (...) é possível presumir que este tipo, carenado, é especialmente característico das povoações célticas do Guadiana, onde mostra uma certa importância que contrasta com a sua escassez, ou ausência generalizada entre as produções meridionais da península”.
FERRO
144
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Forma I – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 18 e os 21 cm, de perfil em “S”, de colo médio/alto e estrangulado, bordo exvertido.
Esta forma tem semelhanças com a Forma V do Monte da Pata e Forma II (fechada) do Castelo das Juntas, e com alguns dos chamados vasos de oferen-das de Cancho Roano, datados do século VI-V a.C. (Celestino Pérez, Jiménez Ávila,1993: p.185, fig.48). Aproxima-se, também, da Forma III das cerâmicas de cozedura oxidante da Ermita de Belén, documentada nos níveis de ocupação datados de pleno século III até meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:p.51- 58).
Forma II – Recipiente fechado, do tipo pote, com diâmetro de abertura entre os 14 e os 28 cm, de perfil em “S” continuo, de colo curto e estrangulado, bordo exvertido e corpo de tendência globular. Um dos recipientes recolhidos na UE 2 tem em toda a superfí-cie vestígios de pintura em bandas vermelhas.
Esta forma poderá ter correspondência na For-ma II-B das cerâmicas a torno toscas da Ermita de Belén, documentada no nível III e IV, com cronologias de século III – II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991: 49).
Forma III – Recipiente fechado de grande di-mensão, com diâmetro de abertura de 30 cm, o colo é ligeiramente invertido e o bordo é exvertido e enrolado.
Forma IV – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 20 e os 40 cm, com o bordo muito exvertido na continuação do colo.
Esta forma assemelha-se à Forma IV das ce-râmicas de cozedura oxidante de Belén, com vasos documentados nos níveis de ocupação datados de pleno séc. III até meados do séc. II a.C. (Rodriguez
Diaz,1991:54-55). A Forma IV poderá igualmente corresponder à Forma VI Cb das cerâmicas manuais de Capote, com cronologia do século V-IV a.C. (Ber-rocal-Rangel,1994:164-165,167;fig.58).
Forma V – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 19 e os 29 cm, corpo de tendência hemisférica, de bordo redondo e base plana.
A forma V é muito comum nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, nomeadamente na Ermita de Belén, onde corresponde à Forma X das cerâmicas de cozedura oxidante, representando cerca de 40% das produções desse grupo. Encontra-se bem documenta-da nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III até meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:57 e 59). Em Capote, corresponde à Forma X, com crono-logias em torno do século IV-III a.C. (Berrocal-Ran-gel,1994:68-171, fig. 59).
Forma VI – Recipiente aberto, com diâmetro de abertura de 27 cm, paredes direitas e espessas e bordo com ligeiro bisel externo.
Forma VII – Recipiente aberto, do tipo prato, com diâmetro de abertura de 14 cm, de corpo hemis-férico e bordo espessado internamente.
4.2.4.2.1.1.2.3. Cerâmica cinzenta
O grupo de cerâmica cinzenta é constituído maioritariamente por recipientes abertos, essencial-mente por vasos do tipo tigela, que estavam concentra-dos nas UE 1 e 2. Assim, dos 33 recipientes pertencen-tes a este grupo somente 8 correspondem a recipientes fechados.
Figura 4.43Recipiente cerâmico
recolhido in situ na UE 15 (Forma I das Cerâmicas Manuais)
FERRO
145
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Neste conjunto, as cerâmicas cinzentas apresen-tam alguma variação quanto aos tipos de acabamen-to final, notando-se a utilização de, pelo menos, duas técnicas diferenciadas: a aplicação de engobes, que por vezes estão brunidos e o “esfumado”, que em regra ge-ral está associado aos recipientes produzidos com as pastas mais grosseiras.
Estas duas técnicas têm o objectivo de dar à peça um aspecto cuidado e cinzento escuro. Esta caracte-rística é de real importância, se tivermos em conta que as superfícies avermelhadas prevalecem devido às cozeduras em ambiente oxidante ou em ambiente redutor, com arrefecimento oxidante, denotando uma intencionalidade na produção desse aspecto enegreci-do. De facto, são poucos os vasos que tiveram cozedura totalmente redutora, encontrando-se apenas sete nessa circunstância.
Forma I – Recipiente fechado de grande di-mensão, com diâmetro de abertura de 33 cm, de colo invertido e bordo com ligeiro bisel interno. O vaso re-colhido tem decoração incisa, com caneluras na zona do colo.
Forma II – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 20 e os 25 cm, de perfil em “S”, de colo curto e estrangulado e bordo exvertido. Alguns exemplares têm um pequeno ressalto na ligação do colo com o bojo.
Esta forma tem paralelos na Ermita de Belén, onde se aproxima da Forma III das cerâmicas cinzen-tas, com representação nos níveis datados dos séculos III-II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:61-64).
Forma III – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 15 cm, colo alto e estrangulado e bordo em aba descaída.
Tem algumas semelhanças com a Forma I das cerâmicas cinzentas de Belén, com representação nos níveis datados dos séculos III-II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:61-64).
Forma IV – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 21 cm, de colo médio/alto e estrangula-do e com bordo exvertido.
Idêntica à Forma I das cerâmicas a torno, e tal como a anterior, poderá aproximar-se da Forma I das cerâmicas cinzentas de Belén, com variação no tipo de bordo e no tamanho do vaso. Esta encontra-se do-cumentada nos níveis datados dos séculos III-II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:p.61-64).
Forma V - Recipiente aberto, com 30 cm de diâmetro de abertura, de colo direito, bordo em aba e corpo carenado na ligação do colo com o bojo, o qual apresenta um perfil de tendência hemisférica. A base tem um pé em “bolacha” e é muito pequena relati-vamente à peça, provocando uma sensação de dese-quilíbrio. As superficies têm engobe cinzento escuro brunido.
Forma VI – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 13 e os 20 cm, de bordo direito e corpo de tendência hemisférica.
Trata-se de uma forma muito frequente nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, designada-mente, na Ermita de Belén, onde está referida como forma IV, expressando quase 50% das cerâmicas a torno cinzentas. Encontra-se bem documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:62 e 65).
Forma VII – Recipiente, do tipo tigela, com 25 cm de diâmetro de abertura, de bordo invertido e cor-po de tendência hemisférica.
A forma VII é semelhante a algumas tigelas de cerâmica cinzenta de Belén, presentes no nível III, com cronologia de pleno século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991:125,fig.67).
Forma VIII – Recipiente do tipo tigela, de ta-manho variável e com diâmetro de abertura entre os 12 e os 30 cm. O bordo apresenta um ligeiro espessa-mento e o corpo tem tendência hemisférica.
Tal como as duas anteriores, a Forma VIII está presente no conjunto de cerâmicas cinzentas de Bé-len, constituindo uma variante da Forma IV daquele sítio.
4.2.4.2.1.1.2.4. Ânfora
Foram recolhidos nos estratos superficiais di-versos fragmentos de ânfora que aparentam ser do mesmo contentor. Alguns fragmentos correspondem à parte do bojo com arranque de asa de secção sub--circular. O tipo de pasta assemelha-se às produções da Bética169 conhecidas para o período romano, no entanto a secção sub circular da asa aliada à circuns-tância do fragmento em questão corresponder ao arranque superior desta, supõe antes uma forma de contentor produzido em período pré-romano, dado que a parte superior das asas de secção sub-circular de
169 Pasta homogénea de cor laranja amarelada clara, com engobe amarelado na superfície externa. Contém inclusões moderadas de carbo-natos e ocasionais de quartzo e micas.
FERRO
146
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
contentores romanos têm o arranque no colo já muito próximo do bordo ou mesmo pegado a este.
Dado que não possuímos outros elementos mais esclarecedores, torna-se difícil atribuir uma for-ma para este contentor.
4.2.4.2.1.2. Decoração
As decorações estão praticamente ausentes deste conjunto, dado que somente doze dos 133 recipientes cerâmicos se encontram decorados. A gramática deco-rativa varia entre a incisão por linhas e por caneluras, a impressão por digitação e por matriz e a pintura em bandas.
Em relação à sua distribuição estratigráfica, ape-nas um dos vasos é proveniente da UE 1, enquanto que os restantes foram recolhidos na UE 2.
Os motivos impressos são talvez os que apre-sentam um maior arcaísmo particularmente no caso das digitações, como já anteriormente se verificou nos materiais provenientes dos Serros Verdes 4 e Monte das Candeias 3.
4.2.4.2.1.3. Distribuição estratigráfica
Da UE 1 são provenientes 36 vasos, dos quais foi possível reconstituir graficamente quinze exemplares. Deste conjunto, catorze puderam ser agrupados nas tabelas de formas, estando presentes as formas I, II, V e VII das cerâmicas comuns modeladas a torno e as formas II, III, IV, VI e VIII das cerâmicas cinzentas.
Quanto à UE 2, dos 89 recipientes recuperados só puderam ser representados graficamente 40 ele-mentos e, destes, 30 têm somente reconstituição par-cial do perfil. Das cerâmicas manuais apenas a Forma
Gráfico 15 – Distribuição dos tipos de decoração
Figura 4.44 – Formas de recipientes cerâmicos
VII não está representada; relativamente às cerâmicas comuns de modelação ao torno estão presentes todas as formas. Por fim, no que respeita às cerâmicas cin-zentas de modelação ao torno, encontramos as Formas I, V, VI, VII e VIII.
Na UE 9, foram recolhidos três vasos, um da Forma VIII das cerâmicas cinzentas (Fabrico 4), outro
Manual Torno Cinzentas Forma UE NMR Forma UE NMR Forma UE NMR
I 15 1 I 1 2 I 2 1 II 2 1 2 1 II 1 3 III 2 1 II 1 1 III 1 1 IV 2 2 2 2 IV 1;2 1 V 2 2 III 2 1 V 2 1 VI 2 1 IV 2 2 VI 1 1 VII 2 3 V 1 1 2 1 2 3 VII 2;4 1 VI 2 1 VIII 1 4 VII 1 1 2 5 9 1
Tabela 12 – Distribuição do NMR por tipo de produção e por forma
Figura 4.45 – Fragmentos cerâmicos decorados
de cerâmica a torno, talvez uma tigela com o mesmo tipo de fabrico do ante-rior e um terceiro vaso manual, de forma indeterminada, do Fabrico 1.
4.2.4.2.2. Elementos de tecelagem Ana Jorge
O conjunto da Estrela 1 consiste em cinco cossoiros e é particularmente heterogéneo em termos morfológicos, distinguindo-se quatro tipos: discói-
de, esférico, bitroncocónico e biconvexo. Apresentam topo ligeiramente côncavo ou plano e perfuração bi-cónica ou cónica com 5mm de diâmetro máximo. O único exemplar esférico é de pequenas dimensões (26x23mm), com perfuração cilíndrica central.
Quanto ao exemplar biconvexo, corresponde à variante K1+K3 do tipo ‘esferóide’ de Berrocal-Rangel (1992:120) e à variante de transição bicónico de cones iguais/bulboso de Ponte (1978) e Silva (1989).
Por fim, o cossoiro bitroncocónico de cones desi-guais apresenta duas características únicas dentro des-te conjunto: a perfuração incompleta e o fabrico com recurso a molde.
Nenhum dos exemplares da Estrela 1 apresenta decoração. Apesar do mau estado de conservação das superfícies, um dos cossoiro preserva ainda vestígios de um engobe de cor avermelhada, provavelmente brunido.
No que diz respeito às pastas, a análise macroscó-pica revela alguma heterogeneidade. Embora as pastas sejam sempre ricas em quartzo, e os feldspatos sejam abundantes, as micas variam entre muito abundantes, finas a grosseiras, e pouco abundantes, muito finas. As pastas são compactas, predominantemente granulosas, variando entre grosseiras e muito grosseiras, devido à abundância de elementos não plásticos de granulome-tria média (entre 1 e 3mm).
Figura 4.46 – Recipientes cerâmicos de formas abertas
FERRO
149
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
As condições de cozedura das pastas são também heterogéneas, predominando as cozeduras redutoras sobre as oxidantes (apenas 1 em 5) e as irregulares so-bre as homogéneas. É possível que a irregularidade de cozedura se deva não à ausência de controlo do proces-so, mas sim à forma de acondicionamento dos cossoi-ros no interior dos fornos. A pequena dimensão destas peças torna-as particularmente aptas para serem co-locadas no interior de contentores ou nos interstícios entre peças de maiores dimensões, onde as condições atmosféricas são difíceis de controlar.
O predomínio de cozeduras redutoras e irregu-lares caracteriza os conjuntos de Capote (Berrocal--Rangel 1994:215). Embora associada a cozeduras maioritariamente oxidantes, a irregularidade dos tons das pastas dos cossoiros foi também documentada em Sanfins, Castro de S. António e Castro de Moldes (Silva 1989:100,104).
A diversidade ao nível da morfologia, peso e di-mensão dos cossoiros sugere uma produção não stan-dardizada destas peças na Estrela 1, à semelhança do que acontece noutros povoados desta cronologia (Silva 1989). As diferenças de peso e dimensão dos cossoiros (nomeadamente dentro do mesmo tipo) poderão resul-tar, pelo menos em certa medida, da modelagem manual.
Dado o número restrito de peças recuperadas da Estrela 1, não é possível avaliar se a esta diversi-dade corresponde a algum padrão de produção dos cossoiros. Além disso, a ausência de informação es-tratigráfica precisa para os contextos de proveniên-cia destes materiais (recolhidos em unidades revol-vidas) não permite formular questões de natureza cronológico-cultural para a diversidade morfológica identificada.
4.2.4.2.3. Elementos de moagemAna Jorge
Relativamente aos elementos de moagem, fo-ram recolhidos apenas dois fragmentos de dormente de mó manual, um em granito, com forma elipsoidal, secções plano-convexas e extremidades aparentemente picotadas, e o outro em grauvaque, com forma sub-rec-tangular e secções plano-côncavas. Ambos apresentam utilização unifacial e picotado apagado.
4.2.4.2.4. Outros materiais líticosAna Jorge
No sítio da Estrela 1, foram recolhidos oito per-cutores, dos quais quatro (três em quartzito e um em
grauvaque, cuja extremidade de ‘preensão’ foi afeiçoada por talhe) correspondem à utilização de seixos de rio. Estes apresentam formas alongadas (ovóide, irregular ou sub-rectangular), com dimensões que variam entre 15,2cm e 14cm de comprimento máximo, 12,3cm e 7,4cm de largura máxima, e 7,3cm e 5,9cm de espes-sura máxima. Os restantes exemplares caracterizam--se por formas esféricas e diâmetros que variam entre 7,9cm e 6,4cm.
Dignos de menção são ainda seis seixos de rio em quartzito, três dos quais recolhidos na sondagem 2. Embora não apresentem sinais de uso, a sua recolha justifica-se, dado que a presença na área de escavação terá sido resultado de transporte de origem antrópica. A estes acresce um elemento de classificação indeter-minada, i.e. uma ‘placa’ (de matéria-prima indetermina-da) rectangular, muito regular (11,6cmx7,5cmx1,3cm), a qual apresenta um polimento integral e todas as arestas boleadas de forma homogénea. Apesar da re-gularidade da sua forma, é muito provável que seja de origem natural.
Refira-se ainda a recolha de um peso de rede para pesca sobre seixo rolado em quartzito, de tama-nho pequeno (6cmx3,8cm), tendencialmente alongado fino, com dois entalhes, ambos bifaciais, um em cada bordo.
4.2.4.2.5. MetaisAna Jorge
Contrariamente aos sitios do Monte da Pata e do Castelo das Juntas, na Estrela 1 não foi identificado nenhum vestígio de ferro. Contudo, recolheu-se um pingo de fundição de chumbo, uma escória (de chum-bo?) e um fragmento de artefacto de classificação in-determinada.
4.2.4.3. Considerações finaisSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
Os trabalhos arqueológicos realizados no habi-tat da Estrela 1 revelaram os vestígios de um primeiro edífício constituído por, pelo menos, dois comparti-mentos, que numa segunda fase de ocupação terá sido reformulado, dando lugar a uma construção com mais um compartimento (edífício 2).
A grande panóplia de recipientes cerâmicos, a par de elementos como os cossoiros, os elementos de moagem, os percutores ou o peso de rede, parecem corresponder ao conjunto de materiais associados à vivência doméstica de um pequeno povoado. Mas, à
FERRO
150
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
semelhança dos demais conjuntos materiais, também neste local, a nossa amostra encontra-se muito con-dicionada pela elevada concentração de materiais ar-queológicos nos contextos de superfície, que se encon-tram revolvidos.
O conjunto obtido, cujos paralelos morfológicos vieram a situá-lo em torno dos séculos III-II a.C., está essencialmente relacionado com a remodelação arqui-tectónica do edífício principal e com segunda fase de ocupação, estando praticamente ausentes os materiais arqueológicos representativos da fase mais antiga.
As cerâmicas da Estrela 1, como nos restantes povoados coevos, são maioritariamente a torno (66%), e conjuntamente com as manuais (34%) são revelado-ras de um certo equilíbrio formal, atavismo de formas de longa duração associadas às escassas técnicas deco-rativas observadas (cerca de 8% - decoração impressa e incisa sobre produções manuais e a torno). Assim, parece existir uma aparente coesão a nível tecnológico, quer no aprovisionamento das pastas, quer nas coze-duras e acabamentos, que contribui para lhe aferir uma escala de produção, de distribuição e de consumo emi-nentemente local/regional.
As cerâmicas manuais (Fabricos 1 e 2) assentam, como normalmente, em potes e panelas (Formas II-V), para além de algumas tigelas (Formas VI-VII). Destaca-se ainda deste conjunto, a relativa variabilida-de de formas consideradas e a presença do recipiente da Forma I, da modelação manual. Nas cerâmicas tor-neadas, já com maior equilíbrio entre formas abertas e fechadas, a grande concentração (41%) incide sobre as cerâmicas comuns (Fabrico 4 e 3), de novo essencial-mente composta por potes e panelas (Formas I-IV), sendo as formas abertas caracterizadas, sobretudo, por tigelas (Formas V-VII).
As cerâmicas cinzentas, em cujos acabamentos se distingue a aplicação de engobes e o uso da técni-ca de esfumado, estão presentes, sobretudo, em tigelas (Formas V-VIII), mas igualmente em potes e panelas (Formas I-IV).
O registo da presença de ânforas, resulta tão só como uma escassa e débil indicação dado pertencer a meros bojos e asa de tipologias pré-romanas.
4.2.5. Monte da Pata 1João Albergaria
O sítio do Monte da Pata 1 foi descoberto no decorrer da primeira fase de prospecções arqueológicas realizadas no âmbito do EIA do Empreendimento do Alqueva (Silva, 1986:19), tendo sido classificado como habitat da Idade do Ferro170 e proposto para a reali-zação de trabalhos arqueológicos, por estar à cota dos 150 m (EDIA,1996:162).
Este habitat está implantado na extremidade de um interflúvio de topo aplanado, inclinado para su-doeste, com vertentes de declive relativamente acen-tuado, sendo sobranceiro à confluência de duas ribei-ras (que delimitam a noroeste e a sudeste o referido interflúvio) numa única linha de água, que é afluente da Ribeira do Zebro, subsidiária directa do Guadiana.
A intervenção arqueológica consistiu numa son-dagem arqueológica, com uma área total de 60m2, lo-calizada na área com maior concentração de materiais de construção dispersos à superfície.
4.2.5.1. Interpretação estratigráficados contextos arqueológicos
Os trabalhos começaram com a remoção da UE 1, que consistia num depósito com claros sinais de revolvimentos provocados pela lavoura, no qual se
170 «Elevação em esporão, na confluência de duas linhas de água que formam um afluente da Ribeiro do Zébro. À superficie do terreno numerosos fragmentos de cerâmica, por vezes de grandes dimensões, atribuíveis à II Idade do Ferro (asa anelar de ânfora ibero-púnica, bordos extrovertidos e revirados; fusíola)» (EDIA, 1996: 164).
Figura 4.48 – Implantação do Monte da Pata 1
FERRO
151
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
recolheu uma grande quantidade de materiais arqueo-lógicos (cerca de 25% da amostra total).
A UE 1 cobria, na metade sul da área escavada, um aglomerado desordenado de pedras (UE 2), entre as quais surgiram treze fragmentos cerâmicos de bojo, que deve estar associado ao revolvimento e à destrui-ção parcial do empedrado 1.
4.2.5.1.1. Fase de ocupação 4
A última fase de ocupação caracteriza-se essen-cialmente pela construção e utilização de um forno, si-tuado no sector noroeste da sondagem, e pelo nível de abandono dos ambientes associados àquela estrutura.
O forno encostava ao paramento sul do muro
Figura 4.49 – Faseamentodo Monte da Pata
1, reaproveitando o sector sudoeste do edifício 2, e era formado por dois alinhamentos de blocos de quartzo (UE 17 e UE 21), que serviam de paredes, e por uma laje de xisto disposta verticalmente e asso-ciada a um montículo de argila (UE 27), que podia constituir o arranque da cobertura do forno (Valera et al, 1998:24).
O seu interior (com cerca de 1m de comprimen-to e 85 cm de largura) encontrava-se pavimentado com fragmentos de grandes recipientes do tipo dolium, fragmentos de imbrices e fragmentos de um recipiente tipo alguidar (UE 20). O pavimento tinha uma secção convexa, estando ligeiramente inclinado no sentido SE, de encontro a uma pequena abertura existente en-tre as duas paredes do forno (muros 8 e 9).
FERRO
152
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
O forno encontrava-se coberto por uma camada de argilas (UE 16), que integrava pequenos blocos de quartzo e fragmentos de lajes xisto, e que pode ser o resultado da derrocada da cobertura do forno (Valera et al, 1998:24). Encostada à estrutura do forno, detec-tou-se uma mancha de terras mais argilosas (UE 26), de cor castanho-alaranjado que poderá ser igualmente correlacionada com a ruína do forno.
Se na UE 16 foram recolhidos poucos materiais arqueológicos (quatro fragmentos cerâmicos, um deles decorado), na UE 26 o número de fragmentos obtidos aumentou para 22 fragmentos.
Todo este conjunto encontrava-se coberto por dois depósitos (UE 3a e UE 4), ambos relacionados com o abandono da área onde foi construído o forno. O contexto mais antigo (UE 3a) formou-se entre o paramento oeste do muro 10 (UE 18) e o limite da es-cavação, tendo sido parcialmente sobreposto pela UE 4, que se acumulou entre os muros 1, 2 e 10.
Como os contextos identificados no sector SO da sondagem não foram integralmente escavados (UEs 3a, 4 e 26), não é possível perceber o verdadei-ro impacto da construção do forno sobre as ocupações mais antigas, nem compreender o estado de conserva-ção do edifício 2 antes deste espaço ter sido reocupado. Da mesma forma, com os dados disponíveis, também não é possível estabelecer uma relação funcional do forno com os ambientes circundantes.
4.2.5.1.2. Fase de ocupação 3
A observação da sequência estratigráfica das es-truturas arquitectónicas suscitou a divisão desta fase em dois momentos construtivos. No mais recente, a construção do muro 3 (UE 8) demonstra a existência de uma remodelação arquitectónica no espaço situado a este do edifício 2, cuja finalidade não se consegue compreender, devido à reduzida área escavada, nem
Figura 4.50 – Plano final da 4ª Fase de Ocupação
FERRO
153
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
tão pouco é possível articular a sua disposição com a arquitectura do edifício.
O muro 3 não só se sobrepõe a um lajeado de xis-to, criando dois novos ambientes, como rompe a dis-posição ortogonal do edifício pré-existente, dado que a estrutura agora descrita tem uma orientação NO-SE, enquanto as outras paredes se encontram orientados segundo os eixos S-N e O-E.
A reorganização e a utilização desta área não deve ter ocorrido muito tempo depois da ocupação principal deste sítio, dado que o depósito que encos-tava ao muro 3 era o mesmo que cobria as estruturas erguidas no momento anterior (UE 3). Este contexto consistia numa camada de terras muito compactadas, de coloração acinzentada e ligeiramente mais areno-sas que a UE 1, que pode ter servido como solo de ocupação, como testemunham os vários fragmentos cerâmicos in situ, a grande quantidade e diversidade de materiais arqueológicos recolhidos (cerca de 63% da amostra total).
Com a remoção integral da UE 3, foi possível observar um conjunto de estruturas arquitectónicas e de espaços associados ao edifício 2. Face à área esca-vada e aos contextos identificados coloca-se a hipótese deste edifício ser formado por três compartimentos e por um grande lajeado situado a este. No entanto, se não existem grandes dúvidas em relação à constituição do compartimento 1, a definição dos outros já é bas-tante mais problemática.
O muro 1 (UE 6) apresenta uma orientação oes-te-sudeste e constitui o principal elemento estruturan-te do edifício 2. Encostado ao canto NE deste muro,
foi construído o compartimento 1, que apresenta uma planta rectangular, disposta de forma perpendicular ao muro 1.
A interpretação dos contextos observados no lado norte é ligeiramente mais complexa, dado que este limite é formado pelo empedrado 3 (UE 19), que aparenta ser encostado pelo muro 10 (UE 32). De facto, a ocorrência de perturbações pós-deposicio-nais (trabalhos agrícolas) e a reduzida área escavada impede-nos de saber se o empedrado é posterior ou contemporâneo da utilização daquele compartimen-to, bem como, de compreender a organização espacial destas estruturas.
O compartimento 1 estava preenchido pela UE 5171, correspondente ao nível de abandono deste am-biente. Neste depósito, recolheram-se cerca de meia centena de fragmentos cerâmicos, destacando-se as cerâmicas cinzentas (formas III e IV), que podem ser datadas do séc. III a.C..
No espaço situado a oeste do compartimento 1, foi identificado um aglomerado de pedras (UE 30), envolvidas por terras cinzentas e arenosas (UE 31), que continham sete fragmentos cerâmicos. Estas duas unidades podem estar relacionados com o derrube de uma estrutura arquitectónica sobre o nível de abando-no de outro possível compartimento.
O canto SE do muro 1 é encostado pelo muro 2 (UE 7). A presença desta unidade sugere assim a existência de um compartimento a sul da estrutura principal, cujos contornos não foram identificados, porque os seus limites prolongam-se para fora da área escavada e por o próprio muro estar cortado a sul.
A Este do compartimento 1, existe um espaço relativamente amplo, que se caracteriza pela presença de um grande lajeado de xisto (UE 12 e UE 22).
4.2.5.1.3. Fase de ocupação 2
No canto SE da sondagem, identificaram-se os vestígios de um nível de ocupação mais antigo, carac-terizado pela existência de três empedrados (UE 13, UE 23 e UE 25) e de um depósito (UE 15), que não têm qualquer tipo de relação estratigráfica com o edi-fício 2.
A Este do muro 2 identificou-se o empedrado 1 (UE 13), constituído por pedras de quartzo cuidado-samente organizadas numa estrutura de tendência cir-
171 Depósito de terras argilosas, de cor castanho-alaranjada.
Figura 4.51 – Vista geral do forno
FERRO
154
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.52 – Plano geral da 3ª Fase de Ocupação
Figura 4.53 – Vista geral do muro 3 e do lajeado de xisto Figura 4.54 – Pormenor de recipiente cerâmico in situ
FERRO
155
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
cular. No sentido sul, este empedrado encosta a outro aglomerado de pedras (UE 23), que parece ter algumas características semelhantes ao empedrado 1 e que se estende para fora da sondagem, impossibilitando a de-finição da sua planta.
A este dos empedrados 1 e 2, foi descoberto ou-tro aglomerado de pedras de quartzo (UE 25), que tem uma organização diferente das outras estruturas devi-do à sua planta alongada. A NO é ligeiramente sobre-
Figura 4.55 – Recipientes cerâmicos recolhidos na UE 5 (nº34 e nº69) e na UE 31 (nº186)
Figura 4.56 – Plano geral da 2ª Fase de Ocupação
posta pelo pavimento 2 (UE 12) e a SE surge limitado pelo pavimento 3 (UE 22).
O espaço entre estas estruturas era preenchido por uma camada de terras mais escuras, designada por UE 15, que forneceu apenas três fragmentos cerâmicos incaracterísticos. Este depósito foi identificado numa área muito reduzida e não foi integralmente escavado, embora se sobrepunha aos empedrados 2 e 4 (UE 23 e UE 25 respectivamente).
FERRO
156
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.57 – Pormenor dos empedrados 1 e 2
Figura 4.58 – Plano geral da 1ª Fase de Ocupação
4.2.5.1.4. Fase de ocupação 1
A fase mais antiga foi sumariamente identifica-da, quando se aprofundaram, três áreas específicas na sondagem. Junto ao muro 2, removeu-se uma parte da UE 3a e detectou-se um depósito de terras arenosas (UE 14), sem materiais arqueológicos, que incorporava pedras muito pequenas.
A UE 14 encostava no segmento de um pequeno muro (muro 7), que surgiu pela primeira vez após a remoção da UE 3a. O muro estava cortado a sul, en-quanto a norte estava sobreposto pelo empedrado 1.
Ao comparar-se o tipo de construção usado no muro 7 com aquele que foi utilizado no muro 1, verifi-ca-se que são muito diferentes e que podem pertencer a edifícios distintos, sendo o muro 7 o único vestígio de uma construção erguida na primeira fase de ocupa-ção (edifício 1).
No canto definido pelo muro 1 e pelo muro 4, re-tirou-se a UE 15 e definiu-se um aglomerado de pedras sem qualquer tipo de estruturação aparente (UE 29), cujo processo de formação não é possível compreender e no qual não se recolheram materiais arqueológicos.
4.2.5.2. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
A distribuição dos materiais arqueológicos no Monte da Pata revela que a larga maioria se concentra nos contextos de superfície (cerca de 23,5% do conjunto total foi recolhida no topo do terreno e nas UEs 1 e 2) e nos depósitos com alguns sinais de revolvimento, como é o caso da UE 3 (cerca de 63% do conjunto total).
O conjunto de materiais arqueológicos propor-cionado nesta intervenção é formado, sobretudo por fragmentos de recipientes cerâmicos, atribuíveis a vá-rios períodos cronológicos.
Neste espólio destacam-se ainda os elementos de tecelagem (2 na UE 3; 1 na UE 5) e os artefactos metálicos (4 na UE 4 e 1 na UE 5) e a presença de duas lascas de quartzito (1 na UE 1 e 1 na UE 3), uma cortical, com dois pequenos levantamentos, e outra parcialmente cortical, produzidas sobre seixo de rio 172.
No âmbito do estudo arqueométrico realizado com os fragmentos cerâmicos da Pata 1, selecciona-ram-se 16 amostras, oriundas essencialmente da UE 3 (15 exemplares) e da UE 5 (1 exemplar).
172 Por exemplo, a lasca cortical foi produzida sobre a extremidade de um seixo de rio previamente utilizado como percutor, como com-provam os estriamentos concêntricos na sua extremidade proximal (cortical). Coloca-se, assim, a questão da intencionalidade da debitagem.
FERRO
157
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 13 – Distribuição por UE de fragmentos cerâmicos e de construção
UE
Fragmentos Elementos Cerâmica
cerâmicos de tecelagem
de construção (imbrices)
Sup. 20 0 0
1 388 0 0
2 13 0 0
3 960 2 1
4 16 0 2
5 60 1 0
6 1 0 0
11 18 0 0
13 8 0 0
15 3 0 0
16 4 0 0
26 22 0 0
31 7
Total 1520 3 3
4.2.5.2.1. Recipientes cerâmicos
A cerâmica constitui mais de 99 % dos materiais recolhidos durante a única campanha de escavação. Assim, dos 1520 fragmentos recuperados, 1338 per-tencem a bojos de diversos recipientes, enquanto que os restantes correspondem a bordos, bases, asas e bojos decorados aos quais foi atribuído um número de in-ventário.
Após o processo de remontagem, o NMR perfez 167 exemplares, tendo sido possível reconstituir a for-ma e as dimensões de 48 recipientes e o perfil integral de quatro.
4.2.5.2.1.1. Elementos técnicos da produçãode recipientes cerâmicos
4.2.5.2.1.1.1. Fabricos
O Fabrico 1 é uma pasta de textura grosseira, com abundantes enp’s carbonatados, de distribuição
média-elevada e de tamanho entre 1 e 3mm (alguns entre 3 e 5mm). Tem ainda intrusão de micas (1mm) e quartzo ocasional (entre 1 e 3 mm). Todos os reci-pientes deste fabrico foram modelados manualmente, maioritariamente, formas fechadas173.
As cozeduras melhor documentadas são as redutoras com 30 exemplares, dos quais 22 tiveram arrefecimento em ambiente oxidante, quanto às co-zeduras oxidantes estão documentados 7 recipientes. O tratamento das superfícies mais utilizado foi o ali-samento174.
A pasta do Fabrico 2, tal como a anterior foi uti-lizada na modelação manual de recipientes de forma fechada175. Caracteriza-se pela textura homogénea, com a presença de elementos não plásticos carbona-tados, de frequência moderada, e distribuição na pasta fraca a média, de tamanhos entre 1 e 3 mm. Observou--se igualmente a presença ocasional de micas e quart-zos de dimensões inferiores a 1 mm.
No tratamento das superfícies foram utilizados o alisamento (em 8 exemplares) e a aplicação de engobes
173 18 recipientes fechados; 1 aberto e 18 de forma indeterminada.174 22 recipientes com alisamento, 3 com engobo e 12 apresentam superficies porosas.175 7 recipientes são fechados e 5 são de forma indeterminada.
FERRO
158
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
(em 4 unidades). As cozeduras são todas redutoras, no entanto, dos 12 recipientes com este fabrico, 4 tiveram arrefecimento em ambiente oxidante.
Ao Fabrico 3 estão relacionadas cerâmicas mo-deladas a torno e apenas formas abertas (duas tigelas), com pastas bem depuradas, de textura densa, reduzin-do-se a presença de elementos não plásticos a vestígios de micas de reduzida dimensão (< 1 mm).
As cozeduras são redutoras e o tratamento das superfícies é cuidado, caracterizando-se pela aplicação de um engobe cinzento escuro, por vezes brunido.
O Fabrico 4 é o mais representativo do conjun-to176 e engloba cerâmicas modeladas a torno. A pasta apresenta uma textura homogénea, com escassos ele-mentos não plásticos, essencialmente constituídos por carbonatos de dimensões entre 1 e 3 mm, de mica, quartzo e óxidos de ferro ocasionais.
Observaram-se cozeduras redutoras em 47 reci-pientes, dos quais 36 tiveram arrefecimento em am-biente oxidante. Os restantes 24 vasos produzidos com este fabrico são de cozedura totalmente oxidante. Os acabamentos mais utilizados foram o alisamento e a aplicação de engobes, por vezes brunidos177. Com este fabrico produziu-se, igualmente um fragmento de asa
com a secção em fita o qual se encontra totalmente coberto com vidrado de cor esverdeada.
O Fabrico 5 é igualmente constituído por cerâ-micas modeladas a torno, com pasta de textura homo-génea e presença moderada de elementos não plásti-cos, essencialmente micas (com dimensões < 1 mm) e vestígios de carbonatos e quartzo.
Estão presentes os três tipos de cozedura que temos vindo a enunciar, com especial destaque para as cozedu-ras em ambiente redutor178. Os tratamentos de superfícies utilizados foram o alisamento e a aplicação de engobes.
Com esta pasta foram produzidas indistinta-mente formas abertas e fechadas179.
A pasta do Fabrico 6 caracteriza-se por ter tex-tura grosseira e ter sido utilizada para produção de recipientes ao torno. Tem abundantes enp’s carbonata-dos com dimensões entre 1 e 3 mm, associados a micas e quartzo ocasionais.
A cozedura mais frequente é a redutora com ar-refecimento oxidante, muito embora as cozeduras em ambiente totalmente redutor ou totalmente oxidante, esta última pouco representativa, também estejam pre-sentes180. O alisamento foi a técnica de acabamento mais usada181.
176 Este fabrico encontra-se representado por 71 exemplares, dos quais 31 são formas fechadas e 18 são indeterminadas.177 33 recipientes foram alisados e 31 apresentam engobes, dos quais 8 são brunidos.178 Observou-se a cozedura redutora em 5 recipientes e a oxidante em 3. 1 dos exemplares teve cozedura redutora com arrefecimento oxidante. 179 Dos 8 exemplares com este fabrico, 4 são formas abertas, outros 4 são fechadas e 1 é indeterminada.180 Apenas 2 exemplares tiveram cozedura em ambiente oxidante os restantes 30 tiveram cozedura redutora, e destes 21 tiveram arrefeci-mento em ambiente oxidante.181 22 recipientes foram alisados, 3 têm engobes e 7 apresentam as superficies porosas.
Gráfico 16Distribuição
do NMR por fabrico
e por UE
FERRO
159
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Com esta pasta produziram-se, maioritariamen-te, formas fechadas182.
Por fi m, o Fabrico 7 representado por 8 exem-plares, todos formas fechada, consiste numa pasta grosseira utilizada para recipientes de produção a tor-
no. Caracteriza-se por ter abundantes enp’s de quartzo, de tamanho entre 1 e 3mm (alguns com 5mm), com uma distribuição na pasta fraca a média. Tem igual-mente micas e chamotte de distribuição moderada e tamanhos inferiores a 1 mm.
Os recipientes identifi cados com este fabrico foram todos cozidos em ambiente oxidante e o ali-samento foi a única técnica utilizada no acabamento fi nal das peças.
4.2.5.2.1.1.2.1. Cerâmica manual
As cerâmicas manuais constituem cerca de 29 % do conjunto, estando presentes em quase todos os es-tratos, com particular incidência na UE 3, onde repre-sentam mais de 1/3 dos recipientes recolhidos nesse depósito.
Gráfi co 17 – Distribuição percentual do NMR por tipo de cozedura
Gráfi co 18 – Tratamento de superfícies
UE
Recipentes Recipientes Vaso IND Totais %
fechados abertos suporte Sup. 5 0 0 0 5 2,99% 1 21 1 0 8 30 17,96% 2 1 0 0 0 1 0,60% 3 38 18 0 42 98 58,08% 3a 5 4 0 7 16 9,58% 4 0 1 0 0 1 0,60% 5 3 4 1 1 9 5,99% 15 1 0 0 1 2 1,20% 16 1 0 0 0 1 0,60% 21 0 1 0 2 3 1,80% 26 0 0 0 1 1 0,60% Total 75 29 1 62 167 % 44,91% 17,37% 0,60% 37,13% 100,00%
Sup. 5 0 0 0 5 2,99% 1 21 1 0 8 30 17,96% 2 1 0 0 0 1 0,60%
Recipentes Recipientes Vaso Recipentes Recipientes Vaso fechados abertos suporte fechados abertos suporteSup. 5 0 0 0 5 2,99%
1 21 1 0 8 30 17,96% 2 1 0 0 0 1 0,60%
Gráfi co 19 – Representação percentual das produções cerâmicas
Tabela 14 – Distribuição do NMR por UE
182 Apenas 1 dos exemplares é uma forma aberta. 13 são formas fechadas e 18 são indeterminadas.
FERRO
160
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Forma I - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 14 e os 31 cm, de colo médio/alto, ligeiramente estrangulado e bordo pouco exvertido.
Apesar do bojo e da base estarem ausentes em qualquer um dos recipientes, esta forma poderá ser se-melhante aos vasos “com suave perfil em “S”, em que a parte superior do recipiente (bordo e colo) é muito curta relativamente à inferior, ainda que nem sempre se verifique esta circunstância.
O corpo do vaso é mais ou menos globular, es-treitando-se para o fundo, que pode ser plano ou com “pé saliente” (Rodríguez Díaz, 1991:42-43, fig.13). Esta forma corresponde à da Forma II das cerâmicas manuais da Ermita de Belén, onde está documentada nos níveis de ocupação datados de pleno século III até meados do II a.C. (idem, ibidem).
De tradição do Bronze Final e frequente nos contextos da 2ª metade do Iº milénio a. C., este tipo de vaso aparece frequentemente associado a decorações digitadas, quer no bordo, quer no bojo. No entanto, são mais frequentes as formas lisas, como se verifica no Al-tar de Capote, onde surgem em contextos datados dos séculos IV e III a.C., sendo já escassos nos niveis da-tados do século II (Berrocal-Rangel, 1994:149-153).
Forma II - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 14 e os 26 cm, perfil em “S” conti-nuo, com o colo curto e estrangulado, bordo exvertido e bojo de tendência globular.
O recipiente encontrado na UE 5 tem o perfil praticamente todo reconstituído, sendo por isso mais fácil de estabelecer paralelos. Tal como a forma ante-rior, é frequente em vários sítios do Alentejo e pro-víncia de Badajoz, entre os quais a Ermita de Belén, onde parece corresponder à variante B da Forma II das cerâmicas manuais, com a mesma cronologia da forma anteriormente enunciada (Rodríguez Díaz, 1991:42-43, fig.13).
Para além dos paralelos já descritos, podem-se observar vasos semelhantes também na necrópole de El Raso (Ávila), provenientes de sepulturas datadas entre o século V e III a.C. (Fernández Gómez, 1997).
Forma III – Recipiente fechado, tipo pote, de bordo ligeiramente exvertido. Tem a particularidade de ter uma asa diametral ou de “cesta” de secção sub--circular, que arranca do bordo pelo lado interno do recipiente. O fragmento é muito pequeno pelo que foi impossível reconstituir totalmente a forma do vaso, bem como, o diâmetro de abertura.
Este tipo de elemento de suspensão está nor-malmente associado a formas fechadas de perfil em “S” contínuo na transição bordo-bojo de base plana e
aparecem, quer em produções manuais, quer a torno.À semelhança do Monte das Candeias 3 e Mon-
te do Judeu 6, os paralelos encontrados para este tipo de elementos enquadram-se entre os séculos VI e meados do II a. C., denotando a longa sobrevivência desta forma.
Forma IV - Recipiente aberto, com diâmetro de abertura de cerca de 26 cm, e com ligeira tendência globular no corpo.
Esta forma poderá corresponder à Forma VII das cerâmicas manuais da Ermita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991:43-44,fig.14), com representação no nível III, e com cronologia de século III- II a.C. (idem, p. 112). No Altar de Capote, aproxima-se quer da Forma II variante D, quer da Forma III variante A sub va-riante b, com cronologias que não ultrapassam o século II a. C. (Berrocal-Rangel, 1994:147;149).
4.2.5.2.1.1.2.2. Cerâmica a torno
Este conjunto é o melhor representado da amos-tra, constituindo mais de 60% das produções. Mor-fologicamente, predominam os recipientes fechados (tipo potes ou panelas) de diversos tamanhos.
Forma I – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 10 e os 15 cm, de colo curto e es-trangulado, bordo ligeiramente exvertido e espessado externamente.
Forma II – Recipiente fechado, com cerca de 16 cm de diâmetro de abertura, de colo médio/alto, bordo exvertido e afunilado.
Esta forma costuma estar presente entre as cerâ-micas cinzentas, designadamente no nível III da Er-mita de Belén (Rodríguez Díaz, 1991: p.63/130), mui-to embora no Monte da Pata tenha sido identificada apenas nas cerâmicas comuns a torno.
Forma III - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 16 cm e os 20 cm, de colo curto e estrangulado, bordo oblíquo relativamente ao bojo, e corpo de tendência periforme.
Forma IV - Grande recipiente fechado, cujo diâmetro de abertura se situa entre os 19 cm e os 25 cm, de colo alto e estrangulado, bordo exvertido ligei-ramente enrolado e bojo de tendência globular. Um dos exemplares tem duas asas de secção com depressão longitudinal.
Forma V - Recipiente fechado, do tipo “urna”, de perfil em “S” continuo, com diâmetro de abertura de 18 cm, de colo médio/alto e estrangulado, bordo exver-tido e bojo de tendência oval. A base é côncava. A al-tura total do recipiente é de aproximadamente 34 cm.
FERRO
161
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
É um tipo de vaso normalmente designado como “urna”, muito habitual em contextos da Idade do Ferro, particularmente, a partir do século V a.C.. Embora de tamanho significativamente inferior, tem semelhanças morfológicas com alguns dos denomi-nados vasos de oferendas e recipientes anfóricos de Cancho Roano, com cronologia em torno do século V (Celestino Pérez, Jiménez Ávila,1993: 184;185). Aproxima-se igualmente da Forma III das cerâmicas de cozedura oxidante da Ermita de Belén, documen-tada no nível III e IV, com cronologias de século ple-no século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991: 55).
Forma VI – Recipiente fechado de perfil em “S” continuo, com diâmetro de abertura de 14 cm, de bor-do redondo e exvertido, colo médio/alto estrangulado e corpo de tendência globular.
Esta forma poderá ter correspondência na For-ma II-B das cerâmicas a torno toscas da Ermita de Belén, documentada no nível III e IV, com cronologias de século III – II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991: 49)
Forma VII – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 28 cm, cor-po de tendência hemisférica, bordo redondo ou com um ligeiro espessamento.
A forma VII é muito comum nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, nomeadamente, na Ermita de Belén onde representa cerca de 40% das produções das cerâmicas a torno de cozedura oxidante (Forma X), estando bem documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III meados do II a.C. (Rodriguez Diaz,1991: 56).
4.2.5.2.1.1.2.3. Cerâmica cinzenta
O conjunto das cerâmicas cinzentas é composto maioritariamente por formas abertas, de vários fabri-cos e cozeduras, cuja característica comum é o facto de terem engobe cinzento escuro, por vezes brunido. Regra geral são utilizadas pastas mais depuradas para produzir estas cerâmicas e os acabamentos são tam-bém mais cuidados.
Figura 4.59 – Formas de recipientes cerâmicos
FERRO
162
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Forma I - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 10 cm, de colo direito e bordo de secção triangular.
Forma II - Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 20 cm, de colo curto e estrangulado, bordo exvertido e ligeiramente espessado exteriormente.
Apesar da dimensão reduzida do nosso exemplar, parece ter alguma semelhança com a Forma I, das ce-râmicas cinzentas da Ermita de Belén, onde se encon-tra no nível IV, com cronologia de pleno século III até inicio do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:62-64).
Forma III - Vaso de suporte183 decorado com ca-neluras paralelas distribuídas por toda a parede externa do vaso.
Forma IV - Recipiente aberto e carenado, com 34 cm de diâmetro de abertura, bordo exvertido de secção triangular e colo invertido. A carena situa-se na ligação do colo com a parede do vaso.
Forma V - Recipiente aberto e carenado, com 20 cm de diâmetro de abertura, bordo exvertido e redon-do, colo direito. A carena situa-se na ligação do colo com a parede do vaso. O único recipiente identificado apresenta decoração canelada no colo.
Forma VI - Recipiente aberto, do tipo prato, proveniente da UE 3, com 27 cm de diâmetro de aber-tura, e bordo ligeiramente espessado.
Forma VII – Recipiente aberto, do tipo tigela184, com diâmetro de abertura entre os 21 e os 29 cm, com o corpo de tendência hemisférica e bordo invertido.
É uma forma presente em Belén, no nível III com cronologia de pleno século III até meados do II a. C. (Rodriguez Diaz, 1991, p. 125).
Forma VIII – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 18 e os 23 cm. Tem o bordo exvertido o corpo de tendência hemisférica e pé em “bolacha”.
A forma VIII é uma das mais frequentes nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, designada-mente, na Ermita de Belén, onde representa quase 50% das cerâmicas a torno cinzentas (Forma IV) e se integra nos níveis III e IV, com cronologias de ple-no século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991: 62).
4.2.5.2.1.1.3. Decoração
Os recipientes decorados foram recolhidos em praticamente todas as UEs, embora representem ape-nas 9% do conjunto. Assim, de um universo formado por 167 recipientes, apenas quinze apresentam ele-mentos decorativos, mais concretamente a incisão por linhas e por caneluras.
Quatro dos fragmentos decorados são de produ-ção manual, e deste conjunto três pertencem a reci-pientes fechados, enquanto que um tem a forma in-determinada185. Os restantes onze são de produção a torno, dos quais seis pertencem a formas fechadas, três a formas abertas, a um vaso de suporte e o último é de forma indeterminada186.
183 Com 17 cm de diâmetro de abertura de topo, 18 cm de diâmetro de abertura de base e 14,6 cm no estrangulamento máximo. Tem 12, 3 cm de altura.184 Os 2 recipientes recolhidos na UE 5 apresentam pastas bem depuradas e superfícies bem cuidadas.185 2 do fabrico 1 e 2 do fabrico 2.186 2 do fabrico 1; 2 do fabrico 2; 1 do fabrico 7; 7 do fabrico 4; 3 do fabrico 6.
Figura 4.60 – Cerâmica decorada
FERRO
163
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Manual Torno Cinzentas Forma UE NMR Forma UE NMR Forma UE NMR
I 3 3 I 3 3 I 3a 1
II 1 1 3a 1 II 3 1
5 1 II 3 2 III 5 1
III 3 1 III 1 1 IV 3 1
IV 31 1 3 1 V 3 1
IV 1 2 VI 3 1
3 1 VII 3 1
V 3 1 5 2
VI 3 1 VIII 3 4
VII 3 7
3a 1
5 1
Tabela 15 – Distribuição do NMR por tipo de produção e por forma
Figura 4.61 – Recipientes cerâmicos (UE 1)
4.2.5.2.1.2. Distribuição estratigráfica
Da UE 1 são provenientes trinta vasos, dos quais dezassete foram reconstituídos graficamente. Deste conjunto, apenas quatro podem ser agrupados nas ta-belas de formas identificadas neste sítio, estando pre-
sentes a Forma II das cerâmicas manuais e as Formas III e IV das cerâmicas ao torno.
Para além destes, são igualmente provenientes da UE 1, fragmentos de três recipientes de produção a torno, dos quais se conservaram os bordos direitos (de secção triangular com diâmetros de abertura que oscilam entre os 8 e os 12 cm) e uma pequena parte do colo que parece tender para a verticalidade supondo a existência de um gargalo. Estas características indi-ciam que estes vasos poderão corresponder a recipien-tes tipo jarro ou “garrafa” de período romano. Mor-fologicamente são idênticos à Forma I das cerâmicas cinzentas, observando-se algumas afinidades no tipo de bordo.
4.2.5.2.1.2.1. Fase de ocupação 4
Os depósitos correspondentes a esta fase de ocu-pação estão associados ao abandono e destruição de um forno doméstico, cujo pavimento interior (UE 20) era constituído por fragmentos de tegulae e de dollium.
Embora não seja possível datar com precisão o momento de construção e de utilização desta estrutu-ra, supõe-se que tenha funcionado durante o período romano, como demonstra o fragmento de bojo de um grande recipiente de armazenagem tipo dollium, com decoração incisa recolhido na UE 16.
A UE 3a é o único depósito com materiais da-táveis que pode estar relacionado com o abandono do
FERRO
164
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.62 – Recipientes cerâmicos romanos
(UE 1 e UE 3)
forno. Nesta unidade foram recolhidos fragmentos ce-râmicos correspondentes a dezasseis vasos, dos quais apenas sete tiveram reconstituição gráfica. Deste con-junto, existem três bases representativas de formas com difícil definição, enquanto que as restantes pertencem a um recipiente de cronologia romana, a dois vasos de cerâmica a torno com as Formas I e VII e outro vaso com a Forma I das cerâmicas cinzentas.
4.2.5.2.1.2.2. Fase de ocupação 3
Foram recolhidos, na UE 3, fragmentos relativos a pelo menos 98 recipientes, dos quais somente 56 per-mitiram uma categorização geral em formas abertas e formas fechadas.
Na UE 3, estão documentadas praticamente to-das as formas identificadas no conjunto, com especial relevo para as tigelas modeladas a torno (com 35% do total), de corpo de tendência hemisférica e bordo re-dondo ou com um ligeiro espessamento interno e base
Figura 4.63 – Recipientes cerâmicos (UE 3a)
FERRO
166
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
187 Sete integram o grupo da cerâmica comum a torno e cinco pertencem ao conjunto das cerâmicas cinzentas. Foram todas produzidas com a pasta do Fabrico 4, excepto uma que foi produzida com a pasta do Fabrico 5.188 Recipiente aberto do tipo alguidar, com 34 cm de diâmetro de abertura, de paredes exvertidas e rectas de bordo de secção rectangu-lar e fundo plano. Tem decoração no bordo. Está representada apenas por um exemplar da UE 3 (fabrico 4) e de cozedura redutora com arrefecimento oxidante. É uma forma cujos paralelos são de difícil aferição, dado que morfologicamente poderá corresponder à Forma III da cerâmica a torno tosca da Ermida de Belén (Rodriguez Diaz, 1991:.17), presente no nível IV, com cronologia de pleno século III a meados do II a.C. (idem, fig.86, 1039). No entanto, a decoração serpenteante existente no bordo é muito frequente neste tipo de recipientes durante a época romana. De facto, em S. Cucufate a Forma VB/3 (Alguidares) aproxima-se bastante, quer a nível morfológico, quer decorativo, deste exemplar. Aí esta forma, que aparece documentada desde meados do século II d.C. é considerada típica do século V. (Pinto, 1999:353-354). No entanto, estamos perante uma forma de longa diacronia de produção/utilização, chegando mesmo até ao período medieval. Será preci-samente em contextos do século XIII- XIV que iremos encontrar novamente paralelos morfológicos para este vaso, mais exactamente no conjunto proveniente da Rua do Castelo, 4 em Palmela (Fernandes, Carvalho, 1995: 93, 2).189 Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 8 e os 14 cm, de colo direito e bordo de secção triangular. Esta morfologia está também presente nas cerâmicas cinzentas de modelação ao torno com a Forma I. Este recipiente está documentado nas UE’ s 1, 3 e 3a, tendo-se apenas conservado os bordos e uma pequena parte do colo, que parece tender para a verticalidade, fazendo supor a existência de um gargalo. Estas características indiciam que os vasos poderão corresponder a um recipiente tipo jarro ou “garrafa”, idênticos a alguns exemplares de época romana.
com pé187 (Forma VII). Os restantes materiais prove-nientes deste estrato apontam, à semelhança das tige-las, para cronologias à volta dos séculos III – II a.C.,
No entanto, verificam-se nesta camada algu-mas intrusões de materiais porventura mais tardios, nomeadamente, o recipiente do tipo alguidar188, cujos paralelos são difíceis de estabelecer, mas que poderão ir para cronologias romanas ou, mesmo, medievais; fragmentos de paredes de recipientes tipo dollium; um recipiente tipo jarro ou garrafa189; e uma base com bojo de um recipiente fechado, cujo perfil se aproxima mui-to de outros provenientes de contextos romanos, onde aparece como uma forma de cerâmica comum de cozi-nha (Beltrán, 1989: 203).
Em S. Cucufate, este tipo de bases encontra-se associado a formas fechadas, particularmente, “tachos e panelas, mas também poderá ser de um pote, bilha ou jarro” (Pinto, 1999:592, fig.597) e encontra-se presen-te em todos os horizontes definidos para o sítio com maior incidência nos horizontes 3 (meados do século II d. C. até meados do IV) e 4 (meados do século IV), pelo que tem uma longa diacronia de produção/utili-zação, que vai desde a segunda metade do século I d. C. até meados do século V d. C. (idem:156).
As intrusões registadas neste estrato não são de modo algum representativas do restante conjunto e devem resultar do arrastamento de terras e materiais durante os trabalhos agrícolas contemporâneos. Do mesmo modo se explica que a UE 3a tenha materiais mais antigos a par de um conjunto de recipientes de cerâmicas comuns e cinzentas de cariz francamente romano.
Fazem ainda parte desta fase as UEs 5 e 31, nas quais foram recolhidos materiais coerentes com a cro-
nologia estabelecida para a maioria dos recipientes recolhidos na UE 3, se forem excluídos os materiais mais tardios.
Na UE 5, está documentada a Forma II das ce-râmicas manuais, a Forma VII da cerâmica a torno e as Formas III e VII das cerâmicas cinzentas, todas elas com uma cronologia em torno do século III a.C..
Quanto à UE 31 o panorama é um pouco di-ferente, uma vez que dos três recipientes registados, apenas se conseguiu determinar a forma de um reci-piente (Cerâmica manual – Forma IV), que tem uma cronologia à volta do século III a. C..
4.2.5.2.1.2.3. Fases de ocupação 2 e 1
Nos depósitos relacionados com as primeiras fases de ocupação, recolheram-se somente bojos ou pequenos fragmentos de bordos e de bases, cuja re-constituição não foi possível obter, e que não permitem datações.
4.2.5.2.2.2. Elementos de tecelagemAna Jorge
Embora todos os habitats escavados no âmbito do Bloco 9 tenham fornecido cossoiros, o único peso de tear recolhido provem do Monte da Pata 1. Trata-se de um exemplar quase completo, de forma paralele-pipédica, com 61mm de largura e 36mm de espessu-ra. Apresenta uma perfuração bicónica (com cerca de 15mm de diâmetro máximo) sensivelmente ao centro de uma das extremidades. A pasta é altamente micá-cea, muito fina e muito homogénea, de consistência friável e textura muito xistosa.
FERRO
167
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Ao nível da pasta, o peso de tear distingue-se claramente dos dois cossoiros, cujas pastas se carac-terizam pela fraca presença de micas macroscópicas.
Morfologicamente, estes cossoiros enquadram--se em dois tipos diferentes: um é discóide, com topo côncavo e perfuração cilíndrica, e o outro é bicónico achatado. Este exemplar caracteriza-se por ter paredes convexas e secção sub-romboidal, topo ligeiramente convexo e perfuração cilíndrica. Ambas as peças apa-rentam ter sido produzidos manualmente.
A distribuição espacial dos materiais arqueoló-gicos revela que o cossoiro bicónico surge associado a um vaso de suporte quase inteiro, um grande recipien-te fragmentado in situ, e um fragmento de artefacto metálico, num contexto de abandono (UE 5) circuns-crito ao interior do compartimento 1, o qual não foi, contudo, integralmente escavado.
Tanto o peso de tear como o cossoiro discóide foram recolhidos num outro depósito muito rico em materiais arqueológicos (UE3), que ocupava a quase totalidade da área de escavação e que foi interpretado como um solo de ocupação da mesma fase do anterior.
A inespecificidade e longa diacronia de produ-ção/utilização destes materiais arqueológicos não per-mite avançar novos dados ao enquadramento crono-lógico-cultural dos contextos escavados no Monte da Pata.
4.2.5.2.2.3. MetaisAna Jorge
O Monte da Pata forneceu artefactos metálicos, predominantemente em ferro (cinco exemplares), mas também em bronze (uma peça). Infelizmente, o mau estado de conservação e o elevado grau de fragmen-tação dos objectos impediram, na maioria dos casos, a sua classificação. Deste conjunto, foi apenas possível identificar um prego e uma tacha.
No que respeita ao fragmento de ‘lâmina’ de bronze, não deverá excluir-se a possibilidade de cor-responder a um fragmento de objecto de adorno, em-bora não haja argumentos que permitam optar por esta hipótese em detrimento de outras.
Refira-se ainda a aparente concentração dos ob-jectos em ferro junto ao limite noroeste da área inter-vencionada, na qual se localiza o forno romano e onde as perturbações da última fase de ocupação tiveram maior expressão.
4.2.5.3. Considerações finaisSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
Na intervenção arqueológica feita no Monte da Pata 1 identificaram-se os vestígios de quatro fases de ocupação. Se conhecemos muito pouco sobre as duas fases mais antigas, já em relação às mais recentes, a in-terpretação estratigráfica contribuiu para caracterizar uma fase relacionada com a utilização do edificio 2, datada em torno dos séculos III-II a.C., e uma últi-ma fase de ocupação associada à remodelação daquela construção, que pode ter ocorrido depois do século II d.C, ou então, já no período medieval.
Se a observação macroscópica indiciaria já uma escassa variabilidade, atestada, por exemplo, no tipo de cozeduras (essencialmente redutoras com arrefeci-mento oxidante) ou nos acabamentos (sobretudo ali-samentos), os resultados obtidos no estudo de arqueo-metria vieram confirmar a componente claramente local/regional da produção cerâmica, que está agrupa-da em dois grupos de pastas transversais às diversas categorias consideradas, como as cerâmicas comuns a torno ou as cerâmicas cinzentas.
A cultura material deste povoado é composta por uma clara componente de cerâmica a torno (69%) sobre a produção manual (29%), esta última expressa em 4 formas (Fabrico 1 e 2) representadas por potes
UE NºINV Metal Tipologia Descrição Morfológica Dimensões mm
Comp. Larg. Esp.
3 27 ferro indet. ________ ___ ___ ___
3 102 ferro indet. extremidade de artefacto de estrutura laminar
rectangular e secção rectangular ___ 19 14
3 147 ferro prego frag. secção quadrangular 15 ___ 9,5
3 148 ferro tacha secção triangular e cabeça circular achatada 11 7 3
5 50 bronze indet. lâmina de forma ligeiramente triangular 40 10 3
Tabela 16 – Tabela descritiva dos artefactos metálicos
FERRO
168
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.65 – Metais do Monte da Pata
e panelas (Formas I-III), formas fechadas que pre-valecem no conjunto do sítio, e um recipiente aberto (Forma IV). Também aqui, a existência de uma asa de cesta (Forma III), confirma a existência de permanên-cias morfológicas e técnicas nas produções cerâmicas, igualmente observável nos perfis em “S” contínuo na transição bordo/bojo, ou nas escassas gramáticas de-corativas patentes na totalidade do conjunto (9%), in-cisões por linhas/traços e caneluras quer sobre produ-ções manuais ou a torno.
Na cerâmica de roda, a primeira categoria con-siste na cerâmica comum, nomeadamente potes e
panelas (Formas I-VI) e tigelas (Forma VII). Na ce-râmica cinzenta, as formas assentam sobretudo em recipientes abertos, como tigelas (Formas VII-VIII), algumas carenadas (Formas IV-V), ou pratos (Forma VI), havendo ainda alguns potes (Formas I-II); deste conjunto formal destaca-se um vaso-suporte, decorado com caneluras (Forma IV).
Todo o conjunto recolhido evidencia, assim, um âmbito doméstico, associado a formas cerâmicas mais vocacionadas para o consumo, como as cinzentas, ou na sua generalidade marcadas por uma multifunciona-lidade de usos possíveis.
FERRO
169
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.3. Castelo das JuntasJoão Albergaria
190 “Não longe da Herdade das Antas e das Antinhas, levanta-se sobre uns outeiros chamados Castelos, que, segundo me informa o Dr. Nuno Limpo Pereira de Lacerda, ainda conservam muralhas e vestígios de construções circulares” (Lima, 1988:60).191 “Extensa elevação que cai a pique sobre a Ribeira do Alcarrache, provida de espessa muralha guarnecida por duas torres (diâmetro de 4 m) localizadas nas zonas mais franqueáveis, a este e oeste (EDIA, 1996:155).192 Na sondagem 1 distinguiram-se três fases de ocupação, na sondagem 2 apenas uma, na sondagem 3 estabeleceram-se três fases e, por fim, na sondagem 4 identificaram-se duas fases.
Figura 4.66 – Vista do Castelo das Juntas, a partir da Aldeia da Luz
Os trabalhos arqueológicos realizados no sítio do Castelo das Juntas confirmaram a existência de um povoado fortificado de médias dimensões, ocupado durante o último terço do primeiro milénio.
As primeiras referências ao povoado das Juntas não são muito exactas, dado que Fragoso de Lima re-fere este sítio com outro nome (Castelos da Estrela) e com outra localização geográfica (Lima, 1988). Esta disparidade pode ser justificada pelo facto daquele investigador não se ter deslocado ao terreno e de ter confiado nas descrições de um amigo caçador190. Desta forma, não se tendo verificado a existência de um sítio arqueológico no local indicado por Fragoso de Lima, adoptou-se a localização e a designação atribuída pela EDIA (EDIA, 1996).
No âmbito dos primeiros trabalhos de prospecções arqueológicas na área do regolfo da Barragem do Alque-va, Carlos Tavares da Silva localizou o Castelo das Juntas e anotou a existência de dois torreões e de materiais ar-queológicos do período republicano (Silva, 1986).
Posteriormente, no âmbito da minimização de um projecto florestal, foi demarcada uma área de pro-tecção neste sítio, com uma largura de 10 a 50 metros, a
partir da muralha (Arnaud, Bugalhão, Almeida, 1990). A opção tomada revelou-se essencial para o excelente estado de conservação desta fortificação e para evitar a sua completa destruição, durante as surribas realizadas para a plantação de uma vasta área de eucaliptal.
Por fim, como será afectado pelo regolfo do Al-queva, o sítio das Juntas acabou por ser enquadrado no Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento do Alqueva (EDIA, 1996) e classificado como povoa-do da Idade do Ferro191.
A superfície do povoado encontrava-se inicial-mente coberta por densa vegetação (esteva), sendo quase impossível penetrar no meio do matagal e ob-servar o topo do terreno. Somente depois de todo o mato ter sido cortado é que se percebeu a topografia do cabeço, se identificou toda a extensão da linha de muralha e foram localizados os dois citados torreões circulares (Silva, 1986). Apesar das intensas prospec-ções arqueológicas realizadas no interior do recinto fortificado e da limpeza prévia da vegetação existente na camada de superfície das sondagens, recolheram-se poucos materiais arqueológicos e não se detectaram mais estruturas arquitectónicas.
Os trabalhos arqueológicos decorreram em qua-tro sondagens. Na sondagem 1, para além da muralha identificou-se uma entrada, orientada a norte, vestígios de dois edifícios (edifício 2 e 6) e, no interior do re-cinto, delimitou-se um possível torreão, de planta sub--rectangular.
A sondagem 2 caracteriza-se pela presença do edifício 3, provavelmente de natureza habitacional; na sondagem 3, definiu-se o eixo longitudinal da uma pos-sível estrutura de armazenagem, tradicionalmente de-signada como celeiro (edifício 4), bem como se detec-taram alguns muros pertencentes aos edifícios 5 e 11.
Na sondagem 4, identificou-se mais um troço da muralha formado por dois segmentos distintos. No exterior da cerca, descobriram-se os vestígios de dois edifícios, tendo um deles uma planta circular, enquan-to no interior da fortificação se detectou um compar-timento do edifício 7.
O faseamento dos sectores intervencionados192
baseia-se essencialmente na leitura das relações estra-tigráficas das estruturas arquitectónicas e na interpre-
FERRO
170
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
tação da disposição espacial dos edifícios, dado que a ausência de depósitos arqueológicos, com vestígios materiais, associados às fases de ocupação mais an-tigas, condiciona a periodização da ocupação deste povoado.
A cultura material que caracteriza este sítio é maioritariamente de cariz indígena, como testemu-nham os recipientes de cerâmica comum e o graffiti encontrado num dos contentores, mas existe uma pe-quena percentagem de materiais relacionados já com o mundo romano (cerca de 6% do conjunto total), como a cerâmica campaniense, as moedas, as lucernas ou os elementos de funda encontrados.
4.3.1. Interpretação dos contextos arqueológicos
Na sondagem 1, a intervenção arqueológica foi realizada em duas campanhas. Assim, em 1999, esca-vou-se um rectângulo com 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. No ano seguinte, alargou-se a área de trabalho (mais 46 m2) e removeram-se quase todos os contextos entretanto identificados.
Figura 4.67 – Localização das sondagens arqueológicas e Implantação topográfica do sítio
Figura 4.68 – Vista parcial do edifício 3
A escolha do local para a implantação da pri-meira sondagem deveu-se à existência de um grande talude ao longo do segmento inferior do povoado das Juntas, que se prolonga para as vertentes oeste e sul do cabeço, e à necessidade de intervir numa zona afectada pelo regolfo da Barragem do Alqueva. Desta forma, a área de trabalho foi situada exactamente na junção do
FERRO
171
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
eixo longitudinal do talude (sentido este/oeste) com o eixo central do povoado (sentido norte/sul).
A sondagem 2193 foi implantada no segmento in-ferior da vertente Norte do povoado, no sentido de se intervir no principal eixo transversal do povoado (sen-tido norte/sul), em conjunto com as sondagens 1 e 3, e numa zona próxima da cota de enchimento do regolfo.
No topo do cabeço, foi implantado inicialmen-te um rectângulo com 10 metros de comprimento e 4 metros de largura (sondagem 3), cuja a área foi depois alargada, em 2000, durante a segunda campanha de es-cavações. Na extremidade sul e ligeiramente deslocada no sentido leste, delimitou-se uma nova zona de traba-lho com 15m2 (rectângulo com 3 m de comprimento e 5 m de largura) e escavou-se um pequeno triângulo no corte leste, de forma a observar-se todo paramento oeste do muro 12.
Apesar da Sondagem 3 estar situada numa cota superior ao limite máximo do regolfo do Alqueva, optou-se por intervir neste sector do povoado para cumprir os seguintes objectivos: obter uma estratigra-fia vertical que permitisse caracterizar a evolução da ocupação naquela que seria a zona central do recinto e confrontar os contextos arqueológicos identificados na sondagem 3 com os contextos detectados nas restantes sondagens e fazer a respectiva leitura da estratigrafia horizontal.
A sondagem 4 consistiu numa área de escavação, com 40 m2 (10 m de comprimento e 4 m de largura), localizada a meio da vertente oeste do povoado, pró-
xima de um dos eventuais torreões da fortificação e sobre o talude da muralha.
A intervenção neste sector deveu-se, essencial-mente, à observação de uma ligeira depressão no topo do talude194, que sugeria a existência de uma entrada, ao nosso interesse em comparar os dados obtidos com a informação recolhida nas sondagens 1, 2 e 3 e à ne-cessidade de escavar junto da cota de enchimento do regolfo.
4.3.1.1. Sondagem 1
Na interpretação do registo arqueológico distin-guiram-se três fases de ocupação: a fase mais antiga é caracterizada sobretudo pela construção da muralha (edifício 1) e dos muros 23 (UE 233) e 26 (UE 239); a segunda fase corresponde ao reforço da muralha, que consistiu no estrangulamento da entrada norte e no surgimento do torreão 1 (UE 12), e à construção do edifício 2, que encosta àquelas estruturas; a última fase está associada à construção do edifício 6 e ao abandono geral deste sector do povoado.
Deste faseamento, destaca-se o facto de uma boa parte dos materiais arqueológicos ser oriunda de con-textos associados à ruína e ao abandono deste sector do povoado (cerca de 29%), de contextos de lixeira ou de solos de ocupação, onde se misturam materiais de vários locais e cronologias (cerca de 53,7% do conjunto total), contribuindo forçosamente para que o nosso co-nhecimento sobre a diacronia ocorrida nas Juntas es-
RESOLUÇÃO
Figura 4.69 – Sondagem 1 antes do início dos trabalhosarqueológicos
Figura 4.70 – Sondagem 4 antes do início dos trabalhosarqueológicos
193 A sondagem consistia inicialmente num rectângulo com 10 metros de comprimento e 4 metros de largura, que foi posteriormente alargado em mais 42m2.194 Neste local, o talude tem aproximadamente dois metros de altura e um declive com cerca de 45º.
FERRO
172
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.71 – Faseamento da ocupação
teja condicionado pelos materiais representativos dos últimos momentos de ocupação.
O nível de superfície era constituído por uma complexa sequência de depósitos195, que se formaram devido à acumulação natural de terras, por intermédio da acção dos agentes de erosão, e à sua mistura com materiais de construção provenientes do derrube de algumas paredes.
Deste conjunto, salientam-se as UEs 1 e 2. Este destaque é justificado pela presença de rasgos de ara-do na UE 1, que demonstram a prática de trabalhos agrícolas neste cabeço, e pela existência de uma gran-de quantidade de lajes de xisto e pequenos blocos de quartzo leitoso, que prenunciavam o derrube externo da muralha (UE 2).
Nos depósitos do nível de superfície, recolheu-se apenas 7,3% do conjunto de materiais arqueológicos. Esta situação comprova que os contextos arqueológi-cos escavados encontravam-se em excelente estado de preservação, ao contrário do que se verificou em sítios
como a Estrela 1 ou os Serros Verdes 4, onde a maioria dos materiais foi recolhida no nível de superfície (cerca de 92% na Estrela e cerca de 72%, na sondagem 1, dos Serros Verdes).
4.3.1.1.1. Fase de ocupação 3
A terceira fase caracteriza-se essencialmente pela intensa utilização do espaço interior do recinto amura-lhado, que terá começado com a construção do edifício 6, prosseguiu com a reformulação arquitectónica da entrada e culminou com a ruína de todos os edifícios.
Numa escala de análise menos redutora, a se-quência cronológica dos contextos arqueológicos registados foi dividida nos seguintes momentos: 1) construção do edifício 6; 2) formação de uma lixei-ra no exterior da muralha e no interior da entrada; 3) abandono dos edifícios 2 e 6, bem como, de quase to-dos os ambientes encostados à muralha e ao torreão; 4) constituição de um solo de ocupação (UE 218) e
195 UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, UE 5, UE 8, UE 120, UE 125, UE 127, UE 166, UE 178, UE 292 e UE 293.
FERRO
173
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 1 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelos depósitos de superfície
última remodelação arquitectónica da entrada norte; 5) ruína de todos os edifícios.
Face à área intervencionada e ao registo estra-tigráfico efectuado, sabe-se que o nível de destruição terminou com a derradeira queda das paredes do edifí-cio 6. Assim, no lado sul da sondagem, identificaram--se dois depósitos (UE 173 e UE 174196) que devem estar associados ao derrube de uma parede situada fora dos limites da área escavada.
A UE 174 e a UE 173 foram removidas, por esta ordem, e por baixo da UE 173 detectou-se um plano formado por vários depósitos: UEs 195, 196, 201, 202 e 206. As UEs 201 e 202 foram encontradas junto ao canto sudeste da sondagem e tinham praticamente as mesmas características197. O seu processo de formação aparenta ser o resultado da acumulação de materiais de construção e da sua mistura com uma grande quan-tidade de fragmentos cerâmicos e com sedimentos transportados pelos agentes de erosão.
A presença dos fragmentos cerâmicos na UE 201 (cerca de 9% do conjunto total da sondagem), pode ser explicada pelo contacto desta unidade com a UE 218, que também continha um elevado núme-
ro de materiais arqueológicos, e pelo arrastamento natural de materiais oriundos de outros depósitos localizados em pontos mais elevados da vertente norte.
A UE 201 encostava na UE 195, que estava si-tuada junto aos cortes sul e oeste da sondagem, sendo constituída por sedimentos avermelhados, que envol-viam uma grande quantidade de cascalho de xisto e algumas lajes de xisto com médias dimensões.
A orientação geral dos sedimentos da UE 195, das lajes de xisto e do cascalho (direcção norte-sul, com inclinação de cerca de 30º), sugere que este desmoro-namento possa também ter sido proveniente de uma parede situada mais a sul, numa área não escavada. Já a hipótese desta unidade ter tido origem nos muros 21 ou 24 deve ser excluída, porque o alinhamento dos elementos pétreos do derrube era perpendiculares à orientação daqueles muros.
Quando a UE 195 foi escavada, identificou-se uma grande massa de argilas, de cor cinzento-escuro, misturadas com terra avermelhada (UE 206), que deve corresponder ao esboroamento do muro 22.
Ao remover-se a UE 206, ficou definido um pe-queno espaço sub-rectangular, limitado pelos muros 20 (UE 219), 21 (UE 220), 22 (UE 222) e pelo cor-te sul da sondagem. Dada a dimensão reduzida deste ambiente e o mau estado de conservação dos muros 20 e 22, não é possível saber se corresponde a mais um compartimento do edifício 6, nem determinar com precisão o seu momento de utilização198.
Com a escavação integral da UE 206, ficaram à vista no canto sudoeste, as UEs 212 e 196. Se não exis-tem dúvidas em associar a UE 212 ao derrube de uma parede, a UE 196 é formada a partir da acumulação natural de sedimentos (transportados pelos agentes de erosão) e intervala as unidades relacionadas com a queda abrupta da muralha e os contextos associados à destruição do edifício 6.
Depois da UE 196 ter sido retirada, verificou-se que a UE 11 se prolongava por quase todo o sector
UE Fragmentos cerâmicos Artefactos metálicos
1 17 1
2 51 0
3 2 0
4 1 0
8 49 0
120 3 0
166 2 0
178 5 0
Total 130 1
196 A UE 174 era formada por uma grande quantidade de cascalho de xisto, disperso de forma horizontal. A UE 173 formava uma grande massa de terras que estava disposta de forma irregular, que acompanhava a ligeira inclinação da vertente norte (ângulo com cerca de 25º) e que envolvia uma grande quantidade de cascalho de xisto e alguns blocos de xisto. Nestes dois depósitos foram recolhidos alguns materiais arqueológicos, dos quais se destaca um recipiente cerâmico praticamente completo. A sua presença no topo dos derrubes do edificio 6, não deixa de ser interessante, mas não pode ser explicada sem alargamento da área de escavada e sem identificação dos contextos anexos ao compartimento 8.197 Eram ambas formadas por terras de textura granulosa e por uma grande quantidade de pedras com pequenas dimensões. Os sedimen-tos destas UEs encontram-se dispostos de forma praticamente horizontal, sendo os seus interfaces de contacto com outros contextos relativamente difusos.198 No interior deste espaço, identificou-se outro depósito que pode estar relacionado com a queda dos muros 21 e 22, nomeadamente a UE 221.
FERRO
174
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
oeste da sondagem, ocupando uma área que vai desde a muralha até quase ao limite sul da escavação. A sua formação está relacionada com o derrube da muralha para o interior do povoado, dado que era formada por uma grande quantidade de materiais de construção, apresentava uma ligeira inclinação (cerca de 15º) no sentido norte-sul, que acompanhava a orientação geral do derrube, e cobria outro segmento de muralha der-rubado, formado pelas UEs 15 e 40.
A UE 11 separa claramente duas etapas deste processo de sedimentação: a mais recente está rela-cionada com o derrube parcial das paredes do edifício 6, conforme já foi anteriormente descrito; enquanto a etapa mais antiga é caracterizada, sobretudo, pela que-da da muralha, do torreão e das restantes partes dos edifícios 2 e 6.
Figura 4.72 – Pormenor dos muros 20 e 21
199 Deve-se ainda salientar que na base da UE 14 recolheu-se um fragmento de campaniense do tipo B-óide.200 Após a UE 245 ter sido escavada, identifi cou-se junto ao paramento Este do muro 30 uma unidade (UE 295) que pode estar associada à destruição desta estrutura. A UE 295 consiste num depósito composto por sedimentos com textura granulosa e por uma grande quanti-dade de lajes de xisto com médias e pequenas dimensões e por cascalho de xisto. A distribuição caótica das lajes de xisto e a sua ligeira inclinação no sentido oeste-leste reforçam a hipótese deste contexto estar associado à ruína de uma parede do edifício 6.
UE Fragmentos cerâmicos
173 10
174 36
195 25
196 1
201 154
202 14
206 3
212 17
Total 260
173 10 173 10
174 36 174 36
195 25 195 25
196 1 196 1
201 154 201 154
202 14 202 14
206 3 206 3
212 17 212 17
Total 260 Total 260
UE Fragmentos cerâmicosUE Fragmentos cerâmicos
Tabela 2 – Distribuição dos materiais arqueoló-gicos pelo primeiro nível de derrube
O registo arqueológico comprova igualmen-te que no caso específi co da muralha e do torreão, o abandono deste sector teve consequências tafonómi-cas distintas. Num primeiro momento, ocorreu a ruína progressiva do sistema defensivo superior, exemplifi ca-do na formação da UE 14199, enquanto num momento posterior, uma parte da muralha (UE 15 e UE 40) e um segmento do muro 30 (UE 280) tombaram em bloco, caindo sobre os depósitos já existentes.
No interior do compartimento 9, após a remoção da UE 14, procedeu-se à escavação de uma sequência de depósitos relacionados com a destruição dos muros 1 e 30 (UE 246, 280, 275 e UE 69).
Dos escassos materiais recolhidos nestes depósi-tos (37 achados), convém destacar a presença de dois elementos de funda, de um cossoiro e de dois frag-mentos de cerâmica decorada, um deles pintado (UE 246), que pode ser explicada pelo seu arrastamento dos contextos primários e pela sua mistura com os mate-riais de construção.
O cenário inicial do compartimento 8, depois das UEs 11 e 246 terem sido escavadas, era composto por quatro depósitos relacionados com a destruição do edifí-cio 6. Os dois depósitos mais recentes situavam-se junto ao canto sudoeste da sondagem (UE 235 e UE 236), en-quanto os dois primeiros depósitos se formaram sobre o pavimento daquele ambiente (UE 248 e UE 294).
Para além destes depósitos, identifi caram-se ainda mais duas pequenas realidades: a UE 245 e a UE 247. Se a UE 247 pode corresponder ao derrube de um pequeno segmento do muro 24, a UE 245 tem um processo de formação mais problemático, dado que era um contexto formado por lajes de xisto com médias dimensões, que aparentavam defi nir um espaço circular, preenchido por terras castanhas e por cascalho de xisto.
Apesar das dúvidas existentes, considera-se que as lajes de xisto e o cascalho podem ser resultantes da destruição do torreão ou de um segmento do Muro 24. Saliente-se ainda que a disposição concêntrica e a inclinação quase oblíqua das lajes de xisto sugere a ocorrência da queda vertical de uma parte da estrutura arquitectónica200.
O destaque dado a estes depósitos é justifi cado exclusivamente pelos materiais arqueológicos neles re-colhidos, mais concretamente o terceiro elemento de
FERRO
176
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.74 – Vista da UE 11
Figura 4.75 – Pormenor do derrube da muralha para o interior (Segmento 1 e 2)
funda descoberto em contextos de derrube, um frag-mento de cerâmica pintada (UE 247), um fragmento de cerâmica campaniense do tipo B-óide e um frag-mento de cerâmica fina (UE 295). Todos estes ele-mentos materiais aparecem nitidamente em depósitos secundários, fazem parte do mesmo período crono-lógico e representam claramente o momento final da ocupação deste sítio.
No sector este da sondagem, junto ao segmento 2 da muralha e ao torreão, o espaço estava coberto por uma sucessão de depósitos (UE 126; UE 138; UE 129; UE 145), que se formaram devido à destruição parcial daquelas duas estruturas.
O topo deste nível de derrubes era constituído pela UE 126. Após a sua remoção, identificou-se uma camada muito heterogénea que cobria quase toda a área (UE 128) e duas unidades localizadas junto à mu-ralha (UE 129 e 145).
A UE 128 cobria um interface de corte realizado no paramento este do torreão, com uma forma semi--circular. Perante os dados conhecidos não se consegue determinar a função deste interface, dado que o corte pode estar relacionado com um acto de destruição so-bre a estrutura arquitectónica, ou então, pode ser inter-pretada como o negativo de uma estrutura construída sobre o embasamento do torreão, aproveitando, dessa forma, a plataforma criada pela UE 207.
Tal como se tinha verificado no outro lado do torreão, detectou-se, por baixo da UE 128, uma se-quência de unidades relacionadas com a destruição abrupta da muralha, constituída por três unidades (UE 230, UE 238 e UE 268), que não continham materiais arqueológicos.
FERRO
177
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.76 – Pormenor dos diferentes derrubes após a remoção da UE 14
Depois da UE 238 ter sido escavada, identi-ficou-se o topo irregular da UE 268. Esta unidade caracterizava-se pelos sedimentos castanhos e muito compactados, que envolviam uma grande quantidade de cascalho de xisto. Ao contrário das UEs 230 e 238, a UE 268 tanto pode estar relacionada com a ruína do torreão, como pode integrar o derrube da muralha.
Se no lado oeste do torreão o derrube da muralha assentava sobre um nível arqueológico formado por depósitos associados ao abandono do compartimento 1 (edifício 2), já no lado este o segmento derrubado da muralha cobria o piso do compartimento 10. A di-ferença observada pode ser justificada pela utilização deste espaço como local de acesso à entrada, que se manteve em uso até ao abandono final deste sector do povoado, ao invés do edifício 2, que provavelmente deixou de ser utilizado num momento anterior.
Sobre o pano de muralha, encontrou-se a UE 28 e uma grande camada de lajes de xisto (UE 17), com pequenas e médias dimensões, dispostas de forma caó-
Figura 4.77 – Vista geral do compartimento 10 após a remo-ção dos derrubes
Figura 4.78 – Derrube externo e vista da muralha após a sua remoção (1ª Campanha)
tica, que se prolongava para o exterior do recinto e que correspondia ao derrube externo dos dois segmentos de muralha.
Se na UE 28 só foi recolhido um recipiente ce-râmico praticamente completo, cuja origem é bastante problemática, por não ser possível determinar se foi colocado naquele local durante a construção da mura-lha (deposição in situ, com possível significado ritual), ou se foi arrastado doutro local no momento da queda abrupta da muralha, na UE 17 recolheram-se alguns de materiais arqueológicos (47 fragmentos cerâmi-cos), a maioria dos quais é proveniente do interface de contacto com a UE 9. Assim, o anel, os fragmentos de bordo decorado, o fragmento de paredes finas e as restantes partes de outros tantos recipientes cerâmicos, devem ser interpretados em conjunto com os materiais recolhidos na lixeira (UE 9), ao invés de serem analisa-dos separadamente e de serem simplesmente associa-dos ao momento de derrube da muralha.
Os contornos da entrada norte começaram a ser estabelecidos durante a definição da UE 17 e de um alinhamento de lajes de xisto com médias dimensões
178
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
(UE 324). Assim, após a remoção integral da UE 17, foi possível observar uma entrada em cotovelo, que dava acesso ao interior da fortificação.
Os depósitos de derrube que preenchem a entra-da podem ser divididos em dois grupos: o mais recente está associado à destruição generalizada da muralha e do torreão (UEs 29 e 49), enquanto que o mais antigo está relacionado com a queda de materiais de cons-trução pertencentes à última remodelação da entrada (UE 144201 e UE 259).
Se considerarmos as grandes semelhanças entre as terras da UE 144 e o paramento norte do torreão e o facto de existir uma diferença acentuada no tratamento daquela superfície202, sugere-se a hipótese da UE 144 ter sido formada a partir do esboroamento do revestimento do edifício, e que este pode ter sofrido um pequeno res-tauro quando a entrada foi reconstruída.
A reestruturação da entrada consistiu, inicialmen-te, na destruição de um sector da estrutura que limitava a entrada (UE 324 e 288) e depois na construção do muro 29 (UE 260), que encostava à face este do seg-mento de muralha 1 e à face norte do torreão. A al-teração concebida pode ser explicada pela necessidade de criar um duplo cotovelo na entrada e, dessa forma, dificultar ainda mais o acesso ao interior do povoado.
A segunda reformulação da entrada corresponde ao último momento de utilização desta área do po-voado, que terá sido anterior à ruína final dos edifí-cios, posterior ao abandono temporário daquele acesso
201 Depósito formado por terras avermelhadas, de textura granulosa e muito compactadas. A UE 144 estava sobre um pequeno depósito de terras avermelhadas (UE 259), muito compactadas e com textura fina.202 O segmento superior do torreão encontra-se revestida por uma fina película de terra avermelhada, enquanto que o sector inferior não tem qualquer tipo de tratamento. O limite entre estas duas realidade coincide com a base da UE 260.
Figura 4.79 – Recipiente in situ na UE 28
FERRO
Figura 4.80 – Entrada norte com a UE 144 (1); muro 29 e vista geral da entrada (2) e vista
após a remoção do muro 29 (3)
FERRO
179
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
(que é testemunhado pela formação da UE 256203) e, possivelmente, contemporâneo de um eventual solo de ocupação (UE 218), identificado no lado sudeste da sondagem.
A UE 218 cobria um depósito relacionado com o abandono da área exterior ao edifício 6 (UE 273). A UE 273 era uma fina película de sedimentos de cor castanho-avermelhado e muito compactados, que en-volviam algum cascalho de xisto, e que continha restos de escória e vários fragmentos de recipientes cerâmi-cos, dos quais se destacam um exemplar pintado e ou-tro fragmento de paredes finas.
Mas, o que distingue a UE 218 de outros de-pósitos relacionados com o abandono dos edifícios é a grande quantidade e diversidade de fragmentos de recipientes recolhidos. Esta situação parece demons-trar que este depósito formou-se gradualmente através da acumulação de terras, de materiais arqueológicos resultantes da utilização daquele espaço e de materiais de construção.
Concluindo, apesar de não ser possível relacionar esta remodelação da entrada com os contextos asso-ciados ao abandono dos edifícios 2 e 6, a possibilidade daquela acção ter ocorrido durante o processo de for-mação da UE 218, permite-nos supor que a entrada continuaria em funcionamento ao mesmo tempo que este sector do povoado deixava de ser utilizado com a mesma intensidade de momentos anteriores.
Embora o edifício 2 possa ter sido construído na segunda fase de ocupação, o seu abandono ocorreu certamente na terceira fase, como comprova a série de depósitos escavados no compartimento 1 : UE 79, a UE 101 e a UE 102. A UE 79 é um depósito de terras compactadas e com textura fina, que continha alguns carvões e apenas um cossoiro, de origem in-determinada.
Depois da UE 79 ter sido integralmente retirada, identificaram-se as UEs 101 e 102204. A UE 102 estava sobre o que restava do pavimento daquele comparti-mento (UE 109 e UE 328).
UE
Fragmentos Elementos Elementos Artefactos Elementos Artefactos cerâmicos de Tecelagem de Adorno metálicos de Funda Líticos 11 1 0 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0 1
17 47 0 2 1 0 0
28 1 0 0 0 0 0
29 41 0 0 0 0 0
126 15 0 0 0 0 0
128 26 0 0 0 0 0
129 1 0 0 0 0 0
246 7 1 0 0 2 0
247 3 0 0 1 1 0
248 27 0 0 0 0 0
280 17 0 0 0 0 0
294 1 0 0 0 0 0
295 31 0 0 0 1 0
Total 232 1 2 2 3 1
Tabela 3 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelo segundo nível de derrube
203 Depois da remoção do muro 29 e das UEs 49 e 144, identificou-se o topo da UE 256, que era formada por pedras de pequenas e médias dimensões, dispostas de forma caótica e com uma inclinação oblíqua. Caracteriza-se, também, pela existência de sedimentos de cor castanho-avermelhado, muito compactados, textura fina e relativamente heterogéneos.204 A UE 101 é uma unidade de textura muito fina, com grau de compactação muito reduzido e composta por cinzas e carvões. A UE 102 é um depósito constituído por terras relativamente compactadas, com textura muito fina e por pedras de médias dimensões.
FERRO
180
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.81 – Vista geral do nível de derrubes do edifício 6
Figura 4.82 – Compartimento 9
No espaço existente entre os compartimento 1 e 8, removeu-se outra série de depósitos relacionados com o nível abandono generalizados dos edifícios 1 e 6 (UE 69, UE 92, UE 111 e UE 117). Da qual se des-tacam as UEs 111 e 117205, por ocuparem toda a área e por terem sido recolhidos na UE 117 dois recipien-tes cerâmicos fragmentados in situ e um fragmento de campaniense B-óide.
A UE 117 cobria o pavimento do comparti-mento 9 e mais três buracos de poste. Dois deles estão praticamente encostados ao muro 37, enquanto que o terceiro está situado a meio do compartimento. No interior dos buracos 2 e 3 identificou-se a UE 117 e alguns calhaus de pequenas dimensões, que podem ter servido como calços dos postes.
O buraco de poste 1 era bastante diferente dos outros por não ter calços e por estar preenchido por um depósito de terras castanho-escuro (UE 308).
O compartimento 8 encontra-se na plataforma superior da sondagem e integra seguramente o edifício 6. No seu interior, após a escavação de dois depósitos relacionados com a ruína das suas paredes (UEs 235 e 236), detectou-se a UE 248, que cobria simultanea-mente o pavimento e a UE 294.
As UE 248 e 294 estão igualmente relaciona-das com a desagregação do edifício 6, mas na UE 294 recolheram-se fragmentos cerâmicos de um grande recipiente. Este facto parece demonstrar que os mu-ros 24 e 30 caíram antes de se formar uma camada de abandono, como aconteceu nos compartimentos 1 e 9. Da mesma forma, o recipiente recolhido na UE 212 e o outro recolhido nas UEs 173, 174 e 212, podem estar eventualmente associados à utilização deste comparti-mento do edifício 6.
No exterior do povoado, após o derrube da mu-ralha ter sido escavado, identificou-se a UE 9206, que é certamente um dos depósitos mais interessantes e dos mais importantes do Castelo das Juntas, dado que pode corresponder a uma lixeira, na qual se foram acu-mulando fragmentos cerâmicos, instrumentos metáli-cos, moedas e material de construção.
A UE 9 estava dispersa por todo o exterior do povoado e preenchia a totalidade da área da entrada, cobrindo de forma evidente as UEs 332 e 334. Na
205 A UE 111 consiste num depósito formado por terras de textura granulosa, relativamente compactadas e por lajes de xisto de pequenas e médias dimensões. A UE 117 era um depósito de terras muito compactadas, com textura fina.206 A UE 9 consiste num depósito formado por terras de cor castanho-escuro, quase pretas, compactadas, de textura medianamente gros-seira e por uma grande quantidade de pequenos fragmentos de lajes de xisto.
FERRO
181
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.83 – UE 9 no exterior da fortifi cação (1ª Campanha)
zona externa, a UE 9 consistia numa camada que di-minuía de espessura à medida que os sedimentos se afastavam da fortifi cação. Enquanto na entrada, a UE 9 tinha uma composição mais heterogénea, devido ao cascalho de xisto, às pequenas bolsas de sedimentos207 e ao seu contacto com as estruturas arquitectónicas.
A presença da UE 9 é um aspecto signifi cativo, que pode ser interpretado de duas formas: 1) a entrada é praticamente abandonada e passa a funcionar sobre-tudo como lixeira; 2) a entrada é usada simultanea-mente como ponto de passagem e como lixeira.
Embora qualquer uma destas hipóteses possa ser válida, a manutenção de uma lixeira numa entra-da, parece demonstrar a existência de uma ruptura na concepção funcional deste sector do povoado. Assim, se na segunda fase de ocupação, o espaço é organizado a partir da necessidade de reforçar as defesas do povo-ado, na terceira fase a entrada já não deveria ter a mes-ma importância estratégico militar, sendo reutilizada como área para acumulação de lixo.
Nesta área do povoado, o interior do recinto amuralhado foi claramente condicionado pelo edifício 6208. O conhecimento adquirido sobre esta construção resume-se ao compartimento 8, que consiste num es-paço delimitado por dois muros e com um pavimento em terra batida, e muito possivelmente ao ambiente delimitado pelos muros 20, 21 e 22.
UE
Fragmentos Elementos Elementos Artefactos Elementos Artefactos cerâmicos de tecelagem de adorno metálicos de funda líticos 9 787 1 4 3 2 1
79 0 1 0 0 0 0
92 7 0 0 0 0 0
101 2 0 0 0 0 0
102 16 0 0 0 0 0
111 3 0 0 0 0 0
117 17 0 0 0 0 0
218 156 0 0 1 0 0
256 27 0 0 1 0 0
273 42 0 0 0 0 0
286 19 0 0 0 0 0
Total 1057 2 4 5 2 1
9 787 1 4 3 2 1 9 787 1 4 3 2 1
79 0 1 0 0 0 0 79 0 1 0 0 0 0
92 7 0 0 0 0 0 92 7 0 0 0 0 0
101 2 0 0 0 0 0 101 2 0 0 0 0 0
102 16 0 0 0 0 0 102 16 0 0 0 0 0
111 3 0 0 0 0 0 111 3 0 0 0 0 0
117 17 0 0 0 0 0 117 17 0 0 0 0 0
218 156 0 0 1 0 0 218 156 0 0 1 0 0
256 27 0 0 1 0 0 256 27 0 0 1 0 0
273 42 0 0 0 0 0 273 42 0 0 0 0 0
286 19 0 0 0 0 0 286 19 0 0 0 0 0
Total 1057 2 4 5 2 1 Total 1057 2 4 5 2 1
Tabela 4 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelos depósitos de abandono, pela lixeira e pelo solo de ocupação
207 Destas bolsas, destaca-se a UE 286, que consistia numa pequena mancha de sedimentos acastanhados.208 O muro 15, situado junto ao canto sudeste da sondagem, também pode ser integrado nesta fase. No entanto, devido à reduzida dimen-são da estrutura identifi cada, não é possível atribuir-lhe qualquer funcionalidade, nem perceber a sua relação com os contextos envolventes.
FERRO
183
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.85 – Pormenor do muro 37
Figura 4.86 – Imagem do edifício 6
Esta aparente unidade arquitectónica contrasta com a eventual adaptação funcional do espaço exis-tente entre os muros 1 e 30. Ou seja, a concepção e a utilização do compartimento 9 pode ser o reflexo da necessidade de reaproveitar uma área de ligação en-tre o edifício 2 (construção pré-existente) e o edifício 6 (nova construção), que poderia estar originalmente sem qualquer tipo de utilidade.
A possível reformulação deste espaço é demons-trada pelo surgimento do muro 37, que faz a ligação en-tre o torreão e o muro 30, encerrando uma zona aberta, e pela presença singular de três buracos de poste, possi-velmente relacionados com uma estrutura de cobertura.
O edifício 6, à semelhança do edifício 3 (son-dagem 2), encontra-se construído sobre um socalco escavado na rocha-base. Assim, a plataforma superior
209 A estrutura principal do torreão assenta sobre três realidades: a UE 207, a UE 329 e o Muro 23. A UE 329 era uma camada de terras castanhas, com textura fina e pouco compactadas, que só foi identificada no paramento oeste do Torreão 1 e não foi escavado por se encontrar debaixo daquele edifício.210 A UE 62 consiste numa mancha de terras de cor castanho-claro, com textura fina, e pouco compactadas.
encontra-se dividida em duas partes: o sector oeste é ocupado pelo compartimento 8 e pelo ambiente anexo, enquanto que no sector este se identificaram vestígios de dois pavimentos (UE 269 e 330), que podem ter funcionado como pisos de uma área aberta.
A construção de qualquer um destes pavimen-tos parece estar relacionada com a fase de ocupação anterior. Esta hipótese é sustentada pelo facto do pavi-mento 13 (UE 269) ser sobreposto por um lajeado de xisto (pavimento 14/UE 330), que por sua vez é par-cialmente coberto pelo muro 21. Ou seja, o pavimento 14 faz parte de um momento anterior à construção do edifício 6 e posterior à criação do pavimento 13, po-dendo ambos integrar a segunda fase de ocupação e terem sido reutilizados na terceira fase.
4.3.1.1.2. Fase de ocupação 2
A segunda fase caracteriza-se pela reformulação do sistema defensivo da fortificação, demonstrada pelo estrangulamento da entrada, pela edificação de um torreão no interior do povoado209 e pela construção do edifício 2. Apesar de ser possível situar cronolo-gicamente o momento de abandono destas constru-ções, dado que a sua utilidade perdurou praticamente até ao fim da terceira fase, não se consegue datar o/s momento/s em que foram edificadas, devido à escassez de depósitos e de materiais arqueológicos associados à sua utilização inicial.
Com a construção do torreão, o encerramen-to da entrada directa no povoado foi acompanhado pelo estrangulamento do antigo corredor de acesso, através da construção de dois alinhamentos pétreos, e pela desmontagem de um sector do segmento de muralha 2 (UE 334), de forma a criar uma entrada em cotovelo.
Os dois alinhamentos, que encostavam respec-tivamente nos segmentos de muralha 1 e 2, estavam sobre a UE 62210, cujo processo de formação pode ser interpretado de duas formas: 1) corresponde a uma ca-mada de abandono sobreposta pelas duas estruturas; 2) consiste numa camada de preparação para o assenta-mento da UE 64 e da UE 65.
No interior da entrada, identificaram-se dois contextos possivelmente relacionados com o momento
FERRO
184
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.87 – Torreão 1
de utilização do torreão, nomeadamente as UEs 315 e 316. A UE 315 consiste num depósito homogéneo, sem materiais arqueológicos, formado por terras de cor castanho-escuro e compactadas, que encostava na UE 316 (muro 36). Perante os dados obtidos, não é possí-vel determinar a funcionalidade desta estrutura, dado que os seus limites não foram definidos. Apesar das dúvidas existentes, sugere-se a hipótese de se tratar de um lajeado que ocuparia a área da entrada, ou então, de ser o topo do segmento da muralha.
Em relação ao edifício 2, conhece-se apenas o compartimento 1, que consiste num espaço adossado à muralha, fechado pelo muro 1 e com um pavimento
Figura 4.88 – Estruturas de estrangulamento da entrada norte
Figura 4.89 – Compartimento 1
(UE 109 e UE 328), do qual foram restaram algumas lajes de xisto211.
Ao contrário do edifício 2, onde o muro 1 deli-mita um espaço, o compartimento 10 não se encontra definido por uma estrutura, mas sim por um interface (UE 267), que foi registado como sendo uma superfí-cie de contacto praticamente vertical e bastante bem definida na UE 232, que delimita a sul o comparti-mento 10.
O compartimento 10 tem a muralha como limite norte, o muro 23 e o torreão como limite oeste, o cor-te da sondagem como limite este, sendo o pavimento formado por uma película extremamente compacta de terras de textura fina e cor castanho-claro (UE 289).
O facto da linha de interface ser paralela ao pano de muralha (situação idêntica ao edifício 2), levou-nos a integrar a construção deste espaço na segunda fase, embora a sua utilização tenha também perdurado até à queda da muralha.
211 Este pavimento cobria um depósito (UE 306), que se prolongava-se para debaixo do torreão, sendo portanto anterior á sua construção.
FERRO
185
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
No exterior do povoado, após a remoção da UE 9 identificou-se a UE 48212, que pode corresponder a um solo de ocupação formado durante as primeiras duas fases de ocupação deste sector do povoado.
Na UE 48, foram encontrados quase cinquenta fragmentos de cerâmica e um elemento de funda. Mas a presença destes materiais neste depósito terá que ser analisada com prudência, dado que podem ser infiltra-ções da lixeira (UE 9).
Figura 4.90 – Simetria dos compartimentos 1 e 10
UE
Fragmentos Elementos Elementos Artefactos Elementos Artefactos cerâmicos de tecelagem de adorno metálicos de funda líticos 48 27 0 0 0 1 0
62 4 0 0 0 0 0
Total 31 0 0 1 0
Tabela 5 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelas fases 1 e 2 de ocupação
212 A UE 48 consistia num depósito de terras castanhas, de textura fina, e muito compactadas.
Figura 4.91 – Muralha e entrada norte
4.3.1.1.3. Fase de ocupação 1
O conhecimento que temos do primeiro período resume-se à construção de um troço de muralha, cor-tado por uma entrada, e à edificação dos muros 23 e 26.
No interior do povoado, verificou-se que o seg-mento de muralha 1 aparenta estar sobre uma fina pe-lícula de sedimentos de cor castanho-acinzentado e de textura fina (UE 110), sem materiais arqueológicos, e que cobria a rocha-base (UE 51).
Apesar de ter sido interpretada inicialmente como uma camada de abandono do compartimento 1, parece-nos que o seu processo de formação tem uma leitura mais complexa, sendo possível formular três hi-póteses explicativas: a UE 110 é anterior à construção do torreão e da muralha e consiste num pavimento de terra, que foi sobreposto por um lajeado de xisto; 2) a UE 110 consiste num preparado de terra criado para facilitar o correcto assentamento do lajeado (UE 109 e UE 328), pelo que poderia estar associada à fase 2; 3) a UE 110 é uma mistura de sedimentos da camada que está imediatamente sobre a rocha-base, com sedimen-tos acumulados no compartimento 1, após a destrui-
FERRO
186
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.92 e 4.93 – Sobreposição do Torreão ao muro 23e pormenor do muro 26
ção do lajeado e o abandono daquele espaço, pelo que poderia estar relacionado com a fase 3. Infelizmente, qualquer uma destas hipóteses só pode ser confirmada com o prolongamento da área de escavação.
213 A UE 47 estava no exterior do recinto fortificado, tendo sido recolhidos três fragmentos cerâmicos, provenientes provavelmenre da UE 48.214 A UE 255 consiste numa fina película de sedimentos de cor castanho-amarelado, textura fina e pouco compactada. A UE 223 está localiza-da junto aos muros 21 e 22. Trata-se de um depósito formado por sedimentos de cor castanho-claro, textura muito fina e pouco compactados.215 A UE 10, formada por terras de cor castanho-avermelhado e por uma grande quantidade de lajes de xisto de pequenas dimensões, sobrepunha-se a quase todos os contextos de derrube. No extremo norte, estes contextos eram cobertos pela UE 19.
Embora o nosso conhecimento sobre os muros 23 (UE 233) e 26 (UE 239) seja muito reduzido, de-vido ao mau estado de conservação do muro 26 e à indefinição dos limites e funcionalidade do muro 33, é possível detectar uma ténue relação entre estas es-truturas. Assim, se prolongarmos o muro 23 no senti-do sul e o muro 26 no sentido oeste verifica-se que a sua junção forma um ângulo praticamente recto. Esta possibilidade não parece ocasional e pode significar a existência de uma unidade espacial entre um ou mais edifícios.
Após a remoção de quase todos os depósitos identificados no decorrer das duas campanhas de esca-vação, detectaram-se três unidades formadas por sedi-mentos acumulados, de forma natural, sobre a rocha--base: a UE 47213, a UE 255 e a UE 223214.
4.3.1.2. Sondagem 2
Os trabalhos arqueológicos realizados permi-tiram descobrir os vestígios do edifício 3, que tem, pelo menos, uma fase de ocupação. Embora não seja ainda possível observar a sua planta podemos perceber que os ambientes identificados estão or-ganizados em função de três paredes paralelas, das quais só restam os socos e os interfaces de corte na rocha-base.
No topo do depósito de superfície (UE 150), identificou-se uma série de sulcos paralelos provoca-dos pela passagem de grades de arado. Apesar de se terem recolhido alguns materiais arqueológicos nas camadas de superfície (40 fragmentos de bojo de reci-pientes cerâmicos), os trabalhos agrícolas tiveram um impacto reduzido, não tendo sido identificados mate-riais de construção revolvidos.
A remoção da primeira camada levou à identifi-cação de um depósito que cobria a quase totalidade da área intervencionada (UE 6) e o topo de um contexto que pode estar associado à queda de algumas paredes do edifício principal (UE 7).
Após a escavação integral da UE 6 identifica-ram-se mais dois depósitos: a UE 10 e a UE 13. A UE 10215 estava acumulada no sector sul da sondagem, limitada a norte pela UE 13 e pelas manchas de terras cinzentas-claras que caracterizam a UE 7.
O segundo nível do processo de sedimentação caracteriza-se fundamentalmente pelos contextos ar-queológicos relacionados com a ruína das paredes que delimitavam os compartimentos do edifício 3.
A área do pequeno espaço situado a sul do muro 2 (UE 24) encontrava-se dividida pela UE 27 e a pela UE 26216. A UE 26 cobria um conjunto de lajes dis-postas no sentido vertical (UE 56). O seu elevado grau de compactação e a disposição em cutelo da maioria dos elementos pétreos permitem associar esta unidade à destruição do segmento inferior do muro 3 e à sua queda abrupta.
A primeira imagem da zona intermédia da son-dagem era composta pela presença de dois depósitos
Figura 4.94 – Sector Norte após a remoção da camada de superfície
UE Fragmentos Artefactos Artefactos
cerâmicos metálicos líticos
6 15 0 0
10 17 0 0
13 6 0 0
19 2 0 1
Totais 40 0 1
Tabela 6 – Distribuição dos materiais arqueológicospelos depósitos de superfície
Figura 4.95 – Derrubes do edifício 3 (muros 4 e 5)
216 A UE 26 consistia numa mancha formada por terras de cor cinzento-claro e por uma grande concentração de pedras, com médias dimensões, dispostas obliquamente e verticalmente. Esta realidade é o resultado da acumulação de sedimentos e de lajes de xisto provenientes, maioritariamente, do muro 3, sobre o principal segmento da parede derrubada, a UE 56.
FERRO
187
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
FERRO
189
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
(UE 7 e UE 20217), que podem ser associados à des-truição de várias paredes. De facto, a análise da disper-são destes contextos arqueológicos e o estudo das suas relações estratigráficas permite-nos abordar a proveni-ência de alguns dos materiais de construção.
Por exemplo, a parte superior do muro 4 (UE 59218) deve ter tombado, num primeiro momento, no sentido norte, tendo-se acumulado no espaço abando-nado do compartimento 5. Na altura desta queda, o compartimento ainda deveria preservar a parede situada a este (muro 6), porque a UE 59 encontrava-se prati-camente limitada aquele espaço, não se estendendo ao
compartimento 4. Após a queda do segmento superior, um sector da base caiu de forma abrupta, no sentido sul, para o interior do compartimento 3, formando a UE 23.
A UE 7 estava dispersa por quase toda a área dos compartimentos 3 e 4, tal como, pelo sector norte do compartimento 2. A sua remoção permitiu perce-ber que se encontrava mais concentrada no interior do compartimento 3, onde atingia uma espessura de cerca de 0.12 m, e que cobria ligeiramente as restantes áreas (0.08m de espessura média). Desta forma, somos leva-dos a acreditar que a maioria dos elementos da UE 7 devem ter caído das paredes que delimitavam o com-partimento 3, mais concretamente dos Muros 3, 5 e 7.
A UE 7 cobria os contextos de derrube (UE 25 e UE 35219) de uma possível estrutura (UE 34220), que pode ser a base de uma nova parede, construída com pedras de pequenas dimensões e terra amassada. Se considerarmos esta interpretação, pode ficar even-tualmente explicada a existência de uma hipotética remodelação do compartimento 3 e do edifício 3, que terá ocorrido numa área já preenchida pelos derrubes parciais do muro 4 (como a UE 23) e dos muros 3 e 7 (como provavelmente a UE 45221). No entanto, não fo-ram identificados outros contextos associados à utili-zação deste novo espaço e não é possível compreender a funcionalidade desta eventual estrutura.
No compartimento 3, após a remoção da UE 7, escavaram-se mais quatro contextos relacionados com derrubes (UE 23, UE 32, UE 45 e UE 74). A UE 32 é uma realidade formada por uma grande quantidade de pequenas lajes de xisto, dispostas verticalmente, e por terras acastanhadas, que envolvem os elementos pétreos. Esta unidade deve corresponder à dispersão dos mate-riais que distinguem a UE 57, que consiste num depósi-to composto por terras de cor castanho-claro e por uma grande quantidade de pedras, dispostas na vertical, que pode ser proveniente da queda do aparelho que estava por cima da entrada do compartimento 3.Figura 4.97 –Vista geral do compartimento 3 e da UE 34
217 A UE 20 é uma realidade composta por terras muito vermelhas, relativamente compactadas, e por uma grande quantidade de pedras de pequenas dimensões. A UE 20 está sobre a UE 31, que consiste num contexto de terras com cor avermelhada, muito barrentas e compactas.218 Esta unidade é formada por manchas de terras acinzentadas e por terras avermelhadas, de textura granulosa.219 A UE 35 é um depósito formado por terras castanhas, pouco compactadas, e com uma textura granulosa, que cobria as UEs 60 e 75. A UE 60 é formada por terras acinzentadas, que envolvem um grande aglomerado de pedras com pequenas dimensões. A sua presença e disposição (de forma oblíqua e horizontal) sugere-nos a hipótese de ter sido causada pelo derrube parcial do muro 3; no entanto, não devemos excluir a possibilidade de algumas lajes estarem associadas ao prolongamento da estrutura que adossa ao muro 7 (UE 160). A UE 75 corresponde a um pequeno conjunto de pedras dispostas em cutelo e envolvidas por terras acastanhadas.220 A UE 34 é constituída por uma grande quantidade de pedras, entre as quais algumas lajes de xisto, que se encontram aparentemente alinhadas e estruturadas. As pedras, maioritariamente, de pequenas dimensões estão envolvidas por terras compactadas e com textura muito granulosa.221 A UE 45 corresponde a um depósito constituído por terras avermelhadas, pouco compactadas, e por pedras com pequenas e médias dimensões. Esta realidade deve ter tido origem no derrube do segmento superior do muro 4 e eventualmente do muro 7.
FERRO
190
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A UE 57 encostava numa mancha de terras acastanhadas (UE 74), que envolvia um aglomerado de pedras. A disposição caótica destes elementos e a sua reduzida compactação parecem demonstrar o ar-rastamento das pedras dos muros 5 e 7, e a destruição da zona de junção daqueles muros.
A UE 21 estava localizada sobre os comparti-mentos 4 e 5222, e sobrepunha-se a outro depósito que pode estar relacionado com a destruição do edifício 3: a UE 53223.
No extremo norte da sondagem, a remoção inte-gral da UE 19 permitiu observar o topo de um com-plexo conjunto de contextos arqueológicos. As realida-des que se formaram mais recentemente foram as UEs 38, 42 e 43 (depósitos que misturavam sedimentos transportados pelos agentes de erosão e elementos de construção provenientes dos muros 2, 8 e 9).
Após a escavação da UE 42 e da UE 43 ficaram definidos os limites da UE 39224 e descobriram-se mais
UE Fragmentos Artefactos Artefactos
cerâmicos metálicos líticos
7 5 1 0 21 36 0 0 25 3 0 0 26 0 2 0 27 4 1 0 31 13 0 0 38 1 0 0 39 2 42 2 0 0 43 2 0 0 45 5 0 0 53 9 0 0 59 11 0 0 60 2 0 0 Totais 95 4 0
Tabela 7 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelosdepósitos de derrube do edifício 3
quatro depósitos relacionados com o derrube de estru-turas arquitectónicas: a UE 104, a UE 107, a UE 115 e a UE 116225.
No extremo sul da sondagem 2, registou-se ain-da a destruição parcial do muro 32 (UE 76) e do muro 35 (UE 78). A interpretação daquelas estruturas está condicionada pela reduzida área intervencionada neste sector e pela sua destruição parcial. Assim, se a UE 76 pode estar associada à principal fase de construção do edifício, o enquadramento cronológico e funcional da UE 78 é mais difícil de compreender, porque o seg-mento da estrutura detectado coincide praticamente com o corte sul da escavação.
Nos depósitos associados à destruição do edifí-cio 3, recolheu-se cerca de 43% do conjunto total de achados da sondagem 2. Sendo um valor proporcio-nalmente elevado, em relação à amostra de estudo, este pode ser explicado pela sobreposição directa de alguns derrubes sobre o piso dos compartimentos, como é o caso da UE 59 e da UE 21, e pela mistu-ra natural de materiais de construção com restos de recipientes cerâmicos e de artefactos metálicos, pro-venientes dos contextos de abandono do edifício 3 e, provavelmente, de outras construções e níveis de ocupação vizinhos.
Deste conjunto, destacam-se os fragmentos de uma base de cerâmica campaniense (UE 31), o barril identificado sobre o piso do compartimento 5 (UE 59) e os artefactos metálicos (dois pregos e duas peças de tipologia indeterminada).
Os contextos associados à destruição parcial das paredes do edifício 3 foram totalmente escavados. Por baixo deste nível estratigráfico, identificaram-se os depósitos relacionados com o abandono dos ambien-tes. No sector sul, a destruição dos muros 32 e 35 foi acompanhada pelo preenchimento dos espaços vazios com dois depósitos: a UE 46 e a UE 54226. Depois des-tas duas unidades terem sido escavadas identificou-se o topo da UE 55.
222 Esta realidade é formada por terras avermelhadas, relativamente compactadas, e por algumas pedras. A sua composição resulta da acu-mulação de sedimentos provenientes de outros sectores do povoado, transportados pelos agentes de erosão, e restos de materiais usados na construção das paredes que delimitam o compartimento.223 Contexto formado por pedras de pequenas dimensões e por sedimentos relativamente granulososo e pouco compactados.224 A UE 39 consiste numa realidade formada por terras de cor castanho-avermelhado, relativamente compactadas, e por algumas lajes de xisto. Este contexto pode ser proveniente da queda gradual do aparelho do muro 2.225 A UE 115 e a UE 116 devem estar relacionadas com a destruição parcial dos Muros 8 e 9. O primeiro depósito de derrube consiste numa pequena mancha composta por terras castanhas e por pequenos fragmentos de xisto. A UE 116 é um depósito formado por terras com textura muito granulosa, relativamente compactadas, e por lajes de xisto com pequenas e médias dimensões.226 A UE 46 consiste num depósito de terras acastanhadas e compactadas. A UE 54 era uma camada formada por terras soltas, de grão muito fino, e com cor acinzentada.
A interpretação da UE 55 é mais complexa por-que esta mancha de terras castanhas e compactadas pode constituir o solo de ocupação de um espaço ex-terno ao edifício, ou pode corresponder a uma camada de abandono de um compartimento. Apesar das dú-vidas existentes, optou-se por valorizar a segunda hi-pótese, mas somente com o prolongamento da área de escavação, no sentido sul, poderemos obter uma ima-gem mais esclarecedora.
A escavação da UE 46 e da UE 55 colocou à vis-ta dois novos depósitos: a UE 70227 e a UE 77. A UE 77 é um depósito de terras acastanhadas, relativamente granulosas e medianamente compactadas, que se acu-mulou no interior de um buraco escavado na rocha--base (UE 118).
O interface de corte na rocha-base (UE 118) sobrepõe-se ao interface de corte que está relacionado com a construção do muro 3 (UE 151), corta a UE 70 e pode ser indicativa de um momento de ocupa-ção anterior. Perante a reduzida área de trabalho, não é possível determinar com rigor a funcionalidade ori-ginal deste buraco, mas sabemos que foi utilizada pela última vez como local para a acumulação de lixo e de terras, devido à elevada concentração de materiais ar-queológicos numa área tão reduzida.
Figura 4.99 – Pormenor da UE 77 e da UE 118
No compartimento 2, a escavação da UE 53 per-mitiu colocar à vista as UEs 44 e 67228. Depois desta ter sido retirada, observou-se a totalidade da UE 44 (depósito de terras avermelhadas, medianamente com-pactadas e com textura argilosa), que estava sobre os vestígios do respectivo pavimento, e na qual se reco-lheram alguns fragmentos de recipientes cerâmicos, um dos quais praticamente completo.
A UE 44 foi escavada e por baixo identificaram--se três contextos arqueológicos de natureza distinta: a UE 80, a UE 81 e a UE 130. A UE 130229 preenche uma ligeira depressão (UE 159) e o seu processo de formação pode estar relacionado com os sedimentos acumulados sobre o pavimento (UE 80 e UE 142230).
As UEs 80 e 142 devem estar associadas à des-truição daquele pavimento e ao revolvimento dos se-
Figura 4.100 – Compartimento 2
227 A UE 70 consiste num depósito de terras castanhas-acinzentadas e com textura fina. Esta realidade encontra-se imediatamente sobre a rocha-base (UE 156) e tem grandes semelhanças com as UEs 81 e 131.228 Esta última realidade consistia numa mancha de terras pouco compactadas e de cor cinzento-escuro, que continha algumas pedras de pequenas dimensões e algum cascalho.229 Esta unidade era composta por terras de cor acastanhado, lajes de xisto, blocos de quartzo e muita pedra miúda.230 A UE 80 era um depósito constituído por algumas lajes de xisto com médias dimensões e por terras avermelhadas muito compactadas e com textura fina, enquanto a UE 142 era um depósito com algumas lajes de xisto, dispostas horizontalmente de terras acinzentadas e relati-vamente compactadas, que aparentam nivelar um plano horizontal sobre a rocha-base. Na zona mais destruída deste ambiente (sector norte), identificou-se a UE 74 e a UE 81, que devem corresponder à camada que está imediatamente sobre a rocha-base.
FERRO
192
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
FERRO
193
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dimentos originalmente depositados sobre o piso. Esta hipótese pode ser explicada com a ausência desta uni-dade funcional no compartimento e pelas lajes de xisto revolvidas. Convém ainda referir que na UE 142 foi recolhido um recipiente cerâmico praticamente com-pleto, com um graffiti.
No compartimento 3, depois de todos os con-textos relacionados com os derrubes das paredes terem sido escavados, foi possível observar o piso de ocupa-ção deste compartimento (UE 96) e um depósito pos-sivelmente relacionado com o abandono deste espaço (UE 72).
O compartimento 4 ficou definitivamente deli-mitado com a remoção integral da UE 31 e com a de-finição dos Muros 2, 4, 5 e 6. Sobre o pavimento (UE 50) encontrou-se a UE 73 e a UE 135231.
No sector norte da sondagem, ao contrário do que se esperava inicialmente, a remoção integral da UE 39 colocou à vista uma nova área funcional. Este espaço encontra-se praticamente escavado na
Figura 4.101 – Compartimentos 2 e 3
Figura 4.102 – Compartimento 4
rocha-base (UE 147 e UE 148) e estava preenchido pela UE 39 e pela UE 143.
A UE 143 consistia num depósito de terras de cor castanho-escuro, relativamente soltas e com uma textura fina, que deve ser o resultado de um lento processo de acumulação de sedimentos, transporta-dos provavelmente pelos agentes de erosão, sobre o pavimento 6 (UE 158), no qual se identificaram dois recipientes cerâmicos praticamente completos, que se encontravam fragmentados in situ.
A Este daquele espaço, após a remoção das UEs 39, 115 e 116, identificou-se a UE 146, que consistia numa mancha de terras acastanhadas, re-lativamente soltas e textura granulosa. Perante os dados que temos disponíveis não é possível saber as causas da sua formação, mas pode-se relacionar a
Figura 4.103 – Pormenor da UE 158
231 Este depósito correspondia a uma mancha de terras acastanhadas, pouco compactadas e com textura granulosa, que pode estar relacio-nada com o abandono deste espaço. A UE 135 era um depósito de terras de cor castanho-acinzentado, relativamente compactadas e com a textura muito fina.
FERRO
194
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
sua presença com o abandono deste local específico do povoado.
Do conjunto de materiais recolhidos no nível de abandono generalizado do edifício 3 (cerca de 31% da amostra total), destaca-se a presença de dois recipien-tes cerâmicos, praticamente completos, no ambiente situado junto ao canto NO e sobre o respectivo pa-vimento, e de dois recipientes quase inteiros no com-partimento 2 (um recolhido na UE 44 e outro na UE 142), sobre o pavimento, aos quais se deve juntar o bar-ril ibérico identificado no compartimento 5.
4.3.1.3. Sondagem 3
A interpretação do registo estratigráfico contri-buiu para a individualização de três fases de ocupação: a mais antiga é caracterizada pela presença do muro 18 (edifício 11) e sobre a qual pouco se sabe; a segunda distingue-se pela construção do edifício 4, que se so-brepôs ao edifício 11; a última consistiu na construção do edifício 5, que implicou uma reformulação no uso do espaço, anteriormente centrado no edifício 4.
A superfície do terreno encontrava-se coberta pela UE 63. Durante a sua escavação não foram en-contrados vestígios da acção das máquinas agrícolas, mas é natural que estas tenham sido utilizadas, por-que foram identificados alguns contextos revolvidos (UE 88 e UE 91232) e recolheu-se uma percentagem maior de materiais arqueológicos neste nível de su-perfície (28,6% do conjunto total), em relação às ou-tras sondagens (7,3% do conjunto total na sondagem 1; 19% do conjunto total na sondagem 2; 0,6% do conjunto total na sondagem 4).
4.3.1.3.1. Fase de ocupação 3
A terceira fase divide-se em dois momentos: no primeiro, assistiu-se à construção do edifício 5 e à manutenção do edifício 4; enquanto que o segundo é caracterizado pelo abandono deste sector do povoado e pela ruína daqueles edifícios.
Após a remoção da camada de superfície, verifi-cou-se a existência, no espaço situado a norte do edifí-cio 4, de uma sequência de depósitos233 resultantes da
Figura 4.104 – Construções em terra
UE Fragmentos Artefactos Artefactos
cerâmicos metálicos líticos
44 31 0 0 46 2 0 0 55 2 0 0 72 5 0 0 77 14 0 0 80 5 0 0 96 2 1 0 142 3 0 0 143 2 0 0 Totais 66 1 0
Tabela 8 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelos depósi-tos de abandono do edifício 3
232 A UE 88 corresponde a um contexto composto por terras acastanhadas e por um aglomerado de pedras com médias dimensões, que se encontram aparentemente deslocadas da sua posiçõa original. A UE 91 é um depósito formado por terras de cor castanho claro e por la-jes de xisto de pequenas e médias dimensões. A UE 90 também faz parte desta série de contextos arqueológicos, consistindo num depósito de terras, com cor castanho-claro, relativamente compactadas e de textura granulosa.233 UE 97; UE 98; UE 99; UE 100; UE 103 e UE 122.
FERRO
195
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.105 – Faseamento da ocupação
Figura 4.106 – Vista geral após a remoção da camada de superfície
área aberta e exterior ao edifício 4, na qual se acumulou a UE 136. Este depósito, apesar de ter sido criado num momento anterior a esta fase, continuou a ser usado como piso de circulação nos corredores existentes en-tre os muros 10/11 e 11/12 e no compartimento 11 (edifício 5)234.
No espaço situado a oeste do muro 10, iden-tificaram-se as UEs 82 e 112235. Estes depósitos de-monstram a existência de duas etapas no derrube das paredes. Assim, a UE 82 encostava no limite sul da escavação e cobria os derrubes do edifício 5, como a UE 177, ocupando uma área do compartimento 11, enquanto a UE 112 estava limitada ao muro 17 e so-brepunha-se à UE 191.
A UE 191 tinha grandes semelhanças com a composição da UE 112, sendo formada por sedimen-tos de textura fina, medianamente compactados e de cor castanho-amarelado ou avermelhado, por uma grande quantidade de cascalho de xisto, por lajes de xisto com médias dimensões e por alguns blocos de quartzo esverdeado.
queda das paredes daquela construção e da sua mistura com sedimentos transportados pelos agentes de erosão e com materiais arqueológicos (82 fragmentos cerâmi-cos e 1 artefacto em ferro, de tipologia indeterminada).
A escavação destes depósitos colocou à vista os restos de um lajeado de xisto (constituído por dois sec-tores: a UE 161 e a UE 323), que deveria cobrir uma
234 A UE 136 estava encostada pela UE 204, que era um contexto de derrube identificado naquele ambiente.235 A UE 82 consistia numa mancha de terras acinzentadas e com textura fina. Como encosta em toda a face oeste do muro 10, considera--se que grande parte da UE 82 deve ter origem na ruína desta estrutura do edifício 4. A UE 82 estava por cima da UE 112, que era formada por cascalho de xisto e por manchas de sedimentos com tonalidades diferentes (vermelhas e cinzentas). Os sedimentos tinham uma textura fina e são muito semelhantes aos materiais de construção usados nas estruturas em terra, como por exemplo a UE 220 e a UE 318. Perante os dados conhecidos, considera-se a hipótese da UE 112 estar associada ao derrube de um segmento do muro 10 (UE 83), mas não se deve esquecer a possibilidade de ter sido formada após a destruição de outra estrutura localizada fora da área intervencionada mais a oeste.
FERRO
196
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Após a sua escavação, observou-se o topo da UE 197 e da UE 213236 e ficaram à vista outros con-textos relacionados com as primeiras fases de ocu-pação deste segmento do povoado, nomeadamente o muro 18. Esta situação parece demonstrar que o piso de circulação desta área assentava sobre contextos pré-existentes.
Depois da escavação parcial da UE 197, identifi-cou-se o topo de um depósito (UE 250), que preenchia uma vala (UE 243) aberta num contexto relacionado provavelmente com a utilização do edifício 4. Como esta vala parece prolongar-se para debaixo do muro 10, sugere-se a hipótese de ter servido para escoar as águas acumuladas entre os muros 10 e 11.
Entre os muros 10 e 11, existe um espaço que foi preenchido sequencialmente pelas UE 84, 114 e 113, cujo processo de sedimentação está relacionado com a queda lenta dos materiais de construção daquele edifício.
A UE 84 era uma mancha constituída por terras de cor castanho-avermelhado, que se prolongava para
o exterior do edifício 4, estando por baixo da UE 97 e sobre as UE 113 e 114237.
A UE 114238 era um depósito de terras acasta-nhadas, com textura fina e relativamente compactadas, que estava por cima da UE 113239. Quando foi escava-da identificou-se o topo da UE 136 e a UE 227. Esta última realidade consiste num conjunto de pequenas lajes de xisto, dispostas quase na horizontal, e de blocos de quartzo com pequenas e médias dimensões.
As grandes semelhanças entre a UE 227 e a UE 216 (localizada no corredor do lado ) levam-nos a su-gerir a hipótese de existir uma relação e uma funciona-lidade específica para os elementos que deram origem a estes dois contextos. Não existindo dúvidas que estamos perante o derrube de duas estruturas pétreas que encos-tavam nas faces dos muros, torna-se quase impossível determinar com rigor a sua posição e função original.
Nesta série de depósitos, recolheram-se alguns materiais arqueológicos (53 fragmentos cerâmicos), dos quais se destaca a presença de escória de ferro (UE
Figura 4.107 – Vista geral antes da remoção dos depósitos acumulados entre os muros 10, 11 e 12 Figura 4.108 – Pormenor da 227
236 A UE 197 está localizada junto à extremidade norte do muro 10 e consiste num aglomerado de lajes de xisto com pequenas e médias dimensões, dispostas em cutelo. Apesar da área escavada ser muito reduzida, a disposição das lajes sugere que estas sejam provenientes da queda de um segmento do muro 10. A UE 213 tinha uma composição claramente diferente, dado que era formada por sedimentos muito compactos, de textura fina e de cor acinzentada. Apresenta uma superfície quase plana e ocupa toda a área situada a sul do muro 18. Esta unidade pode ser proveniente da queda do aparelho de construção do muro 10 (UE 83), ou pode ter sido criada devido à ruína de outra estrutura situada a oeste do limite da sondagem.237 No compartimento 11, a UE 84 encontrava-se coberta pela UE 169 e cobria a UE 114.238 A UE 114 também foi detectada no compartimento 11, estando por baixo da UE 169 e cobrindo a UE 182 e a UE 113.239 A primeira imagem da UE 113 era composta por um aglomerado de lajes de xisto e de blocos de quartzo, que estava envolvido por terras de cor cinzento claro e que ocupava toda a área do corredor existente entre os dois muros, mas a quantidade e o grau de concen-tração de elementos pétreos vai diminuindo na direcção n orte. Prolongava-se até ao compartimento 11, onde estava por baixo da UE 182 e cobria a UE 194 e a UE 136.
Tabela 9Distribuição
dos materiaisarqueológicos
pelos depósitosde superfície
UE
Fragmentos Elementos Lucerna Artefactos Artefactos cerâmicos de tecelagem metálicos líticos 63 77 0 0 0 1
88 7 0 0 0 0
90 42 0 0 0 0
91 23 0 0 0 0
Total 149 0 0 1
FERRO
197
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
113) e de um fragmento de bojo decorado com inci-sões (UE 114).
Ao contrário do anterior corredor, o espaço exis-tente entre o muro 11 e o muro 12 estava encerrado a Sul pelo muro 16 (UE 190). O seu interior encon-trava-se preenchido por uma sequência de depósitos relacionados com a ruína dos edifícios 4 e 5 (UEs 86; 87; 88, 91 e 119).
O elemento informativo que merece maior des-taque reside no facto da UE 119 ter-se formado sobre um importante conjunto de materiais arqueológicos, constituído por uma grande quantidade de escória de ferro, por vários recipientes cerâmicos fragmentados in situ, que encostavam no muro 16, e uma lucerna. Este agrupamento está certamente relacionado com o últi-mo momento de utilização destes edifícios, dado que assentavam sobre o piso daquele corredor (UE 136 e UE 215) e estavam cobertos pelo derrube das paredes.
Após a remoção da UE 119 identificou-se um contexto muito semelhante à UE 227, nomeadamen-te a UE 216. Este aglomerado de calhaus de xisto e de quartzo estava relacionado com a UE 203, que era formado por um aglomerado de calhaus de xisto, de quartzo e de seixos, provavelmente arrastados da UE 216, e dispersos de forma contínua por aquele corredor.
No espaço existente entre o limite este da sonda-gem e a face este do muro 12, identificaram-se outros dois depósitos relacionados com a destruição do edifí-cio 4 (UE 121 e a UE 124).
Da mesma forma, junto ao canto sudoeste da son-dagem, ficou uma área praticamente por escavar, devido às suas dimensões reduzidas. O topo deste espaço era constituído pela UE 176240, que se sobrepunha à UE
Figura 4.109 – Materiais arqueológicos da UE 119
205. Esta realidade é composta por alguns calhaus de quartzo, por algumas lajes de xisto com médias e peque-nas dimensões e por sedimentos de cor castanho.
Na extremidade sul da sondagem, a remoção da UE 91, colocou à vista o prolongamento da UE 82 até ao limite sul da escavação e dois novos depósitos: a UE 168 e a UE 169. Estas duas unidades estratigráficas encostam uma na outra e encontram-se sobre o muro 14 (UE 180).
A UE 169 ocupa quase toda a área do compar-timento 11. A presença de uma grande quantidade de cascalho de xisto e de algumas lajes de xisto com médias dimensões, fundamenta a hipótese da UE 169 ser o resultado da queda de materiais de construção provenientes dos edifícios 4 e 5 e da sua mistura com sedimentos transportados pelos agentes naturais de erosão.
A UE 169 cobria praticamente duas unidades re-lacionadas com o derrube do muro 14: UEs 181 e 188. Estas realidades têm em comum a particularidade dos elementos pétreos estarem na vertical e praticamente paralelos ao muro 14, demonstrando a queda abrupta de dois segmentos da parede que separava o comparti-mento 11 do espaço situado a este do muro 14.
As UE 181 e 188 correspondem ao segundo nível de derrubes que preenchia o compartimento 11. Eram envolvidos, em parte, pela UE 169 e sobrepunham-se à UE 182. Este último contexto tinha uma composição muito heterogénea e encontrava-se disperso por quase toda a área daquele ambiente.
Depois da UE 182 ter sido escavada, identifi-cou-se o topo irregular da UE 194, que preenchia de forma caótica uma concavidade localizada a meio do compartimento. No que diz respeito ao processo de formação da UE 194 estamos limitados, pelos dados disponíveis, à hipótese desta unidade fazer parte dos derrubes das estruturas arquitectónicas que caracteri-zam os edifícios 4 e 5.
A UE 194 encostava na UE 177. Esta realidade consistia num depósito de terras alaranjadas, com tex-tura muito fina e muito compactadas, que são muito idênticas aos materiais usados nas construções com adobes já observados, e que estavam depositadas no lado oeste do compartimento 11, sobre o interface de corte do muro 13 (UE 211); encostavam no muro 17 (UE 192) e no muro 10 (UE 83).
O facto de não termos encontrado vestígios da estrutura principal do muro 13 (o interface registado
240 Depósito de terras castanho escuro, pouco compactadas e com textura medianamente fina.
FERRO
198
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
está certamente relacionado com o rompimento deste muro) e da UE 177 não se prolongar muito no sentido leste, leva-nos a sugerir a hipótese desta estar relacio-nada com a ruína de um segmento do muro 17.
Após a remoção integral da UE 177, ficaram à vista os primeiro contextos de derrube acumulados no interior do compartimento 11, mais concretamente as UE 204241 e 217242. A disposição oblíqua das lajes de xisto permite-nos apresentar a hipótese destes elemen-tos estarem associados à destruição dos muros 10 ou 14.
No espaço situado a este do muro 14, o topo do nível de derrubes era formado pela UE 168243. Após a sua escavação, seguiu-se a remoção de mais dois depó-sitos relacionados com a destruição dos edifícios 4 e 5, como as UE 187 e 209. Por baixo destes, encontrava-se a UE 249.
A composição homogénea da UE 249 e a quase ausên-cia de materiais de construção distinguem este depósito dos contextos relacionados com a destruição dos dois edifícios e permitem relacionar a sua formação com o abandono da-quele espaço. Desta forma, os sedimentos encontrados de-vem ter-se acumulado sobre o solo de ocupação, delimitado pelo muro 14 e pelos muro 12 e 19, através da acção dos agentes de erosão.
O registo arqueológico realizado sugere que o processo de destruição dos edifícios 4 e 5 decorreu simultaneamente e que todo o conjunto estava ainda erguido quando foi defini-tivamente abandonado244. A última hipótese merece ser des-tacada porque significa que grande parte da arquitectura ori-ginal do edifício 4, pelo menos daquela que conhecemos, foi preservada e provavelmente integrada no edifício 5, embora não signifique que mantivesse a funcionalidade original.
Com a remoção da totalidade dos derrubes das paredes pertencentes aos dois edifícios, ficou claro que o edifício 5, do qual conhecemos apenas o compartimento 11 e mais dois ambientes (um situado a este do muro 14 e outro a oeste do muro 13), é posterior ao edifício 4 e que estas duas constru-ções, numa determinada fase, podem ter sido usadas simul-taneamente, se calhar com funções distintas ou complemen-tares, tendo sido abandonadas no mesmo momento. Assim, todos os materiais arqueológicos recolhidos sobre o nível de circulação destes edifícios caracterizam o último momento de utilização deste sector do povoado.Figura 4.110 – UE 249
Figura 4.111 – O compartimento 11 durante a remoçãodos derrubes dos edifícios 4 e 5
241 A UE 204 era formada por algumas lajes de xisto, com médias dimensões, dispostas obliquamente, por pequenos blocos de quartzo leitoso, por terras de cor cinzenta, textura fina e medianamente compactados.242 A UE 217 é um contexto constituído por terras muito compactas, de textura granulosa e cor castanho-escuro.243 A UE 168 era formada por terras avermelhadas, com uma grande quantidade de cascalho de xisto, que encostava à UE 179. Este depósi-to era constituído por sedimentos de cor avermelhados, muito compactados e com textura muito granulosa, por muito cascalho de xisto e por algumas lajes de xisto com médias dimensões. A UE 179 corresponde à queda, no sentido leste, de um segmento do muro 14.244 Esta ideia é sustentada pelo facto do edifício 5 não ter sido construído sobre contextos de derrube do edifício 4 e por se ter registado uma sequência estratigráfica no compartimento 11 associada ao processo de sedimentação identificado entre os muros 10 e 11, através do entrecruzar de UE (a UE 169 estava sobre a UE 84; a UE 114 cobria a UE 182; a UE 113 era coberta pela UE 182 e cobria a UE 194).
FERRO
200
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.3.1.3.2. Fase de ocupação 2
A segunda fase de ocupação está relacionada com a construção do edifício 4 e do pavimento 4 (UE 137), bem como, com um conjunto de depósitos asso-ciados ao edifício 4 (UE 136, 198, 162).
Neste último agrupamento destacam-se as reali-dades formadas a norte do edifício 4245, nomeadamente as UEs 136 e 162246. A UE 136 consiste num depósi-to constituído por terras de cor castanho-avermelhado, com textura fina e muito compactada, e por lajes de xisto com médias e pequenas dimensões. Se estas lajes podem estar associadas à destruição parcial dos lajeados
UE
Fragmentos Elementos Lucerna Artefactos Artefactos cerâmicos de tecelagem metálicos líticos 82 8 0 0 0 0 84 8 0 0 0 0 86 30 0 0 0 0 87 4 0 0 0 0 97 3 0 0 0 0 99 11 0 0 0 0 100 9 0 0 0 0 103 1 0 0 0 0 112 4 0 0 0 0 113 35 0 0 0 0 114 10 0 0 0 0 119 60 0 1 1 2 121 1 0 0 0 0 122 58 0 0 1 0 168 2 0 0 0 0 169 10 0 0 0 0 176 1 0 0 0 0 177 6 1 0 0 0 179 1 0 0 0 0 182 25 0 0 0 0 187 18 0 0 0 0 192 7 0 0 0 0 194 10 0 0 0 0 203 3 0 0 0 0 204 15 0 0 0 0
Total 340 1 1 1 2
Tabela 10Distribuição
dos achados pelo nível de derrube
dos edifícios 4 e 5
de xisto, os sedimentos estavam por baixo da UE 161 e por cima da UE 226 (pavimento do edifício 4), po-dendo corresponder ao nível de abandono do edifício 4. Desta forma, os materiais arqueológicos recolhidos nesta unidade representam um palimpsesto cultural (24 fragmentos de recipientes cerâmicos), dado que podem ser associados ao abandono do edifício original e à fase de utilização simultânea dos dois edifícios.
No corredor situado mais a este, após ter sido removida a totalidade da UE 119, identificou-se, junto à extremidade sudeste, a UE 215247. Este depósito tem uma composição muito homogénea, a sua superfície é regular e distribui-se de forma quase aplanada.
245 Deve-se referir também que, no espaço situado a oeste do muro 10, a escavação foi interrompida quando se identificou o topo da UE 198, que é uma realidade semelhante aos depósitos que estão normalmente associados à ruína das estruturas arquitectónicas. Perante os dados disponíveis, considera-se a possibilidade de existir um primeiro momento de destruição do edíficio 4, que pode ter provocado a sedimentação da UE 198, que foi sobreposto pelo nível de ocupação da terceira fase (acção demonstrada pela abertura de uma vala – UE 243) e, por fim, pelo nível geral de abandono e destruição dos edifícios 4 e 5.246 A UE 162 foi identificada por baixo da UE 323 e consiste num depósito formado por sedimentos de cor cinzento claro e de textura fina.247 A UE 215 é um depósito com terras castanhas amareladas, textura fina e compactadas. Entre os sedimentos foram identificados alguns blocos pétreos com pequenas dimensões. A UE 215 é coberta pelo muro 16 (UE 190).
200
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
FERRO
202
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Apesar de não existir, por enquanto, uma relação directa entre os muros do edifício 4 e o pavimento 4, a disposição espacial destas estruturas e o conjunto de relações estratigráficas associadas a estas unidades ar-quitectónicas fundamentam a hipótese de terem sido usadas no mesmo período.
O edifício 4 é uma das construções mais interes-santes e das mais problemáticas do Castelo das Juntas. Assim, até ao momento, identificaram-se três muros dispostos de forma paralela e orientados no sentido SE--NO248, sendo ainda de salientar a hipótese de existir um quarto muro (UE 210) situado a leste do muro 12.
Toda a estrutura do edifício assenta sobre um de-pósito de terras acastanhadas, mais concretamente a UE 226249. Esta unidade constitui uma ligeira película de sedimentos com uma composição homogénea, de superfície regular e que se distribui de forma equilibra-da por quase toda a área de escavação, acompanhando
a topografia de cada espaço, dado que, deve sobrepor--se à rocha-base.
A UE 226 deve ser interpretada como sendo o solo de utilização do edifício 4 e do compartimento 11, que pode ter sido usado diretamente, ou pode ter servido para assentar um lajeado de xisto. Não deve-mos excluir a hipótese da sua superfície ter sido muito afectada durante a terceira fase de ocupação deste sec-tor do povoado.
4.3.1.3.3. Fase de ocupação 1
Os vestígios do primeiro período de ocupação resumem-se a duas paredes (UE 199 e a UE 214), encostadas uma à outra (muro 18), que aparentam ter sido sobrepostas pelo muro 10 (UE 83). O muro 18 tem uma orientação SO-NE, estando disposto de for-ma quase perpendicular ao edifício 4; é o único vestí-gio do edifício 11.Figura 4.114 – Pavimento 4
Figura 4.115 – Imagem do edifício 4
248 Muro 10 (UE 83), muro 11(UE 85) e muro 12 (UE 89).249 As terras têm uma textura fina e encontram-se relativamente compactados.
FERRO
203
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.3.1.4. Sondagem 4
A intervenção realizada neste sector do povoa-do demonstrou a existência de duas fases de ocupação, que podem ser ainda divididas em vários momentos, consoante as hipóteses de interpretação sugeridas pelo conjunto de relações estratigráficas existente entre as estruturas arquitectónicas.
A fase mais antiga é caracterizada pela constru-ção da muralha, embora a utilização de duas técnicas construtivas neste troço possa indiciar a existência de dois momentos de construção. Convém também sa-lientar a possibilidade de ter existido uma entrada, virada a oeste, situada entre estes dois segmentos de muralha, que poderá ter sido parcialmente entulhada com materiais de construção do segmento 4.
No interior do recinto identificaram-se duas es-truturas arquitectónicas: a UE 284 tem uma funciona-lidade indeterminada, enquanto que a UE 302 aparen-ta configurar um edifício de planta circular (edifício 9). A associação destas construções com a muralha não é evidente, dado que não existe qualquer relação estra-tigráfica entre estas unidades, mas considera-se, como hipótese de partida, que estas três unidades foram uti-lizadas simultaneamente, pelo menos, num determi-nado momento.
A segunda fase de ocupação está bem patente no edifício 7, que encosta ao paramento interno da mu-ralha e do qual se conhece apenas o compartimento 6. Este espaço encontra-se limitado pelos muros 25, 26 e 33, e apresenta um piso de terra batida (pavimento 8), que é sobreposto por uma lareira.
No exterior do recinto identificaram-se dois muros, pertencentes aos edifícios 8 e 10, cuja fun-cionalidade permanece indefinida. Como no caso das UE 284 e 302, não é possível estabelecer rela-
Figura 4.116 – Imagem do muro 10
ções estratigráficas entre estas duas estruturas e a muralha, mas como as primeiras se encontram co-bertas pelo derrube da muralha, optou-se por inte-grá-las nesta fase de ocupação, apesar de puderem estar relacionadas com um momento diferente de utilização do espaço.
Após a limpeza de toda a vegetação, observou-se com maior clareza a concavidade existente no talude da muralha e identificou-se à superfície um segmento bem conservado da face externa da muralha.
O topo da sondagem era formado pela UE 165, que cobria a UE 170. A UE 170 correspondia a uma camada muito homogénea, formada por terras de cor castanho-claro, que se acumularam sobretudo no inte-rior do povoado e cuja espessura aumentava na direc-ção do corte este da sondagem.
Tal como se tinha verificado na sondagem 1, nos depósitos de superfície os materiais arqueológicos re-colhidos foram muito escassos, limitando-se apenas a dois fragmentos cerâmicos (UE 170).
4.3.1.4.1. Fase de ocupação 2
Depois da escavação dos depósitos de superfície, iniciou-se a remoção do segundo nível arqueológico, que se caracteriza pelo desmoronamento progressivo
Figura 4.117 – Faseamento da ocupação
FERRO
204
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dos vários edifícios descobertos, após o abandono de-finitivo desta área.
Ao contrário dos derrubes da muralha identifi-cados na sondagem 1, que constituem bons exemplos de quedas abruptas de construções, o derrube externo da muralha deve-se ter desenrolado progressivamente. Desta forma, os depósitos foram caindo, com uma dis-posição horizontal ou ligeiramente oblíqua, sobrepon-do-se à medida que os materiais de construção caíam.
A reconstrução do processo de formação deste derrube, realizada a partir da interpretação da sequên-cia estratigráfica, possibilitou a individualização de, pelo menos, cinco grandes etapas. A UE 172 e a UE 171250 constituem o último momento do derrube da muralha, porque assentavam sobre a principal massa de pedras e de terra compactada, e contêm uma elevada percentagem de terra transportada pelos agentes naturais de erosão.
Por baixo da UE 171, registou-se a maior uni-dade de derrube da muralha (UE 183), que se carac-terizava pela grande quantidade de lajes de xisto (com pequenas, médias e grandes dimensões) e pelos blocos de quartzo com grandes dimensões, alguns deles defi-nindo alinhamentos. Esta situação sugere a hipótese da face externa do segmento de muralha 4 ter algumas partes construídas com blocos de quartzo devidamente aparelhados, que num determinado momento tomba-ram para a frente contribuindo, assim, para a actual imagem deste troço da muralha, constituída por um segmento bem preservado (segmento 3) e pelo miolo da segunda metade da muralha (segmento 4) 251.
A UE 183 estava sobre dois depósitos (UE 184 e UE 189), que estavam relacionados com o derru-be de sectores construídos com preparados de terra, dado que, ao contrário da UE 183, estas duas unidades caracterizam-se pela ausência de pedras com médias e grandes dimensões, pela cor avermelhada dos sedi-mentos, pela textura granulosa da terra, sobretudo na UE 189, e pela presença de muito cascalho de xisto.
A UE 183 também cobria um depósito (UE 200) constituído por materiais de construção arrastados do seu local original252. Esta unidade deve ser analisada com algumas cautelas, porque pode ser interpretada de duas formas. Na primeira hipótese, a UE 200 pode resultar do esboroamento de uma parte do troço da muralha. A outra hipótese consiste na possibilidade da UE 200 ser o topo da estrutura de encerramento de uma entrada para o interior do povoado.
A observação do topo da muralha permite distin-guir duas linhas paralelas, dispostas transversalmente ao seu eixo longitudinal, que podem ser interpretadas como sendo eventualmente os limites de uma entrada. O limite norte corresponde, praticamente, ao interface Figura 4.118 – Derrube externo e interno da muralha
250 A UE 172 consistia numa mancha de terras muito compactadas, de cor castanho-escuro, que envolvia alguns blocos de quartzo e algumas lajes de xisto com pequenas e médias dimensões. A UE 172 cobria a UE 171, que era um depósito formado por terras compactas, de cor castanho, e por uma grande quantidade de blocos de quartzo e de xisto com várias dimensões, concentradas sobretudo na parte superior do talude.251 Facto confirmado com a conclusão dos trabalhos e com a quase ausência de blocos de quartzo ou de lajes de xisto, devidamente estru-turados, na face externa do segmento de muralha 4.252 A UE 200 caracterizava-se por ter pedras, com médias e pequenas dimensões, aparentemente soltas e derrubadas, que estavam envolvi-das por terras acastanhadas, relativamente granulosa e muito solta.
FERRO
205
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
de contacto da UE 300 (segmento de muralha 4) com a UE 167 (segmento de muralha 3), enquanto que o limite Sul pode ser interpretado a partir da diferença existente entre a estruturação da UE 300 e a dispersão caótica da UE 200.
Face ao facto da UE 200 não ter sido removida, na área situada sobre a muralha, não se conseguiu de-terminar a natureza do seu processo de formação, nem tão-pouco demonstrar a existência de uma eventual entrada.
Para além das UEs 184 e 189, a terceira etapa dos derrubes é caracterizada por um complexo con-junto de depósitos253, dos quais se destaca a UE 266254 por se sobrepor e encostar nos muros 28 e 31 (edifícios 8 e 10), demonstrando que este depósito acumulou-se numa área semi-destruída e num espaço vazio.
Após a remoção deste conjunto de unidades, detectou-se um novo contexto de derrube (UE 277) com uma grande quantidade de lajes de xisto (peque-nas, médias e grandes dimensões) e de alguns blocos de quartzo, que deve estar relacionado com a queda de outro sector da muralha construído sobretudo com lajes de xisto.
A UE 277 estava sobre o primeiro conjunto de unidades estratigráficas relacionadas com a destruição da muralha, como a UE 262255 e a UE 296256. Este úl-timo depósito estava sobre a UE 283, que correspon-dia a um depósito muito homogéneo, situado junto à face externa da muralha e que apresenta algumas semelhanças com a camada detectada por baixo da muralha.
A interpretação funcional deste contexto é relati-vamente complexa, porque não é possível compreender o seu processo de formação. Assim, a sua sedimentação pode ser o resultado da queda de um segmento de topo da muralha ou pode ser proveniente do lento desliza-mento de materiais de construção da base da muralha.
Perante as semelhanças existentes na composi-ção da UE 283 e da UE 297, privilegia-se a segun-da hipótese em relação à primeira. No entanto, até se alargar a área de escavação não se deve excluir a outra possibilidade.
Todas as unidades já descritas devem estar rela-cionadas com o desmoronamento da muralha, existin-do apenas um contexto (UE 319) que pode ser rela-cionado com a destruição do muro 28. Esta estrutura delimitava um ambiente, que se encontrava preenchi-do pela UE 281257.
Na extremidade oeste, após a remoção da UE 266, foi descoberto o muro 31, que definia uma área que estava preenchida pela UE 282. Este depósito era formado por algumas lajes de xisto, com médias e pequenas dimensões, dispostas praticamente na ver-tical, que se encontram envolvidas por sedimentos castanhos.
Nesta sequência de derrubes recolheu-se cer-ca de 34% dos materiais arqueológicos obtidos nesta sondagem, sendo de destacar que o maior número é oriundo da UE 183. Esta situação pode ser explicada pela queda gradual da muralha e pela lenta mistura de materiais de construção com fragmentos cerâmicos, provenientes provavelmente do solo de ocupação desta área.
Neste conjunto de materiais salienta-se o cossoi-ro (UE 282), os dois fragmentos de cerâmica fina reco-lhidos nas UEs 225 e 189 e o vaso suporte encontrado na UE 225.
253 UE 244; UE 225; UE 261; UE 263; UE 264; UE 266 e UE 276.254 Depósito caracterizado pelas suas terras castanhas, de textura granulosa e pouco compactadas. 255 A UE 262 era uma grande massa de terra, que estava depositada junto à face externa da muralha. Consistia num depósito muito com-pacto, formado por sedimentos muito argilosos, textura fina, e de cor avermelhado-vivo.256 A UE 296 consiste num depósito formado por terras de cor vermelha, textura relativamente granulosa e devidamente compactados. Esta camada localiza-se junto à face externa da muralha e ao corte sul da escavação, não tendo sido removida.257 A UE 281 era constituída por terras avermelhadas, relativamente argilosas, que envolviam algumas lajes de xisto com pequenas e médias dimensões. Esta unidade pode estar associada ao derrube da muralha ou ao destruição do muro 28.
UE Fragmentos Elementos
cerâmicos tecelagem
171 5 0
183 43 0
189 12 0
225 31 0
263 5 0
282 4 1
283 1 0
Totais 101 1
Tabela 11 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelo nível de derrube externo da muralha
FERRO
206
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.119 – Planta final da sondagem 4
Contrariamente ao desmoronamento externo da muralha, não existe uma grande variedade nos depósitos relacionados com a sua queda para o inte-rior do recinto. Tendo a diversidade dado lugar a uma certa regularização nos contextos descobertos, com as unidades bem definidas e depositadas praticamente por camadas.
A destruição progressiva da muralha e das estrutu-ras arquitectónicas identificadas no interior do povoado criaram uma sequência estratigráfica que pode ser divi-dida em dois momentos. A fase mais recente caracteriza--se pela queda parcial da muralha, enquanto os primeiros derrubes podem ser associados aos muros 25 e 26.
A UE 175 cobria toda esta área e correspondia ao topo do derrube da muralha. A sua constituição, tal como da UE 171, deve ser o resultado da mistura de materiais de construção arrastados com terras trans-portadas pelos agentes naturais de erosão.
A principal camada de derrube estava por baixo da UE 175 e consistia na UE 193258. Este depósito era formado por uma grande quantidade de lajes de xisto com várias dimensões (pequenas, médias e grandes) e
por terras de cor castanho-médio, textura fina e me-dianamente compactados.
As semelhanças existentes entre a UE 193 e a UE 183 sugerem a hipótese dos materiais de constru-ção serem provenientes do mesmo troço de muralha. A sua ruína pode ter implicado o esboroar de um seg-mento da face interna (construída maioritariamente com lajes de xisto) para o interior do recinto e o des-moronamento da face externa (construída com lajes de xisto e blocos de quartzo) para o exterior.
A UE 193 foi escavada por camadas, acompa-nhando a disposição das lajes de xisto, e no topo do úl-timo nível de pedras identificou-se a UE 224. Este con-texto consiste num aglomerado de lajes de xisto (médias dimensões) e de pequenos blocos de quartzo, dispostos de forma vertical ou oblíqua. As lajes estavam envolvi-das por terras acastanhadas e por cascalho de xisto259.
Quando o topo da UE 193 foi definido, iden-tificou-se no canto sudoeste da sondagem a UE 208. A remoção gradual da primeira foi acompanhada pelo alargamento desta mancha de terras de cor cinzento--claro, textura muito fina, e compactados260.
258 A UE 193 cobre quase toda a área escavada, tendo tombado para o interior do povoado de forma oblíqua (ângulo entre os 20º e os 45º).259 Perante os dados disponíveis sugere-se a hipótese da UE 224 ser uma parte do muro 25, ou a possibilidade da UE 224 ter feito parte da estrutura amuralhada.260 A sua semelhança com a UE 318 (segmento superior do muro) confirma a hipótese dos materiais de construção da UE 208 serem provenientes do esboroamento da estrutura feita com preparado de terra.
FERRO
207
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Depois da UE 193 e da UE 208 terem sido re-movidas, apareceu o topo da UE 231261 e da UE 251, que se localizava junto à muralha262 e que foi pratica-mente o último depósito identificado no interior do recinto associado ao derrube da fortificação263. A UE 251 destaca-se pela presença de alguma escória de fer-ro e de uma taça praticamente completa, que estava sobre a superfície da lareira, aparentemente in situ.
Figura 4.120 – Imagem da taça sobre a lareira
Após a remoção das UEs 251 e 252, identifica-ram-se os limites do compartimento 6, que se encon-trava preenchido pela UE 241264. Algumas das man-chas da UE 241 ocupavam um espaço vazio existente entre a extremidade do muro 27 e a muralha, sobre-pondo-se em algumas áreas ao piso de ocupação do compartimento. Este facto demonstra que a UE 241 se depositou após a semi-destruição do muro 26, sobre o piso de utilização do compartimento 6.
A elevada percentagem de materiais arqueoló-gicos obtidos nos derrubes escavados no interior da fortificação (cerca de 39,5%), vem confirmar o número apresentado para os contextos removidos no exterior. Assim, contrariamente ao que foi verificado nas restan-tes sondagens, os materiais são maioritariamente pro-venientes do nível de derrube dos edifícios, sendo que alguns deles estavam sobre o pavimento do comparti-mento 6 e podem representar o último momento de ocupação antes do abandono definitivo deste edifício.
Os contornos do ambiente delimitado a norte pelo muro 26, pelo segmento de muralha 3 e pelo muro 36 só foram detectados após a remoção da UE 253265.
A UE 253 cobria outro depósito (UE 271) re-lacionado com o derrube do muro 27; era constituído
UE Fragmentos Elementos Vidro
cerâmicos tecelagem
175 5 0 0
193 13 0 0
231 51 0 0
241 36 0 1
251 12 0 0
Totais 117 0 1
Tabela 12 – Distribuição dos materiais arqueológicos pelo nívelde derrubes internos
261 O depósito era constituído por terras castanhas e por lajes de xisto com médias e pequenas dimensões. As lajes encontravam-se dispos-tas de forma caótica e espalhadas por quase toda a área.262 A UE 251 consistia numa unidade de terras avermelhadas, com restos de adobes, cascalho de xisto e lajes de xisto de médias dimensões. Os sedimentos estavam medianamente compactados e tinham uma textura granulosa (grão médio).263 A UE 251 cobria parcialmente a UE 252, que se espalhava de forma pouco homogénea, concentrando-se numa estreita faixa junto à face da muralha e prolongando-se em profundidade.264 A UE 241 consiste num depósito formado por sedimentos de coloração cinzenta e avermelhada, de textura muito fina e muito compac-tados. A UE 241 deve constituir o derrube de um segmento do muro 25, provavelmente da UE 318.265 A UE 253 é um depósito formado por terras acinzentadas e avermelhadas (restos de adobes), de textura fina e medianamente compac-tadas, por lajes de xisto, com médias e pequenas dimensões, e por pequenos blocos de quartzo.O corte estratigráfico este demonstra que os materiais de construção da UE 253 são provenientes do desmoronamento parcial do muro 26 (UE 240 e UE 242), dado que é possível observar a UE 253 sobre a base do muro 27 e o grau de inclinação das lajes que integram o derrube.
FERRO
208
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
por algum cascalho, por alguns calhaus e por sedimen-tos de cor castanho, textura granulosa e medianamente compactados. A UE 271 tem algumas semelhanças com a UE 253, mas distingue-se desta pela quase au-sência de blocos de médias e grandes dimensões266.
A segunda fase de ocupação é caracterizada es-sencialmente pela reorganização espacial deste sector do povoado e pela construção de três edifícios. No entanto, se não temos grandes dúvidas quanto à fun-cionalidade e ao momento de utilização do edifício 7, o mesmo já não se pode dizer em relação aos outros dois, dada a reduzida área escavada, o seu mau estado de conservação e a quase ausência de materiais arque-ológicos relacionados com a sua utilização, não sen-do possível atribuir-lhes uma cronologia precisa, nem compreender a sua organização espacial.
Os muros 28 e 31 foram associados à segunda fase de ocupação, por serem sobrepostos pelo derrube externo da muralha. A queda desta estrutura para o exterior do povoado sustenta a hipótese de existir, pelo menos, um momento em que o edifício 7 poderia estar a ser usado ao mesmo tempo que estes dois edifícios.
O conhecimento existente sobre o edifício 8 é muito reduzido, porque baseia-se unicamente num pe-queno troço de muro (muro 28) identificado junto ao canto noroeste da sondagem, que aparenta delimitar um edifício de planta circular.
No espaço delimitado pelo muro 28, identificou--se um depósito de terras267, que pode corresponder ao solo de ocupação deste espaço. Apesar da pertinência desta hipótese, não devemos excluir a eventualidade da UE 321 ser anterior à construção do muro 28.
Os dados disponíveis para a reconstrução do edifício 10 e para a determinação de uma funciona-
UE Fragmentos
cerâmicos
253 5
271 6
Totais 11Tabela 13 – Materiais recolhidos
no derrubes do edifício 6
Figura 4.121 – Edifício 8 e muro 31
lidade são também muito escassos, devido à reduzi-da área escavada e ao mau estado de conservação do muro 31268.
No interior da muralha, após a remoção da UE 271, identificou-se, no sector situado a norte do muro 25, uma camada de terra s cinzentas e com superfí-cie regular (UE 285), que pode representar o nível de abandono deste espaço e no qual se recolheram alguns fragmentos de recipientes cerâmicos (16 fragmentos).
A UE 285 estava encostada a duas lajes de xis-to269, com médias dimensões e dispostas verticalmen-te, cuja funcionalidade é ainda desconhecida. A queda destes materiais arquitectónicos ocorreu quando este
266 Deve-se ainda salientar que nas UEs 253 e 271 recolheram-se apenas fragmentos de bojo pertencentes a recipientes cerâmicos.267 A UE 321 é um depósito formado por terras de cor castanho-claro, de textura muito fina e medianamente compactadas, que acompa-nha o relevo da rocha-base.268 A UE 265 está sobre uma camada de nivelamento da rocha-base, sendo formada por uma fiada de lajes de xisto, com médias e grandes dimensões, dispostas na horizontal. Aparenta ter uma ligeira disposição circular e deve encostar na UE 258 (actualmente a UE 319 impede a observação das relações estratigráficas entre o muro 28 e o muro 31).269 As duas lajes têm os bordos afeiçoados e uma pequena concavidade num dos lados.
FERRO
209
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
espaço estava desocupado, tendo sido cobertos pelos derrubes associados à destruição do muro 25.
O compartimento 6 faz parte de um edifício com maiores dimensões, que encosta na face interna da muralha, e consiste num espaço doméstico, com o pavimento praticamente intacto (UE 272) e com uma estrutura de lareira bem preservada (UE 270). A planta rectangular deste compartimento encontra-se definida pelas bases de três paredes, nomeadamente o muro 25, o muro 26 e o muro 33.
A UE 272 caracteriza-se por ser um pavimento de superfície relativamente liso, que reveste toda a área visível do compartimento 6 e que se prolonga para de-baixo do muro 25 e do muro 26270.
A lareira 1 foi construída sobre o pavimento e tem uma forma possivelmente sub-circular. O seu topo encontrava-se coberto por uma película de argila cozi-da, que pode ser resultante da acção do fogo.
Figura 4.122 – Pormenor das lajes de xisto
Figura 4.123 – Vista parcial do compartimento 6
270 Sobre o piso de ocupação e encostada à parede leste do compartimento 6 registou-se, por cautela, a UE 302. Esta unidade consiste num pequeno aglomerado de lajes de xisto, dispostas horizontalmente, que aparentam estar estruturadas.
O compartimento 6 está fechado a norte pelo muro 26. Esta estrutura arquitectónica é formada por dois elementos construtivos (UE 242 e UE 240), que neste caso específico tanto podem representar dois momentos de construção, como pertencerem a paredes que delimitam compartimentos adjacentes, ou mesmo representarem uma técnica construtiva, como mais adiante será discutido (ver capítulo 7).
As grandes semelhanças identificadas nos muros 27 e 33 e o facto do pavimento estar por baixo dos muros 25 e 27, constituem indícios que fundamentam a hipótese de ter ocorrido uma remodelação arquitec-tónica durante a segunda fase de ocupação. Desta for-ma, a interpretação da estratigrafia obtida leva-nos a sugerir terem existido dois ambientes construídos em períodos diferentes. No primeiro, o espaço seria for-mado pela muralha, pelo pavimento 8, pela UE 242 (segmento inferior do muro 27) e pelos muros 25 e 33.
FERRO
210
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Este ambiente teria sido remodelado, num segundo momento, através da construção da UE 240 (segmen-to superior do muro 27). No entanto, convém salientar que qualquer uma das hipóteses apresentadas é igual-mente válida, não sendo possível de momento ultra-passar este cenário de possibilidades.
O espaço situado a norte do compartimento 6 não foi integrado no edifício 7, já que não é possível sa-ber se estamos perante uma área fechada ou aberta, tal como, não se deve excluir a possibilidade do muro 36 delimitar um compartimento que se estende para leste, constituindo a UE 303 a face externa da parede e não a face interna do compartimento, como seria de esperar.
4.3.1.4.2. Fase de ocupação 1
O nosso conhecimento sobre a primeira fase de ocupação na sondagem 4 é muito reduzido e baseia-se sobretudo na descoberta de duas estruturas arquitec-
Figura 4.124 – Sector a norte do compartimento 6
Figura 4.125 – Imagem da muralha
tónicas (UE 284 e UE 301), que estavam sobrepostas pelas paredes do compartimento 6, e na edificação da muralha.
Perante a informação recolhida, podemos su-gerir a hipótese de existirem, pelo menos, três mo-mentos de construção. Dois deles estão relacionados com a edificação dos segmentos de muralha 3 e 4, enquanto que o terceiro está associado à utilização das UEs 284 e 301.
O troço de muralha identificado nesta sonda-gem é formado por dois segmentos, que exemplifi-cam técnicas de construção diferentes e que repre-sentam distintos momentos de edificação. Desta forma, em função do registo estratigráfico existente, é possível sugerir várias hipóteses de trabalho, sobre a evolução da organização espacial deste sector do povoado: 1) o segmento 3 pode corresponder ao que resta do troço original da muralha; 2) o mesmo seg-mento 3 pode estar associado ao edifício 9 e ao muro 26; 3) o segmento 4 foi construído posteriormente ao segmento 3, ao edifício 9 e ao muro 26271; 4) os seg-mentos 3 e 4 são anteriores à construção do edifício 9 e do muro 26.
Os dois segmentos de muralha encontram-se sobre uma camada de sedimentos (UE 298), que pode ter servido para regularizar a superfície do solo e dessa forma facilitar o assentamento da muralha.
Durante a definição do pavimento 8, detectou--se um alinhamento de lajes de xisto, com pequenas
271 Convém destacar que no paramento interno do segmento 4 não existem vestígios da entrada.
FERRO
211
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dimensões, dispostas horizontalmente, que delimita-va um espaço semi-circular (UE 301). Como as pe-quenas lajes de xisto estão parcialmente cobertas pelo pavimento, consideramos a hipótese da UE 301 ser anterior à construção do compartimento 6 e do edi-fício 7.
A UE 301 é o segmento conhecido do que pare-ce ser um edifício de planta circular (edifício 9) e que pode ser eventualmente contemporâneo das primeiras construções erguidas próximo da muralha.
Por baixo do muro 27, identificou-se uma cons-trução com grandes lajes de xisto (UE 284), de for-ma sub-quadrangular, que se prolonga no sentido do corte este e que se encontra praticamente destruída, não sendo possível perceber a sua associação com os restantes vestígios desta fase de ocupação.
A UE 284 estava sobre um depósito composto por sedimentos de cor cinzento-escuro, com textura fina e medianamente compactados, que envolviam al-gum cascalho de xisto (UE 291).
A reduzida área escavada não permite retirar grandes ilações sobre a natureza desta camada, mas como estava por baixo da UE 284 é possível que tenha sido formada num período anterior ou contemporâneo daquela estrutura. Pode-se sugerir ainda a hipótese da UE 291 corresponder a uma lixeira, devido à quantida-de de escória existente neste depósito e aos fragmen-tos cerâmicos recolhidos (11 exemplares), dos quais se destaca um fragmento de “paredes finas”.
Figura 4.126 – UE 284
4.4. Caracterização da cultura materialAna Cristina Ramos
O conjunto de materiais arqueológicos prove-nientes do Castelo das Juntas é vasto e relativamen-te diversificado, tendo sido recolhidos 2767 achados. Destes, a larga maioria vem da sondagem 1 (63,6%), esta circunstância poderá estar directamente relacio-nada quer com a existência de uma lixeira (UE 9), na qual foram recolhidos cerca de 29% dos materiais da amostragem total, quer com o facto desta sondagem corresponder à maior área escavada, que no caso es-pecífico proporcionou um maior número de unidades estratigráficas com materiais documentados.
A distribuição geral dos achados pelas sondagens 2 e 4 é muito equilibrada e com valores relativamente próximos: 7,8% e 9,8%, respectivamente. Esta situação poderá ser explicada, por um lado, pela área escavada ser mais reduzida, relativamente às restantes, por outro, pela presença, nesses espaços, de edifícios de carácter habitacional.
No que diz respeito aos valores obtidos na son-dagem 3 (cerca de 18,8% do conjunto total), eles po-dem ser explicados pela maior complexidade funcional dos edifícios, a qual justificaria a presença de outro tipo de recipientes, mais volumosos, que quando fragmen-tados produzem um maior número de achados, neste caso, cerâmicos.
A cerâmica constitui o conjunto mais represen-tativo, com cerca 98,5% dos achados recolhidos. Dos 2727 fragmentos recuperados, 2252 pertencem a bojos de diversos recipientes e os restantes a bordos, bases, asas e bojos decorados, aos quais foi atribuído um nú-mero de inventário (475 exemplares).
No que diz respeito à dispersão das restantes ca-tegorias de materiais, destacam-se a ausência de cossoi-ros na sondagem 3 e de peças metálicas na sondagem 4, bem como, a presença exclusiva de elementos de funda e de adorno na sondagem 1, e a recolha de um pequeno fragmento de vidro na sondagem 4. Esta distribuição não parece ter, de momento, qualquer tipo de significa-do cultural, sendo necessário conhecer mais sobre o po-voado para definir melhor as áreas funcionais e detectar padrões de comportamentos domésticos.
A leitura da distribuição dos achados pelas qua-tro sondagens evidencia um grande volume de ma-teriais provenientes dos contextos associados à des-truição dos edifícios (cerca de 42% dos fragmentos cerâmicos), se excluirmos obviamente a contabilidade da lixeira identificada na sondagem 1, e a existência de um importante conjunto de materiais relacionados
FERRO
212
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 14 – Distribuição dos achados pelos diferentes níveis arqueológicos
Fragmentos Cossoiros
Artefactos Elementos Artefactos cerâmicos metálicos de adorno líticos
Sond. 1 Superfície 130 0 1 0 0
Destruição generalizada 492 1 5 2 1
Abandono da 3ª fase de ocupação 114 1 1 0 0
3ª fase de ocupação 962 1 6 4 1
2ª fase de ocupação 34 0 1 0 0
Outros 3 0 0 0 0
Total 1735 3 14 6 2 Sond. 2 Superfície 40 0 0 0 1
Destruição generalizada 95 0 4 0 0
Abandono da fase de ocupação 66 0 1 0 0
Outros 1 0 0 0 0
Total 202 0 5 0 1 Sond. 3 Superfície 149 0 0 0 1
Destruição generalizada 341 1 2 0 2
Abandono da 2ª fase de ocupação 24 0 0 0 0
Outros 7 0 0 0 0
Total 521 1 2 0 3 Sond. 4 Superfície 2 0 0 0 0
Destruição 229 1 0 0 0
Abandono 16 0 0 0 0
1ª fase de ocupação 11 0 0 0 0
Outros 11 0 0 0 0
Total 269 1 0 0 0
com a última fase de ocupação, registada em cada área sondada (aproximadamente 14% das cerâmicas, se não contabilizarmos os achados da UE 9), enquanto que para as fases mais antigas a sua representatividade é muito reduzida (cerca de 2,5 %, do mesmo conjunto).
A grande dispersão de materiais pelo nível de abandono dos vários edifícios escavados, parece de-monstrar o bom estado de conservação dos contextos de ocupação doméstica, encontrando-se bem repre-sentada a cultura material da última fase de ocupação identificada neste sítio, ao contrário das duas fases mais antigas que se encontram escassamente caracterizadas.
4.4.1. Recipientes cerâmicos
O processo de remontagem dos muitos frag-mentos recolhidos permitiu identificar o número mí-
nimo de 375 recipientes, sendo que destes foi possível determinar a forma de 108 vasos, oito dos quais com o perfil integralmente reconstituído.
A nossa amostra é constituída por fragmentos de 314 recipientes da categoria das cerâmicas ditas de uso comum, 38 de cerâmica cinzenta, um “bar-ril ibérico” e uma lucerna, perfazendo 354 recipientes de provável produção local/regional, tendo em con-ta os dados arqueométricos. Fazem ainda parte desta amostra doze vasos de “paredes finas”, oito de cerâmi-ca campaniense e um de lucerna, todos de aparente produção exógena.
Tal como no sítio do Monte da Pata 1, foram seleccionadas, para o Castelo das Juntas, amostras de 34 recipientes cerâmicos para proceder ao estudo da composição química das suas pastas e analisar as res-pectivas temperaturas de cozedura.
FERRO
213
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.4.1.1. Elementos técnicos da produçãode recipientes cerâmicos
4.4.1.1.1. Fabricos
A análise macroscópica das pastas, efectuada ao conjunto de 354 recipientes de cerâmica de provável produção local/regional (NMRPLR), resultou na in-dividualização de sete fabricos distintos.
O Fabrico 1 é uma pasta de textura grosseira, que foi utilizada na modelação manual de recipientes. Tem abundantes enp’s carbonatados e de quartzo, de distribuição na pasta média a forte e de tamanhos en-tre 1 e 3mm. Para além destes, observou-se igualmente a presença de mica, de xisto e de minerais negros de frequência ocasional.
Predominam as cozeduras redutoras272 e o trata-mento de superfícies mais utilizado foi o alisamento273.
Nove dos quinze recipientes produzidos com esta pasta são formas fechadas, os restantes não foi possível determinar.
O Fabrico 2 corresponde a uma pasta de tex-tura homogénea, utilizada, igualmente, na modelação manual de recipientes. Apresenta enp’s carbonatados e quartzo, de frequência escassa a moderada, de dis-tribuição fraca a média e com tamanhos inferiores a 1mm (e ocasionalmente entre 1 e 3 mm). Tem ainda mica e chamotte ocasionais.
Neste conjunto predominam as cozeduras redu-toras274 e o único tratamento de superfícies utilizado foi o alisamento.
Dos 14 recipientes documentados com esta pas-ta, apenas 1 corresponde a uma forma aberta.
A pasta do Fabrico 3, tal como as anteriores, as-socia-se a cerâmicas de modelação manual. Apresenta abundantes enp’s de xisto, de distribuição elevada e ta-manhos entre 1 e 3mm.
Neste fabrico estão documentados apenas dois recipientes, sendo ambos de cozedura redutora e com um aspecto metálico.
O Fabrico 4 corresponde a uma pasta de textura grosseira, usada na produção de recipientes a torno. Tem abundantes enp’s carbonatados e quartzo, de distribuição média a forte, e tamanhos entre 1 e 3mm (alguns deles inferiores a 1 mm e ocasionalmente entre 3 e 5 mm). Apresenta ainda mica, minerais negros, xisto e chamot-te ocasionais e em alguns recipientes ocorrem vazios na pasta, muito provavelmente devidos à combustão de ma-térias de origem orgânica, nomeadamente vegetal.
Neste conjunto predominam as cozeduras redu-toras275 e o tratamento de superfícies mais utilizado foi o alisamento276. Do ponto de vista morfológico estão documentadas 11 formas abertas e 63 fechadas, os restantes 49 fragmentos não permitiram qualquer afe-rição morfológica.
O Fabrico 5 caracteriza-se pela pasta de textu-ra homogénea utilizada na modelação de recipientes a torno. Tem enp’s carbonatados, de quartzo e de mica, de frequência escassa a moderada e de distribuição na pasta fraca a média com tamanhos entre 1 e 3mm. Apresenta ainda chamotte, xisto e minerais negros oca-sionais.
No Fabrico 5 predominam as cozeduras reduto-ras277 e o tratamento de superfícies mais utilizado foi feito com a aplicação de engobes278. Dos 137 recipien-tes identificados com este fabrico, 66 são de formas fechadas e 33 de formas abertas, dos restantes não foi possível aferir morfologias.
O Fabrico 6 é uma pasta de textura densa, utili-zada na modelação a torno. Tem escassos enp’s de mica e carbonatados, de distribuição fraca, e tamanho infe-rior a 1mm.
As cozeduras melhor representadas são as redu-toras279 e o tratamento de superfície mais usado foi a aplicação de engobes280. Estão documentados 8 reci-pientes fechados e 9 abertos. Os restantes 4 têm forma indeterminada.
O Fabrico 7 é uma pasta de textura arenosa, fri-ável, utilizada na modelação a torno. Tem abundan-tes enp’s de quartzo e carbonatados, com tamanhos
272 11 recipientes com cozedura redutora/oxidante; 2 com cozedura redutora e 2 com oxidante.273 8 recipientes com alisamento; 1 com engobe; 1 com as superfícies rugosas e 5 com as superfícies porosas.274 7 recipientes com cozedura redutora; 3 com cozedura oxidante e 4 com cozedura redutora e arrefecimento oxidante. 275 62 recipientes com cozedura redutora/oxidante; 17 com cozedura redutora e 44 com oxidante.276 39 recipientes com alisamento; 2 com aguada; 32 com engobe e 50 com as superfícies porosas.277 28 recipientes com cozedura redutora; 59 com cozedura redutora e arrefecimento oxidante e 50 com cozedura totalmente oxidante. 278 48 recipientes com alisamento; 54 com engobe; 1 brunido; 3 com aguada e 31 têm as superfícies porosas.279 14 recipientes com cozedura redutora; 1 com cozedura oxidante e 6 com cozedura redutora com arrefecimento oxidante.280 1 recipiente com alisamento; 2 brunidos; 12 com engobe e 6 têm as superfícies porosas.
FERRO
214
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Gráfico 1 – Distribuição do NMRPLR por fabrico e por sondagem
Gráfico 2 – Distribuição percentual do NMRPLR comum por tipo de cozedura.
Gráfico 3 – Tratamento das superfícies
entre 1 e 3mm (e ocasionalmente entre 3 e 5 mm), e distribuição média a forte. A exemplo do Fabrico 4, encontraram-se alguns vazios na pasta.
Neste conjunto predominam, à semelhança de todos os outros, as cozeduras redutoras281 e dos dez va-sos identificados com esta pasta, oito têm as superfícies porosas, um está alisado e o último tem vestígios de aguada.
As morfologias correspondem a cinco recipientes fechados e os restantes cinco a forma indeterminada.
4.4.1.1.2. As Formas
Após a observação dos elementos morfológicos dos recipientes, cuja reconstituição (total ou parcial) foi possível efectuar e representar graficamente, or-ganizou-se uma tabela de formas dividida em quatro grandes grupos: cerâmica manual; cerâmica comum de modelação a torno; grandes contentores de modelação a torno e cerâmica cinzenta de modelação a torno. Os vasos de “paredes finas”, as cerâmicas campanienses, as lucernas e o barril foram tratados separadamente e de acordo com a respectiva categoria.
4.4.1.1.2.1. Cerâmica manual
A cerâmica manual representa apenas 9% das produções registadas, tendo sido identificadas cinco formas, correspondendo todas a recipientes fechados.
281 1 recipiente com cozedura redutora; 5 com cozedura redutora e arrefecimento oxidante e 4 com cozedura oxidante.
FERRO
215
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Gráfi co 4 – Representação percentual dos grupos cerâmicos
UE
Formas Formas Lucerna
IND Totais %
fechadas abertas Sup. 3 0 0 3 6 1,69% Sond. 1 124 30 0 89 24 368,65% Sond. 2 14 4 0 6 24 6,78% Sond. 3 21 14 1 13 49 13,84% Sond. 4 13 6 0 13 32 9,04% Totais 175 54 1 124 354 100,00%
Sup. 3 0 0 3 6 1,69% Sond. 1 124 30 0 89 24 368,65% Sond. 2 14 4 0 6 24 6,78%
Sup. 3 0 0 3 6 1,69% Sond. 1 124 30 0 89 24 368,65% Sond. 2 14 4 0 6 24 6,78%
Tabela 15Distribuição do NMRPLRpor sondagem
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, de pe-quena dimensão, com cerca de 8 cm de diâmetro de abertura. Tem o perfi l em “S” contínuo, o colo curto e estrangulado, o bordo pouco exvertido, o bojo globu-lar, sendo a base plana e larga.
As suas características morfológicas asseme-lham-se às dos vasos com suave perfi l em “S” continuo da Ermita de Belén282 e à Forma II-B das cerâmicas manuais desse sítio, onde está documentada nos níveis de ocupação datados de pleno século III até meados do II a. C..
Forma II – Recipiente fechado de tamanho va-riável, com diâmetros de abertura entre os 12 e os 21 cm. O colo é curto e estrangulado, o bordo é exvertido
e ligeiramente obliquo, o bojo é ovóide e a base é plana e larga.
Tal como a forma anterior, as suas características aproximam-no da Forma II-B das cerâmicas manuais da Ermita de Belén.
Forma III – Recipiente fechado, tipo pote, de colo alto, do qual arranca uma asa diametral ou de “cesta” de secção sub-circular.
O único fragmento recolhido é muito pequeno, impossibilitando a reconstituição do perfi l do vaso. No entanto, deverá aproximar-se dos perfi s conhecidos para este tipo de recipiente, os quais se caracterizam, genericamente, por serem formas fechadas de perfi l em “S” contínuo e de base plana, que tanto aparecem em produções manuais, como a torno, à semelhança do que se verifi ca no Monte do Judeu 6.
Encontram-se vasos com este tipo de asa no ní-vel III de ocupação do Altar pré romano de Capote, com uma cronologia situada entre o século IV e me-ados do II a.C. (Berrocal-Rangel, 1994:175) e na Er-mita de Belén, com a Forma IV das cerâmicas de coze-dura oxidante, presente no nível IV, correspondente à fase III de ocupação do sítio, cronologicamente datada de pleno século III até meados do II a. C. (Rodríguez Díaz, 1991:54-55).
Segundo Berrocal-Rangel283, este tipo de sus-pensão pode localizar-se em povoados meridionais dos séculos VI e V a.C. como Casulo, Colina de los Quemados ou Tejada la Vieja (Berrocal-Ran-gel,1994:174; idem,1992: 97). Encontra-se igual-mente presente em algumas necrópoles do Alentejo,
282 “(...) a parte superior do recipiente - bordo e colo - é muito curta relativamente à inferior, ainda que nem sempre se verifi que esta circunstância. O corpo é mais ou menos globular estreitando-se para o fundo. Este pode ser plano ou com pé saliente (...). Dentro das características gerais que defi nem esta forma podem estabelecer-se distintos sub tipos e variantes (...) podem apreciar-se diferenças entre aqueles recipientes que têm um diâmetro em torno dos 20 cm, ou mais, e aqueles cujo o diâmetro oscila entre os 8 e os 12 cm. ” (Rodrí-guez Díaz, 1991: 42,fi g. 13;p. 43).283 “No entanto, as asas de cesta conhecem-se também no Norte, onde são especialmente abundantes, desde épocas similares e com uma larga perduração que permite encontra-las em grande número entre as cerâmicas numantinas. O nexo geográfi co fi ca estabelecido por alguns exemplares procedentes da necrópole de El Raso de Candeleda e Las Cogotas, Ávila.” (Berrocal-Rangel, 1992:97).
FERRO
216
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.127 – Formas manuais, a torno abertas e cerâmicas cinzentas
FERRO
217
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
designadamente, na necrópole da Fonte Santa ( Ou-rique) datada, por Caetano Beirão, do século VI a. C. (Beirão, 1986: fig.18-19).
A sua presença está atestada também no Cas-tro de la Muela, Alcazaba de Badajoz (Almagro--Gorbea,1994:178, fig.18, n.º4) e em Cancho Roano, no nível II do Corte Norte (Celestino Pérez; Jiménez Ávila, 1993:180, fig.71, n.º 2).
No conjunto dos sítios afectos ao Bloco 9 do Al-queva, estes elementos de suspensão encontram-se re-presentados no Monte das Candeias 3, Monte da Pata 1 e Monte do Judeu 6.
Forma IV – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 16 cm, de colo alto, quase direito, e bordo ligeiramente exvertido na continuação do colo.
Uma certa tendência do bordo para a verticalida-de aproxima estes recipientes da variante A da Forma II das cerâmicas manuais de Bélen (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43), presente em níveis datados de pleno século III até meados do II a. C. Esta variante está igualmente re-presentada no Monte da Pata 1, com recipientes muito idênticos aos das Juntas e no Monte das Candeias 3 e Estrela 1 em recipientes mais volumosos.
Forma V – Recipiente fechado, com 20 cm de diâmetro de abertura. O colo é estrangulado, o bordo oblíquo e o bojo globular.
Como as Formas I e II, este recipiente apresenta semelhanças morfológicas com a variante B da Forma II das cerâmicas manuais de Bélen (Rodríguez Díaz, 1991: 42-43). Com algumas diferenças ao nível do bordo, esta variante, está igualmente representada no Monte das Candeias 3, Estrela 1, Monte do Judeu 6 e Monte da Pata 1.
4.4.1.1.2.2. Cerâmica a torno
A cerâmica a torno representa 66% das produ-ções cerâmicas, sendo a grande maioria (106 exem-plares) constituída por recipientes fechados284. Os Fabricos 4 e 5 são aqueles que se encontram melhor representados com 172 e 171 exemplares respectiva-mente. No que diz respeito às formas, foram identifi-cadas dezasseis, dez relativas a recipientes fechados e seis a recipientes abertos.
4.4.1.1.2.2.1. Formas fechadas
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, de ta-manho variável, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 20 cm, de colo curto e estrangulado, bordo sua-vemente exvertido, corpo de tendência periforme ou globular, sendo a base ligeiramente côncava.
As suas características morfológicas aproximam este recipiente da Forma II-B das cerâmicas a torno toscas da Ermita de Belén, documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III até meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:49-51). Está igual-mente presente no Monte das Candeias 3, Estrela 1 e Monte da Pata 1.
Forma II – Recipiente fechado, tipo pote, com diâmetro de abertura entre os 16 e os 18 cm, de colo médio/alto estrangulado, bordo exvertido na continu-ação do colo.
Esta forma apresenta algumas semelhanças à Forma III das cerâmicas de cozedura oxidante da Ermita de Belén, documentada nos níveis III e IV, e com cronologia do século III–II a.C. (Rodríguez Díaz, 1991:54-55).
Forma III – Recipiente fechado, tipo cântaro, com diâmetro de abertura de 12 cm. Tem o colo alto e direito tipo gargalo, e bordo curto, ligeiramente exver-tido e espessado. Apresenta duas asas de secção em fita, que arrancam do colo logo abaixo do bordo.
Forma IV – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura de 12 cm, de colo curto, estrangulado e bordo invertido.
Forma V – Recipiente fechado de perfil em “S” contínuo, com 12 cm de diâmetro de abertura, com o colo curto, ligeiramente estrangulado e bordo exvertido. Poderá enquadrar-se na Forma II-B das ce-râmicas a torno toscas da Ermita de Belén, tal como os exemplares da Forma I desta tabela.
Cerâmica manual Forma UE NMR
Sondagem 1 I 28 1 II 9 1 III 218 1 IV 9 2 Sondagem 2 II 44 1 IV 31 1 V 72 1 Sondagem 3 I 90 1
Tabela 16 – Distribuição do NMRPLR por forma e por UE (cerâmica manual)
284 Dos 232 recipientes modelados a torno, 106 são fechados, 35 são abertos e os restantes não foi possível aferir.
FERRO
218
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.128 – Formas fechadas
Forma VI – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 16 e os 18 cm, de colo curto, es-trangulado, e bordo sinuoso, formando uma reentrân-cia interna, muito provavelmente para encaixar uma tampa.
Forma VII – Recipiente fechado, tipo pote, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 22 cm, de colo curto e estrangulado, bordo obliquo e alongado, e bojo com tendência globular.
À semelhança das Formas I e V, esta, poderá cor-responder também à Forma II-B das cerâmicas a torno toscas da Ermita de Belén.
Forma VIII – Recipiente fechado, tipo pote, com 17 cm de diâmetro de abertura, com o colo estrangula-do, bordo curto e ligeiramente oblíquo, com estrangu-lamento interior para apoiar uma tampa.
Forma IX – Recipiente fechado, tipo pote, com diâmetro de abertura entre os 12 e os 17 cm, de colo alto, direito e bordo em aba.
Esta Forma apresenta alguma correspondência morfológica, ao nível do colo e do bordo, com a Forma XII das cerâmicas de cozedura oxidante, documenta-da na Ermita de Bélen (Rodriguez Diaz, 1991:56-57) no entanto, algumas dúvidas persistem uma vez que se trata de um único recipiente e se desconhece o seu desenvolvimento em profundidade.
Forma X – Recipiente fechado, com diâmetro de abertura entre os 14 e os 23 cm, de colo estrangulado e bordo exvertido.
4.4.1.1.2.2.2. Formas abertas
Forma I – Recipiente aberto, tipo tigela, com di-âmetro de abertura entre os 8 e os 22 cm, corpo de tendência hemisférica, bordo redondo e base estreita, com pé em anel.
Esta forma é comum nos conjuntos da 2ª meta-de do Iº milénio, nomeadamente, na Ermita de Belén, onde corresponde à Forma X das cerâmicas de coze-dura oxidante, representando cerca de 40% das produ-ções desse grupo.
Encontra-se bem documentada nos níveis III e IV, com cronologias de pleno século III até meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:57 e 59). Em Capote, corresponde à Forma X, com cronologias em torno do século IV-III a.C. (Berrocal-Rangel, 1994:168-171, fig. 59).
Forma II - Recipiente aberto, tipo tigela, com diâmetro de abertura de 16 cm, corpo de tendência hemisférica, bordo redondo e base larga, com pé em anel.
Forma III – Recipiente aberto, com 25 cm de diâmetro, o bordo é espessado externamente e tem um sulco no topo para encaixe de tampa. As paredes são praticamente oblíquas à base, com apenas um li-geiro arqueamento, mais visível no interior. A base tem cerca de 20 cm de diâmetro, sendo ligeiramente côncava.
Forma IV – Recipiente aberto, do tipo alguidar, com 44 cm de diâmetro de abertura, com o corpo de tendência hemisférica e bordo espessado externamen-te. Tem uma ligeira constrição na ligação do bordo com as paredes, dando a ilusão, pelo lado externo, de ter um pequeno colo direito, originando uma aparên-cia sub-circular à secção do bordo.
A Forma IV tem elementos comuns à Forma III-B das cerâmicas a torno toscas de Belén, onde
FERRO
219
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 17Distribuição do NMRPLR por forma e por UE(Cerâmica a torno)
Torno fechadas Torno abertas Forma UE NMR Forma UE NMR
Sondagem 1 I 9 1 I 9 4
117 2 V 8 1
173 1 VI 2 1
273 1 9 5
II 8 1
9 1
14 1
62 1
III 17 1
IV 9 1
VI 9 1
218 1
VII 9 4
IX 9 1
195 1
X 9 2
48 1
Sondagem 2 I 44 1 VI 27 1
II 59 1
142 1
Sondagem 3 V 113 1 I 63 1
VI 119 1 119 1
VIII 63 1 182 1
X 136 1 II 119 1
III 119 1
IV 119 1
VI 119 1
Sondagem 4 II 283 1 I 193 1
IX 263 1 241 1
251 1
285 “Vaso aberto, geralmente, grande. O bordo é sempre saliente ou exvertido e o diâmetro de boca pode alcançar até aos 45 cm, se bem que podem existir exemplares mais pequenos. Segundo as suas proporções poderiam ser considerados como possíveis “alguidares” ou “caçoilas”.
está bem representada no nível IV285 (Rodriguez Diaz, 1991:49-51).
Forma V – Recipiente aberto, com cerca de 30 cm de diâmetro, de paredes quase verticais e bordo es-pessado internamente.
Forma VI – Recipiente aberto, do tipo tigela, com diâmetro de abertura entre os 13 e os 28 cm, o corpo tem tendência tronco-cónica.
4.4.1.1.2.3. Grandes contentores
Os grandes contentores de armazenagem consti-tuem uma categoria habitualmente bem representada em todos os sítios de habitat do mundo indígena do Sudoeste, tendo sido o meio de armazenagem mais importante destas comunidades (Fabião, 1998:61).
Às diferentes dimensões e espessuras destes
FERRO
220
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.129 – Formas dos grandes contentores
grandes recipientes devem corresponder distintos conceitos de armazenagem, uma vez que estes diver-sos tipos coexistiram no mesmo espaço e no mesmo período de tempo. Os mais antigos exemplares re-montam ao século V a.C., não havendo indícios de que a sua produção tenha ultrapassado o século II a.C., (ibidem).
A associação deste tipo de recipiente a decora-ções estampilhadas é visto tradicionalmente como um dos mais claros indícios da “celticidade” das popula-ções meridionais (idem: 80).
286 Apesar de se observar uma certa analogia morfológica, ao nível da secção do bordo, entre um ou dois exemplares destes grandes reci-pientes e alguns tipos de ânforas ibero-púnicas, esta, não parece ter qualquer expressão representativa.
No conjunto em análise estes recipientes repre-sentam apenas 5% dos vasos documentados e os pou-cos fragmentos encontrados com decoração estampi-lhada pertencem a bojos, não se conhecendo, por esse motivo, a morfologia dos vasos que as suportavam.
Ao que tudo indica, no povoado das Juntas, os grandes recipientes, a par dos potes de menor dimen-são, são os contentores preferidos para o transporte e armazenamento doméstico de alimentos, não tendo sido identificados, até ao momento, quaisquer estru-turas de silos ou fragmentos de ânforas286.
FERRO
221
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Do conjunto total, foram identificadas seis for-mas de grandes contentores, sendo duas referentes a recipientes abertos e as restantes a vasos fechados.
4.4.1.1.2.3.1. Formas fechadas
Forma I – Recipiente fechado de grande capa-cidade, com 23 cm de diâmetro de abertura. O colo é alto e ligeiramente invertido e o bordo é exvertido.
Forma II – Recipiente fechado de grande capa-cidade. Tem cerca de 50 cm de diâmetro de abertura, colo estrangulado, bordo de secção semi-circular e o corpo aparenta ter tendência globular.
Forma III – Recipiente fechado de grande ca-pacidade, com 28 cm de diâmetro de abertura. O colo é alto e ligeiramente invertido e o bordo é alongado e exvertido.
Forma IV – Recipiente fechado de grande capa-cidade, com 29 cm de diâmetro de abertura. O colo é estrangulado, o bordo é enrolado e o corpo aparenta ter tendência globular.
4.4.1.1.2.3.2. Formas abertas
Forma I – Recipiente aberto de grande capa-cidade, com 48 cm de diâmetro de abertura. O colo é curto e ligeiramente invertido, o bordo é de secção semi-circular e o corpo tem uma certa tendência para a verticalidade.
Forma II – Recipiente aberto de grande capa-cidade, com 43 cm de diâmetro de abertura. O colo é curto e ligeiramente estrangulado, o bordo é exvertido na continuação do colo e o corpo tem uma certa ten-dência para a verticalidade.
4.4.1.1.2.4. Cerâmica cinzenta
4.4.1.1.2.4.1. Formas fechadas
Forma I – Recipiente fechado, tipo pote, com 16 cm de diâmetro de abertura, com o colo alto e direito, bordo em aba e espessado.
Forma II – Recipiente fechado, tipo pote, com 16 cm de diâmetro de abertura, com o colo curto e estrangulado, o bordo curto, pouco exvertido e o bojo tem tendência globular.
Forma III – Recipiente fechado, tipo pote, com 13 cm de diâmetro de abertura, com o colo médio-alto, ligeiramente estrangulado e bordo pouco exvertido na continuação do colo.
4.4.1.1.2.4.2. Formas abertas
Forma I – Recipiente aberto, tipo tigela, com di-âmetro de abertura entre os 15 e os 32 cm, e com o corpo de tendência hemisférica.
A forma I é uma das formas mais frequentes, nos conjuntos da 2ª metade do Iº milénio, designadamente,
Tabela 18 – Distribuição do NMRPLR por forma e por UE (grandes contentores)
Grande contentor fechado Grande contentor aberto Forma UE NMR Forma UE NMR
Superfície IV 0 1
Sondagem 1 I 295 1
II 9 1
218 1
IV 173 1
196 1
Sondagem 2 II 142 1
III 143 1
IV 53 1
143 1
Sondagem 3 IV 119 2 I 88 1
II 204 1
Sondagem 4 I 251 1
FERRO
222
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 19 – Distribuição do NMRPLR por forma e por UE (cerâmica cinzenta)
na Ermita de Belén onde representa quase 50% das cerâmicas a torno cinzentas. Corresponde à Forma IV das cerâmicas cinzentas, encontrando-se bem docu-mentada nos níveis III e IV, para os quais é sugerida uma cronologia de pleno século III a meados do II a.C. (Rodriguez Diaz, 1991:p.62 e 65).
Forma II – Recipiente aberto com 16 cm de diâ-metro de abertura e com o corpo de tendência tronco--cónica.
4.4.1.1.2.5. Vasos de “paredes finas”
Trata-se de um conjunto constituído por 12 vasos incompletos, dos quais, na maioria das vezes, só existe a base. As pastas, apesar de depuradas, têm escassos elementos de quartzo (com tamanhos infe-riores a 1 mm) e os engobes encontram-se bastante desgastados.
Sete dos vasos são provenientes da sondagem 1, mais concretamente da lixeira existente no exterior da muralha e na entrada norte (UE 9), que está associada à utilização daquela área do povoado, durante a tercei-ra fase de ocupação; de um depósito relacionado com o abandono temporário deste sector (UE 273); e de dois depósitos interpretados como derrubes de paredes (UEs 201 e 202), nos quais se misturaram materiais arqueológicos.
Os restantes vasos são provenientes da sonda-gem 4, especificamente da UE 241 (n.ºs 335; 459 e 500), que correspondem ao derrube das paredes do edifício 7 sobre o piso do compartimento 6, e da UE 285 (n.ºs 535; 540 e 559), que consiste num depósito associado ao abandono do ambiente existente a norte do muro 27.
Estão presentes as formas IIB (n.º 535); IIIB (n.ºs 162, 459); III (n.º 500) e VIIIC (n.º 559) de Mayet, datadas em torno dos séculos II-I a.C.. Os re-cipientes números 76; 335; 540; 562 e 581 poderão corresponder a bases da Forma 2, tendo sido agrupadas
Figura 4.130Cerâmicas finas
Cinzentas fechadas Cinzentas bertas Forma UE NMR Forma UE NMR
Sondagem 1 II 206 1 I 174 1
201 1
II 9 1
Sondagem 2 I 77 1
Sondagem 3 I 119 1 I 119 1
apenas pela sua forma geral, sem recorrer à variante, uma vez que a sua atribuição é duvidosa por só estar conservada a base do recipiente.
4.4.1.1.2.6. Cerâmica campaniense
As cerâmicas campanienses encontram-se em muito mau estado de conservação, estando o engobe negro muito degradado ou sendo mesmo inexistente. Às reduzidas dimensões dos fragmentos, acresce a di-ficuldade em determinar algumas das formas.
O conjunto é constituído por fragmentos de oito vasos: um foi recolhido durante os trabalhos de desma-tação junto à área da sondagem 2; cinco são da son-dagem 1, tendo sido encontrados na lixeira (UE 9), no contexto de derrube interno da muralha (UE 14), no seu derrube externo (UE 17) e num contexto associado à queda de outras construções (UE 201); e dois são da
FERRO
223
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
sondagem 2, nomeadamente da UE 31 (depósito re-lacionado com a destruição do edifício 3) e da UE 44 (depósito de abandono do compartimento 2 (edifício 3).
Os fragmentos encontrados têm as pastas de-puradas com elementos de calcário e mica finíssimos, sendo o verniz negro. Todos os exemplares são de campaniense B-Óide (Morel, 1981), com produções a torno datadas do século II-I a.C., para exemplares etruscos de Campaniense B.
4.4.1.1.2.7. “Barril Ibérico”
Forma I – Recipiente fechado, do tipo barril, com diâmetro de abertura de 15 cm. Tem o colo alto e com uma leve inclinação para o exterior, o bordo de-
Figura 4.131 – Cerâmica campaniense
senvolve-se no seu prolongamento. Este exemplar tem duas asas de secção sub-circular, postas sobre o bojo e paralelas ao bordo. O bojo tem tendência cilíndrica e deveria ser fechado em ambas as extremidades, uma vez que o bordo é lateral.
O barril é proveniente da sondagem 2, mais con-cretamente da UE 59 (depósito associado à destruição do edifício 3) e poderá integrar-se no Tipo 3 - bar-ril de boca central, com caneluras laterais e asas sobre as mesmas - da tipologia definida por Fletcher Valls (Fletcher Valls, 1957:138).
Contentores do mesmo tipo estão documenta-dos em Castillico de las Peñas, Fortuna (Murcia), sítio datado do século IV a. C.; em El Tossalet, Bélgida (Va-lência), que Perales data do século III a. C. e ainda, em La Bastida de les Alcuses, Mogente (Valência) tam-bém do século IV a. C. (idem, p. 122-123; 145-147).
No território actualmente português encontra-mos paralelos para o nosso recipiente, no exemplar do Castro de Segóvia, Elvas (Gamito, 1983: 200).
4.4.1.1.2.8. Lucernas
Nos trabalhos realizados, identificaram-se dois fragmentos de lucernas, sendo uma delas proveniente da superfície da sondagem 1 (UE 2) e a outra oriunda de um contexto de destruição dos edifícios 4 e 5 (UE 119).
O primeiro exemplar tem apenas o bico conser-vado, pelo que não é possível obter qualquer informa-ção quanto à sua forma ou à cronologia da mesma.
Figura 4.132 – Barril das Juntas in situ e barris de Vaiamonte, Azougada e Segóvia
FERRO
224
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.133 – Lucerna
Quanto à lucerna da sondagem 3, encontra-se ausente a metade onde eventualmente existiria o bico. Pelas suas características pode dizer-se que se trata de um recipiente aberto, com asa, e de provável produção local (Fabrico 5), cuja morfologia lembra exemplares orientais.
4.4.1.1.3. Decoração
No que diz respeito à decoração dos recipientes cerâmicos, distinguiram-se três técnicas decorativas e duas variantes: impressão com matriz e com roleta; in-cisão por traços e linhas; pintura. Todos os exemplares decorados foram produzidos a torno e são, pratica-mente, todos fragmentos de bojo.
A técnica decorativa mais representada é a in-cisão (50% dos recipientes decorados). Assim, na va-riante de incisão por traços, está presente o tipo 7.10 (“ângulos e triângulos inversos”), definido por Berrocal -Rangel para o Altar pré-romano de Capote, com cro-nologia em torno do século IV-III a. C. para exempla-res manuais.
Já na variante de incisão por linhas, encontra-se o tipo 7.12 de Capote (“aspas ou reticulados em “X”), com cronologia idêntica à anterior. Com a mesma técnica, estão igualmente representados motivos serpenteados, em fragmentos recolhidos na UE 9, de tradição antiga.
Dentro deste grupo das incisões, existe ainda um fragmento recolhido na UE 114, com decoração incisa,
Gráfico 5 – Distribuição do NMRPLR por tipo de decoraçãoe por sondagem
oblíqua paralela, do tipo 7.3 de Capote, cuja cronolo-gia aponta para o século V-III a. C. e para recipientes manuais.
Nas decorações impressas, estão representadas aquelas que foram feitas com matriz individual fixa, normalmente designada de estampilha, e aquelas que foram feitas a partir de uma matriz, que rola sobre a peça criando motivos diversificados, normalmente de-signada de roleta.
As primeiras são de tradição mais antiga, estan-do normalmente associadas aos grandes contentores de armazenagem, e têm uma cronologia situada em torno dos séculos IV-III a. C..
O segundo conjunto é mais tardio e surge fre-quentemente associado às cerâmicas a torno cinzentas, como é o caso das Juntas. As cronologias para estas de-corações rondam o século I a. C.. Desta forma, existem exemplares idênticos no Castelo da Lousa ou em Vaia-monte (Berrocal-Rangel, 1990: 111-112; idem, 1992: 118-119, 308- 311; Fabião, 1998: vol. 2: 99- 100; vol.3: estampa 58).
Os recipientes com pintura são todos de Fabrico 5, com cozedura oxidante ou redutora com arrefecimen-to oxidante. Deste conjunto, três fragmentos pertencem a formas fechadas, tendo sido recolhidos nas UE’s 225, 247 e 273; um faz parte de uma forma aberta, recolhida na lixeira da sondagem 1 (UE 9); e as restantes são inde-terminadas (fragmentos recolhidos na UE 9).
O único motivo representado é a banda de cor vermelho escuro, que está presente em Capote, quer em formas abertas, quer em formas fechadas, corres-pondendo ao tipo 8.1 (“pintadas monocromas em ver-melho”). Segundo o mesmo autor, este tipo de deco-ração surge em contextos de finais do século II a. C..
FERRO
225
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.134 – Cerâmica decorada
4.4.2. Distribuição estratigráfica
4.4.2.1. Sondagem 1
Como já foi referido, a maioria dos materiais ar-queológicos é oriunda deste sector do povoado. Este facto tanto pode ser explicado pela existência de uma lixeira, que continha uma grande quantidade e diversi-dade de materiais, como por ser a maior área interven-cionada, na qual foram identificados os vestígios de, pelo menos, dois edifícios de natureza doméstica.
Nos depósitos de superfície, ou seja, aqueles que se formaram após a destruição generalizada das cons-truções e que apresentam sinais da lavoura e intrusões de raízes de esteva, recolheu-se aproximadamente 7% do conjunto de achados. Deste reduzido conjunto, destaca-se apenas a presença descontextualizada de um pequeno fragmento de lucerna, obtido na UE 2.
4.4.2.1.1. Fase de ocupação 3
A terceira fase de ocupação caracteriza-se essen-cialmente pela utilização dos edifícios 2 e 6 e pela lixei-ra formada no exterior do povoado e na entrada norte (UE 9).
É exactamente dessa lixeira que é proveniente a maior quantidade de materiais arqueológicos da sonda-gem (cerca de 29%), bem como, a maior diversidade de recipientes cerâmicos e a maior concentração de objec-tos que denotam já um contacto com o mundo romano, como as moedas, os elementos de funda e mesmo o anel.
Quase todo o conjunto apresenta vestígios de fogo pós-deposicional, uma situação que só reforça a sua interpretação como depósito de despejo de lixos domésticos, dada a necessidade de se proceder à queima dos detritos de tempos a tempos, para evitar a propa-gação de insectos, maus cheiros e obviamente doenças.
Os materiais aqui recolhidos para além de uma grande diversidade morfológica, apresentam igual-mente uma amplitude cronológica mais lata do que aquela que se pode aferir dos materiais obtidos no interior do povoado. Assim, estão presentes pratica-mente todas as formas identificadas e são provenientes desta unidade, os materiais com cronologia mais anti-ga, que correspondem a fragmentos de bojo de gran-des recipientes de armazenagem, um com estampilhas cruciformes e o outro com decoração incisa com mo-tivo geométrico. Esta gramática decorativa, associada a este tipo de recipientes, é frequente nos povoados do sudoeste peninsular, encontrando-se paralelos em Vaiamonte e Capote, em exemplares datados dos sé-
FERRO
226
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.135 – Recipientes cerâmicos recolhidos na lixeira
FERRO
227
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
culos IV-III a.C. (Berrocal-Rangel,1994; Fabião,1998: vol. 3, est.63).
Embora a lixeira seja um contexto se-cundário e constitua um evidente palimpses-to de materiais arqueológicos, com proveni-ências bem diferentes, não deixa de ser uma realidade muito representativa da última fase de ocupação do povoado.
Com a mesma importância contextu-al, recolheram-se dois recipientes cerâmi-cos, praticamente completos (Forma I das cerâmicas de modelação a torno), sobre o pavimento do compartimento 9, e outro re-cipiente cerâmico, fragmentado in situ, sobre o pavimento do compartimento 8. Se os dois primeiros estão associados somente a um fragmento de campaniense B-óide, o ter-ceiro vaso pode estar relacionado com mais dois recipientes, também praticamente com-pletos, recolhidos no segmento superior dos derrubes das paredes do edifício 6.
No solo de ocupação (UE 218), forma-do sobre o pavimento 13 e a UE 273 (de-pósito de abandono onde se encontrou um fragmento de “paredes finas”, alguma escória e um recipiente fechado da Forma I das ce-râmicas modeladas a torno), recolheram-se 25 recipientes cerâmicos, estando presentes algumas das formas de recipientes fechados, nomeadamente, a Forma III das cerâmicas manuais, a Forma VI das cerâmicas a torno e a Forma II dos grande contentores. Des-te depósito foram também recolhidos cinco fragmentos de bojos de vasos de “paredes fi-nas” e dois de campaniense B-óide.
São ainda de assinalar três fragmentos de bojo decorados, um com estampilha com motivo vegetalista, um outro com decoração incisa com motivo geométri-co e por fim um fragmento de bojo de cerâmica cin-zenta com decoração impressa com roleta.
Nos contextos arqueológicos associados à des-truição dos vários edifícios, entre o elevado número de materiais exumados (cerca de 28% do conjunto total), destaca-se a presença de fragmentos de cerâmica cam-paniense B-óide na UE 14 e na UE 245, de um frag-mento de “paredes finas” na UE 245, tal como, de dois elementos de funda na UE 246, por servirem como elementos cronológicos da fase de ocupação, que ante-cedeu o abandono final deste sector do povoado.
Apesar da segunda fase de ocupação caracterizar--se sobretudo pela reestruturação do sistema defensivo, identificou-se, no exterior do povoado, um depósito (UE
48) com 34 fragmentos cerâmicos, entre os quais um recipiente fechado, da Forma I das cerâmicas a torno, e um elemento de funda. A presença deste último objecto terá de ser interpretada com cautela, dado que pode cor-responder a um fenómeno pós-deposicional, podendo a plumbae ter sido perfeitamente arrastada da UE 9.
4.4.2.2. Sondagem 2
A escavação desta sondagem contribuiu para a identificação de um edifício, com pelo menos uma fase de ocupação, e do derrube das suas paredes de terra.
Dos contextos relacionados com a destruição do edifício principal foram recolhidos alguns materiais arqueológicos287, dos quais se destaca o “barril” existen-te sobre o pavimento do compartimento 6, que estava fragmentado in situ, do mesmo modo, nos depósitos
Figura 4.136 – Recipientes cerâmicos associados à 3ª fase de ocupação
FERRO
228
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
associados ao abandono daquela construção obtive-ram-se outros recipientes praticamente completos.
Assim, no compartimento 2, documentou-se um grande contentor de armazenagem fechado, da Forma IV (UE 53) e outros dois recipientes na UE 44 (um correspondente à Forma II das cerâmicas manuais e o outro à Forma I das cerâmicas a torno). Da UE 44, veio também o fragmento de uma cerâmica campa-niense B-óide, embora o seu tamanho reduzido não permita a definição da sua forma.
Da UE 142288 é proveniente um grande conten-tor de armazenagem, com o grafito de um caracter da denominada escrita do Sudoeste, nomeadamente a va-riante número 9 do fonema r, presente numa estela en-contrada em Alcoutim (Untermann, 1997). A repre-sentação de grafitos nas cerâmicas está normalmente associada a contextos tardios como é o caso das Juntas.
No compartimento 3, obteve-se apenas o frag-mento de um recipiente da Forma V das cerâmicas manuais (UE 72), enquanto que sobre o pavimento do compartimento 4 não foram identificados materiais ar-queológicos significativos, com a excepção da base de um recipiente de cerâmica campaniense B-óide (UE 31).
No espaço identificado a noroeste da sondagem, identificaram-se na UE 143 (depósito formado sobre o pavimento 6) dois grandes contentores de armaze-nagem, quebrados in situ, e correspondentes às Formas III e IV dos recipientes fechados.
Figura 4.137 - Recipientes cerâmicos associados à 2ª fasede ocupação
4.4.2.3. Sondagem 3
Os trabalhos arqueológicos realizados no topo do cabeço das Juntas revelaram uma sequência cons-trutiva de três edifícios, merecendo o edifício 4 especial destaque.
Embora os estratos de superfície não apresen-tassem marcas de arado, recolheu-se, nessas camadas, cerca de 28,4% da totalidade de achados da sondagem. Nesse nível estão presentes fragmentos de recipientes cerâmicos correspondentes à Forma I das cerâmicas manuais, às Formas I e VIII das cerâmicas a torno e à Forma VI dos grandes contentores fechados.
4.4.2.3.1. Fase de ocupação 3
A última fase caracteriza-se essencialmente pela construção do edifício 5, pela reformulação arquitectó-nica do edifício 4 e pela ruína destas construções.
A escavação dos derrubes do edifício 4 pôs a des-coberto um conjunto de materiais muito interessante na UE 119 (depósito formado entre o muro 11 e o muro 12). Assim, neste contexto recolheram-se quinze recipientes, onze dos quais podem ser integrados em algumas das formas definidas, 3 encontravam-se prati-camente completos e fragmentados in situ (Formas II e III abertas da cerâmica a torno e uma lucerna ). Des-te modo, o conjunto é constituído por um recipiente fechado da Forma VI e cinco recipientes abertos das Formas I, II, III, IV e VI das cerâmicas a torno; dois grandes contentores fechados da Forma IV; um reci-piente fechado da Forma I e um outro aberto também da Forma I das cerâmicas cinzentas e uma lucerna aberta com asa.
Considerando a hipótese destes vasos pertence-rem ao último momento de utilização do edifício 4, este contexto pode ser datado em torno dos finais do século II e inícios do século I a.C., pois se alguns dos recipientes encontram paralelos em contextos de pleno século III até meados do II a.C., já outros (n.º 292) apontam para cronologias um pouco mais tardias que vão até ao princípio do novo milénio.
Dos depósitos escavados a sul da sondagem e as-sociados ao desmoronamento do edifício 5, destaca-se somente a presença de um recipiente cerâmico per-tencente à Forma III das cerâmicas cinzentas e outro recipiente fechado correspondente à Forma VII dos grandes contentores.
287 Como os dois fragmentos de “paredes finas (UE 27 e UE 59).288 Tem fragmentos que foram recolhidos nas UE’s 21 e 31.
FERRO
230
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.4.2.3.2. Fase de ocupação 2
Se a maioria dos materiais arqueológicos reco-lhidos na sondagem 3 foi encontrada nos contextos de destruição dos edifícios 4 e 5 (aproximadamente 65,5% do conjunto total), sendo naturalmente repre-sentativos da última fase de ocupação desta área do povoado, o conjunto associado à segunda fase de ocu-
Figura 4.139Recipientes cerâmicos recolhidos
na UE 119 (Formas abertas)
pação é bastante mais reduzido (cerca de 4,5% do to-tal) e está limitado à UE 136.
Na área norte da sondagem e sob os derrubes do edifício 4, identificou-se a UE 136, correspondente a um piso de ocupação, de onde são provenientes sete re-cipientes dos quais apenas se destacam dois, cujo o es-tado de conservação permite determinar a forma: um deles corresponde a um recipiente fechado, da Forma
FERRO
231
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ieFigura 4.140 – Recipientes cerâmicos recolhidos na UE 119 (Formas fechadas)
X das cerâmicas a torno e o outro consiste num reci-piente aberto, da Forma I das cerâmicas cinzentas.
4.4.2.4. Sondagem 4
À semelhança da sondagem 2, os materiais reco-lhidos nos depósitos de superfície são muito escassos, concentrando-se a maioria dos achados nos contextos relacionados com a destruição da muralha e do edifício 7 (cerca de 85% do total). Também, tal como nas son-
dagens 1 e 2, recolheram-se alguns materiais de clara influência exógena.
4.4.2.4.1. Fase de ocupação 2
A segunda fase de ocupação caracteriza-se, so-bretudo, pela presença do edifício 7, e possivelmente dos edifícios 8 e 9, bem como, pelo respectivo abando-no dos seus ambientes e consequente desmoronamen-to das construções.
FERRO
232
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.141 – Outros recipientes cerâmicos associados à 3ª fase de Ocupação
Dos depósitos relacionados com a destruição da muralha para o interior do povoado, são provenientes diversos recipientes, mas dos quais apenas quatro têm classificação formal: um recipiente fechado da Forma II da cerâmica a torno; dois são abertos, da Forma I das cerâmicas a torno; e por fim um recipiente aber-to, da Forma I dos grandes contentores. A cronologia atribuída a estes recipientes, sugere que o desmorona-mento deste troço da muralha pode ter ocorrido em torno do século II ou I a. C..
Com a remoção dos derrubes, definiram-se os li-mites do compartimento 6 e identificou-se, na UE 251, uma taça quase completa, sobre a lareira. Também, so-bre o pavimento daquele ambiente, recolheu-se, na UE
241, um recipiente aberto da Forma I das cerâmicas a torno e dois vasos de “paredes finas”, um da Forma III B e o outro da Forma III de Mayet, ambos com cronologia do século I a. C. (Mayet, 1975). Vasos idênticos estão presentes em Santarém (Arruda; Sousa, 2003) e Mesas do Castelinho (Fabião. 1998, vol. 3:estp 99).
No outro lado do muro 27, a UE 285 enquadra--se cronologicamente no mesmo período que as ante-riores, tendo sido recolhidos nela, três vasos de “pare-des finas” com datações em torno de meados do século I a. C..
Contrariamente às realidades do interior do po-voado, os depósitos identificados no lado externo, ape-sar de numerosos, não continham materiais que nos
FERRO
233
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.142 – Recipientes cerâmicos da 2ª fase de ocupação
permitam datar este processo de destruição. Os poucos fragmentos de recipientes recolhidos são demasiado pequenos para se poder aferir formas e o único indi-cador cronológico é um bojo de um vaso de “paredes finas” proveniente da UE 189 sem, contudo, se poder
avançar mais do que uma cronologia provável em tor-no dos séculos II-I a. C. dado que o fragmento parece pertencer a um vaso do período republicano, o que à partida se conjuga com os dados obtidos para os con-textos identificados no interior do povoado.
FERRO
234
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.4.2.4.2. Fase de ocupação 1
Dos depósitos associados a esta fase, destaca-se a UE 291 (formada por baixo do muro 26 e da UE 285), por conter alguma escória de ferro e onze fragmentos de cerâmica.
4.4.3. Elementos de tecelagemAna Jorge
O conjunto de cossoiros do Castelo das Jun-tas caracteriza-se pelo predomínio (3 exemplares em 5) de um tipo, ausente dos conjuntos anteriormente descritos: o tipo bitronco-cónico de cones desiguais e topo ligeiramente convexo com cavidade cónica. Os restantes dois elementos de tecelagem correspondem a um exemplar troncocónico e um outro discóide, ambos com topo plano e perfuração cilíndrica.
A menor heterogeneidade deste conjunto arte-factual revela-se também ao nível das técnicas de mo-delação e cozedura. Com excepção do discóide, que poderá ter sido modelado manualmente, os restantes cossoiros foram provavelmente fabricados por mol-dagem. Assim, dentro dos bitroncocónicos, a diversi-dade de tamanhos revelará a utilização de diferentes moldes.
As cozeduras são sempre redutoras, embora o cossoiro discóide apresente uma coloração superficial bastante heterogénea, sugerindo condições atmosfé-ricas de cozedura inconstantes.
Quanto às pastas, parece verificar-se uma gran-de homogeneidade. Embora não possam ser descritas em pormenor, devido ao bom estado de conservação das peças, as pastas caracterizam-se genericamente por serem moderadamente granulares, compactas, de textura ligeiramente xistosa, com presença moderada de elementos não plásticos de granulometria fina e média, destacando-se a abundância de micas muito finas.
Mais do que considerar isoladamente as ca-racterísticas das pastas dos cossoiros, explorar a sua tecnologia de produção em paralelo com a dos reci-pientes e outros artefactos cerâmicos de uso comum poderá revelar-se particularmente frutuoso para a compreensão do lugar destes artefactos no quotidia-no (e, particularmente, nas actividades de manufactu-ra) das populações da Idade do Ferro. Tal abordagem permitirá estabelecer, por exemplo, se o fabrico de cossoiros ou de tipos específicos dentro desta cate-goria implicam escolhas tecnológicas específicas (ex. fonte de matérias-primas, processo de preparação da
pasta...) ou se, pelo contrário, são o resultado de es-tratégias não normalizadas dependentes da produção de recipientes.
Observando a tabela descritiva dos cossoiros dos sítios em estudo, destaca-se a menor variabilida-de do conjunto do Castelo das Juntas. Embora seja preciso ter em atenção que esta imagem poderá resul-tar, em parte, da desproporção dos dados disponíveis para os diversos contextos, a aparente especificidade morfológica dos exemplares das Juntas deve ser tida em consideração. Refira-se o facto de, nos povoados da Idade do Ferro da vizinha Extremadura, e nome-adamente em Capote (Berrocal-Rangel, 1994), os conjuntos de cossoiros correspondentes à ocupação dos séculos IV a II a. C. se caracterizarem pelo pre-domínio do tipo bitroncocónico/ troncocónico e suas variantes.
No entanto, interpretações cronológicas com base nas características formais dos elementos de tecelagem seriam, à luz das informações disponíveis, necessariamente abusivas. A reconhecida falta de uniformidade dos conjuntos conhecidos no Sudoeste e a raridade dos dados provenientes de contextos ha-bitacionais pré-romanos são limitações acrescidas a uma abordagem cronológica mais precisa.
Relativamente à distribuição espacial dos cos-soiros no Castelo das Juntas, justificam-se algu-mas observações. Em primeiro lugar, os exemplares encontram-se dispersos por diferentes áreas e não concentrados num ambiente definido, como seja um compartimento ou uma habitação. A esta situação acresce o facto de dois dos cossoiros provirem de de-pósitos de formação lenta, acumulados no exterior do povoado, junto às muralhas (UE 9 e UE 282), e não de contextos de utilização/abandono de espaços es-pecíficos. De facto, os cossoiros encontram-se ausen-tes das áreas consideradas habitacionais por excelên-cia: a sondagem 2 e o compartimento 6 da sondagem 4. Em contrapartida, os restantes exemplares surgem nos compartimentos 1 e 8 da sondagem 1, contri-buindo, quando articulado com os restantes achados, para o reconhecimento de uma provável utilização habitacional aos compartimentos adossados a este sector da muralha.
4.4.4. Objectos de adornoAna Jorge
Um dos aspectos que individualiza o espólio do Castelo das Juntas dos restantes sítios estudados no âmbito do Bloco 9 é a presença de elementos de
FERRO
235
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Sí
tio
Nº
UE
E
stad
o D
escr
ição
Mor
foló
gica
Pe
rfur
ação
T
écni
ca d
e fa
bric
o C
ozed
ura
Peso
D
im.
(mm
) Vo
l (cm
3)
Tip
olog
ia
Topo
D
M
Alt
. D
p
Ser
ros V
erde
s 4
29
14
inte
iro
bicó
nico
co
nvex
o c/
cav
. có
nica
m
olda
gem
re
d. irr
egul
ar
14g
29
15
5 13
có
nica
Mon
te d
o Ju
deu
6 20
1
inte
iro
bitr
onco
cóni
co
plan
o có
nica
m
olda
gem
? irr
egul
ar
15g
28
18
5 14
64
22
in
teiro
bi
cóni
co
conv
exo
inco
mpl
eta
man
ual
oxid
ante
43
g 44
22
6
43
Mte
das
Can
deias
3
16
2 in
teiro
bi
cóni
co
plan
o có
nica
m
olda
gem
? re
d. irr
egul
ar
21g
34
20
7 23
13
5 1
frag.
disc
óide
pl
ano
cilín
drica
in
det.
red.
irreg
ular
__
_ 24
18
6
10
Est
rela
1 12
1
inte
iro
bitr
onco
cóni
co
plan
o in
com
plet
a m
olda
gem
ox
. irre
gular
37
g 37
26
6
36
13
1
frag.
bico
nvex
o co
nvex
o có
nica
m
anua
l? irr
egul
ar
___
38
23
5 33
11
0 2
frag.
esfé
rico
conv
exo
cilín
drica
m
anua
l re
d. (h
omog
.) 16
g*
26
23
5 17
12
0 2
inte
iro
disc
óide
cô
ncav
o bi
cóni
ca
man
ual
redu
tora
28
g 39
16
5
24
12
1 2
frag.
disc
óide
pl
ano
cóni
ca
man
ual
redu
tora
__
__
35
15
5 18
Mon
te d
a Pa
ta 1
10
9 3
inte
iro
disc
óide
cô
ncav
o cil
índr
ica
man
ual
redu
tora
11
g 26
15
5
10
17
4 5
frag.
bico
nvex
o cô
ncav
o cil
índr
ica
man
ual?
red.
(hom
og.)
12g*
30
18
5
16
Cas
telo
das
Junt
as
131
79
inte
iro
tron
cocó
nico
pl
ano
cilín
drica
m
olda
gem
re
duto
ra
15g
30
15
6 14
18
1 9
inte
iro
bitr
onco
cóni
co
conv
exo
cóni
ca
mol
dage
m
redu
tora
12
g 30
15
4
14
c/
cav
. cón
ica
32
4 17
7 in
teiro
di
scói
de
plan
o cil
índr
ica
man
ual?
irreg
ular
?
35
20
6 25
50
9 24
6 in
teiro
bi
tron
cocó
nico
co
nvex
o có
nica
m
olda
gem
re
duto
ra
23g*
38
19
5
27
c/
cav
. cón
ica
52
2 28
2 in
teiro
bi
tron
cocó
nico
co
nvex
o có
nica
m
olda
gem
re
duto
ra
14g
32
14
5 14
c/
cav
. cón
ica
Tabe
la 2
0 –
Tabe
la d
escr
itiva
dos
Cos
soiro
s do
s sí
tios
da Id
ade
do F
erro
da
mar
gem
esq
uerd
a do
Gua
dian
a, co
m d
esta
que
para
o c
onju
nto
do C
aste
lo d
as Ju
ntas
(*p
eso
estim
ado)
FERRO
236
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.143 – Exemplos dos elementos de tecelagem (cossoiros e peso de tear) recolhidos nos sítios da Idade do Ferro da margem esquerda do Guadiana
adorno, nomeadamente três contas de colar, um anel e um fragmento muito pequeno de um artefacto em ouro, em forma de gancho, que poderá corresponder à extremidade de um objecto tipo brinco.
As contas de colar são todas diferentes, tanto quanto à morfologia como quanto à matéria-prima. Um dos exemplares corresponde a uma conta bicon-vexa espessa (17,5mm x 9mm) em matéria-prima in-determinada (rocha verde), com perfuração cilíndrica central com 3,2mm de diâmetro. A segunda conta de colar é de pasta de vidro âmbar claro, cilíndrica, com perfuração cónica, e de dimensões muito reduzidas (5mm de comprimento e 5mm de diâmetro). Foi de-corada com pequenas protuberâncias esféricas, des-crevendo duas fiadas ao longo do perímetro externo.
No que respeita ao anel, trata-se de um anel de secção plana, em cobre ou bronze, com incrustação
elíptica de pasta de vidro âmbar transparente, deco-rada com um motivo indeterminado em baixo-relevo.
Todos os elementos de adorno foram recolhi-dos no depósito de lixeira da sondagem 1 (UE 9), no derrube que lhe está imediatamente sobrejacente (UE17), ou no interface entre ambos.
4.4.5. MetaisAna Jorge
Identificaram-se três categorias distintas de elementos metálicos: os artefactos em ferro e cobre/bronze, os elementos de funda em chumbo (glandae plumbae), que, pelas suas características e associação a contextos específicos justificam um tratamento indi-vidualizado, e a escória, que, no Castelo das Juntas, é sempre de ferro.
FERRO
237
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 4.144 – Anel recolhido na UE 17
4.4.5.1. Artefactos metálicos
O Castelo das Juntas forneceu um total de 14 artefactos metálicos, 12 dos quais em ferro, 1 em bronze e 1 em chumbo. À semelhança do que se ve-rificou no Monte da Pata 1, os vestígios correspon-dem maioritariamente a fragmentos de artefactos de classificação indeterminada ou apenas hipotética. As excepções são uma foice em ferro, recolhida em con-texto de lixeira no exterior da muralha, e dois pregos, identificados em contextos de derrube nas sondagens 1 e 2.
Contrariamente ao que sucede com os restan-tes conjuntos artefactuais, um número significativo dos elementos metálicos proveio da sondagem 2, nomeadamente dos ambientes 7 e 13. O mau esta-do de conservação do metal e a inespecificidade dos fragmentos identificados não permitem estabelecer se estamos perante elementos relacionados com a construção do edifício (pregos, escopros etc.) ou se, pelo contrário, estes correspondem a utensilagem de natureza doméstica, agrícola ou outra.
Com excepção de um fragmento de objecto em ferro recolhido na sondagem 3, os restantes exempla-res metálicos são oriundos do contexto de lixeira ou dos derrubes dos segmentos em terra das estruturas da sondagem 1. O único artefacto em chumbo, infe-lizmente de classificação indeterminada, estava inte-grado no solo de ocupação UE 218.
Para os artefactos em ferro de classificação in-determinada é possível, contudo, avançar algumas hipóteses interpretativas. De facto, estes parecem
apresentar alguma diversidade morfológica, desta-cando-se um possível peso de rede de pesca e um ob-jecto para o qual se propôs a classificação de trinco, com base na interpretação avançada para exemplares morfologicamente idênticos do sítio de Capote.
Quanto ao único artefacto em bronze, do qual se conservou apenas um fragmento, as características morfológicas permitem colocar a hipótese de se tra-tar de um elemento de adorno, embora não seja pos-sível precisar a sua tipologia. À semelhança do anel em bronze já referido (vide supra), este exemplar foi recolhido na UE 9.
4.4.5.2. Elementos de fundaAna Jorge
No Castelo das Juntas recolheram-se 6 elemen-tos de funda, todos em chumbo. Apesar de o metal se encontrar muito oxidado (a superfície das glandae encontra-se coberta por uma camada branca mais ou menos espessa), é possível observar a ausência de ins-crições.
Este conjunto caracteriza-se por uma grande homogeneidade morfológica e tecnológica, apesar
Figura 4.145 – Exemplos de artefactos metálicos do Castelo das Juntas
FERRO
238
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
das ligeiras variações ao nível do peso (entre 71 e 59g) e das dimensões, nomeadamente do compri-mento (entre 43 e 35mm). As ranhuras paralelas que se desenvolvem ao longo do comprimento dos projécteis indicam manufactura por moldagem com recurso a molde bífido. Morfologicamente, as glan-dae plumbae do Castelo das Juntas são semelhantes aos exemplares do Castelo da Lousa e de Mértola estudados por A. Guerra (Guerra 1987:170, quadro 2), embora se aproximem mais dos da Lousa no que respeita ao peso e às dimensões. Contudo, os pro-jécteis do Castelo da Lousa foram fabricados por uma técnica de ‘martelagem’ ou ‘placa batida’ (Guerra 1987:167, quadro 1), contrastando com os do Caste-lo das Juntas ao nível dos processos de manufactura.
Digno de nota é o facto de todas as glandae terem sido recolhidas na sondagem 1, três dispersas
Sond. UE Peso (g) % Total
1 2 4 8 6 9 397 10% 206 78 273 30 275 15 Total 530 13.3% 2 39 60 43 6 3 1 28 63 101 82 65 84 50 86 600 14.3% 87 175 88 26 89 9 90 58 91 16 97 295 7.4% 113 226 5.8% 114 65 119 621 15.6% 122 15 136 59 169 10 177 13 182 4 192 176 limp. 136 sup. 46 4 251 32 291 562 14.1% Total 3984 100%
Tabela 21Distribuição absolutae percentual da escóriapor sondagem e unidade estratigráfica
Figura 4.146 – Exemplos de glandae plumbae do Castelo das Juntas
no exterior da muralha (UE9 e UE48), junto à úni-ca entrada identificada, e as restantes três integradas em dois depósitos de derrube no interior do povoado (UE 246 e UE 247).
4.4.5.3. Escória e produção metalúrgica
No Castelo das Juntas apenas se recolheu escó-ria de ferro, num total de cerca de 4kg, dos quais 70% provêm da sondagem 3. As características gerais dos achados sugerem tratar-se de escórias secundárias, isto é, resultantes do trabalho de forja e não do pro-cesso de fundição (a partir de matérias-primas), mas esta observação macroscópica terá de ser confirmada por análises químicas e metalográficas.
O facto destes vestígios não terem sido geo-re-ferenciados de modo sistemático não permite delimi-
FERRO
239
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
UE NºInv Sond Metal Tipologia Descrição Morfológica Dimensões mm
Comp. Larg. Esp.
7 18 2 ferro indet. frag. mesial de artefacto de estrutura ___ ___ ___
laminar rectangular
9 152 1 ferro foice frag. proximal de foice com encaixe 150 34 3,5
para encabamento conservado
9 206 1 ferro escopro? frag. distal de artefacto puntiforme ___ 43 33
de secção rectangular
9 295 1 ferro trinco? artefacto completo com extremidade em alça 117 ___ 9
9 297 1 bronze pulseira? frag. objecto adorno de forma elipsoidal ___ ___ 6,5
17 24 1 ferro peso? artefacto discal com perfuração cilíndrica 23 23 6
central (diâm. 4mm)
26 15 2 ferro prego frag. mesial de artefacto puntiforme ___ ___ ___
com secção quadrangular
26 100 2 ferro indet. frag. mesial de artefacto de estrutura ___ ___ ___
laminar triangular
27 16 2 ferro prego? frag. mesial de artefacto puntiforme ___ ___ 11
de secção indeterminada
96 141 2 ferro escopro? frag. de artefacto puntiforme de secção ___ 24 18
quadrangular
122 163 3 ferro indet. frag. proximal de artefacto de estrutura ___ ___ ___
laminar triangular
218 455 1 chumbo indet. ____ 18 12 3
247 504 1 ferro indet. estremidade de artefacto com ligeira ___ ___ ___
curvatura e ponta esférica
256 458 1 ferro prego frag. mesial puntiforme 36 ___ ___
Tabela 22 – Tabela descritiva dos artefactos metálicos do Castelo das Juntas
Nº INV UE Morfologia Processo de manufactura Peso (g)
Dimensões (mm) Comp Larg Esp
35 9 oblonga moldagem 71 41 20 16 151 9 oblonga moldagem 62 40 23 18 99 48 oblonga moldagem 69 43 18 18 501 246 oblonga moldagem 59 36 22 17 503 246 oblonga moldagem 59 35 17 19 502 247 oblonga moldagem 67 39 22 17
Tabela 23 – Tabela descritiva das Glandae plumbae do Castelo das Juntas
FERRO
240
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tabela 24 – Distribuição dos artefactos líticos por UE
7 9 19 63 10 119 Total Liticos percutores 1 2 3 ponta 1 1 de seta indet. 2 2
El. Moagem 1 1
Total 1 2 1 1 1 2 8
tar áreas de distribuição diferencial de escória, quer dentro de depósitos relativamente extensos, como é o caso da UE 119, quer ao longo da sequência estra-tigráfica. Destaque-se, porém, a maior quantidade de escória recolhida nas UE 86 e 119 da sondagem 3 e na UE 291 da sondagem 4, cuja concentração não pode ser explicada com base nos dados disponíveis. Não foi identificada nenhuma estrutura relacioná-vel com o processamento de metal, nem nestas, nem nas restantes sondagens intervencionadas. Os qua-tro fragmentos cerâmicos com concreções de ferro aderentes às paredes, provenientes das UE 31 (son-dagem 2), 82, 90 e 119 (sondagem 3), também não são esclarecedores quanto à natureza das actividades metalúrgicas provavelmente desenvolvidas no povo-ado. O amorfismo dos fragmentos impede qualquer tentativa de classificação dos objectos a que perten-ceriam. Atente-se, contudo, ao facto de a metalurgia do ferro, ao contrário da do cobre e bronze, não en-volver a utilização de cadinhos de fundição, dado o elevado ponto de fusão deste metal (Gómez Ramos, 1996:148).
4.4.6. Elementos de moagemAna Jorge
Finalmente, o registo artefactual do Castelo das Juntas inclui um fragmento de dormente em granito, de forma indeterminada, secções transversal e longitudinal plano-côncavas e extremidades bojardadas. Na única superfície de utilização não se conserva o picotado.
4.4.7. Outros materiais líticosAna Jorge
A indústria lítica encontra-se representada por uma ponta de seta triangular de base recta, sobre las-ca de xisto, com bordos sinuosos, secção longitudinal sinuosa e secção transversal trapezoidal. O retoque é bifacial, total, de inclinação semi-abrupta, morfo-logia semi-paralela e extensão marginal longa. Tem 33 mm de comprimento máximo, 14 mm de largura máxima e 3 mm de espessura máxima.
À ponta de seta acrescem quatro percutores, um em quartzito, um em anfibolito e dois numa matéria-prima não identificada. Morfologicamente, variam entre ovóide, sub-rectangular e elíptico, cor-respondendo os últimos casos a seixos de rio com vestígios de percussão.
À presença de materiais líticos, em particular utensílios, no povoado não deverá ser alheia a pro-ximidade do Monte do Tosco, do qual dista escassos quilómetros. Uma possível ocupação pré-histórica do cabeço também não deverá deixar de ser equa-cionada.
No Castelo das Juntas foram ainda recolhidos dois elementos líticos de classificação indetermina-da: uma placa de xisto em forma de disco (com 48 mm de diâmetro e 5 mm de espessura), com perfura-ção central cilíndrica (15 mm de diâmetro), e um pe-queno disco em quartzito (com 20 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura). A sua interpretação funcional é problemática, principalmente no caso do disco em quartzito, para o qual não é possível determinar se a origem é natural ou antrópica.
4.4.8. MoedasAntónio Faria
4.4..8.1 Moeda 1
AR – Denário Serrado, de 79 a.C., C. Naevius BalbusAnv – Cabeça didemada de Vénus à direita; atrás, SCRev. – Vitoria em triga à direita; em cima, marca de controlo:CIV; no exergo: C NAE BALBRRC 382/1b
4.4.8.2. Moeda 2
“Asse”; AE; ildirda/Ilerda, de c.100-80 a.C.Anv – Cabeça masculina à direitaRev. – Cavaleiro à direita; em baixo, inscrição ibérica
FERRO
241
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
4.5. Castelo das Juntas: modeloexplicativo de ocupaçãoSamuel Melro, Ana Cristina Ramos e João Albergaria
Na margem esquerda do Guadiana, o Castelo das Juntas seria certamente um dos pequenos núcleos a que Estrabão apelidaria de aldeias ao comparar com o grau de “urbanização” do vizinho mundo turdetano (Berrocal-Rangel, 1994:208).
Nos limites acidentados com a peneplanície alentejana, vistos como o prolongamento ocidental da Baeturia Celtica, este sítio encontra-se estrategica-mente implantado em plena via natural de passagem norte-sul (Vale de Guadiana / Falha de Plasencia), com a Ribeira do Alcarrache a servir como itinerário privilegiado de acesso ao interior e de passagem às ro-tas terrestres do mundo setentrional hispânico, por um lado, e ao mundo meridional do Guadalquivir por ou-tro, constituindo-se assim como um elemento decisivo no quadro do povoamento pré-romano na região.
Tal como o Ardila, o Alcarrache constituiria tam-bém, um importante eixo estruturante das relações desta área, nomeadamente com o interior Andaluz e a Baixa Estremadura espanhola, servindo toda uma dinâmica económica e sociocultural, baseada eventualmente na riqueza mineira da faixa piritosa existente na região.
Este enquadramento regional resulta essencial, na altura de entender as razões da fundação do Cas-telo das Juntas e explicitar melhor o seu modelo de ocupação, sempre conscientes de que apenas se pode conjecturar acerca dos momentos mais antigos e que a nossa atenção concentra-se sobretudo nos momentos finais do I milénio a.C..
4.5.1. Fase 1
A fase com os vestígios mais antigos do povoa-do é caracterizada por um escasso conjunto de infor-mações incompletas, senão mesmo, demasiado vagas. Assim, é no reduzido conjunto de estruturas arquitec-tónicas, sobrepostas ou destruídas durante os últimos momentos de ocupação, que se podem detectar alguns indícios dos primeiros contextos do povoado, embo-ra para a maioria não se possa atribuir-lhe o mesmo momento de utilização, ou nem sequer o seu âmbito cronológico, face à ausência de materiais datáveis.
Perante a relação do Castelo das Juntas com outros povoados similares no Sudoeste Peninsular e a
presença, em contexto secundários, de cerâmicas com cronologias de fabrico datadas dos séculos IV e III a.C., pode-se considerar, como hipótese de trabalho, que a fundação e os primeiros momentos de utilização deste povoado fortificado, não recue mais do que ao século III a.C.. Hipótese ainda em aberto, imiscuída que está de sérias lacunas, que serão incontornáveis sem a rea-lização de novos trabalhos. O único critério estrutural de algum modo fiável para o estabelecimento da Fase I, baseia-se nos troços de muralha observados nas sonda-gens 1 e 4. A sua presença prende-se com a necessidade de defesa, que levaram as populações a fixarem-se neste local e terá funcionado como um elemento estruturante da vida do povoado até ao seu abandono. O seu uso continuado implicou certamente algumas reformula-ções na sua estrutura, bem visíveis nas diferenças ob-servadas nos quatro segmentos. Por essas razões, ape-nas o segmento 1 (da sondagem 1) e o segmento 3 (da sondagem 4) poderão equivaler aos lanços primitivos, enquanto os restantes poderão corresponder a arranjos ou reformulações posteriores do pano de muralha289.
Adossado ortogonalmente ao segmento de mu-ralha mais antigo na sondagem 1, desenvolvia-se o muro 24, orientado em direcção ao muro 39 e cujos contornos desconhecemos, uma vez truncados pelo torreão. Por outro lado, considerando que a separação entre os dois segmentos da muralha tenha existido desde o início, a existência de uma entrada pode re-montar a esta fase e o muro 24 limitaria, desta forma, a área interior de entrada a este.
Na sondagem 4, não dispomos de qualquer edi-fício adossado ao seu lanço primitivo, mas algumas es-truturas sobrepostas pelo edifício 7, poderão apontar para uma anterior organização espacial desta área. As-sim, da UE 284, um eventual muro, mais nada pode-mos adiantar que registar a sua anterioridade. Porém, quanto ao edifício 9, a sua planta circular poderá suge-rir a ocorrência, nesta área, de uma concepção espacial diferente da dos edifícios de plantas rectangulares.
Este edifício estaria erguido próximo da muralha ou eventualmente relacionado num espaço de entrada que aí existiria. Hipótese colocada se considerarmos o segmento 4 da muralha como uma reformulação mais recente, encerrando aí uma entrada que poderia tradu-zir um eventual plano arquitectónico que estabeleceria entradas a partir dos principais eixos de orientação ge-ográfica (N/S na entrada da sondagem 1 e O/E para esta outra).
289 Sem quaisquer dados de escavação não temos como situar igualmente os dois torreões circulares, perceptíveis nos limites oeste e leste do povoado, se dentro do planeamento defensivo inicial do povoado ou em fases posteriores.
FERRO
242
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Na evolução da organização espacial dos edifícios, a Fase I tem contornos pouco nítidos, sem qualquer componente material associada, e visível apenas em áreas muito reduzidas. Deve-se isso às remodelações posterio-res, que foram de tal modo profundas que destruíram os edifícios anteriores, implantando-se sobre o afloramento rochoso. Estas intervenções terão sido uma opção vo-luntária ou terão sido realizadas na sequência de facto-res impostos (acções destrutivas) ao povoado? Ou seria antes o espaço ocupado nesta primeira fase menor, e o intervalo de tempo com a seguinte de tal modo reduzido, que não atestaria mais que uma reformulação e alarga-mento da área ocupada, à custa de edifícios mais antigos?
4.5.2. Fase 2
O entendimento de uma Fase 2 na evolução ge-ral do povoado deve-se à constatação na sondagem 1 de uma fase de marcado reforço defensivo, que impli-cou nessa área uma nítida reformulação espacial. Esta necessidade e os implícitos esforços construtivos na defesa do povoado, são afinal uma circunstância decor-rente do conturbado século II a.C..
A edificação do Torreão 1, representa um im-portante esforço no incremento da defesa do povoado, associado à muralha e ao estrangulamento da entrada entre os dois segmentos da muralha. Caso as diferenças construtivas do segmento 2 fossem a causa da sua pos-terior edificação nesta fase, coloca-se ainda a hipótese de se estar perante uma reformulação ou reparação da muralha, na sequência de um contexto bélico que teria implicado tal empenho defensivo no Castelo das Juntas.
O torreão e o segmento 2 da muralha resultam igualmente como elementos estruturais do edifício 2. Juntamente com o muro 23, definem o compartimen-to paralelo e adossado à linha de muralha, cuja leitura completa e funcional não se alcança dentro dos limi-tes da sondagem. Este edifício parece precisar, desde o muro 1, um eixo oeste/este paralelo à muralha, e orien-tado segundo o limite do compartimento 10 (UE 267). Entre este interface e o segmento 2 da muralha, o espaço existente teria servido como área de circulação relacio-nada com a entrada.
4.5.3. Fase 3
A Fase 3 representa no Castelo das Juntas a sua eta-pa mais bem conhecida e amplamente registada em todas as sondagens. Resulta na única à qual se pode associar um conjunto material representativo, datado dos séculos II / I a.C., uma vez que está associado ao abandono do povoa-
do. Na realidade, são estes os contextos arqueológicos que determinaram a cronologia estabelecida para o povoado, pressupondo sempre um último nível de utilização dos edifícios coevo e alargado a todas as sondagens.
Esta fase também é caracterizada por um con-junto de edificações, reutilizações e remodelações arquitectónicas ao nível do ordenamento espacial in-terno do povoado. Uma concepção que determina no povoado um esquema organizado de edifícios e com-partimentos adossados de planta rectangular, próprios dos povoados pré-romanos tardios em todo o Sudoeste Peninsular. Da mesma forma, as diversas remodelações arquitectónicas sugerem que esta fase engloba diversos momentos de utilização dos mesmos, numa cronologia que abarcaria boa parte do séc. II e inícios do I a.C..
Dentro do séc. II a.C. não resulta fácil, nem se-guro delinear uma separação nítida entre a Fase II e a Fase III. Se a primeira é assinalada por uma preocu-pação no reforço defensivo e a segunda se distingue pela utilização intensiva do espaço interior da forti-ficação, não parece existir um grande distanciamento cronológico entre ambas. Na sondagem 1, a terceira fase é marcada sobretudo pela construção do edifício 6, ao mesmo tempo que continua em uso a muralha, o torreão e o edifício 2. O segundo aspecto de assinalar nesta fase é a formação progressiva de uma lixeira en-tre a entrada e a área exterior do povoado (UE 9).
O edifício 6 assinala-se nesta área, principal-mente por um claro desvio à anterior orientação, que se definia pelo edifício 2 numa orientação paralela à muralha. A orientação do novo edifício, cuja exacta ca-racterização está seriamente limitada pelos cortes S / SO da sondagem, é irregular e aponta para uma outra concepção espacial da área.
Esta nova concepção e alteração espacial é reafir-mada pela formação de uma lixeira, não apenas na área exterior do povoado, mas na área de entrada na muralha. O significado do eventual abandono da entrada pode dever-se a oscilações na vida do povoado em determi-nado momento do séc. II a.C.. As mesmas oscilações que levaram a outra reformulação arquitectónica, com o seu reforço defensivo e possível reabilitação funcional.
A lixeira constitui um depósito muito heterogé-neo, que consagra uma amostra material estrutural-mente de feição indígena, mas com algumas inclusões romano-republicanas. Assim, neste conjunto, datado dos séculos II / I a.C., consentâneo com os níveis de abandono das áreas internas do povoado, a inclusão singular das cerâmicas estampilhadas de cronologias de fabrico mais recuadas (século IV/III a.C.), resulta perante as características deposicionais complexas da
FERRO
243
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
UE 9, apenas num indício da existência de materiais mais antigos, sem que se lhes possa atribuir qualquer contexto primário de uso.
Na sondagem 4, esta fase geral caracteriza-se pela presença do edifício 7 e do compartimento 6, que adossa ao segmento 4 da muralha e que está regulado segundo uma planta rectangular. Este compartimento correspon-de claramente a um espaço doméstico e foi ainda alvo de pequenas remodelações arquitectónicas durante esta fase.
Por fim, na área exterior do povoado foram des-cobertas duas estruturas arquitectónicas (muros 28 e 31) que podem estar associadas a dois edifícios (edifí-cio 8 e 10). No entanto, perante os dados obtidos não é possível estabelecer com rigor a sua cronologia, nem compreender a organização espacial deste sector.
A intervenção realizada na sondagem 2 permitiu apenas confirmar a presença do edifício 3, no esquema organizado de construções e compartimentos adossados de planta rectangular, e o evidente esforço construtivo da adaptabilidade à suave vertente do Castelo das Jun-tas, através da escavação de socalcos. As correlações das fases da sondagem 3 com o restante faseamento acarreta maiores dificuldades, dado que não existem elementos estruturais comuns, como a muralha, nem as constru-ções desta sondagem devem ser interpretados da mesma forma. No que diz respeito ao abandono generalizado deste sector do povoado, a informação material apre-senta o mesmo enquadramento cronológico das outras áreas sondadas, que é em torno do século II / I a.C..
Assim, a Fase 3 caracteriza-se essencialmente pela utilização simultânea dos edifícios 4 e 5, que em conjun-to constituiriam a construção central da área cimeira do Castelo das Juntas. A utilização deste tipo de estruturas de armazenagem em altura, tradicionalmente designadas como “celeiros”, é mais conhecida na região para épocas posteriores, sendo a sua presença em contextos da segun-da Idade do Ferro um claro sinal de antiguidade pré-ro-mana desta concepção arquitectónica. A sua construção implicou a destruição do muro 18 (edifício 11), que até ao momento representa a única evidência da primeira fase de ocupação na sondagem 3 e que recuará a momentos imediatamente anteriores à construção do “celeiro”.
Concluindo, pouco se conhece acerca da funda-ção do povoado e dos primeiros momentos de ocupa-ção. De facto, a primeira fase é determinada a partir de estruturas destruídas ou sobrepostas, pouco ou nada esclarecedoras, com excepção de alguns segmentos da muralha. Assim, o pano de muralha constitui o único critério estrutural fiável para aqueles momentos, que são igualmente marcados por uma total ausência de conjuntos materiais. A explicação desta ausência pode
ter várias causas e deve ser interpretada com cautela, porque pode ter um significado sócio-cultural relevan-te para a compreensão do Castelo das Juntas. Corres-ponderá apenas à limitação imposta pelas áreas escava-das ou resulta das remodelações e reestruturações que ocorrem posteriormente numa profunda regeneração do local? Que dimensões teriam essas primeiras estru-turas e espaços ocupados, dentro de uma cronologia geral tão curta e sob um conjunto de edifícios assentes na sua quase totalidade sobre a rocha base?
Na segunda fase constata-se um reforço defensi-vo, com a construção do torreão, o estrangulamento da entrada e as eventuais reparações da muralha, acções que aparentam traduzir as circunstâncias bélicas do séc. II a. C.. A comunidade céltica que habitava o po-voado terá tido necessidade de se fortalecer ainda mais, na sequência de uma eventual fragilização do seu pano de muralha ou simplesmente por se ver eventualmente envolvida no contexto das Guerras Lusitanas, desig-nação das fontes escritas para os episódios conflituosos que se desenvolvem na região.
A terceira e última fase geral do povoado, aquela que podemos caracterizar melhor e associar claramen-te a um conjunto material de abandono do século II/I a.C., é marcada por um momento de utilização coeva dos vários edifícios dispersos pelas quatro sondagens, registando-se, inclusive, em alguns deles remodelações arquitectónicas de maior ou menor alcance. Realce-se que o sistema defensivo amuralhado permanece em uso, mas é no cariz doméstico que estão agora concen-tradas as preocupações com a organização do espaço.
Esta terceira fase geral poderá eventualmente cor-responder ao final das Guerras Lusitanas e ao último quartel do séc. II e inícios do I a.C.. Numa altura em que Roma dominara nesta região as resistências indí-genas e os ataques lusitanos, o povoado não parece ter sofrido com o facto, antes pelo contrário. Uma política nos processos de conquista de parte de Roma, visando sobretudo o sincretismo com as populações indígenas será certamente parte da explicação e as realidades ar-queológicas no seu abandono não enunciam efectiva-mente qualquer contexto marcial. Porém o seu abando-no deverá ser inscrito de novo pelas convulsões operadas na região, agora ditadas pelo episódio Sertoriano, não directamente consequência de um fim bélico, mas im-posto pela consequente reestruturação do território a favor de Roma que terá conduzido ao abandono do po-voado. Um povoado pré-romano que estaria desde o séc. II a.C. num compasso de espera entre os dois mundos, não tendo havido lugar à concretização do sincretismo romano na vivência da sua população.
5. PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO
DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
247
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
5. PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELODAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICOM.I. Dias, M.I. Prudêncio, F. Rocha, A. Jorge
5.1. Introdução
As cerâmicas têm tido um papel muito importante na investigação arqueológica, dado o enorme potencial de informação que acarretam, aliado à sua abundância. Critérios estilísticos (forma, decoração, cor, acabamento da superfície...) de descrição e identificação de uma ce-râmica podem não responder cabalmente a problemas arqueológicos específicos “relacionados com a origem e modo de produção destes objectos.”
Estudos de natureza geoquímica, incluindo a análise química de pastas cerâmicas e de potenciais matérias-primas, são particularmente úteis na carac-terização de cerâmicas e estudos de proveniência. Os elementos traço, dado ocorrerem em geral numa gama de teores mais alargada do que os elementos maiores, constituem variáveis fundamentais quando se pretende distinguir amostras de natureza geológica diferente.
A caracterização mineralógica, além de contri-buir também para o estabelecimento de proveniências, assume particular interesse em estudos de tecnologias de produção, nomeadamente temperaturas de cozedu-ra.
Neste trabalho procede-se à caracterização quí-mica e mineralógica de cerâmicas provenientes de dois dos sítios de habitat da Idade do Ferro, da margem es-querda do Guadiana - o Monte da Pata 1 e o Castelo das Juntas –, bem como de potenciais matérias-primas regionais e de materiais de construção utilizados na elaboração das estruturas do Castelo das Juntas.
A escolha dos sítios prendeu-se com a maior di-mensão dos conjuntos cerâmicos e a identificação de contextos arqueológicos bem conservados, em parti-cular associados ao abandono de espaços construídos bem definidos.
A sua sincronia de ocupação, dado que a ocupa-ção principal do Monte da Pata 1 (genericamente, sé-culo III-II a.C.) poderá ser contemporânea ou mesmo simultânea de um momento de vigência do Castelo das Juntas (genericamente, século IV-I a.C.), permite ainda estabelecer comparações entre os habitats.
No que respeita às cerâmicas analisadas, privile-giou-se intencionalmente a cerâmica dita de tradição local / regional - conceito que se reporta a ideias de produção e proveniência numa área cultural específica
– face a (raros) produtos cerâmicos de grande circula-ção (nomeadamente, campanienenses e ‘paredes finas’) presentes no Castelo das Juntas.
No âmbito de uma investigação arqueológica mais alargada, o objectivo genérico desta abordagem arqueo-métrica é contribuir para a caracterização da produção cerâmica na área geográfica em estudo durante a Idade do Ferro, formulada em termos de proveniência e, em menor medida, de tecnologia de produção.
5.2. Problemáticas Orientadorase Questões Específicas
Este estudo arqueométrico visa essencialmente contribuir para a resolução de uma série de questões levantadas pela investigação arqueológica em curso, nomeadamente a determinação de proveniências e a diferenciação entre possíveis produtos de imitação / exógenos de categorias cerâmicas específicas.
As questões que se colocam dividem-se em duas escalas de análise: intra-sítio e inter-sítio.
5.2.1. Questões à escala intra-sítio
A caracterização da produção cerâmica de cada sítio envolve os seguintes objectivos:
• Determinar a proveniência dos recipientes ce-râmicos através da comparação entre as pastas cerâmicas e materiais argilosos da região;
• Avaliar estratégias de exploração de matérias--primas para a produção das cerâmicas;
• Investigar se as categorias cerâmicas particu-lares (como é o caso da cerâmica cinzenta a torno) correspondem processos tecnológicos específicos;
• Estabelecer tecnologias de produção das ce-râmicas, nomeadamente temperaturas de co-zedura.
No Caso do Castelo das Juntas, é ainda um ob-jectivo fundamental contribuir para o estudo de pro-blemáticas complexas - como são as questões de influ-ências culturais e mecanismos de circulação de ideias e produtos -, ao determinar a proveniência de materiais de excepção, conotados com ambientes culturais espe-cíficos, como é o caso dos ‘barris ibéricos’.
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
248
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
5.2.2. Questões à escala inter-sítio
Embora se coloque a hipótese da ocupação prin-cipal do Monte da Pata 1 ter terminado por volta do século II a.C., a leitura cronológica da ocupação dos sítios em estudo é essencialmente sincrónica, uma vez que se enquadram no mesmo grande período (século IV-I a.C.). Deste modo, é possível abordar questões relacionadas com a relação directa entre o Castelo das Juntas e o Monte da Pata 1, contribuindo desta forma para o conhecimento da articulação do povoamento nesta época.
Os objectivos principais da comparação inter--sítio das cerâmicas analisadas são:
• Identificar a existência de contactos directos entre os dois habitats através da troca de produtos ce-râmicos;
• Determinar se a maior longevidade do Cas-telo das Juntas, associado ao seu possível papel or-ganizador do território tem repercussões ao nível da diversidade na proveniência dos recipientes cerâmicos, quando comparado com um sítio de habitat de meno-res dimensões e menor ‘monumentalidade’;
• Avaliar até que ponto a introdução de novos materiais cerâmicos (como cerâmicas campanienses, lucernas e ‘paredes finas’) no Castelo das Juntas foi acompanhada por mudanças nos processos de manu-factura da cerâmica de ‘tradição’ local / regional, nome-adamente ao nível da exploração das matérias-primas e das temperaturas de cozedura, e que não tenham tido expressão no Monte da Pata 1.
5.3. Materiais
Tendo em consideração os objectivos estabele-cidos. Os materiais analisados incluem cerâmicas e elementos construtivos (construções em terra). Selec-cionaram-se recipientes da fase ocupacional mais an-tiga do Monte da Pata 1 e das fases de ocupação do Castelo das Juntas consideradas mais relevantes (fase 1 da sondagem 2, fase 2 da sondagem 4 e fase 3 das sondagens 1 e 3).
A amostragem foi realizada com base em três critérios principais: o contexto estratigráfico onde se recolheram as cerâmicas, a possibilidade de reconsti-tuição formal dos recipientes e a técnica de modelação utilizada. Assim, foram seleccionados apenas recipien-tes cerâmicos classificados morfologicamente e reco-lhidos em contextos de abandono de compartimentos e edifícios, e de depósitos de lixeira (as UE 9 e 77 do Castelo das Juntas) (Tabela 1, Tabela 2).
Refª. UE Modelação Função
MPT 1 3 Torno Pote/panela
MPT 2 5 Torno (cinzenta) Vaso suporte
MPT 3 3 Torno Pote/panela
MPT 4 3 Manual Pote/panela
MPT 5 3 Torno Pote/panela
MPT 6 3 Manual Pote/panela
MPT 7 3 Torno Pote/panela
MPT 8 3 Torno (cinzenta) Tigela
MPT 9 3 Torno (cinzenta) Pote/panela
MPT 10 3 Torno (cinzenta) Prato
MPT 11 3 Torno (cinzenta) Tigela
MPT 12 3 Torno (cinzenta) Prato
MPT 13 3 Manual Pote/panela
MPT 14 3 Torno (cinzenta) Taça
MPT 15 3 Manual Asa de cesta
MPT 16 3 Torno (cinzenta) Tigela
Tabela 1 – Modelação e função dos recipientes cerâmicos do Monte da Pata I seleccionados para análise arqueométrica.
Apesar do reduzido número de amostras, estas correspondem a 40% and 48% do número mínimo de recipientes com forma atribuída do Monte da Pata 1 e Castelo das Juntas, respectivamente. A amostragem é também representativa das categorias cerâmicas de-finidas como variáveis arqueologicamente relevantes: cerâmica manual e cerâmica a torno, e respectivas sub--categorias, com destaque para a cerâmica cinzenta e os grandes recipientes (Tabela 3).
O destaque dado à cerâmica cinzenta a torno prende-se com a sua possível filiação numa tradição cerâmica inspirada nas produções de cerâmica cinzen-ta fina, mais antigas, o que coloca a hipótese de a sua produção implicar escolhas tecnológicas específicas. A individualização dos grandes recipientes como grupo de análise justifica-se pela sua importância como prin-cipal meio de armazenamento de alimentos no ‘mundo indígena’ do Sudoeste. Além disso, a ausência de mate-rial anfórico do Castelo das Juntas e a analogia formal de alguns destes exemplares com alguns tipos de ânfo-ras ibero-púnicas suscita a hipótese de terem associado a funções de contentorização as de transporte, o que coloca questões de proveniência.
Foram igualmente analisados três ‘barris ibéri-cos’ dos povoados fortificados de Segóvia, Vaiamonte e Azougada, considerando questões de influências cul-
249
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Refª. Sondagem UE Modelação Função
CJM-1 1 17 Torno Cântaro
CJM-2 1 9 Torno Pote/Panela
CJM-3 1 9 Torno Pote/Panela
CJM-4 1 9 Torno Pote/Panela
CJM-5 1 48 Torno Pote/Panela
CJM-6 1 173 Torno Pote/Panela
CJM-7 1 206 Torno (Cinzenta) Pote/Panela
CJM-8 1 273 Torno Pote/Panela
CJM-9 1 117 Torno Pote/Panela
CJM-10 1 295 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-11 1 117 Torno Pote/Panela
CJM-12 2 59 Torno (Grande Recipiente) Barril
CJM-13 2 44 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-14 2 44 Manual Pote/Panela
CJM-15 2 44 Torno Pote/Panela
CJM-16 2 59 Torno (Asa)
CJM-17 2 72 Manual Pote/Panela
CJM-18 2 77 Torno (Cinzenta) Tigela
CJM-19 2 142 Torno Pote/Panela
CJM-20 2 142 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-21 2 143 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-22 2 143 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-23 3 113 Torno Pote/Panela
CJM-24 3 119 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-25 3 119 Torno Alguidar
CJM-26 3 119 Torno (Cinzenta) Pote/Panela
CJM-27 3 204 Torno (Grande Recipiente) Pote
CJM-28 3 119 Torno Pote/Panela
CJM-29 3 119 Torno (Cinzenta) Tigela
CJM-30 3 119 Torno Tigela
CJM-31 3 119 Torno (Grande Recipiente) Contentor
CJM-32 4 251 Torno Tigela
CJM-33 4 251 Torno Tigela
CJM-34 4 251 Torno (Grande Recipiente) Pote
Tabela 2 – Modelação e função dos recipientes cerâmicosdo Castelo das Juntas seleccionados para análise arqueométrica
turais e mecanismos de circulação de ideias e produtos, tendo em vista estabelecer a proveniência destes mate-riais de excepção, conotados com ambientes culturais específicos, de forma a obter dados analíticos a serem utilizados também noutros trabalhos.
A prioridade dada ao critério tecnológico (neste caso, a técnica de modelação) na abordagem estatística das cerâmicas justifica-se por duas razões: em primei-
ro lugar, porque este foi o critério subjacente à classificação do conjunto cerâmico; e, em segun-do lugar, porque a descrição macroscópica das pastas sugere uma correlação entre técnicas de modelação e fabricos (ver capítulo 4), que ob-viamente influenciarão a respectiva composição química.
Quanto aos materiais de construção, as cinco amostras seleccionadas foram recolhidas em depósitos interpretados como resultantes do derrube de estruturas do Castelo das Juntas: dois segmentos da muralha, tombados para o interior do recinto fortificado (UE 128 na Sondagem 1 e UE 231 na Sondagem 4), as paredes do edifício 6 (UE 248 e UE 294 da Sondagem 1) e as pare-des do edifício 3 (UE 7 da Sondagem 2).
Para identificação de potenciais fontes de matérias-primas, procedeu-se a trabalho de cam-po na região, tendo-se amostrado os materiais argilosos derivados da alteração dos principais contextos geológicos regionais: quartzodioritos, dioritos e gabros associados, xistos com metaba-sitos, vulcanitos, xistos, doleritos (filoneanos), bem como argilas dos depósitos terciários (Figura 5.1.).
5.4. Métodos
A composição química das cerâmicas e das argilas foi obtida pelo método instrumental de análise por activação neutrónica, utilizando-se o Reactor Português de Investigação (Sacavém) como fonte de neutrões. Os materiais de refe-rência usados foram o GSD-9 (sedimento) e o GSS-1 (solo) do “Institute of Geophysical and Geochemical Prospecting” (IGGE). As amostras e os padrões foram irradiados com um fluxo de 4.2 x 1012 n cm-2 s-1 durante dois minutos (irra-diação curta) e durante sete horas (irradiação lon-ga). Esta análise permitiu a obtenção dos teores
dos seguintes elementos maiores e traço: Na, K, Fe, Sc, Cr, Mn, Co, Zn, Ga, As, Br, Rb, Zr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Th, U. Detalhes relativos ao método encontram-se publicados em Pru-dêncio et alii, 1986.
Tendo como variáveis as concentrações obtidas para elementos químicos seleccionados (pouco alte-ráveis nos processos de manufactura, cozedura, uso e pós-deposicionais), utilizaram-se métodos de análise estatística multivariada, particularmente a análise fac-torial por componentes principais e a análise de gru-pos, recorrendo-se nesta última ao método hierárquico
250
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figu
ra 5
.1 –
Loc
aliz
ação
da
amos
trag
em e
fect
uada
nos
pri
ncip
ais
cont
exto
s ge
ológ
icos
reg
iona
is
251
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Castelo das Juntas
NMR c/Forma Amostragem Nº % Nº % do Total Manual 9 10% 2 22%
Torno Cinzentas 9 4
Gr. Recipientes 16 10
Restantes 28 18
Total Torno 53 90% 32 41%
TOTAL 87 100% 34 40%
Monte da Pata 1 NMR c/Forma Amostragem Nº % Nº % do Total Manual 7 23% 4 57%
Torno Cinzentas 13 8
Restantes 10 4
Total Torno 23 77% 12 48%
TOTAL 30 100% 16 53%
Tabela 3 – Amostragem das cerâmicas do Castelo das Juntase Monte da Pata 1
aglomerativo UPGMA (Unweighted pair-group ave-rage), usando como coeficiente de semelhança o coefi-ciente de correlação de Pearson ou a distância Euclide-ana, e ao método “K-means clustering”. O tratamento estatístico foi efectuado recorrendo-se ao programa Statistica (StatSoft, Inc., 2003; STATISTICA data analysis software system, version 6).
A composição mineralógica de cerâmicas e ar-gilas foi obtida por difracção de raios-X. A amostra total foi preparada como agregado não orientado, e a fracção < 2 µm preparada como agregado orienta-do (normal, glicolado com etileno-glicol, e aquecido a 550ºC). Realizaram-se algumas experiências de aquecimentos das cerâmicas - temperaturas crescen-tes de 600ºC, 800ºC e 1000ºC, contribuindo para o estabelecimento das condições de cozedura das peças, nomeadamente temperaturas atingidas, permitindo também uma maior correlação com potenciais maté-rias-primas. A semi-quantificação das proporções dos minerais foi obtida de acordo com Schultz (1964), Biscaye, 1965, Rocha (1993) e Dias (1998).
5. 5. Produção cerâmica à escalaintra-sítio
5.5.1. As cerâmicas do Monte da Pata 1
A aplicação da análise grupal (Figura 5.2, Figu-ra 5.3) e da análise factorial (Figura 5.4, Figura 5.5), tendo como variáveis os teores dos elementos quími-cos, permitiu diferenciar dois grupos composicionais nas pastas das cerâmicas analisadas para o Monte da Pata 1. Usando como coeficiente de semelhança a distância euclidiana (Figura 5.3), verificou-se ainda a existência de um outlier (MPT-11) que corresponde a uma cerâmica cinzenta.
Com o método grupal K-means obtêm-se resul-tados semelhantes. Na figura 5.6 estão representadas as médias dos dois grupos e o outlier. Neste gráfico são bem visíveis as diferenças entre os grupos de ce-râmicas: o grupo 1 apresenta pastas com teores mais elevados de terras raras e outros elementos associados a matérias-primas provenientes de rochas mais áci-das, comparativamente ao grupo 2, com teores mais elevados de Ca, Fe, Sc, Cr, Co e Zn, relacionado com materiais argilosos com composição mais básica. O ou-tlier (MPT-11) destaca-se claramente, em especial por possuir concentrações muito superiores de terras raras, Zr, Fe e Na.
As cerâmicas incluídas no grupo 2 são pre-dominantemente cerâmicas cinzentas (seis das oito amostras analisadas). Note-se que todas estas cerâ-micas pertencem ao fabrico 4, cuja análise macros-cópica revela estarmos perante uma pasta com uma textura homogénea, com poucos grãos não plásticos, essencialmente constituídos por carbonatos, ves-tígios de quartzo, micas e grãos ferruginosos (ver capítulo 4). Deste modo, poderemos estar perante uma escolha intencional de determinado tipo de matéria-prima para as cerâmicas cinzentas, o que poderá ser confirmado no futuro através da análise de um maior número de amostras de cerâmica e da complementaridade com outros métodos, nomea-damente análise petrográfica. Apenas uma amostra deste grupo é de produção manual, pertencendo ao fabrico 2, que apresenta também uma textura ho-mogénea, com grãos não plásticos de dimensões re-duzidas.
No grupo 1 estão incluídas as cerâmicas dos res-tantes fabricos, como o fabrico 1, associado a recipien-tes modelados manualmente, com pastas mais grossei-ras e abundantes constituintes não plásticos (quartzo, micas, carbonatos) de dimensões relativamente eleva-
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
252
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 5.3 – Fenograma obtido utilizando o método UPGMA aplicado à matrizde distâncias Euclideanas das amostras de cerâmica do Monte da Pata 1.
das (3-5 mm; 1-3 mm), e o fabrico 6, tam-bém associado a pastas com texturas grossei-ras (1-3 mm), com o mesmo tipo de grãos não plásticos, embora em produções de reci-pientes a torno.
Realce-se que a natureza dos grãos não-plásticos das pastas está de acordo com a composição química dos dois grupos.
A comparação efectuada entre as ce-râmicas do Monte da Pata 1 e as amostras de argilas da região (Figura 5.7, Figura 5.8, Figura 5.9) aponta, no geral, para uma pro-dução local/regional das cerâmicas comuns de “tradição local” e das cerâmicas cinzentas. Com efeito, os resultados parecem indicar o recurso a matérias-primas derivadas da alte-ração de xistos, mais próximas do sítio, para a produção das cerâmicas do grupo 1, mais grosseiras, e o recurso a matérias-primas as-sociadas a dioritos, gabros e quartzodioritos para as cerâmicas do grupo 2, de grão mais fino e na sua maioria cinzentas.
Em ambos os casos terá sido adiciona-da têmpera, sendo os constituintes não plás-ticos particularmente evidentes no caso do uso de matérias-primas derivadas dos xistos, em que é realçada a adição de quartzo. No grupo 2 salienta-se a existência de menores quantidades de grãos não plásticos, sendo parte destes constituintes da argila usada, como é o caso dos grãos ferruginosos, e ou-tros muito provavelmente adicionados, como as micas, os quartzos e carbonatos, embora em menores quantidades e de menores di-mensões. Realce-se que, também neste caso, seria importante complementar o estudo re-alizado com a análise petrográfica das pastas.
A utilização de argilas terciárias, em-bora em alguns casos pareça ter ocorrido, necessitaria de confirmação, em particular através da análise petrográfica.
Novamente, é realçada a diferenciação da amostra MPT-11 (cerâmica cinzenta), para a qual não se encontrou semelhança com nenhu-ma das argilas analisadas. Verifica-se ainda a existên-cia de uma amostra de argila com composição quí-mica diferente das restantes (Figura 5.8, Figura 5.9). As diferenças encontradas estão bem representadas na figura 5.10. Saliente-se que estes dois outliers de cerâ-mica e argila não se relacionam entre si, como se pode constatar, por exemplo, nas diferenças existentes nos teores de terras raras leves e pesadas.
Figura 5.2 – Fenograma obtido utilizando o método UPGMA aplicado à matriz de coeficientes de correlação de Pearson das amostras de cerâmica do Monte da Pata 1.
5.5.2. As cerâmicas do Castelo das Juntas
As pastas das cerâmicas do Castelo das Juntas apresentam uma composição química mais heterogénea do que as do Monte da Pata 1 como é bem representado no gráfico Fe vs U (Figura 5.11). A análise grupal (Figu-ra 5.12) distingue dois grupos que, tal como no caso das cerâmicas do Monte da Pata, parecem estar associados a dois tipos de matérias-primas distintos. As diferenças
253
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Figura 5.4 – Projecção das amostras de cerâmicas o Monte da Pata 1 no plano da primeira e segunda componentes principais
Figura 5.5 – Projecção dos elementos químicos das cerâmicas do Monte da Pata 1 no plano da primeira e segunda componentes principais
são bem visíveis no gráfico das médias dos grupos obti-dos pelo método k-means clustering (Figura 5.13).
Dentro do grupo 1 destaca-se a existência de um conjunto de amostras, denominado sub-grupo 1 A, que engloba o barril, por manifestar particulari-dades na composição química de uma série de ele-
mentos, com teores muito acrescidos de K, e Terras Raras, e mais baixos de Ca, Fe, Sc, Cr, Co (Figura 5.12, Figura 5.14). A anomalia do Európio é um dos parâmetros que melhor diferencia este conjunto de amostras (Figura 5.15), com uma anomalia negativa mais acentuada do que a dos grupos 1 e 2 (Figura 5.16, Figura 5.17, Figura 5.18).
Ao grupo 1 correspondem maioritariamente ce-râmicas do fabrico 5. Cerca de 70 % das amostras des-te grupo estão associadas a pastas macroscopicamente descritas como de textura fina (fabrico 5 e fabrico 6), com poucos grãos não plásticos. No entanto, a com-posição química predominante deste grupo está rela-cionada com a abundância de determinados minerais (por exemplo quartzo, feldspatos potássicos), apontan-do para a existência de muitos grãos não plásticos, cuja distinção macroscópica da matriz terá sido dificultada muito provavelmente pela granulometria mais fina que apresentam. Assim, neste grupo 1 os grãos não plás-ticos poderão ser abundantes, mas de granulometria fina. Ao grupo 1 estão também associadas maioritaria-mente cerâmicas a torno, as quais apresentam frequen-temente superfícies com engobe.
No grupo 2 predominam as cerâmicas com pas-tas do fabrico 4, mais grosseiras, com abundantes grãos não plásticos. A este grupo estão associadas maiori-tariamente produções a torno, sendo o alisamento o tratamento de superfície mais utilizado.
A comparação efectuada entre as cerâmicas do Castelo das Juntas e as amostras de argilas da região aponta para uma produção local/regional das cerâmicas. Recorreu-se, muito provavelmente, a matérias-primas derivadas da alteração de xistos, as mais próximas do sítio, para a produção da maior parte das cerâmicas analisadas e que se inserem no grupo 1, com pastas relativamen-te finas, embora com abundantes grãos não plásticos de granulometria fina; para a manufactura do grupo 2, com cerâmicas de pastas mais grosseiras, terão sido utilizadas matérias-primas derivadas de rochas mais básicas, como dioritos, gabros e quartzodioritos (Figura 5.19).
Mais uma vez, a utilização de argilas terciárias, embora pareça ter ocorrido em alguns casos, necessita de confirmação, em particular através da análise pe-trográfica.
Em ambos os casos foram adicionados constituin-tes não plásticos, sendo estes particularmente evidentes no caso do uso de matérias-primas derivadas de xistos, em que a adição de quartzo é notória. No grupo 2 os grãos não plásticos são mais visíveis macroscopicamente.
Relativamente às tecnologias de produção, o processo de cozedura da peça, que se traduz em aque-cimento e transformações de fases de minerais, está
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
254
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 5.6 – Diferenças nas médias entre os grupos obtidos para as amostras de cerâmicas do Monte da Pata 1, aplicando o método K-means clustering.
obviamente relacionado com o tempo e a temperatura a que está sujeita.
No caso das cerâmicas em estudo, poder-se--á referir que para a generalidade das amostras não foram detectadas fases de altas temperaturas. Aliás, verificou-se a presença, em quantidades significati-vas, de esmectite (e/ou de inter-estratificados ilite--esmectite) em algumas amostras de cerâmica, indi-ciando temperaturas mais baixas, mesmo abaixo dos 600ºC. Registou-se um predomínio generalizado de ilite, bem como a presença de um pico acentua-do de filossilicatos (Figura 5.20), e a quase ausência de máximos de difracção (apenas um discreto pico da ilite) em algumas amostras, como as CJM 1, 5 e 13. Esta quase ausência de picos de filossilicatos em algumas amostras resultará da sua vitrificação aquan-do do processo de cozedura, indicando temperaturas superiores a 800 – 900 ºC. Refira-se aliás a presença de mulite, ainda que vestigial, nas amostras CJM 1 e 5, apontando mesmo para temperaturas superiores a 1000ºC.
Deste modo, poder-se-á apontar para quatro in-tervalos de temperatura: abaixo dos 600ºC; 600ºC -
700ºC; e 700ºC – 800ºC; e em alguns casos superiores a 800ºC. No global, a maioria das amostras enquadra--se no segundo intervalo de temperaturas.
Também do ponto de vista mineralógico, en-contra-se, para o caso das cerâmicas do Castelo das Juntas, uma maior afinidade com argilas do tipo mais siliclástico e ilítico-caulinítico, o que aliás está de acordo com os resultados obtidos para a composição química, que atribui a um maior grupo de amostras deste sítio uma produção com materiais derivados de rochas mais ácidas.
Realce-se, contudo, que seria necessário efectuar mais estudos para avaliar a interferência de possíveis fenómenos pós-deposicionais na composição minera-lógica das cerâmicas.
5.5.2.1. Barris Ibéricos
Outro aspecto do estudo arqueométrico das ce-râmicas do Castelo das Juntas é a análise comparativa de um barril deste sítio com 3 barris de outros sítios da mesma época: os povoados de Segóvia, Vaiamonte e Azougada. Este estudo considera as questões de influ-
255
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Figura 5.7 – Fenograma obtido utilizando o método UPGMA aplicado à matriz de coeficientes de correlação de Pearson das amostras de cerâmica do Monte da Pata 1 e de argilas regionais
Figura 5.8 – Diferenças nas médias entre os grupos obtidos para as amostrasde cerâmicas do Monte da Pata 1 e de argilas regionais, aplicando o métodoK-means clustering
das cerâmicas do Castelo das Juntas, estando associa-do a matérias-primas derivadas de rochas mais ácidas, existentes nas proximidades do sítio, apresentando, no entanto, concentrações acrescidas numa série de elementos, que poderão resultar da adição de maior quantidade de grãos não plásticos. Estaríamos, por-
tanto, perante a produção local deste tipo de recipiente.
Dos três barris analisados, existe uma certa semelhança entre o de Segóvia e o de Vaiamonte. Estes dois barris são aqueles que apresentam maiores afinidades geoquí-micas com rochas mais básicas, encontran-do-se por isso mais associados às cerâmicas do grupo 2 do Castelo das Juntas. Quer isto dizer, que, muito provavelmente, esses dois barris também poderão ser produções regionais, e com materiais regionais resul-tantes da alteração de rochas básicas. Seria necessário efectuar o estudo arqueométrico das restantes cerâmicas recolhidas nos res-pectivos sítios arqueológicos para melhor averiguar o significado dos resultados ob-tidos. Quanto ao barril da Azougada, não apresenta semelhanças geoquímicas com os restantes, tendo concentrações muito infe-riores de Fe, Sc, U, Co, Cr e Ca, e muito su-periores de Terras Raras Leves. Atendendo a estas características, este barril apresenta maior afinidade com as cerâmicas do gru-po 1 do Castelo das Juntas, e portanto mais associada a matérias-primas derivadas de rochas mais ácidas.
A composição mineralógica de cada um dos barris aponta também para uma maior correlação entre os barris de Segóvia e Vaiamonte, com associações mineraló-gicas idênticas, destacando-se a presença de anfíbolas, além de plagioclase, quartzo e micas. O barril de Azougada apresenta uma mineralogia diferente, com menos micas e plagioclase e sem anfíbolas. Em qualquer dos casos, não estão presentes minerais que apontem temperaturas supe-riores a 800ºC.
Os barris ibéricos estudados apon-tam para uma produção local no caso do Castelo das Juntas, e muito provavelmente também nos restantes casos, embora seja necessário efectuar mais estudos para o confirmar.
ências culturais e mecanismos de circulação de ideias e produtos, tendo em vista estabelecer a proveniência destes materiais de excepção (‘barris ibéricos’), conota-dos com ambientes culturais específicos.
Tal como vimos anteriormente, o barril do Cas-telo das Juntas insere-se no sub-grupo A do grupo 1
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
256
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 5.10 – Diferenças nas médias entre os grupos obtidos para as amostras de cerâmicas do Monte da Pata 1 e de argilas regionais, aplicando o método K-means clustering (neste caso, com o objectivo de salientar a diferença entre as duas amostras outliers)
Figura 5.9 – Projecção das amostras de cerâmicas do Monte da Pata 1 e de argilas regionais no plano da primeira e segunda componentes principais.
257
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
5.6. Produção cerâmica à escala inter-sítio
5.6.1. Proveniência: Relação das cerâmicascom as argilas regionais
Como já foi referido, estudaram-se materiais argilosos colhidos na região (Figura 5.1) com vista à
Figura 5.11 – Cerâmicas do Castelo das Juntas e do Monte da Pata 1segundoa distribuição do Fe2O3 Total e do U
Figura 5.12 – Fenograma obtido utilizando o método UPGMA aplicado à matriz de coeficientes de correlação de Pearson das amostras de cerâmica do Castelo das Juntas
identificação de potenciais fontes de matérias-primas, confirmando-se assim a produção local / regional das cerâmicas. A amostragem incluiu materiais derivados da alteração dos principais contextos geológicos re-gionais: quartzodioritos, dioritos e gabros associados, xistos com metabasitos, vulcanitos, xistos, doleritos (fi-loneanos), bem como argilas dos depósitos terciários.
A composição química obtida para as argilas derivadas por alteração está di-rectamente correlacionada com as respec-tivas rochas-mãe, como seria de prever. A análise estatística efectuada, tendo como variáveis os elementos químicos, revela dois grandes grupos de argilas: os deri-vados da alteração dos quartzodioritos (QD), dos dioritos e gabros associados (DG), dos vulcanitos (V) e dos xistos com metabasitos (XCM); e os derivados da al-teração dos xistos e os dos depósitos de ar-gilas terciárias (Figura 5.21, Figura 5.22).
Como se pode observar na figura 5.22, é nítida a diferenciação de mate-riais, existindo por um lado materiais mais ácidos, associados às amostras de xistos (grupo 1) e mais básicos relaciona-dos com as amostras de quartzodioritos, dioritos e gabros associados e xistos com metabasitos (grupo 2). Realce-se o caso das amostras do Paleogénico (grupo 3), mais carbonatadas e com teores mais bai-xos de Fe, Sc, Cr, Co e TR.
Como se constatou, na genera-lidade, as amostras de cerâmicas não apontam para o uso de argilas terciárias do Paleogénico. Não deve, contudo, es-quecer-se que, no caso das cerâmicas, a relação entre a componente plástica e não plástica influencia a composição química geral das pastas.
Deste modo, a associação entre a composição química das pastas das ce-râmicas e rochas mais ou menos básicas, pode estar relacionada, não só, com o recurso a argilas derivadas da alteração desses diferentes tipos de rochas, mas também da adição em menor ou maior quantidade de elementos não plásticos, particularmente se eles se traduzirem na adição de diferentes proporções de minerais ferromagnesianos (ex. grãos ferruginosos), ou silicatados (ex. quart-zo e feldspatos potássicos), muitas ve-
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
258
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 5.13 – Médias para cada um dos clusters definidos para
as amostras de cerâmicas do Castelo das Juntas,
aplicando o método K-means clustering.
Figura 5.14 – Diferenças nas médias entre grupos
obtidos para as amostras de cerâmicas, aplicando
o método K-means clustering, destacando o sub-grupo 1 A
259
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Figura 5.15 – Cerâmicas do Castelo das Juntas segundo a distribuição da anomalia do Eu e da ano-malia do Ce (destacando--se o sub-grupo 1A)
Figura 5.16 – Curvas de distribuição de terras raras nas amostras de cerâmicas do sub-grupo 1 A, do Castelo das Juntas, relativas aos meteoritos condríticos (Haskin et alii, 1968)
Figura 5.17 – Curvas de distribuição de terras raras nas amostras de cerâmicas do grupo 1, do Castelo das Juntas, relativas aos meteoritos condríticos (Haskin et alii, 1968)
Figura 5.18 – Curvas de distribuição de terras raras nas amostras de cerâmicas do grupo 2,
do Castelo das Juntas, relativas aos meteoritos condríticos (Haskin et alii, 1968)
zes macroscopicamente identificados. Saliente-se o caso das cerâmicas cinzentas do Monte da Pata, que apresentam uma maior correlação com rochas mais básicas, sendo também as que têm pastas mais finas, com poucos grãos não plásticos (ver capítulo 4), que na sua maior parte são grãos ferruginosos, sendo ínfi-ma a quantidade de quartzo. No caso do Castelo das Juntas, as cerâmicas com maior quantidade de grãos não plásticos de granulometrias mais finas estão asso-ciadas a rochas mais ácidas.
Considerando as correlações entre os ele-mentos, representa-se na figura 5.23, as varia-ções do Fe+Sc+Cr+Co+Zn com as das Terras Raras+Hf+Ta+Th+U para as cerâmicas do Monte da Pata 1 e do Castelo das Juntas e ainda para as argilas
analisadas. Destaque-se a relação existente entre um grupo de amostras do Castelo das Juntas e os xistos, e entre um grupo de amostras do Monte da Pata e as rochas mais básicas (QD+DG). As amostras de mate-riais de construção do Castelo das Juntas apresentam uma afinidade geoquímica com os xistos.
Estamos pois, perante o recurso a matérias--primas regionais, nomeadamente os xistos, embo-ra também os dioritos e gabros, sempre com adição de elementos não plásticos em diferentes proporções (grãos ferruginosos, quartzo, micas, carbonatos). A uti-lização de argilas resultantes dos depósitos terciários é igualmente provável. Para qualquer dos casos, além do uso de grãos não plásticos naturalmente presentes nas argilas residuais, também ocorreu a adição de têmpera.
Figura 5.19 – Diferenças nas médias entre grupos obtidos para as amostras de cerâmicas
do Castelo das Juntas, de argilas regionais e dos barris, aplicando o método K-means
clustering
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
260
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
261
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Seria importante proceder à análise petrográfica das pastas destas cerâmicas, para se poder obter mais in-formações relativamente à tecnologia de produção, no-meadamente as proporções das misturas de diferentes matérias-primas e elementos não plásticos, bem como os acabamentos dados às superfícies. Contudo, o facto de se ter procedido à caracterização mineralógica por difracção de raios-X permitiu obter uma série de in-formações relativas a temperaturas de cozedura.
5.6.2. Arqueometria de cerâmicas e relações inter-sítios
A abordagem arqueométrica a uma escala inter--sítio permite explorar questões relacionadas com as relações entre sítios de habitat. No caso dos dois sítios estudados, não foi possível documentar a existência de contactos directos, uma vez que quase não se registam cerâmicas de provável produção não local e os raros casos identificados para cada sítio (apenas dois casos no Castelo das Juntas e um no Monte da Pata 1) não remetem para a exploração de matérias-primas locali-zadas nas imediações do outro.
A reduzida diversidade da proveniência dos pro-dutos cerâmicos é particularmente relevante no caso do Castelo das Juntas, cuja dimensão, longevidade e aparente ‘monumentalidade’ parecem concorrer para a atribuição de um possível papel aglutinador e/ou es-truturador da rede de povoamento local.
A maior heterogeneidade química das cerâmi-cas comuns de produção local do Castelo das Juntas – quando comparadas com as do Monte da Pata 1 – resultará, pelo menos em parte, da mais longa ocupa-ção do povoado fortificado, em cujos momentos mais recentes se verificaram claros sinais de contacto com o mundo romano ou em vias de romanização (mate-rializados na presença de algumas categorias artefac-tuais, como ‘paredes finas’, campanienses, lucernas). A introdução destas novas categorias cerâmicas não parece ter sido acompanhada por alterações na tecno-logia de produção de cerâmica comum. No entanto, o reduzido número de amostras analisadas e a ausência de um faseamento cronológico mais preciso que as enquadre na diacronia de ocupação do sítio não per-mite generalizar esta observação. O que a introdução destes conjuntos cerâmicos parece documentar é um
Figura 5.20 – Difractograma da amostra CJM 14, obtido por difracção de raios-X à amostra total em agregado não orientado, onde é bem visível a presença de filossilicatos (na sua maior parte associados a minerais de argila)
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
262
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
acréscimo e diversificação das cerâmicas de proveni-ência exógena, hipótese que só pode ser confirmada no futuro através do estudo arqueométrico destes materiais.
Para a produção cerâmica dos dois sítios, terão sido praticadas estratégias semelhantes de exploração dos recursos locais, e terá sido usado o mesmo tipo de matérias-primas, como se pode verificar na figura 5.24, que apresenta a composição química média para as ce-râmicas do Castelo das Juntas e do Monte da Pata 1. As diferenças encontradas resultarão muito provavel-mente da heterogeneidade inerente aos materiais geo-lógicos e/ou a diferentes proporções dos constituintes plástico e não plástico.
5.7. Síntese final: Problemáticasarqueológicas e resultadosarqueométricos
O estudo arqueométrico de 50 amostras de re-cipientes de cerâmica comum dos sítios de habitat do Monte da Pata 1 e Castelo das Juntas permitiu de-terminar continuidades na produção cerâmica dita de ‘tradição local/regional’, quer no tempo, quer no espa-ço, dentro da área de estudo.
De facto, se tivermos como referência cronológi-ca as balizas estabelecidas para a ocupação do Castelo das Juntas (séculos IV a I a.C.), as mesmas estratégias de exploração de matérias-primas parecem ter sido praticadas ao longo do amplo período de ocupação si-derúrgica da margem esquerda do Guadiana.
Quando os dados analíticos obtidos para o Cas-telo das Juntas e Monte da Pata 1 são comparados com os resultados do estudo arqueométrico da cerâ-mica comum do sítio do Xerez 13 (ver capítulo 4 da monografia do Bloco 10), com ocupação centrada no século I a.C., as estratégias de exploração dos recur-sos locais parecem adquirir uma dimensão diacrónica que ultrapassa a Idade do Ferro e tem continuidade na época romana.
Contudo, parecem verificar-se mudanças tecno-lógicas noutros estádios do processo de manufactura, nomeadamente ao nível das temperaturas de cozedura, uma vez que, no início do período romano, a maioria das cerâmicas comuns do Xerez 13 parece ter sido co-zida a temperaturas da ordem dos 700-800ºC, as quais representam valores bastante mais elevados do que os que foram estimados para a maioria das cerâmicas do Castelo das Juntas (600-700º ou inferiores a 600ºC).
A hipótese de introdução de outras modificações tecnológicas, como por exemplo no processamento das
pastas, nesta época de transição, só poderá ser investi-gada através de análise petrográfica.
Para os dois habitats da Idade do Ferro estuda-dos, a semelhança química entre as amostras de cerâ-mica e os materiais argilosos recolhidos na região indi-ca que muito provavelmente a maioria dos recipientes deverá ter sido produzida localmente.
É possível sugerir uma proveniência exógena (i.e. exterior à área de amostragem geológica) apenas para um número muito reduzido de amostras (uma no Monte da Pata 1 e duas no Castelo das Juntas), com composições químicas distintas das argilas analisadas. Note-se, no entanto, que estas cerâmicas de produção ‘não local’ não representam nenhuma forma ou fabrico particulares, embora seja de referir que a amostra ou-tlier do Monte da Pata 1 corresponde a um recipiente de cerâmica cinzenta.
A utilização de recursos locais parece ser trans-versal a todas as categorias funcionais e morfológicas, não se verificando a selecção de matérias-primas espe-cíficas em função da tipologia dos recipientes manu-facturados. Mesmo os grandes recipientes e o ‘barril’ do Castelo das Juntas se inserem num grupo químico relacionado com produção local. Apesar de três dos quatro grandes recipientes e o barril constituírem o subgrupo A, que se destaca dentro do Grupo 1 por uma maior concentração dos elementos que caracteri-zam a sua composição, não é possível distingui-lo des-te. A maior proximidade química entre as amostras do subgrupo A poderá estar relacionada com uma menor variabilidade no processamento da pasta, por exemplo.
Como foi referido anteriormente, no conjunto cerâmico do Castelo das Juntas foi dado particular des-taque ao ‘barril’, tendo-se efectuado um estudo compa-rativo com outros da mesma região. A distribuição res-trita deste tipo de recipientes no Ocidente Peninsular, com especial incidência na área da Extremadura Seten-trional/Alto Alentejo (Fabião, 1998:60), e a sua escassa representação em cada sítio fazem dos ‘barris ibéricos’ elementos de excepção no contexto dos conjuntos ce-râmicos desta época. Têm sido entendidos como pro-duto de uma tradição local de re-elaboração de formas conhecidas para o mundo ibérico (Gamito 1983:204), e a sua produção local tem sido assumida apesar da ausência de dados arqueométricos. O aparecimento de recipientes deste tipo em zonas mais meridionais do Sudoeste, como é o caso do vale do Guadiana, tem contribuído para formular problemáticas que incidem sobre as vias e mecanismos de inter-relação subjacentes à construção de uma cultura material partilhada. É nes-te contexto que alguns autores admitem a ‘hipótese de
263
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
Figura 5.21 – Variação da razão La/Sm com o teor de Co nas amostras de materiais argilosos
Figura 5.22 – Diferença das médias entre os grupos obtidos para as amostras de argilas regionais aplicando o método k-means clustering (neste tratamento estatístico retirou-se a amostra outlier MRD 1)
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
264
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
serem «importações» (de peças ou de ideias) os exem-plares do Ardila’ (Fabião, 1998:61), por exemplo.
O estudo arqueométrico das cerâmicas do Cas-telo das Juntas permitiu confirmar uma proveniência local para o ‘barril’ ali encontrado, uma vez que não se diferencia quimicamente das restantes cerâmicas comuns. Não surpreende, por isso, que se distinga cla-ramente dos ‘barris’ de outros povoados da região, no-meadamente Segóvia, Vaiamonte e Azougada. Estes são igualmente diferentes entre si, embora as amostras de Segóvia e de Vaiamonte se associem a rochas mais básicas e apresentem grandes afinidades entre si, e, em
Figura 5.23 – Variações de Fe+Sc+Cr+Co+Zn com Terras Raras+Hf+Ta+Th+U para as cerâmicas do Monte da Pata 1 e do Castelodas Juntas e para as argilas regionais
certa medida, com as cerâmicas do grupo 2 do Castelo das Juntas. O exemplar da Azougada, associado a ma-térias-primas decorrentes da alteração de rochas mais ácidas, é o mais dissemelhante em termos de compo-sição química.
A ausência de amostras representativas dos con-juntos cerâmicos destes sítios e de amostras de de-pósitos de materiais argilosos recolhidas na sua área envolvente não permite determinar até que ponto os ‘barris’ representam casos de excepção nos respectivos contextos arqueológicos, em termos de proveniência e tecnologia. O que parece evidente é a inexistência
265
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
PRODUÇÃO DE CERÂMICAS DO MONTE DA PATA 1 E DO CASTELO DAS JUNTAS: RESULTADOS DE UM ESTUDO ARQUEOMÉTRICO
de um centro produtor destes recipientes a uma escala ‘regional’. Embora não seja de excluir a hipótese de o ‘barril’ de algum dos povoados ter sido ‘importado’, os dados analíticos disponíveis não contradizem a tese vi-gente (Gamito 1983: 206), que considera que os ‘barris ibéricos’ do Sudoeste são produzidos localmente, ga-nhando neste processo a sua singularidade.
A produção local dos grandes recipientes anali-sados é coerente com a sua enorme representação em todos os contextos habitacionais desta época e com as suas funções de principal forma de armazenagem de alimentos (Fabião, 1998:61).
Os resultados analíticos refutam a possibilidade destes contentores terem sido utilizados para transpor-te de produtos (a média ou longa distância), hipótese que tinha sido colocada dada a analogia formal de al-guns destes recipientes fechados com alguns tipos de ânforas ibero-púnicas e a ausência de ânforas no povo-ado. O número muito reduzido de amostras analisadas e o facto de não terem sido seleccionados para análise os raros exemplares decorados com ‘estampilhas’, por estarem representados apenas por fragmentos de bojo e não serem morfologicamente reconstituíveis, não permite generalizar estas observações ao conjunto to-tal de grandes recipientes do Castelo das Juntas.
Igualmente de produção local é a cerâmica cin-zenta a torno. Contudo, no Monte da Pata 1, as cerâ-micas cinzentas destacam-se das restantes cerâmicas comuns a torno, embora sem se isolarem num grupo exclusivo. A composição química das oito amostras analisadas indicia uma estratégia de exploração de
matérias-primas específica, que corresponde ao facto de se privilegiarem argilas decorrentes da alteração de rochas mais básicas (nomeadamente, quartzodio-ritos, dioritos e gabros associados), localizados a maior distância do povoado, em detrimento de materiais resultantes da alteração dos xistos, que se encontram mais próximos. No Castelo das Juntas, a amostragem é demasiado reduzida para permitir fundamentar uma diferenciação tecnológica entre esta categoria cerâmica e as restantes, impondo-se a necessidade de proceder a uma maior amostragem no futuro.
À luz dos dados disponíveis, é possível sugerir para a cerâmica cinzenta uma tecnologia de produção cujas especificidades têm expressão química, mas que não pode ser caracterizada sem recurso a microscopia óptica.
Sintetizando, a abordagem arqueométrica da produção cerâmica do Monte da Pata 1 e Castelo das Juntas, integrada na investigação arqueológica do Bloco 9, contribui para explorar questões relacionadas com a articulação do povoamento da Idade do Ferro da margem esquerda do Guadiana, e com problemáti-cas relacionadas com influências culturais e circulação de ideias e produtos nesta época.
AgrAdecimentosAgradece-se ao Museu Nacional de Arqueologia
a cedência dos barris dos sítios de Segóvia, Vaiamonte e Azougada, para amostragem, tendo em vista a reali-zação de análises químicas e mineralógicas.
Figura 5.24 – Média da concentração dos elementosquímicos das cerâmi-cas do Monte da Pata 1 e do Castelo das Juntas
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
269
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
6. CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAISSamuel Melro e Ana Cristina Ramos
6.1. Âmbito da nossa amostra
Nas primeiras abordagens realizadas ao conjunto de sítios intervencionados no âmbito do Bloco 9, par-timos para o estudo da cultura material com a suges-tão de estarmos perante dois conjuntos diferenciados. Duas realidades, aparentemente sem qualquer ligação directa entre os seus âmbitos cronológicos, e eventual-mente podendo vir a assumir diferentes enquadramen-tos e vivências (Valera, 1999; Albergaria, 2000; Alber-garia; Melro, 2002). O espectro de incertezas quanto às suas diacronias e sincronias pesava, no entanto, so-bre estes dois âmbitos, sobretudo ao observar-se um padrão geral de continuidade da tradição local/regional da sua cultura material.
O primeiro conjunto agrupava os pequenos po-voados, integrados, nessas preliminares observações numa cronologia que poderia vir desde os inícios da Idade do Ferro (Serros Verdes 4) aos meados do pri-meiro milénio a.C. entre os sécs. VI e V / IV a. C. (Monte da Pata; Estrela 1; Monte das Candeias 3; Monte do Judeu 6) (Valera, 1999; Albergaria, 2000). Posteriormente, foram genericamente centrados nos meados do primeiro milénio a.C. (Albergaria; Melro, 2002), não ficando como tal, estabelecida qual a sin-cronia deste conjunto com o povoamento mais tardio presente no Castelo das Juntas, representante singular do segundo âmbito, com uma cronologia centrada em torno do séc. II a.C., podendo eventualmente remon-tar ao séc. IV / III a.C. a sua fundação.
Se a análise agora realizada290 veio apenas afinar e aprofundar as linhas já enunciadas quanto à ocupa-ção tardia do Castelo das Juntas (Albergaria, Melro, Ramos, 2000; Albergaria, Melro, 2002), já os resulta-dos do estudo dos materiais dos pequenos povoados abertos vieram a atribuir-lhes uma cronologia mais tardia do que a anteriormente sugerida. Na sua gene-ralidade esta é agora determinada em redor do séc. III, ou mesmo do séc. II a.C..
Esta constatação permitiu-nos esboçar uma ponte entre estes dois campos que, embora perma-
neçam diferenciados pelas características distintas de povoamento, aproximam-se numa cultura material co-mum e definida numa marcada linha de continuidade observada no Sudoeste ao longo da segunda metade do I milénio a.C..
Consequentemente, estabelecido o vínculo cro-nológico e cultural entre os dois âmbitos, a observação das suas diferenças e a evolução dos pequenos povoa-dos abertos ao povoado fortificado das Juntas permite--nos esboçar alguns dos aspectos da evolução cultural e da dinâmica social que guia estas povoações estabe-lecidas entre o Guadiana e o Ardila até às portas do novo milénio romanizado.
6.2. Conjunto cerâmico
Feita a análise da cultura material sítio a sítio, é necessário ensaiar uma leitura de conjunto que possa traçar o âmbito cultural que nele se encerra. Haverá que demonstrar quais são afinal os principais aspectos da identidade local/regional que se destacam, e quais são os restantes aspectos com que se relacionam. Que evidências materiais podem, nesse sentido, ser aponta-dos e sintetizados; quais as suas persistências e raízes; e como se comportam e evoluem na segunda metade do I milénio a. C., nas etapas derradeiras da Idade do Ferro na margem esquerda do Guadiana
O primeiro aspecto, talvez o de maior realce, que poderíamos enunciar respeita a escassa variabi-lidade morfológica observada. Esta encontra-se reu-nida transversalmente em 3 categorias cerâmicas a saber: cerâmica manual, cerâmica a torno e cerâmica cinzenta. Apenas no Castelo das Juntas, este leque é alargado a outras categorias, num momento em que se acentuam igualmente diversas variantes nas categorias e tipos cerâmicos já considerados.
Perante modestos conjuntos de índole domés-tica, devemos reter outra importante constatação: a evidente ausência de materiais claramente exógenos. Esta ideia estabelece-se num quadro de proveniên-cias de fabricos de escala local/regional, como pode-
290 Como já amplamente demonstrado, não devemos perder de vista que a presente abordagem às intervenções do Bloco 9 é refém das condicionantes próprias de uma arqueologia de salvamento; e que sobretudo no conjunto dos pequenos povoados a nossa amostragem material provém na sua quase exclusiva maioria das camadas revolvidas de superfície, acrescidas de nítidas dificuldades na leitura e corres-pondências estratigráficas.
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
270
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
rão demonstrar as análises arqueométricas realizadas no Monte da Pata e Castelo das Juntas, onde apenas duas amostras indicam uma matriz alheia ao quadro regional291.
A exclusão destas peças exógenas é aparente-mente extensível a todos os pequenos povoados292, vin-do a ser apenas registada nas etapas tardias da Idade do Ferro observadas no Castelo das Juntas. E aí também, notemos a sua diminuta expressão no conjunto total obtido, sintomático do carácter eminentemente local e regional que percorre todo o conjunto cerâmico.
A consequência mais prática destes dois enun-ciados, resulta em simples e homogéneos conjuntos domésticos de índole local/regional, na ausência de elementos de datação absoluta (apenas minimizada no povoado das Juntas), bem como, numa amostra de cronologias pouco precisas e com uma abrangência de-masiado lata, dadas as leituras estratigráficas sumárias e de faseamentos obtidas.
A escassa variabilidade morfológica percorre assim, e de forma colateral, as 3 categorias referidas. Veja-se que entre potes e panelas, ou tigelas e pratos, distinções perenes quanto à sua multifuncionalidade, estes traduzem-se em morfologias simples e de claras afinidades, quer entre produções manuais ou a torno, quer em relação às cerâmicas cinzentas ou aos grandes recipientes de armazenagem.
Na cerâmica manual imperam as formas fecha-das, mas o cenário é antes de equilíbrio entre potes, por um lado, e tigelas e alguns pratos, por outro, para as produções comuns a torno. Já na cerâmica cinzenta são essencialmente as formas abertas – tigelas à frente – que determinam o conjunto global considerado, o que não exclui as pequenas formas fechadas.
Essa escassa variabilidade formal é entendida no mesmo sentido com que agora nos propomos ensaiar alguns agrupamentos de formas. Isto é, à semelhan-ça das anteriores abordagens partimos de produções manuais, produções a torno e das chamadas cinzentas, observando-as sob formas fechadas e formas abertas. Agora, e à luz desses critérios, procuramos identificar conjuntos transversais, em primeiro lugar a todos os sítios, e em segundo lugar, eventualmente transponí-veis nas distintas categorias. Tal não resulta porém no
esvaziamento dessas mesmas formas, como atrás as-sinaladas nas análises sítio a sítio, mas apenas numa perspectiva mais abrangedora e de síntese.
6.2.1. Produções manuais: formas fechadas
Um primeiro grupo formal que poderíamos des-tacar nesta análise de conjunto respeita os chamados vasos de perfil em “S”.
Estas formas fechadas de suave perfil em “S” contínuo, assim denominados na forma II da Ermi-ta de Belén, principal referência tipológica que temos vindo a usar, correspondem nas produções manuais à totalidade dos potes assinalados para cada um dos sítios293. As variantes consideradas, como vimos em distintas formas em cada sítio, advêm das diferenças da dimensão, e sobretudo a nível do próprio perfil da peça, num maior ou menor estrangulamento do colo/bojo e na orientação do bordo, seja este mais ou menos exvertido.
Atendendo à variabilidade destes recipientes, com diâmetros de abertura variáveis, poderíamos as-sociar num primeiro grupo as Formas I do Monte da Pata, Forma III dos Serros Verdes, Forma II do Monte das Candeias e Forma IV do Castelo das Jun-tas, caracterizadas por colos tendencialmente altos, ligeiramente estrangulado e bordo pouco exvertido ou de pendor vertical (Forma II-A de Bélen). O se-gundo grupo predominante reúne, por outro lado, as Formas II do Monte da Pata; IV da Estrela; I e II dos Serros Verdes, I do Monte das Candeias; I do Monte do Judeu e as Formas I, II e V do Castelo das Juntas, pertencem à maioritária forma II-B de Bélen, de colo médio/alto, ligeiramente mais estrangulados, e sobretudo com os bordos já mais exvertidos. Na Es-trela o perfil em “S” melhor conservado da Forma V, e eventualmente a Forma III do Monte das Candeias, são marcados por uma suave carena na ligação colo/bojo, o que lhes determina ainda a variante C da For-ma II das cerâmicas manuais de Bélen.
Apesar do bojo e da base estarem em boa parte ausentes, de acordo com Rodríguez Díaz, a parte su-perior deste tipo de recipientes (bordo e colo) é muito curta relativamente à inferior, ainda que nem sempre
291 Trata-se de uma tigela da Forma VIII das cerâmicas cinzentas e de um pote da Forma V das cerâmicas a torno.292 Apenas no povoado da Estrela surgem algumas escassas evidências da presença de ânforas de provável tipologia ibero-púnica.293 Demarca-se apenas destes perfis e no que respeita as produções manuais a Forma II da Estrela, correlacionável coma Forma I das ce-râmicas manuais da Ermita de Belén e presente nos níveis III e IV (pleno século III até meados do II a. C) (Rodríguez Díaz, 1991:41-42; 197; 136, fig.13) e à Forma III-Bc de Capote, com cronologia entre o século IV e II a.C..
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
271
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 6.1 – Formas fechadas (cerâmica manual)
se verifique esta circunstância. O corpo do vaso mais ou menos globular ou ovóide, deste tipo estreitar-se-ia para um fundo plano, como nas Formas I e II do Cas-telo das Juntas, ou com “pé saliente” (Rodríguez Díaz, 1991:42-43, fig.13).
Na Ermita de Belén está documentada nos ní-veis de ocupação (III e IV) datados de pleno século III até meados do II a.C. (Ib., ibidem). De acordo com a tipologia definida por Berrocal-Rangel para Capo-te e para o Sudoeste, este conjunto define-se, por um lado, entre os vasos em “S” contínuo – Forma IV, com
cronologia entre os sécs. V a II a.C., e por outro, com os vasos em “S” com “ombros marcados” ou carenas altas, Forma V dos sécs. IV e III a.C. (Berrocal-Ran-gel,1994:154-163; Id., 1992:105,106; lam. 8. 8/12). De acordo com este último investigador, a propósito desta última forma: “é possível presumir que este tipo, carenado, é especialmente característico das povoações célticas do Guadiana, onde mostra uma certa impor-tância que contrasta com a sua escassez, ou ausência generalizada entre as produções meridionais da penín-sula” (id.,1994:163).
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
272
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Poder-se-á ainda presumir alguma evolução for-mal nas Formas II e V do Castelo das Juntas, assumin-do a tendência no aumento da curvatura da inflexão dos vasos em “S” para os recipientes mais modernos (id., 1992:105). Podemos igualmente sugerir a aproxi-mação destes potes aos recipientes fechados ou semi--fechados de corpo globular, bordos curvos exvertidos e de base plana, tipo XII B de Capote (id., 1994:174-175). Maioritariamente a torno, mas ainda com algu-ma representação manual, estes vasos são à semelhança dos anteriores de cronologias de meados do séc. IV a meados do II a.C. (id.,1992:107, lam. 9.7.).
Em perfis similares – formas fechadas de perfil em “S” contínuo na transição bordo/bojo de base plana – destaca-se nas produções manuais, como nas produ-ções a torno, mas em menor expressão, os chamados recipientes de asas de cesta ou asas diametrais. As asas de cesta caracterizadoras desta forma resultam numa prevalência estabelecida ao longo da segunda metade do I milénio a.C., com paralelos entre o séc. IV e II
Figura 6.2 – Asas de “cesta”
a.C.. É patente no nosso conjunto, infelizmente sem reconstituições totais de forma, no Monte do Judeu num fragmento de uma asa de “cesta” de secção sub--circular, de produção manual (Forma II), a par de um outro fragmento de um pote com asa de “cesta”, mas de produção ao torno (Forma IV). No Monte das Can-deias, é proveniente um fragmento de bordo com ar-ranque de asa diametral de secção sub-circular, perten-cente a um recipiente de modelação manual (Forma IV), tal como no Monte da Pata (Forma III) e ainda no Castelo das Juntas (Forma III).
Na Ermita de Belén este tipo é identificado pela Forma IV das cerâmicas de cozedura oxidante (Ro-dríguez Díaz, 1991, pp.54-55, fig.21; fig.90, n.º1101; fig.92, n.º1170), de pleno século III a meados do II a.C., e por Berrocal-Rangel como uma variante à for-ma XIIB (Berrocal-Rangel, 1994:175, fig. 60).
Assim sendo, os recipientes de perfil em “S”, ras-treados na tradição do Bronze Final e I Idade do Ferro do centro peninsular, resultam numa forma frequente
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
273
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
nos contextos da 2ª metade do Iº milénio a. C., por vezes associado a decorações digitadas, quer no bordo, quer no bojo como em diversos exemplares da nossa amostra. No entanto, são mais frequentes as formas li-sas, como se verifica no Altar de Capote, onde surgem em contextos datados dos séculos IV e III a.C., sendo já escassos nos níveis datados do século II a. C.(id., 1994: 149-153).
Em relação aos vasos que suportam as decora-ções digitadas a sua presença está documentada desde as áreas mais setentrionais como em Requena, Ca-mino de Los Pucheros 1, Dehesa Nueva del Rey 2, Toledo (López-Astilleros, 1993:321-336), no Castro de la Muralla (Alcántara), um sítio com ocupação do bronze final, Castillejo de Gutiérrez (Alcántara), com ocupação da Iª Idade do Ferro, (Martin Bravo, 1993: 252;243-286;260), denotando uma longa per-manência cronológica desta forma que se prolonga a partir do século V. Facto, de novo observado desde regiões mais setentrionais, como na necrópole de El Raso (Ávila), provenientes de sepulturas datadas entre o século V e III a.C. (Fernández Gómez, 1997), em Conimbriga (Alarcão,1974) ou em VillasViejas del Tamuja (Cáceres).
A sua presença é amplamente atestada em vá-rios sítios do Sudoeste, desde o oppidum de Badajoz, em níveis datados dos séculos VI-V a.C. (Berrocal--Rangel,1994:143-187), Cabeço de Vaiamonte (Fa-bião, 1998, vol.3, est. 53), Segóvia, Mirobriga de los Célticos, Cerro del Castillo em Aroche, La Pepina, no depósito de Garvão, na necrópole da Herdade da Cha-miné, Pedra d’Atalaia, Castelo Velho de Santiago de Cacém, Pomar I, Serpa (Berrocal-Rangel, 1994:149-153; id., 1992:105, 106).
Associados a estes, os recipientes de asas de cesta são igualmente habituais entre as cerâmicas proto-his-tóricas, desde povoados situados na Meseta Norte a diversos povoados meridionais dos séculos VI e V a. C. (como Cástulo, Colina de los Quemados ou Tejada la Vieja) (Berrocal-Rangel, L., 1994:174; id.,1992: 97)294. A sua presença na área do Sudoeste pode ser vista para além de Capote, no Castro de la Muela, Alcazaba de Badajoz (Almagro-Gorbea, Martín,1994:178, fig.18, n.º4), no nível II do Corte Norte, de Cancho Roano (Celestino Pérez, Jiménez Ávila,1993:180, fig.71, n.º
2), em El Castañuelo, ou em necrópoles do Alentejo, como na Fonte Santa (Ourique) datada por Caetano Beirão do século VI a. C. (Beirão,1986:fig.18-19), cuja data, a aceitar, seria coeva dos exemplares mais meri-dionais e turdetanos (Berrocal-Rangel, 1992:97).
6.2.2. Produções a torno: formas fechadas
Como vimos, o perfil em “S” na transição bordo/bojo, contínuo ou com a variante ligeiramente mais descontínua, constituem uma marca corrente das lon-gevidades morfológicas e frequentemente registados, coexistindo potes a torno, de perfil em “S”, quer em exemplares manuais, quer a torno. A concomitância das formas com asas de cesta em ambas as produções, resulta noutro particularismo desse mesmo aspecto.
Porém, o perfil das produções torneadas, ainda que sob o estreito ar de família das produções manuais, resulta, mais difícil de agrupar à primeira vista, uma vez que as pequenas variantes aumentam consideravel-mente. Estas parecem atender, não apenas à dimensão das peças, mas essencialmente quanto ao seu compor-tamento ao nível da secção e orientação do bordo, e à definição do perfil de um corpo, mais ovalado ou piriforme, num “S” mais notório, ou antes com maior tendência globular e bordo claramente mais esvazado.
Apesar dos particularismos que determinam as variantes tipológicas apresentadas em cada sítio, pode-ríamos considerar um conjunto de potes de perfil em “S” e de produção a torno, situado por um lado, entre as formas IIB das cerâmicas a torno toscas de Bélen e a forma IIA da mesma categoria (fazendo esta última ponte com a forma III das cerâmicas de cozedura oxi-dante da mesma tipologia). São todas elas enquadrá-veis nos mesmos níveis e cronologias do séc. III e II do povoado estremenho (Rodriguez Díaz, ibid.:48-55).
A afinidade morfológica destes dois tipos faz com que a designação de vasos de perfil em “S” se cruze com a denominação de “urnas”, termo que aporta um significado redutor, embora amplamente generalizado. Esta dualidade é igualmente observada por Berrocal--Rangel, considerando desde o séc. IV à romanidade, por um lado urnas de corpo piriforme em “S” e por ou-tro urnas globulares (Berrocal-Rangel, 1992:107-112). Morfologias, que por sua vez, percorrem a cerâmica
294 “ No entanto, as asas de cesta conhecem-se também no Norte, onde são especialmente abundantes, desde épocas similares e com uma larga perduração que permite encontrá-las em grande número entre as cerâmicas numantinas. O nexo geográfico fica estabelecido por al-guns exemplares procedentes da necrópole de El Raso de Candeleda e Las Cogotas, Ávila.” (BERROCAL-RANGEL, 1992: 97). Na necrópole de El Raso, são proveniente de uma sepultura datada do séc. IV a.C. (Fernández Gómez, 1997: 48,49).
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
274
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
comum a torno, de distintos fabricos até à categoria das cerâmicas cinzentas.
Atendendo às cerâmicas comuns a torno da nos-sa amostragem, poderíamos reunir os recipientes cujo mais acentuado perfil em “S” lhe dita um paralelismo com a forma IIB de Rodríguez Díaz atrás citada (Ro-dríguez Díaz, 1991:49-51). Neste conjunto integram--se as Formas I e V e VII do Castelo das Juntas, as Formas I, II e VI do Monte da Pata, as Formas III e a Forma V do Monte do Judeu, a Forma I dos Ser-ros Verdes, a Forma II da Estrela e as Formas I e III do Monte das Candeias. De tamanhos médios (10/20 cm), ainda que com alguns ligeiramente inferiores, já possível de ser vistos como copos (Forma V do Monte Judeu) e outros já a caminho da categoria dos gran-des contentores (como os recipientes do Monte das Candeias), apresentam regra geral um colo médio/alto, ligeiramente estrangulados e tendencialmente mais exvertidos que as produções manuais. A base é
Figura 6.3 – Formas fechadas (cerâmica a torno)
possivelmente plana, ou ligeiramente côncava como na Forma I das Juntas.
Um conjunto algo distinto abarcaria as Formas II e X do Castelo das Juntas, a III e a V do Monte da Pata; a Formas I da Estrela e eventualmente a I do Monte do Judeu, e a IV da Estrela. Estas poderão ser associadas à citada forma IIA de Bélen, de bordo claramente esvazado e corpo globular (id.; ibidem), ou às urnas de bordo esvasado, perfil globular/ovoíde com diâmetros entre os 15 e 20 cm e bases planas ou côn-cavas, forma III das produções de cozedura oxidante (id., ibidem: 54, 55). As 3 últimas formas poderão ainda eventualmente individualizar-se por se aproximarem mais da forma IV das cerâmicas de cozedura oxidante de Belén, face a um maior desenvolvimento do colo (Rodriguez Díaz,1991:54-55).
Todas estas formas têm paralelos com o povoa-do de Bélen, uma vez mais, nos níveis de pleno século III até meados do II a.C. Uma cronologia coeva das
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
275
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
urnas globulares consideradas por Berrocal-Rangel, no tipo XIII para as produções entre o séc. IV e II a. C., as quais à semelhança de um exemplar da Estre-la, apresentam geralmente um tratamento decorativo pintado, no nosso caso bandas monocromáticas em vermelho (Berrocal-Rangel, 1994:176 -178). Estes recipientes prosseguem consequentemente em urnas de corpo globular da fase tardia (meados séc. II, iní-cios do I a.C.), com predomínio dos vasos de colo curto e destacado, e bordo esvasado de lábio arredon-dado ou ponteado, de bases planas (id., 1992:109-112), ou côncavas. Nessa evolução corresponderiam à forma 11 da vasilha pré-romana “tardia” do séc. II a.C. apresentada para a área do Sudoeste, confirman-do-se esta nos exemplares do Castelo das Juntas e na sua tendência para um colo mais curto e pronunciado em épocas próximas da Romanização (id. Ibid.:110-112; fig. 13).
Estes recipientes fechados constituem efectiva-mente uma das formas cerâmicas mais profusamente conhecidas na protohistória peninsular e de ampla di-fusão desde os protótipos orientalizantes à plena época romana (id., 1994:179). Efectivamente, “é nas terras
ocidentais da Península onde as urnas globulares deste tipo [XIII] alcançam tanta importância que se consti-tuem na forma indígena mais numerosa dos sítios pré--romanos tardios e alto-imperiais de grande parte de Portugal e Extremadura” (id., 1992:107).
Paralelos mais recuados podem, no entanto, ser tomados no Cerro Macareno (séc. V) (id., 1994:179), ou em alguns dos chamados vasos de oferendas de Cancho Roano, datados do século VI-V a.C. (Ce-lestino Pérez, Jiménez Ávila,1993:185, fig.48). Mais próximo surgem, para lá de Bélen e Capote, em Hor-nachuelos, Nertóbriga, Cantamento de la Pepina, Los Castillejos 2, Pedrão, etc.
6.2.3. Cerâmicas cinzentas: formas fechadas
A transversalidade das formas como vimos en-tre a cerâmica manual e a cerâmica comum a torno alarga-se do mesmo modo às produções da chamada cerâmica cinzenta.
Os recipientes fechados de cerâmica cinzenta, presentes em menor número face às formas abertas, inscrevem-se na sua quase totalidade na categoria de
Figura 6.4 – Formas fechadas (cerâmica cinzenta)
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
276
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
potes (lisos ou decorados sobretudo por pequenas es-tampilhas de roleta), observando-se as continuidades dos perfis em “S” das produções a torno.
Um primeiro conjunto agrega a Forma III e IV da Estrela, e eventualmente a Forma I do Castelo das Juntas, a Forma II do Monte da Pata e a Forma I dos Serros Verdes, correspondendo a recipientes fecha-dos, com diâmetro de abertura variáveis, de perfil em “S”, colos médios/altos estrangulados, por vezes com um pequeno ressalto na ligação do colo com o bojo e bordo exvertidos, ligeiramente espessados ou mesmo em aba. Apresentam semelhanças com a Forma I das cerâmicas cinzentas de Belén, com representação nos níveis datados dos séculos III-II a.C. (Rodriguez Díaz, 1991:61-64).
Um segundo conjunto poderá reunir a Forma I dos Monte das Candeias, a Forma II da Estrela, e as Formas II e III do Castelo das Juntas. Tratam-se de recipientes fechados, com diâmetro de abertura variá-veis, colos estrangulados e bordo exvertidos, ligeira-mente espessados, com semelhanças com a Forma III das cerâmicas cinzentas de Belén, com representação nos níveis datados dos séculos III-II a.C., e com uma afinidade à Forma I das cerâmicas comuns modeladas ao torno do povoado estremenho, pela qual se frisam as variação no tipo de bordo e no tamanho do vaso (Id.,Ibid.:61-64).
6.2.4. Produções manuais: formas abertas
Para além destes recipientes fechados, um outro conjunto cerâmico, que constitui como um dos mais frequentes e característicos ao longo da segunda meta-de do I milénio a.C. é representado pelas tigelas. Uma vez mais constituem uma marca das longevidades morfológicas observáveis na amostra em estudo e na simultaneidade de formas manuais e a torno comum, e entre estas últimas e as produções cinzentas.
Em termos de produções manuais as formas abertas são mais escassas, mas estão presentes nos pe-quenos povoados, onde podemos traçar dois grupos. A sua distinção não esconde alguma dificuldade na sua linha separadora, observando-se essencialmente vasos de tendência mais troncocónica ou ovóide, bebendo raízes em mais recuados atavismos; e, por outro lado, vasos de tendência nitidamente esférica, observados desde os protótipos orientalizantes à época romana.
Um primeiro conjunto engloba a Forma IV do Monte da Pata e, a caminho do segundo grupo, a For-ma V do Monte das Candeias e a Forma VI da Estre-la. De tamanhos variáveis, apresentam o perfil curvo e desenvolvido e o bordo normal ou reentrante. Deverão corresponder à Forma VII das cerâmicas manuais da Ermita de Belén, com representação no nível III, e com cronologia de século III-II a.C.. A forma V do
Figura 6.5 – Formas abertas (cerâmica manual)
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
277
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Monte das Candeias poderá ilustrar a variante de bor-do reentrante de similares diâmetros desta forma em Bélen (Rodríguez Díaz, 1991:43,44, fig.14).
O segundo conjunto, que coexiste de forma mais clara nas produções a torno, é constituído pela forma VI do Monte das Candeias, a forma III do Monte Ju-deu, a Forma VII da Estrela e a Forma IV dos Serros Verdes. Correspondem a recipientes de tamanho va-riável, numa forma generalizada a todos os sítios da 2ª metade do I milénio a.C.., identificada como a Forma VIII das cerâmicas manuais da Ermita de Belén: “Vaso de diversos tamanhos com bordo normal ou afunilado, corpo hemisférico ou com tendência recta e base plana ou com pé saliente”, aí documentada nos níveis do sé-culo III-II a.C. (Rodríguez Díaz,1991: 43, 44;fig.14).
Na análise de Berrocal-Rangel a distinção des-tes dois conjuntos far-se-ia essencialmente entre os Tipo I a III de Capote, sendo clara a perene linha que os divide, acentuada pelo elevado número de varian-tes. Já as produções manuais que constituem a nossa amostra, aproximam-se do primeiro grupo da Forma
II variante D, ou mesmo da Forma III variante A sub variante b), assumindo a tendência aparentemente mais ovóide das nossas peças (mormente a Forma IV do Monte da Pata e a VI da Estrela) uma aproximação maior a este último tipo. Ambos recuam na primeira metade do I milénio a.C. a ambientes do Nordeste ou da Meseta peninsular, mas é a partir do séc. V que se documentam em povoados alentejanos e estreme-nhos: La Pepina, Alcazaba de Badajoz, Castillo de Jerez, Cerro del Castillo em Aroche, El Castañuelo, Herdade da Chaminé, Segóvia, Pedra d’Atalaia, Mi-róbriga, Pomar I ou Garvão (onde o perfil mais ovóide constitui a forma cerâmica mais característica, vindo a configurar-se na base dos “queimadores”). O seu li-mite nestes contextos é visto no séc. II a.C. (Berrocal--Rangel, 1994:142-153).
O segundo grupo tem correspondência na For-ma II A de Capote, e como o primeiro rastreando-se em atavismos mais abrangentes e numa distribuição similar no Sudoeste a partir de meados do milénio, sendo a partir do séc. II a.C. substituído por produções
Figura 6.6 – Formas abertas (cerâmica manual)
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
278
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
a roda (Berrocal-Rangel, 1994:146-148), como é vísi-vel no Castelo das Juntas.
6.2.5. Produções a torno: formas abertas
A substituição destas últimas tigelas manuais por produções comuns congéneres a torno, embora seja plena nas Juntas, é igualmente atestada nos pequenos povoados.
Nestas produções o grupo mais significativo reú-ne a Forma II dos Serros Verdes, as Formas VII e VIII do Monte do Judeu, a Forma V da Estrela, a Forma V do Monte das Candeias, e as Formas I e VI do Castelo das Juntas. Tratam-se de tigelas de tamanhos variáveis, corpo de tendência hemisférica, bordo redondo e base, planas ou côncavas, estreitas ou mais largas, com pé em anel, como no Castelo das Juntas, ou “em bolacha” como na Estrela, embora neste último caso a sua con-tinuidade com o bojo se demarque perante um cenário generalizado de pés salientes ou destacados (Rodri-guez Díaz, 1991:56,57, fig. 22).
Um segundo grupo reúne por sua vez a Forma III dos Serros Verdes, a Forma IX do Monte Judeu e a Forma VII do Monte da Pata. Trata-se de recipientes de tipo prato, de diâmetros variáveis e bordo ligeira-mente espessado internamente. A distinção relativa-mente ao anterior conjunto resulta na sua categoria de prato, de acordo com os índices estabelecidos, embora seja necessário referir as transversalidades funcionais que podem ser colocadas a este conjunto de recipientes abertos. Veja-se que integram ambos a forma X, deter-minada para os sécs. IV-III, por Berrocal-Rangel, para a área do Sudoeste peninsular, surgindo designada em Capote simultaneamente como ”prato, escudela ou ti-gela aberta de corpo de casquete esférico” (Berrocal--Rangel, 1994:168-171). Nomenclaturas para uma mesma forma, a que acresce ainda necessariamente a de tampas de urnas, em necrópoles como na Herdade da Chaminé ou no castro estremenho delo Castillejo de la Orden (id., 1992:106-107).
Do conjunto destaca-se ainda a Forma IV dos Serros Verdes, cujo bordo exvertido e com ligeira ca-rena na ligação com o corpo de tendência hemisférica, apresenta semelhanças com alguns pratos de pescado, de engobo vermelho e tradição fenícia da baia de Cá-diz, Huelva e costa de Málaga (sécs. VIII-VII a.C.), vindo a ser reproduzido nas produções cinzentas quer de ambiente indígena, quer fenício (Arruda, 1999- -2000:46). Um claro atavismo, que surge igualmente traduzido nos níveis mais antigos de Bélen dos sécs. IV-VIII, na forma IX-B (Rodríguez Díaz, ibid.:56-57).
Estas tigelas e pratos resultam deste modo numa das formas mais comuns e generalizadas nos conjuntos cerâmicos da 2ª metade do I milénio. Só na Ermita de Bélen correspondem à Forma X das cerâmicas de co-zedura oxidante, em cerca de 40% das produções desse grupo. As suas cronologias, bem documentada nos ní-veis de pleno século III até meados do II a.C.. (Ro-driguez Díaz, ibid.), associam-se plenamente com a proposta dos século IV-III a. C para Capote e Garvão, e genericamente para o Sudoeste, na já referida forma X, apresentada por Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel, 1992:106-107, lam. 9, 1 / 4 e lam. 10 1/2; 1994:168-171, fig. 59). Já na tabela da cerâmica pré-romana “tar-dia” do séc. II a.C. a forma X, resulta essencialmente na Forma 1 (à semelhança da nossa amostra), presença maioritária no Sudoeste a par de uma menor expressão da Forma 2, ou já sob o auspício das imitações itálicas da Forma 3 (id., 1992: pp. 110-111; fig. 13). Este autor defende assim uma cronologia “dos sécs. IV e III/II a. C. para o uso massivo destas escudelas em certas ac-tividades do mundo pré-romano do Sado-Guadiana” (id., ibid.:107).
6.2.6. Cerâmicas cinzentas: formas abertas
O grupo dominante, à semelhança do seu cená-rio no Sudoeste peninsular, resulta nas tigelas, cuja di-cotomia funcional com a designação de pratos, é uma vez mais muito perene. Resultam como as anteriores, numa das formas mais frequentes nos conjuntos da se-gunda metade do I milénio a.C..
Um primeiro conjunto, na senda das tigelas ma-nuais e a torno antes apresentadas, reúne expressiva-mente as Formas II e III dos Serros Verdes, a Forma I do Monte do Judeu, as Formas VI, VII e VIII da Estrela, as Formas III, IV e V do Monte das Candeias, as Formas VII e VIII do Monte da Pata e as Formas I e II do Castelo das Juntas. Trata-se de um recipiente de diâmetro variável e corpo de tendência hemisférica/semi-hemisférica, bordo redondo, sem espessamento ou ligeiramente espessados internamente. As bases são planas ou côncavas, quer estreitas ou mais largas, com pé “em bolacha”, como na Estrela, onde tal como vira-mos na Forma V das tigelas comuns, a sua continuida-de com o bojo se evidencia face ao mais habitual perfil destacado de pés, como no caso do Castelo das Juntas.
Um segundo conjunto de tigelas agrupa a Forma V da Estrela e as Formas IV e V do Monte da Pata, distinguindo-se por um de colo direito ou ligeiramen-te invertido, bordo em aba e corpo carenado na liga-ção do colo com o bojo, o qual apresenta um perfil de
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
279
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
tendência hemisférica. A base poderá ter um pé em “bolacha” como acontece com o recipiente da Estrela.
Por fim, um terceiro conjunto de tipo prato, reú-ne as Formas VI do Monte da Pata, distinguindo-se apenas do primeiro pelo seu perfil mais aplanado e menor profundidade.
A presença destas peças percorre a segunda me-tade do I milénio, emanando dos modelos orienta-lizantes de pratos de bordo espessado das “cerâmica cinzentas orientalizantes”. A diacronia de produção/utilização destas formas é, no entanto, um dado ad-quirido que se prolonga até aos séculos III-II a. C.. Na sua evolução verifica-se o desaparecimento progressivo do espessamento interno do bordo, afastando-se dos modelos orientalizantes que anteriormente imitava, o que é consentâneo com a nossa amostra.
Tratam-se de formas difundidas por vários sí-tios ao longo da bacia do Guadiana e de seus afluentes (Berrocal-Rangel, 1994:143-187) resultando, uma vez mais, bem elucidativa a sua percentagem na Ermita de Belén, quase 50% das cerâmicas a torno cinzentas. Correspondem-lhe na tabela proposta o primeiro con-
Figura 6.7 – Formas abertas (cerâmica cinzenta)
junto à forma IV das cerâmicas cinzentas bem docu-mentada nos níveis de pleno século III a meados do II a.C. (Rodriguez Díaz, 1991:62; 65;125, fig.67).
6.2.7. Outros
À margem destes ares de família que nos per-mitiram destacar, no conjunto em estudo da cultura material manual e a torno, os anteriores grupos de referência claramente predominantes, sejam nos re-cipientes fechados (potes de perfil em “S” ou as cha-madas urnas globulares), sejam nos recipientes abertos (tigelas ou pratos), foi possível assinalar outras formas, na sua maioria decorrendo com maior ou menor va-riabilidade desses conjuntos anteriores. Uma variabili-dade já enunciada nos diversos tipos considerados nas análises individuais dos sítios.
Nas produções manuais a carta fora do baralho, resulta só por si de acrescido interesse interpretativo traduzido na Forma I da Estrela, para a qual não se conhecem quaisquer paralelos. Nas formas abertas a torno, algumas peças de maior dimensão corresponde-
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
280
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
rão a possíveis bacias/alguidares ou caçoilas. Poderá ser o caso da Forma III do Castelo das Juntas, com 25 cm de diâmetro, espessado externamente e com um sulco no topo para encaixe de tampa, ou por outro lado, a Forma IV, com correspondência com a Forma III-B das cerâmicas a torno toscas de Belén, bem represen-tada no nível IV (III/II a.C.) (Rodriguez Díaz, ibid.:p. 49-51).
No quadro dos recipientes fechados a torno, com excepção do vaso tipo cântaro observado na Forma III do Castelo das Juntas, e eventualmente de um similar tipo na Forma II do Monte das Candeias, a sua varia-bilidade assenta sobretudo em diferenças assinaladas ao nível da forma e orientação do bordo e na enun-ciação do colo. É o caso das Formas IV, VI, VIII e IX do Castelo das Juntas. Tais formas denotam, por outro lado, uma maior variabilidade em época mais tardia no caso das Juntas, embora tal impressão possa não mais advir do que do desequilíbrio de amostras e áreas esca-vadas entre o povoado fortificado e os restantes sítios.
Por fim, nas cerâmicas cinzentas haveria a refe-rir ainda, a Forma I da Estrela, recipiente fechado de grandes dimensões, colo invertido e com caneluras na zona do colo; decoração que se repete na distinta For-ma III do Monte da Pata, identificado como vaso de suporte.
6.2.8. Grandes recipientes de armazenagem
Apenas no Castelo das Juntas viemos a indi-vidualizar da chamada cerâmica comum, os grandes contentores de armazenagem. Tratam-se de exempla-res cujas dimensões se demarcam dos restantes e que têm vindo a ser considerados ao longo da segunda me-tade do I milénio a.C., como um dos seus elementos mais característicos. Uma associação feita sobretudo por via da sua correlação com as estampilhas, que são assumidas marcas para os exemplares mais antigos e que evoluem a caminho da nossa era em estampilhas mais pequenas e impressões do tipo roleta, e sob outra gama de recipientes. Os grandes contentores com es-tampilhas tendem assim a desaparecer em épocas mais tardias como nas Juntas, dando lugar a peças lisas ou decorações mais simples, a par de um menor volume das peças e um crescente aligeiramento da espessura das suas paredes.
Nesta categorização importa, no entanto, frisar que não se pretende excluir a funcionalidade de ar-
mazenagem por inteiro às anteriores formas comuns. Notemos que estes grandes recipientes, na sua maioria, não ampliam mais do que as morfologias anteriores. Pelo que, do mesmo modo, não é de excluir que as Formas I e III do Monte das Candeias e a Forma II Monte do Judeu, possam ser consideradas nesta ca-tegoria de grandes contentores a torno, sem prejuízo de terem sido posicionados junto aos vasos de perfil em “S”. Semelhante analogia poderia ser apontada aos recipientes manuais de similar perfil na forma IV da Estrela ou na Forma I do Monte Judeu, ou sob distinta morfologia à Forma II da Estrela295. Uma questão de escala que nos sobreavisa igualmente quanto à idêntica conformidade da categoria de contentores de armaze-nagem a estabelecer nos vasos ou “urnas” globulares atrás enunciados. Destes destacar-se-ia a Forma IV do Monte da Pata, cuja presença dessas asas poderão jus-tificar melhor essa categorização funcional.
Reconhecendo assim, alguma dificuldade na dis-tinção dos vasos que funcionam como recipientes de armazenagem, sobretudo naqueles que agrupamos sob o perfil de tendência globular, afira-se nesse sentido, e em primeiro lugar, a afinidade dos perfis da Forma I e Forma III dos grandes contentores fechados das Juntas com esse anterior conjunto. E em segundo lugar, talvez possamos agora propor associar à categoria dos grandes contentores outras formas que deixamos de lado ante-riormente, embora tal não iniba, antes pelo contrário, que as mesmas sejam afins e integráveis nas morfolo-gias análogas de menores dimensões. Referimo-nos à Forma III do Monte Judeu e à Forma IV da Estrela.
A Forma I do Castelo das Juntas constitui no en-tanto um tipo já individualizado na vasilha de armaze-nagem de grandes dimensões no povoado estremenho de Bélen, na sua forma I-B (cerâmicas a torno toscas). É-lhe próprio o ombro bem marcado num colo estran-gulado descontínuo, sob um bordo esvasado e inclina-do e num corpo globular de base plana, variando os diâmetros entre os 20 e os 50 cm (Rodríguez Díaz, 1991:48-49: fig. 17).
Todas as formas observadas nas Juntas têm aliás correspondência na Ermita de Bélen, não apenas pela referida forma I-B, mas sob outras variantes à forma I das cerâmicas toscas. É o caso das Formas III das Juntas e do Monte Judeu, e da Forma IV das Juntas, de colos curtos, em continuação com o corpo nas duas primeiras, ou com maior estrangulamento e secção do bordo enrolado mais marcado na última forma.
295 Ver infra nota 2
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
281
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A variabilidade do bordo e do perfil do colo sus-tenta uma série de variantes no tipo I das cerâmicas toscas, assim como no coincidente tipo I das cerâmi-cas de cozedura oxidante desse povoado. A sua feição globular, os colos regra geral bem marcados (ainda que variando no perfil e no maior ou menor estrangula-mento), os bordos variáveis, mas de tendência esvasa-da e enrolada, e as bases planas, parecem constituir as principais marcas destes contentores de armazenagem (ib.; ibid.:48-55; fig. 17; 21 e 23).
E se virmos como a morfologia destes conten-tores se pode intricar nas morfologias de menor di-mensão, por outro lado, é característica também desta categoria cerâmica o seu particular enfoque nalgumas analogias formais de ânforas ibero-púnicas.
Será na nossa amostra o caso da Forma II das Juntas296, e eventualmente a Forma III, de produção manual, da Estrela. Pese a coabitação com os corpos globulares dos anteriores conjuntos enunciados, des-tes se destacam pelos bocais mais simples que traça as analogias ibero-púnicas.
No caso da Estrela este parece corresponder à forma 19 da tabela da vasilha de armazenagem pré--romana “tardia” do séc. II a.C. para o Sudoeste, de lábio recto, bordo esvasado em ângulo mais ou me-nos recto, colo de escasso desenvolvimento e corpo globular. Já o exemplar das Juntas, associa-se à forma 18 de lábio semi-circular, bordo ligeiramente esvasa-do, colo de escasso desenvolvimento, corpo globular e base plana, resultando numa forma de larga tradição local. Esta deverá corresponder a uma derivação local das ânforas de bordo grosso ibero-púnicas, formas B e C de Pellicier com uma cronologia dos sécs. III e IV e que perduram até à romanização (Berrocal-Rangel, 1992:111-115; fig. 15).
Ainda de acordo com esta tabela, notemos ainda que a referida Forma IV das Juntas, assinalada como uma variante à Forma I das cerâmicas toscas de Bélen, pode igualmente aproximar-se ao tipo mais abundante em Capote (Forma 12), vista no quadro de uma “forma local, derivada das ânforas fenício-púnícas do séc. VI e V, datadas em Cerro Macareno XV (….) As diferenças a respeito destes modelos explica-se por serem produ-tos locais, datados possivelmente vários séculos depois e nos quais as bases cónicas se transformam em planas” (Berrocal-Rangel, 1992:111-115; fig. 15).
A ausência de asas no exemplar da Forma IV, não excluir a sua existência nalguns recipientes desta
formas, como alias testemunhou Rodríguez Díaz para a mais abrangente Forma I (Rodriguez Díaz, ibid.:48). Esse elemento de suspensão, por vezes denominado “asas de orelha” é tradicionalmente apontado como marca de conservadorismo da cultura material da se-gunda metade do I milénio a.C. Não deixa como tal de ser observada no Castelo das Juntas, no Monte das Candeias, no Monte da Pata ou na Estrela. Tão lata cronologia e a própria imagem da nossa amostra, rela-tiviza uma tradicional associação destas asas a ânforas de tipo ibero púnico, pois tal escamotearia a sua pre-sença em potes de grande capacidade, ou nos grandes recipientes de armazenagem, quer emanem estes em maior ou menor escala dos modelos ânfóricos. A úni-ca presença destes modelos, num cenário de marcada ausência no registo arqueológico tido em conta, pode-rá estar presente na Estrela nos fragmentos de bojo, um deles com arranque superior de asa de secção sub circular.
Todas estas formas estão presentes em Bélen, concentradas sobretudo a partir dos níveis dos sécs. III/II a.C., constituindo-se como um dos conjuntos mais frequentes nos sítios pré-romanos baixo-estremenhos (Id., Ibid,:48-49; 54-57;123, figs. 17; 60; 64; 65; 88). O cenário é extensível a todo o Sudoeste, sobretudo em fases tardias, como em de Capote, Los Castillejos 2, La Martela, La Pepina ou Cerro del Castillo de Bien-venida, onde, inserindo-se, de acordo com Berrocal--Rangel, numa “revitalização dos contactos com outras regiões peninsulares (…) [onde] ganha certa impor-tância a presença de grandes contentores de armazena-gem, realizadas a partir de modelos ânforicos ibérico--púnicos” (Berrocal-Rangel, 1992:112-115).
6.3. Diacronia e as sincronias estabelecidas
A abordagem empírica realizada permitiu-nos estabelecer, desde um nível analítico e descritivo, um vínculo cronológico e cultural entre os pequenos po-voados abertos, e destes com o povoado fortificado do Castelo das Juntas. Feita a observação da cultura material é pois possível propor uma diacronia entre os diversos sítios, que poderia sugerir que na sua maioria estes se possam ter cruzado numa etapa sincrónica em torno do séc. III e inícios do II a.C.
A sugestão inicial de dois conjuntos diferencia-dos (Valera, 1999; Albergaria, 2000; Albergaria; Mel-ro, 2002) foi assim na sua essência desfeita. Porém dela
296 Com um diâmetro de abertura consideravelmente maior.
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
282
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
mantivemos a maior antiguidade do povoado dos Ser-ros Verdes 4, agora situado nos sécs. VI/V a.C., per-fazendo, como tal, uma situação distinta do restante conjunto. Ainda que este tenha permitido traçar nos restantes sítios notórias marcas de continuidade, o sítio dos Serros Verdes 4 deve ser entendido num quadro próprio, logo à partida, por não lhe ser possível, dada a cronologia proposta, ter qualquer sincronismo com os restantes.
Sobre a eventual simultaneidade dos restantes pequenos povoados e as fases iniciais do Castelo das Juntas, a mesma deve ainda ser colocada com as devidas cautelas. Em primeiro lugar, estamos perante um largo leque cronológico atribuído à ocupação destes sítios, que genericamente vai de 100 a 200 anos, e por outro lado perante uma reduzida evidência ocupacional (pese admitirem distintas fases de ocupação e reorganizações de espaços habitacionais), pelo que os mesmos poderão não suster firmemente tão largos intervalos de tempo. Mas mesmo reconhecendo que tal cenário seja possí-vel, muito à semelhança das perenes evidências ocupa-cionais dos centenários montes alentejanos de hoje, a falta de uma datação mais estreita e absoluta, inibe-nos a uma tal leitura simplista da simultaneidade destes sí-tios, podendo ao invés os mesmos se escalonado nesses séculos, cruzando-se uns e outros não.
A fragilidade da amostra resulta assim em consi-derar para o Monte da Pata, Estrela, Monte das Can-deias e Monte do Judeu, numa primeira instância, um âmbito cronológico que poderia ir desde meados do séc. IV a meados do séc. II a.C.. Numa segunda ins-tância esse âmbito é porém possível de incidir essen-cialmente em torno do séc. III a inícios/meados do II a.C.. Da análise que atrás foi feita pareceu-nos ter sido mais seguro ditar a primeira instância para o Monte do Judeu e Estrela e a segunda para o Monte da Pata e Monte das Candeias. Já o encontro destes sítios com as fases iniciais do Castelo das Juntas será mais in-certo tomando em conta a primeira instância, muito a dever-se às escassas evidências materiais mais recuadas das Juntas, embora perfeitamente plausível de ter tido lugar num mais afinado intervalo de tempo em torno do séc. III a.C..
À margem desses eventuais encontros e/ou de-sencontros no tempo, o que resulta fulcral é que estes sítios podem e devem ser vistos num panorama co-mum, propondo-nos como tal a interpretá-los num mesmo conjunto cultural patente na margem esquerda do Guadiana nos séculos derradeiros do I milénio a. C..
Enquadram-se num momento que Berrocal--Rangel assinalou como central ou de apogeu da segun-
da Idade do Ferro no Sudoeste Penisular, numa última subfase deste, situada desde momentos avançados do séc. IV, ao longo de todo o séc. III e até meados do II a.C.; fazendo a ponte, mormente no Castelo das Jun-tas com a fase tardia, desde a primeira metade do séc. II à mudança com o primeiro (Berrocal-Rangel, 1992:pp. 95, 109).
Porém, e antes de mais, no início deste nosso conjunto está o povoado dos Serros Verdes 4, cuja cro-nologia mais recuada e individualizada foi observada essencialmente sob dois aspectos, aos quais, a falta de elementos de aferição mais fina e as dificuldades ine-rentes à nossa amostra escudarão esta nossa leitura de algumas reservas.
O primeiro aspecto advém da particularidade de encontrarmos na componente cerâmica assente em formas simples e de lato conservadorismo, uma forma de pratos (Forma 4 da cerâmica a torno comum e For-ma 2 da cinzenta) que como vimos, aproximam cro-nologicamente o conjunto mais próximo dos modelos orientalizantes da bacia do Guadiana. Um cenário que se coaduna com a restante morfologia dos vasos do sí-tio, como por exemplo a Forma 3 da cerâmica manual, perfeitamente a par de materiais de cariz orientalizan-te, assim como no arcaísmo das suas gramáticas deco-rativas, nomeadamente pelo predomínio das digitações unguladas ao nível do bordo.
A estes indicadores acresce, por fim a diferença significativa da percentagem de cerâmica manual, em relativo equilíbrio com a cerâmica a torno nos Serros Verdes 4, com o domínio da roda nos posteriores po-voados abordados. Uma premissa, tradicionalmente estabelecida na relação da moldagem manual com cro-nologias mais recuadas, é efectivamente observada nas relações percentuais dos sítios intervencionados.
Mas importante é igualmente aferir dos aspectos de continuidade nas formas manuais e a torno dos Ser-ros Verdes 4 com os consequentes povoados situados um pouco mais a norte, entre a Ribeira do Zebro e o Alcarrache. Como tal, ficou assente como referente comum uma cultura material de índole local/regional, delineada numa continuidade que podemos observar desde os meados do I milénio até às suas etapas finais próximas da romanização da região. Uma referência de analogias extensíveis e amplamente demonstradas a vários paralelos enunciados ao longo do texto.
6.4. Uma cultura material de longa tradição
O primeiro aspecto apontado a esse elemento comum visava as continuidades formais de larga tra-
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
283
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
dição. Falámos a este propósito numa leitura abran-gente a todos os sítios, nos potes e panelas de perfil em “S”, nas urnas de corpo globular, nas asas de “cesta”, ou ainda nas tigelas e pratos esferoidais, ou por fim nos grandes contentores de armazenagem.
Significou o mesmo, em ir de encontro ao vasto cenário que tradicionalmente tem ilustrado a chamada segunda Idade do Ferro no Sudoeste peninsular, mas numa perspectiva que frisa que nenhum dos aspectos enunciados poderá efectivamente ser apontado como um padrão de ruptura, mas antes sintomas de uma cla-ra continuidade estabelecida a partir de padrões ante-riormente definidos.
Veja-se a relação que podemos estabelecer en-tre a cerâmica manual e a cerâmica a torno, primeiro critério assumido na nossa análise e nas usuais abor-dagens à cultura material. Como vimos, é notória uma transversalidade dos aspectos morfológicos nas pro-duções manuais e a torno, sendo igualmente possível confirmar a premissa tradicionalmente estabelecida, na relação da moldagem manual com cronologias mais recuadas. Um facto observado nas relações percentuais dos sítios intervencionados, desde os Serros Verdes 4 ao Castelo das Juntas.
Como tal, ainda que sendo certo que as produ-ções a torno venham a introduzir um maior número de variantes tipológicas, ou a exemplo, determinem o declínio das tigelas de corpo troncocónico, como ob-servadas nas nossas produções manuais para um amplo domínio das tigelas de corpo esferoidal, o primeiro as-pecto que convirá reter será a de que as inovações tec-nológicas não se constituem obrigatoriamente como elementos de ruptura.
O segundo aspecto, associado ao indicador cro-nológico quanto a uma maior ou menor percentagem das cerâmicas manuais no tempo, é de mais frágil ge-neralização quando se aplica a um âmbito regional ou ao Sudoeste peninsular. Efectivamente, este aspecto constitui-se como um espelho possível de matizes lo-cais/regionais. É, de facto, uma premissa de mais fácil aplicação para as áreas litorais e meridionais, e ao in-vés de mais difícil constatação para as áreas interiores, onde é notória a continuidades destas produções cerâ-micas (Fabião, 1998).
A este propósito, cuidando das devidas dife-renças de amostragem, constata-se que no povoado da Ermita de Bélen (Zafra), cerne de boa parte dos paralelos obtidos, é maior o equilíbrio da cerâmica manual (40%) com a cerâmica a torno nos níveis IV/III, datada dos sécs. III e II a.C., camadas de onde registamos os maiores paralelos ao nosso conjunto
cerâmico (Rodríguez Díaz, 1991:41). Refuta-se a nossa amostra num desequilíbrio maior, na ordem dos 20 a 30 %, pelo que como tal não nos parece que formule ainda o enfâse significativo no decréscimo desta cerâmica, com o significado cronológico tardio que podemos já então atribuir aos 9% do Castelo das Juntas.
Tal cenário não contradiz uma evolução crono-lógica percentualmente menor da olaria manual face à produção a torno, sendo que paralelamente, a sua contínua presença igualmente comungando com as mesmas morfologias das produções a roda, a confir-ma claramente como uma das características a apontar quanto a uma identidade desta região interior e que apenas se vêm a desvanecer à entrada da nossa era.
A este conservadorismo, quer nas perdurações morfológicas apontadas, quer nas relações entre as produções manuais e a torno discutidas, devemos ain-da apontar-lhe as suas associações decorativas. Como noutras abordagens à panóplia cerâmica da Idade do Ferro, estes aspectos são por excelência um meio de ilustrar os arcaísmos de determinado conjunto, como são um indicador das suas inovações, permitindo con-sequentemente a valorização das dinâmicas culturais e sociais inerentes.
O grande senão com que nos deparamos é que, num claro contraste com algumas análises precedentes (Rodriguez Díaz, 1991; Berrocal-Rangel, 1994; Bei-rão, et. alii, 1985), os aspectos decorativos na cerâmica em estudo pautam-se pela sua escassez e escassa diver-sidade, raramente ultrapassando os 10% em cada sítio. Tal contraste parece refutar à primeira vista um dos principais aspectos que têm sido colocados à cabeça na caracterização da cultura material nas bacias do Ardila e Guadiana (Berrocal-Rangel, 1992; Rodriguez Díaz, 1991; Fabião, 1998).
Semelhante cenário de escassas e homogéneas decorações poderia, no máximo, perfazer mesmo uma característica claramente local a apontar à identidade cultural que aqui procuramos correlacionar. São sérias porém as reservas em assumir semelhante hipótese. Desde logo a partir das claras diferenças que existem com os contextos que guiaram as anteriores leituras, como sejam os depósitos votivos que colocam assumi-damente de lado os pequenos povoados. Em seguida, pelas diferenças cronológicas que estarão em jogo, em que as baixas percentagens decorativas funcionariam mais como um aspecto mais evolucionado desses con-juntos, algo que já estaria igualmente presumido na continuação dos anteriores conjuntos então pautados pela diversidade decorativa.
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
284
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Independentemente destes aspectos, dos quais por agora caberá apenas referir para futuras contrapo-sições, é evidente que as gramáticas decorativas, desde as produções manuais às cerâmicas a torno constituem outras das componentes próprias do conservadorismo apontado. Gramáticas simples, tratam-se sobretudo de decorações impressas por digitação simples ou ungula-da, no bojo ou no bordo (nestes últimos caracterizan-do uma das opções decorativas mais generalizadas e se acentuado arcaísmo); ou por finas caneluras incisas no bojo. Atavismos que percorrem a totalidade dos sítios abordados, sendo efectivamente apenas no Castelo das Juntas que estes atavismos permanecem a par de ou-tros motivos e técnicas, estas sim já próprias de fases mais tardias.
Mas também neste último povoado a técnica de-corativa melhor representada é ainda a incisão (50%). Embora resulte apenas sob recipientes a torno e pra-ticamente todos ao nível do bojo, o que pode contras-tar com o peso das digitações ao nível do bordo nas outras amostras, como nos Serros Verdes 4, traduz os mesmos rasgos decorativos, observados aliás nalgumas variantes técnicas que surgiam já em peças manuais de Capote em torno do século IV-III a. C..
Para lá deste lato atavismo que predomina as decorações digitadas e incisas das Juntas, outro de re-nomeada importância respeita as decorações impressas feitas com matriz individual fixa, normalmente de-signada de estampilha, mas que encontramos apenas em 2 exemplares, naquele palimpsesto material de que resulta a lixeira da sondagem 1 e num último solo de ocupação desta área já do finais do séc. II e inícios do I a.C.. Embora os nossos exemplares de estampilhas pertençam a bojos não se conhecendo por isso a exacta morfologias dos seus vasos, estes deverão ser associa-das aos grandes contentores de armazenagem, cujas cronologias tem sido entendidas em torno do século IV/III a. C.. A sua escassez e presença num contexto de abandono tardio do povoado relativiza obrigatoria-mente essa mesma cronologia, mas não deixa de ser um elemento que concorre, a par do conservadorismo do conjunto, como um argumento à proposta para tal momento fundacional do povoado.
Por fim, outra raiz evidente dos aspectos de larga tradição e notório elemento de comunidade regional, será a ocorrência na Forma 2 dos contentores de ar-mazenagem (exactamente aquele que se traduz sob as morfologias ibero-púnicas) de um caracter de escrita pré-romana. Um arcaísmo consubstanciado que não deve resultar estranho, pela já notada ocorrência em similares períodos tardios destes caracteres em peças
cerâmicas, como será o caso de Garvão ou do Outeiro do Castelinho.
Por outro lado, será já na evolução da decora-ção estampilhada, patente na decoração impressa feita a partir de uma matriz em roleta, documentada nas Juntas, que se observam claramente um dos aspectos tardios mais notórios do conjunto e, à semelhança de outros sítios, frequentemente associadas às cerâmicas a torno cinzentas. As cronologias para estas decorações rondam o séc. I a.C., sendo obviamente de destacar a ocorrência de exemplares idênticos no vizinho Caste-lo da Lousa (Berrocal-Rangel, 1990: 111-112; idem, 1992, 118-119, 308- 311; Carvalho, 2002).
Associado a cronologias igualmente tardias es-tarão ainda os recipientes oxidantes com pintura em bandas de cor vermelho escuro deste povoado forti-ficado, um tipo de decoração presente em Capote, quer em formas abertas, quer em formas fechadas, em contextos de finais do século II a.C., mas que fazem obviamente parte de uma tradição mais antiga, even-tualmente apresentada também pelo exemplar pintado que registamos na Estrela.
Os aspectos decorativos denotam uma forte tradição mais antiga, que parece sintetizar aspectos aparentemente mais setentrionais nas decorações im-pressas, com aspectos mais meridionais expressos nas pinturas em banda, num processo que podemos mes-mo traçar até os inícios do milénio, observando as con-tinuidades a ter em conta nas gramáticas decorativas geométricas do Bronze Final. E é sobre este cenário que acrescem nas suas fases tardias, outros elementos decorativos de maior correspondência com uma etapa concreta, como são as pequenas estampilhas em roleta. Um processo de confluências a propósito da decoração que se resume, no fundo, à mesma linha que temos vindo a traçar quanto aos aspectos morfológicos de larga tradição.
Semelhante processo pode ser visto no caso das cerâmicas cinzentas. A sua designação aporta imedia-tamente para um conservadorismo orientalizante, o que nos permite traçar a sua inspiração nos modelos orientalizantes. Tratam-se, no entanto, de fabricos imbuídos numa plena produção local/regional, a par dos restantes fabricos oleiros, como se comprovou nos estudos arqueométricos do Monte da Pata e Castelo das Juntas.
Esta categoria cerâmica é obviamente distinta da cerâmica cinzenta orientalizante no âmbito e cronolo-gias mais tardias da sua produção. Ainda que radicando nesta inspiração e evolução morfológica que privilegia as formas abertas, os seus aspectos evolucionados são
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
285
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
já aqui observados pelo desaparecimento progressivo do espessamento interno do bordo ou pelas pequenas formas fechadas associadas a decorações em roleta. Um conjunto de cerâmicas cinzentas que atravessa a segunda metade do primeiro milénio como nos sítios abordados, e que herda dos modelos meridionais uma condição mais singular no conjunto, pelo seu cuidado fabrico adstrito a uma aparente condição específica no uso de mesa.
Esse sentido e diferenciação tecnológica/fun-cionalidade específica é entendido no quadro de uma cadeia operativa de produção plenamente regional e generalizada. A utilização de recursos locais, como demonstrado pelo estudo arqueometrico, parece ser transversal a todas as categorias funcionais e morfoló-gicas, não se verificando a selecção de matérias-primas específicas em função da tipologia dos recipientes manufacturados; mas, igualmente de produção local, no Monte da Pata, as cerâmicas cinzentas destacam--se das restantes cerâmicas comuns a torno, não num grupo exclusivo, mas por indiciarem uma estratégia de exploração de matérias-primas específica (privilegia-rem argilas de rochas mais básicas localizados a maior distância do povoado, em detrimento de materiais resultantes da alteração dos xistos, que se encontram mais próximos). Assim, ainda que a sua derivação para um quadro de aquisições exógenas possa estar também presente, como poderá ser a razão por detrás do único outlier do Monte da Pata, esta não é certamente a regra no conjunto.
O estudo arqueométrico do Monte da Pata e do Castelo das Juntas permitiu determinar continuidades na produção local das cerâmicas ditas de uso comum e das cerâmicas cinzentas na produção cerâmica, quer no tempo, quer no espaço, dentro da área de investi-gação.
Tal como Rodriguez Díaz refere para a Ermita de Bélen, estamos aqui também, perante uma “am-pla e intensa produção local, caracterizada por crité-rios de fabrico aceites a uma maior escala, que fazem desta uma produção estandartizada” (Rodriguez Díaz, 1991:51). É o que pode ser depreendido não só mor-fologicamente, como sendo consentâneo com os re-sultados do estudo arqueométrico realizado no Monte da Pata e Castelo das Juntas. Conclusão aferida de produções locais/regionais às 3 categorias cerâmicas, quer comuns, manuais e a torno, quer cinzentas. Pa-norama ainda mais salientado no Castelo das Juntas após a análise realizada a partir do “barril”, cujo fabrico é igualmente inscrito num quadro de reelaboração re-gional, provavelmente à semelhança do exemplar vizi-
nho da Azougada ou mais a Norte nos exemplares de Segóvia e Vaiamonte.
Pautamos deste modo diversos aspectos de con-tinuidade (morfológicos; de fabrico ou decorativos) dos meados a inícios do I milénio a.C., num conser-vadorismo que matiza aspectos de tradição orientali-zante e feição meridional, com aspectos de feição mais setentrional. Ambos truncados numa gramática oleira que deverá ter sido conduzida numa linha de conti-nuidade eminentemente local e regional, que conflui esses aspectos num conjunto a que dificilmente será adstrito puramente uma feição ora orientalizante, ora continental, no sentido tradicional de observar estes conjuntos materiais.
A determinação do nosso conjunto, ou a iden-tificação de uma tradição local/regional, é nessa acep-ção taxativa quanto a uma cadeia operativa delineada desde a obtenção de matérias-primas até produção da cerâmica comum. Quanto às olarias, não identificadas à escala de nenhum dos sítios ou conhecidas e compa-radas à escala regional, permitem-nos apenas inscreve--las num quadro regional.
As conclusões nesse campo mantêm-se ne-cessariamente abrangentes. Possibilitam uma esca-la operativa e distribuidora eminentemente local, a nível dos sítios, como seja entre a Ribeira do Zebro e do Alcarrache (tomando a distribuição da maioria dos sítios intervencionados); como a uma escala re-gional atendendo às possibilidades definidas nas áreas de proveniências de matérias-primas das cerâmicas. Observando a distribuição das rochas básicas deter-minadas nas amostras do Monte da Pata e Castelo das Juntas, essas áreas poder-se-ão definir, quer na margem direita do Guadiana, quer a sul para a zona de Portel. Resultam como fontes de provimento ne-cessárias às produções cerâmicas analisadas, quer o seu fabrico se tivesse operado a nível dos sítios, quer noutro(s) pontos na região (incluindo as áreas mais a sul do Ardila). Ambas as escalas podem traduzir-se obviamente num processo de produção/distribuição a partir, quer de centro(s) oleiro(s), quer autonomizada por produções à escala dos sítios, não sendo de ex-cluir, pelo contrário, que tais opções possam convergir uma com a outra.
Uma linha de continuidade num plano de ela-boração local/regional de uma panóplia oleira comum tem como principal consequência uma dificuldade quanto ao seu enquadramento no espaço e no tempo. Mas esta linha é, por sua vez, um elemento chave na identidade cultural das comunidades deste período em todo o Sudoeste.
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
286
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tais aspectos não podem, como tal, observar-se como elementos de ruptura ou de re-introduções pró-prias de uma segunda Idade do Ferro (Fabião, 1998). Como já referimos, não é possível encaixar a identidade que aqui se apresenta na tradicional dualidade de uma segunda Idade do Ferro de cariz continental, após um momento orientalizante. Uma dificuldade já anunciada tomando em conta os elementos de tradição do Bron-ze Final (Silva, Gomes, 1992:180) ou o entrecruzar de elementos e influências orientalizantes e celtizantes, a par da própria evolução das populações autóctones, ob-servados no Castro da Azougada (Gamito, 1990: 23-24), e que persiste num cenário pós-orientalizante até às etapas tardias da Idade do Ferro.
O “orientalismo” perdura, e tal como dantes, não dita por absoluto o quadro conhecido, mas estará antes a par da tradição local e dos aspectos mais “celtizantes”. Tal dificuldade em nomear um termo que caracterize o nosso conjunto, nasce pelas próprias linhas com que se cosem os tradicionais pressupostos crono-culturais. Isto é, da mesma forma que constituem ainda os ele-mentos exógenos (seja pela presença ou ausência de vasos fenícios, de cerâmica ática, cerâmica campanien-se, etc.) os indicadores absolutos da diacronia dos sítios na região, também os conjuntos materiais parecem ser vistos apenas em função das influências que usufruem deste ou daquele sentido.
Daí que, recuando no tempo, partimos de um enquadramento preciso dos últimos momentos de ocupação do Castelo das Juntas, afinado pelo material exógeno, para intervalos de tempo mais incertos. Mas, o certo é que também nestas últimas propostas crono-lógicas, as peças de importação não deixam de ganhar relevo para a sua delimitação, agora exactamente pela sua ausência, sejam estas peças de índole oriental, gre-ga ou ibero-púnica, seja de índole romano-republica-na. Os indicadores que temos em mãos são pois rela-tivos (como relativa é também a ausência mencionada contrapondo como o tipo de sítios, limitações e áreas intervencionadas). Deste modo, pela longa tradição de que se revestem, e contrário ao valor individual que poderiam representam os indicadores absolutos exó-genos, os nossos indicadores só podem ser necessa-riamente valorizados no conjunto que formam (como vimos uma peça manual ou uma “asa de cesta” não é de imediato sinal de recuadas cronologias).
Já na lixeira exterior da sondagem 1 do Castelo das Juntas esses mesmos indicadores permitem ilustrar muito bem o abandono do povoado no primeiro quar-tel do séc. I a.C., uma vez sobremaneira afinado pela ocorrência de dois numismas: um denário cerrado de
79 a.C. e um asse de 100/80 a.C., a par dos elementos de funda, de cerâmica cinzenta de estampilhas em ro-leta, ou da cerâmica campaniense, a cerâmica de exce-lência do processo de conquista romana da península ibérica. Numa analogia transponível às restantes áreas intervencionadas, a lixeira, resulta por outro lado, num palimpsesto para as etapas mais recuadas do povoado, nela se encerrando algumas das evidências materiais de contornos mais antigas (séc. III / IV a.C.), mas di-luídas no conjunto global que corresponde à cerâmica comum local/regional de longa tradição e que convive já com as primeiras aportações romanas materiais.
E é esta cerâmica comum que nos guiou até aos restantes sítios, numa coerência de conjunto que lhes determina uma mesma identidade material, uma co-munidade nas suas produções oleiras que procuramos destacar numa mesma identidade cultural. Pequenos sítios já sem quaisquer associações a indicadores abso-lutos, embora as suas ausências possam contribuir em parte para uma cronologia centrada em torno do séc. III a.C., ainda que na verdade sem a poder sustentar firmemente. A sua base foi efectivamente a cerâmica comum, onde para lá do peso das produções a roda poder funcionar como um indicador percentual, em certo ponto relativizado; foram os paralelos morfoló-gicos considerados em ocupações do séc. IV a II a.C., ou em mais precisos níveis do séc. III e meados do II a.C., que vieram a consubstanciaram a nossa proposta de enquadramento no tempo destes sítios.
Quanto à sua definição no espaço, a produção cerâmica deste conjunto define-se numa escala local/regional, não lhe sendo possível uma maior exactidão e precisão de termos, não apenas por não termos proce-dido a mais do que o estudo da nossa colecção, como pelo facto de estarmos perante tipos cerâmicos de tal forma latos na sua distribuição, quanto quotidianos, que facilmente podem ser traçadas em todo o Sudoeste peninsular, seja ele interior ou litoral, como para além deste em paragens mais setentrionais ou meridionais.
A abordagem do processo de produção, distri-buição e uso de recipientes cerâmicos necessitaria de outro ponto de partida e estratégia de investigação que estiveram para lá da escolha dos sítios interven-cionados. Mas o facto é que estes vieram claramen-te a demonstrar um vínculo cultural existente numa área circunscrita conduzido por um âmbito comum de produções locais/regionais. Isto porque, confirmada a produção local/regional das cerâmicas comuns, estas integram-se em padrões formais, funcionais e decora-tivos de âmbito regional obviamente mais lato e per-meável. Essa comunhão, observada com outras escalas
CULTURA MATERIAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS
287
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
e conjuntos materiais que não só a área dos presentes sítios, estamos certos que definirá alargadas áreas de dispersão dos dados empíricos, que contribuirão para uma mais acertada leitura das áreas culturais e even-tualmente uma mais afinada definição das matizes lo-cais e regionais.
Nesse sentido ter-se-á revestido de importância a sumária abordagem esboçada a partir do “barril” do Castelo das Juntas. Elemento de excepção no registo arqueológico da cultura material sidérica, a sua pre-sença nas áreas mais ocidentais da península tem sido vista como fruto de reelaborações locais/regionais dos protótipos da área valenciana, dando-se-lhes a desig-nação de “barris ibéricos”.
Esse pressuposto já antes apresentado (Gamito, 1983) foi comprovado pela análise arqueométrica, que reuniu 4 exemplares provenientes das outras duas áreas de dispersão destes recipientes, para lá do mundo ibé-rico. Os exemplares de Segóvia e Vaiamonte represen-tam uma parte da área ocidental de maior incidência conhecida destas peças – a região do Alto Alentejo e Extremadura Setentrional (com extensões na área de Ávila), ao passo que os “barris” da Azougada e do Cas-
telo das Juntas corroborando uma distribuição meri-dional menos conhecida, e presentemente desenvolvi-da em torno da bacia do Ardila junto com o exemplar de Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz) (Fabião, 1998: p.59).
Esperada, esta conclusão permite determinar ao “barril” das Juntas a pertença a essa área de dispersão mais meridional, e o seu posicionamento numa crono-logia tardia (séc. II/I a.C.), tal qual a peça de Capote. Quanto ao exemplar da Azougada desconhecemos o seu contexto, sendo sugerido por Teresa Gamito cro-nologias mais recuadas à semelhança do exemplar de Segóvia (Gamito, 1983: 204-205). A peça das Juntas e a de Capote, tal como os exemplares nas áreas mais interiores de Cáceres e Ávila, poderiam perfazer a hi-pótese de “uma ideia de difusão desde paragens medi-terrâneas até ao interior”), que teria tido início séculos antes, e atestada por exemplares como o da Azougada, embora a sua descontextualização nos deva acautelar ainda quanto a quaisquer sentidos na difusão destes modelos de armazenagem. Sentidos que privilegiariam o vale do Guadiana e as rotas interiores em torno da bacia do Ardila (Fabião, 1998:p.60).
7. CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM
ESQUERDA DO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
E USO DO ESPAÇO
291
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
7. CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEMESQUERDA DO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃOESPACIAL E USO DO ESPAÇOAna Jorge 297
7.1. Introdução
Neste trabalho pretende-se ensaiar uma abor-dagem à organização social do espaço nos povoados da Idade do Ferro da margem esquerda do Guadia-na, com particular destaque para o Castelo das Juntas (por razões que ficarão explícitas ao longo do texto), partindo-se para tal do pressuposto de que a sociedade se constrói nas práticas quotidianas e que estas têm lugar em espaços que, simultaneamente, geram com-portamentos e são gerados por esses mesmos compor-tamentos e seus instrumentos de actuação. Impõe-se reconhecer que, no caso em estudo, este propósito se encontra limitado, à partida, por condicionantes de-correntes quer do trabalho de campo, visto que o re-gisto não foi orientado para as questões que aqui se pretendem abordar, quer pelas contingências inerentes ao projecto global, que se reflectem, por exemplo, na determinação de áreas de escavação segundo critérios que não se prendem com objectivos de investigação.
Embora tendo presentes as limitações dos da-dos disponíveis, é possível construir um discurso que vá para além da descrição formal e estrutural dos ele-mentos construtivos. Particularmente útil para esta abordagem é a proposta de Rapoport, alicerçada sobre os conceitos de ‘sistemas de actividades’ e ‘sistemas de cenários’ (Rapoport, 1990), não só porque sublinha a natureza dinâmica do uso do espaço, mas também porque contempla a articulação dos elementos fixos (estruturas arquitectónicas), semi-fixos (‘mobiliário’) e móveis (objectos) na estruturação desse mesmo espaço.
Os vestígios arquitectónicos materializam a fi-xação de uma colectividade humana a um determina-do lugar. A sua importância prende-se com o facto de evidenciarem uma compartimentação intencional do espaço, que se apresenta como ‘dado incontornável’ e ‘inequívoco’ face à ‘mobilidade’ de outras categorias da cultura material. Esta aparência de ‘estabilidade’ deve--se sobretudo ao facto de a construção de cada estrutu-ra representar um acontecimento pontual, uma acção
restrita no tempo. Estas características justificam que os elementos construtivos desempenhem um papel importante como eixo estruturante do faseamento estratigráfico da ocupação dos sítios, e como quadro espacial de referência para a dispersão dos materiais arqueológicos.
Contudo, nem os espaços construídos são fisi-camente estáticos - sofrem reparações, remodelações, acrescentos, abandonos temporários e parciais, recons-truções parciais ou totais -, nem as actividades aí prati-cadas são necessariamente repetitivas na sua natureza e espacialidade, ou contínuas no tempo. À escala de cada povoado, compreender a organização social do espaço implica atender tanto aos ambientes em que se reali-zaram as diferentes actividades, como aos ambientes em que não há sinais de actuação, em cada momento da vida do sítio, o que torna depois possível analisar as mudanças ocorridas ao longo do tempo. É nesta pers-pectiva que a abordagem da arquitectura e uso do es-paço pode dar um contributo relevante para a constru-ção das dinâmicas sociais internas dos sítios de habitat.
7.2. Arquitectura, espaço e uso do espaço: enquadramentos teóricos
À semelhança do que sucede na abordagem de qualquer aspecto da cultura material, o estudo da ar-quitectura – ou melhor, dos seus produtos - pode ser orientado segundo perspectivas teóricas díspares, cujos pressupostos e objectivos conduzem à elaboração de discursos arqueológicos diferentes, nem sempre con-ciliáveis na medida em que lhes subjazem posiciona-mentos epistemológicos distintos.
O problema de base é o da relação existente en-tre configurações espaciais e identidades colectivas ou, posto de outro modo, entre estrutura espacial e estru-tura social. “Se não podemos afirmar que a estrutura social e a estrutura espacial se correspondem nas suas organizações internas, podemos pelo menos consta-tar que existe um laço estreito entre ambas” (Silvano
297 Este texto foi finalizado em 2003, há mais de uma década. O seu conteúdo reflecte não só o estado de conhecimentos e os dados dispo-níveis nesse momento, mas também as perspectivas teóricas do autor numa fase específica do seu trajecto intelectual e académico. Deverá ser lido como um produto do seu tempo.
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
292
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
1988:9). É a natureza deste laço que as diferentes pers-pectivas teóricas procuram estabelecer na abordagem do espaço. Subjacentes a estas estão concepções par-ticulares da relação entre espaço (construído ou não construído) e cultura.
Cultura pode ser entendida como o conjunto das ‘visões do mundo’, valores, regras de comportamento e práticas que conferem a um grupo social identidade e o seu lugar no mundo. Enquanto construção teóri-ca, a cultura só pode ser observável nos seus efeitos e produtos (Rapoport, 1990:10), que se constituem como fenómenos culturais, os quais balizam e fundamentam as relações entre materialidade e aspectos determinan-tes da existência social. Neste contexto, o espaço é um fenómeno cultural, logo, socialmente concebido e con-textualmente determinado. A grande diferença está em entendê-lo como instrumento passivo e exterior à vida social, ou como meio activo na (re)produção das rela-ções sociais. Neste caso, compreende-se o espaço não como pano de fundo de comportamentos e actividades humanas, mas sim como constituinte de - e constituído por – essas mesmas práticas sociais (Lane, 1994:198). É também neste sentido que a arquitectura (espaço construído) deve ser entendida para além da alocação e ordenamento do espaço ou das actividades que possam ter ocupado esses espaços (Barrett, 1994:91).
O design arquitectónico é um produto cultural específico, que reproduz a ‘ordem do mundo’ ideal de uma determinada sociedade. Os ambientes construí-dos são usados para gerir as relações sociais ao con-trolar os padrões de interacção pessoal (Whitelaw, 1994:226), cujas regras determinaram o processo de construção. Circular num edifício e utilizar os seus compartimentos implica partilhar do conhecimento tácito das normas de conduta que estão implícitas na organização e realização das actividades. Nesta pers-pectiva teórica, o estudo da arquitectura não deverá consistir, apenas, numa procura relativamente à lógica de construção das formas espaciais, mas, mais do que isso, numa “tentativa de pensar a relação forma/ con-teúdo, como uma relação reveladora da especificidade do espaço humano” (Silvano, 1988:318). A forma es-pacial ou ordem não manifesta um significado parti-cular per si; a construção do significado é relacional e prática. Pensar apenas a forma espacial pode conduzir à uniformização de realidades que são essencialmente diferentes. Isto porque “walls mean nothing, their sig-nificance emerges as containers of situated practices” (Olsen 1990 in Barrett, 1994:92). Impõe-se assim a necessidade de uma abordagem integrada da arquitec-tura e do uso do espaço.
7.3. Problemáticas gerais: abordagensarqueológicas ao espaço construído
Frequentemente, os grupos humanos procedem à compartimentação física dos espaços através de um processo de design que consiste na tradução das suas concepções culturais em formas físicas, mediante pro-cedimentos tecnológicos que assegurem a fiabilida-de do processo construtivo. As escolhas tecnológicas subjacentes a este processo são sempre culturalmente informadas, visto que a sua validação social, isto é, o re-conhecimento de que as coisas estão a ser feitas “como deve ser”, é condição essencial para a sua reprodução. É neste contexto que a sociedade participa activamente da produção arquitectónica, não sendo um mero con-sumidor dos seus produtos (Rapoport, 1969:2). Assim, a arquitectura constitui-se, simultaneamente, como produtor e como produto de cultura.
A noção de arquitectura como produto cultural está implícita na utilização de dados de carácter arqui-tectónico – modelos, técnicas e materiais de constru-ção – na investigação de influências exteriores (como é o caso da introdução e difusão do adobe na Idade do Ferro peninsular) e no reconhecimento da especi-ficidade de algumas formas espaciais em determina-dos contextos. Contudo, nas abordagens tradicionais à arquitectura em arqueologia, raramente se consideram explicitamente as suas dimensões tecnológica e social, prevalecendo, nestes casos, perspectivas teóricas que assumem a correspondência entre estruturas sociais particulares e as estruturas espaciais, enquanto sua ma-terialização directa.
Enquanto elementos da cultura material, as es-truturas arquitectónicas são artefactos e a arquitectura é uma tecnologia de produção. As escolhas tecnológi-cas, porque culturalmente definidas, baseia-se em va-lores particulares a cada sociedade. Consequentemen-te, não se podem explicar os procedimentos técnicos (selecção de materiais e execução técnica) partindo de conceitos contemporâneos de eficiência e econo-mia, embora cada sociedade tenha os seus princípios de avaliação de eficácia. O modo como a construção das estruturas é levada a cabo, as escolhas subjacentes à selecção dos materiais utilizados e os grupos sociais envolvidos directamente na prática desta actividade são algumas das variáveis a considerar na abordagem da arquitectura como tecnologia de produção.
Enquanto obstáculos físicos, as estruturas arqui-tectónicas são organizadores espaciais, que ordenam o espaço construído segundo as regras de interacção que constituem a colectividade que os impõe. Assim, não
293
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
se pode projectar no passado modelos arquitectónicos (design) actuais, que reproduzem uma concepção do espaço altamente diferenciado, devido ao elevado grau de segmentação das áreas da vida social (económica, política, religiosa etc.). A incipiente discriminação espacial das actividades não significa nem que sejam pouco diversas, nem que a sua organização social seja simples. Significa, isso sim, que se sobrepõem em espa-ços, cuja natureza se transforma ou re-elabora nas di-ferentes práticas e temporalidades da vivência humana (matinal, diária, permanente, pontual, cíclica etc.), não sendo possível individualizá-las. Importa pois enten-der as actividades como sistemas de actividades (Ra-poport, 1990), os quais se organizam no tempo e no espaço, interligando diversos cenários de actuação.
Em arqueologia, o estudo da organização espa-cial do comportamento gera problemáticas específicas, que se prendem com a natureza da formação do registo arqueológico e que reforçam a necessidade considerar a “estruturação temporal do espaço de habitat” (Lane, 1994). O registo arqueológico é um palimpsesto de vestígios materiais de actividades humanas. A histó-ria de vida de uma área doméstica ou edifício pode incorporar mudanças no seu uso, cuja acumulação leva a que seja muito difícil descortinar arqueologicamen-te os comportamentos específicos que deram origem aos padrões de dispersão dos materiais. Além disso, “embora os padrões de actividade quotidiana possam ser muito repetitivos na sua natureza e organização espacial, isto não conduz sempre à formação de uma padronização regular dos vestígios materiais dessas ac-tividades devido à sua articulação com outros ‘planos de temporalidade’” (Lane 1994:212, minha tradução).
Daqui resulta que “archaeologists have to explore both the processes responsible for the formation of the [archaeological] record, and methodologies for analy-sing and interpreting it, both critically and realistically” (Whitelaw, 1994:226), tendo presente as limitações inerentes às tentativas de conversão de modelos an-tropológicos (trans-culturais) para os enquadramentos arqueológicos de interpretação.
7.4. Construir sítios de habitatna Idade do Ferro na margemesquerda do Guadiana: arquitecturae uso do espaço
Tal como já foi discutido, o estudo de um lu-gar de povoamento – uma povoação em sentido estri-to – tem de considerar as múltiplas dimensões da sua construção, que não são nem consecutivas nem alterna-
tivas: a sua concepção (construção mental), segundo uma determinada ‘ordem do mundo’ ou modelo ideal de sociedade; a sua elaboração tecnológica (construção física), com base em procedimentos técnicos particu-lares e utilizando matérias-primas específicas; e a sua produção prática (construção social), mediante a cons-trução quotidiana dos comportamentos na realização das actividades que aí têm lugar.
Enquanto a construção prática do espaço pode ser (parcialmente) inferida através do estudo dos pa-drões de dispersão das diferentes categorias artefac-tuais e da caracterização de áreas de actividade, a sua elaboração física tem expressão imediata no registo arqueológico, sob a forma de estruturas arquitectóni-cas e depósitos resultantes da sua ruína. São objectivos específicos deste capítulo proceder à análise formal dos elementos construtivos e à análise estrutural dos espa-ços construídos, como ponto de partida empírico para a interpretação da organização espacial das actividades. A análise formal corresponde à descrição morfológica dos elementos construtivos e à caracterização, sempre que possível, das técnicas e materiais utilizados na sua produção. Através da análise estrutural pretende-se reconstituir a articulação física entre os vestígios ar-quitectónicos, com base na interpretação estratigráfica dos mesmos, de forma a permitir o estudo da organi-zação do espaço de habitat como um todo dinâmico, construído através da prática, espacial e temporalmen-te articulada, das diversas actividades.
Contudo, a informação disponível para os diver-sos sítios em análise é muito heterogénea, quantitativa e qualitativamente, sendo evidente o contraste entre os pequenos sítios de habitat (Serros Verdes 4, Monte da Pata 1, Monte do Judeu 6, Monte das Candeias 3 e Estrela 1) por um lado, e o povoado fortificado do Castelo das Juntas, por outro. No caso dos primeiros, as restritas áreas de escavação, a reduzida potência es-tratigráfica e o elevado grau de destruição dos contex-tos arqueológicos pelos trabalhos agrícolas represen-taram obstáculos fundamentais à obtenção de dados de carácter estrutural. O Castelo das Juntas destaca-se claramente do conjunto quer em termos de dimensão, implantação, complexidade arquitectónica (sendo o único povoado fortificado conhecido para a área em estudo), estado de conservação e longevidade de ocu-pação, quer em termos de quantidade e diversidade dos elementos de cultura material.
No Castelo das Juntas parecem estar reunidas condições para permitir levar mais longe o estudo da organização estrutural do espaço de habitat e abordar questões sobre o uso desse mesmo espaço construído.
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
294
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Todavia, a escavação de apenas uma pequena percen-tagem da área total do povoado e a realização de son-dagens dispersas, nas quais se detectaram realidades estruturais de natureza diversa, limita significativa-mente a base de análise e a construção de uma visão de conjunto à escala do povoado.
7.4.1. A arquitectura doméstica: habitacionale outras
7.4.1.1. Análise formal dos elementos construtivos
Entre os elementos construtivos da arquitectura doméstica identificados no conjunto dos habitats em estudo incluem-se fundações, paredes, soleiras, pavi-mentos, e elementos de estruturação interna, como lareiras e bancos ou banquetas. Embora nem todos os sítios apresentem o mesmo leque de elementos cons-trutivos e o seu grau de conservação seja muito díspar, a amostra disponível apresenta certa homogeneidade formal. De facto, do ponto de vista formal, não só não se distinguem os dois grandes tipos de povoado - o pe-queno habitat aberto e o povoado fortificado -, como também não se registam diferenças de âmbito crono-lógico, entre os Serros Verdes 4 (séculos VI-V a.C.) e os restantes sítios (genericamente séculos III-II a.C. e III-I a.C.).
No que diz respeito à implantação das estruturas, é comum a todos os povoados a ausência de fundações. Os raros casos para os quais a hipótese da existência de uma vala de fundação foi levantada são estratigrafica-mente ambíguos (por exemplo, o muro 2 da Estrela 1). As paredes são elevadas directamente sobre o aflora-mento rochoso ou sobre uma camada de terra argilosa, muito aderente, que pode circunscrever-se à base da estrutura (como nos Serros Verdes 4) ou estender-se à área abrangida pelo compartimento, funcionando, então, como pavimento de terra batida. Quanto ao Castelo das Juntas, a preparação das áreas de constru-ção obedeceu a uma estratégia planeada, que consiste na criação de plataformas artificiais nas zonas onde o declive do terreno é mais acentuado, através do cor-te e regularização da superfície rochosa. Esta solução arquitectónica é particularmente visível na sondagem 1 e, sobretudo, na sondagem 2. Implantado a meia encosta, na zona de maior declive do cabeço, o edifí-cio 3 foi construído num sistema de socalcos, sendo o acesso aos compartimentos construídos a cotas dife-rentes feito mediante “portas” elevadas por soleiras de forma rectangular, escavadas na rocha (UE131 e 139). Os socos pétreos das paredes integram na sua constru-
ção o afloramento rochoso, talhado para o efeito. Esta técnica de preparação do terreno é muito comum em povoados de altura (Belarte Franco, 1997).
Os socos pétreos são os segmentos mais resisten-tes das paredes e, frequentemente, os únicos vestígios arquitectónicos conservados no registo arqueológico, visto serem construídos com materiais que dificilmen-te se desagregam. Contudo, nem sempre as paredes apresentam embasamentos pétreos, podendo erguer--se com recurso a outros materiais que não a pedra, nomeadamente preparados de terra e/ou matérias--primas vegetais (madeira, ramagens, canas etc.). Nos pequenos povoados, das paredes conservam-se apenas os alinhamentos pétreos, com uma ou duas fiadas de altura, interrompidos nalguns troços devido ao arrasta-mento dos materiais de construção. A concentração de blocos de quartzo e lajes de xisto à superfície do terre-no sugere a destruição parcial ou total de estruturas em todos os sítios, excepto no Castelo das Juntas. Aqui, a ausência de práticas agrícolas permitiu a preservação das paredes mesmo nas áreas onde a potência estra-tigráfica era menor (como é o caso da sondagem 3). Na sondagem 2, a regularidade das cotas de topo dos socos elevados sobre cada socalco e a quase ausência de lajes nos derrubes demonstram a conservação integral dos embasamentos do edifício 3. Verifica-se o mesmo no edifício 4 da sondagem 3, dada a coincidência das cotas de topo e a boa estruturação deste nos três muros que o compõem (muro 10, 11 e 12).
Nos sítios pequenos (Tabela 7.1 e Tabela 7.2), todos os embasamentos revelam uma técnica cons-trutiva semelhante, caracterizada pela disposição transversal ou longitudinal dos elementos pétreos de maiores dimensões, colocados horizontalmente de forma a constituírem dois paramentos, sendo os espa-ços vazios preenchidos por pedras de menor tamanho (cascalho), envolvidas por terras argilosas. Os blocos foram utilizados em bruto e, embora não se verifique qualquer estratégia de selecção da forma dos materiais, a colocação das faces mais regulares nos paramentos é recorrente. No Monte da Pata 1, regista-se ainda a colocação dos blocos de maiores dimensões nos can-tos das estruturas. Esta técnica de construção pode dar origem a aparelhos mais ou menos coesos conforme o imbricamento dos blocos pétreos utilizados.
As dimensões dos segmentos inferiores das pa-redes são variáveis, embora predominem larguras da ordem dos 40cm a 60cm em todo o conjunto em aná-lise. Refira-se, porém, a maior regularidade dos socos pétreos das paredes dos Serros Verdes 4 (Tabela 7.2), sempre com 40 cm de largura, embora não seja pos-
295
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Orientação Forma Elementos Dimensões (cm) Compart. Edifício Fase Estrutura arquitectónica constituintes Comp. Larg Alt. UE Materiais MONTE DO JUDEU 6 Sondagem 1 Muro 1 NE-SO / NO-SE parede (soco) 10 paramentos de blocos de quartzo ? 60 + 74 15 __ 1 __
de médias dimensões; miolo de peq.
lajes (xisto) e calhaus (quartzo) ligados
c/ terra
Muro 2 NE-SO parede (soco) 16 paramentos de blocos pétreos ? 52 10 __ 2 __
de várias dimensões e matérias e miolo
de peq. lajes de xisto
Muro 3 NO-SE parede (soco) 19 paramentos de blocos de quartzo ? 47 12 __ 1 __
de médias dimensões e miolo
de cascalho e calhaus de xisto
Sondagem 2
Muro 4 NO-SE parede (soco) 6 alinhamento de blocos de quartzo ? 56 14 __ 3 __
de dimensões regulares, ligados c/ terra
argilosa cinzenta
Muro 5 NE-SO parede (soco) 24 alinhamento de blocos de média ? 50 ? 12 __ ? __
dimensão (predomínio do quartzo)
MONTE DA PATA 1
Muro 1 ONO-ESE parede (soco) 6 blocos de quartzo de pequenas ? 120 30 1? 2 3
e médias dimensões (selecção das
maiores para as faces)
Muro 2 NNE-SSO parede (soco) 7 blocos de quartzo de pequenas 100 45 25 __ 2 3
e médias dimensões (selecção das
maiores para as faces)
Muro 3 NNO-SSE parede (soco) 8 blocos de médias dimensões 200 50-60 15 __ __ 3
(predomínio do quartzo)
Muro 4 SE-NO parede (soco) 9 blocos de quartzo de pequenas 120 40 10 1 2 3
(par. interior) e médias (par. exterior)
dimensões; miolo de cascalho
em matriz de terra cinzenta
Muro 5 NNE-SSO parede (soco) 10 blocos de quartzo de peq. e médias ? 40 18 1 2 3
dimensões ligados por terras cinzentas
Muro 6 N-S parede (soco) 11 blocos de quartzo de peq. e médias 260 40 22 1 2 3
dimensões ligados por terras cinzentas
Muro 7 NNE-SSO parede (soco) 24 blocos de quartzo de peq. e médias 80 30 12 __ __ 1
dimensões (paramentos)
Muro 10 NO-SE parede (soco)? 18 alinhamento de calhaus e blocos 190 __ 15 __ __ 3
de quartzo de tamanho médio
Muro 11 ESE-ONO parede (soco) 32 blocos de quartzo de peq. e médias 80 40 20 1 2 3
dimensões ligados por terras cinzentas
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
296
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Orientação Forma Elementos Dimensões (cm) Compart. arquitectónica constituintes Comp. Larg Alt. UE Materiais
ESTRELA 1
Muro 1 NNE-SSO parede (soco) 5 lajes de xisto de peq. e médias 450 40 14 2 2 2
dimensões dispostas na horizontal
Muro 2 NE-SO parede (soco) 11 blocos pétreos de peq. e médias ? 45 15 1, 2 1, 2 1
dimensões
Muro 3 NNE-SSO parede (soco) lajes de xisto regulares, de peq. e médias ? 65 18 1 1 1
dimensões dispostas na horizontal
Muro 4 NO-SE parede (soco) 10 alinhamento irregular de el. pétreos ? ? 12 2 2 2
de peq./médias dimensões
MONTE DAS CANDEIAS 3 Sondagem 2
Muro 1 NO-SE parede (soco) 10 lajes de xisto de grandes e médias ? 65 28 __ 1 __
dimensões
Muro 2 NO-SE parede (soco) 32 blocos irregulares de quarzto ? 55 20 __ 1 __
de média dimensão
Muro 3 NE-SO parede (soco) 34 blocos irregulares de quarzto 115 42 15 __ 1 __
de média dimensão
Muro 4 __ parede (soco) 19 blocos de quarzto de médias __ 42 12 __ 1 __
e grandes dimensões
Sondagem 3
Muro 5 NE-SO / NO-SE parede (soco) 21 grandes lajes de xisto rectangulares ? 150-100 25 ? 2 2
nos paramentos; miolo de pequenos
blocos irregulares (xisto e quartzo)
Muro 6 NO-SE parede (soco) 18 blocos de quarzto de pequena e média 153 55 22 1 2 2
dimensão ligados c/ terra
Muro 7 NE-SO parede (soco) 20 blocos de quartzo de média dimensão ? 50 18 1 2 2
(paramentos)
Muro 8 NO-SE parede (soco) 31 blocos de quarzto de médias/grandes 182 67 20 ? 2 1
dimensões
Orientação Forma Elementos Dimensões (cm) Compart. Edifício Fase Estrutura arquitectónica constituintes Comp. Larg Alt. UE Materiais
Tabela 7.1 – Síntese da análise formal dos muros dos sítios de habitat dos séculos III-II a.C.: Monte do Judeu 6, Monte da Pata 1, Estrela 1 e Monte das Candeias 3
sível avaliar a sua relevância em termos de técnicas e materiais de construção.
Com excepção da Estrela 1, nestes povoados, os socos pétreos são integralmente ou quase integralmen-te construídos em quartzo, estando o xisto reservado à elaboração de pavimentos lajeados no Monte da Pata 1 (pavimento 1), Serros Verdes 4 (pavimento 1) e Monte das Candeias 3 (pavimentos 1 e 2), seguindo-se uma
clara estratégia de utilização diferencial das matérias--primas. No Castelo das Juntas, pelo contrário, predo-mina a construção em xisto e o recurso ao quartzo é residual, limitando-se à fiada de base de dois dos muros do edifício 4 e ao muro 17, na sondagem 3, e a presen-ças pontuais noutras estruturas. O facto de os muros 11 e 12 pertencerem ao mesmo edifício poderia colocar a hipótese de a sua elaboração ter obedecido a escolhas
297
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Tabela 7.2 – Síntese da análise formal dos muros do sítio dos Serros Verdes 4 (séculos VI-V a.C.)
Sondagem 1
Muro 4 ENE-OSO soco de parede 13 blocos irregulares de quartzo ? 40 20 1 1
de dimensões variáveis, dispostos
de forma ordenada
Muro 5 NNO-SSE soco de parede 16 blocos de quartzo de pequena ? 40 18 1 1
dimensão
Muro 3 NNO-SSE soco de parede 19 blocos de pequena dimensão (quartzo ? 40 12 __ 1
e xisto), ligados com terra argilosa
Muro 6 NNO-SSE soco de parede 20 blocos de quarzto de pequena ? 40 14 __ 1
dimensão (quartzo) dispostos
de forma ordenada
Sondagem 2
Muro 1 NE-SO soco de parede alinhamento de blocos de quartzo ? 40 18 2 2
ligados c/ terra argilosa
Muro 2 NE-SO soco de parede 11 blocos de peq./média dimensão ? 40 20 2 2
(predomínio do quartzo sobre o xisto)
ligados c/ terra argilosa
Muro 7 __ soco de parede 5 soco de blocos de peq./média dimensão D=250 ? 40 20 __ 3
(quarzto) ligados c/ terra argilosa
Muro 8 NO-SE soco de parede 6 blocos de quartzo de média dimensão, 230 40 18 4 3
travados entre si, formando paramentos
Muro 9 NE-SO soco de parede 24 blocos de quartzo de média dimensão, 40 40 20 4 3
travados entre si, formando paramentos
Orientação Forma Elementos Dimensões (cm) Compart. Edifício Fase Estrutura arquitectónica constituintes Comp. Larg Alt. UE Materiais
técnicas particulares; no entanto, o quartzo não está pre-sente nas restantes estruturas constituintes do edifício 4.
As diferenças observadas ao nível das rochas usadas como matérias-primas a uma escala inter-sítio deverão prender-se fundamentalmente com estraté-gias de exploração dos recursos locais mais próximos e não com intenções de visibilidade (estéticas ou outras), questão tanto mais sensível quanto se admite a proba-bilidade das paredes terem sido revestidas.
No Castelo das Juntas, não é possível identificar qualquer estratégia específica de selecção de materiais de construção. Os socos pétreos são construídos maio-
ritariamente com lajes de xisto de formas sub-para-lelepipédicas, dispostas maioritariamente deitadas no sentido do comprimento dos muros, reservando a face mais regular para o paramento (Figura 7.1). Apresen-tam um aparelho de duplo paramento, sem preenchi-mento interno, utilizando-se um ligante muito com-pacto e aderente, composto por terras areno-argilosas de cor amarelada ou acinzentada, com abundantes inclusões de elementos não plásticos. Nalgumas estru-turas, como as da sondagem 2, o material de ligação surge em camadas espessas que intercalam com as fia-das de elementos pétreos (Figura 7.1). Os blocos rara-
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
298
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
mente se encontram em bruto; são aplicados depois de ligeiramente afeiçoados, permitindo construções mais regulares. As juntas entre os blocos são frequentemen-te colmatados com cascalho de xisto.
Deste conjunto distinguem-se alguns socos de construção irregular, para a construção dos quais se recorreu tanto a lajes de xisto como a blocos de quart-zo de dimensões e formas variadas, dispostos de for-ma pouco organizada. O muro 16, na sondagem 3, é o exemplo mais evidente deste procedimento; nos restantes casos, como por exemplo, o muro 13, não é possível determinar se a aparência caótica da sua estru-turação não é apenas produto do pior estado de con-servação dos muros.
Quanto aos segmentos superiores de paredes com embasamento, a utilização da materiais terrígenos na construção só foi comprovada arqueologicamente para o muro 25 do Castelo das Juntas (Figura 7.3). Contudo, a completa ausência de vestígios de derru-bes pétreos no Monte da Pata 1 (Valera, 1999:16) e a possibilidade de associar depósitos, identificados den-tro de edifícios, directamente ao derrube de estruturas particulares, no Castelo das Juntas, permite conside-rar este procedimento como prática generalizada. No Castelo das Juntas, além deste tipo de paredes detec-taram-se ainda muros inteiramente construídos em materiais terrígenos (Tabela 7.3), cuja elevação implica processos construtivos – embora não necessariamente técnicas construtivas – diferentes dos anteriores.
Apenas é possível identificar inequivocamente a técnica construtiva utilizada no muro 18. A UE214 é constituída por uma fiada de três adobes rectangula-res, de dimensões muito regulares (47cm x 30cm) e espessura conservada em 3cm, colocados deitados no sentido longitudinal do paramento. Os adobes são compostos por uma terra cinzenta muito argilosa e ho-mogénea, com inclusões moderadas de elementos não plásticos muito finos, não se tendo registado vestígios de inclusões de fibras vegetais. As juntas são também regulares, preenchidas por uma terra amarela, de textu-ra homogénea, com inclusões moderadas de elementos não plásticos de granulometria fina. Nas construções em adobe, o recurso a um ligante plástico que pode ser de um material mais resistente ou do mesmo material de fabrico dos tijolos parece ser uma prática recorren-te (Motta, 1997:61; Sánchez García, 1999:174), o que dificulta ainda mais a identificação desta técnica em contextos arqueológicos, quando as paredes se encon-tram em processo de desagregação e se não tiverem sido estabilizadas por acção do fogo.
Da análise das restantes estruturas em terra do Castelo das Juntas destacam-se três aspectos funda-mentais: a diversidade dos materiais terrígenos utiliza-dos, que se diferenciam na cor, textura e granulometria; a inexistência de uma correlação entre presença/ausên-cia de embasamento e características do material de construção; e a não-destandardização das dimensões dos muros. As paredes de terra podem enquadrar-se
Figura 7.1 – Socos pétreos de paredes do Castelo das Juntas: muros 4 e 5 (esquerda), muro 25 (direita) e muro 11 (em baixo)
299
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Fo
rma
Elem
ento
s co
nstit
uint
es
Dim
ensõ
es (c
m)
Der
rube
s as
soci
ados
C
ompa
rt.
Edifí
cio
Fase
Est
rutu
ra
arqu
itect
ónic
a U
E M
ater
iais
Com
p.
Larg
. A
lt.
UE
Com
posiç
ão
Son
dage
m 1
Mur
o 1
pare
de
s/
emba
sam
ento
68
terr
a arg
ilosa
amar
elada
c/ m
uito
saib
ro
? 70
60
27
5 te
rras
cas
tanh
as c
/ cas
calh
o de
xist
o 1
2 2
e c
asca
lho
de p
eque
nas d
imen
sões
Mur
o 15
in
dete
rmin
ada
185
lajes
de
xist
o re
gular
es li
gada
s
por p
repa
rado
de
terr
a com
pact
a c/ c
asca
lho
? ?
18
__
__
? ? 3
Mur
o 20
pa
rede
21
9 pr
epar
ado
de te
rras
argil
osas
fina
s,
? 50
10
23
5 te
rra a
mar
elada
c/ a
lguns
elem
ento
s
s/
emba
sam
ento
de
xist
o 12
6?
3
236
terr
a cas
tanh
o-ala
ranj
ada c
/ elem
ento
s
de x
isto
com
pact
as e
de
colo
raçã
o am
arela
da
Mur
o 21
pa
rede
22
0 te
rras
cin
zent
as fi
nas e
argil
osas
16
0 70
24
20
6 te
rras
cin
zent
as ar
gilos
as c
/ nód
ulos
s/
emba
sam
ento
c/
cas
calh
o de
xist
o
de te
rra a
verm
elhad
a 12
6?
3
Mur
o 22
pa
rede
22
2 te
rra a
verm
elhad
a mui
to c
ompa
cta,
?
60-9
0 24
__
12
6?
3
s/
emba
sam
ento
gr
anul
osa,
c/ ab
unda
nte
casc
alho
de x
isto
Mur
o 23
in
dete
rmin
ada
233
lajes
de
xist
o de
dim
ensõ
es v
ariáv
eis
ligad
as c
/ pre
prad
o de
terr
a are
no-s
aibro
sa
270
50
84
__
___
10
? 1
Mur
o 24
pa
rede
23
4 laj
es d
e xi
sto
de m
édia
e gr
ande
23
4 52
18
29
5 te
rras
cas
tanh
as c
/ mui
to c
asca
lho
8 6
3
c/
em
basa
men
to
dim
ensã
o lig
adas
c/ p
repa
rado
de
terr
a
e laj
es d
e xi
sto
mui
to c
ompa
cta e
ader
ente
Mur
o 26
in
dete
rmin
ada
239
lajes
de
xist
o m
uito
regu
lares
, de
gran
de
___
50
8 __
__
_ ?
? 1
dim
ensã
o (c
omp.=
30/
36cm
) liga
das
c/ te
rra a
dere
nte
Mur
o 30
pa
rede
27
9 bl
ocos
de
quar
tzo
(bas
e) e
lajes
de
xist
o 27
0 50
37
24
6 te
rras
cin
zent
as fi
nas e
argil
osas
8,
9 6
3
c/
em
basa
men
to
de m
uito
gran
des d
imen
sões
, liga
das
2
78 c
/ cas
calh
o de
xist
o
c/ t
erra
aren
o-ar
gilos
a
Mur
o 37
in
dete
rmin
ada
314
bloc
os d
e qu
artz
o (b
ase)
e la
jes d
e xi
sto
75
10 a
50
40
__
___
9 63
de d
imen
sões
var
iáveis
liga
das c
/ ter
ra
amar
ela m
uito
ader
ente
Mur
o 38
in
dete
rmin
ada
316
lajes
de
xist
o re
gular
es d
e m
édias
__
__
__
__
__
_ __
__
1
dim
ensõ
es
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
300
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Fo
rma
Elem
ento
s co
nstit
uint
es
Dim
ensõ
es (c
m)
Der
rube
s as
soci
ados
C
ompa
rt.
Edifí
cio
Fase
Est
rutu
ra
arqu
itect
ónic
a U
E M
ater
iais
Com
p.
Larg
. A
lt.
UE
Com
posiç
ão
Son
dage
m 2
Mur
o 2
pare
de
18 la
jes d
e xi
sto
de ta
man
ho m
édio
?
56
45
39 te
rras
cas
tanh
o-av
erm
elhad
as
2, 5,
4 3
__
c/
em
basa
men
to
a m
uito
gran
de (<
120c
m) l
igado
s c/ t
erra
c/ al
gum
as la
jes d
e xi
sto
mui
to c
ompa
cta e
ader
ente
Mur
o 3
pare
de
24 la
jes d
e xi
sto
de d
imen
são
méd
ia a g
rand
e,
? 35
26
56
lajes
de
xist
o na
vert
ical i
nter
calad
as
2, 3
3
regu
lares
, e gr
ande
s blo
cos d
e qu
artz
o
por t
erra
s com
pact
as
Mur
o 4
pare
de
71 la
jes d
e xi
sto
de d
imen
sões
var
iáveis
?
40
47
23 la
jes d
e xi
sto
na ve
rtica
l env
olvid
as
3, 5
3 __
c/
em
basa
men
to
ligad
as c
/ pre
prad
o de
terr
a arg
ilosa
__
po
r ter
ras c
inze
ntas
e co
mpa
cta,
c/ in
úmer
os e
np
59
terr
as m
uito
com
pact
as e
fina
s,
de c
or c
inze
nta e
aver
melh
ada
Mur
o 5
pare
de
33 gr
ande
s laje
s de
xist
o lig
adas
c/ t
erra
?
40
45
____
_ 2,
4 3
__
c/
em
basa
men
to
argil
osa e
cas
calh
o de
xist
o
Mur
o 6
pare
de
58 la
jes d
e xi
sto
de ta
man
ho v
ariáv
el,
c/
em
basa
men
to
ligad
as c
/ ter
ra
120
40
28 a
6 __
___
4, 5
3 __
Mur
o 7
pare
de
22 la
jes d
e xi
sto
de ta
man
ho gr
ande
37
5 45
25
__
___
2, 3
3 __
c/
em
basa
men
to
a mui
to gr
ande
em
fiad
as in
terc
alada
s c/ t
erra
Mur
o 8
pare
de
37 te
rras
pou
co ar
gilos
as c
/ abu
ndan
te
s/
emba
sam
ento
c
asca
lho
e alg
umas
lajes
de
xist
o 14
6 40
20
11
6 te
rras
com
pact
as e
nvol
vend
o laj
es
__
3?
__
de x
isto
de p
eque
nas e
méd
ias d
imen
sões
Mur
o 9
pare
de
41 al
inha
men
to d
e laj
es d
e xi
sto
disp
osta
s ?
120
40
__
___
__
3?
s/
emba
sam
ento
de
lado
na v
ertic
al
__
10
6 te
rras
pou
co ar
gilos
as c
/ abu
ndan
te c
asca
lho
? __
__
_
Mur
o 38
ba
nque
ta?
160
prep
arad
o de
terr
a c/ m
uito
cas
calh
o,
160
24
20
____
_ 3
3 __
refo
rçad
o po
r laje
s de
xist
o de
méd
ia di
men
são
Mur
o 32
in
dete
rmin
ada
76 la
jes d
e xi
sto
de d
imen
sões
var
iáveis
35
40
22
__
___
__
3 __
Mur
o 35
in
dete
rmin
ada
78 la
jes d
e xi
sto
de p
eque
nas e
méd
ias
? ?
? __
___
__
3 __
dim
ensõ
es li
gada
s c/ t
erra
cin
zent
a
301
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Fo
rma
Elem
ento
s co
nstit
uint
es
Dim
ensõ
es (c
m)
Der
rube
s as
soci
ados
C
ompa
rt.
Edifí
cio
Fase
Est
rutu
ra
arqu
itect
ónic
a U
E M
ater
iais
Com
p.
Larg
. A
lt.
UE
Com
posiç
ão
Son
dage
m 3
Mur
o 10
pa
rede
83
lajes
de
xist
o de
gran
des e
mui
to gr
ande
s 61
4 60
40
19
1 te
rras
argil
o-ar
enos
as fi
nas,
com
pact
as,
__
4 2
c/
em
basa
men
to
dim
ensõ
es, m
uito
regu
lares
(fac
es ap
arelh
adas
),
de
cor
cas
tanh
o av
erm
elhad
as e
amar
elada
s
ligad
as c
/ ter
ra am
arela
, arg
ilosa
, mui
to c
ompa
cta
19
7 laj
es d
e pe
q./m
édia
dim
ensã
o en
volvi
das
c/ sa
ibro
s mui
to ab
unda
ntes
c/ te
rras
cas
tanh
as
198
terr
as ar
gilo-
aren
osas
, de
cor a
verm
elhad
a
e ac
inze
ntad
a
Mur
o 11
pa
rede
85
blo
cos d
e qu
artz
o irr
egul
ares
(bas
e) e
lajes
61
2 60
39
__
___
__
4 2
c/
em
basa
men
to
de x
isto
de m
édia/
gran
de d
imen
são
ligad
os
c/ te
rra a
rgilo
sa
Mur
o 12
pa
rede
89
gran
des b
loco
s de
quar
zto
irreg
ular
es
604
110
55
____
_ __
4
2
c/
em
basa
men
to
(bas
e) e
lajes
de
xist
o pa
ralel
epip
édica
s
de fa
ces a
feiço
adas
; liga
nte
em te
rra
cast
anha
acin
zent
ada
Mur
o 13
pa
rede
16
4 laj
es d
e xi
sto
de p
eq/m
édia
dim
ensã
o ?
40
32
____
_ 11
5
3
c/
em
basa
men
to?
e al
guns
blo
cos d
e qu
artz
o
Mur
o 14
pa
rede
s/
emba
sam
ento
18
0 pr
epar
ado
de te
rra d
e co
mpo
sição
?
40
32
179
terr
as c
asta
nho
aver
melh
adas
c/ c
asca
lho
11
5 3
mui
to h
eter
ogén
ea, c
/ abu
ndan
tes e
np
ab
unda
nte
de x
isto
de v
árias
dim
ensõ
es (s
aibro
a ca
lhau
)
181
terr
as c
asta
nho
acin
zent
adas
c/ c
asca
lho
abun
dant
e
188
terr
as c
asta
nho
acin
zent
adas
c/ c
asca
lho
abun
dant
e
217
terr
as c
asta
nhas
mui
to c
ompa
ctas
c/ m
uito
cas
calh
o
Mur
o 16
pa
rede
19
0 so
co ir
regu
lar d
e ele
men
tos p
étre
os
76
40
25
____
_ 11
5
3
c/
em
basa
men
to
(qua
rtzo
e x
isto)
Mur
o 17
pa
rede
120
50
30
177
terr
as al
aran
jadas
mui
to fi
nas,
com
pact
as
11
5 3
c/
em
basa
men
to
192
soco
pét
reo
de b
loco
s de
quar
tzo
e
argil
osas
na h
orizo
ntal
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
302
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Fo
rma
Elem
ento
s co
nstit
uint
es
Dim
ensõ
es (c
m)
Der
rube
s as
soci
ados
C
ompa
rt.
Edifí
cio
Fase
Est
rutu
ra
arqu
itect
ónic
a U
E M
ater
iais
Com
p.
Larg
. A
lt.
UE
Com
posiç
ão
Mur
o 18
pa
rede
dup
la?
199
lajes
de
xist
o irr
egul
ares
de
dim
ensõ
es
? 70
18
__
___
__
11
1
vária
s, lig
adas
c/ t
erra
s com
pact
as am
arela
s
214
adob
es d
e te
rra m
uito
argil
osa c
inze
ntad
a,
? 36
3
de te
xtur
a fina
, c/ e
np m
uito
fino
s
Mur
o 19
pa
rede
21
0 laj
es d
e xi
sto
regu
lares
de
vária
s dim
ensõ
es,
? ?
37
____
_ __
4
3
c/
em
basa
men
to
ligad
as c
/ ter
ra ar
gilos
a
Son
dage
m 4
Mur
o 25
pa
rede
23
7 laj
es d
e xi
sto
mui
to e
spes
sas e
regu
lares
, 21
4 ?
50
208
terr
as ar
gilos
as c
inze
ntas
e av
erm
elhad
as
6 7
2
c/
em
basa
men
to
liga
das c
/ ter
ras m
uito
com
pact
as
m
uito
fina
s
318
prep
arad
o de
terr
a cin
zent
a arg
ilosa
, 60
?
20
241
fina e
com
pact
a
Mur
o 26
in
dete
rmin
ada
284
gran
des l
ajes d
e xi
sto
? ?
? __
__
_ __
__
1
Mur
o 27
pa
rede
dup
la?
240
prep
arad
o de
terr
a are
no-a
rgilo
sa fi
na,
amar
ela e
com
pact
a 27
0 50
15
27
1 te
rras
acas
tanh
adas
fina
s c/ e
np
6 7
2
242
lajes
de
xist
o re
gular
es d
e ta
man
ho m
édio
de re
duzid
as d
imen
sões
e gr
ande
(<50
cm),
ligad
as c
/ ter
ra c
asta
nho
230
60
55
253
terr
as ac
inze
ntad
as e
aver
melh
adas
fina
s
amar
elado
Mur
o 28
pa
rede
25
8 laj
es d
e xi
sto
de m
édia
dim
ensã
o D
= 2
20 6
0 28
__
___
__
8 2?
c/
em
basa
men
to
não
afeiç
oada
s
Mur
o 31
pa
rede
26
5 laj
es d
e xi
sto
de m
édia
e gr
ande
dim
ensã
o ?
94
22
____
_ __
10
2?
c/
em
basa
men
to
c/ fa
ces a
feiço
adas
Mur
o 33
pa
rede
29
0 pr
epar
ado
de te
rra a
reno
-arg
ilosa
fina
, ?
40
15
____
_ 6
7 2
s/
emba
sam
ento
am
arela
e c
ompa
cta
Mur
o 34
pa
rede
30
1 laj
es d
e xi
sto
D =
245
36
? __
___
__
9 1
c/
em
basa
men
to
Mur
o 36
pa
rede
30
3 laj
es d
e xi
sto
de m
édia
e gr
ande
dim
ensã
o
c/
em
basa
men
to
liga
das c
/ ter
ras a
rgilo
sas e
com
pact
as
? ?
50
____
_ ?
? 2
Tabe
la 7
.3 –
Sín
tese
da
anál
ise
form
al d
os m
uros
do
Cas
telo
das
Junt
as
303
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
em dois grandes grupos com base no material usado: materiais terrígenos compactos, heterogéneos, com abundantes elementos não plásticos muito grosseiros (cascalhos e calhaus) e cor castanho avermelhada ou amarelada (muros 1, 8, 14, 22, 24 e 38); e materiais terrígenos argilosos, homogéneos, com inclusões mo-deradas de elementos não plásticos finos a grosseiros e coloração amarelada ou cinzenta (muros 4, 17, 18, 20, 21, 25, 27 e 33).
Alguns autores (Belarte Franco, 1997:66) consi-deram que o estudo da composição da terra não per-mite distinguir estruturas de adobe ou de taipa, uma vez que tanto num caso como no outro se pode utilizar a mesma terra, embora dando-lhe um tratamento dife-rente consoante a técnica construtiva que se pretende aplicar. Porque os elementos adicionados não deixam vestígios no registo arqueológico (água, fibras vegetais) ou não são identificáveis como tal (cascalho), a compo-sição do preparado de terra não seria útil na diferencia-ção entre técnicas construtivas. Esta ideia alicerça-se na convicção de que “por norma se utiliza a terra pró-xima do local onde se vai realizar a construção” (Belar-te Franco, 1997:66, minha tradução) e assume que não há exploração diferencial de matérias-primas segundo critérios tecnológicos.
Contudo, os resultados das análises sedimento-lógicas de amostras de terras de construção do habi-tat antigo de Lattes revelaram o recurso a duas fontes de materiais argilosos diferentes, ambas próximas do povoado, para o fabrico de adobes, além da extracção de terras dentro do sítio (Chazelles, 1996:259). Estes
dados sugerem também a possibilidade de distinguir fontes de matérias-primas, com base na coloração e granulometria das terras (Chazelles, 1996:259), mas extrapolar estas observações para outros contextos pe-dológicos e geomorfológicos seria abusivo.
Mais relevante para o estudo da arquitectura do-méstica é a aparente distinção entre as características dos materiais de adobe (limo-argilosos, com inclusões de saibros e areias) e dos materiais terrígenos utiliza-dos na construção de estruturas maciças298 (heterogé-neas na cor e textura, apresentando nódulos mais com-pactos e, por vezes, inclusões de cascalho e carvões), que perpassa na descrição dos elementos construtivos de Lattes, embora não seja apresentada de forma sis-temática.
No Castelo das Juntas, embora não haja dados que permitam fazer corresponder de forma inequívoca a cada grupo de estruturas a utilização de uma técnica construtiva específica - com atribuição do grupo 1 às construções maciças (erguida em taipa ou não) e do grupo 2 às paredes em adobe -, o estudo sistemático dos muros e respectivos derrubes pode fornecer argu-mentos para sustentar esta hipótese.
O muro 14, integralmente construído em mate-riais terrígenos, é um bom exemplo, visto que se de-tectaram derrubes resultantes do colapso de segmentos da parede, em momentos distintos (Tabela 7.3). Todos estes depósitos se caracterizam por boa compactação, abundância de cascalho de xisto e inclusão de algumas lajes, dispostas na vertical e muitas vezes de forma per-feitamente paralela ao muro (Figura 7.3). Tanto o muro 14 como o muro 1 apresentam uma particularidade es-trutural interessante: a disposição, no topo conservado, de uma ‘fiada’ de lajes de médias dimensões, deitadas e orientadas no sentido longitudinal do paramento.
Estes exemplos encontram paralelos nas solu-ções arquitectónicas tradicionais. Tendo em conta que a maior fragilidade das paredes reside nos interfaces de ligação das camadas, verifica-se uma tendência para a escolha de materiais mais resistentes do que a terra para o preenchimento das juntas. Uma das soluções mais correntes nas construções em taipa é a introdu-ção de elementos pétreos no topo das juntas, embora geralmente não cobrindo toda a superfície de assen-tamento (Motta, 1997:52). A ausência de marcas de cofragem não permite documentar a utilização da tai-pa na elevação dos muros 1, 14, 20 e 24 mas as suas dimensões e a composição do material de construção
Figura 7.2 – Comparação entre os materiais terrígenos utilizados para a elevação dos muros 21 (grupo 2) e 22 (grupo 1)
298 Os autores empregam o termo “baugue”, que pode ser traduzida por “terra empilhada”, e que designa construções monolíticas em terra.
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
304
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 7.3 – Exemplos de paredes e derrubes de paredes constituídos por materiais terrígenos correspondentes, respectivamente, ao grupo 1 e 2: em cima, o muro 14 e respectivo derrube (UE181); em baixo, o muro 25 (soco pétreo e segmento superior em materiais terrígenos) e o derrube UE117
indicam um processo deste tipo. A largura dos mu-ros (de 40 a 50 cm) enquadra-se nas dimensões mais comuns das construções em taipa, quer nos povoados pré-romanos onde foi classificada como tal (Barrio Martin, 1993:312; Chazelles, 1993:160-161), quer no Alentejo actual (Dias, 1993a:123; Motta, 1997:48). Quanto ao material, trata-se genericamente de um be-tão magro, pedregoso, oriundo dos detritos da rocha--mãe e que atinge uma consistência muito dura, para a qual contribui a introdução de elementos pétreos (Motta, 1997:45).
As estruturas do grupo 2 caracterizam-se pela utilização de um preparado de terra com caracterís-ticas distintas do que foi descrito para o grupo 1. A semelhança entre os adobes do muro 18 (UE214) e as terras que constituem os muros 20, 21, 25 (UE318), 27 (UE240) e 33, responsável pela sua integração neste grupo, sugere a possibilidade de estas paredes terem sido erguidas segundo a mesma técnica construtiva (Figura 7.3). Contudo, a ausência de juntas e do de-
senho dos tijolos não permite corroborar nem refutar esta hipótese. Há ainda que considerar a existência de outras técnicas de construir em terra que não a taipa e o adobe, nomeadamente processos de elaboração de paredes sem o auxílio de cofragem (“terra empilhada”). De resto, a existência de uma correspondência entre materiais de construção e técnicas construtivas só po-derá ser investigada mediante o estudo geoquímico, mineralógico e sedimentológico sistemático de amos-tras destas estruturas e, nalguns casos, dos depósitos de derrubes.
Refira-se que não se registam estratégias arqui-tectónicas específicas para a elevação dos diferentes tipos de estruturas, pois ambos os grupos integram paredes com e sem embasamento.
Sobre os paramentos interno ou externo das pa-redes pode ter sido aplicado um revestimento em ter-ra. A ajuizar pelos estudos de arquitectura tradicional (Dias, 1993; Motta 1997), esta deveria ser uma prática comum nas construções em materiais terrígenos, de-
305
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
sempenhando um papel fundamental como isolante e estabilizador da estrutura. A dificuldade em detectar revestimentos durante o processo de escavação deve-se à rápida desagregação dos revestimentos quando dei-xam de ser mantidos e reparados e à sua dissimulação nos depósitos de derrube, dada a semelhança – se não mesmo coincidência - com a terra usada para erguer os muros.
O bom estado de conservação do muro 14 do Castelo das Juntas permitiu identificar, no paramento Este, uma fina película de um material muito argilo-sos e homogéneo, variando na cor entre o cinzento e o amarelado. É provável que corresponda a vestígios de uma camada de revestimento, pois a sua homogenei-dade e textura fina contrastam com as características do material de construção.
Os materiais terrígenos são também muito uti-lizados nos pavimentos. No conjunto de sítios em análise podem distinguir-se pelo menos dois tipos - os pavimentos de terra (no Castelo das Juntas, Monte do Judeu 6 e Estrela 1) e os lajeados (no Castelo das Juntas, Serros Verdes 4, Monte da Pata 1, Monte das Candeias 3) –, ambos amplamente documentado no mundo pré-romano da Península Ibérica (por exem-plo, Bonet et Pastor, 1984; Belarte Franco, 1997).
Os primeiros são pisos de materiais argilosos muito compactos, de cor avermelhada ou amarelo--alaranjadas, em cuja composição podem incluir-se nódulos e fragmentos de cerâmica de dimensões muito reduzidas (como no pavimento 8 do Castelo das Jun-tas). Correspondem à utilização directa da rocha de base, talhada quando necessário e nivelada por meio da aplicação de preparados de terra. A identificação de pisos de terra “batida” pode revelar-se problemá-tica, dada a relativa homogeneidade e o elevado grau de compactação dos depósitos que constituem estes contextos arqueológicos. A interpretação da UE3 dos Serros Verdes 4 ilustra esta dificuldade. A ausência de uma superfície alisada não permitiu sustentar a hipóte-se de corresponder a um pavimento em terra, apesar de apresentar uma composição argilosa, de se limitar ao interior do compartimento 1, de não ter fornecido ma-teriais arqueológicos e de assentar directamente sobre a rocha. Os exemplos mais claros deste tipo de pavi-mentos são o pavimento 1 da Estrela 1 e o pavimento 8 do Castelo das Juntas, que apresentam uma película superficial de argilas vermelhas ligeiramente rubefac-tadas, cuja formação pode estar relacionado com a uti-lização de estruturas interpretadas como lareiras.
O segundo tipo refere-se a pavimentos cons-truídos com lajes de xisto espessas, de forma sub-
-paralelepipédica e de médias a grandes dimensões (que atingem 50 cm de comprimento), dispostas na horizontal. Os lajeados são colocados sobre uma fina camada de terras argilosas, arqueologicamente estéril, que cobre directamente a rocha de base, e para a qual é frequentemente impossível determinar se foi fabricada durante processo de construção ou se resulta da desa-gregação natural do afloramento rochoso.
O conhecimento muito fragmentário sobre a ar-ticulação dos espaços construídos impede o registo de possíveis padrões na selecção dos dois tipos de pavimen-to dentro de cada povoado. A aparente tendência para o lajeamento de áreas exteriores (nomeadamente, os pavi-mentos 4 e 7 do Castelo das Juntas, os pavimentos 1 e 2 do Monte da Pata 1 e o pavimento 1 dos Serros Verdes 4) pode ser o produto da observação de uma amostra não representativa da realidade, visto que as variáveis que lhe estão subjacentes – como a funcionalidade dos espaços - não são controláveis. Os dados do Monte das Candeias 3, que contrariam esta tendência geral, pare-cem indiciar uma realidade mais complexa.
Neste contexto, cabe abordar outros elementos construtivos – os empedrados -, de difícil classificação, e cujo enquadramento no grupo dos pavimentos ou dos socos pétreos representa já uma opção interpre-tativa. Os empedrados correspondem a aglomerados de blocos maioritariamente de quartzo, de pequenas e médias dimensões e formas arredondadas, colocados de modo cuidadosamente imbricado, o que afasta a possibilidade de resultarem de derrubes ou aglomera-dos ocasionais. Nos casos em que foi possível definir todos os limites, caracterizam-se por plantas de ten-dência circular ou alongada.
Uma das questões principais consiste em deter-minar se esta aparente semelhança dos empedrados re-flecte a sua pertença a um mesmo tipo de realidade ou se, pelo contrário, se corre o risco de comparar estrutu-ras tão díspares quanto, por exemplo, calçadas, base de fornos ou socos pétreos de edifícios sub-circulares. O problema da sua funcionalidade não pode, contudo, ser satisfatoriamente resolvido, até porque a sua relação estratigráfica com os restantes elementos construtivos não é, frequentemente, clara (vide capítulo 4).
Construções deste tipo foram identificadas ape-nas no Monte da Pata 1 (empedrados 1, 2, 3 e 4) e na Estrela 1 (empedrados 1, 2 e 3). A sua dimensão e localização em áreas exteriores aos espaços fechados (compartimentos ou edifícios) sugere a construção destas estruturas como unidades arquitectónicas ‘autó-nomas’, e não como elementos de estruturação interna de outras.
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
306
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
No que diz respeito aos elementos de estrutu-ração interna, os dados disponíveis são ainda mais es-cassos, tendo sido identificadas apenas uma possível banqueta ou banco, no Castelo das Juntas - Muro 38 - e três lareiras - duas na Estrela 1 e uma no Castelo das Juntas.
O muro 38 corresponde a uma estrutura em ter-ra, de construção maciça, que apresenta semelhanças com o muro 14, particularmente ao nível da composi-ção do preparado de terra e da disposição dos materiais de construção (vide supra). A sua interpretação como banqueta baseou-se não só na sua morfologia sub-rec-tangular e dimensões (1,60m de comprimento, 24cm de largura e 20cm de altura), mas também no facto de adossar ao muro 7, parede que separa o compartimento 3 do compartimento 2 (sondagem 2).
Quanto às lareiras, não deixa de ser surpreenden-te a raridade destes elementos construtivos nos sítios da margem esquerda do Guadiana, principalmente se se considerar que os conjuntos artefactuais documentam ambientes domésticos (vide capítulo 6). Parcialmente responsável por esta ausência no registo arqueológico poderá ser o facto de raramente se terem escavado com-partimentos inteiros ou de, no caso do compartimento 1 do Monte da Pata 1, os depósitos do seu interior não terem sido integralmente removidos. Igualmente signi-ficativo será o elevado grau de afectação dos contextos, tendo-se registado marcas de arado mecânico no aflo-ramento rochoso, nalguns dos povoados pequenos.
Os elementos construtivos interpretados como lareiras são estruturas sub-circulares, com diâmetros de 90cm, 85cm ou 50cm, e 1cm a 5cm de altura, mol-dadas em terras argilosas muito semelhantes às que ca-racterizam os pavimentos sobre os quais assentam. A rubefacção da superfície das lareiras é visível na pelícu-la de argila cozida que reveste o seu topo. No Castelo das Juntas, a ausência de cinzas e carvões pode resultar da limpeza sistemática da zona de lareira durante a ocupação da habitação. No Monte da Pata 1 foi esca-vado o único forno identificado nestes povoados, mas por se tratar de uma estrutura de cronologia romana, correspondente à última fase de ocupação do sítio, não se lhe dará aqui particular relevo.
Ausentes dos povoados da margem esquerda do Guadiana estão os vestígios de cobertura. Os únicos elementos que deverão estar relacionados com a susten-tação de coberturas ou pisos superiores são os buracos de poste do compartimento 9, no Castelo das Juntas. Neste sítio, o desconhecimento da altura das unidades domésticas não permite estabelecer a sua relação com os segmentos superiores da muralha, às quais adossam
vários compartimentos, nem qual o tipo de cobertura erguido. Embora alguns autores proponham a possibi-lidade de coberturas desta época terem sido construídas em duas águas, usando como argumento a presença de paredes internas, bases de colunas ou buracos de poste alinhados com o eixo central dos edifícios, a maioria das hipóteses de reconstituição sugere coberturas de uma só água, inclinadas, a partir da muralha, no sentido do interior do povoado (Belarte Franco, 1997:89-94). O trabalho de reconstrução do povoado fortificado de El Puntal del Llops é um exemplo paradigmático desta interpretação (Bonet et Pastor, 1984).
O único dado disponível sobre os materiais uti-lizados na construção destas coberturas nos sítios em estudo é a ausência de cerâmica de construção. Colo-ca-se, portanto, a hipótese de se ter recorrido a outro tipo de técnicas e matérias-primas, como entrançados de fibras vegetais, revestidos com terra, à semelhança da cobertura carbonizada recuperada sobre um pavi-mento da segunda metade do século V a.C., em Illa d’en Reixac (Belarte Franco, 1997:89-94).
7.4.1.1.1. Materiais de construçãoe proveniência de matérias-primas: caracterização química e mineralógicaM.I.Dias, M.I.Prudêncio e F. Rocha
A análise formal sistemática dos elementos cons-trutivos dos habitats permite concluir da importância dos materiais terrígenos na construção e da existência de estratégias arquitectónicas de selecção dos materiais terrígenos utilizados, de acordo com as exigências dos processos construtivos a pôr em prática (Tabela 7.4). Contudo, não é possível determinar se este padrão re-sulta da exploração de diferentes fontes de materiais argilosos ou de processos específicos de manipulação das mesmas matérias-primas.
O estudo químico (composição química obtida por análise instrumental por activação neutrónica, ver cap. 5 para detalhes do método) e mineralógico de cin-co amostras de derrubes do Castelo das Juntas indicou uma proveniência local para os materiais de construção analisados. Estes apresentam uma grande afinidade geo-química com os xistos regionais, nomeadamente com os materiais derivados da alteração dos xistos amostrados nas imediações do sítio (Figura 7.4), à semelhança do que acontece com a maioria das cerâmicas analisadas do Castelo das Juntas, para a qual se apontou uma pro-dução local/ regional (vide capítulo 5). Assim, não se identificou para uma estratégia de exploração de recur-sos específica para os materiais de construção.
307
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Tabela 7.4 – Síntese descritiva dos mate-riais terrígenos utiliza-dos na construção do Castelo das Juntas
Materiais de construção
Materiais terrígenos argilosos de cor amarelada ou acinzentada com
inclusões frequentes de elementos não plásticos (saibros e cascalhos),
maioritariamente de xisto
Materiais terrígenos cascalhosos, de granulometria grosseira e coloração
castanho avermelhada ou amarelada
Materiais terrígenos argilosos, de cor amarela, de composição homogé-
nea e granulometria fina
Materiais argilosos muito finos, de coloração heterogénea (amarela, cin-
zenta ou esverdeada)
Materiais terrígenos argilosos, de cor amarelada ou avermelhada, com
inclusões moderadas de elementos não plásticos de granulometria fina,
que podem incluir pequenos nódulos de cerâmica
Ligante
Construção maciça
(taipa ou outra)
Adobe
Revestimento
Pavimento
Figura 7.4 – Composição química determinada por activação neutrónica das amostras de cerâmica, material de construção e litologias regionais. Variação da soma dos valores de ferro, escândio, cobre, cobalto e zinco em relação à soma dos valores de elementos de terras raras, háfnio, tântalo, tório e urânio nas as cerâmicas do Monte da Pata 1e do Castelo das Juntas e argilas regionais. Abreviaturas: cerâmica (cer.), material de construção (mat. const.), quartzodioritos (QD), dioritos e gabros associados (DG), xistos com metabasitos(XMB), vulcanitos (V).
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
308
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A composição mineralógica dos materiais de construção e das argilas foi obtida por difracção de raios-X, para a amostra total preparada como agregado não orientado, e para a fracção < 2 µm preparada como agregado orientado ao natural, glicolado com etileno--glicol, e aquecido a 550ºC. Foi efectuada uma análise semi-quantitativa, tendo como base as áreas dos picos dos difractogramas (agregado não orientado da amos-tra total e agregado orientado glicolado da fracção argi-losa), correspondentes aos espaçamentos dos máximos de difracção característicos de cada mineral afectados pelo respectivo poder reflectante (Schultz, 1964; Bis-caye, 1965; Rocha, 1993; Dias, 1998). Tendo como base esta aproximação semiquantitativa, procedeu-se ao es-tabelecimento das principais associações mineralógicas, apresentadas por ordem de grandeza decrescente.
A composição mineralógica destas cinco amos-tras é similar à das amostras de xistos recolhidas nas imediações dos sítios arqueológicos do Monte da Pata 1 e do Castelo das Juntas, particularmente com este úl-timo. A mineralogia total (Tabela 7.5) apresenta como associação mineralógica predominante a seguinte: Quartzo > Filossilicatos >> Plagioclases ≥ Feldspatos K > Hematite (vestígios pontuais de calcite, dolomite, gesso/anidrite e goethite).
A fracção argilosa (Tabela 7.6) novamente evi-dencia a grande afinidade mineralógica entre os mate-riais de construção e os xistos existentes na imediação do sítio ( Juntas 2), com a seguinte associação minera-lógica: Ilite >> Caulinite > Clorite >> Esmectite.
Tendo em vista estimar a hipótese de cozedura dos materiais de construção, e respectivas temperaturas, procedeu-se a algumas experiências de aquecimentos das amostras, sujeitando-as a temperaturas crescentes de 600ºC, 800ºC e 1000ºC, observando as mudanças
Tabela 7.6 – Composição mineralógica (%) da fracção argilosa das amostras de xistos regionais e dos materiais de construção do Castelo das Juntas, determinada por difracção de raios-X.
de fase em cada um destes intervalos de temperatura. Com as experiências efectuadas presenciou-se a um decréscimo dos filossilicatos a partir dos 600ºC, que se torna mais acentuado a 800ºC. Aos 1000ºC assiste-se a um colapso do pico dos filossilicatos, acompanhado de um decréscimo dos feldspatos e o aparecimento de mulite.
Atendendo às associações mineralógicas predo-minantes na amostra total e na fracção < 2µm, e às mudanças de fase observadas às temperaturas de 600-800ºC e de 1000ºC, constata-se que os materiais de construção analisados do Castelo das Juntas não esti-veram sujeitos a temperaturas de cozedura suficientes para implicarem modificações significativas relativa-mente aos materiais de origem, o que se pode verificar pela mineralogia apresentada (Tabela 7.5 e Tabela 7.6) e pelas mudanças que se observam apenas após aqueci-mento a temperaturas relativamente elevadas.
Quartzo Filossilicatos Feldspatos Plagioclase Calcite Dolomite Gesso Hematite Goethite Potássicos Anidrite
Mt. Pata 4 65 15 5 10 0 0 vestígios 5 0
Mt. Pata 6 65 25 vestígios 10 0 0 0 0 0
Juntas 2 65 20 vestígios 5 0 0 vestígios 5 0
CJM-arg-1 55 25 5 10 0 0 0 5 vestígios
CJM-arg-2 60 25 vestígios 10 0 0 0 5 0
CJM-arg-3 45 30 5 10 0 0 0 10 vestígios
CJM-arg-4 50 30 5 5 vestígios vestígios 0 5 0
CJM-arg-5 50 25 10 10 0 0 0 5 0
Tabela 7.5 – Composição mineralógica (%) das amostras de xistos regionais e dos materiais de construção do Castelo das Juntas, determinada por difracção de raios-X.
Esmectite Clorite Ilite Caulinite
Mt. Pata 4 10 20 45 25
Mt. Pata 6 10 20 40 30
Juntas 2 5 10 60 25
CJM-arg-1 5 10 70 15
CJM-arg-2 5 10 75 10
CJM-arg-3 5 10 70 15
CJM-arg-4 vestígios 5 85 10
CJM-arg-5 vestígios vestígios 85 10
309
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
7.4.1.2. Análise estrutural
Em arquitectura, o estudo das organizações es-paciais é uma tarefa complexa, que envolve a discussão das características formais, relações espaciais e respos-tas contextuais de cada categoria (Ching, 1998:189). Em arqueologia, o contexto é parcialmente reconstruí-do mediante a análise dos artefactos e dos seus padrões de dispersão nos vários ambientes intervencionados, e pela interpretação dos sistemas de actividades e sis-temas de cenários construídos na prática dessas acti-vidades. Mas esta análise tem de ser articulada com a definição dos espaços construídos, do modo como se acomodam em organizações espaciais, dos tipos de relações que estabelecem entre si e com os ambientes externos, da forma como se configuram a entrada e o trajecto de circulação.
Foram escavados em extensão muito poucos po-
voados da Idade do Ferro, conhecendo-se raramente a totalidade da sua organização interna. Mesmo quando se definem os limites das unidades arquitectónicas ou de módulos de unidades arquitectónicas, nem sempre é possível determinar qual é o tipo de organização es-pacial em que se integram ou em que medida esta é representativa da estruturação global do habitat.
No caso do Monte do Judeu 6, Monte da Pata 1, Monte das Candeias 3, Serros Verdes 4 e Estrela 1, o problema coloca-se imediatamente no desconheci-mento da extensão da área ocupada, ao qual acresce a escassez de informação sobre as estruturas. A análise da cultura material estabeleceu genericamente contextos de ocupação de carácter doméstico para estes sítios, mas a análise dos elementos construtivos e da sua articulação não é elucidativa, em parte porque o faseamento da sua construção nem sempre é inequívoco, nem a simultanei-dade da sua utilização clara. Estruturalmente intrigante
Figura 7.5 – Planta geral e pormenor do sector norte (edifício 6) da sondagem 1
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
310
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
é a desproporção dimensional de alguns muros – como o muro 5 do Monte das Candeias 3 e o muro 1 do Mon-te da Pata 1 – em relação aos restantes, o que poderia sugerir representarem uma construção do espaço prévia à elevação das estruturas que lhes adossam. Refira-se, contudo, a ortogonalidade dos compartimentos.
O único ambiente aparentemente fechado deste conjunto é delimitado pelos muros 7 e 8 dos Serros Verdes 4. Este ambiente é adjacente a um comparti-mento, que parece desenvolver-se para sudoeste, mas do qual se adivinham apenas o canto norte e a possível entrada. Embora a planta elipsoidal deste ambiente possa sugerir que tenha tido uma funcionalidade di-ferente dos restantes espaços construídos, os materiais arqueológicos recolhidos no seu interior não apresen-tam diferenças significativas com o conjunto artefac-tual proveniente, por exemplo, do compartimento 1 (vide capítulo 4). Entre o compartimento 2 e o com-partimento 3/ ambiente fechado parece existir uma área exterior. A relação entre estes espaços construí-dos não é determinável, mas o seu distanciamento não permite integrá-los na mesma unidade arquitectónica.
Neste conjunto de sítios não fortificados, a di-ferença de orientação e o afastamento entre com-partimentos foram os principais critérios para a sua atribuição a edifícios distintos. Esta classificação é, ob-viamente, uma mera hipótese de trabalho. Apesar da sua segmentação, os dados do Castelo das Juntas per-mitem uma análise estrutural bastante mais consisten-te, embora com limitações que importa ter presentes. Por um lado, a parcialidade da informação disponível não permite avaliar a representatividade das estruturas identificadas, nem generalizar as suas configurações espaciais para a totalidade do povoado. Por outro lado, a dificuldade em recuperar as relações espaciais - e sua forma de organização - entre os diversos ambientes (construídos e não construídos), cujos limites se esten-dem geralmente para fora da área das sondagens, im-põe obstáculos à distinção entre espaços interiores (ha-bitacionais ou outros) e exteriores (áreas de circulação).
Por questões de ordem prática, nesta abordagem será seguida a compartimentação imposta pela esca-vação, tratando-se cada sondagem individualmente. A esta escala de análise, o desconhecimento da forma dos edifícios em altura (andares, sistemas de cobertura, sis-temas de acesso aos níveis superiores etc.) impõe res-trições à compreensão da organização arquitectónica. Contudo, a análise das organizações espaciais pode ser realizada ao nível das plantas.
Na sondagem 1 (Figura 7.5), foram identificados vários espaços construídos, integrados em diversos edi-
fícios (edifício 2 e 6). A organização espacial parece ser dominada, pelo menos numa primeira fase, pelo desenho da linha de muralha, dado que compartimentos 1 e 10 utilizam as estruturas de amuralhamento como parede de sustentação e de delimitação. A construção do com-partimento 8 e do ambiente definido pelos muros 20, 21 e 22 parece representar uma reorientação da organização espacial desta área, que passa a ser de nordeste-sudoeste, com a aparente substituição da cintura muralhada como princípio estruturador do espaço. Esta remodelação implicou a criação de novos espaços celulares e a re--elaboração dos sistemas de circulação. O exemplo mais claro é o compartimento 9, de planta triangular ou tra-pezoidal, resultante da construção do compartimento 8 e da consequente utilização – ou reutilização – de um espaço fisicamente recém delimitado entre este e o com-partimento 1. Quanto à elevação do torreão (edifício 12), junto à possível entrada do povoado, produziu certamen-te um impacto significativo na concepção espacial desta área, ao implicar a alteração dos elementos de circulação (acesso e entrada) do recinto, que saem visualmente re-forçados, e da formulação arquitectónica e hierárquica das construções.
A ausência de dados sobre as entradas, acessos e vias de circulação impede a diferenciação entre espaços internos e externos, a determinação da configuração exterior de cada organização espacial e da sua relação com o sistema defensivo, isto é, impede a construção de uma imagem integrada da estruturação do espaço de habitat ao longo do tempo de ocupação nesta zona do interior do recinto.
Também a sondagem 4 é estruturalmente mais complexa do que aparenta à primeira vista pois nela foi identificada, além das estruturas constituintes do com-partimento 6, uma série de construções que documen-tam reformulações significativas na organização espa-cial desta área do povoado ao longo do tempo, tanto no interior como no exterior do recinto amuralhado (Figura 7.6). De facto, os únicos elementos construti-vos localizados fora da linha de muralha são os muros 28 e 31. Refira-se ainda que as únicas estruturas de planta circular do Castelo das Juntas – os muros 28 e 34 - se localizam nesta sondagem.
Do compartimento 6, espaço ortogonal adjacente aos segmentos 3 e 4 da muralha, conhecem-se três das quatro paredes: a oeste, o muro 33 adossa directamente ao paramento interno da estrutura de fortificação; a este, encontra-se o muro 25; e o limite norte é definido muro 27. A designação de muro 27 foi atribuída a um conjunto de dois elementos construtivos – um alinha-mento pétreo e uma estrutura em materiais terrígenos
311
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
Figura 7.6 – Planta geral da sondagem 4 e pormenor das estruturas localizadas no interior (esquerda) e exterior (direita) do recinto
– adjacentes, cuja relação estrutural foi interpretada como tendo sido estabelecida como tal e não como o resultado da sobreposição de momentos de construção distintos. Refira-se que em todos os exemplos observa-dos (muros 27, 33 e 18, na sondagem 3) são as estrutu-ras terrígenas que adossam a socos pétreos, sugerindo uma estratégia arquitectónica específica. Por um lado, há que considerar a hipótese destes elementos cons-trutivos serem paredes que definem compartimentos adjacentes e se reforçam mutuamente; por outro lado, é possível que sejam unidades estruturais diferentes, os muros pétreos correspondendo aos embasamentos de paredes e os muros em terra a banquetas ou ban-cos. Neste caso, o compartimento 6 caracterizar-se-ia por uma estruturação interna complexa, composta por duas bancadas e uma lareira (central?). Também não será de excluir a hipótese da construção dos muros ter-rígenos representar um momento de remodelação da estruturação interna do compartimento, embora esta não corresponda a uma mudança da organização espa-
cial. A entrada poderá localizar-se a sul ou a este, fora da área de escavação.
A construção deste compartimento representa uma reformulação arquitectónica desta zona do po-voado, pois pressupõe a desactivação do edifício 9, uma estrutura circular com mais de 2m de diâmetro, sobre a qual assenta o pavimento 8 (Figura 7.6). Refira-se, po-rém, que esta mudança pode corresponder a uma alte-ração do uso do espaço e à reorganização dos sistemas de actividades no povoado. Ou seja, a forma circular do edifício 9, como aliás, do edifício 8, poderá estar re-lacionada com a funcionalidade específica destes am-bientes. O abandono do edifício 9, estratigraficamente documentado pela sobreposição do compartimento 6, resultaria, assim, da cessação das actividades que aí te-riam lugar, ou da sua transferência para outras áreas dentro ou fora do recinto muralhado. Neste contexto, não pode deixar de ser equacionada a hipótese de à construção do edifício 8, no exterior da muralha, não ser estranha a desactivação do edifício 9.
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
312
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
No exterior da linha de fortificação localiza-se ainda o muro 31. A separação destes dois elementos construtivos em dois edifícios, numerados individual-mente, resulta em grande medida da escassez de dados disponíveis e da aparente sub-circularidade do muro 28 (edifício 8). No entanto, é provável que tenham pertencido a uma mesma unidade estrutural.
A sondagem 2 apresenta o conjunto estrutural mais coerente do Castelo das Juntas, dada a homoge-neidade formal dos elementos construtivos que a com-põem e a relação de interdependência dos seus espaços (Figura 7.7). O edifício 3 representa uma organização aglomerada de espaços celulares (ortogonais) adjacen-tes, embora o compartimento 4 possa ter servido como
espaço comum de ligação entre os restantes comparti-mentos, conhecidos ou outros, que eventualmente se localizem a este. Várias características sugerem uma planificação prévia do empreendimento: em primeiro lugar, algumas estruturas delimitam mais do que um compartimento (muros 2, 3 e 39), sendo provável que o muro 39 corresponda a uma parede exterior do edi-fício, enquanto outras funcionam como ‘paredes meias’ entre compartimentos; em segundo lugar, os socos pé-treos foram construídos solidariamente, pressupondo terem sido construídos em simultâneo.
Problemática é a classificação dos muros 8 e 9 e sua integração no edifício 3, pois as suas características formais e os materiais e técnicas de construção utili-
Figura 7.7 – Planta e vista geral da sondagem 2
313
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
zados contrastam com a homogeneidade do conjunto. No que diz respeito ao muro 9, as suas grandes dimen-sões e estruturação pouco clara não permitem perceber se se trata de uma parede ou de um outro elemento construtivo. O cruzamento do muros 9 com o muro 8, que adossa a meio do paramento externo do muro 2, sugere a constituição de uma unidade arquitectónica individualizável, cuja morfologia, funcionalidade e ar-ticulação com o edifício 3 se desconhece, pois o espaço eventualmente definido por estas estruturas não foi re-cuperado em escavação. As diferenças formais obser-vadas e a localização periférica na organização espacial do edifício poderão sugerir, ou um faseamento cons-trutivo, com a elevação de um anexo num momento posterior à planificação do complexo arquitectónico, ou a construção de um espaço de um modo intencio-nalmente distinto.
Apesar da configuração externa do edifício 3 aparentemente não ter sofrido alterações significativas, há que colocar a hipótese de ter havido reformulações no seu interior. Não é de excluir a possibilidade de a formação da UE34 - uma possível estrutura em mate-riais terrígenos - resultar de um processo de remode-lação arquitectónica do compartimento 2. Todavia, os problemas de interpretação estratigráfica que esta uni-dade suscita (vide capítulo 4) impõem muitas reservas a este género de abordagem.
À semelhança da sondagem 2, na sondagem 3 não foram detectadas quaisquer estruturas defensivas. Apesar de terem sido identificadas estruturas de uma primeira fase de ocupação – o muro 18 -, a organização espacial da sondagem 3 é determinada pelo edifício 4, quer enquanto está em uso, quer quando, depois de desactivado, funciona como elemento estruturante na construção de novos espaços – o compartimento 11 (Figura 7.8).
O edifício 4 apresenta pelo menos três muros299, paralelos entre si, alinhados no sentido noroeste-su-deste, e separados por intervalos regulares – os mu-ros 10, 11 e 12 -. Exemplos deste tipo de complexo arquitectónico estão documentados na área geográfica compreendida entre o sul da Catalunha e La Mancha, em contextos cronológicos que abarcam todo o perío-do entre o Ibérico Antigo e a romanização (Pérez Jor-dà, 2000:47). As suas dimensões são variáveis, mesmo dentro de cada povoado, quando se conhece mais do que um complexo, e a sua configuração externa pode
299 Junto ao corte este da sondagem foi detectado o segmento de um quarto muro, mas é tão reduzido que a sua integração no edifício 4 suscita reservas.
ser aberta – como no caso do Castelo das Juntas – ou fechada, consoante os muros estejam ou não enqua-drados por uma parede exterior. O paralelo mais próxi-mo para o exemplar do Castelo das Juntas é o ‘edifício singular’ ou ‘armazém’ 3 de La Moleta del Remei (Pé-rez Jordà, 2000:49-50) (Figura 7.8), cuja construção foi datada de finais do século IV a.C. ou princípios do século III a.C., e integrada na primeira fase urba-nística daquele sítio. Refira-se, ainda, a existência de complexos arquitectónicos deste tipo na Extremadura espanhola (província de Badajoz), em sítios datados da Idade do Ferro ( Jiménez et Ortega, 2001).
As características arquitectónicas destes comple-xos estruturais distinguem-nos dos restantes edifícios, sugerindo uma funcionalidade diferente. Contudo, não se conhece a arquitectura destes edifícios para além da sua planta. Há que assinalar que os muros paralelos que articulam estes edifícios parecem concebidos para suster um soalho, e que o espaço de armazenagem seria um compartimento suspenso, sobreposto a uma zona de ventilação inferior ( Jiménez et Ortega, 2001:234). Esta morfologia é sugerida pela semelhança com sis-temas de armazenamento tradicionais em atmosfera renovada, comuns no Noroeste da Península Ibérica e adapta-se à descrição feita por alguns agrónomos da Antiguidade (Palladius I, XIX, 1 in Jiménez et Orte-ga, 2001:234), justificando, por isso, a denominação de celeiros que se lhes aplica. Em que consistiriam os produtos armazenados é ainda uma incógnita, embora a presença de agulhas de osso e punções de bronze no interior do ‘armazém’ 2 de La Moleta del Remei tenha levado alguns autores a sugerir a acomodação de ce-reais em sacas (Belarte Franco, 1997: 199-200; Pérez Jordà, 2000:51). Pode ainda colocar-se a hipótese de se armazenarem nestes edifícios outros produtos, acon-dicionados em contentores cerâmicos. Esta utilização poderia explicar, pelo menos em parte, os recipientes cerâmicos, quebrados in situ, nos depósitos de abando-no do edifício 4 (vide capítulo 4).
Tal como foi discutido anteriormente (vide ca-pítulo 4), a desactivação do edifício 4 parece ter pre-cedido a construção de um conjunto de estruturas, que adossam aos seus socos pétreos, definindo espaços cujas dimensões e relações não são perceptíveis. As-sim, o edifício 5 poderá representar um palimpsesto de elementos construtivos que, mais do que pertencerem a uma única unidade estrutural, constituam os limites
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
314
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 7.8 – Planta e vista geral da sondagem 3 e, à direita, planta dos “edifícios singulares” de Moleta del Remei (Pérez Jordà, 2000)
315
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
visíveis de compartimentos que se desenvolvem para este e para oeste, respectivamente, fora da área inter-vencionada. Estes delimitam também um espaço orto-gonal que se prolonga para sul e ao qual se acede pelo menos pelo corredor formado pelos muros 10 e 11. Assim, a sobrevivência dos embasamentos do Edifício 4 parece ter condicionado a organização espacial desta zona do povoado ao longo do tempo, mesmo quando se procedeu a uma possível re-construção do uso do espaço através da prática de outras actividades. Este facto reforça a necessidade de considerar os processos de reformulação arquitectónica no contexto de re-ela-borações de cenários e sistemas de cenários nos quais e através dos quais os sistemas de actividades se orga-nizam no espaço e no tempo (Rapoport, 1969; 1990).
A uma escala de análise mais ampla, o povoado constitui uma organização espacial em si mesmo. Con-trariamente aos sítios de menores dimensões, o Caste-lo das Juntas foi elaborado dentro de um espaço fisi-camente definido por uma cintura de muralha e pela topografia do cabeço onde está implantado, delimita-do a este por uma vertente escarpada (Figura 7.12). A fortificação impõe-se como elemento delimitador do espaço de habitat, assumindo o papel estruturante na organização interna do povoado. Nas áreas inter-vencionadas junto à linha de muralha (sondagens 1 e 4), alguns compartimentos parecem organizar-se li-nearmente, ao longo da estrutura de amuralhamento à qual adossam. Embora em nenhum caso tenham sido detectadas entradas, é provável que estas se encontras-sem viradas para o centro do povoado, à semelhança do que sucede frequentemente nos sítios fortificados em altura desta época (Bonet et Pastor, 1984; Belarte Franco, 1997). Contudo, as sondagens intervenciona-das revelaram complexos arquitectónicos com caracte-rísticas particulares e organizações espaciais distintas – o edifício habitacional da sondagem 2 e o edifício de armazenagem da sondagem 3 -, impedindo a ex-trapolação dos dados obtidos para a totalidade da área de ocupação.
7.4.2. O sistema de fortificação do Castelodas Juntas
A individualização das estruturas de amuralha-mento na análise da arquitectura do Castelo das Jun-tas deve-se essencialmente a razões de ordem prática. Não se verifica uma diferença significativa em relação à arquitectura doméstica, no que respeita às técnicas e materiais de construção, mas a abordagem das suas características estruturais suscita questões específicas.
Do ponto de vista arquitectónico, o estudo das fortificações pré e proto-históricas construídas em terra debate-se com limitações graves. Em primeiro lugar, apesar da robustez dos vestígios detectados, es-tes correspondem quase exclusivamente ao segmento mais resistente das construções, isto é, à sua base pé-trea, cuja altura conservada nem sempre corresponde à dimensão real. Esta limitação do registo arqueológico reproduz-se na generalidade dos exemplos susceptíveis de fornecerem informações complementares para a re-constituição do sistema de amuralhamento do Castelo das Juntas. Em segundo lugar, os dados disponíveis para grande parte dos povoados são muito segmenta-res, à semelhança do que sucede no caso em estudo. De facto, aqui foram escavados apenas quatro segmentos de uma linha de muralha, dois dos quais separados por uma entrada, e uma estrutura de reforço – o torreão 1.
A análise formal dos elementos construtivos da fortificação permite algumas observações. Em primei-ro lugar, regista-se a ausência de fundações, situação particularmente frequente nas fortificações ibéricas da Idade do Ferro, onde não se verifica qualquer preo-cupação com a regularização do solo de assentamento (Moret, 1996:77-78), que, no caso dos cabeços ro-chosos em que o afloramento se encontra à superfície, parece ser substituída pela adaptação das estruturas à topografia do terreno. É neste contexto que se deve compreender a construção de uma base dita avançada ou contínua como elemento de estabilização do seg-mento de muralha 1, solução arquitectónica frequente noutras fortificações peninsulares ao longo dos séculos VI ao II a.C. (Moret, 1996:78). Esta base foi construí-da solidariamente com o corpo da muralha, recorren-do-se a lajes paralelepipédicas que atingem dimensões pouco comuns no povoado.
Em segundo lugar, os socos dos quatro segmen-tos de muralha e do torreão correspondem a constru-ções maciças, nas quais não se distinguem paramentos, embora o processo construtivo subjacente à elevação do torreão apresente características diferentes. A mu-ralha apresenta um embasamento inteiramente ergui-do em pedra, em que a terra desempenha o papel de material de ligação, assegurando o encaixe entre as la-jes de xisto de dimensões variáveis, dispostas deitadas em fiadas irregulares, onde o encaixe dos elementos é feito pela alternância do sentido das pedras. O seg-mento de muralha 1 é o único a apresentar vestígios de revestimento, em terra, no paramento interno.
Entre os dois troços de muralha da sondagem 4 observa-se uma verdadeira ruptura estrutural, cuja origem e natureza não são evidentes. Corresponde a
um interface muito nítido entre o segmento 3 e uma “unidade estrutural”, que se confunde com o segmen-to 4, caracterizada por um aglomerado aparentemente caótico de lajes de xisto e por uma concentração pouco comum de blocos de quartzo, alguns deles afeiçoados (Figura 7.9). A sua formação pode resultar tanto do entaipamento de uma entrada no povoado, desactivada numa fase indeterminada da ocupação do sítio, como da reparação de muralha após uma derrocada episódi-ca ou segmentar da estrutura.
A diversidade formal (dimensões, técnicas e ma-teriais de construção) entre diferentes troços de mu-ralha, quer ao nível dos embasamentos pétreos, quer dos segmentos superiores (vide infra), deve ser com-preendida no âmbito da própria história de vida a es-trutura. Esta inclui múltiplos episódios de reparação, remodelação (com a construção, abandono ou refor-
Figura 7.9 – Em cima: paramento externo (a.) e interno (b.) do segmento da muralha. Em baixo: paramento externo dos segmentos 3 e 4 (esquerda) e paramento interno do segmento 1 (direita)
ço diferencial de determinados sectores ao longo do tempo), e reorganização estrutural (com abertura ou encerramento de entradas), que obedecem a necessida-des, objectivos e princípios orientadores que variar ao longo do tempo. Esta dinâmica confere às estruturas de amuralhamento, como a qualquer outro edifício de maior longevidade, uma imagem arquitectonicamente heterogénea e complexa.
No Castelo das Juntas escavou-se apenas mais um edifício enquadrável no sistema de fortificação do sítio – o torreão 1 -, de grandes dimensões e planta rectilínea irregular, quase trapezoidal, da qual se con-serva a base maciça, cujas características sugerem a uti-lização de uma técnica de construção monolítica, em que a terra constitui o material estruturante (Figura 7.10). Apesar de se sustentar sobre uma base maciça, o torreão poderá não se enquadrar na categoria das
317
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
torres maciças (Moret, 1996:104), visto desconhecer--se a forma como se elevava em altura. A ausência de derrubes que possam ser associados ao seu processo de ruína permite sugerir, por um lado, que o nível de embasamento conservado corresponda à altura real da base do edifício e, por outro, que este se erguesse em materiais perecíveis, que não tenham deixado vestígios no registo arqueológico devido à ausência de um nível de incêndio e ao elevado grau de acidez dos solos xis-tosos. Por outro lado, a assimetria da planta e o desco-nhecimento do impacto de destruições e acrescentos ao traçado inicial impedem uma análise fundamentada dos processos construtivos. De resto, pouco se sabe so-bre a arquitectura das estruturas de reforço das for-tificações. As tentativas de reconstituição em altura fundamentam-se no princípio de que para estas cons-truções se ergueriam, pelo menos, até ao nível do topo de muralha, dada a sua a sua função de posto de vigia, prevendo-se que integrassem mais do que um andar.
Quanto aos segmentos superiores da muralha, não se registaram vestígios das técnicas de construção
utilizadas para a sua elevação. A observação dos derru-bes associados aos quatro segmentos de muralha apon-tam para o recurso sistemático a materiais terrígenos, com características variáveis.
O dado mais surpreendente no contexto das técnicas de construção das estruturas defensivas foi a identificação, entre os derrubes internos do segmento de muralha 2, de adobes rectangulares de terra argilosa cinzenta, já muito desfeitos, tendo sido possível recu-perar a forma de apenas um exemplar (Figura 7.11). Os exemplos de elementos de fortificação construídos em adobe são muito raros. Embora os casos mais an-tigos possam remontar regionalmente ao Calcolíti-co (Monte da Tumba) e encontrem continuação nos sistemas defensivos da Idade do Bronze e do Ferro, fora da área de influência orientalizante (como Soto de Medinilla, na Meseta, e Cortes de Navarra e Sor-bán, no vale do Ebro), os exemplos incontestáveis de fortificações de adobes em áreas “indígenas” não parece ultrapassar uma dezena300. A raridade dos vestígios de utilização destes materiais de construção em sistemas
Figura 7.10 – Planta e alçado este do Torreão
300 Moret enumera sete sítios ibéricos para os quais a utilização de adobes na edificação do sistema defensivo está arqueologicamente comprovada: Le Cayla III, Lílla d’en Reixae, Els Vilars I, El Cerro de las Balsas, El Oral, Santa Pola e Puente Tablas 2 e 3 (Moret, 1996:73). A estes cabe acrescentar a ‘reparação’ do paramento ocidental da muralha de Illa d’en Reixac (Belarte Franco, 1997:84-86).
de amuralhamento na Península Ibérica, mesmo para contextos e períodos em que a arquitectura doméstica documenta a prática desta técnica, deve-se provavel-mente à fragilidade dos materiais e à dificuldade em identificar com segurança a sua presença nos derrubes (Moret, 1996:73-74). A ausência de estudos sistemáti-cos sobre os aparelhos das estruturas defensivas deverá ser igualmente responsável pelas lacunas documentais.
Os dados disponíveis para a articulação destes elementos construtivos num sistema de fortificação coerente, apesar de escassos, permitem sustentar algu-mas hipóteses de reconstituição das estruturas.
Da fortificação do Castelo das Juntas conhe-cem-se uma linha de muralha, interrompida por uma entrada, e reforçada por três edifícios de tipo torre301, localizados em pontos estratégicos do povoado (Figu-ra 7.12). Duas das torres – que não foram objecto de intervenção arqueológica por se encontrarem acima do nível de afectação do regolfo da barragem – destacam--se na paisagem: uma está implantada no local de maior controlo visual da área envolvente, dominando o curso de água mais próximo; a outra encontra-se na in-tercepção de dois segmentos de muralha de orientação convergente, na poucos metros da sondagem 4. Porque foram identificadas apenas pela topografia do terreno e por vestígios de superfície, desconhece-se a sua di-mensão, morfologia e relação espacial com a muralha. Quanto à terceira torre – torreão 1 -, localizada na ver-tente mais suave do cabeço, constitui um dos limites da entrada do povoado. As torres pressupõem, ainda, um sistema de acesso à muralha, mesmo que esta não pos-
Figura 7.11 – Adobe no derrube interno do segmento de muralha 1
sua um verdadeiro caminho de ronda, sendo também provável a existência de um elemento de ligação entre o nível de circulação do povoado e o edifício. Embo-ra a relação espacial directa do torreão com a muralha esteja arqueologicamente documentada, pois adossa ao paramento interno do segmento 1, não se registam vestígios de um possível sistema de circulação entre os dois edifícios.
O acesso à muralha podia ser realizado através da torre ou directamente a partir do solo, mediante esca-das, existindo exemplos de ambas as soluções arquitec-tónicas em fortificações ibéricas desta época (Moret, 1996:98). Por exemplo, em Ullastret, na primeira fase, foram construídas escadas em caracol no interior das torres, conduzindo simultaneamente ao andar superior do edifício e ao caminho de ronda; posteriormente, estas foram substituídas por escadas exteriores, ados-sadas à muralha. Já em San António, o acesso à torre parece ter sido feito exclusivamente a partir do cami-nho de ronda ou do topo das casas vizinhas (Moret, 1996:98). No Castelo das Juntas, a impossibilidade de reconstituir os edifícios habitacionais em altura e os seus sistemas de cobertura, não permite estabelecer a relação estrutural entre estes e os segmentos superiores das estruturas de amuralhamento.
A linha de muralha define para o povoado uma planta sub-rectangular, de orientação norte-sul. Ape-nas se identificou com segurança uma entrada. Pela sua localização na vertente mais suave do cabeço, é possível que tenha funcionado, nalgum momento, como porta principal do recinto. Refira-se que a sua construção parece ter implicado a selecção de materiais de cons-trução intencionalmente diferentes dos que foram uti-lizados nas restantes estruturas do povoado. De facto, a entrada encontra-se delimitada por alinhamentos de blocos de quartzo leitoso, criando um efeito visual em que a abertura no pano de muralha se destaca na pai-sagem a quem se aproxima do exterior (Figura 7.13).
Estruturalmente, a entrada parece ter sofrido vá-rias remodelações. Inicialmente concebida como en-trada directa, sofreu depois um estrangulamento sig-nificativo, acompanhado pela construção do torreão, o que lhe conferiu uma forma em cotovelo e, posterior-mente, de duplo cotovelo. Este processo arquitectónico não pode ser explicado como acontecimento – ou con-junto de acontecimentos - autónomo da dinâmica in-terna do povoado. Embora a sua relação estratigráfica
301 A torre define-se como uma estrutura independente da muralha, geralmente saliente para o exterior, que se eleva acima dela (Moret, 1996:104) e que desempenha simultaneamente funções arquitectónicas (de reforço estrutural da fortificação) e funções militares (de observação/vigilância).
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
318
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 7.12 – O sistema de fortificação do Castelo das Juntas
e espacial com o torreão permita colocar a hipótese de responder à preocupação ou à necessidade de reforço defensivo, a formação de um grande depósito de lixeira no seu interior impõe que se considere a sua desac-tivação - temporária ou permanente - enquanto ele-mento de circulação, numa fase em o torreão já estava construído. A mudança do uso deste espaço é, pois, um elemento fundamental para a compreensão da orga-nização do habitat, embora o seu alcance só possa ser avaliado se os diversos ambientes, construídos e não construídos, forem entendidos na sua interdependên-cia, isto é, como uma rede ou sistema.
Dada a reduzida área intervencionada, perma-nece desconhecido o número total de elementos de circulação (acessos, entradas e vias), o seu sistema de hierarquia e, consequentemente, o modo como esta estrutura a organização espacial do habitat ao longo dos vários momentos da sua vida. Este facto tem re-percussões importantes quando se pretende abordar o
funcionamento dos sistemas de actividades humanas nos sistemas de cenários, cuja estruturação arquitectó-nica tem vindo a ser discutida.
7.4.3. O uso do espaço no Castelo das Juntas
Perante os resultados da análise formal e estru-tural dos vestígios arquitectónicos identificados nos Castelo das Juntas, impõe-se uma tentativa de análise do uso do espaço. Para tal, é fundamental ter presentes não só os vários aspectos das actividades humanas, mas também a natureza da relação entre actividade e arqui-tectura (ou ambiente construído) (vide supra).
Numa visão de conjunto, várias observações con-correm para a ideia de um abandono programado do povoado: a escassez relativa de materiais arqueológi-cos, o elevado grau de fragmentação da maioria dos fragmentos cerâmicos, a raridade de recipientes que-brados in situ, a representatividade dos materiais pro-
319
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
320
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
venientes de contextos de lixeira, a ausência de níveis de incêndio (se bem que a acidez destes solos possa ter desempenhado uma papel importante no desapareci-mento de vestígios de matéria orgânica). Esta situação tem consequências importantes para a compreensão das funcionalidades dos ambientes construídos, pois implica a remoção intencional de uma parte signifi-cativa dos elementos estruturais que Rapoport classi-fica de semi-fixos (Rapoport, 1990:13). Em contextos culturais em que a natureza da actividade parece ter pouco impacto na forma arquitectónica – isto é, no de-sign do espaço construído -, a análise dos “mobiliários” reveste-se de primordial importância. Com excepção de alguns edifícios de morfologia particular – como os “armazéns” discutidos acima -, os ambientes cons-truídos correspondem maioritariamente a comparti-mentos de planta ortogonal, nos quais nem sempre se detectam elementos de estruturação interna. Mas esta ‘não especialização’ formal da arquitectura não reflecte necessariamente outro tipo de regularidades – no uso do espaço -, nem estabelece o lugar de cada espaço na rede de “cenários”, na qual, e mediante a qual, as pes-soas realizam as suas tarefas individuais e colectivas.
O desconhecimento da estruturação do espaço de habitat, dada a reduzida e esparsa área escavada, re-sulta na impossibilidade de recuperar os limites e ex-tensão dos sistemas de cenários nos quais se praticam as actividades, com consequentes implicações para a
Figura 7.13 – Entradado povoado, vista
do exterior
compreensão dos sistemas de actividades que organi-zam – espacialmente - o povoado. Apesar de a barreira física constituída pela muralha definir uma fronteira, pelo menos durante um período da vida da povoação, a presença de construções no seu exterior impõe que se considerem outros cenários de actuação, que têm de ser entendidos na sua articulação com os restantes. Por outro lado, a manutenção dessa configuração externa não implica que se perpetue a mesma organização no interior do recinto. A ocupação do habitat é um pro-cesso activo e dinâmico, que compreende estratégias de expansão e abandono do espaço, a uma escala intra--sítio. De facto, “abandonment of structures or activity areas is a constant process in many settlements” (Ca-meron, 1993:5). Este abandono pode ser parcial, tem-porário ou permanente, planeado ou não, mas é sempre produto da reorganização dos sistemas de actividades.
A dificuldade em abordar esta dinâmica interna de ocupação do Castelo das Juntas resulta da desarti-culação da informação disponível para as várias sonda-gens. Mas podem apresentar-se algumas observações relevantes sobre o uso do espaço com base no cruza-mento dos dados estruturais com a dispersão dos dife-rentes conjuntos artefactuais. Refira-se, antes de mais, que o estudo dos materiais arqueológicos (vide capítu-lo 4) não permitiu estabelecer uma diacronia para os contextos de utilização das construções detectadas nas quatro zonas intervencionadas (Figura 7.12), datados
321
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
do século II-I a.C., assumindo-se consequentemente a possível simultaneidade do seu uso. Contudo, como já foi discutido previamente, em cada área escavada podem diferenciar-se organizações espaciais distintas (sondagem 1, 3 e 4), que, no caso da sondagem 4, se sobrepõem.
A área habitacional do Castelo das Juntas pare-ce localizar-se em, pelo menos, duas zonas: ao longo do quadrante noroeste da muralha (sondagem 1 e 4) e a meia vertente (sondagem 2), sensivelmente centra-da com o eixo longitudinal do recinto. A semelhança categórica (entenda-se, de categoria) do “mobiliário” identificado no interior das várias habitações e seus espaços adjacentes (vide capítulo 4 e 6) documenta a prática de um amplo conjunto de actividades domés-ticas – fiação, preparação e consumo de alimentos, pequena armazenagem -, sem que se diferenciem am-bientes de uso específico. Os espaços abertos são tão importantes na construção dos sistemas de actividades quanto os compartimentos. Em contexto doméstico, estes espaços são concebidos em função da proximida-de da habitação, visto que uma parte significativa das tarefas, individuais ou colectivas, seria realizada no seu entorno exterior imediato. Este facto poderá explicar, por exemplo, a ausência de lareiras no interior de quase todos os compartimentos, que poderiam ser substituí-das por fogueiras exteriores.
As unidades arquitectónicas habitacionais não podem ser assumidas nem como unidades produtivas independentes (Lane, 1994:207), nem numa relação constante e directa com um único grupo humano (Ra-poport, 1990:18), a maioria das vezes entendido como família nuclear, como se assume explícita ou implici-tamente na maioria das abordagens arqueológicas ao espaço construído. Membros de diferentes células ha-bitacionais, dispersas pelo povoado, podem cooperar em tarefas quotidianas de produção e consumo, (re)construindo nestas práticas as inter-relações sociais vi-gentes, sejam quais forem os princípios (de parentesco ou outros) que o justificam.
À escala do povoado há ainda que considerar as actividades de participação colectiva – o que não signi-fica equitativa ou comunitária – e a sua espacialização. No Castelo das Juntas, a única estrutura arquitectóni-ca à qual é possível atribuir uma utilização colectiva é o “armazém” (sondagem 3). Entenda-se colectivo não como sinónimo de comunitário, mas sim enquanto passível de ter sido utilizado por um grande número de pessoas (o que, aliás, é indiciado pela sua grande dimensão), independentemente do tipo de relações so-ciais subjacente a essa mesma utilização. Construído
no cimo do cabeço, com uma implantação topogra-ficamente destacada no interior do recinto, o edifício 4 enquadra arquitectonicamente um outro cenário de actuação – ou cenários, se se tiver presente a transfor-mação que a construção das estruturas posteriores ma-terializa. A conservação do edifício 4 na fase em que o “edifício 5” foi erguido, e a sua integração na nova organização espacial não significa nem a continuação da utilização daquela estrutura, nem a manutenção do mesmo uso (armazenagem). Com a remodelação ar-quitectónica, podem ter passado a ser praticadas outras actividades neste espaço, as quais implicam necessaria-mente a criação de um novo cenário, mesmo que este aproveite os limites físicos do anterior.
A escassez de elementos estruturais fixos e semi--fixos desta fase e a sua difícil caracterização formal e estrutural tornam problemática a identificação da(s) actividades(s) realizadas neste espaço. Destaque-se, porém, a relativa abundância de escória de ferro (qua-se 3 kg) nos depósitos de abandono da sondagem 3, que contrasta com a sua presença pontual nas restantes sondagens, inclusivamente nos contextos de lixeira da sondagem 1. A aparente ausência de padrões de dis-persão da escória, embora mais abundante nas UE119 e 86, não permite associá-la a nenhum espaço de acti-vidade específico (vide capítulo 4).
Uma das questões que fica em aberto é a arti-culação espacial entre os sistemas de cenários e, con-sequentemente, dos sistemas de actividades. O des-conhecimento do modo de movimentação através do espaço - ou seja, do número e localização das entradas, do traçado das vias de circulação internas, da relação via/espaços construídos -, e das alterações desse mes-mo modo de circulação ao longo da vida do povoado, impostas pelo encerramento ou abertura de entradas e pelo abandono ou construção de estruturas, impõe as maiores reservas a esta abordagem. Considere-se ainda que o interior do recinto muralhado pode representar apenas um dos sistemas de cenários definidos à escala do povoado, pois aparentemente procedeu-se à incor-poração de espaços exteriores adjacentes à cintura de muralha (sondagem 4) em determinados momentos.
Os elementos conhecidos são explicitamente insuficientes para sustentar inferências quanto a um possível padrão “urbanístico”, pois tais inferências na assunção - abusiva - de que o espaço seria ocupado de modo uniforme e estruturado por princípios axiais. A reduzida área intervencionada (cerca de 4% da área total do recinto interno do povoado) permite prever a existência de um número significativo de estruturas arquitectónicas não escavadas, que, pelas suas caracte-
CONSTRUIR SÍTIOS DE HABITAT NA IDADE DO FERRO NA MARGEM ESQUERDADO GUADIANA: ARQUITECTURA, ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E USO DO ESPAÇO
322
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
rísticas estruturais e natureza da sua utilização, podem fazer alterar profundamente a imagem passível de ser construída à luz dos dados empíricos - e dos enquadra-mentos teóricos- actuais.
7.5. Considerações finais: do espaçode habitat para o território
Apesar de as lacunas do registo arqueológico e da conservação diferenciada dos sítios dificultarem uma análise comparativa da informação, a estruturação do espaço de habitat revela que as diferenças entre os po-voados da margem esquerda do Guadiana estudados são importantes. Mesmo que formalmente os peque-nos sítios de habitat não se distingam do Castelo das Juntas – não apresentem variabilidade tecnológica que sustente uma diferenciação formal -, foram à partida construídos, isto é, concebidos, elaborados e usados de modo diferente.
O Castelo das Juntas só pode ser entendido quan-do todos os seus elementos estruturais – estruturas do-mésticas e sistema defensivo - são pensados como um todo articulado e interdependente. A fortificação im-põe-se não só como delimitador físico do espaço a habi-tar, condicionando a própria arquitectura doméstica e as suas opções construtivas, mas também como elemento que determina e reproduz ideias de pertença (oposição interior/ exterior) e de relação com o outro.
O povoado representa apenas um dos lugares de actuação e referência da colectividade que o habitava, pois esta constrói sistemas de cenários a várias esca-las, a mais vasta das quais é a paisagem. É pois im-portante considerar o seu lugar no território, do qual faz parte activa. Território é aqui entendido enquanto categorização de uma determinada estrutura espacial, que é elemento constituinte das relações sociais e não
algo exterior a elas (Valera, 2000:114-115). Coloca--se, assim, a questão do eventual papel do Castelo das Juntas como elemento estruturante do povoamento na área em estudo. Sublinhe-se, porém, que a delimitação desta área de investigação é puramente artificial, o que impõe condicionantes à abordagem actual da constru-ção da paisagem na Idade do Ferro.
Com base nos resultados da abordagem da ar-quitectura, organização espacial e uso do espaço aqui desenvolvida para o Castelo das Juntas, não se pode sugerir que corresponda ao centro político e adminis-trativo de um território hierarquizado, visto que não se documentam ‘espaços de poder’ ou organizações inter-nas passíveis de ser explicada em termos de diferen-ciação de status. Sublinhe-se, porém, que o sítio quase não foi escavado e esta ausência poderá ser circunstan-cial. Na área intervencionada apenas se detectou um edifício de provável uso colectivo. No entanto, é preci-so considerar o sistema de fortificação, cuja construção e manutenção exigiram a mobilização da colectividade para a execução do projecto, constituindo um meio activo de (re)produção das relações sociais (de poder) que caracterizaram aquela sociedade.
Por fim, cabe chamar a atenção para o facto de, além de a ocupação da Idade do Ferro desta região ser ainda mal conhecida (o que, espera-se, mudará com a publicação dos resultados das intervenções no Alqueva), os limites da área de estudo não devem ser confundidos com as fronteiras dos territórios que ca-racterizariam esta época. É fundamental ter presente que o processo específico de construção dos territórios por estas colectividades, ao qual terá correspondido uma configuração espacial particular - determinada pela categorização do que integra e do que é exterior ao seu espaço de actuação -, não é recuperável geo-graficamente.
8. A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA: PARTICULARIZAÇÃO
DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
325
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
8. A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA: PARTICULARIZAÇÃODE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICASamuel Melro
Ao longo dos nossos textos fomos integrando os nossos dados no conceito geográfico do Sudoes-te Peninsular. A esta acepção geográfica é quase au-tomático, para a segunda metade do I milénio a.C., uma outra acepção de contornos étnicos referente a uma “área céltica” ou a “povos célticos” e, particular-mente na margem esquerda do Guadiana, para a sua identificação com a “Baeturia Celticorum” das fontes clássicas.
Carlos Fabião, em “O Mundo Indígena e a sua Romanização na área céltica do território hoje por-tuguês” (1998), adopta a acepção iminentemente geográfica de Estrabão “quando alude ao território entre o Tejo e o Guadiana (III. 1.6)” (Fabião, 1998, vol.1:12). Como tal particulariza aí a sua área de abor-dagem (embora sem perder de vista outras “unidades de paisagem”) e embora não conceda particular ênfase à margem esquerda do Guadiana, reconhece à Beturia ”uma singularidade própria circunscrita aos limites se-tentrionais da Turdetânia” (id., ibid.).
Já anteriormente coubera a Luis Berrocal--Rangel o pioneiro ensaio sobre “Os Povos Célticos do Sudoeste” (1992), assumindo para o Sudoeste uma perspectiva étnica que abarcaria a Beturia Céltica, na margem esquerda Portuguesa e Espanhola do Gua-diana à volta da bacia do Ardila. A sua abordagem ao território do Sudoeste considera assim um “mundo, que claramente por âmbito geográfico e exponentes mentais e simbólicos, responde aos povos chamados “célticos” pelas fontes escritas greco-latinas, demons-trando um contexto cultural homogéneo nas bacias do Sado e inferior do Guadiana, desde a divisória do Tejo ao limite setentrional das terras algarvias e andaluzas” (ib., Berrocal Rangel,1992:278).
A lata acepção do Sudoeste é hoje aceite num contexto de unidade, mormente perceptível pela sua cultura material, modelos de povoamento e atestadas relações entre as suas diversas áreas. Esta unidade é passível de se resumir a um corpo só, que responde a um similar conjunto de estímulos, gerados interna ou externamente, mas que reage de forma particularizada em cada um dos seus membros. Estes, ainda que liga-dos entre si, determinam diferentes ritmos no espaço e no tempo ao longo da Idade do Ferro. Essa amplitude acentua-se ao longo do I milénio a.C., pelo que para entende-la, mais do que nunca é necessário procurar
compreender as matizes locais e regionais de cada área em particular.
Este interior, sob o qual emergiu o Alqueva, é efectivamente particularizável. E procurando afinar a nossa escala de análise, não somente a área geral desig-nada pelas fontes escritas como a Beturia Céltica, mas em concreto os seus limites ocidentais: “nos limites do Baixo Alentejo, seu extremo meridional “acidentado” tornado prolongamento ocidental da Beturia Céltica“ (Fabião, 1998:69).
Berrocal-Rangel, principal responsável pela va-lorização desta região na investigação arqueológica, resume-a como “um território claramente definido en-tre o Guadiana e o Guadalquivir, articulado em torno da bacia do Ardila, afluente do primeiro destes rios, e reconhecida pelos seus oppida de nomes célticos” (Id. Berrocal Rangel,1994:194). A sua oposição com a Be-turia Turdula, do Vale do Guadalquivir, resulta mais fá-cil de entender, embora entre as Fontes, nomeadamen-te Estrabão, sejam apontadas relações de parentesco/proximidade (Geog., III, 2, 15, cit. in Berrocal-Rangel, 1992:34), que poderiam explicar as alianças das chama-das Guerras Lusitanas (Fabião,1998: 65). Mas o mes-mo não se passa quanto à demarcação da restante área céltica a ocidente, isto é, sobre a nossa área de estudo definida na desembocadura do Ardila no vale do Gua-diana. Esta confina ou interpenetra-se com as zonas cé-lticas do Alentejo, próxima das zonas mais meridionais dos denominados lusitanos, uma componente muitas vezes desvalorizada (Fabião, 1998:69).
Esta dificuldade poderá ser entendida não tanto perante qualquer inexactidão das fontes na delimitação física do conceito romano da Beturia Céltica, mas pelo facto da região na desembocadura do Ardila e do Alcar-rache no Guadiana se constituir já antes como uma área com características próprias, disposta entre o universo Túrdulo / Turdetano, Céltico e Lusitano / Vetão, numa posição de maior abertura eventualmente distinta das áreas mais interiores do território da Beturia Céltica.
Desde logo, na distribuição dos oppida referidos por Plinio, foi apontada para a nossa área de estudo a problemática em torno de Arucci, com a sua possí-vel localização na área de Moura. Para Fragoso Lima, a partir de uma inscrição depositada em Moura, de homenagem a Júlia Agripina pela N(ova) CIVITAS ARUCCITANA, que corresponderia à referida por
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
326
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Figura 8.1 – Sítios da Idade do Ferro
na margem esquerda do Guadiana
Hubner no CIL e que García Iglesias situa em Aro-che (Huelva) (Berrocal-Rangel, 1992:), é proposta a existência de duas Arucci, Vetus e Nova, para Aroche e Moura, respectivamente. Porém, na revisão desta epí-grafe por José d’Encarnação, este aponta para que o N da terceira linha seja interpretado como N(epoti) e não como N(ova). Jorge de Alarcão, com base na localiza-
ção do achado em Aroche e face a esta releitura, exclui a hipótese de existirem duas Arucci, devendo a única Arucci situar-se em Aroche.
Berrocal-Rangel coloca deste modo os oppida da beturia céltica ao longo da bacia inferior e média do Ardila, o que não sendo contrariado pela eventual lo-calização de uma possível Nova Civitas Arucitana em
327
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
volta de Barrancos / Aroche ou mesma de Turobriga nessa área, excluiria nessa distribuição pliniana a em-bocadura do Ardila no Guadiana (Id. Berrocal Rangel, 1994:192,199).
Para lá desta distinção, o que será de realçar é o facto desta região nos parecer constituir um ponto de articulação de distintas unidades de paisagem, de importantes cursos fluviais, de serras e planícies. Neste processo de confluências, sob uma identidade comum céltica, “uma personalidade cultural específica entre os povos pré-romanos alentejano-estremenhos” (Id. Ber-rocal Rangel,1992:281) cruzar-se-ia, na tradição do já então observado na região em meados do I milénio, igualmente um círculo mediterrânico e turdetano a par de uma crescente relação com o círculo lusitano-vetão.
Sendo como tal, mais fácil observar a dinâmica aberta e de confluências desta região, torna-se por ou-tro lado mais difícil precisar a sua dinâmica fechada e congregadora de um território, e mais ainda defini-lo.
A abordagem específica possibilitada pela ocor-rência concentrada da nossa amostra numa área em concreto a sul do Alcarrache, mais acima limitada pelo Guadiana e não se distendendo para lá do Ardila, permitiu-nos a apresentação de um esquema de po-voamento a uma escala micro-regional, ou eminente-mente local, nos derradeiros séculos do I milénio a.C.. Já a descontextualização dos outros dados conhecidos nessa mesma área, ou nas áreas meridionais do Ardila, sobretudo aqueles que respeitam as etapas mais recua-das da Idade do Ferro, não autorizam que a colagem aos mesmos seja mais do que incipiente.
Apontados os factores de povoamento como re-sultando da conjugação das pautas de carácter natural e produtivo (relacionados com os recursos agropecuários e mineiros em seu torno), com as pautas estratégicas
do ponto de vista do controle e localização das rotas e caminhos (observáveis como factores defensivos e co-merciais), reincidimos em parte na tradicional potencia-lização mineira da região como chave de entendimento às suas dinâmicas de povoamento, mas valorizamos so-bretudo esta área pelo papel que joga como um conclave de rotas que cruzam o sudoeste peninsular.
8.1. Paisagem e recursos
A área entre o Guadiana e o Ardila resulta como uma região de convergências. Pelos critérios naturais no território onde se inclui, aqui confluem as bacias do De-gebe, do Guadiana e do Ardila. Nas pautas orográficas, encontramo-nos nos limites quer do demarcável siste-ma interior montanhoso do Ardila, quer da peneplaní-cie alentejana (Berrocal-Rangel,1992:244;fig. 56 e 57).
Os factores de natureza fluvial e orográfica esta-belecem-se assim, na abordagem à paisagem em estudo, e em ambas as situações de implantação de sítios com que nos deparamos, como a chave de entendimento dos factores de implantação na região. É nesse sentido le-gítimo falarmos de uma arqueologia dos rios, elemen-tos vertebrais que são do povoamento proto-histórico, facto já anunciado nas diversas abordagens à margem esquerda do Guadiana ou sustentando a designação de um “processo de colonização fluvial deste território” por Berrocal-Rangel (Id., 1994:220).
Na verdade, logo a montante do projecto de mi-nimização de impactes do Alqueva as suas águas deter-minaram na sua cota de avanço uma amostra de sítios precisamente determinada pelo factor fluvial e orográ-fico, pelo que necessárias ressalvas devem ser colocadas quanto à determinação de outros eventuais parâmetros de ocupação que escapem a estes condicionalismos da
presente investigação. De acordo com os esquemas de implanta-
ção naturais dos pequenos sítios e do Castelo das Juntas define-se uma proposta de povoamento bipartido. Por um lado pequenos sítios dispostos entre pequenas plataformas de encostas suaves, sobranceiras a ribeiros sazonais que desaguam no Guadiana, sem condições naturais de defesa e com visibilidade restrita, circundadas por outros cabeços. Por outro lado, segundo a tipologia dos povoados sidéricos proposto por Berrocal-Ran-gel (1992; 1994) o Castelo das Juntas consistirá num “povoado sobre uma colina com mesa ou maciço rochoso”, variante de povoados sobre co-linas ou elevações menores, pouco pronunciadas, junto a linhas de água que colmatam em parte o escasso grau de inacessibilidade das vertentes Figura 8.2 – Vertente Este do Castelo das Juntas
329
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
(Id., Ibid. 1992:202). A vertente escarpada a este, riban-ceira ao Alcarrache, surge com uma clara defensabilida-de natural, contrariamente às restantes vertentes em que o povoado se desenvolve. A zona cimeira do povoado, estabelecida em parte numa plataforma, sobranceira à vertente rochosa, usufrui notoriamente de um amplo domínio visual em todo o seu entorno e sobre os cursos da ribeira a este e oeste antes destes ladearem a ampla península onde se implanta o povoado.
O Alcarrache como elemento físico, cuja proxi-midade e rápido acesso desde e para o Guadiana não está assim descuidada (tal como a montante), funcio-na como um importante factor de escolha, associado à defensabilidade natural da vertente este, mas relevante peso constituirá decerto o controlo visual (territorial e fl uvial) do Castelo das Juntas. O modelo de implan-tação adoptado, como a maioria dos povoados fortifi -cados das Bacias do Guadiana ou do Ardila, teve em conta um nível primário: combinando a orografi a e a hidrografi a, conjugando o factor defensivo com o con-trole visual e resultando numa implantação de acessos em geral de grau médio; e um segundo nível comple-mentar, com um sistema amuralhado alternativo (com apoio na orografi a) (id., 1992:211-215).
Para lá da equação estratégica com os cursos fl u-viais, igualmente a dinâmica movida pela riqueza mineira da faixa piritosa, de que a região faz parte, tem sido vista como um elemento base ao entendimento do seu povoa-mento e ao enquadramento na paisagem do mesmo.
Área rica em minérios de ferro, chumbo e prata (Fabião, 1998; Gamito, 1988), cedo é marcada pela exploração dos recursos mineiros. Esta riqueza é como vimos anteriormente, sobressaída desde Leite de Vasconcellos e Fragoso Lima, que cita o seu po-tencial desde a serra da Adiça, prolongamento dos Mons Marianos das fontes clássicas, ricos em ouro e prata, (Lima, [1942] 1988), até às constatações de vestígios de fundição de prata do povoado proto-
-histórico do Castelo Velho de Safara (Soares,1994), no Passo Alto (Soares, 1986) ou, podendo no nosso caso, ser presumido pelas evidências de escórias assi-naladas no Castelo das Juntas. As evidências destas explorações surgem reforçadas pelo reconhecimento de Domergue (1987; 1990), ou pelo quadro de ex-plorações mineiras desenvolvidas desde os fi nais do séc. XIX ao XX entre Moura e Barrancos. Berrocal--Rangel, destaca o sector concreto de Aroche/Moura como de “possibilidades e certezas de actividades pré--romanas”, numa continuidade das bolsas essencial-mente cúpriferas da zona sul de Rio Tinto (Cerco de Andévalo) (Id., 1994:196), e aponta a propósito os sítios mineiros (Cu) do Monte Judeu e da Crugeira, em volta do povoado da Adiça, da Malhada da Safra e Algale (Cu) para Safara, da Mina de Aparis (Cu) para o Castelo de Murtigão ou os sítios da Orada, Ribeira N. S.ª Prazeres (?Au) e Mina de Ruy Gomes para Moura (Berrocal Rangel,1992:237).
Os recursos mineiros, constituem, assim um factor fundamental para explicar o povoamento, mas obviamente considerá-los como factor único e descar-tar outras actividades como as pecuárias é um “exagero compreensível, somente a partir da hiperbolização das Fontes clássicas e do desconhecimento profundo desta ampla região” (Id., 1994:223). Faltam-nos essencial-mente elementos concretos que refl ictam a importân-cia e o uso metalífero nas populações da região, de for-ma a avaliar o alcance local, regional ou supra-regional desta actividade, centrada em jazidas de pequena ou media exploração (Fabião, 1998).
Deste modo, é necessário recordar a potencia-lização agro-pecuária (sem esquecer a cinegética ou piscatória) latente à implantação natural dos pequenos sítios. Numa região de aproveitamento agrícola médio/fraco, com maior peso para uma horticultura e menor para uma produção cerealífera, cobrindo as necessida-des básicas de subsistência, resultariam estas regiões
ESTUDIO ARQUEOFAUNÍSTICO DE MONTE DA PATA. Relação da fauna determinada: O. ARTIODACTYLA Bos taurus (vaca) Linneo, 1758 Sus domesticus (porco) Gray, 1869 DESCRIÇÃO DA COMPONENTE ÓSSEA ANALISADA POR UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. U. E. 3 1 – BOS TAURUS 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1. U. E. 5 1 – BOS TAURUS 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1. U. E. 15 1 – SUS DOMESTICUS 1 incisivo inferior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto.
1 dente muito fragmentado. NMI é de 1. 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1.
1 dente muito fragmentado. NMI é de 1. 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1.
1 incisivo inferior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto. 1 incisivo inferior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto.
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
330
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
ESTUDIO ARQUEOFAUNÍSTICO DE MONTE DAS CANDEIAS 3. Relação da fauna determinada: O. ARTIODACTYLA Bos taurus (vaca) Linneo, 1758 Ovis aries (ovelha) Linneo, 1758 Capra hircus (cabra) Linneo, 1758 DESCRIÇÃO DA COMPONENTE ÓSSEA ANALISADA POR UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. U. E. 15 1 – BOS TAURUS 1 molar superior muito fragmentado medianamente desgastado. 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1 subadulto/adulto. U. E. 25 1 – O/C 1 dente M2 superior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto/adulto.
1 molar superior muito fragmentado medianamente desgastado. 1 molar superior muito fragmentado medianamente desgastado. 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1 subadulto/adulto. 1 dente muito fragmentado. NMI é de 1 subadulto/adulto.
1 – O/C 1 dente M2 superior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto/adulto. 1 – O/C 1 dente M2 superior medianamente desgastado. NMI é de 1 subadulto/adulto.
irrigadas de grande importância para as actividades pastorícias. Porém semelhante destaque da actividade pastoricia e ovicaprina, remetendo para um segundo plano a agricultura (Rodríguez Díaz, 1998:253), mesmo considerando que não ocorra nenhuma especialização em concreto (bovina, ovicaprina ou porcina), merece na defi nição das actividades económicas destas populações algumas reservas perante a escassez de dados, como se conclui do estudo arqueofaunístico do Castelo das Jun-tas, Monte da Pata e Monte das Candeias.
8.2. Estudo ArqueofaunísticoAna Pajuelo
Para lá dos objectivos mínimos de qualquer es-tudo arqueofaunístico, como expostos na metodologia
empregue, notemos agora que a amostra analisada im-possibilita qualquer estudo por mínimo que este seja. Os restos obtidos dos depósitos arqueológicos apre-sentam um elevadíssimo grau de fragmentação, ao que devemos unir a escassa proporção, quase ínfi ma, no que se refere aos elementos ósseos propriamente ditos.
Estas circunstâncias impedem uma leitura histó-rica acertada, pelo que os resultados apresentados neste estudo impossibilitam a reconstrução das populações faunísticas e a valorização do grau de exploração pela comunidade que ocupou estes sítios.
Em todo o caso, apenas podemos verifi car a exis-tência de algumas espécies, sem poder avançar mais conclusões que as que neste notícia se contemplam. Por outro lado, quanto aos processos deposicionais e ao momento de consumo, alguns ecofactos apresen-
ESTUDO ARQUEOFAUNÍSTICO DO CASTELO DAS JUNTAS. Relação da fauna determinada:O. ARTIODACTYLACapra hircus (cabra) Linneo, 1758Ovis aries (ovelha) Linneo, 1758Sus domesticus (porco) Gray, 1869DESCRIÇÃO DA COMPONENTE ÓS EA ANALISADA POR UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.Sondagem 1: U. E. 9
1 – SUS DOMESTICUS 1 molar muito fragmentado. NMI é de 1 2 – O/C 3 dentes muito fragmentados. 1 M1 superior que apresenta pouco desgaste, 1 M1 inferior com pouco desgaste. 1 fragmento de costela. NMI é de 1 subadulto. 3 – POR IDENTIFICAR 65 restos não identifi cados de Mesofauna, dos quais 1 fragmento de osso largo aparece queimado e dois restos com marcas de corte. A maioria destes fragmentos giram em torno a 0,5 e 1,5 cm. 1 fragmento não identifi cado de Macrofauna afectado pelo sedimento. 1 fragmento não identifi cado de microfauna. Sondagem 1: U.E. 256 1 – POR IDENTIFICAR 11 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0,5 cm. Sondagem 3: U.E. 250 1 – POR IDENTIFICAR 7 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0.,5 cm. Sondagem 4: U. E. 291 1 – POR IDENTIFICAR 4 fragmentos não identifi cados de Mesofauna queimados de 0,5 cm.
1 molar muito fragmentado. NMI é de 1 1 molar muito fragmentado. NMI é de 1 2 – O/C 3 dentes muito fragmentados. 1 M1 superior que apresenta pouco desgaste, 1 M1 inferior 2 – O/C 3 dentes muito fragmentados. 1 M1 superior que apresenta pouco desgaste, 1 M1 inferior com pouco desgaste. 1 fragmento de costela. NMI é de 1 subadulto. com pouco desgaste. 1 fragmento de costela. NMI é de 1 subadulto. 3 – POR IDENTIFICAR 65 restos não identifi cados de Mesofauna, dos quais 1 fragmento de osso largo aparece 3 – POR IDENTIFICAR 65 restos não identifi cados de Mesofauna, dos quais 1 fragmento de osso largo aparece queimado e dois restos com marcas de corte. A maioria destes fragmentos giram em torno queimado e dois restos com marcas de corte. A maioria destes fragmentos giram em torno a 0,5 e 1,5 cm. 1 fragmento não identifi cado de Macrofauna afectado pelo sedimento. a 0,5 e 1,5 cm. 1 fragmento não identifi cado de Macrofauna afectado pelo sedimento. 1 fragmento não identifi cado de microfauna. 1 fragmento não identifi cado de microfauna.
1 – POR IDENTIFICAR 11 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0,5 cm. 1 – POR IDENTIFICAR 11 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0,5 cm.
1 – POR IDENTIFICAR 7 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0.,5 cm. 1 – POR IDENTIFICAR 7 fragmentos não identifi cados de Mesofauna inferiores a 0.,5 cm.
1 – POR IDENTIFICAR 4 fragmentos não identifi cados de Mesofauna queimados de 0,5 cm. 1 – POR IDENTIFICAR 4 fragmentos não identifi cados de Mesofauna queimados de 0,5 cm.
331
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
tam marcas de cortes e outros tendo sido submetidos à acção do fogo, apesar de que, por outro lado, o elevado grau de fragmentação poder depender das característi-cas do sedimento.
8.3. Rotas e Vias de ComunicaçãoSamuel Melro
Nesse sentido a área em estudo pode particula-rizar-se ao longo do I milénio a.C. como um impor-tante foco nodular nas relações de intercâmbio desen-volvidas entre o interior em que se situa com as áreas mais meridionais ou setentrionais, assim como a ponte e o meio caminho entre outras realidades mais inte-riores com as realidades mais litorais. Um panorama pré-romano que derivaria do necessário escoamento e procura das riquezas minerais das zonas interiores até às áreas meridionais da costa mediterrânea (Fabião, 1998: 261).
Esta confluência admite assim diversos sentidos e eixos que aqui se cruzam. Recordemos que na po-tencialização económica da área realizada por Teresa Gamito (Gamito, 1988) era salientado, quer o Gua-diana, quer o Ardila ou as vias terrestres que a atra-vessam longitudinalmente como os eixos estruturantes da região. Para Ana Arruda a concentração de objec-tos orientalizantes na margem esquerda do Guadiana, concretamente na bacia do Ardila, relacionada com a exploração dos recursos mineiros locais e de perto com o mundo tartéssico da Baixa Extremadura Espanhola e da Alta Andaluzia Ocidental, emanaria igualmen-te, não de uma relação directa com o mundo litoral fenício, via Guadiana, mas sobretudo dos circuitos terrestres que envolveriam os povos indígenas da área tartéssica (Arruda, 1993: 48-49). A existência seguinte de uma série de vestígios meridionais como as ânforas ibero-púnicas ou as cerâmicas áticas, afere da existên-cia dessa rede de vias terrestres, contornando os limites navegáveis do Guadiana e afluentes.
Atravessaria a região a importante rota, bem va-lorizada no séc. I a.C. pelo Castelo da Lousa, definida no sentido SO/NE/SO pela via natural de passagem norte – sul (Vale de Guadiana/Falha de Plasencia).
Desde a costa mediterrânica ao porto de Mértola e pelo Vale do Guadiana, prosseguindo por vias ter-restres, ou mesmo em alguns tramos fluvialmente, até à Extremadura Espanhola. Noutro eixo, da costa atlântica prosseguiria no sentido SE/NO/SE, desde o estuário do Tejo até ao Golfo de Cádiz e Vale do Guadalquivir, a rota já indicada na Orla Marítima de Avieno302 e que, passando pelo Degebe, transpunha o Guadiana exactamente na nossa área de estudo303. Berrocal-Rangel refere-a precisamente pela sua con-centração de povoados proto-históricos de um lado e do outro do Guadiana, propondo que a mesma prosseguisse a sudeste pela Ribeira de Brenhas, por Moura e em torno de diversos castelos pré-romanos assinalados, como o da Adiça, passando para a área hoje espanhola por Vila Verde de Ficalho (Berrocal--Rangel, 1992:257). Do litoral atlântico, mas desta feita do estuário do Sado, outra rota confluiria na área da desembocadura do Ardila com o Guadiana, na sequência dos povoados da Serra de Portel que os ligam a Alcácer do Sal (Antunes, no prelo). Do estuário do Sado a passagem à margem esquerda do Guadiana, seria igualmente assegurada mais a ju-sante deste rio, entre Beja e Serpa, podendo aí afluir igualmente as rotas direccionadas desde o estuário do Mira, como por exemplo numa travessia junto do po-voado da Azenha da Misericórdia (Berrocal-Rangel, 1992:257).
Por outro lado, é certo que desde Mértola igual-mente se desenvolveriam a NE uma série de outros caminhos terrestres pelo interior dos actuais concelhos de Serpa, Moura e Barrancos, num percurso mais in-terior ao longo do Chança, até à concentração de po-voados desenvolvidos na zona mineira meridional do Ardila, como indicaria o próprio topónimo do Passo Alto, ladeado de outros (Negrita; Cerro del Castillo; Safarejinha e Bezerra de Ouro). Dessa zona passaria para a Extremadura espanhola para lá do Murtigão e do castro homónimo (id.,1992:258), passagem à qual devemos ainda atender o Castelo de Noudar, povoado na junção desta última ribeira com o Ardila.
A região em estudo resulta efectivamente como uma placa giratória centrada na confluência das ro-
302 Na sua descrição da navegação por cabotagem ao longo da costa ocidental da península até ao Mediterrâneo, Avieno refere também uma via terrestre, alternativa por exemplo em épocas com más condições climatológicas para o acesso por mar, entre muito provavelmente as desembocaduras do Tejo e do Sado e a costa tartéssica com uma distância mínima de 240 km (Berrocal-Rangel,1992:31).303 Relevante é ainda a menção nas fontes clássicas de um afluente do rio Guadiana: ADRUM, como ponto de início de um caminho da via Emerita – Olisipo, por Évora (ad Adrum flumen (it., 418,2). Distaria de Évora cerca de 13km para Este (nove milhas). Schulten identifica-o com o rio Caia, mas Berrocal-Rangel propõe antes um caminho mais meridional que partiria do Guadiana para a desembocadura do Ardila, por Moura. Fundamentado no traçado proposto paralelo ao rio Degebe na derivação do nome do Ardila, Adrum como a forma latinizada do hidrónimo. (Berrocal-Rangel, 1992: 68-69).
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
332
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
tas que partem, quer das costas mediterrânicas, desde Mértola ou pelo interior desde Cádiz à Alta Anda-luzia Ocidental, quer das costas atlânticas a partir do estuário do Tejo ou do Sado. Num sentido inverso do litoral/interior, geralmente mais valorizado, à região desembocam igualmente os que partem desde o NE, pela Falha de Plasencia, assim como os que aqui che-gam pelo interior da Baixa Extremadura espanhola. Obviamente, tão profusa rede de vias de comunicação não se deve tão só ao seu posicionamento geográfico, como uma região “de passagem”, mas sendo propulsio-nada pelos recursos que tinha à sua disposição.
8.4. O povoamento conhecidono ocidente da Beturia Céltica
Na abordagem privilegiada realizada por Berrocal-Rangel para a região da Beturia Céltica (1992,1994), são desenvolvidos 7 grupos de povoa-mento, cabendo a área sob a qual nos debruçamos o grupo A.1. Nesse grupo, e na sua disposição no tramo final da bacia do Ardila, foram considerados de con-juntos distintos, embora correlacionáveis, os povoados da foz e os situados na margem meridional mais inte-rior do Ardila (id., 1992:247; 1994:220).
Os primeiros respeitam exactamente à área em estudo, e abarcavam então os sítios da Azougada, Moura, Atalaia Magra, e Castelo Velho de São João, e associados ainda aos povoados da outra margem, Pardieiros e Porto da Barca. O segundo grupo reunia os povoados da Adiça, Bezerra de Ouro, Convento da Tominha, Castelo Velho de Fagilde, Castelo Velho de Murtigão, Negrita, Castelo Velho do Safarejinho e en-tre os dois grupos o Castro de Safara ou Safarejo (id., 1992:247).
Abaixo deste agrupamento, integrando o po-voado do Passo Alto (id., 1992:247) delinar-se-ia um grupo já marginal à bacia do Ardila, em torno agora do Chança (A.6.), e que constituiria uma outra via de pe-netração até à bacia média do Ardila, fosse para o con-junto português acima referido, fosse para o conjunto espanhol (A.5) que agrupava entre outros Nertóbriga e o Castrejón de Capote.
É obviamente ainda impossível, com os dados que temos, determinar da dualidade sugerida por Berrocal-Rangel no grupo A.1., para a área mais oci-dental da Beturia Céltica. Em primeiro lugar, aos dois conjuntos nele considerados faltam outros tantos sí-tios que poderão desvanecer a sua distinção e acentuar antes a noção de um só agrupamento. Esse mesmo sentido aparece aliás já alvitrado na consideração da
“excepção” que constituiria o Castelo Velho de Safara (id.1992:247).
Porém, novos pontos no mapa como os prováveis povoados fortificados da Defesa da Muralha, Santa Margarida, Frágoa do Castelo (Moura) ou o povoa-do de Sis (Barrancos) (Moita, 1965) ou o Castro da Serra dos Borrazeiros, Herdade Covões dos Ramos, Cerca de D. Feliciana, Cerca da Tia Vicente, Castele-jos, ou Atalaia do Sobralinho (Moura) (Lima [1942] 1988:58) não nos adiantam quaisquer esclarecimentos quanto à diacronia e caracterização de um já vasto con-junto de povoados pré-romanos, acentuando apenas a profusão do povoamento proto-histórico na região, como já observado para a Idade do Bronze. Como aos anteriores citados povoados da Atalaia Magra, Castro Velho de São João, Adiça, Bezerra de Ouro, Atalaia do Convento da Tominha, Castelo Velho de Fagildes, Castelo Velho de Murtigão, Castelo Velho do Safare-jinho (Castelo do Alto das Guerras) ou Castro da Ne-grita, também aqui temos que mantê-los na categoria de “sítios conhecidos por notícias ou achados isolados”, numa única acepção de pré-romanos que na maioria dos casos lhes é possível atribuir.
Pese essa generalização, será obviamente relevan-te crivar ainda destes os que são mencionados como “romanizados” ou com “ocupação romana”, embora não lhes possamos discernir efectivamente o alcance ou as cronologias exactas dessas etapas, ou se esses ma-teriais são integráveis num âmbito indígena ou roma-no. Será o caso dos sítios mencionados por Fragoso Lima como o Castro da Atalaia do Sobralinho, Cas-telejos, Cerca de D. Feliciana, Cerca da Tia Vicente (Moura) (Lima[1942]1988:58-61), assim como outros por este autor referidos e assinalados por Berrocal--Rangel (1992) como a Atalaia Magra, Castro Velho de São João, Bezerra de Ouro, Atalaia do Convento da Tominha, Castelo Velho de Fagildes, Castelo Velho de Murtigão, e o Castelo Velho do Safarejinho (Castelo do Alto das Guerras).
Com maior distinção arqueológica apenas pode-mos referir o caso do Castelo Velho de Safara, povoado de 3 ha na confluência da Ribeira de Safara/Safarejo com o Ardila, aproveitando um esporão natural de de-fesa para a ribeira e amuralhado na restante extensão. De acordo com Monge Soares (Soares, 2001) este sis-tema defensivo seria reforçado na sua zona mais plana por 3 fossos e na entrada por dois torreões oblíquos à muralha. O seu interior dividido por uma muralha, poderia corresponder a uma divisão funcional entre um espaço habitacional, com maior presença de cerâ-mica, e um espaço para o gado. A actividade ganadeira
333
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
completaria a actividade metalúrgica conhecida para o local pelos vestígios de mineração de prata (Soares, et alii, 1985; Soares, et alii,1994; Soares, et alii, 1996). O quadro cronológico que decorre do material de su-perfície e do perfil de 1985, aponta para uma ocupa-ção sidérica desde o séc. IV (cerâmica ática; cerâmica estampilhada (Arnaud, Gamito,1974/77:195)) até ao séc. I d.C (ânforas republicanas; terra sigillata itálica). O conjunto material comum atesta o panorama re-gional de cerâmica manual com cordões em relevo e decoração digitada (grandes recipientes) ou decoração incisa; abundante cerâmica pintada de bandas e cerâ-mica cinzenta com pequenas estampilhas de rodízio (Soares, 2001).
Na região, embora mais a sul e junto ao Chança, Monge Soares contribui ainda para assinalar cronolo-gias da II Idade do Ferro para níveis do povoado do Passo Alto (Soares, 1996; Soares, 1986), assim como em Vila Verde de Ficalho. Já no sentido da margem setentrional do Ardila, na intersecção deste com a ri-beira do Murtigão, destaca-se o povoado subjacente ao Castelo de Noudar e que terá tido uma ocupação ao longo de todo o I milénio a.C. (Rego, 1994).
Quanto à zona mais ocidental, o Castelo de Moura fornece ainda alguma informação que o coloca em paralelo (ou resultando mesmo mais antigo) com o Castelo Velho de Safara. As campanhas de 1980 e 1981, sem alcançar os estratos geológicos, terão atin-gido níveis do séc. V e IV (ática de figuras vermelhas; fíbula anelar hispânica), com eventuais fases constru-tivas do III a.C., subjacente a níveis superiores de cro-nologias propostas do séc. II/I a.C. (cerâmicas pintadas em bandas vermelhas e círculos concêntricos; cerâmica cinzenta; formas comuns de bordos enrolados) antes dos níveis romanos (Monteiro, et alii (1980-1981).
Por fim, o mapa da distribuição do povoamen-to conhecido nesta área é encabeçado pelo Castro da Azougada, cuja ocupação definida a partir dos mate-riais das intervenções de Fragoso Lima e Manuel He-leno nos anos quarenta, embora esbatendo no herdado problema da falta de contextos seguros, não terá ul-trapassado a primeira metade do séc. IV a.C. (Arruda, 1999-2000:). Emblemático povoado na determinação de um Orientalizante interior, a falta de uma sequên-cia estratrigráfica na região que faça a ponte entre este período e a sequência já mais consistentemente de-terminada entre os sécs. IV/III e os sécs. II/I a.C., subsiste ainda como um dos principais problemas na região.
Como já tivemos ocasião de sistematizar na lei-tura tradicional deste povoado, este é observado como
o “lugar central da hierarquia social e económica (...) no eixo dos movimentos comerciais da região e con-trolando todo o movimento do Guadiana e a entrada ou foz do Ardila, no que era secundado pelo Castelo Velho” e pelo Castro dos Ratinhos (Gamito, 1990:23-24). Os seus materiais demonstrariam um entrecruzar de elementos e influências orientalizantes e celtizan-tes, que junto com a própria evolução das populações autóctones, reflectia o mesmo universo observado na Estremadura Espanhola e Alto Alentejo e o estreito contacto desta região com o território de Tartessos (id., ibid.). Mário Varela Gomes destaca, para lá da cerâmica comum de fabrico local ou regional de tra-dição do Bronze Final (a que se juntaram os estímulos continentais e mediterrânicos), o espólio de feição re-ligiosa oriental. Os bronzes da Azougada, somados ao tymiaterion de Safara e ao touro de bronze encontrado na região de Mourão, acabaram por funcionar efectiva-mente como peças representantes de um orientalizante interior observado na margem esquerda do Guadiana, cenário realçado por Ana Arruda, que o reforça pelas cerâmicas de engobe vermelho e a cerâmica ática daí provenientes (Arruda, 1999-2000).
Por fim, referência particular pode ainda ser fei-ta ao sítio da Herdade dos Lameirões (Moura), pois embora Fragoso Lima já o tivesse nomeado pelas suas semelhanças com os materiais da Azougada (como Cabeço Redondo/Montes Montum) (Lima [1942] 1988), apenas mais recentemente o mesmo foi assina-lado e apresentado como um exemplar da “arquitectura de prestígio” (Fabião, 1998: ;Soares, 2001).
Nesse mesmo campo das ausências ao anterior quadro de povoamento conhecido, os trabalhos reali-zados a cabo no Alqueva, e precisamente aqueles que apresentamos, introduziram e “inovam” esse mesmo quadro, com a presença dos pequenos sítios abertos, sobre as suaves pendentes em direcção a cursos de água até aqui ausentes. A sua presença (Serros Verdes 4; Estrela; Monte do Judeu 6; Monte das Candeias 3; Monte da Pata 1) completará o povoamento até então exclusivo de altura, ao qual o Castelo das Juntas se jun-ta fornecendo um leque de informação estratrigráfica para os séculos II e I a.C., que como vimos está por regra ausente dos inúmeros casos até aqui citados.
8.5. O povoamento pré-romano entre o Guadiana e o Ardila: o âmbito local e regional
Partindo do período orientalizante para as épo-cas pré-romanas, parece-nos clara a inexistência de
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
334
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
um padrão de ruptura. Já o referimos a propósito da cultura material, cuja abordagem permitiu estabelecer um vínculo cultural, eventualmente cronológico, entre os pequenos povoados abertos, e mesmo destes com as Juntas.
Cerâmica doméstica de escassa variabilida-de morfológica, sem elementos de datação absoluta/exógenos nos sítios pequenos, radicando num quadro mais antigo, expresso nos Serros Verdes 4 (sécs. VI/V a.C.), para um conjunto central que poderá ir desde meados do séc. IV a finais do III, meados do séc. II a.C., incidindo essencialmente em torno do séc. III a.C.. Pesam as escassas evidências materiais mais re-cuadas das Juntas, este povoado prolonga esse vínculo cultural até ao domínio romano na região.
Conclui-se deste modo, um mesmo conjunto cultural patente na margem esquerda do Guadiana no último terço do I milénio a.C., estabelecida num quadro de proveniências de fabricos de escala local/regional (comprovado pelas análises arqueométricas) segundo critérios de fabrico aceites a uma maior escala (Rodriguez Díaz, 1991:51).
Uma continuidade expressa num conservado-rismo que matiza aspectos de tradição orientalizante e feição meridional, com aspectos de feição mais se-tentrional, numa linha eminentemente local e regio-nal, pelo que não é possível adoptar a identidade que aqui se apresenta sob a tradicional dualidade de uma segunda Idade do Ferro de cariz continental, após um momento orientalizante. Tão pouco, os aspectos evolucionados da amostragem material deste último período da Idade do Ferro contrariam essa marca de continuidade inerente às produções de âmbito local e regional.
Nesse sentido, a ausência de cerâmica de im-portação, quer orientalizante, quer ibero-púnica (no-meadamente ática) não é sinónimo de uma ruptura do quadro da cerâmica comum por excelência dos peque-nos povoados, da mesma forma que a adição das cam-panienses e paredes finas não veio alterar no Castelo das Juntas a essência dessa mesma tradição. De facto, ainda que sobre a mesma, tal como anteriormente com os modelos orientalizantes ou mais setentrionais, não deixem de actuar influências exógenas, a cerâmica co-mum permanece na sua base inscrita num fabrico de tradição local/regional que perdurará inclusive sob o domínio romano.
A quebra na distribuição dos materiais de circu-lação mediterrânica na região resulta certamente num significativo conjunto de alterações observadas a uma mais alargada escala, associada habitualmente a uma
chamada “crise dos 400”, mas não parecendo reflectir a sua ausência qualquer revés significativo à escala do povoamento da região. Pelo que nos demarcámos em observar como praticamente exclusivo o factor comer-cial e a ele implícito o escoamento supra-regional das riquezas mineiras, como base operacional da vida e da economia destas populações.
8.6. As estratégias de povoamento
Pelos sítios intervencionados, não podemos igualmente concluir qualquer ruptura nos critérios de implantação e estratégias do povoamento entre as etapas orientalizantes e os séculos derradeiros do I milénio a.C.. O abandono de um povoado como o da Azougada ou a inserção de uma “arquitectura de prestígio” na região, como poderá ocorrer na Herda-de dos Lameirões, são questões em aberto demasiado pertinentes para determinar desde já quaisquer con-clusões, mas no que respeita a estratégias de povoa-mento, regista-se notoriamente uma proliferação do esquema bipartido de povoados, pequenos e abertos, com povoados de altura e fortificados, num significati-vo aproveitamento do espaço e dos seus recursos.
Apenas o abandono aparentemente anterior dos pequenos povoados em relação aos Castelos da região, se revestirá como uma significativa interrupção nesse padrão de assentamento, que poderá ser entendido no âmbito do conturbado processo de conquista roma-no e da instabilidade social com que este deparou, na sua investida desde os finais do séc. III a.C. ao último quartel da segunda metade da centúria seguinte
Parece assim solidificar-se ao longo da Idade do Ferro na margem esquerda do Guadiana um esquema bipartido de povoados de média e pequena dimensão, entre 3 a 5 ha, mais próximos do mundo setentrional que do mundo meridional turdetano (Berrocal-Ran-gel, 1994: 208), dispostos sobre estratégicas pautas de carácter natural e produtivo (dos recursos agro-pecuá-rios e mineiros em seu torno) e de controlo e locali-zação das rotas e caminhos (defesa e comércio); com outras unidades de povoamento mais pequenas, aber-tas e sem defesas, de cotas baixas e fraca visibilidade, aparentemente resultando em unidades unifamilares eminentemente associadas aos recursos agro-pecuários em seu torno.
A maior “novidade” surge do conjunto de povoa-dos abertos de menores dimensões que até aqui não fora considerado para a região. Infelizmente nos ca-sos do Monte do Judeu 6, Monte da Pata 1, Monte das Candeias 3, Serros Verdes 4 e Estrela 1, o pro-
335
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
blema coloca-se pelo desconhecimento da extensão da área ocupada, pela escassez de informação estrutural e estratrigráfica e de uma cultura material demasiado dominada por níveis de superfície e/ou revolvidos. As suas análises estabeleceram genericamente contextos de ocupação de carácter doméstico para estes sítios, mas as limitações da mesma impedem-nos que pos-samos desenvolver ou contribuir para uma maior defi-nição quanto à categoria de sítios destas implantações.
Neste sentido tomámos como designação mais habitual a de pequenos povoados abertos, termo mais generalizado na bibliografia, embora o mesmo mereça as devidas reservas por traduzir uma ideia de povoado que mais correctamente se insere numa escala maior do tipo Castelo das Juntas. O sentido de habitat será talvez o termo de menores implicações, eventualmente mais consentâneo com as nossas próprias limitações de análise. Igualmente as mesmas não asseguram, antes sugerido mais pelas pautas de implantação, uma desig-nação do tipo casal ou monte, que traduza claramente um módulo de exploração de vocação agropecuária, à semelhança do que será expresso em épocas romanas ou medievais nesses mesmos lugares, aferindo a indi-cação de que sob os estabelecimentos rurais romanos e posteriores poderão estar subjacentes ocupações pro-to-históricas.
A verdade é que a constatação destes sítios não resulta por si só como uma surpresa. Reflecte o mesmo tipo de implantações da Idade do Ferro já observadas nos anos oitenta304 para a área de Ourique, no Mira305, ou na área de Neves/Corvo (Almodôvar/Castro Ver-de) na Ribeira de Oeiras306. Um cenário que se repete para áreas da Extremadura Espanhola, para a Serra de Portel (Cabeço do Ruivo 1, Cabeço de Aguiar ou Castanheiro 2) (Antunes, no prelo) ou no Alentejo Central307 (Calado et alii, 1999). A Manuel Calado, e sobretudo a Rui Mataloto, cabe a chamada da atenção no Alentejo Central e na margem direita do Guadiana a este povoamento aberto enquadrado numa “sequên-cia pendular ao longo de todo o I milénio a.C., entre um povoamento aberto, relacionados com diferentes tipos de paisagem, de clara vocação agro-pecuária, e
um outro, fortificado, implantado de forma mais selec-tiva, em que os aspectos defensivos (e eventualmente simbólicos) parecem ter sido decisivos na eleição do local de habitat” (id., ibidi.:379).
Semelhante padrão foi igualmente observado na margem direita do Alqueva no decurso dos tra-balhos arqueológicos de minimização realizados. Na outra margem, a cronologia sidérica já preliminar-mente apresentada situa-a entre os sécs. VII e VI a.C. e finais do V, num conjunto de pequenos povoados entre os 200 e os 2000 m2 (Malhada das Mimosas 1, Espinhaço de Cão 1, Moinho da Cinza 1, Moi-nho Novo de Baixo, Malhada das Taliscas 4, Fonte da Calça, Forno da Cal, Miguens 10, Gato, Musgos 10, Outeiro 2, Monte da Estrada 2, Chaminé 18, Chami-né 6 e S. João 6), a que acresceriam, num semelhan-te enquadramento numa primeira Idade do Ferro, os sítios do Monte Roncanito 2A, Monte Roncanito 4 e Espinhaço 9 (Marques, 2002:147, 150). Apenas a Malhada dos Gagos 13, entre o séc. V e III a.C., e a Casa da Moinhola 3, são apontados como de funda-ção tardia prolongando-se a uma segunda Idade do Ferro, sendo o seu abandono atribuído à instalação de um povoamento em altura. Já o sítio do Monte da Tapada 39 inscreve-se nas etapas tardias da Idade do Ferro (Calado, 2002:125, 126).
Efectivamente, o que sai mais fora do baralho respeita as cronologias tardias do conjunto por nós in-tervencionado: entre os sécs. IV e II a.C., centrado no séc. III a.C.. O panorama geral adstrito a este tipo de pequenos povoados abertos inscreve-se nos meados do I milénio, à semelhança do que propusemos para os Serros Verdes 4. E nesse âmbito, este tipo de sítios é regra geral associado ao período orientalizante, a uma I Idade do Ferro e/ou ao período pós orientalizante. A partir do séc. IV, ou de meados deste, este tipo de im-plantação decresceria ou daria lugar aos povoados de altura, coincidindo com o florescimento destes numa segunda Idade do Ferro. Este tipo de ocupações é as-sim observado por regra a respeito de uma ocupação da I Idade do Ferro, ou das etapas pós-orientalizantes de meados e inícios da segunda metade do I milénio
304 16 pequenos, mas numerosos núcleos habitacionais abertos (10 relacionados com necrópoles) cuja disseminação indica uma densidade populacional próxima da actual que se teria organizado em diversos grupos relativamente pequenos, ao jeito dos “montes alentejanos de hoje” (Beirão; Gomes, 1980:6; Beirão, 1986). 305 Povoados da Junqueira; Monte do Coito; Cruzes; Carapetal III; Cerro do Ouro; Monte do Poço; Mealha Nova; Biscoitinhos; Arreganhado; Vaga da Cascalheira; Cortadouro; Fernão Vaz; Porto das Lages; Pego da Sobreira. (Arruda, 2001:mapa 2).306 Neves II; Corvo I e Corvo II.307 Extensa listagem de sítios em Calado, et al.,1999: 365-375 (concelhos de Évora, Arraiolos,Sousel, Estremoz, Mora, Borba, Redondo, Alan-droal, Vila Viçosa, Reguengos de Monsaraz, Portel e Viana do Alentejo).
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
336
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
a.C., sendo abandonadas nos meados deste para os po-voados fortificados de altura.
A presente constatação destes estabelecimentos entre o séc. IV e finais do III / II a.C., num esque-ma bipartido com povoados de referência fortificados, contraria assim tão distintivo ou linear faseamento, acentuando uma continuidade ao invés de uma rup-tura. Este tipo de sítio prossegue ao longo da segun-da metade do I milénio para apenas ser interrompido pelo processo de conquista romana a partir do séc. II a.C.. E recorde-se, uma vez ultrapassado este processo, retomar-se-ão as mesmas pautas e lugares de implan-tação até aos nossos contemporâneos montes alenteja-nos. Essa continuidade reflecte a prossecução das mes-mas estratégias de explorações dos recursos, nas quais podem alterar-se não a natural lógica da escolha dos lugares, mas o modo como os mesmos são integrados e escalonados nos modelos de produção e de povoa-mento que se sucedem na região.
Embora aparentemente contrastando com o mais denso povoamento nos meados do I milénio a.C., o povoamento mais tardio estabelece a continuidade deste tipo de implantação em torno do séc. III. Uma ocorrência que não é só por si inédita se tivermos em conta outros sítios não fortificados e similares no Su-doeste. É caso da mais recente revisão dos dados da região de Ourique por Ana Arruda, revendo para uma cronologia mais tardia (meados do IV / finais do III a.C.) para povoados como o Porto das Lages e Cor-tadouro. Efectivamente, a autora “situa preferencial-mente entre a segunda metade do VI e o III a.C.” (a sua maioria em meados do séc. V a.C.) estes pequenos sítios de habitat até então datados entre os sécs. VII e V a.C. (Arruda, 2001:212, 222-223, 227).
Será igualmente o caso dos habitats relaciona-dos com a necrópole da Herdade da Chaminé (El-vas), do Monte da Cardeira e da Herdade das Ca-sas (Redondo) ou na Belhoa (Reguengos), como dos pequenos povoados abertos de Herdade do Pomar 1 (Aljustrel), Pedra da Atalaia (Santiago do Cacém) e do Monte da Atafona (Almodôvar) (Fabião, 1998). E poderá ser eventualmente também a situação da Malhada dos Gagos 13, Casa da Moinhola 3 ou mais seguramente Monte da Tapada 39, de fundação tar-dia na segunda Idade do Ferro, ou no último caso já inscrito nas últimas etapas tardias da Idade do Ferro (Calado, 2002:125, 126). Por sua vez, o abandono da maioria destes sítios coincide com as propostas dos sítios entre o Alcarrache e o Zebro, anterior ao séc. II a.C., com uma ocupação e abandono em torno do séc. III a.C..
8.7. As possíveis leituras transversaisdo povoamento
Os sítios abertos têm sido, deste modo, observa-dos num esquema de eventual contemporaneidade e curta duração do fenómeno, entre o povoamento forti-ficado do Bronze Final e o da segunda Idade do Ferro, num povoamento disperso em distintos agrupamen-tos, quer num esquema de relações de coordenação ou vizinhança de diferentes tipos, à margem de povoados fortificados; quer centralizados noutro tipo de centros não fortificados (como do tipo Cancho Roano), como poderia ser para a margem direita do Guadiana, Alen-tejo Central ou para a área de Ourique e Castro Verde/Almodôvar (Calado, et alii,1999; Arruda, 2001), sem que se exclua a centralização ou a coexistência com povoados fortificados contemporâneos ou de contínua ocupação desde fases mais antigas.
Nesse sentido é plausível supor um esquema de subordinação destes últimos pequenos povoados aos fortificados da região, seja num esquema de maior imposição, à semelhança do que poderia ter sido di-tado no Bronze Final ou em período Orientalizante (Gamito, 1990: 17-28; Gomes, 1994: 114-155; Ber-rocal-Rangel, 1994: 237), seja num esquema de maior coordenação estabelecido a partir do séc. IV (Berrocal--Rangel, 1994: 237).
Numa primeira observação os pequenos povoa-dos das Ribeiras do Zebro e de Santa Maria aparen-tam efectivamente pertencer a um âmbito territorial definido pelo Castelo das Juntas, mas as incertezas no estabelecimento de sincronias e nos momentos funda-cionais das Juntas relativizam esta proposta.
Mas mesmo admitindo, como o fizemos, uma sincronia dos pequenos sítios com o Castelo das Juntas num mais afinado intervalo de tempo em finais do séc. III / inícios do II a.C., a conjuntura geral de crescimen-to demográfico que o proliferamento de povoados pare-ce indicar, concentraria as populações em seu torno, aca-bam por resultar no abandono dos pequenos habitats, para se centrarem no povoado que teriam como lugar de actuação e referência. O sistema de fortificação, e as etapas observadas de reforço do mesmo, exigem e resul-tam efectivamente da mobilização da colectividade para a sua execução e salvaguarda. A posição do “celeiro” no Castelo das Juntas, poderá assumir por outro lado um relevante significado social colectivo na sua implantação destacada no topo do povoado.
Depois, para lá da equação bipartida entre estes dois tipos de sítios, eminentemente local, coloca-se numa consequente escala, a sua equação com a profu-
337
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
são dos outros tantos povoados fortificados na foz do Ardila, facto que nos inibe mais ainda quanto a uma li-near definição de um (ou vários) território(s). Que tipo de relações podem ser estabelecidas entre o Castelo das Juntas, o Castelo Velho de S. João, Atalaia Magra e Moura, ou ainda com os povoados na outra margem?
Uma questão colocada ao nível do estabeleci-mento de uma diacronia, devendo para já ser obser-vado que Moura residirá pelo menos no séc. IV e que similares ambientes tardios são referidos também para o Castelo Velho de S. João (Gamito, 1994:). A questão imediata surge quanto ao nível das categorias e rela-ções a atribuir entre os distintos povoados, embora a sua sincronia possa ser sugerida apenas com alguma segurança para as etapas tardias do milénio para a maioria dos povoados fortificados, enquanto só alguns destes seriam com mais segurança coevos dos peque-nos povoados abertos.
Por fim, numa escala ainda mais alargada, haverá que entender este conjunto da foz do Guadiana com os coevos povoados fortificados nas margens meridionais do Ardila, pelo menos a partir do Castelo Velho de Safara (sem obviar outros sentidos pela Serra de Portel ou pelas bacias do Degebe e do Guadiana). Consti-tuindo conjuntos territoriais distintos, como sugeriu Berrocal-Rangel, e observando a posição limítrofe e nodular deste conjunto mais ocidental, qual o seu sig-nificado nessa rede de povoamento e qual a unidade que se pode atribuir? Quais os critérios que residiram na sua integração romana na Beturia Céltica?
As respostas a estas questões são necessariamente limitadas pelas próprias circunstâncias da investigação. Como Berrocal-Rangel nos idos finais dos anos oiten-ta, permanecemos praticamente ainda e tão só apoia-dos no conjunto de referências assinalados por Fragoso Lima nos mais recuados anos quarenta. Perante este cenário, tão pouco exaustivo, como seguro, a abordagem de Berrocal-Rangel sobre “sítios conhecidos por notí-cias ou achados isolados” ou mesmo “sítios prováveis”, constitui-se apenas como uma significativa proposta de trabalho sistemática, essencialmente alicerçada pelo “lado espanhol” e carecendo de trabalhos arqueológicos, para os quais o Bloco 9 do Alqueva veio já contribuir em parte.
Partindo da linha de análise de Berrocal-Rangel quanto aos factores de estratégia (interesses comerciais e defensivos dos povoados), este observa na região um primeiro nível inerente aos centros de produção e rela-cionado com a venda de recursos, como o escoamento do minério, e em que estariam os povoados do inte-rior dos concelho de Moura, Serpa e Barrancos. Um
segundo nível, implicado nas vias de comunicação e distribuição regional de matérias-primas (mineiras e outras) situaria o conjunto de povoados entre o Gua-diana e o Ardila que directamente temos vindo a falar; e um terceiro nível relativo aos centros de distribuição inter-regional articulado com as portas de entrada e de saída do Sudoeste com o mundo mediterrânico como seriam Alcácer do Sal ou Mértola (Berrocal-Rangel, 1992:251,254).
Concretamente à nossa área em estudo, esta foi nitidamente projectada como um “enclave central”, erradicando a sua importância na segunda metade do I milénio a.C. na “importante ocupação anterior, Orientalizante, e umas relações com o exterior me-diterrânico e continental, quiçá explicando as etapas iniciais do processo de colonização fluvial deste ter-ritório” (Id.,1994:220). Subjacente está obviamente o Castro da Azougada, observado como “controlador e distribuidor das riquezas dentro de uma categoria in-tercomarcal” (id., 1992:254).
Mas, para aferir semelhante égide faltam ainda mais escavações que nos permitam afiançar qualquer apogeu de ocupações orientalizantes na totalidade deste agrupamento, pois embora o espólio da Azou-gada deva desde já ser destacado no alcance interior da fácies orientalizante, o mesmo poderá não suceder quanto a pequenos povoados como os Serros Verdes 4. Como tal, quanto à posterior importância e escala des-ta região na margem esquerda do Guadiana, a mesma não pode ser vista de imediato e tout court sobre essa mesma égide antes atribuída à região.
A dificuldade em demonstrar esse esquema mais centralista poderá acentuar-se com o seu prolongamen-to, face à sugestão de um novo cenário, de um disposi-tivo mais local e de coordenação, para usar a designação de Berrocal-Rangel. Uma distinção entre as “tendências centralizadoras e dominadoras que enformam uma ocupação ampla e selectiva, até à promoção de relações com a desembocadura do Guadiana (Tartessos = Gol-fo de Cádiz)” entre os sécs VI e V a.C., das tendências localistas, desde o século IV a.C., “onde a exploração se realiza sob o controlo de núcleos indígenas, oppida coordenados e ausentes de um evidente protagonismo [negrito no original] que lhes permita manter relações interregionais e, mais ainda, com o mediterrâneo” (id., 1994: 237). Um panorama, citando Carlos Fabião, ago-ra de “pequenas comunidades gerindo territórios pouco vastos e autónomos entre si, que corresponderiam aos pequenos núcleos a que Estrabão apelidará de aldeias ao comparar com o grau de “urbanização” do vizinho mundo turdetano” (Fabião; 1998).
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
338
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Tal mudança a operar-se, por outro lado não terá significado qualquer diminuição, quanto à importân-cia e distinção atribuída à área entre o Guadiana e o Ardila. A região, mais ainda propulsionada pelo maior povoamento na região, permanece alicerçada numa posição nodular privilegiada, no eixo e cruzamento de rotas e vias de comunicação, numa posição chave quanto a um papel de controle e distribuição regional das matérias-primas e riquezas. As “tendências loca-listas” não traduzem assim mais do que o constatado âmbito local e regional da nossa amostra.
A este propósito, como observado para outras áreas do Baixo Alentejo, refira-se ainda que a mate-rialização de uma sociedade complexa, poderá não ser obrigatoriamente reflectida em estruturas de habitat e religiosas sumptuosas ou numa cultura material rica (Arruda, 2001), à semelhança do que as indicações da Azougada sugerem para os meados do milénio; mas tão somente assente no controle das rotas comerciais e de terras pastoris, cujo domínio territorial seria o res-ponsável pela homogeneidade cultural (Id.; Ibid:).
O que se passa entre a Azougada e esta “nova” pauta de povoamento, responde à discussão estabeleci-da entre definir uma primeira e uma segunda Idade do Ferro, da caracterização das etapas pós-orientalizantes na região ou da relevância dos contributos continentais a partir do séc. IV a.C.. Para tal contribuirá sobrema-neira os contributos do estudo da Azougada, cujo de-senlace se afigura finalmente, esperando que o mesmo venha a suceder com os dados do Castelo de Moura, à semelhança ainda do estudo dos materiais existentes da Herdade dos Lameirões, para lá da apresentação da Carta Arqueológica de Moura, projecto em curso, e dos resultados das intervenções realizadas no Castelo de Noudar (Barrancos).
Os trabalhos que aqui apresentamos contribuem desde já para esse volte de face quanto ao povoamento da Idade do Ferro nesta área da margem esquerda do Guadiana fornecendo uma base empírica de trabalho que nos revela um significativo padrão de povoamento entre os sécs. IV/III e II/I a.C., possibilitando algumas considerações quanto aos séculos anteriores, e sendo efectivamente pertinente para a leitura do processo de romanização.
8.8. Castelo das Juntas nas vésperasdo novo milénio: um mundode conflitos e mudanças
A questão de fundo inerente a este povoado da margem esquerda do Guadiana reafirma-se no tipo de
relações entre as comunidades indígenas do Sudoeste peninsular e o crescente domínio romano. Toda a área interior do Sudoeste é nas vésperas da conquista ro-mana, nas três últimas centúrias antes da nossa era, um mundo em conflitos e mudanças, de permanentes ins-tabilidades como as expressas no “banditismo social” e nas “guerras de fome” (Fabião, 1998: 177; 205, 206).
Pelos finais do séc. III / II a.C., associado a ques-tões demográficas (aumento de povoados) e à intensi-ficação da exploração dos recursos, uma fase de insta-bilidade e desestruturação social caracteriza o cenário com que se depararão os exércitos romanos (Id., ibid.). Daí que não devemos reduzir aos ditames da conquis-ta, as problemáticas subjacentes a este período, mas ter em conta as oscilações conjunturais de alcance emi-nentemente local e regional já existentes (situações de instabilidade social, tensão e conflito entre comunida-des hispânicas) às quais a conquista romana se somará (Id., ibid :174). Estas oscilações associam-se segundo Fabião à conjuntura geral de crescimento demográfico, que desde meados do milénio havia determinado uma maior concentração das populações e a implícitos cui-dados defensivos nas estratégias de povoamento (Id., ibid:180).
Neste contexto préexistente, a participação das populações indígenas no processo de conquista romana resulta em vários níveis de oposição ou de participação. Estas oscilações e a escala de análise do processo de ro-manização nestes povoados serão aferidas pelo tipo de abandono que os encerra e na forma como se observa a conjugação da duplicidade do mundo pré-romano: sob o seu forte fundo indígena (componente “fechada”); sob a componente “aberta” a intercâmbios, assimilações e transformações (Id., ibid :174).
A cronologia do povoado fortificado do Caste-lo das Juntas suscita de imediato um enquadramento histórico, cuja descrição induzida das fontes literárias greco-itálicas (em função de Roma e das suas facções), merecendo a necessária relativização, não pode tam-bém ser excluída do discurso explicativo que procura entender que papel desempenhava este povoado em tão conturbados tempos.
Relativamente ao século III a.C., as fontes clás-sicas referem, no âmbito da Segunda Guerra Púnica, o recurso a mercenários designados como Celtas por par-te dos Turdetanos, possivelmente Célticos ou Lusitanos das terras a Sul do Tejo (Diodoro, Bib. Hist., XXV, 10, cit. in Berrocal-Rangel, 1992: 42), facto que se repetiria segundo Tito Lívio quando refere a adesão da Betúria à revolta turdetana de 197 a . C. (Ab Ur. Con., 33, 21, 6, cit. in Id., 1992: 42). As incursões lusitanos, a par destas
339
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
participações nas acções de resistência turdetanas, terão levado segundo Berrocal–Rangel, às primeiras acções romanas na Betúria pelo menos desde meados do século II a .C., uma vez que até ao início desse século não terão ultrapassado a norte da Serra Morena (Id., ibid.: 44).
Ao longo da primeira metade do séc. II a.C. suce-dem-se os confrontos na sequência das incursões lusita-nas nas terras da futura Bética, levando a que por volta de 189-185 a.C. segundo o relato de Tito Lívio (Ab Ur. Con. 39, 30, in Id., 1992:), a estratégia romana promo-va uma consolidação defensiva com domínio sobre as terras béticas, a partir das quais realizavam incursões punitivas sobre os Lusitanos, localizados no interior da Betúria. Sucedem-se até 155 a.C. as notícias de lutas entre Romanos, Lusitanos e outros povos hispânicos (Célticos e Vetões) (Ab Ur. Con., 41, 7, in Id., 1992:).
A segunda metade do séc. II a.C. permanece ain-da mais marcada pelas hostilidades denominadas de Guerras Lusitanas. Para Berrocal-Rangel, desde 155 a.C. e anos seguintes as incursões “lusitanas” seriam obra de Célticos e Lusitanos, que habitavam no Sado/Guadiana inferior, sobretudo no Alto Alentejo e Su-doeste da Baixa Estremadura, facto que explicaria a to-mada da Nertóbriga Betúrica (152 a.C.) e confirmando o reinício da ofensiva romana a Norte da Serra Morena Ocidental, invertendo as falhadas tentativas na primeira metade desse século (Id., ibid: 46-47). Nestas contendas a Betúria teria funcionado como vanguarda e ponto de apoio dos Lusitanos, o que leva em 141 a.C., o pretor Serviliano a atacar a Betúria e as terras do Sado e Algar-ve (Apiano, Iber., 68-69, in Id., 1992: 48).
Ficam então sob controlo romano vários aglo-merados do Sudoeste peninsular, mas será a partir de 139 a.C., com Serviliano Cipião e posteriormente com Décimo Júnio Bruto (138-136 a.C.), que novos êxitos militares romanos servem de base à procura de ocu-pação de novos territórios. No último terço do século II a.C., a região do Sado /Guadiana torna-se uma re-taguarda romana e é dado como implícito o controle da região a sul deste (Fabião, 1998:207, 208), conside-rando-se efectiva a ocupação da área estremenha es-panhola e as áreas alentejanas vizinhas, e de que seria exemplo o deditio de Alcântara (104 a.C.)
Essa aparente “estabilidade” é posta em causa de modo marcante na área em estudo pelas duas princi-pais guerras civis da Roma republicana. Parece assumir particular relevo o facto de algumas das contendas ser-torianas (82-72 a.C.), ao lado de contingentes indíge-nas, viriam a ter lugar no actual território português, no Alentejo e Algarve. Deste modo, o domínio efec-tivo do Sudoeste por parte de Roma só foi atingido
após a resolução das Guerras Sertorianas, quando os exércitos de Metelo avançaram desde a região do ac-tual Algarve subindo o Guadiana até à cidade de Dipo. Para o séc. I a.C. e as Guerras Sertorianas, são várias as fontes escritas, como algumas as realidades arqueo-lógicas correlacionadas. As cunhagens de moeda no início dos conflitos em Myrtillis, o depósito de ânfo-ras republicanas na mesma vila (Fabião, 1987) ou as glandes plumbae aí encontradas, à semelhança de outros locais do Sudoeste (Guerra, 1987:168).
Será com a retomada de posições por parte de Roma, que se dará a implantação de estruturas de con-trole territorial e a reestruturação dos espaços antes pertencentes ao partido sertoriano. Um controle sim-bolizado na margem esquerda do Guadiana através de estabelecimentos como o Castelo da Lousa (70/60 a.C. inícios séc. I d.C.).
8.9. Um compasso de espera entre doismundos
Obviamente não nos cabe aqui procurar conju-gar linearmente os episódios das Fontes ao entendi-mento da ocupação humana no Castelo das Juntas. O seu cruzamento não deixa no entanto de ser uma refe-rência obrigatória para o entender ou procurar explicar a sua fundação e abandono.
O reforço defensivo que marca a segunda fase de ocupação do Castelo das Juntas (torreão e eventuais re-parações da muralha) traduz claramente as circunstân-cias bélicas do séc. II a.C., ao passo que a última fase do povoado é marcada por preocupações eminentemente domésticas no interior do povoado (embora o sistema defensivo permaneça em uso), associada a um conjunto material de abandono do séc. II / I a.C.. A inversão (?) destas preocupações poderia pois ser consentânea com o domínio romano na viragem dos séculos.
Pelo relato das Fontes poderíamos esperar um quadro marcial a propósito do abandono das Juntas, mas tal não acontece, o que não será surpreendente se tivermos em linha de conta uma política de Roma vi-sando sobretudo o sincretismo com as populações in-dígenas. A forma como o Castelo das Juntas conduziu a sua relação na etapa final com a presença romana espelha-se por um lado pelo tipo de abandono obser-vada e essencialmente no modo como podemos corre-lacionar os materiais romanos das Juntas.
Sobre estes, foi amplamente demonstrado que os mesmos se dispõem, quer nos âmbitos domésticos ou na lixeira no exterior do povoado, claramente imiscuídos num conjunto local e regional indígena. Usando como
A MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA:PARTICULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA EM ESTUDO NO SUDOESTE E NA BETURIA CÉLTICA
340
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
critério sociocultural a presença, ausência e percenta-gens desses materiais, assim como a sua evolução e re-flexo nas produções locais, concluímos estar perante um povoado pré-romano tardio num compasso de espera entre uma fase aditiva a uma fase sincrética com os ele-mentos culturais romanos, segundo a terminologia de Berrocal-Rangel (Berrocal-Rangel, 1989/1990:). Uma fase aditiva (sécs. III / II a.C.), estabelecida por rela-ções esporádicas, directas ou indirectas, entre indígenas e romanos, sem transformações significativas na cultura receptora (hispânica), e uma fase sincrética que segui-mento das fortes relações estabelecidas com o apoio a Sertório, estabeleceria desde os finais dos sécs. II / I a.C. novas características culturais exógenas e a sua trans-formação dentro de padrões indígenas, em produtos e soluções novas (Id., ibid.:108,109).
No Castelo das Juntas não parece ter havido lu-gar à concretização desse sincretismo. Na constatação desse compasso de espera, nada nos parece reflectir a concretização do novo mundo romano na vivência da população das Juntas. Até ao seu final a feição indí-gena da componente cerâmica contrasta não só com essa reduzida presença de materiais itálicos, como se acentua por um conjunto de ausências. As ânforas, entre os elementos por regra associados aos processos de conquista e romanização (sem querermos valorizar excessivamente este termo), marcarão talvez a mais significativa, quer pela carga económica que acarre-tam, quer pelo eventual significado sociocultural que
desempenham entre os povoados célticos do interior.Uma prevalência indígena estabelecida para lá de
um âmbito de maior “resistência territorial” definido na conjuntura das chamadas Guerras Lusitanas (séc. II a.C.), entrando pelo séc. I a.C. para aparentemen-te findar por altura da Guerra de Sertório, ou poucos anos após esta, como nos indicam o denário cerrado de 79 a.C. e o asse de 100/80 a.C. na lixeira da sondagem 1. Neste âmbito se enquadra o abandono do povoado. Um abandono necessariamente observado com a re-tomada de posições por parte de Roma sobre as áreas sertorianas, com a implantação vizinha de estruturas de controlo territorial como o Castelo da Lousa, o mais digno representante na região do novo poderio, cuja ascensão vem a par do fim do Castelo das Juntas.
Nesse importante exercício e exemplo de au-toridade de Roma nos limites ocidentais da margem esquerda do Guadiana, o fim do Castelo das Juntas e das etapas pré-romanas explica-se numa reestrutu-ração do(s) espaço(s) e do(s) território(s). Não terá sido um fim directamente bélico, não se atestam níveis de incêndio ou outros nesse sentido, nem tão pouco um abandono em fuga, deixando tudo para trás. Mas, aparentemente o povoado optou ou terá sido forçado ao seu abandono, num desfecho possível entre a hete-rogeneidade de caminhos com que se fixaria o novo poderio romano na região, a partir do qual resultará no primeiro milénio da nossa Era um mundo diferente na margem esquerda do Guadiana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
343
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1. Considerações finais
A minimização patrimonial da construção da Barragem do Alqueva, promovida pela EDIA, S.A., contribuiu de forma substancial para o conhecimento da ocupação Proto-Histórica, na margem esquerda do Guadiana.
A famosa e polémica cota de 152 m das águas do Alqueva determinou uma amostra de sítios na mar-gem esquerda do Guadiana, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, situados em pequenas plataformas, sobranceiras a pequenos ribeiros subsidiários daquele grande rio do Sul, ou numa península de dimensões razoáveis, como é o caso do Castelo das Juntas, cercada pela importante ribeira do Alcarrache, que faz a liga-ção entre o rio Guadiana e a área situada mais a este, à semelhança da ribeira do Ardila.
Nesse sentido, confirmou-se a existência de uma arqueologia dos rios, como processo de estudo daqueles elementos estruturantes do povoamento proto-histó-rico, em torno dos quais e de acordo com os esquemas de implantação observados, se anotou a localização de três necrópoles cistóides, atribuíveis à Idade do Bronze e se apresentou uma proposta de povoamento biparti-do, no último terço da I milénio a.C..
As sepulturas das Altas Moras, Monte Novo e Monte da Ribeira reflectem um comportamento que tanto privilegia a experiência técnica, como a manu-tenção de um conjunto de tradições construtivas. As-sim, para além da arquitectura, as práticas funerárias observadas, no conjunto das necrópoles estudadas, têm grandes semelhanças com os outros contextos funerá-rios no Sudoeste Peninsular, comprovando-se, assim a existência de estreitas ligações sociais entre diferentes comunidades.
Se o nosso conhecimento sobre as necrópoles é ainda assim reduzido, a quase ausência de dados con-cretos sobre os povoados correspondentes, não nos permite estabelecer com objectividade o/s modelo/s de transformações sociais, nem distinguir com clareza os elementos de mudanças ou de permanências, durante a Idade do Bronze, na margem esquerda do Guadiana.
No que diz respeito à Idade do Ferro, a ocor-rência concentrada nessa área entre o Alcarrache e o Zebro, limitada pelo Guadiana e não se distendendo para lá do Ardila, saudou-nos com um padrão de po-voamento a uma escala eminentemente local, no qual
os pequenos povoados abertos das Ribeiras do Zebro e de Santa Maria aparentam pertencer a um âmbito territorial que poderia ser estruturado a partir do Cas-telo das Juntas, ou advir este de uma reestruturação do mesmo a partir dos finais do séc. III e séc. II a.C..
O estudo da cultura material destes dois tipos de povoados, para os quais pressupunhamos inicialmente uma maior separação cronológica, permitiu aproximá--los sob um conjunto artefactual com muitos elemen-tos comuns, que comprova, uma vez mais, a ocorrência de uma marcada linha de “continuidade” observada, no Sudoeste, ao longo da segunda metade do I milénio a.C., matizando aspectos de tradição orientalizante e feição meridional, com aspectos de feição mais seten-trional, numa gramática oleira a que se tem denomina-do de tradição local / regional.
Com excepção do pequeno povoado dos Serros Verdes 4, enquadrável entre os sécs. VI e V a.C., todos os restantes habitats abertos situam-se num âmbito cronológico que poderia ir desde meados do séc. IV a meados do séc. II a.C., devendo incidir essencialmente a sua ocupação e abandono em torno do séc. III, iní-cios do II a.C.. Já o encontro destes sítios com as fases iniciais do Castelo das Juntas, será mais problemático, devido à escassez de materiais arqueológicos associa-dos aos momentos mais recuados do povoado, embora se coloque a hipótese de ter tido lugar num intervalo de tempo situado em torno do séc. III a.C. e inícios do II a.C..
À margem desses eventuais encontros e/ou de-sencontros contextuais, a sua interpretação sugere a existência de uma identidade cultural, bem observá-vel nos materiais arqueológicos e nos critérios de im-plantação e estratégias de povoamento na região, na margem esquerda do Guadiana, prolongando-se esse vínculo até às vésperas do domínio romano na região.
Nesse sentido, será correcto supor um modelo de subordinação dos pequenos habitats aos povoados fortificados da região, seja num esquema de maior imposição, seja num esquema de maior coordenação territorial. As rupturas, com o abandono destes peque-nos povoados, poderão ter ocorrido com a marcha de-finitiva da conquista romana, levada a cabo a partir do séc. II a.C., somada à instabilidade social já entretanto reinante.
Parece assim solidificar-se ao longo da Idade do Ferro, na margem esquerda, um povoamento alicerça-
CONSIDERAÇÕES FINAIS
344
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
do e disposto em função da sua acessibilidade a im-portantes eixos de comunicação (rotas fluviais e rotas terrestres) e da exploração dos recursos agropecuários e mineiros disponíveis, primeiro numa escala eminen-temente local e depois numa escala regional e supra--regional. Um povoamento interrompido pela reestru-turação dos espaços e do território na primeira metade do séc. I a.C..
Os trabalhos promovidos no Bloco 9 permiti-ram dar visibilidade, sobre um povoamento até aqui exclusivo dos castros e castelos da região, aos pequenos povoados abertos, aferindo deste tipo de implantação e de exploração do território ao longo do I milénio a.C.. As suas cronologias centradas no séc. III a.C. de-
monstraram por outro lado que semelhante estratégia está a par do povoamento fortificado, embora acabe por ser interrompida no conturbado séc. II a.C., com a aparente eclosão de um processo de acastelamento da região, que se traduzirá na última expressão territorial pré-romana, embora não lhe seja ainda possível deter-minar com exactidão os seus contornos.
Perante a perda deste importante património, os trabalhos arqueológicos realizados podem contribuir decisivamente para o estudo das transformações so-ciais ocorridas durante a Proto-História, na margem esquerda do Guadiana.
Lisboa e Castro Verde, 26 de Janeiro de 2004
BIBLIOGRAFIA Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
BIBLIOGRAFIA
AAVV (1993) Arquitectura popular em Portugal, vol. 3, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses.
AAVV (1996) De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a.C., Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia.
Alarcão, Jorge de (1988) Roman Portugal, Warminster, Aris & Phillips Ltd, England.
Alarcão, Jorge de (1974) Cerâmica Comum local e regional de Conimbriga, in Biblos, nº 8 (suplemento), Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras, Coimbra.
Alarcão, Jorge de (1996) Para uma Conciliação das Arqueologias, Edições Afrontamento, Porto.
Alarcão, Jorge de (2001) Novas perspectivas sobre os Lusitanos (e outros mundos), Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 4, n.º 2, IPA, Lisboa, 293-348.
Alarcão, Jorge de; Alarcão, Adilia (1966) O espólio da necrópole luso-romana de Valdoca (Aljustrel), in Conimbriga, vol. V, p. 7-104.
Albergaria, J., Valera, A., Lago, M. (1998) Estrela 1 (Moura) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia Lda., policopiado.
Albergaria, João (2000) Monte da Ribeira 2 (Mourão) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia, Lda, exemplar policopiado.
Albergaria, João; Melro, Samuel (2002) Trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do Bloco 9. Al-madan, 2ª série, nº11, Centro de Arqueologia de Almada, Almada, p.128-133.
Albergaria, João; Melro, Samuel; Ramos, Ana Cristina (1999) Castelo das Juntas (Moura). Relatório dos trabalhos arqueológicos. 1ª Campanha, Era Arqueologia Lda., policopiado.
Albergaria, João; Melro, Samuel; Ramos, Ana Cristina (2000) Escavações arqueológicas no Castelo das Juntas (Moura). Era--arqueologia, vol.1, ed. Colibri, p.38-51.
Alfenim, Rafael (1988) Uma ara funerária do Castro dos Ratinhos (Moura). Ficheiro Epigráfico, 26, nº118, foto 118.
Almagro Basch, Martin (1960) Manual de História Universal. Tomo 1 – Prehistoria. Ed. Espasa-Galp, S.A., Madrid.
Almagro Gorbea, Martín (1990) El período orientalizante en Extremadura. La Cultura tartésica y Extremadura, Cuadernos Emeritenses, vol.2, p.85-126.
Almagro-Gorbea, Martín (1977) El Bronce Final Y el Período Orientalizante en Extremadura, Consejo Superior de Investigacio-nes Cientificas, (Biblioteca Praehistorica Hispanica 14, Madrid.
Almagro-Gorbea, Martín (1994) Urbanismo de la Hispania Celtica. In Castros y Oppida en Extremadura. Complutum Extra 4, Editorial Complutense.
Almagro-Gorbea, Martín, (1996) - Ideología y Poder en Tartessos y el mundo ibérico, Discurso de Ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid.
Almagro-Gorbea, Martín; Martín, Ana Mª (1994) Castros Y Oppida en Extremadura, Editorial Complutense, extra 4, Madrid.
Almargo-Gorbea, Martin Bravo, A.M. (1994) Medellin 1991. La ladera norte del Cerro del Castillo, In Castro y oppida en Ex-tremadura, Extra Complutum, vol.4, p.77-128.
Almagro-Gorbea, Martín, Ruiz Zapatero (Edit.) (1992) Paleoetnologia de la Península Ibérica. Actas de la Reunión celebrada en la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense, Madrid, 13-15 diciembre de 1989, Complutum, 2-3, Universidade Complutense de Madrid, Madrid, p.339-345.
Amaro, C. (1993) Vestígios Materiais orientalizantes do claustro da Sé de Lisboa. Estudos Orientais. IV - Os Fenícios no ter-ritório Português. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa. pp. 183-192.
Ambrona, Emílio (2000) Rocha da Vigia 1. Relatório 1999, Degebe, Associação de Valorização do Património Cultural, policopiado.
347
BIBLIOGRAFIA
348
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Armbruster, Bárbara; Parreira, Rui; Correia, Virgílio Hipólito (1993) O “Tesouro” da Herdade do Álamo. Inventário do Museu Nacional de Arqueologia, Colecção de ourivesaria, 1º volume (Do Calcolítico à Idade do Bronze), Instituto Português de Mu-seus, Lisboa, p.74-82.
Arnaud, José Morais; Martins, A., Ramos, C. (1994) Necrópole da Nora Velha (Ourique). Informação da 1ª Campanha de Escavação, Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa 1993), A.A.P., Lisboa, p.199-210.
Arnaud, José Morais (1968) O castelo velho de veiros (Estremoz). Notícia de identificação, Revista de Guimarães, Vol. LXXVIII, p.61-76.
Arnaud, José Morais (1969) O Castelo Velho de Veiros (Estremoz). Campanha preliminar de escavações de 1969. Actas das Iª Jornadas Arqueológicas, Lisboa, vol. II, p.309-328.
Arnaud, José Morais (1979) Coroa do Frade: fortificação do Bronze Final dos arredores de Évora - Escavações de 1971-72. Madrider Mitteilungen, p.56-100.
Arnaud, José Morais (1982) O povoado calcolitico de Ferreira do Alentejo no contexto da bacia do Sado e do Sudoeste Penin-sular. Arqueologia, nº 06, Porto, GEAP, p.48-64.
Arnaud, José Morais (1992) Nota sobre uma necrópole do Bronze II do Sudoeste dos arredores de Ervidel (Aljustrel), Vipasca, 1, p.9-17.
Arnaud, José Morais, Almeida, Pedro Freire, Bugalhão, Jacinta (2001) Intervenções arqueológicas nas áreas a florestal pela So-porcel. Actas das IV Jornadas Arqueológicas (1990), Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, p.75-82.
Arnaud, José Morais, Bugalhão, Jacinta; Almeida, Pedro Freire de (1990) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do protocolo estabelecido entre o IPPC e a Soporcel (Outubro 1989/Maio 1990). Exemplar policopiado, Departamento de Arqueologia do IPPC, Lisboa.
Arnaud, José Morais; Gamito, Teresa Júdice (1974-1977) Cerâmicas estampilhadas da Idade do Ferro do Sul de Portugal, 1 – Cabeço de Vaiamonte/Monforte. O Arqueólogo Português, Lisboa, sér.3, vol.VII-IX, p.165-202.
Arruda, Ana Margarida (1993) A ocupação da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém no contexto da Expansão fenícia para a fachada atlântica peninsular. Estudos Orientais, Vol. IV, Lisboa, Instituto Oriental, p.193-214.
Arruda, Ana Margarida (1993) A romanização. Os primeiros contactos. História de Portugal, coord. Medina, João, dir.Gonçalves, V.S.,vol.II, Lisboa, Círculo de Leitores, p.161-174.
Arruda, Ana Margarida (1996) Os fenícios no Ocidente. De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a.C., Museu Nacional de Ar-queologia, p.35-45.
Arruda, Ana Margarida (1997) As cerâmicas áticas de Castro Marim, Lisboa: Colibri.
Arruda, Ana Margarida (1997), “Os núcleos urbanos litorais da Idade do Ferro no Algarve”, Noventa séculos entre a serra e o mar, Lisboa, IPPAR, p.243-256.
Arruda, Ana Margarida (1999-2000) – Los fenicios en Portugal: Fenicios y mundo indígena en el Centro y Sur de Portugal (siglos VIII-VI a.C.). Barcelona: Publicaciones el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra (Cuadernos de Arqueo-logía Mediterránea; 5-6).
ARRUDA, Ana Margarida; BARROS, Pedro; LOPES, Virgílio (1998) “Cerâmicas áticas de Mértola”, Conimbriga, n.º 37, pp. 121-149. Coimbra.
Arruda, Ana Margarida (2001) A Idade do Ferro pós-orientalizante no Baixo Alentejo, Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 4, n.º 2, Lisboa, IPA, p.207-291.
Arruda, Ana Margarida, FREITAS, Vera Teixeira De, SÁNCHEZ, Juan I. Vallejo (2000) As cerâmicas cinzentas da Sé de Lisboa, Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 3, n.º 2, IPA, Lisboa, p.25-59.
Arruda, Ana Margarida., Guerra, A., Fabião, C., (1995), “O que é a II Idade do Ferro no Sul de Portugal”, Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, TAE, Vol. 35(2), Porto, SPAE, p.237-257.
Arruda, Ana Margarida; Catarino, Helena (1981) Nota Acerca De Alguns Materiais Da II Idade Do Ferro Do Complexo Arqueológico Dos Vidais (Marvão), Clio, Lisboa, Vol. 3, p.183-188.
Arruda, Ana Margarida; Catarino, Helena (1982) Cerâmica Da Idade Do Ferro Da Alcáçova De Santarém, Clio , Lisboa, Vol. 4, p.35-39.
BIBLIOGRAFIA
349
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Arruda, Ana Margarida; Freitas, Vera Teixeira de; Vallejo Sánchez, Juan I. (2000) As cerâmicas Cinzentas da Sé de Lisboa, Revista Portuguesa de Arqueologia, IPA, Vol. 3, nº 2.
Arruda, Ana Margarida; Sousa, Elisa de (2003) Cerâmica de paredes finas da Alcáçova de Santarém, Revista Portuguesa de Arqueologia, IPA, Vol. 6, nº 1, p. 235-286.
Associação Dos Arquitectos Portugueses (1993), Arquitectura tradicional em Portugal, vol.3 Alentejo e Algarve, 3ªed., Lisboa.
Balfet, H.; Fauvet-Berthelot, M.-F.; Monzon, S. (1983) - Pour La Normalisation De La Description Des Poteries, Paris, Musée De l’Homme, Laboratoire d’Ethnologie, Département De Technologie Comparée, Éditions Du CNRS.
Barker, Philip (1989) Techniques of archaeological excavation. 2 edº, Batsford Book, Londres, p.285.
Barrett, John C. (1994), Defining domestic space in the Bronze Age of Southern Britain, in Parker Pearson, M. & Richards, C. (eds.) Architecture and Order. Approaches to Social Space. London: Routledge, p.87-97.
Barrio Martin, Joaquin (1993), Architecture de terre du village preromain de Cuellar: prelevement et conservation (Segovia, Espagne), in Comunicações da 7ª Conferência Internacional sobre o estudo e conservação da arquitectura de terra. Silves: C.M.Silves, p.310-316.
Barros, L., Cardoso, J. L. , Sabrosa, A. (1993)- Fenícios na Margem sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado do Almaraz - Almada. Estudos Orientais IV - Os Fenícios no território Português. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa. pp. 143-182.
Beirão, Caetano de Melo (1972) Cinco aspectos da Idade do Bronze e a sua transição para a Idade do Ferro no Sul do país, Actas das Jornadas Arqueológicas, 2º, Lisboa,. Lisboa, Vol. 1, p.193-221.
Beirão, Caetano de Melo (1986) Une Civilisation Proto-Histórique Du Sud Du Portugal (1ª Age Du Fer), Paris, De Boccard.
Beirão, Caetano de Melo (1990) Epigrafia da I Idade do Ferro do Sudoeste da Península Ibérica: novos dados arqueológicos, Estudos orientais, vol.1. Presenças orientalizantes em Portugal. Da pré-história ao período romano. Lisboa, Instituto Oriental p.107-118.
Beirão, Caetano de Melo, Gomes, M. Varela (1984) Coroplastia da I Idade do Ferro do Sul de Portugal, Volume d’Hommage au géologue Georges Zbyszewski, Editions Recherce sur les Civilizations, Paris, 431-468.
Beirão, Caetano de Melo; Dias, M. N. A.; Coelho, L. (1970) Duas Necrópoles Da Idade Do Ferro Do Baixo Alentejo: Ourique. Notícia Preliminar, O Arqueólogo Português, Lisboa, Série III, 4, P. 175-219.
Beirão, Caetano de Melo; Gomes, M.V. (1983) A Necrópole Da Idade do Ferro do Galeado (V.N. De Mil Fontes), O Arqueólogo Português, Série IV, 1, Lisboa, p.207-266.
Beirão, Caetano de Melo; Silva, C. T. da; Soares, J.; Gomes, M. V.; Gomes, Rosa V. (1985-86) Um Depósito Votivo da IIª Idade do Ferro no Sul de Portugal e as suas relações com as culturas da Meseta, Veleia, 2-3, p.207-221.
Beirão, Caetano de Melo; Silva, C. T. da; Soares, J.; Gomes, M. V.; Gomes, Rosa V. (1985) - Depósito Votivo Da IIª Idade Do Ferro De Garvão, O Arqueólogo Português, Lisboa, Série IV, 3, p.45-136.
Belarte Franco, Maria Carme (1997), Arquitectura domèstica i Estrutura Social a la Catalunya Protohistòrica (Arqueomediterània 1). Barcelona: Universitat de Barcelona.
Bendala Gálan, M. (1991) Tartessos. Veinte años de Arqueologia en España (Roano, ed.), B.A.E.A.A., vol.30-31, Teruel, 1986, p.99-110.
Berrocal-Rangel, Luis (1988) Excavaciones en Capote (Betúria Céltica), I, Série Nertobriguense, vol.1, p.84.
Berrocal-Rangel, Luis (1988) Hacia la definición arqueológica de la “Beturia de los Célticos”: la Cuenca del Ardila. Espacio Tiempo y Forma, Série II, Vol. 1, p.57-69.
Berrocal-Rangel, Luis (1989) El asentamiento céltico del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz), Cuadernos de Prehis-toria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 16, p.245-295.
Berrocal-Rangel, Luis (1990) Cambio Cultural Y Romanizacion En El Suroeste Peninsular, Anas, Vol. 2/3, P.103-122.
Berrocal-Rangel, Luis (1992) Los Pueblos Celticos Del Suroeste de La Peninsula Iberica, Madrid, Complutum Extra 2, Editorial Complutense.
BIBLIOGRAFIA
350
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Berrocal-Rangel, Luis (1994) El Altar Prerromano del Castrejón de Castrejón de Capote. Ensayo Etno-Arqueológico de un Ritual Céltico en el Suroeste Peninsular. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid (Excavaciones Arqueológicas en Capote (Betúria Céltica), vol. II.
Berrocal-Rangel, Luis (1994) El oppidum de Badajoz: ocupaciones protohistóricas en la Alcazaba, Castros y Oppida en Extre-madura, Almagro-Gorbea, M.; Martín, A. M.ª (dir.), Madrid, Complutum, Extra 4, Editorial Complutense, p.143-188.
Berrocal-Rangel, Luis (1994) La Beturia: definición y caracterización de un territorio prerromano, Celtas y Túrdulos; La Beturia, Monografías Emeritenses, 8, Mérida.
Berrocal-Rangel, Luis (1994) La falcata de Capote y su contexto: Aportaciones a la fase tardía de la Cultura céltico-lusitana, Madrider Mitteilungen, Mainz am Rhein. 35, 1994, p.258-291.
Berrocal-Rangel, Luis (1994) Oppida y Castros de la Beturia Celtica, Castros y Oppida en Extremadura, Almagro-Gorbea, M.; Martín, A. M.ª (dir.), Madrid, Complutum, Extra 4, Editorial Complutense.
Berrocal-Rangel, Luis (2000) Dinámicas demográficas y procesos de colonización en el Alentejo y Extremadura. Actas do 3º Congresso Nacional de Arqueologia, vol.5, Proto-História da Península Ibérica, ADEC, Porto, p.247-264.
Berrocal-Rangel, Luis; Gardes, P. (Eds.) (2001) Entre Celtas e Íberos. Las poblaciones protohistóricas de las Galias e Hispania. Real Academia de la Historia: Casa de Velázquez.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. (1975) – Tartessos y los orígenes de la Colonización fenicia en la Península Ibérica. Salamanca.
Biscaye, P. E. (1965) Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans, in Geol. Soc. Am. Bull., 76, pp. 803-832.
Bonet, Helena; Pastor, Ignacio (1984), Técnicas constructivas y organización del hábitat en el poblado ibérico de Puntal dels Llops (Olocau, Valencia), Saguntum, Pseles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, nº18, p.163-182.
Braga, J. M. R.; Monge Soares, A. (1981) Indícios De Uma Ocupação Da II ª Idade Do Ferro No Castelo De Serpa, Arqueo-logia, Porto, 4, p.116-123.
Bubner, Thomas (1979) Ocupação campaniforme do Outeiro de São Bernardo (Moura). Ethnos, Lisboa, nº8, pp.139-151.
Buikstra, J.E.; Ubelaker, D.H. (1994) Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas, Archaeological Survey, Series 44.
Cabral, João Manuel Peixoto (1985) Castelo Velho de Safara: vestígios da prática da metalurgia, Arqueologia, Porto, 11, p.87-94.
Calado, Manuel (1993) Carta Arqueológica do Alandroal, CM do Alandroal / ARQUIZ.
Calado, Manuel; Rocha, L. (1997) Povoamento da Idade do Ferro no Alentejo Central, Cadernos de Cultura, 1, Reguengos de Monsaraz, p.99-130.
Calado, Manuel, Ribeiro, Ana (2000) Relatório da escavação do povoado da Idade do Bronze de Cocos 12 (Alandroal), Fundação da Universidade de Lisboa, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Lisboa, policopiado.
Calado, Manuel; Mataloto, Rui (2000) Relatório da escavação do povoado proto-histórico da Rocha da Vigia 2 (Reguengos de Mon-saraz). Campanha 2 (2000)., Fundação da Universidade de Lisboa, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Lisboa, policopiado.
Calado, Manuel; Mataloto, Rui (2001) Relatório da escavação do povoado proto-histórico do Monte do Outeiro 2 (Reguengos de Mon-zaraz). Campanha 1 (2000), Fundação da Universidade de Lisboa, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Lisboa, policopiado.
Calado, Manuel (2002) Povoamento pré e proto-histórico da margem direita do Guadiana. Al-madan, 2ª série, nº11, Centro de Arqueologia de Almada, Almada, p.122-127.
Calado, Manuel; Mataloto, Rui; Rocha, Artur (2002) Relatório da escavação do povoado proto-histórico da Vigia 2 (Reguengos de Monsaraz). Campanha 3 (2001)., Fundação da Universidade de Lisboa, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Lisboa, policopiado.
Caldeira, B. (1997) Aldeia Heróica. Santo Aleixo da restauração.
Cameron, Catherine M. (1993) Abandonment and archaeological interpretation, in Cameron, C. M. & Tomka, S. A. (eds.) Abandonment of settlements and regions. Ethnoarchaeological and archaeological approaches. Cambridge: CUP, 3-7.
BIBLIOGRAFIA
351
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Canhão, Valdemar (2000) Acompanhamento arqueológico do restabelecimento da rede viária submersa pela Albufeira do Alqueva. Outubro1999/Março 2000. Ocrimira, , Castelo de Vide, policopiado.
Canto, Alicia M. (1995) Extremadura Y La Romanización, In Extremadura Arqueológica, IV, Madrid.
Cardoso, Guilherme (1991) Carta Arqueológica do Concelho de Cascais, Câmara Municipal de Cascais.
Cardoso, João Luís (1993), A presença oriental no povoamento da Idade do Ferro na região ribeirinha do Estuário do Tejo, Estudos Orientais, Vol. I, Lisboa, Instituto Oriental (UNL), p.119-134.
Cardoso, João Luís (1996) A Idade do Ferro no Concelho de Almada. Estação da Quinta Da Torre, Al-Madan, 5, IIª Série, p.200.
Cardoso, João Luís; Soares, A. Monge; Araújo, Maria de Fátima (2002) O espólio metálico do Outeiro de S. Bernardo (Moura): uma reapreciação à luz dos velhos documentos e de outros achados. O Arqueólogo Português, série IV, vol.20, ed. Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, p.77-114.
Carneiro, André M. (1998) Estabelecimentos Mineiros Romanos na Bacia do Guadiana, Vipasca, 7, p.115-121.
Celestino Pérez, Sebastián; Jiménez Ávila, F.J. (1993) El palacio santuario de Cancho-Roano, IV. El sector norte. Badajoz.
Chazelles, Claire-Anne & Roux, Jean-Claude (1988), Lémploi des adobes dans l’aménagement de l’habitat, à Lattes, au IIIe s.av.n.è.: les sols et les banquettes, in Lattara, 1. Lattes: Association pour la Recherce Archéologique en Languedoc Oriental, 161-173.
Chazelles, Claire-Anne (1993), Savoir-faire indigènes et influences coloniales dans l’architecture de terre antique de l’Extrème--Occident (Afrique du Nord, Espagne, France Méridionale), in Comunicações da 7ª Conferência Internacional sobre o estudo e conservação da arquitectura de terra. Silves: C.M.Silves, 159-165.
Chazelles, Claire-Anne (1996), Les techniques de construcion de l’habitat antique de Lattes”, in Py, M. (ed.) Lattara, 9. Lattes: Association pour la Recherce Archéologique en Languedoc Oriental, 259-328.
Chazelles, Claire-Anne (1997), Les maisons en terre de la Gaule méridionale, Montagnac, Editions Monique Mergoil.
Chazelles, Claire-Anne; Roux, Jean-Claude (1988), L’emploi d’adobe dans l’aménagement de l’habitat, à Lattes, au IIIe s. av. n. è.:les sols et les banquettes, in Mélanges d’Histoire et d’Archeologie en Languedoc Oriental, Lattes, p.161-173.
Ching, Francis (1998), Arquitectura. Forma, espaço e ordem. S. Paulo: Martins Fontes.
Ching, Francis (1999), Dicionário visual de arquitectura, S. Paulo, Martins Fontes.
Correia, Susana (2002) Intervenções de salvamento na área a afectar pelo regolfo do Alqueva. Blocos 4 e 7 do Plano de Mini-mização de Impactes Arqueológicos. Al-madan, 2ª série, nº11, Centro de Arqueologia de Almada, Almada, p.109-116.
Correia, Virgílio Hipólito (1988/89) A estação da Idade do Ferro do Porto das Lages (Ourique, Beja), Portugália, Vol. IX-X, Porto, IAFLUP, p.81-92.
Correia, Virgílio Hipólito (1989) Um bronze tartéssico inédito: o touro de Mourão, Trabalhos de Arqueologia do Sul, IPPC--SRAS, Évora, pp. 33-48.
Correia, Virgílio Hipólito (1999) Fernão Vaz (Ourique, Beja) Balanço da investigação arqueológica, Vipasca, 8, p.23-31.
Correia, Virgílio Hipólito (2000) Modelos de interpretação e arqueologia proto-histórica. Actas do 3º Congresso Nacional de Arqueologia, vol.5 Proto-História da Península Ibérica, ADECAP, Porto, p.413-428.
Costa, F.A. Pereira da (1868) Notícia de alguns martelos de pedra e outros objectos que foram descobertos em trabalhos antigos da mina de cobre de Rui Gomes, no Alentejo. Jornal de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais, Tomo II, Núm.V, Lisboa, Aca-demia Real das Ciências de Lisboa, p.75-79.
Craterre (1993), “A construção e a arquitectura de terra. Modos de utilização e técnicas”, Actas do Seminário Arquitecturas de Terra, Anexo 1, Museu Monográfico de Conímbriga.
Criado Boado, Felipe (1993) Visibilidad e interpretación del registro arqueológico. Trabajos de Prehistoria, vol.50, Centro de Estudios Históricos, Departamento de Prehistoria, Madrid, p.39-56.
Delgado, Manuela (1971) Cerâmica campaniense em Portugal. Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia, 1970, Coim-bra, Junta Nacional de Educação, 2, p.403-420.
BIBLIOGRAFIA
352
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Dias, M. I. (1998). Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Argilas Especiais de Bacias Terciárias Portuguesas. Disser-tação apresentada à Universidade de Lisboa para a obtenção do grau de Doutor em Geologia, na especialidade de Geologia Económica e do Ambiente. Univ. Lisboa, Portugal, 333p.
Dias, Gabriel (1993a), A terra crua como material de construção, in Comunicações da 7ª Conferência Internacional sobre o estudo e conservação da arquitectura de terra. Silves: C. M. Silves, 304-309.
Dias, Gabriel (1993b), Uso da taipa no Alentejo: apontamentos em defesa da sua reutilização, in Comunicações da 7ª Conferência Internacional sobre o estudo e conservação da arquitectura de terra. Silves: C.M. Silves, 123-128.
Domergue, Claude (1987) Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Peninsule Ibérique, 2 vols, Serie Archaeologie, VIII, Casa de Velázquez, De Boccard, Madrid.
Domergue, Claude (1990) Les mines de la Péninsule Ibérique dans l ´antiquité romaine, Collection de l école française de Rome, vol.127, Palais Farnese.
EDIA (1996) Empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Minimização de Impactes Patrimoniais. Património Arqueológico no Regolfo do Alqueva. Quadro Geral de Referência, EDIA, Beja, Relatório policopiado.
Fabião, Carlos (1987) Ânforas romanas republicanas de um depósito de Mértola no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, O Arqueólogo Português, Lisboa, Série IV, vol. 5, p.125-148.
Fabião, Carlos (1998) O Mundo Indígena E A Sua Romanização Na Área Céltica Do Território Hoje Português, Tese de Doutora-mento apresentada na F.L.U.L em Abril de 1998, Lisboa, Volumes 1,2 e 3, policopiado.
FARIA, António (1994) “Uma inscrição em caracteres do sudoeste achada em Mértola”, Vipasca, nº 3, , pp. 61-63. Aljustrel.
Ferreira, Carlos; Silva, Carlos Tavares da; Lourenço, Fernando Severino; Sousa, Paula (1993) O Património Arqueológico do Dis-trito de Setúbal. Subsídios para uma Carta Arqueológica. Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal, Setúbal.
Fernández Gómez, F. (1997): La Necrópolis de la Edad del Hierro de “El Raso” (Candeleda, Ávila). “Las Guijas, B”. Valladolid. Junta de Castilla y León
Ferreira, O. da Veiga (1971) Um esconderijo de fundidor encontrado no Castro de S.Bernardo (Moura). O Arqueólogo Português, série III, vol.V, p.139-143.
FERNANDES,Isabel Cristina, CARVALHO, A. R. (1995) Cerâmicas baixo-medievais da casa n. º 4 da Rua do Castelo (Pal-mela), Actas das I Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós Medieval, Tondela–1992 p.77-96.
Ferreira, O. Veiga, Ribeiro, E. C. (1971) Acerca dos vasos com janelas triangulares do castro do Cerro Furado (Guadiana), Re-vista de Guimarães, Guimarães, 81 (3-4), Jul- Dez., p.255-260.
Fletcher Valls, D. (1957) Toneles ceramicos Ibéricos, Archivo Prehistoria Levantina, vol. 6, Valencia, p.113-147.
Gamble, Clive, (2001) Archaeology, the basics, Routledge, Londres.
Gamito, Teresa Júdice (1982) A Idade do Ferro no Sul de Portugal. Problemas e Perspectivas, Arqueologia, Porto, 6, p.65-78.
Gamito, Teresa Júdice (1983) Os “Barris Ibéricos” de Portugal, Conimbriga, Coimbra, 22, p.195-208.
Gamito, Teresa Júdice (1987) O Castro de Segóvia (Elvas, Portugal), ponto fulcral na primeira fase das Guerras de Sertório, O Arqueólogo Português, Série IV, vol.5, Lisboa, p.149-160.
Gamito, T. J. (1988), Social complexity in Southwest Iberia 800-300 B.C. The case of Tartessos, BAR, International Series, Vol. 439, Oxford.
Gamito, Teresa Júdice (1990) O concelho de Moura na Proto-História. Moura na Época Romana. Catálogo. Cadernos do Museu Municipal de Moura, nº1, Câmara Municipal de Moura, Moura, p.17-30.
Gamito, Teresa Júdice (1997) A cerâmica de retícula brunida do Castro dos Ratinhos (Moura), O Arqueólogo Português, vol.8/10, Lisboa, p.277-297.
Gamito, Teresa Júdice (2001) As civilizações da Idade do Ferro em Portugal, A Arqueologia Portuguesa nos últimos cem anos, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa.
Gomes, Mário Varela, Monteiro, J. Pinho (1976-1977) As Estelas decoradas da Herdade de Pomar (Ervidel-Beja) - Estudo Comparado. Setúbal Arqueológica Vol II-III: Junta Distrital de Setúbal.
Gomes, Mário Varela (1980) A Idade do Ferro no Sul de Portugal. Epigrafia e Cultura, Folheto do Catálogo da Exposição, Lisboa, MNAE.
BIBLIOGRAFIA
353
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Gomes, Mário Varela (1983) El “Smiting God” de Azougada (Moura) Trabajos de Pré-História, 40, p.199-220.
Gomes, Mário Varela (1989) Oenochoe piriforme dos arredores de Beja, p. 49- 58.Trabalhos de Arqueologia do Sul; n.º 1, Serviço Regional de Arqueologia do Sul, Évora, Instituto Português do Património Cultural.
Gomes, Mário Varela (1990) O Oriente no ocidente. Testemunhos Iconográficos na Proto-História do Sul de Portugal; Smi-tings Gods ou Deuses Ameaçadores. Estudos Orientais, I, Lisboa, Instituto Oriental, p.53-106.
Gomes, Mário Varela e Silva, Armando Coelho Ferreira da (1992) Proto-História de Portugal, Lisboa, Universidade Aberta, 48.
Gomes, Mário Varela (1993) O estabelecimento fenício-púnico do Cerro da Rocha Branca (Silves), Estudos Orientais, IV, Lis-boa, Instituto Oriental, p.73-107.
Gómez Ramos, Pablo (1996), Análisis de escorias férreas: nuevas aportaciones al conocimiento de la siderurgia prerromana en España, in Trabajos de Prehistoria, 53 (2), 145-155.
Gonçalves, J.P., Paço, A. (1962) Castelo Velho do Degebe (Reguengos de Monsaraz) I – reconhecimento Preliminar, Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, 26º, Porto, p.373- 384.
Gonçalves, Victor dos Santos (1987/88) A ocupação pré-histórica do Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz), Portugália, n.s., Vol. IX-X, p. 49-61.
González-Tablas, et. al. (1986) Estudio de la relacion relieve/sistema defensivo en los castros avulenses (finales de la Edad del Bronce – Edad del Hierro), Arqueologia Espacial, 9, p.113-126.
Guerra, Amílcar (1987) Acerca dos projécteis para funda da Lomba do Canho (Arganil), O Arqueólogo Português, série IV, vol. 5, Lisboa: MNAE, p.161-177.
Guillaud, Hubert (1993), Construir em terra cura: técnicas antigas e modernas, in Arquitecturas de terra: triunfos e potencialidades de um material de construção desconhecido, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp.33-48.
Harris, Edward C. (1991) Principios de Estratigrafia Arqueológica. Editorial Crítica, Barcelona, p.227.
Haskin, L.A., Haskin, M.A., Frey, F.A. & Wildman, T.T. (1968) Relative and absolute terrestrial abundances of the rare earths, in Ahrens L.H. (ed.), Origin and distribution of the elements, vol. 1. Oxford: Pergamon, p.889-911.
Heleno, Manuel (1935) Joias Pré-romanas. Ethnos, vol. I, Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, Lisboa, p.230-257.
Hernandez, F.H. (1979) Tonel ibérico procedente del Castro de Villasviejas. Trabajos de Prehistoria, nº36, Madrid.
Jalhay, Eugénio (1931) O tesouro do Álamo. Brotéria, vol.XII (I), p.35-44.
Jiménez Ávila, F.J. (1989-1990) Notas sobre la mineria romano-republicana bajoextremeña: las explotaciones de plomo de la Sierra de Hornachos (Badajoz). Anas, vol.2-3, p-123-134.
Jiménez, Ávila, Javier, Ortega Blanco, José (2001) El poblado orientalizante de El Patomar (Oliva de Mérida, Badajoz). Noticia preliminar, in Ruiz Mata, D. e Celestino Pérez, S. (eds) Arquitectura Oriental y Orientalizante en la Península Ibérica, Sevilha, Centro de Estudios del Próximo Oriente, p.227-248.
Jorge, Susana O. (1990) Complexificação das sociedades e sua inserção numa vasta rede de intercâmbios, Nova História de Portugal das Origens à Romanização, coord. Jorge de Alarcão, Lisboa, p.213-251.
Jorge, Susana O. (1998) A lição de um colóquio. Existe uma Idade do Bronze Atlântico?, Trabalhos de Arqueologia, vol. 10, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa, p.283-286.
Lago, Miguel, Albergaria, J., Valera, A. (1998) Serros Verdes 4 (Moura) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia Lda., policopiado.
Lago, Miguel; Duarte, C.; Valera, A.; Albergaria, J.; Almeida, F.; Carvalho, A.F. (1998) Povoado dos Perdigões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997. Revista Portuguesa de Arqueologia, vol.1, nº1, IPA, Lisboa, p.45-152.
Lago, Miguel (1999) Cerros Verdes 3 (Moura). Relatório dos trabalhos arqueológicos., ERA-Arqueologia, Lisboa, policopiado.
Lane, Paul J. (1994), The temporal structuring of settlement space among the Dogon of Mali: an ethnoarchaeological study, in Parker Pearson, M. & Richards, C. (eds.) Architecture and Order. Approaches to Social Space. London: Routledge 196-216.
Leisner, Georg; Leisner, Vera (1959) Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der Western. Deutsches Archaeoligisches Ins-titut, Abteilung, Madrid, Madrider Forschungen, Band 1/2, Walter de Gruyte, p. 347.
BIBLIOGRAFIA
354
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Lima, J. Fragoso de (1943) Da Arqueologia Proto-Histórica. Alabarda metálica do concelho de Moura. Jornal de Moura, nº810 e 811, de 18 e 25/3/1943.
Lima. J. Fragoso de (1951) Aspectos da romanização do território português da Bética. O Arqueólogo Português, 2.ª Sérien-s, vol.I, Lisboa, Museu Leite de Vasconcelos, pp.171-211.
Lima, J. Fragoso de (1953) O Outeiro de S.Bernardo e a cerâmica campaniforme. O Arqueólogo Português, Série II, vol.2.
Lima, J. Fragoso de (1960) Castro de Ratinhos (Moura, Baixo-Alentejo, Portugal), Zephyrus, Vol.11, Salamanca : Universidad de Salamanca - Facultad de Filosofia y Letras, p. 233-237.
Lima, J. Fragoso de (1988) Monografia Arqueológica do Concelho de Moura. Câmara Municipal de Moura, [s.e.], Moura, p.115.
Lima, Paulo (1992) Património de Portel, 1 – Recenseamento Preliminar (áreas Rurais), Câmara Municipal de Portel.
Lloris, Miguel Beltrán (1990) Guia de la Ceramica Romana, Zaragoza, ed. Portico.
Lobato, João Rodrigues (1961) Amareleja. Rumo à sua História. Évora.
Hourcade, David; Lopes, Virgilio; Labarthe, Jean-Michel (2003) « Mértola : la muraille de l’Âge du Fer », Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 6, nº 1, pp, 175-210.
Lopes, M. Conceição; Carvalho, Pedro C.; Gomes, Sofia M. (1997) Arqueologia do Concelho de Serpa. Câmara Municipal de Serpa, Serpa.
Lopez-Astilleros, Kenia Munoz, (1993) El Poblamiento desde el Calcolitico a la Primera Edad del Hierro en el Valle Medio del Rio Tajo, in Complutum, 4, p. 321-336.
Maass-Lindemann, G. (1999) “La cerámica de las primeras fases de la colonización fenicia en España.” In La cerámica Fenicia en Occidente: Centros de producción y áreas de comercio: Actas del 1 Seminario Internacional sobre Temas Fenicios, Guardamar del Segura 21–24 noviembre de 1997, edited by A.G. Prats, 129–48. Valencia: Direcció General d’Ensenyaments Universitaris i Investigació, Consellería de Cultura, Educació i Ciència.
Machado, João Luis Saavedra (1964) Subsídios para a História do Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcellos O Arqueólogo Português.
Macías, Juan Aurelio Pérez, (1993) Poblados De La Edad Del Hierro En La Sierra De Huelva. Origens e Influencias en la formación de la Baeturia, Trabalhos De Antropologia e Etnologia, Porto, Ed. S. P. A. E., Vol. 33 (3-4), p.393 - 409.
Macias, Santiago (1988) Curriculum vitae do Drº José Fragoso de Lima, in Lima, de José Fragoso de, Monografia Arqueológica do Concelho de Moura, Ed. Câmara Municipal de Moura, Moura.
Macias, Santiago (1994) Escavações arqueológicas no Castelo de Moura: primeiros resultados. Arqueologia en el Entorno del Bajo Guadiana. Actas del Encuentro Internacional de Arqueologia del Suroeste, Huelva: Grupo de Investigacion Arqueologica del Patrimonio del Suroeste, p.673-705.
Maia, Manuel, (1985-1986) Algumas reflexões em torno da Cultura do Sudoeste, In Veleia, 2-3, P. 433-445.
Maia, Maria e Maia, Manuel (1986) - Arqueologia da área mineira de Neves Corvo. Trabalhos realizados no triénio 1982-84. Castro Verde: Somincor.
Maia, Maria e Maia, Manuel (1996) - Arqueologia do couto mineiro de Neves Corvo. In Mineração do Baixo Alentejo. Castro Verde: Câmara Municipal, p. 83-93.
Marks, Anthony E. (1975) Catálogo dos Imóveis Classificados (Castelo de Moura).
Martin Bravo, Ana M. (1993) El poblamiento de la comarca de Alcântara (Cáceres) durante la Edad del Hierro. Complutum, vol.4, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 337-362.
Martin De La Cruz, J.C. e Perlines Benito, M., (1993), La ceramica a torno de los contextos culturales de finales del II milenio A.C. en Andalucia, Actas II do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Vol.33(3-4), Porto, SPAE, p. 335-349.
Martín Ruiz, Juan Antonio (1995), Catálogo documental de los fenicios en Andalucia, Junta de Andalucia.
Martins, A., Ramos, C. (1992) Elementos para Análise e descrição de produções cerâmicas, Vipasca, 1, 91-101.
Mayet, Françoise (1975) Les céramiques a parois fines dans la Péninsule Ibérique. Boccard, Paris.
BIBLIOGRAFIA
355
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Mayet, F, E Silva, C.T., (1993), Presença fenícia no baixo Sado, Estudos Orientais, Vol. IV, Lisboa, Instituto Oriental, p.127-142.
Mayet, F., Silva, C.T. da (2000) Os Fenícios no Estuário do Sado, Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida, Trabalhos de Arqueologia, 14, IPA, Lisboa, 71- 83.
Moita, Irisalva (1965) A carta arqueológica da margem esquerda do Guadiana e o Museu de Serpa (projecto), Lvcerna, vol. IV, Actas do III Colóquio Portuense de Arqueologia, Porto, 140-157.
Monteiro, J. P.; Caeiro, J. O.; Amorós, P. M. (1980-1981) Estudo arqueológico do Castelo de Moura. Processo S-00152. Acessível no Arquivo do IPA. Policopiado.
Morel, Jean-Paul (1981) Céramique campanienne: Les formes. Roma, ed. École Française de Rome.
Moret, Pierre (1991), Les fortification de l’âge du fer dans la Meseta espagnole: origine et diffusion des techniques constructives, in Mélanges de la Casa Velázquez, XXVII, fasc.1, p.5-42.
Moret, Pierre (1996), Les fortifications ibériques de la fin de l ’âge du bronze à la conquête romaine, Collection de la Casa Velázquez nº56, Madrid.
Motta, Mª Manuel (1997), Construções rurais em alvenaria de terra crua no Baixo Alentejo. Tese de Mestrado em Construção apresentada à Un. Técnica de Lisboa, policopiado.
Orton, Clive; Tyers, Paul; Vince, Alan, (1999) Pottery in Archaeology, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge Univer-sity Press, 5ªed, Cambridge.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1966a) Castelo da Lousa, Mourão (Portugal). Una fortificación romana de la margen isquierda del Guadiana. Archivo Español de Arqueologia, vol. 39, nº 113-114, CSIC, Madrid, p.167-182.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1962a) Estação paleolítica da ponte do Guadiana em Mourão. Brotéria, Vol. LXXV, Lisboa, p.535-539.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1962b) Sepulturas argáricas da “Folha das Palmeiras” (Mourão). Actas do XXVI Congresso Luso-Espanhol da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Secção VII, Porto, p.339-345.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1963) Sepulturas argáricas da Herdade da Queijeirinha (Mourão). Arquivo de Beja, vols.XX-XXI, p.69-72.
Paço, Afonso do; Ribeiro, F. Nunes; Franco, G. Lyster (1965) Subsídios para o estudo da cultura argárica no Alentejo. Arquivo de Beja, vol.22, Câmara Municipal de Beja, p.203-210. I.B.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1966) Castello di Lousa. Fortino Romano sulla Guadiana, a Mourão (Portogallo), Es-tudos Italianos em Portugal, 26, pp. 17-23.
Paço, Afonso do; Leal, Joaquim Bação (1968) Castelo da Lousa (Mourão). Campanhas de escavação de 1965, 1966 e 1967, Conimbriga, vol. 7, pp.1-5.
Parcero Oubiña, César (1995) Elementos para el estudio de las paisajes castreños del Noroeste peninsular. Trabajos de Prehisto-ria, vol.52, nº1, Centro de Estudios Históricos, Departamento de Prehistoria, Madrid, p.127-146.
Parker Pearson, Michael & Richards, Colin (eds.) (1994), Architecture and Order. Approaches to Social Space. London: Routledge.
Parreira, Rui (1975) O povoado da Idade do Bronze do Outeiro do Circo (Beringel/Beja). Arquivo de Beja, vol.XVIII-XXII.
Parreira, Rui; Soares, A.M. (1980) Zu einigen bronzezeitlichen hohensiedlangen in sud Portugal. Madrider Mitteilungen, vol.21, p.109-130.
Parreira, Rui (1983) O cerro do Castelo de São Brás (Serpa) Relatório preliminar dos trabalhos arqueológicos de 1979 e 1980. O Arqueólogo Português, série IV, nº 1, p. 149-169.
Parreira, Rui (1995) Aspectos da Idade do Bronze no Alentejo interior. Catálogo da Exposição da Idade do Bronze em portugal, discursos de poder, org. Susana Oliveira Jorge, IPM, Lisboa, p.131-134.
Parreira, Rui; Berrocal, L. (1990) O Povoado Da II Idade do Ferro da Herdade do Pomar (Ervidel - Aljustrel), Conímbriga , Coimbra, 29, Ed. Instituto De Arqueologia Da Faculdade De Letras Da Universidade De Coimbra, p.39-57.
Parreira, Rui (1998) As arquitecturas como factor de construção da paisagem na Idade do Bronze do Alentejo interior. Existe uma Idade do Bronze Atlântico? Trabalhos de Arqueologia, vol. 10, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa, p.267-273.
BIBLIOGRAFIA
356
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Pellicier Catalàn, Manuel (2000) El Processo Orientalizante en El Occidente Ibérico, Huelva Arqueológica, 16, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 89-134.
Perdigão, Jacinto Correia (1980) Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50 000. Notícia explicativa da folha 41-C Mourão. Lisboa, Serviços Geológicos de Portugal.
Pérez Jordà, Guillem (2000), La conservación y la transformación de los productos agrícolas en el mundo ibérico, in SAGVN-TVM-PLAV: III Reunión sobre Economia en el Món Ibèric, Extra-3, 47-68.
Perez Macias, Juan Aurélio (1991) Castañuelo, Los origenes de la Baeturia Celtica, Cuaderno Tematico, n.º1, Museo de Huelva, Junta da Andalucia.
Pérez Macías, Juan Aurelio (1993) Poblados de la Edad del Hierro en La Sierra de Huelva. Origens e influencias en la forma-cion de la Baeturia. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, Ed. S.P.A.E., vol. 33 (3-4), p.393 - 409.
Pinto, Maria Inês C. B. Vaz, (1999) A Cerâmica comum de São Cucufate, (tese de doutoramento Apresentada ao Departamento de História da Universidade Lusíada em 1999), Lisboa, Volumes 1,2 e 3. exemplar policopiado.
Ponte, Salete da (1978). Instrumentos de fiação, tecelagem e costura de Conimbriga. Conimbriga, XVIII, Coimbra, 133-146.
Prudêncio, M.I, Gouveia, M-A; Cabral, J.M.P. (1986) Instrumental neutron activation analysis of two french geochemical reference samples-basalt BR and biotite mica-Fe. Geostandards Newsletter, 10, p.29-31.
Rapoport, Amos (1969), House form and culture. London: Prentice-Hall.
Rapoport, Amos (1990), “Systems of activity and systems of settings”, in Kent, Susan (ed.) Domestic architecture and the use of space. Cambridge: CUP 9-20.
Rego, Miguel (1994) “Investigações Arqueológicas no Castelo de Noudar”. Arqueologia en el entorno del Bajo Guadiana: Actas del Encuentro Internacional de Arqueología del Suroeste, Editores: Juan M. Campos, Francisco Gómez, J. Aurelio Pérez, Huelva, Grupo de Investigación Arqueológica del Patrimonio del Suroeste, Universidad de Huelva, p. 37-53.
Rego, M.; Guerrero, O.; Gómez, F. (1996) - Mértola: una ciudad mediterránea en el contexto de la edad del hierro del Bajo Guadiana. In Actas de las I Jornadas transfronteirizas sobre la contienda hispano-portuguesa, Tomo I. Aroche: Escuela Taller Con-tienda.
Ribeiro, M. Isabel; Soares, A.M. (1991) A sepultura do Bronze do Sudoeste da Herdade do Montinho (Vale do Vargo, Serpa). Aplicação de alguns métodos instrumentais de análise química a um problema arqueológico, Actas das IV Jornadas Arqueológicas, AAP, Lisboa, p.287-298.
Rocha F.T., 1993. Argilas aplicadas a estudos litoestratigráficos e paleoambientais na bacia sedimentar de Aveiro. PhD. Thesis. University of Aveiro, Portugal, 399p.
Rodà, Isabel (1993), Los materials de construcción en Hispania, in XIV Congreso Internacional de Arqueología Clasica, Tarragona, vol.1, p. 323-331.
Rodriguez Diaz, Alfonso (1989) La segunda Edad del Hierro en la Baja Extremadura: problemática y perspectivas en torno al poblamiento. Saguntum, vol.22, p.165-224.
Rodriguez Diaz, Alfonso (1990) Continuidad y ruptura cultural durante la Segunda Edad del Hierro. La Cultura Tartésica y Extremadura, Mérida, p.127-162.
Rodriguez Diaz, Alfonso (1991) La Ermita de Belén, Zafra, Badajoz. Campaña de 1987, editora regional de Extremadura, Mérida.
Rodriguez Diaz, A. (coord.) (1998): Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento, Cáceres.
Rodriguez Diaz, Alfonso (1995) Extremadura prerromana. Extremadura Arqueológica, vol.IV, Arqueología en Extremadura: 10 años de Descubrimientos.
Ortíz Romero, P. y Rodriguez Diaz, A. (1998): “Culturas indígenas y romanización en Extremadura: castros, oppida y recintos ciclópeos”, en Rodriguez Diaz, A. (coord.) (1998): Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento, Cá-ceres: 247-278.
Rodriguez Diaz, Alfonso e Enríquez Navascués, J. J. (2001) – Extremadura tartésica. Arqueologia de un proceso periférico. Ed. Bellaterra, Barcelona.
BIBLIOGRAFIA
357
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Rodriguez Diaz, Alfonso; Jiménez Ávila, F.J.(1987-1988) Informe sobre las excavaciones realizadas en el yacimiento de Horna-chuelos, Ribera del Fresno (Badajoz), 1986-87. Norba, vol.8-9, p.13-31.
Rouillard , P. (1975) – Les coups attiques a figures rouges du IVe S. en Andalousie. Melanges de la Casa de Velázquez. Paris. 11, p. 21-49.
Rufete Tomico, Pilar (1999) Las Primeras ceramicas fenicias en los poblados tartésicos de Huelva, in La Ceramica fenicia en Occidente : centros de produccion y areas de comercio. Valencia, p. 215-240.
Ruiz Mata, Diego, (1994) Las cerámicas del Bronce Final. Un soporte tipológico para delimitar el tiempo y el espacio tartésico, Tartessos 25 Años Después 1968-1993, Jerez de la Frontera, 265-315.
Ruiz Mata, Diego; González Rodríguez, R., (1994), Consideraciones sobre asentamientos rurales y ceràmicas orientalizantes en la campña gaditana, SPAL, Vol. 3, Sevilla, Universidad de Sevilla, p.209-256.
Ruiz Zapatero, G., Lorrio Alvarado, A., Martín Hernandez. M. (1986) Casas redondas y rectangulares de la Edad del Hierro: aproximación a un análisis comparativo del espacio doméstico, Arqueología Espacial, Coloquio sobre el microespacio, 3, Tomo 9, Teruel.
Sánchez García, Ángel (1999), Las técnicas construtivas com tierra en la arqueología prerromana del País Valenciano, in Qua-derns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 20, 161-188.
Santa-Olalla, Julio Martinez (1946) Esquema paleotnológico de la Península Hispânica. 2ª ed. Madrid.
Schubart, Hermanfrid (1964a) Atalaia. Exploraciones en una necrópole de la Edad del Bronce en Portugal, Actas do VIII Congreso Nacional de Arqueologia (Sevilla-Málaga). Zaragoza, Secretaria General de los CNA.
Schubart, Hermanfrid (1964b) Grabungen auf dem bronzezeitlichen graberfeld vo Atalaia in sudportugal. Madrider Mittei-llungen, vol.5, Madrid, Instituto Arqueológico Alemão.
Schubart, Hermanfrid (1965) Atalaia. Uma necrópole da idade do Bronze no Baixo Alentejo. Arquivo de Beja, nº22, p.7-136.
Schubart, Hermanfrid (1971) O Horizonte da Ferradeira. Sepulturas do Eneolítico final do Sudoeste da Península Ibérica. Revista de Guimarães, vol.81, Sociedade Martins Sarmento, Guimarães, p.189-215.
Schubart, Hermanfrid (1974a) Novos achados sepulcrais do Bronze II do Sudoeste. Actas das II Jornadas Arqueológicas, Associa-ção dos Arqueólogos Portugueses, vol. II, Lisboa, p.65-97.
Schubart, Hermanfrid (1974b) La cultura del Bronce en el Sudoeste peninsular . Distribución y definición. Miscelânea Arqueo-lógica, tomo II, Barcelona, pp.345-370.
Schubart, Hermanfrid (1975) Die Kultur der Bronzezeit im Sudwesten der Iberischen Halbinsel. Madrider Forschungen, 9, Deutsches Archaologisches Institut, Berlim, 2 vols, p.300.
Schultz, L.G. (1964) Quantitative interpretation of mineralogical composition X-ray and chemical data for the Pierre Shale, in Geol. Survey, prof. paper, 391-C.
Senna-Martinez, João Carlos (2002) Aspectos e problemas da investigação da Idade do Bronze em Portugal, na segunda metade do século XX. Arqueologia e História, vol.54, Revista da Associação Portuguesa de Arqueólogos, Lisboa, p.103-124.
Silva, A.M. Ferreira da, (1990), “A Idade do Ferro em Portugal. CArqueólogo Português. I: A primeira Idade do Ferro”, Nova História de Portugal, Portugal das origens à romanização, J. Alarcão (Coord.), Vol.1, Lisboa, Editorial Presença, p.265-288.
Silva, António Carlos (Coord.), (1996), Património arqueológico no regolfo de Alqueva. Quadro geral de referência, EDIA.
Silva, António Carlos (1999) Salvamento Arqueológico no Guadiana. Memórias d´Odiana. Estudos Arqueológicos do Alqueva, nº1, Beja.
Silva, Carlos Tavares da (1978) A Ocupação da 2ª Idade do Ferro da Pedra da Atalaia (Santiago do Cacém). Setúbal Arqueo-lógica , Setúbal, vol. 4, p.117-132.
Silva, Carlos Tavares; Soares, Joaquina; Mascarenhas, J.M. (1986) Estudo de impacte ambiental do empreendimento do Al-queva. Caracterização do Quadro de Referências. Relatório B-3, Património Histórico-Arqueológico, E.I.A., DRENA/EGF, policopiado.
Silva, Carlos Tavares da; Soares, J.; Beirão, C. M.; Dias, L. F.; Coelho- Soares (1980) Escavações Arqueológicas no Castelo de Alcácer do Sal (Campanha de 1979), Setúbal Arqueológica, Setúbal, Vol. 6-7, p.149-218.
BIBLIOGRAFIA
358
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Silva, Carlos Tavares da; Soares, Joaquina (1981) Pré-história da área de Sines. Trabalhos Arqueológicos de 1972-77, Lisboa, Gabinete de Área de Sines, Sines, p.225.
Silva, Mª de Fátima Matos da (1989) Estudo tipológico de cossoiros. I-Citânea de Sanfins, Castros de Moldes e de Santo An-tónio, Revista de Ciências Históricas, 4. Porto: Universidade Portucalense, 91-130.
Silvano, Filomena (1988), Identidades regionais e representações colectivas. Tese de Mestrado em Antropologia Cultural e Social apresentado à Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, policopiado.
Soares, António Monge (1976/77) Uma cista do bronze do Sudoeste em Aldeia Nova de São Bento (Serpa). Setúbal Arqueoló-gica, vol.II-III, Junta Distrital de Setúbal.
Soares, António Monge (1984) Cista do Monte de Santa Justa. Informação Arqueológica, nº 6, IPPAR, Lisboa, p.33.
Soares, António Monge, Araújo, M. Fátima, Cabral, J.M.Peixoto (1984) O Castelo Velho de Safara: vestígios da prática de metalurgia. Arqueologia, vol.XI, GEAP, Porto, p.87-94.
Soares, António Monge (1986) O povoado do Passo Alto. Escavações de 1984. Arquivo de Beja, vol. III, s-2, Câmara Municipal de Beja, Beja, pp.89-99.
Soares, António Monge, Braga, J.R. (1986) Balanço provisório da intervenção arqueológica já realizada no Castelo de Serpa. Arquivo de Beja. Iº Encontro de Arqueologia da região de Beja, Câmara Municipal de Beja, Beja, pp. 167-198.
Soares, António Monge (1994) Descoberta de um povoado do neolitico frente à Igreja de S.Jorge (Vila Verde de Ficalho, Ser-pa). Resultados preliminares. Vipasca, Arqueologia e História, vol.3, Câmara Municipal de Aljustrel, p.41-50.
Soares, António Monge (1994) O bronze do Sudoeste na margem esquerda do Guadiana. As necrópoles do concelho de Serpa. Actas das V Jornadas da Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, vol.2, p.179-197.
Soares, António Monge; Araujo, Maria de Fátima Cabral, João Manuel Peixoto (1994) Vestígios da prática de metalurgia em povoados calcolíticos da Bacia do Guadiana, entre o Ardila e o Chança Arqueologia en el Entorno del Bajo Guadiana. Actas del Encuentro Internacional de Arqueologia del Suroeste (1994) - Huelva: Grupo de Investigacion Arqueologica del Patrimonio del Suroeste, p. 165-200.
Soares, António Monge (1996) Povoado da Misericórdia (Margem esquerda do Guadiana, Serpa) Ocupações humanas e ves-tígios metalúrgicos, Vipasca, 5, 103-116.
Soares, António Monge (1996) Povoado da Misericórdia (margem esquerda do Guadiana, Serpa): ocupações humanas e vestí-gios metalúrgicos. Vipasca, Arqueologia e História, vol. 5, U.A.A.; Câmara Municipal de Aljustrel, Aljustrel, p. 103-116.
Soares, António Monge; Araújo, M.F.; Alves, L.; Ferraz, M.T. (1996) Vestígios metalúrgicos em contextos do Calcolítico e da Idade do Bronze no Sul de Portugal. Miscelânea em Homenagem ao Professor Bairrão Oleiro. Lisboa, ed. Colibri, p.553-579.
Soares, António Monge; Araujo, Maria de Fátima; Alves, Luís; Ferraz, Maria Teresa (1996) Vestígios Metalúrgicos em Contex-tos do Calcolítico e da Idade do Bronze no Sul de Portugal.Soares, António Monge; Correia, José; Deus, Manuela de (2001) Necrópole dos Carapinhais (Sobral da Adiça, Moura). Relatório 2000., Lisboa, policopiado. Soares, António Monge; Correia, José; Deus, Manuela de (2002) Necrópole dos Carapinhais (Sobral da Adiça, Moura), Lisboa, policopiado.Soares, António Monge (2003) O Passo Alto: uma fortificação única do Bronze Final do Sudoeste. Revista Portuguesa de Ar-queologia, vol.6, nº2, Lisboa, IPA, p.293-312.Soares, J., Silva, C. Tavares da (1986) Ocupação Pré-romana de Setúbal: escavações arqueológicas na Travessa dos Apóstolos, I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana (Setúbal, 1985) – Trabalhos de Arqueologia, n.º 3, IPPC, Lisboa, 87-101.Soares, J. (2000) Arqueologia urbana em Setúbal: problemas e contribuições, Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida, Trabalhos de Arqueologia, 14, IPA, Lisboa, 101-130.Soares, Joaquina; Silva, Carlos Tavares (1974) Ocupação do período proto-romano do Pedrão (Setúbal). Actas das II Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos de Portugal, Lisboa, p. 245-305.Soares, Joaquina (1978) Nótula sobre cerâmica campaniense do Castelo de Alcácer do Sal. Setúbal Arqueológica, vol. 4, Setúbal, p.133-144.Soares, Joaquina; Silva, Carlos Tavares da (1979) - Cerâmica Pré-Romana De Miróbriga (Santiago Do Cacém). Setúbal Arqueo-lógica , Setúbal, Vol. 5, P. 159-177.
BIBLIOGRAFIA
359
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Schüle, W. (1969) Die Mesetakulturen der iberischen Halbinsel. Madrider Forschungen 3. Berlin: W. de Gruyter.Schulten, Adolf (1940) Viriato, Porto, Livraria Civilização.StatSoft, Inc. (20 03). STATISTICA (data analysis software system), version 6. www.statsoft.com.Tarradell, M. (1965) El problema de las diversas áreas culturales de la Península Ibérica durante la Edad del Bronce. Ripoll, E. (Eds.), Miscelânea en Homenaje al Abate Henri Breuil (1877-1961), Barcelona.Teixeira, Gabriela; Belém, Margarida (1998), Diálogos de edificação. Técnicas tradicionais de construção, 2ª edição, Porto, CRAT.Tomka, Steve A.; Stevenson, Marc G. (1993) Understanding abandonment processes: summary and remaining concerns. Aban-donment of settlements and regions. Ethnoarchaeological and archaeological aproaches, dir. Catherine M.Cameron e Steve A.Tomka, Cambridge University Press, Cambridge, p.191-195.Untermann, J. (1997) Monumenta Linguarum Hispanicarum, Wiesbaden, vol.4, p. 171, 174, 255, 256.Valera, A., Albergaria, J., Lago, M. (1998) Monte da Pata (Moura) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia Lda., policopiado.Valera, António (1997) O Castro de Santiago (Fornos de Algodres, Guarda): aspectos da calcolitização da Bacio do Alto Mon-dego, Fornos de Algodres, Câmara Municipal de Fornos de Algodres.Valera, António (1998) Monte das Candeias 3 (Moura) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia Lda., policopiado.Valera, António (1999a) Monte da Ribeira 2 (Mourão) Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Era Arqueologia, Lda, exemplar policopiado.Valera, António (2000), Em torno de alguns fundamentos e potencialidades da Arqueologia da Paisagem, ERA-Arqueologia, 1. Lisboa: Colibri, p.112-121.Valera, António (2000a) Moinho de Valadares 1 e a transição Neolítico Final/Calcolítico na margem esquerda do Guadiana. Arqueo-logia, vol. 1, ERA-Arqueologia S.A., Lisboa.
Valera, António (2000b) O Monte do Tosco. (ERA) Arqueologia, vol. 2, ERA-Arqueologia S.A., Lisboa, p.32-51.
Valera, António (2002) Pré-história recente da Margem Esquerda do Guadiana. Al-madan, 2ª série, nº11, Centro de Arqueo-logia de Almada, Almada, p.117-121.
Van Schoor, M. L. Oliveira (1999) Prospecção Arqueológica de Três Minas de Cobre do Sul de Portugal, Relatório, policopiado.
Vasconcellos, José Leite de (1895) Acquisicções do Museu Ethnográfico Português. O Archeólogo Português, vol.1, p.218-222.
Vasconcellos, José Leite de (1897) Religiões da Lusitania I, Lisboa, Imprensa Nacional.
Vasconcellos, José Leite de (1897) Religiões da Lusitania III, Lisboa, Imprensa Nacional.
Vasconcellos, José Leite de (1899-1900) Da Lusitânia à Bética. O Arqueólogo Português, vol V, Lisboa, p. 231-233.
Vasconcellos, José Leite de (1905) Religiões da Lusitania II, Lisboa, Imprensa Nacional.
Vasconcellos, José Leite de (1916) Entre Tejo e Odiana. Vasconcellos, José Leite de vol.XXI, p.152-194.
Vasconcellos, José Leite de (1924) Figuras de bronze antigas do Museu Etnológico Português.
Vasconcellos, José Leite de (1930-32) Excursão pelo Baixo-Alentejo, O Arqueólogo Português, 1ª Série, vol. XXIX, 230-246.
Viana, Abel; Formosinho, José; Ferreira, O. da Veiga (1953) De lo preromano a lo arabe en el Museo Regional de Lagos, Archi-vo Español de Arqueologia, nº1, CSIC, Instituto de Arqueologia y Prehistoria Rodrigo Caro, Madrid.
Viana, Abel (1947) Notas históricas, arqueológicas e etnográficas do Baixo Alentejo. Vasconcellos, José Leite de, vol. IV, Câmara Municipal de Beja, Beja, p.3-39.
Vilhena, Jorge (1999) Rocha da Vigia 2. Relatório 1999. Degebe, Associação de Valorização de Património Cultural, policopiado.
Vilhena, Jorge (2000) Chão da Pereira. Relatório 1999. Degebe, Associação de Valorização do Património Cultural, policopiado.
Wagner, Carlos G. (1995) Fenicios y Autóctonos en Tartessos, Consideraciones sobre las Relaciones Coloniales y la Dinámica de Cambio en el Suroeste de la Península Ibérica, Trabajos de Prehistoria, vol. 52, n.º 1, CSIC, Dep. de Prehistoria, Madrid, p. 109-126.
Wahl, Jãrgen (1985) Castelo da Lousa. Ein Wehrgehoft Caesarish - Augusteischen Zeit , MM, vol.26, p.149-176.
Waldron, T. (1994) Counting the Dead – The Epidemiology of Skeletal Populations. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
BIBLIOGRAFIA
360
Mem
ória
s d’O
dian
a • 2
ª sér
ie
Waldron, T. (1998) A note on the estimation of height from long-bone measurements. International Journal of Osteoarchaeology 8, 75-77.
Whitelaw, Todd M. (1994), “Order without architecture: functional, social and symbolic dimensions in hunter-gatherer set-tlement organization”, in Parker Pearson, M. & Richards, C. (eds.) Architecture and Order. Approaches to Social Space. London: Routledge, 217-243.
Zilhão, João (1992) Gruta do Caldeirão. O neolítico antigo. Trabalhos de Arqueologia, vol.6, IPPAR, Departamento de Arqueo-logia, Lisboa.
MEMÓRIAS d’ODIANA 2.ª Série
EDIA Empresa de Desenvolvimentoe Infra-Estruturas do Alqueva S.A.
MEMÓRIAS d’ODIANA2.ª série
7UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeude Desenvolvimento Regional
MEMÓRIAS d’ODIANA 2.ª SérieEstudos Arqueológicos do Alqueva
OCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICA NA MARGEMESQUERDA DO GUADIANA
João AlbergariaSamuel Melro
OC
UPA
ÇÃ
O P
ROTO
-HIS
TÓ
RIC
AN
A M
AR
GEM
ESQ
UER
DA
DO
GU
AD
IAN
A