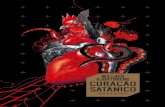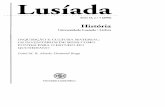R RE EV VI IS ST TA A P PO OS S--E ES SC CR RI IT TO O LUTERANOS NAS TEIAS DA INQUISIÇÃO
Inspecionando o coração do Império: As Visitas da Inquisição à cidade de Lisboa de 1587 e de...
Transcript of Inspecionando o coração do Império: As Visitas da Inquisição à cidade de Lisboa de 1587 e de...
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Curso de História – Monografia
Erick Tsarbopoulos Graziani
Inspecionando o coração do Império:
As Visitas da Inquisição à cidade de Lisboa de 1587 e de 1618
Guarulhos
2011
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Curso de História – Monografia
Erick Tsarbopoulos Graziani
Inspecionando o coração do Império:
As Visitas da Inquisição à cidade de Lisboa de 1587 e de 1618
Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Federal
de São Paulo como requisito parcial
para obtenção do grau em Bacharel
em História.
Orientador: Prof. Dr. Bruno Feitler
Guarulhos
2011
Graziani, Erick
Inspecionando o coração do Império: As Visitas da Inquisição à
cidade de Lisboa de 1587 e de 1618 / Erick Graziani – Guarulhos, 2011.
44 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em História) –
Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, 2007.
Orientador: Prof. Dr. Bruno Feitler
Título em inglês: Inspecting the Heart of the Empire: The Inquisition
Visits to the city of Lisbon in 1587 and in 1618.
1. História Moderna. 2. Inquisição. 3. Visitas do Tribunal do Santo Ofício
I. Inspecionando o coração do Império: As Visitas da Inquisição à cidade de
Lisboa de 1587 e de 1618.
3
TERMO DE APROVAÇÃO
Erick Tsarbopoulos Graziani
Inspecionando o coração do Império:
As Visitas da Inquisição à cidade de Lisboa de 1587 e de 1618
Guarulhos, ______ de _______________, 2011.
Trabalho final de graduação aprovado como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em História, da Universidade Federal de São Paulo, pela seguinte banca
examinadora:
___________________________________________
Prof. Dr. Bruno Feitler – Professor orientador, UNIFESP
___________________________________________
Prof. Dr. Rossana Alves Pinheiro - UNIFESP
___________________________________________
Prof. Dr. André Roberto Machado - UNIFESP
4
SUMÁRIO
Resumo / Palavras-chave............................................................................................................6
Abstract / Keywords....................................................................................................................7
Introdução...................................................................................................................................8
Metodologia....................................................................................................................8
Os Cristãos-Novos.........................................................................................................10
1 – Contexto.............................................................................................................................12
1.1 – Criação E Estabelecimento Da Inquisição...........................................................12
1.2 – A Igreja E A Inquisição.........................................................................................15
1.3 – Lisboa..................................................................................................................16
2 – As Visitas de Distrito da Inquisição....................................................................................20
2.1 – Conceituação........................................................................................................20
2.2 – O Processo Da Visita............................................................................................21
2.3 – Cronologia Das Visitas.........................................................................................23
3 – As Visitas Na Cidade De Lisboa Em 1587 E 1618.............................................................26
3.1 – Documentação......................................................................................................26
3.2 – Aspectos Gerais....................................................................................................28
3.3 – Tipologia...............................................................................................................30
Conclusões Gerais.....................................................................................................................33
A Leitura Do Édito........................................................................................................33
Atmosfera Do Medo......................................................................................................34
Hipóteses.......................................................................................................................35
Referências Bibliográficas........................................................................................................40
5
Monografia em contribuição aos estudos de História Moderna:
As visitas da Inquisição à cidade de Lisboa em 1587 e 1618
Área do Conhecimento: História Moderna, Departamento de História da Universidade
Federal de São Paulo – UNIFESP.
Aluno: Erick Tsarbopoulos Graziani
Resumo: Trabalharemos nesta pesquisa as visitas inquisitoriais realizadas na Corte de
Portugal pelos licenciados Antonio de Mendoça e Jerónimo de Pedrosa em 1587, e em 1618
por Antonio Dias Cardoso e Diogo Pereira. Estas visitas coincidem com o período filipino, e
percebe-se como o poder político sempre se aproveitou e interferiu diretamente e de forma
bem explícita no Santo Ofício. Mas esta atitude não foi exclusividade dos Filipes, sendo
perceptível já nos primórdios da instalação do Tribunal. Utilizamos neste estudo uma
bibliografia correspondente às Histórias de Portugal, de Lisboa, da Inquisição, e de seus
mecanismos; assim como também fizemos uso das fontes documentais produzidas nestas
visitas à Lisboa, em especial do “Livro das Denunciações1” que foi transcrito e analisado.
Desta forma, tentamos compreender e desenvolver o porquê destas visitas ocorrerem na
capital do Reino, onde já havia um tribunal devidamente instalado.
Sendo assim, o objetivo primordial deste trabalho foi o de contribuir para os estudos
da Inquisição Portuguesa, principalmente os sobre as visitas inquisitoriais projetadas à cidade
de Lisboa em 1587 e 1618. Com esta pesquisa, tivemos a oportunidade de estudar diversas
temáticas referentes à cultura, mentalidade, e história portuguesas; assim como sobre: a
questão dos judeus em Portugal; o Tribunal do Santo Ofício; a cidade de Lisboa; as visitas da
Inquisição; e as demais práticas religiosas em Portugal. Procuramos também desenvolver um
estudo comparativo entre as diversas visitas inquisitoriais em outras regiões – à luz da
bibliografia – assim como almejamos obter uma melhor compreensão da vida em Lisboa: suas
características de Corte, de centro de governo, de coração comercial do império português, e
sua diversidade populacional.
Palavras-Chave: “Império Português”; “Lisboa”; “Livros das Confissões”; “Livro das
Denunciações”; “Inquisição Portuguesa”; “Visitações do Tribunal do Santo Ofício”; “Visitas
Inquisitoriais”.
1 Originado a partir da visita à Sé. Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, livro 803.
6
Monograph in contribution of the studies of Modern History:
The Inquisition visits to the city of Lisbon in 1587 and in 1618
Abstract: We will work on this research the visits realized by the Portuguese inquisition on
the Court of Portugal by the licensed Antonio de Mendoça and Jerónimo de Pedrosa in 1587
and in 1618 by Antonio Dias Cardoso and Diogo Pereira. This visits coincided with the
Philippine age, and we can notice how the political power always used and interfered directly
and explicitly in the Holly Office. But this attitude wasn't exclusive of Filip, it was notable
already in the beginning of the trial installation. We used the bibliography that correspond
with the study of Portuguese History, Lisbon, Inquisition, and of the inquisition visits; we also
used the document “Livro das Visitações2”, that was transcript and analyzed. That way, we
tried to understand and develop the “why” this visits occurred in Lisbon, where there was a
trial already installed.
Being like this, the prime objective of this work was in contributing with the studies of
Portuguese inquisition, primarily the ones referring the inquisition visitations to the city of
Lisbon in 1587 and in 1618. With this research, we had the opportunity of studying many
themes referring the Portuguese culture, mentality and history; as well of: the jewish question
in Portugal; the Holly Office Trial; the city of Lisbon; the Inquisition visits and the many
religious practices in Portugal. We tried as well develop a comparative study amongst the
other inquisition visits in other regions – with the use of the bibliography – and we also
hoped to get a better understanding of Lisbon's life: its characteristics of Court, govern
center, commercial heart of the Portuguese empire, and its population diversity.
Keywords: “Portuguese Empire”; “Lisbon”; “Livro das Confissões”; “Livro das
Denunciações”; “Portuguese Inquisition”; “Visitations of the Holly Office Trial”;
“Inquisition Visits”.
2 Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, livro 803.
7
Introdução
METODOLOGIA:
Não existe instituição sem sociedade que a afirme; na época moderna o pecado era
criminalizado por leis civis e religiosas e o Tribunal do Santo Ofício era o meio de jugo. Há
assim, um caráter da Inquisição de ser o intermediário entre a população e os condenados,
pois a sociedade dependia desta instituição para que a “justiça divina” fosse efetuada. E como
uma instituição judiciária, era um dos meios de o Estado manter seu monopólio da violência.
Por isso, procuraremos não fazer nenhuma “história moral”, e sim estudar a Inquisição em seu
contexto histórico e social, pois ela servia de acordo com os interesses do Estado, mas
também encontrava força na população através de seu caráter religioso.
É importante destacar que estudos dos documentos sobre as visitas à Lisboa ainda não
foram realizados pelos especialistas, apesar destas fontes já serem conhecidas. Esses
documentos ajudam a entender a necessidade de haver visitas inquisitoriais à própria sede da
corte portuguesa, sendo que desde 1539 já havia um tribunal do Santo Ofício instalado na
cidade. Atentamos também ao fato de que nosso foco principal é o período filipino (no qual as
visitas estão compreendidas), mas não deixaremos de discorrer sobre a criação e
estabelecimento do Tribunal da Inquisição, assim como sobre outros contextos históricos
relevantes.
Os materiais iniciais utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa são os
documentos “Livros de Denunciações” e os “Livros das Confissões” das visitas inquisitoriais
feitas em Lisboa em 1587 e em 1618, guardados na Torre do Tombo, em Lisboa, e há pouco
disponibilizados on-line pela Direção Geral dos Arquivos Portugueses. A bibliografia também
utilizada na confecção deste trabalho se encontra relacionada no fim do mesmo.
8
O principal eixo orientador das visitas de distrito era a afirmação da presença
inquisitorial em áreas periféricas aos tribunais, mas nestas visitas em estudo, isto não explica
a existência de visitas à Lisboa, que possuía um tribunal. Tivemos contato com todos os
documentos referentes à essas visitas, mas nos aprofundamos principalmente em um deles, o
“Livro das Denunciações” das visitas à Sé. Assim, o corpus documental usado nesta pesquisa
impôs um ângulo de abordagem específico, já que os livros utilizados (de 1587 e de 1618, que
estão juntos no mesmo documento) reportam apenas denunciações. Porém, procuramos
abranger os principais aspectos das visitas, independente do material pesquisado.
Justifica-se, em três sentidos, o exame detalhado destas visitas inquisitoriais. Por um
viés, ela são sintomáticas da conjuntura religiosa das últimas décadas do século XVI e início
do XVII, caracterizadas pela difusão das normas e valores espirituais da Contra-Reforma. Por
outro, enquadram-se no período de anexação filipina, desde o vice-reinado do Arquiduque
Alberto de Áustria, cardeal legado do Papa e Inquisidor-Geral, e depois com o bispo D.
Fernando Martins de Mascarenhas como Inquisidor-Geral. E em um terceiro viés,
estudaremos a grandiosa cidade de Lisboa, que passava por diversas transformações
importantes nesta época.
A singularidade destas visitações é a de não haver nenhum outro registro de uma visita
em uma cidade que já possuísse um tribunal, como é o caso aqui. Tentamos entender os
motivos de ter-se mandado visitas a Lisboa – mas não a Coimbra, nem a Évora, nem a Goa –,
e é ainda mais notável o fato de se tratar de duas visitas distintas (em 1587 e em 1618), com
dois visitadores em cada uma delas se instalando em locais diferentes.
Procuramos entender o contexto da época, como as características principais de
Lisboa, da coroa e da Inquisição, a fim de produzirmos hipóteses da existência destas visitas.
E já que não existe nenhum trabalho voltado para o estudo das visitas, nos baseamos na
análise de um documento resultante de uma delas (o “livro de denunciações”, da visita na Sé)
9
e na leitura da bibliografia que trata desde os primórdios da Inquisição até estudos específicos
de visitas inquisitoriais em várias regiões.
Separamos o assunto principal procurando realizar uma ordem lógica que vá do mais
geral ao mais particular. Veremos assim numa primeira parte a questão dos judeus no Reino, a
Inquisição portuguesa, e Lisboa e sua condição de capital,. Numa segunda, faremos um
sobrevoo da questão das visitas inquisitoriais de distrito, para numa terceira parte tratar do
cerne de nosso problema, as visitas à Lisboa. Por fim, passaremos às conclusões, constituídas
principalmente de hipóteses em resposta à problemática das razões da existência de visitas
inquisitoriais na Corte de Portugal. E aqui mesmo na introdução, iremos pontuar aspectos
relevantes ao entendimento do contexto histórico nos territórios portugueses.
OS CRISTÃOS-NOVOS:
Mesmo que as visitas tenham resultado, como veremos mais em detalhes adiante, em
praticamente a mesma quantidade denunciados cristãos-velhos e cristãos-novos, a pretensão
primeira e capital era em acabar com os crimes de práticas judaizantes, como se conclui de
uma menção feita a isso no próprio edital da fé da visita que aqui estudamos3. Desta maneira,
pretende-se, nos parágrafos seguintes, auxiliar a compreensão do processo do qual os cristãos-
novos surgiram, assim como os motivos que os fizeram ser o alvo preferencial da Inquisição.
No decorrer do século XV projeta-se as crises nos judeus, como as fomes, guerras,
pestes, e até mesmo terremotos. Em 1449, apenas como um exemplo, houve um tumulto
antijudeu em Lisboa que pregava “matemo-los e roubemo-los”, chegando depois ao ponto de
se discutir a falta de necessidade de se construir mais moradias em Lisboa, já que podiam
3 “Os edictos da fee e da graca com termo de trinta dias e o aluª de s. Magde porque concede que todas as pas da
nação dos xpãos nouos que se vierem acusar dentro dos xxx dias da graça, e confessarem suas culpas naõ percaõ
suas fazendas” (grifo nosso). ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 2r.
10
“confiscar” as casas dos judeus, e repovoar a cidade4. Mas o ódio dos portugueses não era
contra a “nação hebreia” em si, e sim, segundo Herculano, contra os “rendeiros de tributos” e
“agiotas” que alguns eram. Deste modo, era a união da inveja e do fanatismo – sendo que o
fanatismo santificava os impulsos da inveja – que contribuiu para a perseguição à raça hebreia
e a posterior criação da Inquisição.
Em 1496, D. Manuel decreta a expulsão dos judeus, mas não a deixa efetuar. Seu
principal motivo era político-matrimonial: a princesa D. Isabel “só entraria em Portugal
quando os 'hereges' fossem expulsos”. Em 1497, ordena a retirada dos filhos menores de 14
anos daqueles que não se convertessem. Depois manda uma conversão geral de judeus,
primeiro os menores de 25 anos e depois o restante5. Eles possuiriam um período de 20 anos
de adaptação a essa nova religião sem serem perseguidos, sendo depois prorrogado em 1512 e
depois estendido até 15346. Em 1499 os conversos são proibidos de sair do Reino. Em 1506
há um massacre de judeus em Lisboa. E em 1507 há uma declaração régia de que os
conversos são em tudo iguais aos cristãos-velhos (em dezembro de 1524 há uma lei que
confirmaria esta suposta igualdade).
Com a criação e estabelecimento da Inquisição, a situação para os cristãos-novos só
piora. Eles sabiam que agora a perseguição só iria aumentar, mas proibidos de sair do Reino,
tentavam se enquadrar na sociedade como podiam. Mas quando essa suposta “aceitação” vai
de encontro com práticas antigas e costumes religiosos, é perceptível que esse choque será
sentido por muito tempo.
4 Alexandre HERCULANO. História da origem e estabelecimento da inquisição em Portugal. Porto Alegre:
Pradense, 2002. p. 1345 São criados assim os cristãos-novos, distinguindo-se dos cristãos-velhos (que não possuem ascendência
hebreia).6 José MATTOSO (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. vol. III – edição acadêmica. p. 404
11
1 – Contexto
1.1 – CRIAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA INQUISIÇÃO:
O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi instalado em Portugal em 1536, sob
pressão da Coroa e aprovação do papa7. Pretendia-se punir as infrações cometidas contra os
dogmas da religião católica. Seu principal objetivo era
lutar contra a heresia judaizante, resultante da conversão
forçada dos judeus em 1497, mas outros delitos também
estavam sob sua alçada ou acabaram caindo sob sua
jurisdição: do protestantismo à bigamia; da feitiçaria à
solicitação ad turpia. E um dos outros usos da
Inquisição era o de fazer-se “quadros” da população e do
clero, através das acusações, sendo utilizados
posteriormente para a administração tanto da Igreja
como da Coroa.
O tribunal de Lisboa foi criado pelo Inquisidor-Geral D. Henrique em 1539, e, na
conformação final do Santo Ofício português, ele foi o principal dos quatro tribunais (os
outros eram os de Coimbra, Évora e Goa). A princípio, a área de jurisdição do tribunal se
limitava ao arcebispado de Lisboa, mas terminou por abarcar não só parte do Portugal
metropolitano, mas também os territórios da África do Norte e de todo o Atlântico português.8
7 Em 1535, Paulo III concede um perdão geral aos culpados de judaísmo. No próximo ano, através de uma Bula
em 23 de Maio, institui a Inquisição no Reino. Mas é instituída também, em favor dos réus condenados, uma
isenção de confiscação de seus bens por dez anos – à muito custo do rei que não fosse além desse tempo –
sendo renovada por mais um ano em 1546.
8 Bruno FEITLER. “Lisbona”, in: Dizionario storico dell’Inquisizione, ed. A. Prosperi, Pisa: Edizioni della
12
O emblema do Santo Ofício na fachada
de um edifício. Foto: Arquivo Círculo de
Leitores. (MATTOSO, 2011, p. 18)
O Conselho-Geral foi instituído oficialmente pelo Inquisidor mor D. Henrique em
1569. Durante o reinado dos Filipes, houve profundas transformações devido a intervenções
da Coroa e pela influência do Santo Ofício espanhol. Sobre essas mudanças, no tempo de
Filipe III, o número de deputados do Conselho-Geral dobrou, de três para seis. Também criou-
se um cargo de presidente do Conselho-Geral, sendo o primeiro deles D. António Matos de
Noronha, bispo de Elvas, apontado pelo cardeal Alberto. Por fim, os Filipes introduziram em
Portugal o sistema espanhol de eleição de deputados9. Algumas dessas mudanças foram
revogadas por Filipe IV, mas como pode-se perceber, no período
que contextualiza esse trabalho, os Filipes tiveram bastante
influência no Santo Ofício português.
Destacamos que o Tribunal funcionava tanto com
objetivos eclesiásticos quanto por interesses da Coroa. O rei é
quem propõe um Inquisidor-Geral ao papa, que o deve aprovar,
e é o Inquisidor-Geral que nomeia os membros do Conselho-
Geral, após uma consulta ao rei. E a Inquisição se sobrepõe à
ação da Igreja, não se confundindo com ela e mantendo sua
autonomia, fomentando uma certa concorrência entre as duas
instituições. Há, até mesmo, um controle do clero. Inclusive, a
própria Igreja – que era milenar, muito melhor estruturada e
enraizada em todo o território – que dificulta a expansão da Inquisição por diversos territórios
continentais e ultramarinos. Mas há também nomeações de bispos para cargos de
inquisidores, o que demonstra uma circularidade de funções entre as duas instituições (assim
como os diversos exemplos de arcebispos e cardeais assumindo o cargo Inquisidor-Geral). E o
Normale, 2010, vol. 2, p. 923-924.
9 SALAZAR CODES, Ana Isabel López. “O Santo Ofício no tempo dos Filipes: transformações institucionais e
relações de poder”. Revista de História da Sociedade e da Cultura, 9 (2009), pp. 152-153.
13
Divisão do Reino em distritos
inquisitoriais (BETHENCOURT,
1987, p. 05)
monarca concede ao poder episcopal a possibilidade de intervir na atividade da Inquisição e
obriga a presença de bispos nas votações das sentenças.
Em 1540 há o primeiro Auto da Fé, em Lisboa10. O Auto da Fé constituía a cerimônia
máxima de representação do Santo Ofício, tendo presenças regulares de elementos da
sociedade de corte – sendo no caso de Lisboa, a própria família real. Ele é preparado durante
meses pelos inquisidores, que ordenam prisões, aceleram ou retardam os processos e
selecionam réus a serem apresentados publicamente. Os sentenciados vão em procissão,
levando o hábito penitencial11 – o sambenito –, da sede do tribunal até onde está construído o
cadafalso do Auto da Fé12.
Ressalta-se que os reis Filipe II e Filipe III se consideravam “chefes supremos” da
Inquisição. Mandam suspender Autos da Fé, ditam que eles sejam realizados quando bem
entendem, e, sobretudo, exigem continuamente as contas do fisco e a entrega de dinheiro dele
proveniente alegando que a “fazenda real se encontra em grandes dificuldades”13. Apreende-se
das cartas enviadas pelo rei Filipe III é que seus cofres parecem estar sempre vazios, pois sua
preocupação com os bens de fisco é constante, mostrando ser talvez o problema mais
importante para ele. A Inquisição aparenta ser para o monarca um grande e viável meio de
riqueza14.
10 Segundo documentos usados por J. Lúcio de AZEVEDO. História dos cristãos novos portugueses. 2. ed.
Lisboa: Clássica, 1975. p. 489; O número dos condenados e penitenciados nos Autos da Fé em Lisboa, desde
1540 até 1732, são por volta de 6.760 pessoas.11 No documento nº 101 (de 1562), o Inquisidor-Geral proíbe os penitenciados de cobrir o hábito com capas,
mantos ou toalhas sob pena de perderem essas coisas, sendo punidas pelos inquisidores na reincidência do crime;
em: Isaías Rosa PEREIRA. Documentos para a História da Inquisição em Portugal (séc XVI). Vol 1. Lisboa:
Cartas Portuguesas, 1987. p. 94.12 Ver: Francisco BETHENCOURT. "Inquisição e controle social". História crítica, 14 (1987), p. 05.13 Ver cartas do rei em: Isaías Rosa PEREIRA. A Inquisição em Portugal. Séculos XVI – XVII – Período Filipino.
Lisboa: Vega, 1993.14 Entre tantos, ver documentos de nºs 97 e 100, nos quais o rei determina que se faça inventário e arrematação
dos bens dos cristãos-novos presos no Porto e se guarde o dinheiro em arca de três chaves, em: Isaías Rosa
PEREIRA. A Inquisição em Portugal. Séculos XVI – XVII – Período Filipino. Lisboa: Vega, 1993. p. 96.
14
1.2 – A IGREJA E A INQUISIÇÃO:
A estruturação dos poderes nem sempre era muito clara, e, em alguns momentos,
percebe-se até uma complementariedade de funções entre a Igreja e o Santo Ofício15. Os
prelados apoiavam as visitas inquisitoriais, fundamentavam a ação da Inquisição, ajudavam na
escolha dos índices de livros proibidos e ainda no financiamento do Tribunal16; e os
inquisidores deveriam apresentar seus poderes ao prelado, sendo obrigatório sua presença na
pronunciação das sentenças e das reconciliações. Havia ainda, casos nos quais os pecados
“menores” podiam se tornar crimes de heresia, passando da fronteira da Igreja para a da
Inquisição17. Um pecador excomungado deveria cumprir as penitências propostas e tentar se
reconciliar com a Igreja. Se passar de um ano descompromissado com a fé, o indivíduo
poderia ser considerado um herege e cair na alçada da Inquisição.
Estudaremos a seguir a cidade de Lisboa, que foi palco das visitas estudadas neste
trabalho. Ressaltamos a anomalia que representa uma visita inquisitorial à cabeça do império,
sede de um tribunal inquisitorial e também de um tribunal episcopal; o que demonstra sua
singularidade e a nossa necessidade de a estudar mais profundamente.
15 José MATTOSO (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. vol. III. p. 149.
16 Daniel Norte GIEBELS. A relação entre a Inquisição e D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa (1586-
1625). Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. p. 30.17 Atenta-se ao fato que antes da Inquisição, eram os bispos os principais encarregados de julgarem as heresias.
Porém, mesmo após o estabelecimento do Tribunal da fé, a jurisdição episcopal sobre os heréticos não foi
completamente anulada. A própria bula de fundação da Inquisição determinava que dever-se-ia proceder sempre
em parceria com os bispos. Após os anos de 1580, a hegemonia da Inquisição, a pressão régia, e o
reconhecimento dos prelados que os inquisidores eram superiores e possuíam melhores meios de erradicar as
heresias, faz os bispos deixarem de julgar os casos dos heréticos, remetendo-os ao Santo Ofício quanto tinham
conhecimento. Ver: José Pedro de Matos PAIVA. Baluartes da Fé e da Disciplina. O enlace entre a Inquisição e
os bispos em Portugal (1563-1750). Coimbra: Universidade de Coimbra, 2011. p. 33-46; para uma melhor
explicação, com diversos exemplos e citações múltiplas de documentos.
15
1.3 – LISBOA:
É importante destacar que Lisboa é considerada uma “metrópole mundial”18, e sua
história é muito estudada por acadêmicos do mundo inteiro. É tida como a cidade ocidental
com o maior número de conventos, que possui a praça mais bela do mundo, que apresenta a
maior urbe islâmica do ocidente; e como um ditado do século XVI diz: “Quem não viu Lisboa
não viu Portugal”, tamanha a possibilidade de se contar a história deste país a partir de sua
capital.
Estudaremos Lisboa neste trabalho pois as visitas se deram na cidade, que possuía um
tribunal inquisitorial desde 1539, que abrigava um porto que recebia muitos estrangeiros, e
possuía uma população muito variada e flutuante. Pela importância da cidade e seu grande
número de habitantes, é compreensível que a Inquisição busque diversas maneiras de
controlar essa população, e isso é um ponto importante quando pensarmos nos motivos de
terem acontecido as visitas na cidade em 1587 e em 1618. Por isso, iremos pensar a seguir as
principais características de Lisboa, e talvez assim possamos entender a singularidade da
cidade em comparação às outras que também possuíam tribunais mas não receberam visitas
inquisitoriais.
Lisboa destacava-se pelo Tejo, mar, sítio, Casa dos Contos, Alfândega, Casas da Mina,
Guiné e Índia, tribunais superiores, comando de administração de diversos territórios
ultramarinos – como o Brasil –, e pelo fato de possuir a população mais numerosa e variada
em ofícios desde 1528.19
Os pontos negativos da cidade eram as constantes epidemias, pestes, o estado sanitário
lastimável nos fins do século XV, e demais problemas de saúde; assim como perigos causados
18 Sobre este parágrafo, ver Dejanirah COUTO. História de Lisboa. Lisboa: Gótica, 2003.19 José MATTOSO (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. vol. III – edição acadêmica. p. 52.
16
pelas ligações internacionais do porto e tumultos constantes. Em 1492, inicia-se a construção
do Hospital de Todos-os-Santos, a fiscalização de entrada de forasteiros, a inspeção de navios,
as preocupações com casas de doentes e diversas medidas de profilaxia como meios de
proteção da cidade.
Levou-se décadas para perceber-se as vantagens garantidas com a sede política estável
em Lisboa, como a abertura ao comércio externo e a maior facilidade de abastecer esse porto
e obter mantimentos em momentos de crise, comparando com áreas produtoras do interior. A
época da Peste Grande (1569-1570) é um marco na percepção que da saúde da capital
dependia a saúde de todo o território:
O vereador e provedor-mor da cidade de Lisboa passa a ser autorizado a
requerer da parte do rei a todas as vilas e lugares do Reino o cumprimento e diligência
em tudo aquilo que entender em matéria de rebates de peste. A supremacia de um
vereador de Lisboa (que já era de nomeação régia) sobre as demais autoridades locais
consta de um conjunto articulado de medidas legislativas e de práticas que fixam a
função de Lisboa e alargam o seu espaço de influência ao conjunto do Reino.
(MATTOSO, 1998, p. 55)
Lisboa será reconhecida capital – com D. Sebastião – por diversos motivos: pelas
facilidades de comunicação pelo mar e pelo Tejo; fertilidade da terra; aumento da importação
e exportação; estabilização de mercadores nacionais e estrangeiros, etc. E consequentemente a
este comércio e da presença de organismos da administração e da Fazenda mencionados nos
parágrafos acima20, possuía-se o fisco, a forte burocracia, e a posterior fixação da corte.
20 Principalmente com a instalação na cidade dos organismos dirigentes das conquistas e domínios.
17
Em 1532, quando Frei Claude de Bronseval chega a esta formosa cidade, a considera
uma civitas. Damião de Góis a “promove” a urbs – remetendo-se a capitalidade de Roma –
ao escrever Urbis Olisiponis Descriptio, exaltando principalmente o papel do Tejo “no Direito
do mundo via Oceano”. Nesta obra, Góis descreve o prestígio e as belezas desta capital,
listando suas “sete maravilhas”: a Misericórdia, o Hospital de Todos-os-Santos, o Paço dos
Estaus, o Terreiro do Trigo, a Alfândega, a Casa da Índia, e o amontoado de edifícios em que
se integra o Paço da Ribeira. João Brandão (de Buarcos) considera Lisboa superior a Roma, a
Veneza, ao Cairo, a Babilônia, e a Paris. Ele ressalta que de toda a Europa e ultramar lhe são
trazidos tecidos e produtos exóticos. Pelos anos de 1587-1580, um italiano vê Lisboa como “a
18
“Vista panorâmica da cidade de Lisboa”, gravura em cobre da obra Viagem da Catholica Real Magestade del
Rey D. Filipe II, N. S. Ao Reyno de Portugal, por João Baptista Lavanha, Madrid, 1622. Desenho de Domingos
Vieira. Foto: Biblioteca Nacional, Lisboa. – No alto da colina, os Paços da Alcáçova, residência medieval dos
reis portugueses, recuperada por D. Sebastião.
principal do Reino, muito povoada, onde os reis passam a maior parte do tempo, onde se
fazem armadas para todas as conquistas e comércios, tem perto bosques e locais aprazíveis,
quer para o verão, quer para o inverno”. Mas não deixa de reparar que a cidade “não possui
muralhas, é fraca, suja e feia”. 21
Desta maneira, Lisboa foi paulatinamente destacando-se como “cabeça do Reino”,
mesmo depois da “união ibérica”, pois Filipe II percebia claramente a grandiosidade da
cidade de sua mãe, “a maior entre todas”. Já Filipe III atrasou o máximo que pôde sua
necessária visita à Lisboa, realizando-a apenas em 1619, com a cidade pagando suas despesas
e contribuindo com donativos. Mas, contraditoriamente, o papel de Lisboa como capital
cresce com a ausência do monarca, cuja importância é substituída no imaginário popular. Era
“capital por prestígio, por sede de órgãos de governo, pela possibilidade de alimentar uma
grande população, que ultrapassaria os 120.000 habitantes em 1617”22. É a capital, litorânea,
de um império marítimo; segundo Frei Nicolao de Oliveira23: “ser o senhor de Lisboa permite
ser o senhor do mar e do mundo”. E o mundo a recompensava com sua riqueza, grandeza e
supremacia.
21 Parágrafo fortemente baseado em: José MATTOSO (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. vol.
III. pp. 57-59.22 José MATTOSO (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. vol. III. p. 59.
23 Frei Nicolau de OLIVEIRA. Livro das Grandezas de Lisboa (edição de 1620). Lisboa: Vega, 1991.
19
2 – As visitas de distrito da Inquisição
2.1 – CONCEITUAÇÃO:
A Inquisição portuguesa surge perante impactos de diversos fatores, sendo os
principais: a entrada em Portugal de milhares de judeus expulsos de Castela, a expansão
ultramarina, e a crise religiosa europeia. Nesta conjuntura, emergem novos mecanismos de
controle e integração social, sendo a função do Tribunal da fé a de cobrir espacialmente o
país, encenando, por meio das visitas, seu poder sobre as consciências e as vontades da
população.24
Primeiramente, devemos distinguir a visita pastoral da inquisitorial. Neste trabalho,
estudamos as visitas inquisitoriais à cidade de Lisboa, sendo a de 1587 mandada diretamente
pelo Inquisidor-Geral, o cardeal Alberto25; e a de 1618 escolhida pelo Conselho-Geral de
Portugal – como era mais comum. Estas visitações visam principalmente controlar os
comportamentos e as crenças das populações, dando ênfase aos atos de cristãos-novos. E a
Inquisição busca reprimir principalmente as heresias, ou seja, os atos que demonstrariam uma
descrença fundamental nos princípios da fé católica – como adoração ao demônio e rituais de
outras religiões. Já as visitas pastorais são muito mais antigas – eram uma atividade regular da
justiça episcopal – e concentram suas preocupações no comportamento do clero e dos
cristãos-velhos26. Assim, tem-se por objeto crimes dentro da fé – práticas possivelmente mais
cotidianas e costumeiras – como: insultos aos vizinhos, faltas à missa, ter relações
24 Francisco BETHENCOURT. "Inquisição e controle social". História crítica, 14 (1987), p. 05.
25 O cardeal Alberto nessa época já se tornou o vice-rei
26 Por exemplo, nas visitas pastorais à Lisboa no fim do séc. XVI, a maior parte das culpas consistia em
amancebamentos, relações ilícitas, ódio entre vizinhos, blasfêmias; e em menor parte havia os culpados de
feitiçaria, leitura de livros proibidos, faltas à missa e outros descumprimentos da fé católica. Mais sobre isso em:
Daniel Norte GIEBELS. A relação entre a Inquisição e D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa (1586-1625).
Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. p. 61.
20
extramaritais, ou se viver apartado do cônjuge. Crimes dos quais não se pode inferir que os
seus autores deixaram de acreditar na religião católica e nos seus princípios. Mas de qualquer
forma, como já visto, a Igreja e a Inquisição muitas vezes se complementavam, e é muito
difícil distinguir completamente uma da outra. Além disso, muitas vezes o visitador
simplesmente não negava a audiência, ouvindo a denúncia ou a confissão independente de ser
de sua jurisdição (provavelmente, ele pode temer parecer impotente de fazer as punições
serem cumpridas caso se negue a ouvir os relatos).
As visitas de distrito surgem como um grande meio de afirmação da presença
inquisitorial em todo o país e territórios submetidos à Coroa, assumindo uma função de
atividade suplementar na recolha direta de informações e como mecanismo de detecção
preventiva de casos. Elas eram um dos métodos postos em prática pela Inquisição para levar o
conhecimento da sua jurisdição à população e para descobrir casos de hereges e mais delitos
de sua alçada. Dotavam assim, a instituição com poderosos meios de repressão das
heterodoxias. Esperava-se angariar informações sobre a vivência religiosa e moral dos
cristãos-velhos e cristãos-novos, e ainda firmar o domínio do Santo Ofício junto dos poderes
locais e da população. Tratava-se de um instrumento central da ação inquisitorial até os anos
de 1630, sendo decididas pelo Conselho-Geral, que escolhia os itinerários e os distritos a
serem visitados27.
2.2 – O PROCESSO DA VISITA:
As visitas inquisitoriais proporcionavam uma forte experiência visual e auditiva às
populações das regiões visitadas. Uma visitação acontecia, na prática, com o visitador
enviando com antecedência um aviso de sua chegada às autoridades eclesiásticas e civis
locais, que o receberiam fora da vila ou da cidade; então, o visitador era acompanhado aos seu
27 Ver: Francisco BETHENCOURT. "Inquisição e controle social". História crítica, 14 (1987), pp. 5-18.
21
alojamento e ficava no distrito durante o tempo previsto pelo édito, para recolher as
confissões e denúncias28. Ocorria, nesse ínterim, a pregação do sermão da fé, que funcionava
como uma chamada ao arrependimento, em que o pregador procuraria “mais às almas o
remédio de salvação do que querer castigar com o rigor da justiça29”. Em seguida, o monitório
ou edital da fé (que era um guia das crenças e comportamentos a se vigiar e punir) era lido e
depois afixado nas igrejas principais da vila ou cidade. Também eram lidos e afixados, depois
do sermão, o édito da graça, o alvará régio e a constituição de Pio V, de 1570, que confirmava
os poderes apostólicos do Santo Ofício. Era feito ainda um juramento público do regimento da
visita pelas autoridades locais e pelo povo. O édito da graça oferecia especial misericórdia aos
que se confessassem num dado período de tempo, o alvará régio concedia perdão da pena de
confisco de bens para quem cumprisse esse mesmo prazo.30 Uma das poucas exceções a esse
sistema é em 1631, na qual a visita à diocese de Algarvia não foi anunciada, procurando pegar
os criminosos de surpresa.
As datas escolhidas para visitar um território não eram isentas de significado religioso.
Nas visitas a Lisboa em 1587 e em 1618, assim como diversas outras, o período de visitação
culmina com a “Páscoa de Ressurreição”, ou seja, o que hoje é simplesmente chamado de
páscoa. “Trata-se de uma época rica em referências ao sagrado e profano, de exaltação à
libertação material, à penitência”31. O período de penitência (a quaresma) abrange os dias que
vão da Quarta-feira de Cinzas até o Sábado Santo (de Aleluia); é um período de renovação
espiritual para que marque, na Páscoa, o reinício de uma vida nova em Cristo ressuscitado. A
penitência tende a reparar os pecados e o sacramento da confissão os fazem ser perdoados.
28 Francisco BETHENCOURT. “A Inquisição” in: História Religiosa de Portugal. Dir. C. Moreira Azevedo,
Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, vol. 2, pp. 95-121.29 Maria Paula Marçal LOURENÇO. “Para o estudo da actividade inquisitorial no Alto Alentejo: a visita da
Inquisição de Lisboa ao bispado de Portalegre em 1578-1579”, A Cidade: Revista Cultural de Portalegre, nº 3
(1989), p. 112. 30 Francisco BETHENCOURT. "Inquisição e controle social". op. cit. p. 10. 31 Maria Paula Marçal LOURENÇO. “Para o estudo da actividade inquisitorial no Alto Alentejo”, op. cit. p. 111.
22
Por isso, essa época é propícia tanto para confissões (que eram obrigatórias a todo cristão
católico) quanto para denúncias. Ressalta-se que a confissão poderia significar para os
inquisidores a desnecessidade de processos demorados, e ao acusado, a possível fuga da
prisão e da tortura. Façamos uma citação de Francisco Bethencourt sobre o controle social que
a confissão e a denúncia apresentavam na sociedade:
O papel da confissão na Igreja, forma individualizada de controle social pela
interiorização da norma, é complementado pelo papel da denúncia ao visitador
(eclesiástico ou inquisitorial), forma pública de (auto)controle da comunidade através
de um recurso a um poder exterior. (BETHENCOURT, 1987, p. 09)
2.3 – CRONOLOGIA DAS VISITAS:
As primeiras (presumíveis) visitas de que se há notícia cobrem boa parte do Alentejo
entre 1543 e 1545. Na década de 1560, encontram-se visitas do inquisidor Pedro Álvares de
Paredes a algumas zonas sob jurisdição do tribunal de Lisboa.
Dos anos de 1580 se possuem menos informações. Segundo
informações de Antonio Joaquim Ferreira: Luís Gonçalves da
Ribafria, deputado da Inquisição de Lisboa, teria visitado
Setúbal, Santarém, Alcobaça e Leiria em 1582; Jeronimo de
Sousa teria percorrido Guimarães, Mesão Frio, Vila Real, Torre
de Moncorvo, Freixo da Espada à Cinta e Mogadouro em 1583.
Destaca-se as visitas a Lisboa em 1587 por Jerónimo de Pedrosa
no mosteiro de São Roque e Antonio de Mendoça na Sé. Neste
mesmo ano Antonio Dias Cardoso visita o Priorado do Crato e
Matheus Pereira de Sá percorre a comarca de Riba Coa. A
década de 1590 muda o foco das visitas, tratando agora mais de
23
Visitas inquisitoriais no séc. XVI
(BETHENCOURT, 1987, p. 09)
visitações às ilhas e aos demais territórios ultramarinos. São, por exemplo, nos anos de 1591-
95 que Heitor Furtado de Mendoça vem ao Brasil, visitando as capitanias da Bahia,
Pernambuco, Itamaracá e Paraíba.
De 1598 até 1617 não se têm mais notícia de qualquer visita da Inquisição. Esta
prática se renova intensa e provisoriamente em 1618 com as visitas à Lisboa, com Antonio
Diaz Cardoso se instalando na Sé; D. Francisco de Bragança no mosteiro de São Domingos;
Gaspar Pereira no mosteiro de São Roque; e as visitas em outras regiões do continente e
ultramar, como Fr. Manuel Coelho em Setúbal. D. Manuel
Pereira percorre o distrito de Lisboa que se prolonga até o ano de
1619, que passa por: Santarém, Golegã, Abrantes, Castelo
Branco, S. Vicente da Beira, Covilhã, Fundão, Belmonte,
Guarda, Celorico, Penamacor, Monsanto, Idanha a Nova, Tomar,
Torres Novas, Ourém, Leiria, Porto de Mós, Alcobaça, Óbidos,
Peniche e Alenquer. Sebastião de Matos de Noronha percorre o
distrito de Coimbra, passando por: Aveiro, Porto, Vila do Conde,
Barcelos, Braga, Viana do Castelo, Caminha, Valença, Monção,
Ponte de Lima, Guimarães, Amarante, Vila Real e Lamego.
Francisco de Cardoso de Torneio visita as ilhas: Funchal,
Calheta, Ponta do Sol e Santa Cruz, na Madeira, Ponta Delgada,
Vila Franca e Angra nos Açores. Marcos Teixeira viaja até o
Brasil, em Salvador, Bahia.
Como pode-se perceber, o contexto de visitas nos anos 1618-1620 é bem mais amplo e
complexo do que as visitas nos anos 1582-1588. E um dos grandes pontos em comum são as
visitas à Lisboa, em 1587 e 1618, dois casos exemplares de cooperação entre o arcebispo de
Lisboa, D. Miguel Castro, e a Inquisição.
24
Visitas inquisitoriais no séc.
XVII (BETHENCOURT, 1987, p.
09)
As últimas visitas de que se tem notícia aconteceram em 1637. Elas possuíam custos
muito elevados. Com o aumento dos comissários e familiares, as visitas da Inquisição vão
diminuindo até cessarem de vez. A visita de Geraldo José Abranches ao Grão Pará em 1763-
1769 já é totalmente deslocada e defasada da estratégia seguida no continente desde a
Restauração.32 Várias dessas visitas feitas no reino, como aquelas efetuadas aqui no Brasil, já
foram estudadas, mas este não é o caso das visitas a Lisboa33.
32 Últimos quatro parágrafos baseados em: Francisco BETHENCOURT. "Inquisição e controle social". História
crítica, 14 (1987), p. 7.33 Foram estudas as visitas feitas em Madeira, Portalegre, ao Priorado do Crato, etc. Sobre elas, ver Maria
LOURENÇO, em “Para o estudo da actividade inquisitorial no Alto Alentejo: a visita da Inquisição de Lisboa ao
bispado de Portalegre em 1578-1579”, A Cidade: Revista Cultural de Portalegre, nº 3 (1989); Sonia
SIQUEIRA. A Inquisição portuguesa e a sociedade colonial. São Paulo: Ática, 1978; Fernanda OLIVAL. “A
Visita da Inquisição à Madeira em 1591-92”. Colóquio Internacional de História da Madeira, col. II. Funchal,
Gov. Regional da Madeira, 1990; e Maria Lourenço. “Inquisição e cristãos-velhos: a visita ao Priorado do Crato
em 1587-1588”, A Cidade, Nova Série, n° 8 (1993).
25
3 – As visitas na cidade de Lisboa em 1587 e 1618
3.1 – DOCUMENTAÇÃO:
As visitações foram realizadas em duas importantes igrejas de Lisboa: no mosteiro de
São Roque, instituição central dos jesuítas em Portugal, e na Sé arquiepiscopal34. Os
inquisidores se instalaram nos principais edifícios religiosos da cidade, que mais faziam parte
do cotidiano espiritual da população. Subsistem diversos documentos destas visitas. Das
visitações de 1587 e 1618, subsistiram os livros de denúncias, de confissões e de
ratificações35. Todos os livros estão disponíveis on-line no site da Direção Geral dos Arquivos
Portugueses.
O presente estudo assenta-se na análise das informações contidas nos seguintes
documentos: No “Livro de Confissões”36, que possui 195 fólios, sendo: a visita do licenciado
Jerónimo de Pedrosa ‒ deputado do Santo Ofício ‒ em 1587, no mosteiro de São Roque,
mandada pelo Inquisidor-Geral da época, o cardeal Alberto. E as confissões da visitação de
Diogo Pereira, mandado pelo bispo D. Fernando Martins de Mascarenhas em 1618, e que se
tem como uma continuação da visita de 1587, sendo realizada também em São Roque. No
“Livro das Denunciações” (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 800) de 361 fólios. Sendo o
visitador Jerónimo de Pedrosa, em 1587, no mosteiro de São Roque, e também as
denunciações da visita de Diogo Pereira, em 1618.
No “Livro das Confissões e Ratificações” (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 802) de
197 fólios, no qual foi notariada a visita do licenciado Antonio de Mendoça ‒ deputado do
34 Diferentemente de BETHENCOURT (1987, p. 07), apreendemos dos Livros 799 e 800 (Inquisição de Lisboa)
que Jerónimo de Pedrosa se instalou apenas no mosteiro de São Roque, e não também no de São Francisco,
como informado pelo autor.
35 Arquivos Nacionais da Torre do Tombo – ANTT, Inquisição de Lisboa, livros 798, 800, 802 e 803
36 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 799
26
Conselho-Geral ‒ em 1587, na Sé. E a visita de Antonio Dias Cardoso, em 1618, também na
catedral da Sé. E finalmente o documento que transcrevemos e que mais analisaremos neste
trabalho, o “Livro das Denunciações” (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803), de 101 fólios,
com o visitador Antonio de Mendoça, em 1587 na Sé, e as denúncias recolhidas por Antonio
Dias Cardoso, da visita à Sé em 1618.
Como já apontado, o documento 803 foi transcrito e analisado, em cumprimento à
“iniciação científica” financiada pela FAPESP37, concomitantemente com a leitura da
bibliografia de apoio. Através dele pudemos perceber alguns padrões e características
específicas nas denúncias recebidas pelos inquisidores. E com esta compilação de dados,
pudemos fazer “quadros gerais” dos comportamentos da população, sendo que ainda estamos
37 Processo de no 2010/15097-1; Orientador: Profº. Drº. Bruno Feitler; Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2011;
intitulada semelhantemente de “Inspecionando o coração do Império: as Visitas da Inquisição à cidade de
Lisboa em 1587 e 1618”
27
Esquema dos principais pontos de Lisboa, assim como a muralha construída pelo rei D. Fernando (1373),
devido a guerra com Castela. (MATTOSO,1998, p. 115)
a espera da disponibilização dos processos, se e quando realizados.
3.2 – ASPECTOS GERAIS:
As visitas da Inquisição buscavam um controle social muito amplo. Através das
denúncias encontrada em nossa documentação, pudemos perceber que havia também um
controle (além de uma demanda por “justiça”) por parte da população. Antes, as pessoas
deveriam tentar corrigir, redimir as outras em pecado. Depois da instituição da Inquisição,
esta noção muda completamente. Alguns exemplos de práticas, em sua maioria de cristãos-
novos, a serem vigiadas e punidas: guardar o sábado usando as melhores roupas ou limpando
a casa na sexta-feira; tomar muitos banhos (banhos constantes eram para os “impuros”);
abster-se de comer porco, lebre, coelho, aves afogadas, polvo, enguia, arraia, congro, e outros
pescados sem escama; degolar animais atravessando-lhes a garganta e depois cobrir o sangue
com terra; respeitar jejuns judaicos; comer pão ázimo; orar contra a parede; amortalhar
defuntos com camisas compridas; enterrar em terra virgem; comer ovo e azeite (ou pôr azeite
na panela com carne); guardar as unhas do defunto, assim como pôr em sua boca uma moeda
de ouro ou uma pérola; mandar tirar a água das jarras quando alguém morre para o anjo lavar
a espada; por a mão na cabeça dos filhos; etc38. Muitas das práticas eram dúbias se a pessoa as
cometia por possuir um culto judaico oculto ou simplesmente por puro costume; por isso,
geralmente os inquisidores avaliavam a reincidência da prática, assim como a presença de
mais de uma delas, e ainda o “valor” que o denunciante possuía (se era cristão-velho, mouro,
ou uma alcoviteira, por exemplo).
Um aspecto que se deve destacar é que na maior parte dos casos, as pessoas apareciam
38 Desta mesma forma, esses eram os comportamentos mais denunciados e confessados nos livros resultantes das
visitas inquisitoriais, como os estudados nesta pesquisa, pois eram o foco da Inquisição: as práticas judaizantes
dos cristãos-novos.
28
para denunciar “sem serem chamadas”, ou seja, por peso na consciência ou por vontade de ir
relatar o que sabiam. Há certo número de denunciantes que são chamados por serem
nomeados em outras denúncias ou confissões (podendo ser testemunhas ou criminosos), mas
estes não contam por mais do que um décimo das denunciações. Em compensação,
frequentemente, esses que eram chamados deveriam ter uma boa explicação do porquê de não
ter ido denunciar anteriormente, ou sofreriam castigos, desde os mais brandos, como rezar a
oração do pai-nosso39, até os graves, como a prisão40. Outro aspecto é o da grande presença
das mulheres. Elas estão na mesma proporção dos homens, relatam o que sabem e recebem
aparentemente o mesmo tratamento, assim como um semelhante valor para a análise de
veracidade dos fatos e delitos contados.
Destaca-se também que houve um caso de denúncia contra um padre que seduziu uma
mulher ao se confessar, o que ajuda a demonstrar o poder da Inquisição sobre o clero, ouvindo
denúncias como essa. Infelizmente, não encontramos se algum processo foi iniciado, mas
provavelmente não, pois a denunciante era apenas uma amiga da mulher seduzida e não sabia
o nome do padre (demonstra-se aqui também o medo que a vítima possuía em contar para
alguém do crime, já descrente da bondade na religião). Outro caso também é o de um
denunciante relatar que ouviu de seu amigo Nuno Dias Carlos que a Inquisição não era justa
ao condenar os presos, dizendo que os inquisidores “eram mto rigorozos no proçeder, por
quãto iulgauão por testimunhas singulares, reprobando o dito proçedimento; […] as taes
testimunhas não prouão nê fazê proua bastante no sancto offiçio”41. Aqui fica evidente que
existia críticas na própria sociedade ao método de julgamento praticado pela Inquisição.
39 Por exemplo, a penitência dada ao frei Nicolao de Oliueira, por saber das práticas de uma suposta feiticeira e
não denunciar ao Santo Ofício: “lhe foi mandado q’ em penitênçia da dita culpa rezara os psalmos penitençiaes
cõ suas ladainhas por sinquo uezes; e ieiurara dous dias quando tiuer oportunidade; e dira duas missas pelas
almas do fogo do purgatorio”. ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 87r.40 Como o caso do padre Antonio Áluarez, que benzia e curava com salmos e foi preso pelo Santo Ofício. ANTT,
Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 44v.41 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 63r.
29
E sobre a questão de haver visitas em Lisboa, reforça-se a noção da grandiosidade da
cidade. Com uma população diversa em ofícios e de diferentes nações, era de se esperar os
múltiplos costumes encontrados na cidade; assim, é compreensível o controle social que a
Inquisição buscava. Além dos moradores, a abertura para o oceano contribuía para a capital
recepcionar diversos estrangeiros, que poderiam trazer outras práticas religiosas e influências
condenáveis. Desta maneira, é clara a necessidade de ser ampliada a presença inquisitorial na
região utilizando-se atividades complementares, sendo uma delas as visitas42, com a instalação
dos inquisidores nos principais centros religiosos da “caput” do Reino.
3.3 – TIPOLOGIA:
Para uma melhor visualização: ao compilar os dados das denunciações da visita de
Antonio de Mendoça em 1587 na Sé de Lisboa, utilizando o documento 80343, contamos 25
denunciantes, sendo 31 denúncias ao todo (às vezes o indivíduo delata mais de uma pessoa).
Destas denúncias, 14 não foram chamadas, 12 o foram e 5 não trazem menção em relação a
isto (as chamadas normalmente aparecem no final do livro, quando os inquisidores tem
motivos de chamá-las, pois são citadas por outras pessoas). Pelo menos um terço dos
denunciados é cristão-novo, outro terço é cristão-velho, e sobre o resto, não se menciona a
qualidade do sangue. Um terço dos denunciantes diz sua origem, e é cristã-velha; a maioria
não o diz e é interessante notar que também há ainda alguns padres delatando perante os
inquisidores. A idade dos denunciantes varia de treze até setenta anos. As culpas em geral são
blasfêmias, feitiçarias, de não se jejuar na quaresma, juras em demasia, de não se acreditar em
milagres, de negar a Deus, de se dizer que é melhor ser mouro, bigamias, abandono dos
42 Atenta-se ao fato que o cardeal Alberto, Inquisidor-Geral em 1587, que manda Jerónimo de Pedrosa (um
deputado de distrito) e Antonio de Mendoça (um deputado do Conselho-Geral) visitarem Lisboa. A preocupação
com Lisboa era tremenda, a ponto de se mandarem inquisidores tão importantes de sua época para realizá-las.43 A ficha está no apêndice deste trabalho e a transcrição completa do documento está anexada.
30
filhos; e as práticas judaizantes, como: não comer peixe sem escama, varrer e lavar às sextas-
feiras, jogar a água fora ao morrer alguém para “o anjo limpar a espada”, mandar enterrar em
cova virgem, etc. Há dois casos únicos, um deles sendo um homem que dizia ser Jesus Cristo
e o outro de um cristão-velho que cria e anunciava que em todas as leis podia-se salvar.
Ressalta-se a existência de dois casos de bigamia, que eram de foro misto (num deles a
pessoa foi chamada – como pode-se ver na ficha no apêndice – então provavelmente já
estava-se formando um processo). Assim, eram de jurisdição tanto do bispo quanto da
Inquisição. Como explicado, nesses casos podia acontecer de alguma das duas instituições
julgar o caso ou de as duas agirem em complementariedade, já que o delito envolve um
descumprimento de um sacramento.
Denúncia→
Nação↓
Blasfêmia
Crer que casados
são melhores
que religiosos
FeitiçariaPrática
judaizanteBigamia Outros Total:
Cristão-velho
3 2 - - 2 1 8
Cristão-novo
1 - - 10 - - 11
Não diz 4 2 5 - - 1 12
Total: 8 4 5 10 2 2 31
Podemos perceber que embora a Inquisição buscasse principalmente crimes referentes
a práticas judaizantes, ainda assim recebia-se denúncias que seriam do foro eclesiástico, como
brigas entre vizinhos e juramentos que envolvem blasfêmias. Não se pode, através desses
crimes, apreender-se que o culpado tenha deixado de acreditar na fé católica, e em algumas
vezes, até percebe-se que se sabe bastante sobre os assuntos da fé, como em um caso que uma
mulher afirma que o estado dos casados era maior que o dos religiosos pois teria sido o
31
próprio Deus que instituiu o casamento enquanto teriam sido os homens que instituíram a
religião. Nestes casos, não se encontra o aspecto herético que a Inquisição procurava sanar,
mas ainda sim, o povo ia relatar qualquer culpa que achasse importante, independente de ser
do foro inquisitorial.
Mas não se deve desconsiderar, é claro, o grande número de culpas judaizantes, sendo
elas desde costumes comuns e inofensivos como o passar da mão na cabeça, desde práticas
enraizadas com o judaísmo, como o guardar do sábado e as restrições alimentares. Assim,
tem-se muita preocupação com os criptojudeus, que são os que ainda mantinham a religião
judaica, e por ser proibida, a escondiam como podem. Porém, suas práticas e ideais destoam
muito das dos cristãos, que acabam os denunciando. E como bem explicado nesse trabalho,
por ter-se inveja dos cristãos-novos e um grande medo da presença deles (que trariam a ira
divina e consequentemente castigos), seus costumes que ainda eram presentes nas pessoas
eram fortemente condenados.
A partir da transcrição e análise deste documento, da leitura dos outros, assim como
dos livros sobre o assunto, pudemos construir algumas hipóteses e conclusões que exporemos
no próximo capítulo. Fizemos uma compilação dos motivos mais mencionados, dos
comportamentos mais relatados e das características gerais dos denunciantes e denunciados,
através de “fichas” e “tabelas”, tendo em vista uma melhor visualização dos dados recolhidos.
Todos os demais trabalhos que realizamos constam no apêndice, estando a transcrição integral
do documento em anexo.
32
Conclusões Gerais
A LEITURA DO ÉDITO:
No período das visitas aqui estudadas, as leituras do édito da fé eram o principal meio
de fazer o povo saber o que era errado e, com os inquisidores por perto, dever-se-ia denunciar.
Um outro meio de pressão que também surge na documentação, por exemplo, era a confissão
sacramental. Surgem várias vezes na documentação casos de padres negavam-se a absolver
sacramentalmente os pecados do indivíduo a não ser que ele fizesse uma denúncia aos
visitadores quando outras pessoas estavam envolvidas ou que se confessasse perante os
inquisidores. Podemos exemplificar com o caso de Fructuoso da Sylua, que ao dizer em
confissão sacramental (entre outros assuntos) que a mulher que morava com ele, Jsabel de
Sousa, mantinha diversas práticas judaicas, o padre o manda ir denunciar perante a mesa do
Santo Ofício44.
A leitura do édito da fé é um dos motivos mais mencionados nas denúncias pois as
pessoas poderiam assim lembrar de algo dito ou feito por alguém ao ouvirem essas palavras e
atos descritos no édito. Elas também poderiam se dar conta de que algo era condenado, ou
ainda passar a temer serem excomungadas se não as denunciassem. O édito da fé ainda
poderia atentar para um bom motivo de ir denunciar ou se confessar no tempo da graça (sendo
30 dias): a suposta absolvição das penas e perdão das fazendas.
Nos Autos da Fé eram comumente realizadas as leituras do édito da fé, porém não
eram tão bem propagadas nem alcançavam tantas pessoas quanto nas leituras das visitas
inquisitoriais. Isto ajuda a demonstrar a importância das visitas, assim como a possibilidade
de que quando as pessoas diziam ter lembrado do crime apenas com a leitura do édito da fé,
44 “(...) e por elle denúçiante dar copia a seu confessor do sobredito, o obrigou o dito confessor a vir elle
denúçiante a esta menza”. ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 58v.
33
de ser uma simples “desculpa”, pois teriam outras tantas oportunidades de saberem o que era
condenado.
Também é compreensível que não são todas as pessoas que tivessem a coragem de
denunciar por vezes membros da própria família sem antes terem um motivo muito bom para
tal. Desta forma, entende-se o recurso de “inventar motivo” para não as ter denunciado, sendo
um deles alegar ignorância. Pode-se, por exemplo, notar como mesmo hoje em dia pune-se
quem abriga um infrator e ainda sim isso é recorrente. Na época moderna em Portugal,
alguém que cometia uma transgressão contra a fé era considerado um criminoso, e quem o
tentasse proteger podia ser condenado como cúmplice.
ATMOSFERA DO MEDO:
Esse ambiente de temor provocava amigos a denunciar amigos, irmãos se acusando,
vizinhos reparando em tudo, e pessoas a pressionar umas às outras para verem se essas não
entravam em pecado de blasfêmia ou heresia. A excomunhão é anunciada contra os que não
delatavam e há ainda o medo constante da denúncia. Essa é a atmosfera ideal à concretização
dos ideais purificadores do tribunal da fé: o extirpar da heresia45.
E soma-se ainda a preocupação do indivíduo de que as causas para as pestes,
terremotos, fomes e guerras poderiam ser solucionadas “simplesmente” seguindo-se os
preceitos da religião, sendo parte deles a denúncia daqueles que tem atitudes condenadas.
Assim, vigiar o vizinho era quase como um dever de todo o cristão. Pensando dessa forma,
não é de se estranhar ler relatos de pessoas olhando por frestas nas paredes e ouvindo através
de portas para saberem o que acontece na casa ao seu lado46.
45 Sobre a “pedagogia do medo”, ver Bartolomé BENNASSAR. L’Inquisition espagnole XVe-XIXe siècles, Paris:
Marabout, 1979, pp. 101-137.
46 E um ainda quer mostrar ao outro o que se faz na vida privada: “e leuando o sobredito homê de pee [Manoel
Rodriguez] a elle testimunha [Mattheus Nunes] por huã escada arriba lhe mostrou hú buraco e lhe disse a elle
34
Pode-se até mesmo relacionar com o trabalho de Alexander Cowan sobre os “boatos”
em Veneza, no qual verifica a necessidade do povo em “querer saber” sobre os vizinhos –
como se um certo casal que se mudou é de fato casado, sobre as origens dos recém-chegados
e sobre os costumes menos comuns das pessoas47. Assim, as denunciações possuíam o caráter
de pressão, mas também podiam possuir simplesmente o de “repassar informações”. As
pessoas já são por natureza curiosas, e quando ainda há um motivo “divino” para tal, atiça-se
ainda mais a vontade de saber do outro.
HIPÓTESES:
A partir do padrão geral dos casos tratados pelo tribunal de Lisboa ao longo de sua
história, e também da grande diversidade populacional da Corte, centro de governo mas
também coração comercial do império português48, podemos levantar a hipótese de que estas
visitas tinham como objetivo controlar esta população variada e flutuante, onde entravam não
só pessoas oriundas de diferentes partes do império, mas também estrangeiros, como
espanhóis, franceses, ingleses e alemães, muitas vezes suspeitos de serem protestantes, ou em
todo caso, de serem maus católicos .
Assim, percebemos através deste trabalho a procura dos reis que a Inquisição, a
princípio, se garanta como instituição forte e poderosa. Afirma-se o poder do Tribunal a fim
de ser reafirmado o poder do próprio Estado. Desta maneira, uma visita à cidade de Lisboa
declarante q' olhasse pelo dito buraco pera uer cõ seos olhos o q’ naquella caza se fazia; e olhando elle decla
rante pelo dito buraco uio que dentro na dita caza estauão dei tados no sobrado tres moços todos de brucos, hú
sobre o outro; cõuê o saber, o pro cõ a barriga sobre a caza; e o segundo cõ a barriga sobre as costas do primeiro,
e o terçeiro sobre as costas do segundo; e todos tres estauão cõ as calcas derrubadas abaixo; e dezatacadas”.
ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 803. Fol 81r.47 Alexander COWAN. “Gossip and Street Culture in Early Modern Venice” in: Journal of Early Modern History,
12 (2008). p. 33048 Ver: Bruno FEITLER. Lisbona, op. cit. e Dejanirah COUTO, História de Lisboa, Lisboa: Gótica, 2003.
35
poderia assegurar que ninguém estivesse “livre” da presença inquisitorial, mesmo em uma
região tão populosa. Assim, conseguir-se-ia retirar os bens de quem “não merecia”, muitas
vezes expulsando-os do Reino, e enriquecer a fazenda real cada vez mais49 (já que se os
cristãos-novos saíssem do Reino por vontade própria, levariam consigo suas riquezas; e se
entrassem em acordos com o rei através de perdões-gerais, haveria confrontos com o papa,
com a população e com o Inquisidor-Geral pois não era do interesse da Inquisição).
Sobre o arcebispo de Lisboa na época em que mais nos interessa, dissertaremos um
pouco sobre Dom Miguel de Castro. Nasceu em Évora por volta de 1536, foi nomeado
inquisidor do tribunal de Lisboa em 1566, e escolhido para o Conselho-Geral por D. Henrique
(com quem tinha boa aproximação) em 1577 até 1578, quando foi preconizado como bispo da
diocese de Viseu. Substitui, graças ao monarca Filipe II, Dom Jorge de Almeida em 1586
como arcebispo de Lisboa, ficando no cargo até 1625, destacando-se ainda sua nomeação de
vice-rei entre 1615 e 1617. Em seu nome se deram – com sua recorrente participação –
diversas visitas pastorais ao arcebispado de Lisboa, nas quais se preocupava principalmente
com as questões de bigamia. Seu governo marcou uma notável ascensão da família Castro,
principalmente sob os mandatos filipinos.50 De certo, é notável seu poder diante de uma das
mais importantes dioceses portuguesas, e uma das cidades mais populosas dos reinos.
Assim, pode-se aventar a existência de motivações políticas na realização das
visitações, como tensões entre a Inquisição e o arcebispo de Lisboa51. Dom Miguel de Castro
mantinha uma grande proximidade com o rei Filipe II. Sua importância é notável, e mesmo
49 Em uma carta de Filipe III, em 1620, o rei demonstra sua intenção de “desterrar” do Reino os cristãos-novos
que continuavam em seus reinos com obstinação, ficando assim os bens e saindo a “gente prejudicial”. Ver
documento nº 109 em: Isaías Rosa PEREIRA. A Inquisição em Portugal. Séculos XVI – XVII – Período Filipino.
Lisboa: Vega, 1993. p. 106.50 Daniel Norte GIEBELS. A relação entre a Inquisição e D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa (1586-
1625). Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. pp 49-55.51 Ver: Daniel Norte GIEBELS. A relação entre a Inquisição e D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa (1586-
1625). Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008.
36
ele já ter sido um inquisidor, pode-se ter tido problemas na manifestação da presença
inquisitorial em Lisboa. A cooperação entre o arcebispo e a Inquisição foi vital para o
acontecimento das visitas, mas sua necessidade ainda não é clara52. Por não haver estudos
específicos sobre estas visitações, não possuímos base para desvendar essas questões, mas
podemos pontuar que se essas tensões foram reais, elas justificam a existência das visitas na
cidade.
Desde a instalação da Inquisição em Portugal, houve complementariedade entre os
diferentes tribunais, mas também houve divergências, como com os casos de “foro misto” –
mixti fori – (por exemplo a bigamia53, feitiçaria, dizer missa ou ouvir em confissão sem ter
ordens maiores, ou a solicitação54), nos quais algumas vezes o rei deveria se intrometer. Desta
maneira, mesmo havendo quase todo ano visitas episcopais em Lisboa, destaca-se a
necessidade das visitas inquisitoriais na cidade; sendo que em todo o caso, os inquisidores
eram autoridades superiores aos dos juízes civis, mas eram concorrentes com a dos bispos,
que apenas podiam vigiar os processos e as sentenças. Em nenhum caso, queria-se demonstrar
um impedimento de julgar as denúncias e confissões recebidas, resultando-se assim, em
audiências de casos que pertenciam a um tribunal específico sendo ouvidas pelo outro por não
as interromperem, mesmo não pertencendo à sua jurisdição. Por fim, exalta-se o poder dos
inquisidores em sua área de influência, afirmado pelo próprio rei, e que o arcebispo não
poderia deixar de obedecer e se submeter.
52 Giebels ressalta diversas vezes a importância do arcebispo, que já havia participado do processo inquisitorial,
em “permitir” estas visitas inquisitoriais em seu arcebispado. Daniel Norte GIEBELS. A relação entre a
Inquisição e D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa (1586-1625). Dissertação de Mestrado. Coimbra:
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. p. 51.53 Documento de nº 53 (1609), em carta ao Inquisidor-Geral, o rei entende que este delito é “ mixti fori”, na qual
há lugar a prevenção, e escreve ao arcebispo que a Inquisição “se conserve nesse Reino em toda autoridade e
respeito devido”, devendo ele “remeter os presos que tiver culpados neste caso”, em: Isaías Rosa PEREIRA. A
Inquisição em Portugal. Séculos XVI – XVII – Período Filipino. Lisboa: Vega, 1993. pp. 53-54.54 SALAZAR CODES, Ana Isabel López. “O Santo Ofício no tempo dos Filipes: transformações institucionais e
relações de poder”. Revista de História da Sociedade e da Cultura, 9 (2009), p. 157.
37
De todo modo, a necessidade maior de fazer-se visitas à própria Corte de Portugal
seria a de anunciar aos seus moradores o que era condenável; quais comportamentos dever-se-
ia vigiar e, consequentemente, denunciar. Destaca-se nos éditos a busca incessante de
comportamentos judaizantes, tão buscados pela Inquisição. Através do temor de ir para o
inferno por morrer em pecado (não só o pecador, mas também o que não denunciasse) e até
mesmo de ser castigado por saber e não dizer nada, os moradores de Lisboa iam ao encontro
de seus inquisidores, onde quer que eles se instalassem, e diziam o que sabiam para “descargo
de suas consciências”.
E mesmo que normalmente as visitas de distrito fossem realizadas em locais com uma
presença inquisitorial bem mais fraca do que em Lisboa, a grandeza e importância da cidade
pode justificar a necessidade de um mecanismo tão específico como uma visitação. Por mais
que Lisboa já possuísse um tribunal, poderia não ser o suficiente para informar a população
sobre o combate das heresias. É interessante notar como, por exemplo, mesmo os inquisidores
destas duas visitas (1587 e 1618) se instalando em duas Igrejas, era comum alguém que
morava perto de uma das Igrejas ir denunciar ou confessar com o inquisidor instalado na outra
Igreja, muito mais longe dele. Isso demonstra que mesmo pretendendo-se anunciar para o
máximo de gente possível assuntos como: os crimes a se vigiar e punir (através dos éditos), a
existência do tribunal (instituído já há algumas décadas) e que se está sendo realizada uma
visita (como em nosso caso específico), nem todas as pessoas são alcançadas.
Pretende-se complementar este estudo, corrigindo qualquer falha ou omissão, em um
futuro projeto de Mestrado, no qual estudaremos mais a fundo os outros documentos sobre
esta mesma visita, assim como daremos continuação à leitura da vasta bibliografia sobre o
assunto. Poderemos então, aproximar-nos mais das motivações que levaram o Conselho-Geral
a mandar as visitas à Lisboa e ao arcebispo de Lisboa de tolerá-las, levando em conta as
38
diversas tensões entre a Igreja e a Inquisição55.
55 Este trabalho foi capaz de mostrar um pouco da tensão existente entre as duas instituições, e percebeu-se com a
leitura da bibliografia o poder que a Inquisição possuía. Ela passava por cima do clero e consequentemente do
arcebispo de Lisboa, sendo que ele deveria inclusive sustentar financeiramente o Tribunal de sua cidade. Desta
forma, houve conflitos e dificuldades, mas conseguiu-se no fim a presença inquisitorial pretendida.
39
Referências Bibliográficas
Fontes manuscritas:
Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (Lisboa)
Tribunal do Santo Ofício – Inquisição de Lisboa
PT/TT/TSO-IL/038/0799 - “Livro de Confissões que se fizeram na visitação que o cardeal
Alberto, inquisidor mor nestes reinos de Portugal mandou fazer (...) em Lisboa".
1587/1618.
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4412009
Contém a visitação do licenciado Jerónimo de Pedrosa, do Desembargo do Paço; da Casa da
Suplicação, deputado do Santo Ofício, feita na Casa de São Roque, em 15 de Março de 1587;
e o termo de publicação e afixação dos Éditos de Fé.
PT/TT/TSO-IL/038/0800 – “Livro das Denunciações”. 1587/1618
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=441E2010
Contém denúncias efetuadas durante a visitação do licenciado Jerónimo de Pedrosa -
comissionado pelo cardeal Alberto arquiduque de Áustria, Inquisidor-Geral dos Reinos de
Portugal-, deputado do Santo Ofício da Inquisição, na Igreja de São Roque, da Companhia de
Jesus, em 15 de Março de 1587.
PT/TT/TSO-IL/038/0802 – “Livro das Confissões e Ratificações”. 1587/1618
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4424606
Contém a visitação de António de Mendonça, feita na Sé, da cidade de Lisboa, em 15 de
Março de 1587, e também, a do licenciado António Dias Cardoso, efectuada em 5 de Março
de 1618, sendo secretário o padre mestre Vicente da Ressurreição, revedor e qualificador do
Santo Ofício de Lisboa.
PT/TT/TSO-IL/038/0803 – “Livro das Denunciações”. 1587/1618
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=2318694
40
Livro das denunciações da visitação do Santo Ofício da cidade de Lisboa que fez o senhor
Antonio de Mendonça deputado do Conselho-Geral na Sé da dita cidade e da visitação que fez
Antonio Dias Cardoso do conselho de sua magestade e do Geral da Inquisição em a mesma Sé
de Lisboa.
Dicionários, manuais e compilações de documentos:
Dizionario storico dell’Inquisizione, ed. A. Prosperi, Pisa: Edizioni della Normale,
2010, 4 vol.
Normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos. Elaborado
pela comissão de sistematização e redação do II encontro nacional de normatização
paleográfica. São Paulo, 16 e 17 de setembro de 1993. Disponível em:
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Transcreve.pdf
PEREIRA, Isaías Rosa. A Inquisição em Portugal. Séculos XVI – XVII – Período
Filipino. Lisboa: Vega, 1993.
PEREIRA, Isaías Rosa. Documentos para a História da Inquisição em Portugal (séc
XVI). Vol 1. Lisboa: Cartas Portuguesas, 1987.
Livros e artigos:
AZEVEDO, J. Lúcio de. História dos cristãos novos portugueses. 2. ed. Lisboa:
Clássica, 1975.
AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.), História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo
de Leitores, 2000. 3 vols.
BARRETO, Luís Filipe (coord.) [et al.]. Inquisição Portuguesa: tempo, razão e
circunstância. Lisboa: Prefácio, 2007.
BETHENCOURT, Francisco. "As visitas pastorais. Um estudo de caso (Entradas,
1572-1593)", Revista de História Econômica e Social, 19 (1987), pp. 95-112.
BETHENCOURT, Francisco. História das inquisições: Portugal, Espanha e Itália
séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
BETHENCOURT, Francisco. "Inquisição e controle social". História crítica, 14,
41
(1987), pp. 5-18.
BOSCHI, Caio César. "As Visitas Diocesanas e a Inquisição na Colônia", Revista
Brasileira de História, nº 14 (mar./ago. 1987), pp. 151-184 e in: Inquisição, M.H.C. dos
Santos (coord.), Sociedade Portuguesa de Estudos do século XVIII, Lisboa: Universitária
Editora (1989), vol. II, pp. 963-996.
BRAGA, Maria Luísa. A Inquisição em Portugal, primeira metade do séc.
XVIII: O Inquisidor-Geral D. Nuno da Cunha de Athayde e Melo. Lisboa:
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1992.
BRAGA, Isabel M. R. M. D. “A visita da inquisição a Braga, Viana do Castelo e Vila
do Conde em 1565”, Cadernos Vianenses, tomo 18 (1995), pp. 29-67.
BRANCO, Fernando Castelo. Breve História da Olisipografia. Porto: Instituto de
Cultura Portuguesa, 1980.
COUTO, Dejanirah. História de Lisboa. Lisboa: Gótica, 2003.
COWAN Alexander. “Gossip and Street Culture in Early Modern Venice” in: Journal
of Early Modern History, 12 (2008).
FARINHA, M. C. Jasmins Dias. “A primeira visita do Conselho-Geral à Inquisição de
Lisboa”, in: Cadernos de História Crítica, nº 1 (1988), pp. 5-59.
FEITLER, Bruno. Nas Malhas da Consciência: igreja e inquisição no Brasil:
Nordeste 1640-1750. São Paulo: Alameda, 2007.
FRANCO, Eduardo José; ASSUNÇÃO, Paulo de. As metamorfoses de um polvo:
religião e política nos regimentos da inquisição portuguesa (séc. XVI - XIX). São Paulo:
Prefácio, 2004.
GIEBELS, Daniel Norte. A relação entre a Inquisição e D. Miguel de Castro,
arcebispo de Lisboa (1586-1625). Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, 2008.
GORENSTEIN, Lina. "A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (século
XVII)”, in: VAINFAS, Ronaldo; FEITLER, Bruno; LAGE, Lana (org.). A Inquisição em
xeque: temas, controvérsias, estudos de caso. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. pp. 25-31.
HERCULANO, Alexandre. História da origem e estabelecimento da inquisição em
Portugal. Porto Alegre: Pradense, 2002.
42
LOURENÇO, Maria Paula Marçal. “Para o estudo da actividade inquisitorial no Alto
Alentejo: a visita da Inquisição de Lisboa ao bispado de Portalegre em 1578-1579”, A
Cidade: Revista Cultural de Portalegre, nº 3 (1989), pp.109-138.
LOURENÇO, Maria Paula Marçal.“Inquisição e cristãos-velhos: a visita ao Priorado
do Crato em 1587-1588”. in: A Cidade, Nova Série, n° 8 (1993), pp. 31-64.
MAGALHÃES, Joaquim Romero. "La Inquisición Portuguesa: intento de
periodización". Revista de la Inquisición, vol. 2 (1992), pp. 71-93.
MAIA, Angela Vieira. À sombra do medo: cristãos-velhos e cristãos-novos nas
capitanias do açúcar. Rio de Janeiro: Oficina Cadernos de Poesia, 1995.
MATTOSO, José (dir.). História da Vida Privada em Portugal. A Idade Moderna.
Lisboa: Temas e Debates, 2011.
MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998. 6 vols.
MEA, Elvira Cunha de Azevedo. A Inquisição de Coimbra no século XVI: A
Instituição, os Homens e a Sociedade. Porto: Fundação Eng. Antonio de Almeida, 1997.
NIEBLA, Gilberto Guevara. “Visita a la Inquisición”, in: Gobiernos. Revista
bimestral, secretaria de Goberniación, México, DF, octobre-noviembre (1994), nº 4, pp. 87-
98.
NOVINSKY, Anita (org.); CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). Inquisição: ensaios
sobre mentalidade, heresias e arte. São Paulo: Edusp, 1992.
OLIVAL, Fernanda. “A Visita da Inquisição à Madeira em 1591-92”. Colóquio
Internacional de História da Madeira, col. II. Funchal, Gov. Regional da Madeira (1990).
OLIVEIRA, Frei Nicolau de. Livro das Grandezas de Lisboa (edição de 1620).
Lisboa: Vega, 1991.
PAIVA, José Pedro de Matos. Baluartes da Fé e da Disciplina. O enlace entre a
inquisição e os Bispos em Portugal. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006.
PAIVA, José Pedro de Matos. "Inquisição e visitas pastorais: dois mecanismos
complementares de controle social?". Revista de História das ideias, nº 11 (1989), pp. 85-102
e in: Inquisição, M.H.C. dos Santos (coord.), Sociedade Portuguesa de Estudos do século
XVIII, Lisboa: Universitária Editora (1989), vol. II, pp. 863-879.
PAIVA, José Pedro de Matos. Os Bispos de Portugal e do Império 1495-1777.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006.
PEREIRA, Ana Margarida Santos, A Inquisição no Brasil. Aspectos da sua Actuação
43
nas Capitanias do Sul (de meados do século XVI ao início do século XVIII), Coimbra:
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2006.
PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para
o Brasil colônia. Brasília/São Paulo: Ed. UnB/Imprensa Oficial, 2000.
PINTO, Maria do Carmo Teixeira. “A Visita do Licensiado Pedro Álvares de Paredes a
Tomar (1561)”. In: Arqueologia do Estado. Primeiras jornadas sobre Formas de
Organização e Exercício de Poderes na Europa do Sul, séculos XIII – XVIII. vol. I. Lisboa:
História e Crítica, 1988. pp. 357-373.
SALAZAR CODES, Ana Isabel López. La Inquisición Portuguesa Bajo Felipe III –
1599-1615. Dissertação apresentada na Universidade de Castilla La Mancha, 2006.
SALAZAR CODES, Ana Isabel López. “O Santo Ofício no tempo dos Filipes:
transformações institucionais e relações de poder”. Revista de História da Sociedade e da
Cultura, 9 (2009), pp. 147-161.
SIQUEIRA, Sônia A. A Inquisição portuguesa e a sociedade colonial. São Paulo:
Ática, 1978.
SIQUEIRA, Sônia A. "O Santo Oficio e o mundo atlântico: ação inquisitorial na
Madeira", in: VAINFAS, Ronaldo; FEITLER, Bruno; LAGE, Lana (org.). A Inquisição em
xeque: temas, controvérsias, estudos de caso. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. pp. 13-24.
SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia Ferreira; BICALHO, Maria Fernanda
(Orgs.). O governo dos povos. São Paulo: Alameda, 2009.
TORRES, José Veiga. "Uma longa guerra social: os ritmos da repressão inquisitorial
em Portugal". Revista de História Econômica e Social, nº 1 (1978), pp. 55-68.
TORRES, José Veiga. "Uma longa guerra social: novas perspectivas para o estudo da
Inquisição portuguesa - a Inquisição de Coimbra". Revista de História das Ideias, nº 8 (1986),
pp. 59-70.
TORRES, José Veiga. "Da repressão religiosa para a promoção social: a Inquisição
como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil". Revista Crítica de
Ciências Sociais, nº 40 (out. 1994), pp. 109-135.
VAINFAS, Ronaldo (org.). Confissões da Bahia: santo ofício da inquisição de Lisboa.
São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
44