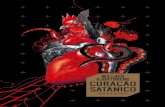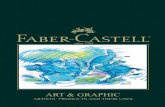Guimarães Rosa e seus precursores: regionalismo, deslocamentos e ressignificações
Guimarães 2012 - O que fica no coração
Transcript of Guimarães 2012 - O que fica no coração
3
e s ta e d iç ã o é p ubl iC a d a no â mbi t o d o C atá l o G o e d i t or i a l d e Guim a r ã e s 20 1 2 C a p i ta l e urop e i a d a Cult ur aJul ho 20 1 3
Fundação Cidade de Guimarães
presidenteJoão B. Serra
diretor executivoCarlos Martins
coordenador de comunicaçãoLino Miguel Teixeira
gestor da ediçãoPaulo Pinto
conceito e ediçãoEsser Jorge Silva
edição fotográficaJoão Octávio Peixoto
autoresAlberto José TeixeiraAntónio Amaro das NevesAntónio Rocha e CostaAugusto Santos SilvaElmano MadailEsser Jorge SilvaFrancisca AbreuHelena PereiraJoão B. SerraJosé MorimLiliana CostaMarcela MaiaMaria do Céu MartinsPaulo PintoPedro Rodrigues Costa
revisãoMartinha PereiraSandra Pereira
designRui Belo/Silvadesigners
tipografiaCalibreMontefioreTiempo
fotografia João PeixotoPaulo PachecoArquivo da Fundação Cidade de GuimarãesArquivo da Câmara Municipal de Guimarães
impressãoGráfica Maiadouro
depósito legal000 000/13
tiragem2 000
6as Cidades e o futuroJoão b. serra
10do editoruma revista para leitoresesser JorGe silva
12momentoscapital
24do FUndo do coraÇão Conversas liliana Costa
40opinião Cosmópolis afonsinaelmano madail o que bulirámaria do Céu martins Cultura que marCa,Cultura de marCa antónio roCha e Costa pontos Capitais:Cultura e eCrãspedro rodriGues Costa
56memÓrias na primeira pessoafranCisCa abreu tempos de semear (1884 e 2012)antónio amaro das neves
54ensaio Cultura loCal – identidade e transformaçãoauGusto santos silvaCoração que marCapaulo pinto o que fiCa de quem passahelena pereira
94entreVista antónio Cunha antónio maGalhães esser JorGe silva
122etnograFias nas obras do touralesser JorGe silva praça do touralesser JorGe silva no bosque da alamedaesser JorGe silva
142reportagemplataforma das artes e laboratórios de Criatividade fábriCa asa Caaa bairro ConCeiçãoesser JorGe silva ser Jovem numa Cidade antiGa que Já foi Capital europeia da CulturamarCela maiaCourosalberto José teixeira
198amores Cadeados José morim
6
é acerca do futuro – o futuro das cidades – que me proponho aqui reflectir. Não em forma de estudo académico, que certamente aqui
seria deslocado exercitar, mas reprodu-zindo os caminhos dos debates e das experiências em que me foi dado partici-par, sobretudo num passado recente.
Vicissitudes diversas tiveram como resultado que tivesse sido protagonista nos últimos três anos de um projecto que trouxe as artes e a cultura para o campo da regeneração social, económica e urbanística de uma cidade. A cidade, as suas classes dirigentes, mobilizaram um conjunto excepcional de meios para reforçar as condições que entendiam adequadas a melhorar o seu futuro. Não vou aqui expor e justificar esse modelo, mas dar conta dos contributos reflexivos que o processo suscitou .
Viver em meio urbano tornou-se hoje uma condição maioritária no mundo desenvolvido e normal em todo o mundo. Desde 2008 que mais de metade da população do planeta vive em cidades. E não era assim quando os meus pais nasceram e nem sequer quando eu nasci. Em 1900, os residentes em cidades repre-sentavam 14% da população e em 1950 cerca de 30%.
Este movimento sofreu uma aceleração rápida nas últimas décadas e tudo indica que se continuará a verificar. Hoje, nos
países desenvolvidos, 74% da população é urbana, contra 44% nos países menos desenvolvidos: Em 2050 estima-se que a média global se situe nos 70%.
Esta transformação profunda do ecossis-tema social e demográfico colocou a cidade, e as políticas urbanas, no centro dos problemas e no centro das soluções.
Na cidade encontramos o melhor e o pior da civilização humana: as grandes realiza-ções da ciência, da técnica, da cultura; e a violência, a miséria, a barbárie; a generosidade do espírito humano e a degradação e a corrupção; o que nos orgulha e o que nos envergonha.
É por isso que a chave do nosso futuro está na cidade.
A crise que vivemos hoje é um revelador e um acelerador de tensões na cidade. E aqui, como noutros domínios da vida colectiva, mostra-se particularmente exigente quanto à forma de a devermos encarar e de lhe respondermos. De facto a crise é particularmente intimidatória e severa, obrigando a que as escolhas tenham de ser mais corajosas e mais racionais, fundamentadas na investigação e na experimentação.
A crise ameaça a abordagem holística e desvaloriza o médio e longo prazo em detrimento do imediato. Empurra para o refúgio no passado ou a concentração no casuísmo. Temos de contrariar ambas as tendências, continuando a produzir
as Cidades e o futuroPresidente da Fundação Cidade de Guimarães
João b. serra
7
visões sobre o futuro e continuando a apostar na prospectiva e na criatividade. Temos que olhar para a cidade com uma grande angular e não reduzir o campo de observação. Sem prejuízo da pequena escala, não podemos perder de vista a orientação da grande escala.
Em suma, a agenda das políticas urbanas pode ter de ser mais flexível, mas nem por isso pode deixar de ser consistente, mobili-zadora, sólida nos seus pressupostos, capaz de gerar um forte consenso social e político, revigorando o espaço público.
As cidades não estão isoladas. Não são ilhas. Relacionam-se com outros territórios urbanos, formam arquipélagos, e concor-rem entre si. Precisam de fixar pessoas e bens que as favoreçam, conservando os talentos que formaram e a qualidade que conseguiram promover e atraindo talentos e qualidade vindos do exterior. Precisam de elevar o nível dos serviços que prestam, porque é assim que melhoram a sua posição nas trocas com outras cidades. Uma cidade que não faz trocas ou cujos termos de troca lhe são globalmente desfavoráveis entra em declínio.
A competição é permanente. O equilíbrio entre situações de vantagem e situações de desvantagem nos termos de troca é sempre precária. As cidades não podem abrandar na resiliência face aos factores desfavorá-veis nem desviar-se do esforço de detecção e fortalecimento dos factores favoráveis.
Boa parte da determinação das cidades em evitar o declínio e promover o cresci-mento tem sido aplicada nas estruturas. Através delas enfrentam-se as questões do abastecimento da cidade, do fornecimento de água e da recolha e tratamento de resíduos, da energia, da mobilidade e dos transportes, ou seja da logística. Estamos a falar de estruturas físicas
e tecnológicas que permitam à cidade oferecer aos que nela vivem e trabalham e às empresas que nela se instalaram as melhores condições possíveis para desen-volverem as suas actividades produtivas. Podemos designar genericamente esta componente estrutural da cidade, este layer urbano, por sistema. Uma cidade é um sistema, ou um conjunto de sistemas, e o investimento mais significativo dos orçamentos das cidades é a este complexo que se destina.
Mas há um outro layer urbano, desmate-rializado, de natureza essencialmente comunicacional. Tem sido designado por diversas formas. Há quem se lhe refira usando o termo “expressão”. Charles Leadbeater chama-lhe empatia. Uma cidade é sistema e empatia, ou, se quiser-mos, infra-estruturas e hospitalidade. Há cidades que entram em declínio, apesar do nível de estruturação que atingiram.
As artes e a cultura – com as políticas que as desenvolvem – têm sido justamente incluídas neste domínio da empatia, dada a sua natureza eminentemente comunicacional.
Compreende-se que assim seja, mas gostaria de a este propósito sublinhar duas notas.
A primeira nota é a de que do meu ponto de vista as políticas urbanas devem também considerar as artes e a cultura no plano das estruturas, como parte do sistema. Isso significa prever a existência de uma rede de equipamentos cuja função seja assegurar não só a apresentação mas também a criação artística e cultural, e sobretudo assegurar a esses equipamentos um modelo de gestão orçamentado, monitorizado e avaliado, com o mesmo grau de responsabi-lidade e rigor de qualquer outro equipa-mento do sistema urbano.
8
A segunda nota tem que ver precisa-mente com a natureza comunicacional das artes e da cultura, valorizada pela modernidade avançada em que entramos, a terceira modernidade segundo François Ascher, a das sociedades educativas ou do conhecimento, ou de aprendentes (as designações variam em função do enfoque utilizado).
A sociedade de aprendentes tende a esbater a separação entre os que ensinam e os que são ensinados, entre os criam e os que usufruem da criação, entre os produtores de cultura e os consumidores. A actividade cultural é um processo que, em si próprio, conta tanto como o resul-tado. Mobiliza múltiplos actores e destina-tários, que a todo o momento trocam ou acumulam posições. É um processo comunicativo por excelência.
Não é uma mera forma de entreteni-mento, mais ou menos passiva. E daí que não deve deixar-se aprisionar pela frieza, distância, esoterismo, mas sim identificar com surpresa, emoção, apropriação.
O processo cultural contribui de forma muito importante para elevar e renovar a empatia de uma cidade, mas não é suficiente para a tornar acolhedora. A cidade hospitaleira pretende não apenas que os visitantes gostem de frequentar as suas exposições e participar nas suas performances artísticas, mas que uma parte se sinta tão à vontade que admita optar por aquela cidade para viver e trabalhar.
Isto implica que as cidades tenham uma agenda para a criatividade que vá para lá da oferta de uma programação cultural de boa qualidade e capaz de encetar um efectivo diálogo com o que vem de fora.
Charles Leadbeater indicou alguns aspectos que podem fazer parte dessa
agenda. Por exemplo, o incentivo a que os cidadãos residentes invistam as suas ideias nos espaços que habitam; por exemplo, o estímulo a integrar novos negócios provindos do exterior na rede existente; por exemplo a disponibilidade de espaços e ocasiões para debater ideias e propostas. Como escreveu este autor, a criatividade é em larga medida dialógica, implica combinar, ligar e misturar ideias vindas de fora e originárias de dentro.
A cidade criativa é a cidade que aposta na co-criação, é uma cidade que acredita em si, nos seus valores, na sua história, mas dá lugar ao outro, não vê o futuro de forma acabada e auto-suficiente. É uma cidade que está disposta a abrir o seu espaço público e a partilhar o seu conhecimento.
Pierre Sansot: “uma cidade, devemos felicitar-nos por isso, oferece-nos serviços, empregos, equipamentos. Deveria também mostrar-se doce para viver, para reconhe-cer, até para tocar, acompanhar-nos nas nossas alegrias e tristezas”.
Um derradeira observação sobre as cidades europeias e a evolução das políti-cas urbanas. Há que constatar que nos últimos 20/30 anos se impôs um modo de pensar o desenvolvimento urbano de modo mais transversal, contrapondo ao urba-nismo do produto (equipamentos) um urbanismo da relação. As cidades não se contentam em exibir as suas pedras, querem que elas contem uma história, despertem imaginários e sejam cenários de acontecimentos.
As mudanças ocorridas no plano social e demográfico, a mobilidade, o incremento dos factores de incerteza, a fragmentação e dispersão urbanas também colocam desafios novos ao modelo de governo territorial. O governo das cidades tem de ser a um tempo mais negocial, mais eficaz
João b. serra
9
na escala supra-local e mais capaz de promover a participação dos cidadãos.
As sociedades urbanas são mais hetero-géneas, os laços pessoais multiplicaram-se e enfraqueceram-se, os cidadão exibem multipertenças, as mediações antigas desapareceram, o Estado recuou.
Acresce que a crise institucional da democracia potenciou os factores de desafeição cidadã, de desconfiança face à política e de afastamento dos cidadãos relativamente aos mecanismos de participação na vida política.
A crise da democracia saldou-se numa dupla perda de poder real: dos governos enquanto emanação da vontade popular e dos cidadãos eleitores enquanto fonte de legitimidade da democracia. O poder formal, assente em regras formais, pode aparentemente permanecer sem altera-ções, mas o poder real é hoje mais fraco e a perda de robustez das instituições democráticas fragiliza o cidadão.
É por isso que os temas da participação são hoje temas centrais do governo demo-crático, e não apenas os temas clássicos do bom governo e da res publica ou seja, do bem comum. De certo modo, os cidadãos temem justamente que todos os governos sejam maus governos e não respeitem o bem comum. E, em consequência, amea-çam seriamente desertar do campo do voto ou fazer do seu voto uma pura negação.
Os processos artísticos e culturais que até aqui eram sobretudo encarados na perspectiva das condições de produção, são hoje interpelados por um novo papel, um novo lugar nas sociedades desenvolvi-das e democráticas.
As artes e a cultura continuam a ser os nossos reservatórios de imaginário, mas todos nós nos sentimos hoje, a um tempo, não só consumidores, como também
fornecedores desse imaginário. É por isso que os processos culturais assumem cada vez mais um perfil colaborativo, tornam-se processos de co-criação, como atrás referi. O incremento da participação dos destina-tários e consumidores no processo cultural deverá saldar-se num ganho de alarga-mento e intensificação do espaço público enquanto espaço de partilha e de pertença colectiva.
O governo das cidades tem de conjugar estes planos, o micro com o macro, o público com o privado, a multiplicidade de actores, os produtos com os laços, a democracia representativa com novos processos de deliberação e decisão.
Numa palavra, impõe-se construir uma agenda para o futuro – e todas as cidades por definição têm de ter uma agenda para o futuro, porque sabem que não são eternas – tem de combinar:
– um lugar determinante para a cultura, como sistema e como produtor de imaginá-rio, ou seja de visões partilháveis de futuro e memórias colectivas abertas ao outro;
– uma preocupação ampla com a inova-ção social, que implica a mobilização de todos os espaços e instituições comuns para enfrentar os problemas que ameaçam provocar o declínio;
– um novo modelo de governo, mais negocial e participado e mais atento à escala supra-local.
A terminar (Jean Viard) – a cidade tem necessidade de ser governada com huma-nismo, e também com uma boa dose de esperança, um pouco de utopia, para fixar um objectivo e não temer enfrentar a mundialização e os seus sobressaltos.
Guimarães, em 2012, fez parte deste caminho, que vindo de trás e que será, agora, continuado a partir da ampliação conquistada.
as Cidades e o futuro
10
o s adamastores que nos povoam têm uma força extraordinária no amarrar das nossas possibilidades, apropriando-se das soluções e, em
consequência, do futuro, como se estes estivessem confinados exclusivamente aos nossos medos. As cores dos nossos hori-zontes são mais vezes pintadas de impro-babilidades e, raras vezes, à frente dos nossos olhos, é-nos dada a noção de possibilidade.
Se, visto à partida, a Capital Europeia da Cultura 2012 poderia constituir uma oportunidade única, como várias vezes se afirmou, tal desígnio apenas ganhou substância quando os vimaranenses, sem distinção da fortuna e posição social ocupada, foram chamados a dar forma e corpo a um momento raro na sua já longa e fértil história.
O apelo à memória das ocorrências do ano de 2012 jamais deixará de acontecer, exatamente por configurar uma mensagem recebida e entendida por todos e cujo resultado foi a adesão coletiva dos vimara-nenses na concretização de um quadro apresentado como uma obrigação coletiva.
A Capital Europeia da Cultura configu-rou em si uma proposta de desafio contra
os adamastores, transformando a sua ocorrência na demonstração de que, o livre espírito e a criatividade, ajudam à noção de liberdade, a que se estende o entendimento da esperança como um perfume existencial.
O ano de 2012 deve ser entendido como uma fragância lançada sobre as cabeças ampliando a formulação do clima do “é possível!”, apelo que norteou todos os discursos e persistiu serpenteando pelo território como o triunfo do improvável lutador contra certeza imutável dos céticos. O clima da possibilidade exprime não só a noção de vontade, mas também a necessidade de avanço sobre nós, uma espécie de exigência tornada coletiva ou um contrato de todos entre todos, em busca de dias melhores no futuro.
Demorarão alguns anos para que se perceba a efetiva importância do ano 2012 e da Capital Europeia da Cultura. E, nesse decorrer do tempo, enquanto tentamos perceber o fenómeno, propomos nesta edição, dar-lhe uma vida estendida, tornando-o um viver habitual, como se depois da sua chegada, jamais fosse possível despegarmo-nos da nova roupagem que se nos colou ao corpo.
Nesta publicação não se falará do que já
uma revista para leitoresesser JorGe silva
do editor – o que fazer parte quer dizer
11
se falou. Propomo-nos prosseguir. Não há nas suas páginas nenhuma lista de receitas e despesas, nem se discutem milhões e os seus efeitos. Também não se exploram os mil caminhos alternativos que poderiam ter sido seguidos para a realização da Capital Europeia da Cultura. Decidimos ir em frente à procura do nosso futuro, sabendo que é aí onde reside toda a realidade das epifanias da atualidade.
A memória e as inscrições não se esfumam nas brumas do passado. Pelo contrário, dão-nos os códigos da nossa identidade, guiam-nos nos nossos planos e ajudam a estabelecer os objetivos da nossa missão coletiva. Por isso pedimos a várias pessoas que nos traçassem a viagem dos vimaranenses até este ponto. Que arquétipos residentes no imaginário e quais os traços da resistência, da estratégia e dos planos que estiveram na origem deste quadro? E onde estão os novos desejos, antecâmara de qualquer realização? Essa pergunta foi feita a um grupo de pessoas, desde simples populares, jornalistas, pensadores, gestores políticos e universitários.
As pessoas, matéria-prima de qualquer sociedade, filigrana de todos os contornos
da plurigrafia territorial, génese e objeto de todas as decisões políticas, fazem parte desta edição. Podemos encontrá-las na forma das suas profissões ou na hierarquia das responsabilidades sociais. São elas que nos guiam por estas páginas mostrando a luz da esperança ou o ceticismo da prudência.
Nota do editorPor questões técnicas ligadas à dimensão da revista, a edição é apresentada em dois formatos: No formato “digital” o leitor encontrará a totalidade de temas, diversi-dade de abordagens e variedade de géne-ros. Pretende-se que a revista “O que fica no Coração” fique à mercê de um down-load, se dissemine através das redes sociais e assim chegue ao maior número de pessoas; No formato “papel” a edição, mantendo a diversidade temática, apresen-tam-se mais reduzida no número de páginas e com uma tiragem limitada, sendo complementada com a edição digital.
24
“andamos em Crise desde o tempo dos filipinos”
Jerónimo silva, ComerCiante
entrevistas de liliana Costa
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
25
a inda a conversa não tinha começado e Jerónimo Silva foi logo avisando que não esperasse floreados sobre o assunto que nos levou à Casa Ferreira
da Cunha, uma loja de ferragens, de que é proprietário, no Largo do Toural. Crítico em relação a muitas das intervenções feitas na cidade no âmbito da Capital Europeia da Cultura (CEC), com o Toural à cabeça, Jerónimo assume que não tem grandes esperanças no futuro de Guimarães. “Vou ser pessimista. Durante o ano da CEC houve algum movimento de pessoas, estrangeiros e portugueses, mas já no final do ano se notava uma descida acentuada. Se me disser que a culpa é da crise eu respondo--lhe que estamos em crise deste o tempo dos filipinos”, atira.
Nascido na Rua D. João I, ali mesmo junto ao Largo do Toural, Jerónimo não esconde a paixão pela cidade onde cresceu. “É uma das cidades mais bonitas de Portugal, pode crer, e não é pelo fato de ter nascido nela, que eu até tenho uma costela transmontana e alto duriense”, diz. Talvez por isso se demore de forma tão entusiasmada e crítica na análise ao investimento realizado e ao que espera das próximas décadas.
Vamos por partes. “Não sei se o presidente da Câmara vai ler isto mas sempre disse e mantenho que não gosto da obra que se fez no Toural. Se tivesse cá vindo há quatro ou cinco anos, veria como era uma praça bonita, com arvoredo envolvente, menos ventoso. Hoje o Toural é um deserto, um espaço vazio, sem vida, já para não falar naquela grade que dizem ter um significado qualquer que não me convenceu”, critica. Ele próprio recorda a “loucura” que foi na noite em que o Vitória de Guimarães venceu a Taça de Portugal após a vitória sobre o Benfica, com milhares de pessoas no Toural, mas “tirando esse episódio não se passa absolutamente nada. Aparecem por aqui os mais velhos que se tinham habitu-ado a repousar debaixo das árvores junto
à cabine telefónica que ali havia mas agora encostam-se aos estabelecimentos para se abrigarem da chuva e do sol”.
Puxamos pela Plataforma das Artes e outros equipamentos culturais elogiados e premiados, mas mais uma vez Jerónimo Silva não adoça a conversa. “São elefantes brancos. E felizmente não se fizeram todas as obras que queriam fazer. Esses equipa-mentos vão custar muito dinheiro. Veja o que é preciso gastar para arrefecer no Verão e aquecer no Inverno a Plataforma das Artes, por exemplo. Já viu a volumetria daquilo?”, pergunta-nos. Para além das mostras pontuais, a Plataforma das Artes e da Criatividade, no espaço do antigo mercado, vale-se da exposição permanente do artista plástico José de Guimarães. Ora, Jerónimo não gosta do autor e acha difícil vender esse produto. “A entrada custa 4 euros. Se vier uma família e fizer as contas de multiplicar é bem capaz de pensar duas vezes”, acres-centa. Para Jerónimo Silva, “Guimarães dá um salto colossal com eventos como o Guimarães Jazz, que me traz turistas com sensibilidade para apreciar os meus canivetes suíços e facas artesanais. Ou como a famosa Rampa da Penha que foi retomada há pouco e que chama centenas de pessoas. São iniciativas como essas que deixam marca”, considera.
Uma vez feito o investimento na Capital Europeia da Cultura, o desafio de Guimarães para as próximas décadas estará na capacidade para segurar o que conquistou. E aí Jerónimo Silva tem reservas. “Sabe que um pau quando nasce torto dificilmente se endireita, no entanto de um pau direito faz-se uma bengala, mas o pau tem de ser direito senão a bengala fica torta”, remata. No início da conversa, ele bem que nos avisou que é um homem “pessimista”. E não nos enganou.
26
“a CeC foi só o Começo de alGo maior”
Joana antunes, bailarina, CoreóGrafa e atriz
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
27
J oana é uma mulher sedutora, bairrista, urbana, persistente, com garra. E olha para Guimarães como se estivesse a ver-se ao
espelho. É bailarina, coreógrafa, atriz e antes de tudo isso é vimaranense. “Guimarães tem uma qualidade de vida muito boa e uma magia muito especial. Já estive fora, não consigo dizer se é melhor ou pior, é diferente”, elogia.
Joana Antunes viveu e participou ativamente na Capital Europeia da Cultura (CEC) e considera que foi um marco na história cultural da cidade. “A CEC foi só um começo. Daqui em diante, todo o movimento associativo, amadores e profissionais, tem tendência a crescer e isso já se vai vendo nestes primeiros seis meses. Há grupos que continuam com atuações, com novos projetos, a criar novas parcerias. Ainda há dias recebemos uma carta do projeto ‘Outra Voz’ para nos tornarmos parceiros. A dimensão da CEC está a possuir a cidade”, revela.
Há, porém, um entrave. “A condição económica que se vive na Europa e em Portugal. Vai menos gente ver espectáculos com bilheteira, há menos dinheiro para investir em criação artística, os subsídios pontuais foram reduzidos e, evidente-mente, Guimarães não escapa. Esse fenómeno retrai imenso a projeção que a cidade poderia estar a ter”, reconhece.
Mas Joana Antunes desengana quem pensa que o que se construiu acabará por morrer. “Guimarães já tinha uma história cultural com cerca de 50 anos e desde os primeiros movimentos associativos que Guimarães não deixa morrer os projetos que cria. Com a CEC e a passagem de tantos artistas e as experiências vividas com a comunidade, esta ficou ainda mais ligada de forma natural a tudo o que é movimento artístico. Por exemplo, eu já tinha visto os La Fura Dels Baus atuar no mesmo registo noutros países e não tiveram, de todo,
aquela multidão. Guimarães vive intensa-mente tudo o que se faz na cidade”, revela. Mesmo com a crise atual, acrescenta,“consegue-se ter uma sala acolhedora porque o público de Guimarães é fiel, coisa que não se vê noutras cidades como no Porto, por exemplo”.
A atividade cultural na cidade esfriou, como seria de esperar, com o fim da Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura mas Joana faz notar que “as coisas continuam acontecer, com menor dimen-são é certo, mas continuamos a ter progra-mações nos vários espaços criados, nomeadamente no CAAA [Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura], no Instituto do Design, na Fábrica ASA, no Laboratório das Artes, para além da associação Convívio, do CAR [Círculo de Arte e Recreio] e do Centro Cultural Vila Flor que tem já uma programação consolidada”.
As alterações arquitetónicas geraram grande controvérsia e ainda hoje há quem não se conforme com o que foi feito no Largo do Toural. “Há muitos velhos do Restelo. Eu acho que ficou lindíssimo. É natural que uma pessoa habituada a viver 50 anos com uma praça igual à que sempre foi lhe cause estranheza, mas a Humanidade é feita de coisas novas e de mudança”, contrapõe.
Joana Antunes tem uma escola de artes performativas, a Asas de Palco, e não esconde que se vive com muita dificuldade. “Não pensa em emigrar como fazem os jovens da sua geração?”, perguntamos-lhe, ao que responde: “o que me mantém é a minha teimosia e é isso que faz com que as coisas aconteçam. Não fosse a teimosia, o Vitória de Guimarães não tinha conse-guido aquela proeza na Taça de Portugal”, remata.
28
“serão preCisos alGuns anos para perCeber
os resultados da CeC”Júlio Castro, alfarrabista
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
29
J úlio Castro lembra-se bem do que era Guimarães e, em particular, o Centro Histórico, antes da profunda reabilitação que mais tarde viria
a merecer o reconhecimento da UNESCO que o classificou Património Mundial.
“Os melhoramentos estão à vista de todos e não os podemos negar. Eu que nasci cá lembro-me bem do que era Guimarães há 20 ou 30 anos atrás e aquilo que é hoje”, constata. E tal como diz o ditado “Roma e Pavia não se fizeram num dia”, todo o investimento realizado em torno da recuperação do Centro Histórico demorou o seu tempo a apresentar resulta-dos. “Não foi de um dia para o outro. Hoje a Praça de S. Tiago é um espaço usufruído pelos vimaranenses e visitado por turistas mas nem sempre foi assim”, lembra.
Para Júlio Castro é possível que ainda sejam precisos mais alguns anos para se perceber que resultados teve, efetiva-mente, a Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura (CEC). A assombrar as melhores expetativas está o desem-prego. Essa ‘doença’ que atinge milhares de pessoas e salta para todas as conversas. “Vejo o futuro muito negro em relação ao trabalho. Eu quero ser otimista mas a realidade não me deixa. Eu já tenho 63 anos e um filho de 30 e vejo que é um drama medonho. Na minha geração, a partir dos 18 anos éramos completamente independentes, com trabalho e alguns já com família constituída. Hoje, os filhos ainda vivem com os pais”, observa.
Como que a bater o pé teimando resistir às evidências, Júlio repete que quer ser otimista e que acredita “muito que isto vai dar uma volta. Tem de dar”. O fenómeno não é exclusivo mas Guimarães sofre particularmente com o fim da pujança industrial que conheceu na geração de Júlio. A CEC contribuiu para maquilhar a situação dramática que por aqui se vive em milhares de famílias. “Foram criados
empregos sazonais. Abriram muitas casas comerciais, nomeadamente bares e lojas de artesanato mas neste momento estão a fechar. Se olharmos para a Rua da Rainha vemos que muitas só abriram mesmo para aquele ano”, aponta. Além do fim do brilho do evento, a cidade sofreu este ano com um Inverno chuvoso. “E nós sabemos bem como isso nos prejudica. Basta vir um fim-de--semana de sol e a praça parece outra”, diz.
A par da intervenção no edificado, Guimarães apostou na instituição de hábitos culturais e formação de novos públicos, fortaleceu o associativismo, ganhou um pólo da Universidade do Minho e isso refletiu-se no negócio da livraria alfarrabista “A Loja do Júlio”. Criada em 1996, começou por se instalar num pequeno espaço do número 77/79 da Rua da Rainha mas o aumento da procura de livros raros e do património obrigou a que a loja se mudasse para número 145 da mesma rua, onde ocupa o rés-do-chão e primeiro andar. Ali privilegia-se as rarida-des do mundo livreiro, com principal destaque para os livros de autores vimara-nenses e para a vasta literatura portuguesa, além de vários artigos de coleccionismo e pintura. Frequentemente, “A Loja do Júlio”, que entretanto foi passada ao filho José Hugo, é local de tertúlia e encontro de intelectuais e bibliófilos.
“Nota-se que as pessoas têm outra sensibilidade cultural mas o problema é que essa população mais instruída está hoje desempregada. Há estudantes univer-sitários que me vêm pedir para fotocopiar livros porque não têm 10 euros para os comprar. Não permitimos, pois, mas deixamos ler e tirar apontamentos”, relata.
Júlio Castro confessa a “mágoa” por ver “estes jovens que fizeram os seus cursos a pisgar-se para o estrangeiro. Isso causa-me medo, não sei o que será daqui por meia dúzia de anos”.
30
“tenho muita fé, dizem que é o que nos salva”
maria da Graça Cardoso, vendedora de fruta
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
31
m aria da Graça vai remexendo os morangos com mão delicada à procura dos que já estão podres. “Ainda vieram ontem e veja lá os
que já vão para o lixo”, queixa-se. As bancas de fruta estão à vista da rua,
no rés-do-chão de um prédio antigo da Rua Francisco Agra, não muito longe do Centro Histórico. Maria da Graça mora no andar de cima. Tomou conta do negócio quando a mãe morreu, há dois anos, e desde então tem vindo a cair. “Vende-se muito pouco, as pessoas compram menos. A fruta está cara e dizem que este ano ainda vai haver menos”, conta.
Aproximam-se duas clientes. Propomos uma pausa para não prejudicar o negócio mas Maria da Graça quer despachar a conversa de uma vez. “Não vai demorar muito, pois não?”. São clientes habituais e não parecem ter pressa.
Maria da Graça Cardoso é vimaranense da cabeça aos pés. Do orgulho ao sotaque. “Guimarães é uma cidade linda e por isso chama tantos turistas”. Mas não há empregos. “Pois, mas eu tenho muita fé. Costuma dizer-se que a fé é que nos salva. Se a perdermos lá vai tudo”, responde-nos. Agarra-se à esperança e alimenta a ideia que “Guimarães vai ter um bom futuro”.
Não nos disse mas há de ter passado um mau bocado. E sobreviveu. Trabalhou 42 anos na antiga Fábrica Vaz da Costa até que se viu desempregada. Assistiu ao desmantelamento da unidade, onde entretanto se ergueu um supermercado, foi tomando o pulso ao negócio da fruta da mãe e agora vale-se dele para viver.
Hoje tem 60 anos, é solteira mas preo-cupa-se com o futuro dos sobrinhos como se fossem filhos. “Tenho uma que já teve de emigrar para o Chipre, tenho outro, engenheiro civil, que emigrou para Moçambique e se isto continua assim não vai haver outro caminho”, lamenta. Custa-lhe vê-los partir. Sabe que estão
melhor no estrangeiro, onde têm trabalho e bons salários mas “coitadinhos, estão longe da família”. Maria da Graça sofre com isso mas o que a angustia mesmo é pensar no futuro de uma cidade que ainda é uma das mais jovens do país. “Vão ficar aqui só os velhos. Nem quero pensar nisso mas é para aí que caminhamos”, observa.
Voltamos à fé. “Eu quero muito acreditar que isto vai melhor. Isto tem de dar uma volta não pode ser sempre a piorar”, repete.
Maria da Graça parece cansada do assunto. A crise deve ser tema de todas as conversas no entra e sai da frutaria. Duas clientes já estão à espera há um bom pedaço. “O que é que vai ser hoje menina?”.
32
“os turistas CheGam de bolsos vazios”
Gaspar Carreira, artesão do ferro
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
33
G aspar Carreira não tem muitos interesses. É homem de uma arte só, a do ferro.
Passa os dias na centenária oficina de ferreiro, no nº 12 da Rua Donães, uma das perpendiculares ao Largo da Oliveira. Aprendeu o ofício com o pai e o avô, Gaspar Pinto Carreira, quem deu início à família de artífices.
Gaspar Carreira não tem quem lhe suceda e vive com esse desgosto. “Tenho três raparigas e um rapaz mas ele está na Suíça e não tem vocação para isto. Para este modo de vida é preciso nascer com aquele dom, requer muita paciência e muito amor”, diz.
Sobre a confusa mesa de trabalho salta-nos à vista uma estátua de D. Afonso Henriques em ferro. Está em fase de finalização. “Já só falta o manto. Esta não foi encomendada, é obra minha”, afirma, orgulhoso. O negócio está fraco e esta peça vai ficar em exposição até encontrar comprador disposto a pagar cerca de 1000 euros pela obra.
“Faço muita coisa mas ninguém compra. O povo não tem dinheiro e mesmo os turistas estrangeiros, sejam franceses, italianos ou alemães gostam muito das peças mas quando chegamos ao preço desistem”, queixa-se. Gaspar Carreira insiste na imagem de um “turista de meia tigela. Sentam-se numa esplanada, tomam meia de leite e uma torrada e vão-se embora. Nos restaurantes, escolhem os mais baratinhos e alguns só comem uma sopa”.
Encostado à porta vemos um brasão praticamente acabado em ferro forjado, com o símbolo do dragão, encomenda de um adepto portista. Gaspar entusiasma-se quando fala das criações mas não se interesse por outras artes. Quisemos saber o que pensa dos novos equipamentos culturais da cidade construídos pela Guimarães 2012 – Capital Europeia da
Cultura (CEC) mas Gaspar Carreira con-fessa que não os visitou. “Não posso falar sobre isso, não é da minha área. O meu modo de vida é este e quando acabo o trabalho vou para casa”, remata.
Gaspar vive ali perto, gosta do movi-mento da cidade mas diz-se desgastado com o ruído noturno dos bares do Centro Histórico. “À sexta e ao sábado a gente não consegue dormir. Para o negócio dos bares é bom mas eu trabalho ao sábado de manhã. E se chamamos a atenção ainda somos maltratados por esta juventude. Não há respeito nenhum”, indigna-se.
Voltamos ao ferro. Gaspar Carreira convida-nos a uma visita pelo centro histórico para nos mostrar algumas das obras assinadas pelo avô, Gaspar, e pelo pai, Álvaro, que adornam edifícios fotogra-fados por turistas de todo o Mundo. Guia-nos de dedo apontado ao portão de acesso ao claustro do edifício onde está instalado o Museu Alberto Sampaio, em ferro torcido, todo trabalhado, e ao gradea-mento, mais despercebido, que cerca o cruzeiro manuelino situado no exterior da nave lateral.
Da oficina dos Carreira saiu ainda o gradeamento da janela manuelina da igreja de Nossa Senhora da Oliveira virada para a praça, decorado com elementos de representação humana.
Hoje já não chegam muitas encomendas de caráter utilitário, como grades, portões ou candeeiros. Gaspar Carreira espera que as coisas mudem, mas não tem muitas esperanças. “Os que têm dinheiro guarda-ram-no a sete chaves, os que não têm não compram. E não saímos disto”, diz.
34
“somos Genuínos e os turistas Gostam e voltam”
deolinda bessa, ComerCiante
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
35
n a esquina da Rua de Santa Maria com a Praça de S. Tiago, depa-ramo-nos com uma loja que se assemelha a uma casa de bonecas,
colorida e cheia de detalhes. Ali vende-se artigos diversos com referências a D. Afonso Henriques, ao Castelo, às casas floridas do Centro Histórico, ao bordado de Guimarães. Somos interrompidos por um casal de suecos que se mostra interes-sado em t-shirts estampadas com castelos e postais de cortiça. Deolinda, a dona da loja, conversa com a guia em castelhano, vai mostrando o que tem e adianta os preços.
Para Deolinda Bessa, de 43 anos, 2012 foi “um ano extraordinário” mas os resultados do investimento realizado na Capital Europeia da Cultura (CEC) vão sentir-se por muito mais tempo. “Há lisboetas que vieram duas vezes no ano passado e voltaram já este ano. Há casais que come-çam a ficar familiarizados com Guimarães e regressam a pretexto de algum evento, por exemplo, a Feira Afonsina”.
O impacto só não é maior, diz, porque está a ser “abafado” pela conjuntura económica nacional e internacional. “A comunicação que tem passado deixa as pessoas assustadas e retraídas. Não saem, não vêem, não compram mas ainda há quem arrisque, principalmente estrangei-ros”, constata. No resto, “os comerciantes sabem receber muito bem o turista. Somos genuínos, sinceros, abertos e somos elogiados por isso”.
Deolinda Bessa acredita que Guimarães tem condições para “viver à custa do turismo, basta querer”, mas há arestas que ainda podem ser limadas. “Temos muitos guias que trazem turistas do Douro a visitar Guimarães e não param. É preciso estreitar essa ligação porque são turistas com poder de compra e nós sabemos como os tratar bem”, sugere. E continua. “Precisamos de ter uma cadeira para conseguir sentar o turista e isso consegue-
-se dando mais movimento à cidade”.Deolinda não esconde algumas reservas
sobre o futuro de espaços culturais cons-truídos durante Guimarães 2012. “Há partes da cidade que estão a ficar esqueci-das. Eu não sei o que se vai passar no antigo mercado (Plataforma das Artes e da Criatividade) ou na antiga Fábrica Pátria (Casa da Memória), ou na Fábrica Asa que fica distante da cidade, muito longe dos olhos de turistas e locais”, interroga-se. “São espaços bonitos em que podiam ser realizadas coisas fantásti-cas mas que por razões económicas, imagino, estão esquecidos”, lamenta.
Guimarães assistiu a um ‘boom’ de novos negócios. “Em 2012 tivemos, diria, o triplo de turistas e muita gente que estava no desemprego entusiasmou-se e decidiu apostar. Muitas não se aguentaram porque para ser bem sucedido é necessário ter uma boa gestão da loja, trabalhar em aliança com outros lojistas e aguentar cinco meses de Inverno rigoroso que, este ano, foi de quase sete meses, o pior de sempre”, refere.
A loja de abriu há 10 anos. A ideia surgiu em conversa com a irmã a propósito das viagens que faziam. Traziam sempre t-shirts dos destinos por onde passavam mas eram incapazes de as usar, com “Paris” ou “London” a letras garrafais. “Foi então que nos lembramos de fazer t-shirts de Guimarães mais bonitas que qualquer uma de nós pudesse usar. A minha irmã, estilista, sabia bordar muito bem, fizemos umas experiências e trans-formámos a ideia em negócio”, recorda.
Hoje, Deolinda já não viaja tanto, mas garante que sem sair de Guimarães continua a conhecer histórias e lugares novos. São turistas como a amiga Regina, do Brasil ou a senhora da Ericeira que dão outro sentido às viagens e ao turismo.
36
“o turismo não CheGa para dar de Comer a Guimarães”
José pereira, taxista
jo
ão
pe
ixo
to
do fundo do coração
37
o s táxis estão alinhados à espera dos clientes. José Pereira, 61 anos, taxista há mais de 30, está de mãos nas costas, encostado à parede,
a vigiar o carro e a apreciar quem passa. “Está tudo parado”, queixa-se. Em 2012, ano da Capital Europeia da Cultura (CEC), não foi assim. “Movimentou-se mais um pouco mas bom mesmo foi 2004 (Europeu de Futebol). Como esse não vem mais nenhum”, sorri.
O desafio era pensar o futuro de Guimarães pós CEC mas a conversa com José Pereira vai sempre dar ao passado. “Antigamente, quando havia muitas fábricas, trabalhávamos muito com o turismo de negócio, com clientes estran-geiros que ficavam aqui vários dias. Agora, tudo isso acabou. Os poucos que vêm chegam com tudo organizado, já trazem carro alugado no aeroporto”, descreve.
Insistimos na pergunta. Como perspetiva o futuro de Guimarães? “Temos condições para viver do turismo se formos capazes de criar emprego. A Capital Europeia da Cultura criou uma imagem boa da cidade, despertou a curiosidade dos estrangeiros, mas não foi capaz de gerar empregos duradouros. Os turistas gostam muito de Guimarães, dos espaços verdes, da monu-mentalidade, mas ao fim de um ou dois dias vão-se embora. E a maioria fica hospedada noutras cidades, nomeadamente em Viana do Castelo e no Porto”, conta. Além disso, José Pereira tem dúvidas de que os provei-tos do turismo possam beneficiar outros negócios além de hotéis e cafés. “Já é muito bom mas não chega para dar emprego aos milhares de desempregados que temos no concelho”, remata.
Com o fim do evento que marcou a cidade, o movimento de turistas abrandou nos primeiros meses de 2013. “Aparece pouca coisa. Os brasileiros pedem-me para os levar à Penha, à Citânia de Briteiros, os chineses e indianos querem ir ver o Castelo e depois já descem a pé até ao Centro
Histórico. A grande maioria vem em excursões de autocarro, toma o seu café, visita os monumentos e vai dormir a outras cidades do Norte”, lamenta.
José Pereira ainda não visitou os novos edifícios culturais. A Plataforma das Artes, por exemplo, “só vi por fora. A gente ouve falar que é uma coisa muito importante mas também se ouve que aquilo vai dar muito prejuízo à cidade. Fazia mais falta o mercado mas quem tem o dinheiro manda”, desabafa.
O que mais preocupa este taxista são os jovens e o futuro deles. Teme que vá ser difícil segurá-los aqui. “Se essas fábricas que estão paradas pudessem reerguer-se e criar postos de trabalho… A cidade de Guimarães sempre teve uma vida mais cara que, por exemplo, a nossa vizinha Braga. Veja as diferenças ao nível do preço das casas. Antigamente, quando havia empregos, vinha muita gente de Fafe, Cabeceiras de Basto e até mesmo de Braga trabalhar e acabava por ficar aqui a viver. Agora mesmo os de cá vão dormir a Braga, onde têm rendas mais acessíveis”, diz.
José Pereira é natural de Fafe e mudou-se para Guimarães quando aos 16 anos foi trabalhar para a Fábrica do Cavalinho. Fez a tropa e regressou ao armazém da imponente têxtil vimaranense. “Nessa altura as fábricas trabalhavam de dia e de noite. Lembro-me que os autocarros faziam fila para descarregar as pessoas que entravam às 6 da manhã e o cenário repetia-se de cada vez que mudava o turno”, recorda.
Foi o sogro, também ele taxista, que o desafiou a mudar de vida. “A princípio rejeitei. Disse-lhe que gostava de liberdade, de passear com a família, ir à pesca e que aquela era vida de prisão mas ele tanto insistiu que acabei por comprar o táxi. E em boa hora o fiz porque a partir daí as fábricas começaram a fechar”.
40 opinião
Cosmópolis afonsina elmano madail
Jornalista, editor do Jornal de Notícias
o exercício divinatório ausente da sapiência dos deuses tende a ser ridículo no instante em que era suposto confirmar-se. E o futuro,
mesmo o de amanhã, é um hiato longo, demasiado longo, nestes dias em que tempo e espaço se contraem sob o império da tecnologia, para percorrê-lo sem riscos. Se considerarmos o tempo de uma geração – o quarto de uma centúria –, alguém já arriscará olhar para trás e discernir rupturas, recomeços ou refundações em 2012, o ano em que Guimarães se projectou como Capital Europeia da Cultura (CEC), mesmo que provisória e não exclusiva? Sejamos incautos, arrisquemos o ridículo.
Nesses dias que hão de vir, e na ausência de qualquer cataclismo que ocorra entre-tanto, é razoável supor que os exemplares arquitectónicos construídos para ou durante o evento terão sido já completa-mente assimilados pela cidade, indiferente aos debates conceptuais que sobre eles se foram produzindo. Marcos paisagísticos ou apontamentos funcionais, esses seriam, porém, os frutos menos interessantes da CEC caso não se constituíssem em fragmentos do texto maior, susceptível de releituras e análise, que a própria cidade configura aos olhos de nativos
e forasteiros. E, se à perspectiva virginal destes o edificado do espaço público é dado como evidente, natural porque já presente no instante da sua descoberta, para o olhar daqueloutros, porém, a paisagem urbana da cidade que entendem como sua encerra outra profundidade, uma leitura subjectiva para a qual concorre a memória – talvez mais do imaginado do que do vivido. E, esta, é determinante do seu ethos. Do presente, claro, e do futuro que se arrisca aqui.
Nos anos mais recentes, o sentir, quiçá o fervor, hiper-identitário dos vimaranenses gravitou em torno do seu útero de granito, o Centro Histórico, cuja imutabilidade, ao longo de bastas centúrias, o converteu no relicário simbólico de narrativas sugerindo começos heróicos que todos os nativos aprendem desde a mais tenra idade: “Aqui nasceu Portugal” – lema sempre presente nos corações dos indígenas, desde os mais impúberes, cultivado e reforçado na repetição conducente ao dogma. O casario medievo e suas praças tornaram-se reduto de certezas essenciais: reverberando ecos do passado e suspensos do fluxo do tempo, proporcionam a ilusão do imperecível e ordenam o caos. Ali, o espaço, embora público e pulsante de vida – na roupa que
41
“daqui a 20 anos, talvez mais, haverá no toural – tenha ele o desenho que o desassossego dos governantes quiserem – uma geração de anónimos, afonsinos
mas cosmopolitas, reivindicando, nas conversas mais triviais, uma nostalgia desses dias capitais, em que estiveram lá, na guimarães que, tornada palco
de si própria, acrescentou um capítulo novo às crónicas da sua História”
drapeja nos estendais e no riso dos putos que trocam bolas no adro da Senhora da Oliveira –, é sagrado.
Neste contexto e por contaminação, o referente do homus vimaranis foi sempre o fundador da Dinastia Afonsina, de nome Henriques, constituído numa espécie de herói messiânico a posteriori. E, mais do que habitar ainda nessa urbe que o reclama como património, o guerreiro impulsivo radica no imaginário de cada vimaranense como paradigma do querer e da conquista – algo que o emblema do Vitória Sport Club traduziu de modo exemplar, postando a figuração do primevo monarca português sobre o peito dos atletas aos quais a cidade exige façanhas e glórias renovadas. Traduzido na linguagem tecnocrática contemporânea, que tem nos homens apenas meios para alcançar fins, o Afonso das crónicas seria a vera encarnação do empreendedor excelente.
Ora, com a CEC 2012, outra memória se poderá ter formado e, na impossibilidade de se sobrepor àqueloutra, nutrido o imaginário local de um novo ethos, de novas imagens de si, mais generosas e cosmopolitas – já não talhadas pelo gume da espada na reivindicação de um territó-rio a proteger de cobiças alheias, mas antes
modeladas pelo acorde de uma orquestra exultante (talvez porque juvenil e efémera) que convida o outro, o estranho, a invadir uma cidade que se oferece ao mundo e, nesse compasso, se faz mundo ela própria.
Durante um ano de eventos diversos, a cidade em mutação também morfológica, proporcionou aos vimaranenses um espelho mágico, reflectindo nele todos os possíveis de um tempo presente e conver-tendo-os nos heróis improváveis de uma aventura que, ao contrário da outra, longínqua de mil anos, se afirmou inclu-siva e multicultural. De onde que, daqui a 20 anos, talvez mais, haverá no Toural – tenha ele o desenho que o desassossego dos governantes quiserem – uma geração de anónimos, afonsinos mas cosmopolitas, reivindicando, nas conversas mais triviais, uma nostalgia desses dias capitais, em que estiveram lá, na Guimarães que, tornada palco de si própria, acrescentou um capítulo novo às crónicas da sua História, ao texto que a cidade oferece e, mais importante, às narrativas que lhe confor-mam o imaginário. A acontecer, a CEC acontecida – ou apenas imaginada – não terá sido coisa pouca.
44 opinião
o que bulirá maria do Céu martins
Economista, ex-presidente da direção da Muralha
u m dia, enquanto representante de uma associação local, fui convidada a participar numa reunião prepara-tória de Guimarães – Capital
Europeia da Cultura. Na altura – e quando chegou a minha vez – disse apenas que a festa da Capital da Cultura só valeria a pena se no momento seguinte estivéssemos num patamar superior de oferta cultural.
Hoje, à distância de cerca de 5 anos, diria exatamente o mesmo – apesar de tudo o que vi, senti, gostei, umas vezes mais, outras menos, na Capital da Cultura!
Nenhuma comunidade se deveria sentir satisfeita se, depois de tanto investimento, humano e financeiro, se não gerassem mais-valias criativas relevantes para o futuro coletivo.
Escrevi, também, algures no passado, que não deveríamos entrar nas alucinações de outras capitais de cultura – gastando e edificando mais do que seriamos capazes de viabilizar…mas fizemo-lo!
Não obstante, em muitos momentos de loucura edificante corrigimos a mão e voltamos à razoabilidade do exequível, recuperando para a causa o essencial das associações locais e da participação popular que acreditou piamente – que fazia parte!!
E Guimarães buliu. Apesar da crise, dos erros e desatinos, e das demissões e contra-tações de muita e muita gente não identifi-cada que chegou e partiu sem se despedir.
Saía-se à rua e sentia-se a festa, a alegria de uma cidade inteira que se sentia especial. Participar significava, regular-mente, optar entre dois programas
igualmente interessantes de que agora se sente uma infinita saudade.
As associações locais, relegadas para as sobras, souberam, cirurgicamente, cruzar no tempo, pequenos interesses que de outra forma nunca seriam exequíveis e lograram alterações de esquemas organi-zativos válidos na sua sobrevivência.
As empresas, as pequeninhas, alteraram radicalmente as suas lógicas – alteraram horários de funcionamento, alteraram imagem, alteraram formatações comunica-tivas e até produtos. Umas fecharam e reabriram. Outras vieram de novo com gente de sempre que vai ficando sem emprego. E o comércio de proximidade local regressou, paulatinamente, à rua depois de um longo interregno contratual que o algemou aos shoppings – redesco-brindo na centralidade da Capital da Cultura o espaço de negócio gerador de lucro efetivo.
Temos mais hotéis, mais bares, mais restaurantes, mais lojas de artesanato, coches e bicicletas ecológicas a circular no miolo da cidade. Minimizou-se o efeito da crise, encontraram-se nichos de negócio inexplorados e as externalidades vão regularizando/reciclando novas funções e atividades – a Cidade e o Concelho reorga-niza, reencontra e imprime coerência na sua oferta global. Aquilo que antes era história, um bocadinho de turismo e um bocadinho de cultura passa a constituir-se num bolo global e diferenciado com muito desporto/muito ambiente/muito turismo, onde o castelo e o centro histórico encaixa
45
“o principal obrigado que devemos à capital da cultura, reside na sua enorme capacidade de ter lido e gerido corretamente
as expectativas coletivas. e onde há gente feliz e que acredita, há ideias novas e espirais de progresso.”
na perfeição. E Guimarães, que já estava na moda, disparou para destino obrigatório – cá dentro e lá fora.
A Cidade do Desporto 2013 chega pela mão da Capital da Cultura, aproveitando a sua função mais virtuosa – o efeito comunicação. Antes, durante e depois, a CEC colocou Guimarães no centro das atenções e motivou os media para inúme-ras reportagens, gerando um efeito multi-plicador da verdadeira importância daquilo que por aqui acontecia.
E, surpreendentemente, é no desporto que se encontra, finalmente, a verdadeira essência da economia social local – se não veja-se o que aconteceu na abertura da Cidade do Desporto onde, com poucochi-nhos recursos financeiros, se envolveu (em simultâneo) várias centenas de pessoas que, em pouco tempo, construíram uma belíssima homenagem. Acompanhe-se o trabalho - aturado e muito profissional – dos inúmeros técnicos que todos os dias passam no complexo da Tempos Livres ou as centenas de dirigentes desportivos que povoam as inúmeras coletividades e não se acredita no número de pessoas que praticam, que gostam e que trabalham de e para o desporto no concelho – lamenta-velmente por carolice, por amor à cami-sola! Lamentavelmente porque esta é uma das áreas onde se adivinha capacidade de gerar riqueza e postos de trabalho
Mas, para bem de todos nós, os efeitos da Capital da Cultura estarão longe do fim. Existe, ainda, muito espaço para criar novos negócios pendurados naqueles que
foram aparecendo. E se há Concelho com motivação empreendedora é este – houvera políticos suficientemente visionários e aqui estaria um bom exemplo do que poderia tornar maus desempregados em excelentes empresários – bastaria que o IEFP deixasse de os ver como um pro-blema mas antes como uma solução (para si e o vizinho), respeitando-os.
E, bem ou mal, também as novas infraes-truturas terão que se justificar – em tempo de pouco dinheiro isso implica mexer e inventar novas formas de atrair gente, tornando, simultaneamente, o poder público mais humilde, logo mais recetivo à opinião privada.
Mas, o principal obrigado que devemos à Capital da Cultura, reside na sua enorme capacidade de ter lido e gerido correta-mente as expectativas coletivas. Numa cidade e num concelho onde o orgulho bairrista exorta por todos os poros, colocar--nos no centro das atenções vale mais, e em números, que todo o investimento público dos últimos 10 anos. E onde há gente feliz e que acredita, há ideias novas e espirais de progresso.
Cumpre-nos saber como disseminar essas expectativas positivas nas zonas mais periféricas do Concelho, cosendo as freguesias mais desfavorecidas e, regular-mente, assoladas por falências de projetos geracionais – e aí sim estaremos numa plataforma de missão cumprida. A da CEC, a da cidade, do concelho e do país.
48
Cultura que marCa, Cultura de marCa
antónio roCha e Costa Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos
p ão e circo era a receita usada pelos imperadores romanos para amaciar e amansar os súbditos e manter os ânimos sob controlo, promovendo
assim a pacificação das hostes. Dois mil e tantos anos depois, mais concretamente no ano de 1995, reuniu-se na cidade americana de S. Francisco o primeiro “state of the World Forum”, no qual participaram cerca de quinhentas das pessoas mais poderosas do mundo (entre outros, Bush júnior, Gorbachev, Thatcher, Bill Gates… ) para discutirem sobre o destino a dar no futuro aos oitenta por cento da população mundial que deixarão de ser necessários para a produção, tornando-se por isso excedentários. De acordo com o relato de Anselm Jappe, no seu livro “Sobre a Balsa da Medusa”, publicado em Portugal em 2012, foi sugerido nessa reunião que, às populações “supérfluas” seria destinada uma mistura de alimento e de entreteni-mento embrutecedor para obter um estado de letargia feliz, passando deste modo o papel central assegurado tradicionalmente pela repressão – enquanto estratégia para evitar conflitos sociais – a ser em grande parte acompanhado pela infantilização.
Como podemos verificar o “estado da arte” não mudou assim tanto, apesar das
diferenças de contexto.Vem esta curta introdução a propósito
da discussão que hoje em dia vem sendo alimentada sobre o papel da cultura na vida e no desenvolvimento das sociedades. Com efeito há os que defendem que a cultura deverá manter o seu carácter primitivo e genuíno, assumindo-se como elemento distintivo entre a civilização e a barbárie, mas correndo o risco de se transformar numa cultura de elites. A opinião dominante é, contudo, a de que a cultura deve ser cada vez mais uma cultura de massas, que é diferente de cultura industrializada.
O que vemos na realidade é que a cultura, confundindo-se cada vez mais com entretenimento e lazer, está hoje em dia subordinada à esfera económica, apesar de lhe ser atribuindo ainda um papel residualmente subversivo.
Dir-se-ia que, de uma forma perversa, o sistema capitalista aproveitou o conceito defendido pelas esquerdas, segundo o qual a cultura deve ser acessível a todos (cultura de massas, democratização da cultura) para criar uma indústria cultural que se rege pelas leis do mercado.
Assim, um determinado bem cultural, por exemplo, uma obra de arte, deixou de
opinião
49
ser apreciada exclusivamente pelo seu valor estético, sendo-o sobretudo pela quantidade de pessoas que esperam na fila para a contemplar por uns breves instantes.
Na mesma linha de pensamento, consta-tamos que os mecenas modernos são cada vez mais as instituições financeiras, ou empresas cotadas na bolsa.
Entre uma cultura “gourmet” e uma cultura “fast food”, os campos vão-se dividindo, sendo que a segunda leva a primazia.
Tendo como fundamento o papel inclusivo da cultura enquanto elemento unificador dos povos, ou o pressuposto de que o vazio da era pós-industrial carece de ser preenchido, ou talvez ambos, foi criado em 1985 o programa das “capitais euro-peias da cultura”, que, após sucessivos aperfeiçoamentos do modelo inicial, ainda hoje se mantém.
No contexto actual, são muitas as cidades europeias que encaram a cultura como dinamizadora da regeneração urbanística e socioeconómica.
Quando em outubro de 2006 o Governo designou publicamente Guimarães como a candidatura portuguesa a Capital Europeia da Cultura, a cidade reunia já um conjunto de requisitos que contribuíram para que fosse esta a opção, ou seja, a ideia não surgiu
do nada. Fazendo uma análise retrospec-tiva, recuemos até aos anos oitenta do século passado, quando foi criado o Gabinete Técnico Local (GTL), que sob a “batuta” do arquitecto Fernando Távora, conduziu o processo de reabilitação do centro histórico, que viria a ser classificado pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade em 2001.
Além disso, Guimarães sempre teve uma dinâmica cultural que é raro verificar-se em cidades da mesma dimensão, dinâmica essa suportada pela actividade das várias Instituições e Associações, entre aos quais se destacam a Sociedade Martins Sarmento, o Museu de Alberto Sampaio, o Círculo de Arte e Recreio, a Associação Convívio, a MURALHA – Associação para a defesa do património, o Cineclube de Guimarães, a Academia Musical de Guimarães. Quando a equipamentos culturais, para além dos edifícios da Sociedade Martins Sarmento, Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques de Bragança, Guimarães podia ainda contar aquando da candidatura a CEC, com o Centro Cultural de Vila Flor, o auditório da Universidade do Minho, o Centro de Artes e Espectáculos S. Mamede e o Pavilhão Multiusos.
“guimarães sempre teve uma dinâmica cultural que
é raro verificar-se em cidades da mesma dimensão”
50
“poderemos imaginar a guimarães das fábricas (têxtil, calçado, cutelarias) e das hortas em volta, a dar
lugar progressivamente a uma urbe histórica regenerada, pólo de um “cluster” da cultura, que possa em parte suprir
ou atenuar as debilidades que a economia da região vem sentindo nos últimos tempos.”
Por outro lado, a oferta cultural, alicer-çada numa programação criteriosa consti-tuiu desde sempre um elemento distintivo de Guimarães, no panorama nacional, só ultrapassada verdadeiramente por Lisboa e Porto.
Por tudo o que foi enunciado, a designa-ção de Guimarães como Capital Europeia da Cultura não constituiu propriamente uma surpresa, constituindo, isso sim, um acto de inteira justiça.
Chegados a 2012, com mais ou menos atribulações, o programa lá foi sendo executado de acordo com o previsto, com eventos muito variados e com a participa-ção em grande escala das associações e da população local, que desde o início do projecto sentiu que “fazia parte” do mesmo.
Agora, passada a euforia e no rescaldo da CEC, é tempo de fazer o balanço e de reflectir sobre as marcas que um evento desta envergadura poderão deixar na cidade do futuro ou se tudo não passou de uma imagem de marca, sem grande impacto e consequências.
Numa visão mais optimista, poderemos imaginar a Guimarães das fábricas (têxtil, calçado, cutelarias) e das hortas em volta, a dar lugar progressivamente a uma urbe
histórica regenerada, pólo de um “cluster” da cultura, que possa em parte suprir ou atenuar as debilidades que a economia da região vem sentindo nos últimos tempos.
Mas, sem exigir a quadratura do círculo que tal só fará sentido, se Guimarães conseguir consolidar-se como pólo de atracção cultural e turístico, dinamizando o seu tecido económico e promovendo simultaneamente o espírito crítico e participativo dos cidadãos e elegendo a cultura como factor de progresso e não como anestésico social.
opinião
52
pontos Capitais: Cultura e eCrãs
pedro rodriGues Costa Sociólogo e Investigador do CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho
é difícil desmentir a ideia de que a contingência atual é fortemente influenciada pela omnipresença dos ecrãs. Vivemos num tempo
onde a lógica do ecrã substituiu profunda-mente a lógica do papel e do letrado pela tela e pela imagem. Por isso se pode dizer que a visão, bem como a memória asso-ciada, já não está tão repleta de letras como no passado, mas mais de imagens, ícones, símbolos. Já não somos tão invadidos por visões estruturadas, sequenciais, lógicas. Somos muito mais invadidos por ecranovi-sões, emaranhadas, soltas, dispersas. Substituiu-se, progressiva e geracional-mente, a letra, o texto, pela quase autossu-ficiência da imagem. Afinal de contas, na era dos ecrãs é à imagem que tudo resume.
Por isso a avaliação da Capital Europeia da Cultura dá tanto relevo, e porventura de forma acertada, ao impacto mediático do evento. Sobretudo no que respeita ao digital. Não admira: a Guimarães TV online e o Guimarães digital.com foram dois dos órgãos de comunicação social que regista-ram a publicação de um maior número de notícias. Foi sobretudo no universo da Internet que se registou a tendência de crescimento mais acentuada, mas também reveladora. Ao longo do ano de 2012 é possível observar, pelos dados disponíveis, um decréscimo de utilizadores do portal
do evento e, paralelamente, um cresci-mento significativo da página de Facebook e das outras redes sociais digitais. O número de seguidores da página no Facebook. (“likes”) aumentou progressi-vamente, situando-se em dezembro de 2012 em mais de 45.000 “likes”. O cresci-mento em Dezembro em relação ao mês de janeiro (2012) foi cerca de 62%. No Twitter existiam 885 seguidores e no Youtube foram realizadas 6234 visualizações.
Isto revela algo que importa, e muito, assinalar: um homo-ecranis à procura da dinâmica certa para, nos ecrãs, navegar. E qual é essa linha escondida que subjaz ao comportamento do homo-ecranis? Sem grande hesitação, podemos falar do imediatismo, e da ansiedade e mobilização que esse mesmo gera. Em rede, tudo se apresenta, aos olhos do homo-ecranis, mais dinâmico e móvel do que no portal (perten-cente à anterior web 1.0), tendencialmente menos assistido pelos movimentos dos fluxos que a rede digital proporciona. Daí o contraste no crescimento entre as páginas das redes sociais digitais e o portal institu-cional. Esta maior atividade que as redes proporcionam, esse pó que se levanta de forma mais dinâmica nas opiniões, nos comentários e nas imagens associadas, gera uma sensação maior de dinâmica e de imediato, e essa sensação de dinâmica
opinião
53
“ao contrário do passado fotográfico, onde se impunha mais uma fotogenia
para a posteridade, hoje importa mais uma ecranogenia”
e de imediato crava-se à expectativa de aceleração e de mobilização que o acelera-dor-Internet coloca para o reticular e de forma reticular. O que é que aqui está em causa? Aceder aos eventos e à sua descri-ção, antes ou após evento, permite fazer, respetivamente, quer a pré-entrada mental no acontecimento, como um prolonga-mento no pós-evento, na mente e entre mentes, através das ecranovisões. Ou seja, trata-se de um estender temporal maior do evento, da sua antecipação e prolonga-mento de forma imagética, reticular e imaterial. Não é por acaso que hoje se querem, ainda que muitas vezes intuitiva-mente, os eventos: em rede e em ecranovi-são intermental. Em rede para mobilizar, e em ecranovisão intermental para seduzir estética e ideologicamente as várias tribos em ligação efervescente. Ao contrário do passado fotográfico, onde se impunha mais uma fotogenia para a posteridade, hoje importa mais uma ecranogenia para a contingência, para o momento, mas para que ele se estenda num tempo mais curto e rapidamente substituído pela frenética sucessão de momentos.
Mas é esta medição e entendimento do impacto mediático que hoje qualquer evento pretende alcançar. Nesse estender do evento no tempo, prolongando-o antes e depois no discorrer temporal, sobrepondo
mesmo, de forma imagética, o antes, o durante e o depois (transição do cronoló-gico para o cronoscópio), é fundamental perceber a propagação das opiniões e ideias favoráveis e a forma da propagação das opiniões e ideias desfavoráveis. Porque o sucesso de um evento, na era dos ecrãs, precisa, a todo o custo, de anular o insu-cesso visual, de acolchoar a menos feliz das impressões ecrãnicas sobre o acontecido. E é aí, nesse estender pelo tempo do acontecido, que a memória em forma de ecranovisão faz mossa: à luz do que foi, a ecranovisão tem que ser ecranogénica, favorável, positiva em todos os sentidos. Felizmente para a região, o evento da Guimarães Capital Europeia da Cultura foi um sucesso a vários níveis, incluindo também o da tal propagação pelas redes, pelos ecrãs e pelas mentes. Quer antes como após os eventos específicos. Hoje, no pós-capital europeia, a sua síntese é agora, de forma muito positiva, uma ecranovisão feliz que assinala, em Guimarães em particular e na região minhota em geral, um outro e novo momento histórico. Positivamente ecranogénico.
na primeira pessoa
franCisCa abreu
memórias 57
a Cultura esteve no centro da política autárquica em Guimarães, durante todos os mandatos do Presidente da
Câmara, Dr. António Magalhães. Primeiro, muito centrada na regeneração do Centro Histórico, com uma visão esclarecida e com uma capacidade de realização deter-minada e forte, que culminou com a inscrição do Centro Histórico na lista da UNESCO de sítios Património Cultural da Humanidade. Renovaram-se praças e vielas, regeneraram-se casas e palacetes, instalaram-se serviços públicos, devolveu--se o Centro Histórico à fruição dos cidadãos. Recuperaram-se manifestações culturais e o património imaterial, desde o incentivo ao artesanato às festas de cariz popular, religiosas e profanas. Em simultâ-neo, iniciou-se um processo de criação de uma agenda cultural contemporânea, recuperando iniciativas esquecidas e criando outras, em parceria com institui-ções locais, usando o cenário e os palcos que o Centro Histórico oferecia e, por essa via, chamando os Vimaranenses e os visitantes à ocupação e fruição do espaço público único e singular que Guimarães oferece.
A abertura do Centro Cultural Vila Flor, em 2005, permitiu reforçar a agenda cultural, tornando-a permanente e conti-nuada, mais diversificada e atrativa, para
Guimarães e para a região. E, assim, Guimarães assumiu um lugar de destaque e de referência, a nível regional e nacional. Um lugar de cultura que reforçou a notorie-dade e o prestígio de Guimarães e permi-tiu-nos ambicionar novos desígnios para a cidade e para todo o concelho.
Quando, a 7 de outubro de 2006, após a reunião informal de Conselho de Ministros, presidida pelo então Primeiro-Ministro, José Sócrates, que teve lugar no Palácio Vila Flor, em Guimarães, na conferência de imprensa realizada no foyer do grande auditório do Centro Cultural Vila Flor, a então Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, anunciou que Guimarães fora escolhida como candidata portuguesa a Capital Europeia da Cultura, em 2012, fui invadida por um misto de emoção forte, de enorme alegria. Apesar de a crermos merecida e sustentada no mérito do percurso foi, para todos, uma surpresa galvanizadora.
Esta escolha significou, por um lado, o reconhecimento do trabalho persistente e continuado realizado no âmbito da Cultura e, por outro, uma responsabilidade acrescida para Guimarães.
A seguir ao anúncio foi uma torrente de perguntas de jornalistas e um mar de emoções e de interrogações que nos colocámos a nós próprios, que me coloquei a mim própria, enquanto vereadora com
58 memórias
poderes delegados nessa área. As expecta-tivas que tal escolha suscitou eram eleva-das, algumas demasiado elevadas, que sabia impossíveis de serem inteiramente saciadas. Logo se tornou claro que havia que saber gerir as expectativas e mantê-las em equilíbrio: nem demasiado elevadas, nem pouco ambiciosas. Equilíbrio difícil, que se tornou uma constante ao longo de todo o processo.
Depois do anúncio e a novidade dada, Guimarães 2012 passou a ser notícia. E, logo a seguir, as perguntas sobre o programa, as realizações que aconteceriam em 2012, passaram a ser uma constante. Perguntas a que não sabia responder. Não podia responder. Não podia antecipar o futuro de um projeto que tinha de ser coletivo e partilhado, concebido e reali-zado neste território e pelas pessoas que nele habitam.
De outubro de 2006 a fevereiro de 2007, sucederam-se um conjunto de reuniões com o Ministério da Cultura, a então Ministra e seus colaboradores. Houve que estudar e ler tudo o que havia sido publi-cado sobre Capitais Europeias da Cultura, processo a que me dediquei com afinco e entusiasmo. Em fevereiro de 2007, foi anunciado, publicamente, o grupo de missão responsável pela realização do programa de candidatura: dois membros em representação do Ministério da Cultura e dois em representação do Município de Guimarães, eu própria incluída. E começá-mos a trabalhar, na convicção que a entrega do programa em Bruxelas se faria em dezembro de 2008.
Acordámos que tinha de ser um projeto coletivo partilhado desde a génese até à realização, em 2012. Definimos uma estratégia e uma metodologia de trabalho: reunir com o maior número de cidadãos e personalidades, a nível local, primeiro, depois a nível nacional e internacional. Assessorados por uma incansável e dedicada equipa técnica da Câmara, realizámos dezenas de reuniões, até ao máximo de 25 pessoas em cada, para que todos pudessem dar a sua opinião, manifestar os seus anseios e aspirações. Nós estávamos lá para ouvir e registar, em áudio e vídeo, os anseios, as aspirações, as expectativas dos cidadãos. Reunimos com professores, empresários, dirigentes associativos, dirigentes de instituições, grupos não vinculados a qualquer associa-ção ou instituição, com investigadores, leitores da Biblioteca e do Arquivo, com cidadãos ligados à cultura, com personali-dades destacadas de Guimarães, com representantes dos órgãos da Universidade do Minho, com o seu Conselho Cultural, reunimos com cidadãos que pediram para serem ouvidos. Ao mesmo tempo que pedimos contributos no sítio eletró-nico da Câmara. Depois, alargámos o âmbito das reuniões. Convidámos programadores e gestores de instituições culturais do país, pedimos reuniões e contributos aos responsáveis por Lisboa 1998 e Porto 2001. Fomos a Salamanca e Santiago de Compostela reunir com os responsáveis culturais das cidades e das Capitais Europeias da Cultura. Tivemos reuniões em Bruxelas. Queríamos ouvir,
59
ouvir, ouvir primeiro, para concluir por um programa conceptual, que reunisse consenso, fosse único e inovador.
E, já no verão de 2007, com muita informação colhida, mas ainda não organizada, com tudo por escrever, fomos confrontados com a informação de que o programa de candidatura tinha que ser entregue em dezembro desse mesmo ano. Apesar disso, não abdicámos de continuar as reuniões e, em simultâneo, iniciámos o processo de discussão interna do conceito e de resposta ao questionário – guião que Bruxelas impunha.
De setembro a novembro foi um trabalho intenso e desdobrado em escrita, reescrita, correções e reuniões. Ao mesmo tempo, houve que fazer estimativa de custos, elaborar o orçamento e garantir o financia-mento. Mais reuniões com membros do Governo, desde o então Primeiro-Ministro, José Sócrates, à então Ministra da Cultura, ao Presidente do Turismo de Portugal, ao Presidente da CCDR-N. O financiamento de 110 Milhões de Euros foi garantido, repartido entre a Câmara e o Ministério da Cultura, para as despesas de funcionamento, o Turismo de Portugal para a Comunicação, a programação cultural e as obras previstas no projeto pelo QREN e ON2.
Estava claro para nós que a memória e identidade forte que Guimarães encerra e de que tanto se orgulha teria que estar inscrita no conceito, a ombrear com a ambição e visão de futuro para esta cidade histórica, que tão bem tem sabido harmo-nizar a carga histórica e simbólica com a contemporaneidade. Deu-se corpo e forma
à candidatura, assente neste nosso territó-rio particular, habitado por gentes singula-res, honrando a memória, com visão e ambição de futuro. A Capital Europeia da Cultura integrava-se num processo de regeneração de uma cidade histórica, assente na regeneração urbana e numa programação cultural forte, de qualidade e contemporânea, com passado e futuro. Em dezembro foi entregue a candidatura.
Entretanto, em janeiro de 2008, houve mudança da tutela do Ministério da Cultura. Novas equipas do Ministério, que significa-ram mais reuniões para dar conta do caminho percorrido, do ponto da situação de todo o processo, novos e outros acertos, de acordo com a nova equipa ministerial e os dois novos representantes do Ministério da Cultura na equipa de missão.
Em abril de 2008, fez-se a apresentação e defesa da candidatura perante um painel de peritos internacionais, em Bruxelas. Um momento importante e de algum nervosismo. A qualidade do projeto e a prova dessa qualidade seria apreciada pelo painel, de que dependeria a decisão final. Nenhum membro do painel conhecia Guimarães e alguns desconheciam Portugal e a sua História recente. Foi um debate intenso, que exigiu de nós afirma-ção, assertividade, muita convicção e força argumentativa. A descompressão depois da apresentação fez-se na Grande Place, em Bruxelas, antes do regresso.
Depois de um tempo de espera, o painel de seleção solicitou às equipas de Guimarães e de Maribor que precisassem alguns conceitos e conteúdos.
estava claro para nós que a memória e identidade forte que guimarães encerra e de que tanto se orgulha
teria que estar inscrita no conceito
60
A partir deste momento, o Carlos Martins foi convidado a assessorar a equipa de missão, agora incumbida de dar sequência à solicitação do painel de seleção.
Em tempo recorde e sob uma enorme pressão, a candidatura foi reformulada, tornando-a mais precisa e focada na missão, nos valores e nos objetivos estraté-gicos para Guimarães 2012, pensando sempre que cidade e cidadãos queríamos em 2020, do que resultou um novo docu-mento a apresentar e defender perante o painel de seleção, em setembro de 2008.
O tempo corria e, a par das expectativas, revelou-se um fator importante na gestão de todo o processo. Passada a euforia do anúncio da escolha de Guimarães para cidade candidata, em outubro de 2006, as reuniões realizadas durante o ano de 2007, para os cidadãos aparentemente nada acontecia e os media queriam notícias. A informação de que se aguardava a decisão do painel de seleção e da poste-rior decisão do Conselho de Ministros da Cultura da Europa não era notícia e não correspondia às aspirações legítimas dos cidadãos, que ansiavam pelo que, se supunha, seria o grande evento de Guimarães Capital Europeia da Cultura.
Enquanto se aguardava pela decisão, em articulação entre a Câmara de Guimarães e o Ministério da Cultura, foi decidido criar uma fundação, à qual caberia a prepara-ção, gestão e realização dos eventos culturais, cabendo à Câmara a realização das obras de intervenção urbana e de construção de novos equipamentos culturais. Era importante encontrar uma
personalidade para presidir à fundação que foi “sugerida” pelo então Ministro da Cultura, António Pinto Ribeiro, e, ao mesmo tempo, prepararem-se os estatutos da futura fundação, a que se convencionou chamar “Fundação Cidade de Guimarães”.
Finalmente, a 12 de maio de 2009, em reunião formal do Conselho de Ministros da União Europeia, foi decidido proclamar Guimarães Capital Europeia da Cultura, em 2012.
Foi um momento importante, que coroou todo um trabalho empenhado e apaixo-nante, de mais de dois anos de preparação e elaboração da candidatura e de muitos mais anos de trabalho consistente, deter-minado, coerente e apaixonante para fazer de Guimarães uma cidade onde a cultura europeia acontece.
Em julho de 2009 foi, formalmente, apresentada a equipa que presidiria à Fundação Cidade de Guimarães, a que se seguiu um espetáculo multimédia, na Praça da Oliveira.
Em setembro do mesmo ano deu-se início à instalação da FCG.
O que vem a seguir é história do domínio público e o que importa agora relevar é que, apesar dos contratempos e dos problemas, aliás normais em todos os processos e realizações da envergadura da Capital Europeia da Cultura, das expectati-vas que gera, dos anseios que inspira, uns legítimos, outros nem tanto, das vontades e das aspirações que alimenta, Guimarães 2012 foi um ano extraordinário e de sucesso, reconhecido nacional e internacionalmente.
memórias
61
Guimarães 2012 reforçou a perceção positiva e potenciou a reconstrução da sua imagem, interna e externamente. Guimarães 2012 apostou na criação em residência artística e em contexto local, apostou no cruzamento e na fusão ou interceção de linguagens, de estéticas, de gramáticas, que surpreenderam, atraíram, conquistaram os cidadãos, que se surpre-enderam, testaram os seus limites, partici-param e fizeram sua a Capital Europeia da Cultura.
Os Vimaranenses fizeram parte e orgu-lham-se do que fizeram. Construíram-se novos equipamentos culturais, que permi-tem ampliar a oferta cultural e reforçar a criação e a produção cultural. Guimarães 2012 aproximou a cultura da economia, da educação, do conhecimento e da inovação. Guimarães 2012 considerou a expressão de identidade e a memória como um recurso e um fator de diferenciação e apostou numa programação cultural de cidade que reforçou a sua competitividade e atratividade. Guimarães cresceu, ampliou--se, tornou-se mais aberta e cosmopolita. Guimarães ganhou em notoriedade e prestígio nacional e internacional. Guimarães tornou-se uma marca distintiva e uma cidade do mundo.
Agora, depois de um ano único e irrepetí-vel, para que o nível de notoriedade e a vantagem competitiva que conquistou continuem e se reforcem, novos e mais exigentes desafios se colocam a esta Guimarães ampliada:
Dar continuidade a uma programação cultural de cidade, forte, coerente,
diversificada e diferenciadora, por forma a atrair e fixar talentos, a continuar a atrair turistas e visitantes;
Garantir a sustentabilidade dos equipa-mentos culturais, apostando na criação artística, na produção e difusão de conhe-cimento e nas indústrias criativas;
Reforçar uma programação cultural de cidade, apostando em plataformas colabo-rativas e na participação e no envolvi-mento dos cidadãos, dos agentes culturais e das instituições, numa visão holística e não fragmentada. A fragmentação retira força, pois empobrece em vez de enrique-cer. Numa palavra, impõe-se agora reforçar a competitividade e a atratividade da cidade cultural que é a nossa, apostando na internacionalização e reforçando a sua presença nas redes de cidades, nomeada-mente na rede de cidades capitais euro-peias da cultura.
Guimarães é um lugar singular habitado por gentes apaixonadas e orgulhosas da sua memória e identidade, herdeiras de um património feito de granito e bordado de sonho, que o têm sabido guardar, preservar e valorizar. Um lugar rico e vivo, habitado por gentes com ambição e capacidade de realização, gentes inventivas e com energia criadora, gentes com a esperança de que se faz o futuro. Este futuro começa agora.
guimarães é um lugar singular habitado por gentes
apaixonadas e orgulhosas da sua memória e identidade
memórias 63
Fazer pensar é tudo; e a agitação a única alavanca que pode deslocar esse mundo: pois que agitar quer dizer – instruir, ensinar, convencer e acordar.Alberto Sampaio, 1884
Em 2020, quem vier a Guimarães há-de sentir que em 2012 aconteceu aqui algo de diferente e importante.Robert Scott, 2008
e m meados do século XVIII, Tadeu Luís da Fonseca Camões, fidalgo abastado de Guimarães, começou a erguer, na colina situada um pouco
acima do arrabalde dos Couros, a sul das muralhas do velho burgo vimaranense, um palacete que nunca veria terminado e que viria a estar ligado a momentos chave da história de Guimarães em três séculos diferentes.
Seria ali que se alojaria a rainha Maria II, quando visitou esta terra em Maio de 1852. No ano seguinte, Guimarães era elevada de vila a cidade, reconhecendo aos habitantes de tão nobre povoação, a sua honrada e habitual dedicação à cultura das artes e trabalhos úteis.
Ainda o século XIX não terminara quando o palacete do Monte do Cavalinho voltaria a estar no centro de um outro acontecimento que mudaria Guimarães. Seriam 11 horas da manhã do 15 de Junho de 1884 quando se abriu no palacete de Vila Flor a primeira exposição industrial concelhia realizada em Portugal. Esta não era uma exposição qualquer. Era um elemento de um processo de transforma-ção em que a instrução e a cultura eram entendidas como impulsoras do progresso económico e social. A Sociedade Martins Sarmento, responsável pela iniciativa, tornou claros os seus propósitos num texto que produziu para a folha A Indústria Vimaranense, lançada na abertura da exposição:
A nossa exposição prende-se a uma série de empreendimentos intimamente ligados entre si sob uma disciplina comum, que têm por fim o progresso de Guimarães na esfera intelectual e económica.
Por trás desta iniciativa estava um corpo de homens de cultura que havia percebido que o conhecimento era um factor funda-mental para a elevação económica e social duma comunidade. Tinha sido dessa convicção que nascera a associação singular que homenageia Francisco
tempos de semear
(1884 e 2012)antónio amaro das neves
64
Martins Sarmento. Surgiu como promotora da instrução popular no concelho de Guimarães e foi à sua volta que se gerou o movimento que empurraria Guimarães rumo à modernidade. Nada do que então aconteceu foi obra do acaso ou da conjuga-ção ocasional de circunstâncias que proporcionaram as condições para a mudança. Bem pelo contrário. O processo de transformação resultou de um diagnós-tico claro dos problemas existentes, enunciado por Avelino da Silva Guimarães no primeiro número da Revista de Guimarães:
Esta cidade, de mais de 10.000 almas, simultaneamente nobiliária e operária, carecia absolutamente de instituições de instrução correspondentes à densidade da sua população, à actividade intelectual dos seus habitantes, ao seu regime económico.
Nem possuía instituições de ensino clássico, nem instituições complementares de ensino popular.
Algumas escolas de instrução primária elementar, colocadas em maus edifícios, parte delas regidas por maus professores; algumas centenas de volumes, dados à Câmara Municipal dos duplicados da biblioteca de Braga, servindo de repasto às aranhas, numa saleta do extinto con-vento de S. Domingos; uma aula de latim suprimida e o professor, que fora óptimo, jubilado; uma aula de francês, geometria e escrituração comercial, por prover há largos anos: eis o que havia para pecúlio de instrução pública.
A Exposição Industrial de Guimarães não foi apenas uma mostra das actividades produtivas do concelho. Tinha subjacente
um programa de renovação do tecido produtivo vimaranense, que abriria a Guimarães o caminho para a modernidade. A ideia foi tornada pública por Alberto Sampaio, num texto que publicou no primeiro número da Revista de Guimarães, com o título: “Resposta a uma pergunta. Convirá promover uma exposição indus-trial em Guimarães?”. Sampaio seria o primeiro responsável pela organização da exposição, tendo descrito os seus objectivos no jornal que assinalou o evento, A Indústria Vimaranense:
Agitar a população fabril e convencê-la a lançar-se numa tal empresa, a ela que tem vivido sempre na penumbra e como que abandonada, é muito; mas não é tudo. O tudo é a união das vontades. Se se conven-cerem todos da força imensa de que poderão dispor, se reunirem e disciplinarem os seus esforços, se se convencerem que um dos grandes males que aflige o trabalho local é a desunião e o indiferentismo de cada um em relação aos interesses gerais, se em vez de partidos meramente políticos levantarem outro que se proponha sobretudo a reorgani-zação da indústria concelhia, se ao lado dele organizarem sociedades de estudo que procurem a solução das questões que lhe dizem respeito, se enfim se formular clara-mente uma vontade decidida de obter o rejuvenescimento das antigas e históricas indústrias de Guimarães, os iniciadores e organizadores da exposição dar-se-ão por satisfeitos, quaisquer que fossem as contra-riedades com que tiveram de arcar para dar este primeiro passo definitivo no novo caminho.
memórias
65
O tudo é a união das vontades: esta poderia ser a divisa por trás da atitude das gentes de Guimarães, sempre que se envolve em grandes empreendimentos coletivos. Assim foi em 1884, no momento da afirmação de uma geração que vinha dando corpo a um programa de reforma do tecido económico e social cujo cimento era feito de instrução e de cultura.
1884 não foi apenas o ano da Exposição Industrial. Foi também o ano em que o comboio chegou a Guimarães, em que nasceu a Escola Industrial Francisco de Holanda, em que a Revista de Guimarães viu a luz do dia, em que havia uma opinião pública esclarecida e actuante, alimentada por quatro jornais com diferentes orienta-ções (um dos quais, O Comércio de Guimarães, chegaria aos nossos dias), em que, pela primeira vez, João Franco foi eleito deputado pelo círculo de Guimarães. À medida que, com o correr do tempo, se foi ganhando distância, 1884 foi sendo percebido como um ponto de viragem na história de Guimarães.
Quando, no dia 7 de Outubro de 2006, fomos surpreendidos pelo anúncio de que Guimarães seria Capital Europeia da Cultura em 2012, desde logo 1884 se colocou ante os nossos olhos como o padrão de medida do sucesso de algo tão grandioso como o que se anunciava. As expectativas geradas eram elevadas: esperava-se que o ano de 2012 ficasse registado nos anais da cidade como ficou o de 1884. Como um momento de viragem na história da nossa cidade.
Os vimaranenses acolheram a notícia
com alegria, entusiasmo e deslumbra-mento. Robert Scott, um dos responsáveis pela selecção das capitais europeias da cultura, alertou que esta era uma “oportu-nidade fantástica”, que não poderia ser desaproveitada. Os vimaranenses respon-deram: contem connosco.
Nos tempos que se seguiram ao anúncio, o entusiasmo fervilhava, alinhavaram-se planos, discutiram-se projectos, imagina-ram-se modelos de gestão, traçaram-se perfis para o comissário que iria liderar a empreitada. A cidade começava a desenhar a sua Capital Europeia da Cultura.
Porém, com o tempo a passar, uma nuvem negra começava a pairar sobre o grande projecto para 2012. Dois aconteci-mentos, de natureza diferente, se conjuga-ram para erguer obstáculos no caminho já que ia tardando em ser percorrido, a crise económica e a mudança da equipa do Ministério da Cultura. Entretanto, em meados de 2009, definia-se o modelo de governo da Capital Europeia da Cultura, criando-se uma fundação, aprovando-se os seus estatutos e nomeando-se os respectivos órgãos. O objectivo de 2012 ganhava um novo impulso. E o palacete de Vila Flor voltava a ser o centro de um novo processo no desenvolvimento de Guimarães pela via da cultura.
Não tardaria muito até que se percebesse que nem tudo estava bem. Blindada nuns estatutos que tinha visos de fato feito à medida de quem o ia vestir, a Fundação Cidade de Guimarães ia persistindo num discurso mobilizador, centrado nas ideias de envolvimentos dos cidadãos e do legado
guimarães mostrou-se ao mundo e demonstrou que não foi por acaso que foi nomeada capital europeia da cultura.
67
para o futuro, ao mesmo tempo fazia tudo ao contrário dos propósitos que enunciava. Em meados de 2010, já era patente que a estrutura chamada a organizar a Capital Europeia da Cultura trabalhava de costas voltadas para a cidade e para os cidadãos. Num tempo em que seria fundamental seguir a palavra de ordem de 1884, o tudo é a união das vontades, ia-se aprofundando um divórcio que já não possível continuar a disfarçar.
E foi então que os vimaranenses, vendo que o 2012 que sonharam ia sendo descons-truído, ao mesmo tempo que a imagem de Guimarães, cimentada ao longo de déca-das, ia sendo delapidada por uma estraté-gia de comunicação sem linha de rumo que se percebesse, retomaram a bandeira de 1886, onde está inscrita uma outra insígnia de Guimarães: antes quebrar que torcer. Foi o tempo dos cidadãos não calarem mais a sua inquietação e a sua decepção com o que estava a acontecer. O objectivo era provocar um sobressalto cívico na cidade, remediar os estragos, voltar a conquistar os cidadãos e cerrar fileiras para ir ganhar a batalha de 2012. Para tanto, era preciso reconquistar o Monte do Cavalinho, o que aconteceu quase no fim de Julho de 2011, a menos de meio ano de subir a cortina da grande festa de celeração colectiva de Guimarães enquanto cidade europeia.
Aqueles eram os dias em que havia que começar quase tudo de novo. Uma dúvida persistia: ainda vamos a tempo?
A resposta foi dada em 2012. Guimarães mostrou-se ao mundo e demonstrou que não foi por acaso que foi nomeada Capital Europeia da Cultura. Como então se escreveu num jornal, Guimarães levantou--se e andou.
Este foi o tempo de semear. É preciso deixar que as estações sigam o seu curso até que chegue o tempo de colher os frutos.
Em 2020, talvez voltemos ao Monte do Cavalinho para trocarmos umas ideias sobre o assunto.
o tudo é a união das vontades:
esta poderia ser a divisa por trás da atitude das gentes de guimarães, sempre que se envolve em grandes
empreendimentos coletivos.
70 ensaio
Cultura loCal – identidade e transformação
auGusto santos silva
Conferência proferida pelo Sociólogo Augusto Santos Silva no dia 30.09.2011 no Salão Nobre da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, no âmbito do programa “Circunferências” do projeto Tempos Cruzados1
1.Boa noite.Vou tentar organizar esta comunicação
à volta de uma ideia muito simples, a partir do seguinte: muitos de nós, quando consideram as questões da cultura local temem que as mudanças que estão a ocorrer à nossa volta e que, na maioria dos casos, não comandamos, mas às quais nos temos de adaptar, possam prejudicar, e por em causa, a nossa identidade. Eu gostaria de argumentar em sentido contrário.
Entendo que não vale a pena lutar contra as mudanças a partir da reivindicação de uma identidade situada apenas no passado e que fosse ela própria imutável. A sua defesa tornar-nos-ia uma espécie de novos
1. Transcrição, por Esser Jorge Silva, da intervenção oral, revista pelo autor.
D. Quixotes, vendo os cavaleiros onde estão apenas moinhos de vento e, portanto, incapazes de fazer afirmar as nossas posições. Para além disso, defendo que as mudanças são elas próprias oportunidades para dar um novo conteúdo, forma e capacidade de afirmação à nossa identi-dade. As culturas locais, realidades que não estão paradas no tempo, são realidades plásticas, heterogéneas e em mudança. O nosso mundo, como dizia Camões, está em constante mudança e nós devemos ver nessa mudança e no processo de transfor-mação que ela nos exige, não um perigo, mas sobretudo uma oportunidade para valorizar e projetar a nossa identidade.
Para fazer esta demonstração, gostaria que ficássemos pelos significados mais simples das expressões “cultura” e “local”. A cultura a que me refiro neste contexto refere-se às diversas possibilidades que temos de nos exprimirmos, e de consumir-mos e fruirmos expressões de outros. Quando falamos em “cultura local” limitamo-nos a um dado território. A cultura não se faz na atmosfera, nem num vazio, mas inscreve-se numa escala e num território, podendo ser a escala mundial, a regional, nacional, subnacional e local. Quando falamos da cultura local, referimo-nos justamente àquilo que é feito no território que habitamos, o que tem a ver, não com o que nós fabricamos ou produzimos, mas sim com a expressão,
71
parte considerável das atividades culturais são também fatores de comunhão, de sentido comunitário, de afirmação de identidade. por exemplo,
o Festival Folclórico internacional de s.torcato é um dos momentos fortes de afirmação da identidade daquela vila, assim como as gualterianas são um
momento forte de afirmação da identidade cultural urbana de guimarães.
a comunicação, a linguagem e a fruição da criação, nossa ou de outros.
Aceitando esta explicação, consideremos a cultura através dos seus níveis de con-sumo, isto é ,a partir do Eu consumidor beneficiário da criação, da produção, da oferta de serviços e de bens culturais e de acontecimentos culturais de outros. Esta posição de consumidor cultural integra, já em si, muitas possibilidades.
Podemos e devemos falar dos consumos culturais domésticos, os mais predominan-tes e quotidianos, tão naturais ao ponto de não os concetualizamos nem os descrever-mos como consumos culturais. Todavia, quando vemos televisão, lemos um livro, ouvimos um disco, estamos a consumir produtos de indústrias culturais que nos chegam a casa. Algum deles são a nossa mobília, o membro mais presente no quotidiano familiar e, para muitas pessoas que vivem isoladas, a única companheira, o único amigo no quotidiano: refiro-me à televisão, naturalmente, mas também à rádio. Estes são consumos culturais de portas adentro.
Ao mesmo tempo, temos os produtos culturais que consumimos de portas para fora. Para assistir a um espetáculo, ir ao cinema, realizar atividades de convívio em ambiente mais ou menos cultural, musical, desportivo, o que seja. A esses consumos de bens das indústrias culturais, dos grandes espetáculos e do cinema,
temos de acrescentar os consumos das chamadas artes performativas. Estas são as artes que só existem na medida em que um conjunto de intérpretes efetiva e realiza, à nossa frente, o espetáculo cultural: o teatro, arte performativa por excelência, o concerto ou recital, a dança ou as atividades interdisciplinares que combinam tipicamente disciplinas de teatro, de dança ou de música.
Há ainda aqueles consumos culturais que implicam visitas a instituições cultu-rais. Típicos exemplos são os museus e as exposições temporárias, isto é, um tipo de consumo que implica não apenas uma saída da nossa casa, mas a entrada numa instituição concebida e organizada publicamente como uma instituição cultural.
Há que acrescentar as atividades de participação, comunicação e expressão pública associadas a estes consumos. Nos grandes espetáculos desportivos ou concertos musicais, não podemos falar apenas de consumo porque há uma participação das pessoas. O ambiente de festa e efervescência coletiva desenvolvido é, também, uma ocasião de expressividade, de comunicação, de convívio público e de participação.
Ora, estas práticas estão articuladas com outras dimensões da nossa vida e essa é também uma das grandes potencialidades da vida cultural. Consumir cultura é uma
72
função social tão nobre como outra qualquer. Aliás, demoraram muitos séculos e muito esforço para que o direito ao lazer fosse reconhecido à generalidade das populações, e a maioria dos sete mil milhões de pessoas que habitam hoje o mundo ainda não tem esse direito. Portanto, como sociólogo da cultura, não fico nada impressionado quando vejo as pessoas associarem os seus consumos culturais ao lazer e ao entretenimento, e fico sempre muito perplexo quando vejo artistas, programadores ou gestores culturais dizerem, com alguma arrogância, “cultura é uma coisa e lazer é outra”. Errado! O que há de possibilidade de entretenimento ou lazer é um ativo da cultura e não o seu prejuízo.
Mas cultura não é apenas lazer ou entretenimento. É também aquilo que na minha disciplina se designa por socializa-ção e que se pode traduzir para este efeito como convívio, coexistência, relação, encontro entre as pessoas. As atividades culturais designadamente as atividades populares, as festivais, as atividades culturais de ar livre, as atividades culturais de plena acessibilidade, isto é gratuitas ou quase, são tipicamente também atividades de socialização. São atividades também importantes no percurso de formação das pessoas, têm uma dimensão e um poten-cial de educação muito presentes. Parte considerável das atividades culturais são também fatores de comunhão, de sentido comunitário, de afirmação de identidade. Por exemplo, o Festival Folclórico Internacional de S.Torcato é um dos
momentos fortes de afirmação da identi-dade daquela vila, assim como as Gualterianas são um momento forte de afirmação da identidade cultural urbana de Guimarães e assim sucessivamente.
Ainda que as atividades culturais estejam ligadas, muitas vezes, a espetácu-los musicais dirigidos expressamente a grandes massas, e em particular, a classes etárias juvenis, mesmo quando esses grandes espetáculos culturais têm propósi-tos comerciais claros, sendo conhecida a associação a grandes marcas e ainda, quando essas atividades culturais têm o propósito de comunicação e propaganda no sentido político pejorativo; ainda assim, nessas circunstâncias, há um potencial associado à cultura que deve ser valorizado sem receio.
Portanto, vejam a enorme diversidade que são os consumos culturais, as compe-tências que eles nos exigem, desde os sítios em que os fazemos e os movimentos e encontros que eles nos requerem. Imagine-se também as diferentes dimen-sões da nossa vida pessoal e social, mobili-zadas e mobilizáveis em termos culturais, entretenimento, lazer, sociabilidade, formação, sentido de comunidade, afirma-ção de identidade coletiva, sentido de pertença, afirmação pública do “nós”, unidos que somos e singulares em relação aos outros. Estas atividades ligam-se, por sua vez, a atividades de participação, de expressão propriamente dita.
Isto é, não apenas contactamos com obras, linguagens produzidas por outros. O individuo e o seu grupo produzem as suas
ensaio
73
próprias significações: comunicamo-nos, exprimimo-nos, veiculamos mensagens ou criamos e recriamos obra. Apercebemo-nos disso não apenas quando olhamos as artes nobres, no sentido das classificações sociais correntes -as artes plásticas, a literatura, o teatro, a chamada música clássica, mas também quando deparamos com as artes populares – o artesanato, a etnografia, o folclore –, e para essa zona em expansão, na falta de melhor expressão, chamemos-lhe artes intermédias – a fotografia, grande parte das chamadas artes digitais, certas formas de cinema, certas formas de artes plásticas não clássicas –, portanto, quando há a preocu-pação de não referir apenas a cultura erudita e considerar também, de um lado, as artes tradicionais e, do outro, as artes intermédias, facilmente podemos verificar, em Guimarães ou em qualquer outro contexto, como os consumos culturais se associam a criações culturais propria-mente ditas, para formarem culturas locais.
Vê-se isso bem quando segmentamos as sociedades, olhando para os grupos etários, as gerações que se vão sucedendo e cruzando na nossa vida coletiva, as classes sociais, as qualificações escolares, as pertenças profissionais e, evidente-mente, os territórios, mais urbanos ou mais rurais, ou então, como é o caso do Norte português e particularmente do Vale do Ave, os territórios onde urbano e rural praticamente não se dissociam e estão imbricados um no outro.
2.Do ponto de vista da identidade e das
expressões, tudo isto é cultura local. É também cultura local a multiplicidade de agentes (pessoas ou instituições) que intervêm neste quadro. Fazendo um exercício de distinção aplicável ao caso de Guimarães, cheguei a oito categorias diferentes de agentes que podem ser, típica e corretamente, identificados como agentes culturais, agentes de produção, organização ou gestão da cultura local.
Primeiro, o município. Quer no sentido das autoridades municipais, quer no sentido dos serviços municipais, é um agente cultural muito importante em contextos de cultura local.
Em segundo lugar, as instituições culturais públicas, enraizadas no territó-rio. Incluiria aqui o Centro Cultural Vila Flor, o Museu Alberto Sampaio, a Biblioteca Municipal, o Arquivo Alfredo Pimenta, a Sociedade Martins Sarmento – entidade pública num sentido não estatal. Trata-se de um conjunto de instituições culturais locais que definem uma espécie de infraestrutura básica da vida cultural, na mesma maneira que o saneamento, a energia, a água são infraes-truturas básicas da organização urbana.
Num terceiro grupo de agentes incluiria a universidade e as escolas, em particular as escolas secundárias e as escolas profis-sionais artísticas. Acrescentaria também um quarto grupo de agentes culturais, os média, os média locais, a imprensa local,
74
as rádios locais e os novos média eletróni-cos que cada vez mais se difundem capilar-mente pelo território.
No quinto grupo, acrescentaria as associações culturais, stricto sensu. Em Guimarães, o Convívio, o Círculo de Arte e Recreio, o Cineclube e tantas outras: distingui-las-ia, por razões que julgo que ficarão claras, de um outro grupo a que chamaria coletividades, isto é, associações enquanto formas de organizações das pessoas, em relações às quais a cultura não é um objeto de interesse principal. São organizações sobretudo transversais, muitas delas desempenhando funções de natureza social, ou então grupos sobretudo de convivialidade ou tradição integrando componentes culturais muito importantes.
Como penúltimo grupo incluiria os promotores privados, os donos de galerias, os promotores comerciais em sentido técnico “privados”. E, finalmente, chama-ria a atenção para o facto de, no campo da cultura, ser muito importante não perder de vista os círculos informais que não chegam a institucionalizar-se e os grupos semiformais, muito importantes entre a juventude e, designadamente, entre a juventude estudantil.
Ora, para se definir e perceber bem o que é uma cultura local, é necessário responder a quatro perguntas relativas a estes agentes culturais.
Primeira: como é que se relacionam entre si? Como é que se estrutura a sua relação? Nalguns casos estamos perante a imagem de uma rede, como a rede de pesca, mais lassa, de relações mais horizontais e
estendida em múltiplas direções. Noutros casos, estamos perante um sistema com uma hierarquia mais pronunciada, mais dependente, de um centro quando ele existe, normalmente o município.
A segunda pergunta questiona quem funciona como pivô nesta rede de agentes culturais. É o município? É a universidade? É uma ou várias associações culturais? Quais?
A terceira pergunta é: como se inscreve esta rede no meio e na dinâmica urbana? Num momento interessante da primeira metade da década de oitenta, um observa-dor atento poderia identificar fatores de alguma dissociação e estranheza reciproca e, em alguns momentos, hostilidade entre essa rede de agentes culturais e o resto da dinâmica urbana. No meu ponto de vista, em Guimarães essa dissociação foi supe-rada, dando-se a integração. Um exemplo contrário são as características dificulda-des sentidas por cidades universitárias, como Coimbra, nas quais há um corte muito grande entre o que é a vida urbana no tempo escolar e o que é a vida urbana nas pausas escolares, justamente porque esses dois círculos tendem a separar-se e não a intersectar-se.
Finalmente, como é que esta rede de agentes culturais se inscreve na economia e na sociedade local? Para quem faça o mínimo de esforço de olhar para as coisas sem preconceito, sem ideias feitas, ten-tando descrevê-las, identificá-las, caracte-rizá-las, conhecê-las, para quem fizer este esforço é evidente que aquilo a que chama-mos a nossa cultura local está muito longe
ensaio
75
de ser uma coisa parada, única, homogé-nea. Pelo contrário, é um processo em movimento, ela própria em transformação, diversíssima entre si, heterogénea, carate-rizada por uma pluralidade de instituições e gostos, de atitudes e e praticas.
3.Porque fazemos muitas coisas quando
nos envolvemos em práticas culturais, pomos naquilo que fazemos muito da nossa capacidade de nos exprimirmos publicamente, de interagirmos, de nos encontrarmos, de participarmos nas coisas coletivas. Porque a cultura se cruza com muitas coisas da nossa vida: a educação, o lazer, o trabalho, a profissão, a política, etc.. Porque são múltiplos os agentes que intervêm neste microcosmos que é a cultura local e, por isso mesmo, é extrema-mente redutor querer definir a cultura local de uma cidade média como é Guimarães a partir apenas de um, dois, três, ou n símbolos do passado.
Devemos antes fazer um esforço para aproximarmos das marcas identitárias que possam surgir da cultura viva ao nosso lado, assim como das novidades que ela comporta, em vez de ficarmos apenas presos aos estereótipos. Foi preciso muito esforço para que o Porto compreendesse que o Vinho do Porto era uma marca muito importante que não devia abandonar, que ter servido a carne aos lisboetas que partiram numa expedição para África e
ficado com as tripas era um facto que devia ser louvado e recordado pelos séculos fora, que era, evidentemente, muito importante, em contexto de oposição à ditadura, salientar que o Porto era uma cidade burguesa e invicta, isto é, que nunca tinha sido vencida no século XIX e século XX; mas que, sem colocar em causa nada disto, o Porto podia dizer também que era a escola da arquitetura, a cidade de Siza Vieira, de Souto Moura, de Manoel de Oliveira e da escola de cinema de anima-ção, a cidade das coisas vivas. Uma coisa, a identidade pelo passado, em nada prejudica a outra, a identidade pelo presente. A sua combinação, tantas vezes tensa e difícil, não só torna mais realista a nossa imagem, como a torna mais viva e produtiva. Porque, se a cultura é um leque de possibilidades de expressão e de fruição que nos são oferecidas, então ter esta imagem viva e dinâmica aumenta e alarga esse leque de possibilidades e permite compreender melhor o que está realmente a acontecer à nossa volta.
Falando do ponto de vista da cultura local, tais mudanças e transformações, designadamente nos processos de produ-ção e comercialização das grandes indús-trias criativas, ou nas artes culturais eruditas, são em grande parte mudanças exteriores, exógenas, vêm de fora, não são comandadas pelos atores locais. Estes é que têm de se adaptar e procurar integrá-las, confrontando-se com elas. Ainda assim, não deixam de ser oportuni-dades, desafios, horizontes a abrir. É que no campo da cultura, como noutros
para quem faça o mínimo de esforço de olhar para as coisas sem preconceito é evidente que aquilo a que chamamos a nossa cultura local está muito longe de ser uma coisa parada, única, homogénea.
76
campos sociais, mas com particular vigor no campo da cultura, estamos muito longe do mundo unipolar e uniforme, um mundo onde tudo seria produzido por um centro e difundido a partir desse centro, sem remissão pelo resto do espaço. Pelo contrário, também na cultura vivemos num mundo de múltiplos centros. Por exemplo, os principais centros produ-tores de cinema, no limite mínimo, são Hollywood e Bollywood, isto é Estados Unidos e Índia. Outros centros polares do ponto de vista de cinema de circulação mundial poderiam ser considerados. O mesmo em relação à música. Na pop, o grupo que mais dinheiro faz nas suas digressões não é americano, não é inglês, são os irlandeses U2. Nas artes plásticas podemos encontrar múltiplos centros. A periferia, em muitos casos, é um ativo, um valor que pode ser acrescentado. Na música, por exemplo, o que vale no género chamado world é a capacidade que o artista tem de projetar uma diferença, uma singularidade, periférica que seja.
A organização dos circuitos mundiais e europeus de produção e difusão cultural favorecem especializações, pequenos nichos. O cinema de animação durante muito tempo foi um nicho franco-cana-diano, que no seu melhor momento, nos anos noventa, Portugal também integrou. A multiplicidade e a pluralidade das tradições, pode resultar também de um valor de afirmação nacional. Quero com isto dizer que tudo que potencia a diversi-dade é valorizável do ponto de vista cultural e por isso mesmo, seja à nossa
própria escala interna, seja às escalas mais amplas em que nos inserimos, podemos potenciar a diversidade e afirmar a nossa diferença e singularidade.
A última recomendação que eu faria a programadores culturais ou a gestores culturais seria que procurassem aproxi-mar-se, digamos, de um mainstream. Nunca conseguirão! Mas se fizerem valer justamente as suas diferenças específicas, como se diz na lógica, poderão no limite até integrar esse mainstream, essas correntes hegemónicas.
E (para fazer jus ao título da conferência) nunca esquecer que a mudança não é projetável numa flecha de tempo, numa lógica de que o que vem de novo apaga o antigo. Pelo contrário, a mudança é um feixe de coisas que se cruzam umas com as outras. Não vivemos num tempo presente que teria apagado o passado e que o futuro se encarregaria de apagar mais tarde ou mais cedo. Vivemos numa espécie de mosaico, de puzzles de tempo e isso tem um valor cultural muito importante. Plasticidade, dinamismo, diversidade, pluralidade são essas as palavras a partir das quais devemos considerar a cultura local e a partir das quais não devemos ter receio que as mudanças possam prejudicar as nossas identidades. Pelo contrário, não só permitem ajustar as nossas identidades como permitem atribuir-lhes valor.
ensaio
77
4.Se tudo o que afirmei tem algum sentido,
então há três perguntas finais que podem ser feitas e nos orientarão para o sentido prático.
A primeira pergunta é: qual é o papel do associativismo nisto? Quer dizer, como é que pode ser o entendimento moderno do associativismo? Pois pode ser justamente valorizar aqueles que já são hoje os pontos fortes do associativismo – e faria ressaltar cinco.
O primeiro é o seu enraizamento comu-nitário. Usando uma expressão de que gosto muito: o associativismo é uma das realidades sociais que se situam ao nível do rés-do-chão. Quer dizer, está próximo das coisas, das pessoas, das terras, das comunidades que vamos organizando. Este enraizamento comunitário é um dos pontos mais fortes do associativismo popular, em particular do associativismo em torno das grandes forças imateriais de mobilização de energias coletivas. Quais sejam, em primeiro lugar, onze tipos vestidos de calções a correr atrás de uma bola e a tentar enfiá-la numa baliza, é a principal força de mobilização de energias coletivas que eu conheço em Portugal com a vantagem de ser mais compreensível do que, por exemplo, o basebol (que é uma grande força de mobilização de energias coletivas nos Estados Unidos da América). E, logo a seguir, encontro atividades culturais que atrás foram designadas de estivais, gratuitas, públicas e ao ar livre, os festivais folclóricos, mas também, as
raves da nossa juventude urbana. Quer percorramos todos os grupos que fazem parte da associação etnográfica, quer visitemos também as ruas de Guimarães a partir de certas horas da noite, aquando das Festas Nicolinas, ou em qualquer momento devidamente convencionado da semana, temos o resultado do enraiza-mento comunitário, da proximidade e pertença social. A identidade tem sobre-tudo a ver com esta pertença a um grupo, a nossa referência a um grupo e esse é um dos pontos fortes do associativismo que deve ser valorizado.
Segundo ponto forte, o enraizamento no tempo. Se o primeiro é enraizamento no espaço socializado, o segundo é o enraiza-mento no tempo, isto é história, espessura, densidade, essa coisa que faz por exemplo, a diferença entre Londres e Las Vegas, que é o facto de Londres, Lisboa, ou Guimarães terem três dimensões ao passo que Las Vegas só tem duas: não tem história. Essa coisa que faz que nós gostemos mais da igreja de Notre Dame ou do nosso Mosteiro de Alcobaça do que da maior igreja “gótica” existente no mundo, que foi construída no século XX, na América do Norte. Nós sempre preferimos a espessura, o enraizamento na duração, n o tempo representado e apercebido pelas pessoas.
Terceiro ponto forte, o voluntariado, no sentido de atividades voluntárias, benévolas, um serviço que cada pessoa faz a outros. O exercício da vontade: faz-se porque se quer e muitas vezes quer-se fazer porque já os pais, os avós, os bisavôs, os trisavós e os tetravôs queriam. Não
78
interessa porquê, mas há um querer, uma vontade, isto é uma condição de sujeito, eu faço alguma coisa, nem que seja como mordomo a organizar a procissão na minha irmandade, num certo dia. Faço.
Quarto ponto forte, aquilo que se poderia chamar multifuncionalidade. Muitas das nossas associações culturais são também associações de convívio, de entreajuda, são também, por exemplo, lobbies políticos paroquiais. São múltiplas as funções e cada um dos participantes fá-lo em vários níveis: um é monitor, outro já foi formando e agora é formador, um é participante no sentido em que faz uns biscates, o que no circuito profissional se chamaria as profissões técnicas, faz de luminotécnico, de sonoplasta à sua maneira e, vai-se a ver, afinal é um simples e vulgar eletricista que faz isso nos seus tempos livres em favor dos seus vizinhos. Esta multifuncio-nalidade é um dos pontos mais fortes do associativismo.
Quinto ponto forte – e é preciso mesmo convencer alguma da velha guarda do nosso dirigismo associativismo que é mesmo um ponto muito forte: a diversi-dade. Se o quisermos caracterizar só podemos declarar no plural. O Convívio é muito diferente do Rancho Folclórico da Corredoura, assim como o Circulo de Arte e Recreio é muito diferente do Cineclube, assim como o Notícias de Guimarães, é muito diferente da Rádio Fundação, etc. etc.
Portanto, qual pode ser um papel, um programa de fomento de associativismo, assente na compreensão clara, sem medo,
do que é a cultura local, em contexto de transformação? A resposta é muito sim-ples: valorizem aqueles que já são hoje os pontos fortes do associativismo, da dinâmica associativa e das associações.
A minha segunda pergunta é: como é que se articula o movimento associativo, com que atores e de que forma? Tenho também uma resposta muito clara e simples: a articulação tem de ter pivôs. E não há na minha opinião possibilidade, hoje e num futuro próximo, de contornar (dispensar e passar ao lado) as instituições públicas nessas funções de pivôs. Não só é a sua responsabilidade, como também são as instituições que mais legitimidade e mais capacidade têm para fazê-lo. Refiro-me às câmaras municipais, às juntas de freguesia de dimensão rele-vante, às associações intermunicipais em diferentes escalas; mas falo também de instituições culturais como os museus, as sociedades, as bibliotecas públicas, etc. Não pensemos que poderíamos dispensar os serviços públicos, as instituições públicas e as políticas públicas (uso “política” no sentido de ação deliberada, coerente, escrutinável, avaliável e debatí-vel, portanto, criticável).
Terceira pergunta: o que é que Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, pode trazer? Encontro três respostas principais para esta pergunta. A primeira é que a Capital Europeia da Cultura, pelo nível de programação e de investimento que exige, é uma espécie de subida da parada, subida de escala. É muito importante, qualquer que seja o
ensaio
em relação ao figurino das capitais culturais europeias há sempre o medo de que a coisa se esgote no momento, que seja um ano excecional, sendo
excecional um adjetivo que tem uma carga positiva porque foi muito bom,
79
jogo, essa atitude de nos confrontarmos com aquilo que aparentemente nos podia parecer uma impossibilidade, e nunca perdermos de vista que possibilidade e impossibilidade têm a mesma origem. O impossível é-o até ao dia em que se torna possível. É muito importante que 2012 seja uma ocasião de nos confrontarmos com horizontes um pouco mais vastos e se coloque o adjetivo local com menos força do que o substantivo cultura.
O segundo elemento da minha resposta é que Guimarães está num bom ponto de partida. Porque tem marcas fortes e muito próprias; por exemplo, a forma de requalifi-cação do seu centro histórico, o facto de ter um nível de apetrechamento em matéria de infraestruturas básicas muito razoável, muito interessante. Basta pensar no centro cultural, no museu, na biblioteca pública, na rede associativa, no sentido de que há vários anos várias associações culturais locais estarem habituadas a cooperação e iniciativa conjunta. Basta ter isto pre-sente, e o trabalho em rede que se faz hoje, a programação cultural e a vitaliza-ção das instituições que há muitos anos é familiar a Guimarães.
O meu terceiro elemento de resposta é este: em relação ao figurino das capitais culturais europeias há sempre o medo de que a coisa se esgote no momento, que seja um ano excecional, sendo excecional um adjetivo que tem uma carga positiva porque foi muito bom, e uma pequena carga negativa, porque se é excecional, não é rotina, foi único e singular. Essa preocupação é legítima e é muito
importante que a tenhamos presente e nos preocupemos com os efeitos duradouros da Capital Europeia. Justamente apostar numa presença forte do movimento associativo na preparação e desenrolar da Capital Europeia é uma forma muito importante de garantir efeitos duradouros, enraizando-se no tecido cultural e social local.
Devo confessar à audiência que poucas pessoas conheço mais otimistas do que eu. Faço aliás questão de ser otimista quando falo designadamente de cultura porque, justamente, a cultura tem a ver com possibilidades e, quem não acredita nas possibilidades, não está a fazer nada nessa área. Mas devo dizer que o meu otimismo me parece, no caso presente, fundado. Também é vontade, certamente, mas é muito realismo.
Muito obrigado.
e uma pequena carga negativa, porque se é excecional, não é rotina, foi único e singular. essa preocupação é legítima e é muito importante que a tenhamos presente e nos preocupemos com os efeitos duradouros da capital europeia.
82
q uando, em julho de 1947, um incêndio destrói completamente a praça de Touros – onde decorreria um dos mais importantes números
das Festas Gualterianas, a Tourada –, é colocada uma cabine sonora no Toural e apela-se, constantemente, à mobilização de todos. A reconstrução envolveu toda a população da cidade. Cinco dias... o necessário para que o impossível fosse alcançado. A capacidade de mobilização dos vimaranenses vê-se, desta forma, testada até ao limite: “nem um só vimara-nense ficou indiferente, nem um só deixou de viver aquelas horas de excepcional crepitação bairrista”1.
Quando, em vésperas do início do ano cultural excecional que em Guimarães foi 2012, se temia que a população local considerasse um dos mais importantes eventos para a cidade como “não seu”, poucos poderiam prever o arrebatamento dos vimaranenses e o entusiasmo contido em cada contorno de um novo símbolo, acabado de nascer, da sua cidade: o coração de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura2.
1. Cf. ROCHA, R. (2011). Guimarães No Século XX. Volume II (1940-1970). Braga: CEM. 2. O logótipo de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura é da autoria de João Campos, vencedor do concurso promovido pela Fundação Cidade de Guimarães e pelo Centro Português de Design, para criação da imagem gráfica de Guimarães 2012 CEC.
Gizado como símbolo aberto e, ao mesmo tempo, impregnado de significado histó-rico, o resultado não poderia ter sido mais acertado. Agregam-se, alegoricamente, a muralha e a viseira de um elmo. O primeiro dos elementos é símbolo de uma cidade rica em património histórico, eleita Património da Humanidade3. O segundo simboliza a fundação, o rei Afonso Henriques, a valentia e a perseverança. Na forma, no coração, a pertença e o orgulho vimaranenses.
Ainda que as ideias que subjazem à criação do logótipo de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura escapem à maioria dos vimaranenses, o que está em causa é o efeito que este provoca. O coração da CEC, como muitos lhe chamam, é a mais perfeita combinação dos valores tradicionais de uma região – diria de um povo – com as mais recentes formas de comportamento social. A partir deste, a cooperação torna-se jogo e modo de vida. Uma cooperação que se torna efetiva a partir de dois eixos fundamentais: o eixo do individualismo, da personalização, da posse e da simplicidade da matéria-prima que se presta à sua transformação e o eixo da fusão do conhecimento com o capital
3. A 13 de dezembro de 2001, o Comité do Património Mundial, na sua 25ª sessão, inscreveu o Centro Histórico de Guimarães na Lista do Património Mundial da UNESCO.
Coração que marCa
paulo pinto
ensaio
83
“o coração da cec, como muitos lhe chamam, é a mais perfeita combinação dos valores tradicionais de uma região – diria de um povo – com as mais recentes formas de comportamento social.
a partir deste, a cooperação torna-se jogo e modo de vida”
social e a vivência comunal. A base é unidade formal e denominador
comum. Partimos todos do mesmo ou regressaremos todos ao mesmo? Agora, é a tecnologia que nos permite moldar e transformar o que é nosso no que é meu. E sendo-o, meu, também é do outro, pois Guimarães é terra de muitos possíveis, de muitos corações colocados nas montras das lojas, de muitos corações colocados em janelas e varandas, de muitos corações decorados nos agrupamentos escolares do concelho. E no fundo, um só coração. Que melhor jogo poderíamos encontrar para indagar as mentes coletivas? Na perda progressiva do sentido de comunidade, Guimarães, sem que dela não sofra abanos e fraturas, mantém o elo perene brilhante-mente cultivado pelos seus ilustres habitantes.
O coração adquire tantas marcas quantas as identidades individuais, ao abrigo de um ponto de partida que é comum: a sua materialidade. Logo, a história funde-se com a ficção. Se o indivíduo se configura na e pela linguagem, se, em cada coração decorado, interpretado subjetivamente, ele manifesta a sua ipseidade4, ao configurar--se ele configura também o mundo. E da soma das partes nasce a força identitária,
4. [Filosofia] O que faz com que um ser seja ele próprio e não outro.
nasce o símbolo. Um coração que é tanto, mas que é também Guimarães.
Esta história pode muito bem ter come-çado, como as grandes narrativas épicas, in medias res5. Em cada um dos milhares de pins, juntamente com o coração, podia ler-se “Eu faço parte!”. Cada “eu” um dos muitos corações de que se fez Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. Ao transportar na sua lapela uma afirmação clara de adesão e identificação com o projeto cultural, o vimaranense incorpora esse capital como seu, essa capital como sua. E dos muitos “eus” que se “destaca-vam” dos restantes, nasciam mais “eus” orgulhosos da sua cidade e do evento que não só nela cabia como dela celeremente escapava. Orgulho na capital cidade, que é capital. Depois do “eu”, só resta o espaço da constatação e da retribuição: efetiva-mente, “Tu fazes parte!”.
O sucesso deste singelo molde em cartão – depressa transformado em múltiplas texturas e cores, mensagens e interpreta-ções mais ou menos minimalistas –, de cada um dos nossos corações, assenta na mediação, processo fundamental das nossas vidas. Guimarães 2012 entregou nas mãos dos vimaranenses um convite: sente este evento como teu. O convite foi
5. Técnica literária onde a narrativa começa no meio da história.
84
esse molde em cartão, cru, asceta, convida-tivo, em cuja simplicidade da matéria reside um apelo claro à participação. Esse convite foi um coração. Esse convite poderia ter sido qualquer outra coisa, fosse ele mal construído. Os vimaranenses construíram-no, sem manual de instru-ções. Depois de enformado, souberam adotá-lo orgulhosamente como seu, articulando, na dimensão não despicienda da posse, o que existe de imaterial na matéria. Do “eu” e do “tu”, o “Nós fazemos parte!”.
Que outra lógica para esta história que não esta clara assunção coletiva de que é no “nós” que reside a força do coletivo? Que projeto singra sem um claro compro-metimento com os objetivos comuns? (e esses já estavam traçados desde a fase de candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura). Unidade não é unanimismo. Unidade é o que pode ser considerado individualmente, mas tam-bém o que pode ser considerado como concórdia de vontades. O coração de Guimarães 2012 tem tudo isso inscrito. O coração de Guimarães 2012 é mais do que o coração da CEC, como muitos lhe chamam. O coração de Guimarães 2012 é também o coração da cidade.
Numa outra dimensão de análise, não mais importante mas que resulta do processo, seremos obrigados a refletir sobre que potências e virtualidades o coração de Guimarães 2012 deixa por explorar. Desde logo, há, indubitavelmente, uma nova dimensão identitária – um novo símbolo – capaz de comportar vantagens competiti-vas dentro de uma lógica de cidade. A exemplo do fenómeno de apropriação do logótipo, verificado no decorrer do evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, uma ideia de cidade é um
processo necessariamente colaborativo. Cada lugar tem os seus objetivos, circuns-tâncias, recursos e competências. Há que saber articular as variáveis da perceção e da realidade e a relação entre os objetos e a sua representação. Ainda que a identidade cultural não seja hermética, tendo ela os seus mistérios, Guimarães, como cidade, goza hoje, nacional e internacionalmente, de uma reputação invejável. Uma reputa-ção conquistada por mérito próprio e que não teria sido possível sem um árduo e distinto trabalho.
Rentabilizar este capital identitário acumulado durante a última década passará, obrigatoriamente, por dar atenção às várias dimensões que concorrem para a construção da sua imagem, saber articulá--las e colocá-las a “falar a mesma voz”. Pessoas e Cultura, mas também Turismo e Investimento. Uma política de cidade que, sem perder de vista uma dimensão holística imprescindível, consiga gerar novas visões, novos produtos e serviços. Uma política de cidade que consiga gerar novas vivências e negócios, nova arte e ciência. Decidida a sua estratégia de identidade, Guimarães deverá sustentar-se na realidade, produzindo um fluxo cons-tante de arrojadas ideias e implicando um número suficiente de stakeholders. Um trabalho que deverá assentar na inovação, na coordenação e numa ade-quada comunicação. Guimarães tem-no feito bem. Pode sempre fazê-lo melhor.
O coração de Guimarães não vai desva-necer porque, se necessário for, reconstrui--lo-emos em cinco dias.
Este artigo foi escrito com as regras do novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa
ensaio
86
“Ter um destino é não caber no berço onde o corpo nasceu, é transpor as fronteiras uma a uma e morrer sem nenhuma.”
Miguel Torga
s e um fosse de algum lugar havia de ser daquele rio que corre Douro. Esta foi sempre a minha convicção. Contudo, o conterrâneo Miguel
Torga (que devem ler todos aqueles que se questionarem sobre o sentido de identidade e pertença em pleno século XXI) cedo escreveu que um indivíduo não é do lugar onde nasce, mas do lugar onde morre. Não sei onde finarei, mas no dia 25 de abril de 2010 quando, pela primeira vez, conheci o Dr. Eduardo Meira e a ideia de uma área de
programação liderada pelo movimento associativo local que integraria o grande desígnio de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, não adivinhava que esta terra, onde nasceu Portugal, havia de marcar visceralmente todo o meu percurso de aí em diante, a todos os níveis.
Helen Keller escreveu que “Nunca se pode concordar em rastejar, quando se sente ímpeto de voar.” Acho que foi este o sentimento que me levou, muito jovem, a recusar algumas oportunidades de estabilidade no mercado laboral e a optar por criar a minha própria empresa, a Intelectus D’ouro, dedicando-me à comunicação e gestão cultural e de eventos com um projeto próprio. Acho que foi este mesmo sentimento que Helen Keller escreveu, mas ainda melhor personificou, que me empurrou para o desafio, numa fase inicial, de pensar o que poderia ser o Tempos Cruzados – Programa Associativo, apesar de não me terem sido dadas garantias, à partida, da minha eventual colaboração formal no projeto.
O desafio, para uma jovem de apenas 24 anos, revestia-se, assim, de alto risco, uma vez que se tratava de uma área de progra-mação com uma dimensão organizacional completamente nova em toda a História das capitais europeias da cultura (desde 1985), fortemente vinculada e dependente da participação das instituições locais, em particular das associações.
ensaio
o que fiCa
de quem passa? helena pereira
87
O Tempos Cruzados – Programa Associativo resulta1, assim, do protocolo assinado, a 4 de março de 2010, entre a Fundação Cidade de Guimarães (FCG) e o movimento associativo local e tem como principal objetivo o desenvolvi-mento, organização, promoção e imple-mentação de um programa cultural e artístico, integrado na programação global de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, que assume como grande missão a valorização das práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões da comunidade local, reforçando a sua legitimação cultural e social. No desenvol-vimento deste programa cultural e artís-tico, o território criativo das associações concelhias é, não só o lugar e o tempo da memória, como também o espaço privile-giado para a construção de um futuro em
1. Recorre-se ao tempo PRESENTE pois, apesar de, à data, já ter sido encerrado o evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, o Tempos Cruzados – Programa Associativo continua “em ação” e com programação cultural prevista até ao final de 2013. Tal facto justifica-se pela independência, inclusiva-mente administrativa e na relação com a estrutura de financiamento ao ON.2, que esta área de programação manteve. Neste sentido, a candidatura do Tempos Cruzados – Programa Associativo prevê, não um ano de programação, mas mais de dois, tendo-se iniciado em Setembro de 2011 e prolongando-se, com atividade regular, até Dezembro de 2013.
que cidadania, criatividade, conhecimento e empreendedorismo são os conceitos dominantes e aglutinantes.
Guimarães ocupa na História o espaço da criação e era incontornável que a sua comunidade fosse interveniente ativa no processo de construção coletiva desta Capital Europeia da Cultura. Contudo, na História do evento, este modelo de envolvi-mento do tecido associativo local é inédito. Ele decorre da avaliação que a FCG faz do papel relevante que este movimento tem tido na configuração do espaço e do tempo cultural e artístico do concelho. A coorde-nação desta área de programação foi atribuída, pela FCG, a três associações do concelho: o Círculo de Arte e Recreio, a Associação Cultural e Recreativa Convívio e a Associação de Etnografia e Folclore de Guimarães.
Os representantes, à data, das referidas associações assinaram o sobredito proto-colo comprometendo-se a desenvolver um programa associativo que deveria:
· Ter como principal fonte de inspiração o património imaterial e as marcas identi-tárias de Guimarães, das tradições de raiz e génese popular à criação contemporânea;
· Ser único, partindo de um quadro conceptual próprio e de princípios que respeitam as cláusulas do supracitado protocolo, ainda que organizado em projetos parcelares.
“ao longo de quase três anos de trabalho pretendeu-se, do ponto de vista do estudo sociológico de base empírica que o
trabalho também implicava, esclarecer os modos e fatores de construção social da cultura entendida, quer como universo de práticas, instituições e bens culturais, quer como categoria de análise desse mesmo universo”.
88
O “consórcio” associativo, pela assina-tura deste protocolo, deveria, ainda, alargar a participação no programa a outros agentes associativos.
Considerando a novidade do projeto, a bibliografia, bem como outras fontes de informação e conhecimento, disponí-veis sobre a construção de um programa cultural local e associativo em rede, que preservasse as identidades territoriais e reforçasse as práticas culturais e artísticas da comunidade local, era (é) escassa. Na década de 1990, todavia, Augusto Santos Silva, desenvolveu a sua tese de doutora-mento no cenário da comunidade local de São Torcato, assumindo como um dos campos da análise sociológica o cruza-mento simbólico dos tempos da ruralidade e da fábrica. A análise cultural dos proces-sos sociais, levada a cabo pelo autor, consiste numa viagem por vários territó-rios e referências. No entanto, a análise prática centra-se em São Torcato, uma freguesia de Guimarães, devota ao santo evangelizador e que conserva, até hoje, um conjunto de manifestações da cultura popular. A escolha, em 2010, recaiu sobre o patronato teórico de Augusto Santos Silva por que, nesta obra, a sua análise se centra na reestruturação de comunidades pós--camponesas envolvidas em movimentos de industrialização difusa e polarização urbana. Em pleno século XXI, estas mesmas comunidades pós-camponesas estão ainda integradas num contexto tecnológico e de cariz tão efémero nos seus acontecimentos do quotidiano.
Augusto Santos Silva também
considerou oportuna a deambulação por territórios como a memória, a tradição, o sagrado, a participação associativa, integrando também a religião no sistema cultural. Este périplo inclui as transforma-ções (recentes) da comunidade camponesa; os padrões de conduta face à mudança; para terminar com aquilo que designa por encruzilhadas da sociedade local que condensava “vários mundos num só local”2. Por último, são enunciadas as permanên-cias e desigualdades de uma sociedade na encruzilhada de tempos, gerações e lugares.
Em pleno século XXI, aos tempos da ruralidade e da fábrica, juntam-se o tempo do conhecimento e da criatividade e é também por isso que falamos em “identida-des”, plural, e não em identidade, singular.
Vários mundos se cruzam pois, e São Torcato, consoante os pontos de inserção e os trajetos de cada geração, família e grupo, nos tempos desta transladação de estruturas sociais (…) isto é, vivia-se numa encruzilhada de tempos sociais.
(…) Tempos e espaços cruzados, histórias e lugares. Na diferença máxima entre opostos – romarias camponesas e galeria de arte contemporânea, arte manual do sapateiro e linhas de montagem industrial, folclore e discotecas, milagres do Santo e medicina oficial, velhos camponeses e jovens universitários – como se reconstroem
2. SILVA, Augusto Santos – Tempos Cruzados: um estudo interpretativo da cultura popular. Porto: Edições Afrontamento, 1994. Página 90.
ensaio
89
experiências simbolicamente integradas, como se propõem novos “textos”, representa-ções e jogos de papéis apelativos?3
Ao longo de quase três anos de trabalho pretendeu-se, do ponto de vista do estudo sociológico de base empírica que o traba-lho também implicava, esclarecer os modos e fatores de construção social da cultura entendida, quer como universo de práticas, instituições e bens culturais, quer como categoria de análise desse mesmo universo. Isto é, a partir de padrões e modelos dos atores locais, pensar nos modos como estes atualizam e interpretam as suas práticas; como encaram e recriam; como constroem uma nova experiência de comunidade – na tradição transformada, nos acontecimentos, pessoas e histórias, isto é, na encruzilhada de condições, tempos e projetos.
Em síntese, a perspetiva de Augusto Santos Silva deambula pela conceito de identidades territoriais, naquilo que defende serem os tempos cruzados que marcam a vida das comunidades locais.
As estratégias de programação cruza-ram-se, desde o início, com a poética da organização em rede. A construção de uma rede associativa que contribuísse para a sustentabilidade e reforço, a médio e longo prazo, do movimento associativo foi sempre assumida, pelo consórcio associativo, como objetivo primeiro.
3. SILVA, Augusto Santos – Tempos Cruzados: um estudo interpretativo da cultura popular. Porto: Edições Afrontamento, 1994. Páginas 300, 414 e 481.
Por um lado, no âmbito do Tempos Cruzados – Programa Associativo, seria desenvolvido um conjunto de projetos culturais e artísticos que apelassem e dependessem da participação e envolvi-mento de várias associações vimaranenses tendo por base um levantamento empírico das manifestações culturais e artísticas com forte representação e expressão neste território criativo tão particular. As danças e cantares tradicionais, o artesanato, o teatro de amadores, a poesia, a valorização artística de espaços associativos e o debate aberto foram pontos de partida para um futuro que passa, necessariamente, pela promoção de sinergias e partilha de recursos entre as muitas associações locais. POP ARTE, ARTE DE RAIZ POPULAR, AQUI NASCEU PORTUGAL, PEDRA FORMOSA, MEMÓRIAS COLECTIVAS SINGULARES, CIRCUNFERÊNCIAS e a FÁBRICA DAS ASSOCIAÇÃO são, assim, as designações dos sete projetos do programa. Todos os projetos se identificam como projetos de rede, uma vez que, envolvem, na sua implementação, um conjunto alargado de associações e outras entidades que são, incentivadas à participação em ações comuns, partilhando conhecimentos e trabalhando coletivamente para os objetivos propostos em cada iniciativa da área de programação.
Por outro lado, no âmbito do Constelações – Projeto para o Movimento Associativo, foi dirigido convite direto a associações ou redes de associações legalmente sediadas no concelho de Guimarães para que
90
desenvolvessem projetos/ações com caracter inovador e que integram uma agenda comum. O Constelações – Projeto para o Movimento Associativo tem o conceito de “rede” como estruturante. Definiu-se que as associações poderiam também desenvolver projetos/ações já enquadrados nas suas programações anuais, contudo, aproveitariam o apoio financeiro para (re)pensarem esses mes-mos projetos/ações do ponto de vista da sua dimensão organizacional.4
Na globalidade, o programa associativo pretendeu, desde o início, afirmar-se como uma rede de tripla categoria5:
· Como uma rede temática, ou seja, uma rede de incentivo à produção/dinâmica artística e/ou cultural proveniente do território criativo das associações locais;
· Como uma rede regional que se situa no município de Guimarães, o ponto de aglutinação de todos os parceiros;
· Como uma rede organizacional que congrega associações locais, autónomas e dispersas pelo território.
Partiu-se, sempre, do princípio que “as redes colaborativas locais funcionam melhor se, entre os seus membros, se aprofundar a colaboração, a solidariedade,
4. Com base no texto da Memória Descritiva da Candidatura da Operação Tempos Cruzados ao ON.2 escrita por Helena AM Pereira, em Setembro de 2011.5. Com base na categorização proposta por OLIVIERI, L. – A importância histórico-social das redes. São Paulo: Conectas, 2002. Página 124.
a transparência e a coresponsabilidade.”6 A rede colaborativa local deve, por isso, operar com um modelo de ação comunica-tiva e partilhada, onde “o poder resulta da capacidade humana não apenas para agir ou fazer algo, mas para se unir a outras e atuar em concordância com eles”7.
Mais de três anos volvidos sobre o início de todo este processo, com mais de 200 atividades realizadas, no quadro dos vários projetos desenvolvidos (quase todos ainda em desenvolvimento), contabilizando mais de uma centena de entidades envolvidas (sobretudo associações), perto de 40 000 espetadores/visitantes/participantes e cerca de 70 artistas e criadores (dos quais destaco Hélder Costa, provavelmente o maior dramaturgo português vivo, funda-dor da Companhia de Teatro A Barraca, amigo e fonte de inspiração que levo para a vida), posso afirmar que o melhor ainda está para vir, que Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura foi só um capítulo de uma processo de (re)afirmação do movimento associativo e, sobretudo, de todos aqueles que através da resiliência e da vontade fazem com que Guimarães aconteça aqui: no território criativo das associações.
6. PALMA, Cristina e CASTELLS, Manuel – A Sociedade em Rede em Portugal. Porto: Campo das Letras, 2005. Página 200.
7. CASTELLS, Manuel – A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume I. A Sociedade em Rede. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 (4ª Edição). Página 89.
ensaio
91
Numa entrevista dada ao jornal La Republica, publicada em 14 de novembro de 2011, Zygmunt Bauman, provavelmente o mais notável sociólogo do nosso tempo, sugere-nos que “Para construir uma verdadeira comunidade, não ignoremos os pequenos gestos. A globalização negativa não considera hábitos e necessidades locais. Abraça poderes como as finanças e o capital. Há um grande número de mulheres e homens corajosos que podem mudar a história. Ajudemo-los a bater as asas.” Guimarães está repleto destas mulheres e homens capazes do “efeito borboleta” de Edward Lorenz.
E porque não arriscar e referir, não a título de exemplo mas de homenagem, a Ana Machado, mulher do folclore e prova de que a idade só pode trazer beleza; o Dino Freitas que se não fosse a minha costela benfiquista paternal e de nascença já me tinha feito sócia do Vitória de Guimarães; o Sr. Armando do Centro Recreativo, Cultural e Artístico de São Torcato, homem de virtude, razão e olhos voltados para o progresso; o Rui Fernandes do Centro Cultural e Desportiva Coelima; o maestro Vasco Silva de Faria da Sociedade Musical de Pevidém, todos os seus músicos e equipa de produção, destacando o José Ricardo e o Francisco Leite Silva, que foi o 1º Rei de Portugal no espetáculo “Aqui Nasceu Afonso Henriques”, provavelmente um dos espetáculos de teatro de maior afluência de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura; toda a equipa da ADCL, um caso sério de profissionalismo; o Carlos Mesquita, homem de enorme
clarividência e cultura, mas também o António Fernandes, a Luísa Alvão e o Ricardo Leite do Cineclube de Guimarães; a Marisa Lima da Morávia – Associação Juvenil de Moreira de Cónegos; a Vera Barroso Lima da Casa do Povo de Ronfe que, mesmo depois da festa, nos apoiou na criação de um novo grupo e teatro de amadores em Ronfe; o Sr. Augusto do Grupo Folclórico de São Torcato que até me ensinou a dançar o “Vira Geral”; o Henrique Macedo e da Alberta Oliveira da Corredoura que fizeram finca-pé para que o Grupo Folclórico de São Torcato fizesse histórica com a dança contemporâ-nea; a Sandra Martins do Centro Social de Vila Nova de Sande que continua a obra de seu pai; o Manuel Costa, fundador da associação Silvares com Vida; o José Fernandes, o Manuel Ferreira e o Carlos Oliveira da Casa do Povo de Fermentões, os primeiros a trazer a inovação à tradicional Festa do Agricultor; o arqueólogo Gonçalo Cruz que contribuiu para que a Sociedade Martins Sarmento continue a ser uma instituição de investigação e dedicação à arqueologia e à história; o Vasco Marques que abraçou o projeto da Casa do Povo de Briteiros, sem medo do futuro; do Carlos Oliveira que trouxe para Polvoreira inova-ção e modernidade e abraçou o projeto da continuidade da Associação de Folclore e Etnografia de Guimarães; o Sr. Manuel Veloso que leva para a frente, com energia, a Associação de Moradores da Emboladoura; o Paulo Teixeira e o Carlos Xavier do Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos; que agora até
92
já se relacionam com o Joel Costa, a Rosa Ferreira e o Arnaldo Sousa da ARCAP (São João de Ponte); as equipas da CERCIGUI, da ESAP-Guimarães e até a Afonsina a Tun’Obebes!; e o Movimento Artístico das Taipas, uma associação “sem teto” mas que organiza um dos mais notáveis eventos de música de Guimarães; toda a equipa da ACIG que, sendo uma associação de âmbito um pouco diferente, nos abriu as portas desde o primeiro dia; o Alexandre Simões da Casa da Juventude de Guimarães; o Ricardo Araújo, o Tino Flores e o Jorge Cristino que fizeram (e fazem) do Círculo de Arte e Recreio a primeira “casa” de Guimarães; o coletivo de artistas do Laboratório das Artes; o Tiago Simães, músico ligado ao Círculo de Arte e Recreio, à Associação Cultural e Recreativa Convívio e, agora, à Outra Voz; a DEMO, um coletivo de artistas que se sediou em Guimarães e que, tal como eu, por aqui ficou; a Eugénia Oliveira, a Cesarina Oliveira e a Elvira Oliveira que, há vários anos, dão vida ao Teatro de Ensaio Raúl Brandão; à Carmen Simões e ao Armindo Cachada, dinamizadores do ensino da música em Guimarães; o António Leite, clamoroso ator que procurou que Brito
não ficasse à margem desta oportunidade; a Emília Ribeiro e a Alice Xavier dos OsMusiké que provam que a prática artística não tem idade; o Torcato Ribeiro e o Hugo Castro que fazem do CICP, uma associação dinâmica; o Rui Vítor da Muralha e da Assembleia de Guimarães; a Milita Pinheiro e o Luís Almeida, talentos a quem Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura trouxe para a luz; a Isabel Machado, da Associação Cultural e Recreativa Convívio e a Luísa Ribeiro, da Citânia – Associação Juvenil, provas da resistência feminina no movimento associativo.
Pecando, claramente, por defeito, estes são apenas alguns exemplos de homens e mulheres com que Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura fosse um projeto de comunidade, não circunspecto ao centro da cidade, mas aberto às periferias, a todas as freguesias e todas as gentes. Nomeei-os porque com todos, e com cada um deles (não referindo muitos ou a ou a maioria) tive oportunidade de criar laços, de brindar aos afetos.
Mais do que todos os eventos realizados, dos números que servem para contar a história, Guimarães 2012 Capital Europeia
ensaio
93
da Cultura e em particular (permitam-se) o Tempos Cruzados – Programa Associativo foi o mote para a criação de pontes entre as vilas, entre as freguesias, entre as institui-ções da cidade, entre a cidade e as vilas, entre a cidade as periferias; foi o motor da construção da rede; da (re)definição da natureza de vida cultural e artística de um território fundacional. O segredo deste momento excecional que Guimarães viveu foi o de envolver todos, em todos os lugares.
O que fica de quem passa? Em primeiro lugar, fica a vontade de ficar mais um pouco, de permanecer, de criar raízes. Voltando a Miguel Torga: “Crescera por fora e por dentro. Aprendera a objetivar a vida, embora sempre tivera sentido aquele chão como fabuloso e mágico e aonde pudera ser selvagem e natural.” Dizia-me a Luísa Ribeiro um destes dias, no seguimento da apresentação à “rede associativa” da plataforma digital Fábrica das Associações (um espaço virtual com uma dupla ver-tente, ou seja, ao mesmo tempo que será um espaço onde poderá ser consultada a agenda cultural e artística do movimento associativo local, deverá também ser o local de colocação de conteúdos relativos
ao historial das associações, com links para os sites dos vários parceiros): “falta--nos [às associações) alguém que fizesse a ligação entre todos, alguém que, mesmo fora das nossas “casas” nos recebesse e nos fizesse fazer parte”. A Fábrica das Associações e a lógica de trabalho em rede que, a partir dela, se pretende sistematizar é uma das coisas que ficam de quem passa, como eu. A outra é a energia e o entusiasmo de uma forma desprendida de fazer e criar arte e cultura. O que fica de quem passa é a partilha, a troca e a descoberta. O que fica de quem passa é a certeza de dever cum-prido e interrompido porque, quando á massa humana, há sempre mais e mais para fazer. O que fica de quem passa é a saudade.
Guimarães foi o lugar onde aprendemos a resignificar as palavras, os gestos, os olhares. Envolvemo-nos, crescemos e descobrimo-nos por entre as ruas e praças da cidade, partilhamo-nos com as suas gentes. 2012 foi tempo de (re)começo!
entrevista
antónio Cunha, reitor da universidade do minho
94
“a universidade do minho é o Grande
parCeiro para o desenvolvimento
da reGião”
eS
Se
r j
or
ge
Sil
va
95
antes de ser nomeado reitor, antónio
cunha foi presidente da escola de enge-
nharia, um dos cargos mais exigentes da
Universidade do minho e que, em alunos,
praticamente representa o pólo vimara-
nense da Universidade. por isso, conhece
bem os projetos que atualmente dão corpo
a uma nova faceta do ensino superior e que
prometem, praticamente, um novo campus
que vai desde o Bairro de couros até ao tea-
tro Jordão. a realizar-se, o núcleo urbano
de guimarães fica emparedado entre dois
pólos da Universidade do minho.
entrevista de esser JorGe silva
96
Colocou-se sempre a questão de desenvolvimento assimétrico entre os dois pólos da Universidade do Minho (UM). Existe ainda hoje essa assimetria?
Ao longo dos últimos 10 anos o pólo de Guimarães teve um crescimento de 10% e o de Braga 8,9%. A relação entre o número de estudantes mantém-se praticamente constante ao longo dos últimos 15 anos. Por isso tenho alguma dificuldade em aceitar essa questão do desenvolvimento assimétrico. O pólo de Braga sofreu, a partir de 2008/9, imenso com o decréscimo de estudantes associado ao processo de Bolonha, o que não se deu em Guimarães em virtude de aí funcionarem muitos cursos com o mestrado integrado. Estamos agora a compensar em Braga com os cursos pós-laborais mas em Guimarães não houve necessidade disso.
Qual é o número de alunos neste momento?
Temos 13.900 em Braga e de 5.100 em Guimarães. É um rácio que se mantém há mais de 12 anos.
Braga cresce sobre uma base a cami-nho do triplo da base de Guimarães…
Não queria recordar as questões históri-cas, até porque penso que a UM conseguiu resolver bem alguma tensão, que em certos momentos do seu percurso, teve contextos políticos que são sempre condicionadores de uma decisão que devia ser feita por critérios académicos. Do ponto de vista do processo inicial Guimarães deveria ser um polo onde estaria cerca de três quintos (3.º 4.º e 5.º anos) da área de engenharia. Mais tarde, e em vários momentos, tomaram-se sempre opções de dar uma dimensão universitária ao pólo de Guimarães, alargar a sua área de intervenção. Fê-lo com o curso de Arquitetura e está a fazê-lo agora
com o curso ligado às Artes, cujo efeito ainda não se faz sentir. Os cursos de Teatro e de Design começaram apenas este ano.
O pólo de Guimarães da UM demorou anos a conseguir um efetivo envolvi-mento com o tecido socioeconómico vimaranense. A que se deveu essa barreira?
Nunca compreendi ou subscrevi essa ideia. Enquanto responsável por um departamento, por um curso ou por um Centro de Inovação em Engenharia de Polímeros, o PIEP, hoje muito bem-suce-dido com cerca de 40 pessoas e que trouxe a Guimarães imenso desenvolvimento. Quando fui presidente da Escola de Engenharia, fez-se uma conferência na Praça da Oliveira num dia à noite, com a concorrência de um jogo de futebol, em que estavam cerca de 400 pessoas a escutar ciência. Tenho sempre muita dificuldade em aceitar essa ideia da universidade fechada...
Mas a ligação ao tecido empresarial foi sempre muito ténue...
Essa é uma área onde nunca podemos estar contentes. Essa ligação podia ser muito maior. A UM é, a todos os níveis, uma referência nacional nesse tipo de relação. Recentemente a FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) divulgou um diagnóstico ao sistema de investigação e inovação nacional que coloca a UM como a que mais relações com empresas, e cujas entidades de interface, fazem melhor o papel de intermediários entre a produção de conhecimento e o tecido económico--produtivo. Somos a entidade portuguesa que mais patentes produziu e que mais patentes consegue ver usadas na indústria. Todos os indicadores em termos relativos são muito bons, apesar de que podiam ser melhores. Mas esta questão existe por
entrevista
97
várias razões: as nossas comparações internacionais com as universidades alemãs são razoáveis em termos de ranking, não ficamos mal na fotografia. Agora, as empresas daqui e de lá, isso sim, são diferentes. Temos de perceber que o futuro passa por uma ligação inequívoca entre as universidades e as empresas e não serve de nada andarmos à procura de quem está a falhar nesta relação.
Aceita a perspetiva de que Arquitetura, com os alunos espalhados pela cidade desenhando edifícios, deu uma nova faceta à relação da UM com o tecido social vimaranense?
Os estudantes de arquitetura têm uma lógica mais disruptiva e, seja pela sua forma de estar ou modo de participar, sentem-se sempre numa comunidade e por isso são mais visíveis. O processo de Arquitetura não deve ser vista de modo desligada... A Universidade consolidou a sua massa crítica na engenharia onde teve projetos mais visíveis. O crescimento de Guimarães é de um todo. Durante alguns anos houve uma lógica de preço da habita-ção que levava os alunos do pólo de Guimarães a residirem em Braga. Houve uma lógica que tem a ver com um processo de maturação. O Campus atingiu massa crítica, tem agora mais de 5 mil estudantes.
A arquitetura beneficiou de um apoio que não teve Geografia, no caso, tam-bém uma licenciatura que se expressa no “campo”?
Não se pode comparar o enquadramento e a afetação de recursos a um projeto que começou por um curso, mas que em todos os documentos orientadores era um processo de criação de uma unidade orgânica, como era o caso da Arquitetura. O que hoje se está a consumar no apareci-mento de outros cursos, nomeadamente, ligados ao Design ou das Belas artes com um curso que é um projeto em si dentro de uma orgânica. A afetação de mais recursos a Arquitetura explica-se porque estamos a falar de um projeto cujos pressupostos eram totalmente diferentes. Independentemente disso, o modo como os cursos se desenvol-vem tem a ver com os recursos aportados. Tem também a ver com os protagonistas dos diferentes projetos e com o modo, com mais ou menos sucesso, que esses protago-nistas conseguem desenvolver os projetos.
“Universidade sem muros” é o desígnio dado à introdução de novas valências da UM na antiga Zona de Couros. É uma nova Universidade que aí vem? É difícil não contrapor à ideia de uma antiga “universidade com muros”...
A Universidade do Minho é certamente uma instituição sem muros. Quer o espaço de Azurém como de Gualtar tem lógicas próprias, com identidade marcada e são, para todos os efeitos, um espaço universi-tário. Aquilo que é o objetivo de Couros é um espaço onde haja universidade mas onde, propositadamente, queremos que seja atravessada por uma malha social, urbana, empresarial que vive no seu meio, tirando partido de uma área que se presta a essa questão. Se concretizarmos as ideias que temos, o espaço de Couros sairá mais
“somos a entidade portuguesa que mais patentes produziu
e que mais patentes consegue ver usadas na indústria.”
98
sólido. Para além de uma universidade aberta, pretende também ser um Centro de Formação pós Graduada, um espaço de formação ao longo da vida, orientado para cursos e-learning, para pessoas que estão na vida ativa e que farão cursos em final de tarde e durante o fim-de-semana. O edifício está em fase final de acaba-mento. A Universidade é também aberta e sem muros porque também é para outros públicos e não só para públicos tradicio-nais, geralmente os indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.
Pode-se então entender uma atenção da UM orientada para cursos que apelam à criatividade…
Claramente. Vamos ter o Design, o Teatro, o mestrado em Design dentro de pouco tempo e queremos ter as Belas Artes entre o Teatro Jordão e o Centro de Formação pós-graduada.
E a licenciatura em Música? A UM iniciou há dez anos um projeto
de oferta formativa nos estudos artísticos delineado em três eixos: Música, Teatro e Belas Artes. Dois desses eixos funcionarão em Guimarães e a Música funcionará em Braga.
A estratégia dos cursos em artes performativas segue também a reorientação da cidade e o seu tecido económico para um território da criatividade?
O pólo de Couros tem várias virtudes: recuperar uma zona urbana degradada, ser um projeto arquitetónico muito bem conseguido, ter lá dois projetos ao nível de formação de base. Mas, tem sobretudo a virtude de ter sido, desde o princípio, um projeto pensado de modo articulado e integrado entre a autarquia e a universi-dade. Há uma prática comum em alguns
locais que consiste numa autarquia recuperar um espaço e depois propor à universidade que encontre utilidade para aquele espaço. Couros foi pensado, desde o princípio, de forma articulada entre a autarquia e a universidade. Os primeiros slides do projeto são de há oito anos atrás. Pretende-se, com base numa lógica de promoção dum espaço indutor de criativi-dade, arranjar uma nova lógica de desen-volvimento para uma parte da cidade e genericamente para a cidade. Falta ainda consolidar muita coisa, mas Couros é hoje uma realidade…
Fruto da crise que grassa há um olhar para a Universidade como uma salva-dora. Tem presente esta noção?
A Universidade atingiu uma grande centralidade que se deve a dois fatores. Por um lado, cresceu em importância, visibili-dade e ganhou reconhecimento e, por outro lado, existiam outras instituições, players e atores que foram perdendo força ou desaparecendo. Por razões positivas ou negativas, a concentração de atenções na UM é atualmente muito grande. Hoje somos olhados pela região como alguém de quem se espera contribuições fortes...
E a UM está preparada para esse novo paradigma?
Tem, desde logo, uma resposta muito importante que é formar boas pessoas, bons profissionais e bons cidadãos com formação adequada para esses desafios. O empreendedorismo e as empresas incubadas, maioritariamente de Guimarães, já envolve números próximo das 500 pessoas e começam a dar os seus resultados. Recentemente estive em Guimarães com uma grande empresa internacional que está a considerar a sua fixação no centro desenvolvimento no Campus. A UM tende, cada vez mais, a tornar-se um parceiro mais ativo
entrevista
99
e comprometido com o desenvolvimento regional. Começa a ter condições para o fazer mas também em algumas áreas e em alguns aspetos não há mais ninguém que o faça. Todo este posicionamento está muito claro no nosso plano estratégico para 2020.
E o que é preciso fazer para tornar o Avepark mais atrativo?
O Avepark é um centro com boas condi-ções infraestruturais, está bem pensado para fixação de atividade industrial. Cresceu fundamentalmente à custa de infraestruturas da universidade seja o Laboratório Europeu de Engenharia de Tecidos Humanos em Medicina Regenerativa, seja o conjunto de empresas da Spinpark que lá estão. Encontramos lá hoje umas 200 a 300 pessoas por dia a trabalhar. A sua atratividade é comprome-tida pela sua ligação aos eixos viários principais, nomeadamente autoestrada. Estou certo que num futuro próximo, com alguma retoma da atividade económica, as condições de atratividade do Avepark, nomeadamente a sua ligação à Universidade, ajudarão ao seu sucesso.
Perspetivam-se grandes transforma-ções ao nível da gestão universitária. Mantém a sua inclinação para a solução fundacional?
A Universidade do Minho está à espera de uma alteração do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES) prometido pelo governo para as próximas semanas. Enquanto eu for responsável tenderei sempre para soluções que garan-tam maior autonomia à universidade. Sou um intrínseco defensor da universi-dade pública, nomeadamente como é o caso da UM, completa, abraçando, de modo geral, um conjunto muito alargado de áreas do conhecimento. Isso significa acolher as lógicas de transparência e prestação de contas que deve nortear a administra-ção pública. Mas as universidades, seja em Portugal, na Europa ou no Mundo, estão numa concorrência feroz com outras instituições. É uma concorrência por alunos, por bons professores, por fundos para implementarem os seus projetos, por projetos que deem visibilidade e centralidade, essenciais para a universi-dade cumprir a sua missão. Fazer isso significa ter autonomia de gestão, tanto dos fundos que o Estado coloca à sua disposição como dos fundos que consegue captar. Há grandes desafios da globaliza-ção que, no meu entender, obrigam a encontrar marcas de identidade. Se a UM quer ser conhecida no mundo, tem que encontrar fatores de diferenciação e só o pode fazer se tiver autonomia. Se estiver-mos padronizados a regras gerais acaba-mos por ser iguais aos outros. Quando era possível escolher o modelo fundacional eu não tinha dúvidas que tal seria bom para a UM. Da alteração que está para ser feita ao RJIES dizem que apenas se vai mudar a palavra “fundacional” para “autonomia reforçada”. Pronunciar-nos-emos quando o modelo de governação for conhecido.
“a Um tende cada vez mais tornar-se um parceiro mais ativo
e comprometido com o desenvolvimento regional.”
100
antónio maGalhães, presidente da Câmara munCipal de Guimarães
“os vimaranenses quiseram-me aqui”
pa
ulo
pa
ch
ec
o
entrevista
101
antónio magalhães foi um dos mais longos
presidentes da câmara de guimarães.
durante os seus seis mandados autárqui-
cos viveu as experiências da classificação
do centro Histórico como património mun-
dial pela Unesco em 2001 e de ver guima-
rães transformada na capital europeia da
cultura em 2012. a limitação de mandatos
autárquicos interrompeu o seu percurso.
entrevista de esser JorGe silva
102
Em dezembro de 1970 teve lugar, em frente à Câmara, uma manifestação de aproximadamente 20 mil pessoas. Criticava-se a dificuldade de um presidente de Câmara conseguir ir além dos dois primeiros anos de exercício. O senhor é a pessoa que cumpre essa reivindicação da altura.
Vim viver para Guimarães em 1954, mas em 1970 ainda estava em Angola a termi-nar a minha comissão militar. Cheguei no período do Natal desse ano e entrei em férias. Não me lembro dessa manifestação. Conheço porém esse pensamento que apontava para o imobilismo de Guimarães nessa época em contraponto com outros períodos da história local. Havia uma certa conflitualidade e considerava-se que o poder central desconcentrado beneficiava Braga. Sem mandatos com dimensão temporal que permitam definir e concreti-zar uma estratégia, sem um poder forte a liderar, que atenda aos legítimos grupos de interesses sem se dominar por eles, sem objetivos e soluções para os proble-mas, sem um projeto de desenvolvimento, não é possível ser bem-sucedido. Não acompanhei essa experiência mas conheço bem os anos 80, onde houve semelhanças. Quer ganhando o PS ou o PSD em minoria, Guimarães parou no tempo e não aprovei-tou os primeiros anos do poder local democrático. Os interventores políticos desses anos, onde me incluo, não corres-ponderam às necessidades das populações. Em relação a outras Câmaras vizinhas, perdemos quinze anos e só fomos capazes de começar a concretizar uma estratégia de desenvolvimento quando passamos a ter um poder maioritário em 1990. Coube-me a mim liderar essa nova fase, tive essa sorte.
Passaram-se vinte e quatro anos desde que acedeu à presidência. Que significado atribui ao facto de ser a pessoa que, nos últimos cem anos, mais tempo esteve à frente da Câmara de Guimarães?
Não gosto de falar dos meus predicados ou defeitos. Não enfatizo as vitórias, incomodam-me as derrotas. Mas tenho resistência psicológica para as enfrentar com naturalidade. Antes de chegar aqui, tive uma educação ligada a entidades que impunham grande disciplina, exigência e rigor. Porventura um rigor não facilmente aceite por aqueles que têm da democracia um conceito de uma abertura sem limites. Nos meus primeiros mandatos, fui acusado algumas vezes de ditador. Mas o que sustentava a minha metodologia de trabalho e a minha determinação era um percurso muito marcado por uma disci-plina de organização, sem a qual nada funciona bem ou funciona mal. A minha escola de intervenção política foi a Assembleia da República. Eu não tinha consciência, como não tinham muitos dos meus colegas deputados, quando lá chegamos, do que era um parlamento,
“nos meus primeiros mandatos, fui acusado algumas vezes de ditador. mas o que sustentava
a minha metodologia de trabalho e a minha determinação era
um percurso muito marcado por uma disciplina de organização,
sem a qual nada funciona bem ou funciona mal.”
entrevista
103
de como funcionava. Foi uma escola superior. Eu tinha condimentos como atuar, como estar na vida, conhecia a exigência, o rigor, a disciplina, o conflito, mas a Assembleia da República marcou-me profundamente quanto à forma como atuar no jogo político.
Como veio parar à política?Antes do 25 de Abril, era professor na
Escola Preparatória João de Meira, e no período imediatamente a seguir ao 25 de Abril houve uma luta tremenda entre a direita que liderava a escola e a esquerda que queria assumir o poder. Fiquei a ver o que as coisas davam. Sabia como tinha sido conduzida a escola antes, não sabia muito bem como seria depois. Fui delegado sindical um ano, não gostei muito, e saí. Esperei até 1976 para me inscrever no PS. O Dr. Mota Prego, que foi deputado na Constituinte, entendeu que não devia continuar porque optou por ser advogado na praça. Na escolha da lista de deputados seguinte, foi entendido, segundo os meus pares, que eu estaria preparado para tal apesar de, quando fui para a Assembleia, ir a zero. Fui eu e um operário da Alfa, o Oliveira Rodrigues. A Assembleia foi aumentando a sua exigência e, quem não tinha formação académica tinha maiores dificuldades, passou a ser mais para teóricos que para os práticos e, ao fim de um ou dois mandatos, o Oliveira Rodrigues deixou de ser deputado e eu mantive-me.
No seu percurso anterior, nunca tinha encontrado a política?
Nunca. A única coisa foi, com 17 ou 18 anos, escrever uma carta a Salazar. Estava aqui em Guimarães, a trabalhar no Colégio Egas Moniz, e nas férias, que eram genero-sas quer no ensino público quer no privado, eu voltava às origens. Um dia vi a freguesia próxima, já em Trás-os-Montes, iluminada.
Escrevi uma carta a Salazar a perguntar, com a maior ingenuidade, por que tinha luz uma margem do rio e a outra não. Pouco tempo depois apareceram dois guardas da GNR a perguntar quem era o fulano de tal. Era eu, um rapaz.
Houve consequências?Terá sido arquivado o processo. Ao meu
lado, moravam duas pessoas com quem apreendi alguma coisa da política. Um era primo do Joaquim Cosme, e antes tinha lá morado o pai que tinha fugido da PIDE, e havia um outro senhor que tinha estado preso em Peniche e que só falava de política com enorme preocupação e temor. Permitiam-me perceber alguma coisa com as conversas de café. Em Guimarães, estive primeiro dois anos no Seminário da Costa, e depois vim cair no Colégio Egas Moniz, onde trabalhava sete dias por semana, tinha um vencimento reduzido mas com alimentação, e era-me permitido estudar à noite. Os diretores eram pessoas ligadas ao regime político da época, mas começa-ram a confiar em mim e fui subindo de categoria ao ponto de, quando entrei na vida militar, já ser o responsável pelo Colégio no seu funcionamento não letivo. Incentivaram-me a estudar e eu frequentei a Escola Francisco de Holanda o que permitiu que me apresentasse como maior de idade aos exames no liceu e ter entrado para a universidade. Gostaria de ter seguido direito, mas implicava frequentar as aulas, pelo que acabei por me licenciar em História, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Fui professor e, já depois de ser deputado, saí da Assembleia um ano, para fazer o estágio profissional em Barcelos, o que me custou imenso porque já estava desfasado da realidade do ensino. Finalizado este, voltei para a Assembleia.
104
Atribui importância às solidarieda-des dessa época…
Atribuo porque havia relações de conhecimento social que nunca teria tido sem esses apoios. Por exemplo, ter um passaporte, antes do 25 de Abril, era muito difícil, e tive esse passaporte porque um dos professores do Colégio Egas Moniz era o ex-Diretor do Paço dos Duques, o Dr. Almeida Coelho, que me arranjou o passaporte. Quando cheguei em 1970 a Portugal, depois de quatro anos de vida militar, eu propunha aos meus amigos que fossemos viajar pela Europa, e todos tinham medo de sair porque não tinham passaporte, para além do receio.
E foi viajar?Fui vários anos sozinho e desenrascava-
-me como podia. Ou trabalhando ou ficando em casa de emigrantes. Isso deu-me uma visão da Europa que desco-nhecia. Tinha estado também em vários pontos de África, convivido com gentes de vários quadrantes, mas quando regressei percebi que as pessoas estavam confinadas a uma realidade que não queriam romper. Quem tinha vivido em Angola com grandes dificuldades, quem tinha tido a vida militar como eu, não tinha nada mais a temer. Se não tinha dinheiro, arranjava. O que era preciso era sair deste marasmo. Foi com estado de espírito que atravessei os anos entre 1970 e 1975. Estava na Grécia, quando caíram os coronéis. Foi em Bordéus que vi jogar petanca pela primeira vez. Havia diferenças na maneira de viver das pessoas em relação a Portugal. Há concei-tos de vida em Guimarães que ainda sofrem de um retardamento social e cívico que nada justifica.
Mantém ainda esse espírito de aventura?
Eu arrisco. Fui preparado para arriscar e não para recuar. Pode ser genético, mas penso que foi a escola que vivi, sobretudo na guerra colonial, que tal me transmitiu.
Atribui muita importância à rigidez e à vida militar, como se lhe tivesse traçado a personalidade …
Foi uma escola. A vivência num colégio interno não permitia sequer que fosse amigo dos alunos. O Dr. José de Freitas, um dos diretores, dizia que, se fosse amigo dos alunos, era mau funcionário. Mantinha relações, mas vivia próximo de um gueto. Não tinha margem de manobra, só nas férias. Quando é que comecei a ter contacto com o banal da época na sociedade? Quando fui para a Escola Francisco de Holanda para os cursos noturnos. Era uma escola de segunda, diziam, onde estuda-vam os trabalhadores com empregos durante o dia. Não sou Nicolino de origem. Esse estatuto estava reservado aos estu-dantes do liceu. À entrada para a vida militar, já ia preparado. Ao contrário da vida militar em Portugal, o curso de comandos em Angola, onde estive dois anos, marcou-me profundamente. Era de grande exigência e rigor… Ou tínhamos capacidade para nos defender ou ficávamos por lá, éramos obrigados a arriscar muito. Implicava uma disciplina fora de vulgar. Tínhamos que nos controlar a todos os níveis. Essa disciplina foi profundamente marcante.
Tem, como diz, um grande domínio de si. Ganhou-o desde os tempos do Colégio Egas Moniz?
No Egas Moniz tinha 80 a 90 alunos internos, alguns mais velhos que eu, difíceis de aturar. Tinha que fazer a gestão das noites e das manhãs, embora durante o
entrevista
105
dia fosse mais fácil porque era o período das aulas. Foi complicado, tive que mostrar atributos para confiarem em mim. Quando saí, o Colégio sabia que eu tinha a con-fiança total dos diretores e trabalhava em consonância com eles. Hoje não me consigo libertar dessa exigência e rigor. Também tem a ver com a vida mais difícil nas origens. Mas, mesmo quando passei a ter mais recursos e meios, impunha-me uma gestão apertada. Não fiz férias o ano passado. Este ano vamos fazer, se Deus quiser.
Fala do rigor, exigência e disciplina como traços da orientação e praxis. Essas caraterísticas estavam também presentes na AR?
Estávamos num período de transição de um regime autoritário para um regime democrático e aberto, vivi tempos de conflitualidade. Mas foi uma escola de debate político, uma escola que eu não tinha a nenhum título. Defendia-me bem, mas não tinha a ousadia de me meter com as “feras”, porque esses tinham escola, passado político, tinham estado presos pela PIDE, tinham estatutos que eu não tinha. Fiz uma aprendizagem cuidadosa, trabalhada, rigorosa ao meu nível. Procurei apreender tudo. Não faltava às sessões, não fugia a qualquer tarefa, participava com assiduidade nos trabalhos das comissões. Seguia os ensinamentos da outra vida anterior que nada tinha tido a ver com política. Tal permitiu-me ser respeitado por todos os grupos parlamentares, embora tivesse sido um deputado sem notoriedade.
Quem eram os grupos nos quais mais se revia?
Entre os deputados do meu partido, era dos que tinha melhores relações com o PSD. Porque nesse grupo havia dois deputados de Guimarães que eram,
e são, meus amigos, o professor Lemos Damião e o Fernando Roriz. E, mais tarde, o Dr. Fernando Conceição. Convivia com eles, fazia viagens com eles, almoçava de vez em quando. No seio do PS, compreendi o jogo político, as diferentes opções internas, e integrei o grupo que se reunia no “sótão do Guterres”, durante anos. Acabei por ter com o António Guterres, político que sempre muito admirei, um pequeno amuo, quando ele se candidatou à liderança do partido contra o Dr. Jorge Sampaio. Eu sabia que este podia não ganhar essa disputa interna, mas conside-rava que não devia mudar o meu apoio anterior. Disse ao Guterres: “ Aceito que queiras ser Secretário – Geral do Partido, acolheste-me no teu grupo, foi uma grande escola de gente fantástica que correspon-dia a um pensamento político e conheci-mentos que eu não tinha, mas quero ser fiel aos compromissos que tenho com o Dr. Sampaio”. Tivemos então esse pequeno amuo, que só resolvemos numa viagem que fizemos ao Douro, já ele como primeiro--ministro. Ele puxou-me para a cobertura do barco e eu expliquei-lhe a minha atitude e ele compreendeu. O que me ficou desses tempos foi a preparação, uma grande aprendizagem política que me permite ter hoje capacidades que me ajudam muito no debate político.
Falou nos grupos de António Guterres, próximo da igreja católica, e de Jorge Sampaio, vindo do MES (Movimento da Esquerda Socialista). Como é que concebeu o seu pensa-mento político para seguir à esquerda?
Isso para nós não era muito importante. A minha opção foi de outra ordem. Não havia nenhuma razão, no meu enten-dimento, para que Jorge Sampaio não continuasse a ser o líder do partido a nível nacional.
108
A seguir a uma derrota nas legislati-vas de 1991 com Cavaco Silva…
Exato. Mas reconhecia já nessa altura os valores excecionais que ainda hoje toda a gente reconhece ao Dr. Jorge Sampaio. Não foi só pela maneira como ele, de certo modo, me apoiou na Assembleia da República…
Como ocorreu essa ligação a Jorge Sampaio?
Quando deixei a Assembleia da República para vir presidir à Câmara, em 1990, integrava a direção do grupo parla-mentar do PS na Assembleia liderado por ele. No momento do convite, disse-lhe: “O senhor, porventura, terá gente mais qualificada para a direção”. E ele respon-deu: “Não, mas ficas aqui, porque represen-tas uma área do país e um setor de intervenção específico e precisamos de uma pessoa com essas caraterísticas”. E fiquei. Até vir para aqui…
Para ser candidato nas autárquicas de 1989…
Nessa eleição, na verdade, eu não queria ser candidato à Câmara. A reunião política, que tal determinou, foi muito demorada, muito complicada, decorreu num restau-rante das Caldas das Taipas, e demorou praticamente um dia para as pessoas me convencerem. Estava habituado a um estilo de vida, onde me inseria bem, e sendo Vereador tinha a noção clara das dificuldades que era preciso enfrentar para por a Câmara a funcionar, porque ela realmente não funcionava. Não tinha funcionado nem com A nem com B. A minha sorte foi ter maioria absoluta, porque, de contrário, tinha continuado a não funcionar. E foi também a sorte de Guimarães, na minha perspetiva.
Antes, teve a derrota de 1985 por 52 votos…
Nessa eleição, houve uma intervenção do Vitória que teve influência. Na semana imediatamente anterior à eleição, apareceu um panfleto com o apoio do Presidente do Vitória a António Xavier e um ataque cerrado contra mim. O Presidente do Vitória chocava comigo enquanto Vereador. Eu tinha defendido a Câmara de alguns excessos das investidas do Vitória, que uma Câmara não pode permitir. Já o tinha feito, no mandato anterior a esse, mesmo na oposição, quando o António Xavier tinha sido Presidente. Fui sempre coerente, no mandato seguinte mantive a mesma postura, o Vitória é uma grande instituição de Guimarães, tem de merecer o maior apoio municipal, mas não pode querer mandar na Câmara. Mas, na altura, esse ataque cerrado contra mim pesou…
Considera essa intervenção do Vitória decisiva?
Foi importante. Mas o mandato anterior, da presidência do Manuel Ferreira, tinha sido muito difícil. Não tínhamos dinheiro e já havia uma pressão imensa sobre as autarquias. A Câmara era de minoria, éramos muito poucos para todos os pelouros. Custou-me imenso, estando eu numa idade cheia de vida. Íamos a todas. Tanta influência como essa história do Vitória, teve a obra fantástica da canaliza-ção da ribeira de Santa Luzia. Não fomos capazes de concluir a obra, e perdemos também as eleições por termos uma vala aberta na Avenida Conde de Margaride, a entrada principal da cidade. Voltei para a Assembleia e voltei a ser Vereador simultaneamente.
entrevista
109
Essa derrota teve algum efeito na abordagem estratégica nas eleições seguintes para a Câmara?
Eu não contava com a derrota. Todos os dados apontavam para a nossa vitória. Estava impreparado para perder e custou--me imenso a derrota. Foi uma vitória de ocasião para o PSD, ocorreu em resultado de uma cilada, na Assembleia Municipal tivemos mais mil e tal votos, e geralmente as votações no PS para a Câmara eram superiores às da Assembleia. Mas conti-nuei, e comecei a perceber melhor o que era necessário fazer quando a Câmara me caísse em sorte por vontade do eleitorado.
O que mudou, ou alterou para chegar à vitória?
Percorri todas as freguesias, todo o concelho. Quando ganhámos em 1989, só mais tarde me disseram que a vitória tinha sido por maioria absoluta. Reconheço que, na altura, não dei importância, mas poucos dias depois percebi claramente, como podia ser diferente funcionar com maioria absoluta. Uma Câmara como esta, da forma como estão organizados os grupos de interesses, se não tiver uma mão
forte que trace um caminho, não funciona. É preciso ponderar, analisar, conversar previamente, mas depois decidir e não vacilar. As pessoas estão sempre propensas a tratar de si, perdoam tudo a todos, mas o presidente da Câmara não pode falhar!
Sentiu isso muitas vezes?Nunca tive as boas graças da imprensa.
Pegaram em situações que numa democra-cia madura não sucedem. Fui objeto de discriminação, “não era de Guimarães”, não tinha cá família. Mas tinha. Os meus ancestrais paternos e maternos são de Guimarães e conhecidos de muitos. Mas não provenho de uma família com pedi-gree, com estatuto social. E foi isso que levou aqueles que, em todo o século passado lideraram a gestão dos interesses de Guimarães, a não ver com bons olhos um indivíduo, sem estatuto social, a ocupar um lugar que sempre consideraram destinado a eles, mesmo sabendo que a origem dos meus familiares provinha do Centro Histórico, da Rua Alfredo Pimenta, de Fermentões… Mas como não tinha estatuto social, para alcançarem mais votos para o meu adversário da altura, diziam: “ele não é de Guimarães”.
O estatuto social era um valor importante para aceder a um lugar de presidente da câmara
Aparentemente, hoje começa a ser de novo… A pessoa com estatuto social que, na época, me considerou com qualidades para ser o candidato do PS à Câmara foi o José Albino Costa e Silva. Disse-me: “você é pouco conhecido e vai ter que ir comigo a muitos sítios onde nunca foi”. E, como sempre sucede, havia um grupo de traba-lho que preparava essas coisas. Eu não conhecia a teoria, só tinha a prática. Um dia fomos almoçar ao restaurante Jordão, onde nunca tinha ido, e há um grupo com
“em 1989, só mais tarde me disseram que a vitória tinha sido por maioria absoluta. na altura,
não dei importância, mas poucos dias depois percebi claramente,
como podia ser diferente funcionar com maioria absoluta.”
110
pessoas muito conhecidas sentadas numa mesa próxima. Ouvi-os perguntar: “Quem é este tipo? É da igreja? É religioso? É não sei o quê?” Durante meia hora, ouvimos abordar vários problemas. Fez-me perceber com quem tinha de me defrontar. Foi o povo que quis que eu chegasse até aqui. Se houve alguém do povo a governar Guimarães, fomos nós os primeiros. Quer como Vereador, quer depois na presidência, a partir de 1990, traçamos uma estratégia, com fragilidades, mas pautada por objeti-vos organizados num plano. Ao fim do primeiro ano e meio, numa reunião com as Juntas de Freguesia e o grupo parlamentar do PS, numa escola de S. Lourenço de Selho, houve uma espécie de rebelião interna, onde alguns jovens me acusaram: “o senhor não sabe governar, não está a fazer nada”. E porquê? Não havia dinheiro, as necessidades e pretensões eram muitas, era um massacre permanente.
Passaram seis mandatos. Qual foi a maioria absoluta mais difícil?
O mandato mais difícil foi o último, pela dimensão dos projetos da CEC 2012, mas também por ser o último e não ter experi-ência do passado de uma morte política anunciada. Se soubesse o que sei hoje, não teria dado uma entrevista ao “Comércio de Guimarães” quando se colocava a questão se ia embora só em Setembro, no final do mandato, ou antes do fim para dar lastro ao meu sucessor. Nessa entrevista, com-prometi-me a ficar até ao fim e estou a cumprir, mas não deixei de dar lastro ao sucessor. Praticamente não tenho poderes, deleguei-os todos, e a larga maioria ao Dr. Domingos Bragança. Se soubesse o que sei hoje, não ficaria até ao fim, teria saído no final do ano passado. Se não acabei o meu projeto, já não tenho capacidade para lhe dar gás. Cada vez me sinto mais distante de fazer alguma coisa com visão futura.
Sou a favor das limitação de mandatos, mas aconselho os meus pares que ainda vão ter o seu último mandato, a não ficarem até ao fim.
Pensei que ia referir Vizela…Sim, Vizela foi duro, terrível, complicado,
já o disse, várias vezes. Aqui e na Assembleia da República vivi Vizela duas vezes como autarca e como deputado. Ainda hoje o Dr. Jorge Sampaio se lembra dos isqueiros e as moedas lançadas do público quando eu votava sozinho contra Vizela. Nada tenho contra Vizela, mas a verdade é que sentia o que queria defender. Era Vereador da Câmara, morava aqui, sabia o sentimento dos vimaranenses, também compreendia os conceitos autonó-micos de Vizela que já tinham muito tempo. Mas, hoje temos com Vizela uma relação estreita, localizada nos interesses comuns, e cooperamos imenso no início para que tudo funcionasse bem.
É como se fosse um período de luto?É um período de luto e de inatividade
imposta. Por exemplo, se queremos fazer uma coisa e tal não agradar ao candidato que vem, ficamos com duas hipóteses: ou tiramos o tapete ao candidato ou auto censuramos a nossa ideia. Fiz esta gestão com algum cuidado, está tudo a funcionar mais ou menos bem, mas está a ser uma
entrevista
“Vizela foi duro, terrível, complicado,
já o disse, várias vezes”
111
experiência nova com que não contava. Ponderei renunciar a 31 de Dezembro de 2012, porque é penoso as pessoas percebe-rem que já não devem contratualizar comigo. Apenas não abdiquei dos assuntos sociais, ligados às dificuldades de tantas pessoas, porque gosto de ser útil. Tudo o mais já gira à volta do Dr. Bragança. É com algum desgosto que agora reconheço que não deveria ter ficado até ao fim. Participei também na definição da sucessão com todo o cuidado. Disse aos meus pares que, se alguém tinha legítimas aspirações para ser candidato à presidência, não era em cima da hora, era no início deste último man-dato que devia disputar a liderança da concelhia. Houve um que admitiu essa possibilidade, mas percebeu que não teria hipóteses e partiu para outra.
Retirou-se para os bastidores, entregando o palco…
No início do mandato não se notou mas tudo foi logo previsto. Não foi por acaso que as áreas de influência fundamentais da Câmara estão com quem estão. O Vereador Amadeu Portilha tem imensas responsabi-lidades, a Dra. Francisca Abreu teve um papel excecional em 2012. A complicação que é o pelouro do Dr. César Machado, pelas mesquinhas conflitualidades que lhe aparecem. Tudo implicou um equilíbrio de interesses e de poderes que foi acautelado. Sou um cidadão de Guimarães e vou viver no futuro como um cidadão que se preza de vivenciar, aplaudir, criticar… Ao contrário do que muitos pensam, decido sempre depois de muito bem aconselhado. Neste momento de transição, teria de gerir bem alguma conflitualidade, e sinto-me bem com o resultado obtido ao contrário de sucessões em outros concelhos como bem sabemos.
Mas, apesar de achar que tudo está a correr bem, se voltasse atrás tinha feito de outra forma…
Não. Já estava decidido por unanimidade o próximo candidato. Onde pode haver, porventura, alguma conflitualidade silenciosa é na hora de apresentar a lista, julgo eu, porque há pretensões legítimas de muita gente. Uma coisa que sei: há figuras importantes do poder autárquico que não souberam gerir os interesses do seu partido, como nós estamos a fazer aqui. Quando tal não sucede, o adversário aproveita-se das dissonâncias entre as partes. A população gosta de alguém que decida. Considero que consegui gerir essa hierarquia e as coisas estão bem. Mas saber que se sai em Outubro, saber que a morte anunciada da liderança tem data, é fatal para qualquer um. Só não o sente, quem não tiver sensibilidade.
Como é a vida de um autarca a prazo?Noto especialmente nas relações com os
cidadãos. Aqueles que estão com o dedo no gatilho aparecem, e é desagradável porque nos sentem fragilizados. Não se trata de fragilidade, mas esses cidadãos percebem o carácter emocional e psicológico do autarca. Deixo o trabalho a quem o partido designou para candidato. A sua postura tem que respeitar os poderes que lhe foram confiados e encontrar as soluções que vão ser continuadas para lá de Outubro. O ideal é esta transição suave, do agrado geral. A bagunça de outros municípios só prejudica os cidadãos.
113
“a afirmação de guimarães como cidade da cultura, do património, das indústrias criativas
exige um funcionamento em rede com um programa cultural de modo a continuar 2012.”
114
O senhor é manifestamente execu-tivo, gosta das coisas que resultam na prática. Como é perspetiva o futuro para si?
Não sei o que vou fazer. Tenho uma maneira de estar nas coisas que é de entrega total. Se me perguntar coisas pessoais, da minha casa, eu não sei responder. Dir-me-á: “os anos vão pesar”. Mas sou muito cuidadoso com a minha vida pessoal, com a alimentação, não exagero na comida nem na bebida. Sou rigoroso nisso como sou nas outras coisas. Não vai ser fácil preencher o meu futuro e vou ter aqui um período difícil. Estou a preparar-me mentalmente. Estou disponí-vel para cooperar em algo que me dê conforto e seja considerado útil por terceiros. Tenho a ideia de poder assumir uma responsabilidade ligada às questões sociais que estiveram sempre comigo na Câmara. As minhas origens humildes marcaram-me e gostava de ficar em algo que tivesse essa função.
Vai escrever as suas memórias?Daqui levarei apenas os livros oferecidos
que estão assinados, não levarei mais nada. Tudo o resto ficará para o arquivo e biblioteca. Gostaria de ter um livro de memórias, mas o pouco que recordo são os
momentos marcantes. Os episódios são tantos, a certa altura, que ocorre uma seleção natural. Tenho de ter uma mnemó-nica para poder dizer que 19 de Março é o dia do Pai, no dia 20 é o meu filho e dia 21 é a minha mulher. Não sei a matrícula do carro com que ando há dois anos. Sei o telefone da minha mulher, mas do meu filho já não sei. Nem do meu irmão. Fixei apenas aquilo por que passei, da vida militar tenho coisas muito marcantes, muitas chatices, muitos problemas que mexeram com o meu ego, mas não guardei nada. Tenho pena disso.
Quem foi o seu adversário mais difícil?
Fiquei com estima por muitos. Os piores foram os que tentaram judicializar a política e não foram leais. Estou conven-cido que todos reconhecem que fizemos um trabalho de excelência. O Rui Vítor Costa é uma pessoa por quem tenho muita estima. O Dr. Alves Pinto já antes era meu amigo de peito, foi meu colega e jogámos numa equipa que representava a Escola Francisco de Holanda. Eu jogava menos bem, era mais agressivo, ele era muito hábil, embora não aguentasse grandes esforços, percebia-se pela sua fisionomia, e não jogava o tempo todo. O António Xavier, de quem fui Vereador, colabora hoje connosco. É Vice-Presidente da “Oficina” e Presidente da Assembleia Geral da “Fraterna”. Ainda, há dias, me mandou uma carta a convidar para o aniversário do Lar de S. António com uma nota pessoal. E faço uma confidência: ao contrário do que pareceu, durante muito tempo, o Dr. Fernando Alberto, em situa-ções excecionais, quando ele tinha um poder excecional, sempre teve uma palavra cuidadosa comigo. É a verdade e ele não o negará.
entrevista
“não vai ser fácil preencher o meu futuro e vou ter aqui um
período difícil. estou a preparar-me mentalmente.”
115
É um bairrista…Um bairrista que critiquei muitas vezes
por ser demasiado bairrista.
Sente o bairrismo de Guimarães?Claro que sim. Estou contaminado.
Mas não de forma exacerbada e pacóvia, ultrapassada no tempo, que luta por se trocar o Mercado Municipal de sítio. Transformámos uma aldeia grande numa cidade pequena com qualidade. O único grupo parlamentar, depois da lei o permi-tir, que teve um deputado municipal que não era português, foi o PS por minha iniciativa. Conheço os que resistem ao cosmopolitismo que defendo, mas as experiências que vivi permitiram-me perceber que não há nenhum espaço urbano com preponderância sobre os outros. Se Guimarães tinha uma valia material excecional, mas sobretudo imaterial, tinha que aproveitá-las. Fui contra a vontade de alguns que queriam que o nosso projeto fosse igual ao de Braga. Toda a gente perorava contra nós, por causa de não abrirmos a porta à moda da época sobretudo nos espaços que tinham uma dignidade e história que exigiam cuidados excecionais. O meu curso de História ajudou à minha sensibilização para esses espaços e para a sua dimensão apelativa.
Quando chegou à presidência, Guimarães era um concelho industrial já em decadência. Hoje a cidade tem um discurso assente na ideia da criativi-dade. Houve um plano para isso?
Essa consciência, começamos a tê-la, quando nós, em representação da AMAVE, integramos a ACTE – Associação das Coletividades Têxteis da Europa, cujo epicentro europeu era Guimarães. Tivemos nesse processo um grande apoio do Eng. João Cravinho. Presidi a essa associação e
percebi o que ia acontecer à têxtil. O que ouvimos nos anos 1990 e início de 2000 veio a confirmar-se por inteiro. Estive numa reunião magna, em Barcelona, com cerca de duas mil pessoas, onde todos batiam na China. Foi um momento de viragem, fiquei a perceber que a têxtil não continuaria como até ali. Coincidiu com uma alteração profunda da Organização Mundial do Comércio. Nos anos 90, tínhamos catorze mil pessoas a trabalhar na agricultura e, com a evolução da indústria e construção civil, as pessoas migraram para essas atividades e comple-mentavam com a agricultura. Hoje temos menos de mil pessoas na agricultura. Levamos uma pancada com o crescimento do desemprego por causa das micro e pequenas empresas que forneciam o país inteiro, mas que deixaram de ser competi-tivas quando apareceram os produtos chineses. Estive em vários fóruns e percebi que não podíamos ir por aí.
Os empresários acompanharam esse trabalho?
Acompanharam mal. Os empresários nunca acreditam na visão do poder político autárquico. Acreditam mais neles. É uma dificuldade nossa, trabalhar em grupo. Inicialmente, não houve grande preocupa-ção com a saída de pessoas da indústria, porque a construção absorveu-as. O problema foi quando a bolha imobiliária
“os empresários nunca acreditam na visão do
poder político autárquico. acreditam mais neles.”
116
em Espanha rebentou. O modelo não funcionava. Tínhamos de trabalhar a reabilitação urbana, ligar as componentes material e imaterial, acompanhar com atividades lúdicas e algumas apostas. Apostamos em quem sabia dos temas. O Jazz, hoje, é uma bandeira nossa, que teve a minha aceitação, mas só isso. Eu percebia pouco do tema e arranjei quem o programasse. Na reabilitação urbana, também chamamos os melhores. A reabilitação complementada com a componente cultural deu uma nova atratividade à cidade e cortou com o paradigma anterior que estava esgotado.
Consegue identificar a origem dessa ideia de Guimarães, cidade da cultura?
Consigo. Tem muito o dedo da Dra. Francisca Abreu e de algumas vivências que fui conhecendo nas minhas saídas para o exterior que me permitiram conhe-cer e estudar como funcionavam outras cidades. Vi experiências, por vezes apenas algumas intervenções no mobiliário urbano, em locais com outra dimensão, e que aqui foram adaptadas. A importância da higiene e limpeza de uma cidade, uma mais-valia urbana dificílima, que conse-guimos, além de outras que me escuso de referir e que hoje fazem parte do nosso dia-a-dia.
Antes das eleições de 2001, deu uma entrevista onde afirmava querer uma cidade de cem mil habitantes. Qual o balanço dessa ideia?
Tinha lido vários estudos e sabia que a cidade média ideal, para ter massa crítica e resistir às pressões dos centros mais poderosos, devia ter esse número de habitantes. Hoje, estamos a passar uma fase em que ninguém constrói nada, quando antes se construía tudo. Essa é, agora, a questão de fundo. Não queríamos
construir em todo o território, mas quería-mos uma população concentrada. Isso não aconteceu, não porque não fossem dadas as condições necessárias, temos um PDM que permite que a população do Município chegue a 700 mil quando temos 160 mil. A partir de certa altura, a construção com qualidade começou a não ter tantas pretensões e a natalidade caiu em flecha. Por exemplo, Moreira de Cónegos, em dez anos, perdeu 16% da sua população. Quando cheguei à presidência, as grandes famílias de Guimarães, que tinham as duas coisas, indústria e terrenos, não abriam mão, quando era possível a construção. Nos últimos anos, só a Vila de Brito aproveitou o que o PDM permitia. Antes, cresceu a Vila das Caldas das Taipas. Não se pode parar no tempo. Muita gente está hoje arrependida de não ter disponibili-zado os seus terrenos. Quando realizei muitas sessões nas freguesias para a discussão do PDM, muitas pessoas pergun-tavam: “Porque não há mais área para construir?”, eu levava comigo o mapa dessa freguesia e mostrava que tinham muitas áreas para construir. Só que quem as tinha considerava-as um mealheiro para abrir mais tarde.
Também não era possível pensar em construir eternamente…
Isso é o que se pensa agora. Se tivésse-mos deixado construir facilmente, mesmo na periferia da cidade, onde são zonas de Reserva Agrícola ou Ecológica, eles construíam. Mesmo fora da cidade só não construíram porque os proprietários não precisavam de vender os terrenos. Agora estão arrependidos.
Enquanto a cidade tende a produzir uma força concêntrica baseada na organização administrativa do centro (onde estão todos os serviços públicos), há uma força excêntrica nas nove vilas
entrevista
117
do concelho que resulta num confronto entre dinâmicas…
Havia a dinâmica mais antiga da indús-tria que não podia nem devia ser contra-riada. Os serviços do liceu, médicos, hospital, estavam na cidade e a indústria estava lá. Era a cidade de serviços, depois alargada para a periferia. As empresas também se deslocaram e nasceram núcleos populacionais com dimensão. A política das vilas era reforçar a componente urbana, porque algumas dessas comunida-des tinham caraterísticas muito rurais e a massa crítica não se desenvolveria aí. Nunca quisemos dar menor importância às vilas, pelo contrário, reforçar a sua afirma-ção urbana, mas colocá-las na sua escala. A cidade é o centro. A Universidade do Minho está em Guimarães. O Kremlin está em Moscovo. O Terreiro do Paço em Lisboa. Todas as comunidades têm uma matriz de força centrípeta.
Existe uma concentração da atenção no centro histórico, como se este fosse a única realidade concelhia, mas quem anda pelo concelho repara num certo “feísmo”
As causas do “feísmo” não são fáceis de tratar, mas terão origem em tempos em que não houve mão dura para suavizar isso. A nossa sorte foi encontrar um centro histórico degradado, mas sem intervenção do “feísmo”. No início, fui apelidado de
“rural” porque começamos pelas fregue-sias e devagarinho fomos entrando pelo centro histórico que era difícil, precisava de uma equipa competente, com um trabalho de largo espectro. O resultado só foi possível porque foi realizado ao longo de muito tempo, se tivéssemos tido mudanças políticas, era provável que não conseguíssemos. Antes de 1990, as inter-venções eram pontuais, o núcleo duro da intervenção foi depois. Primeiro fomos às freguesias e arrumamos o essencial, a escola e uma boa estrada. Mas também não adivinhamos o que veio depois. Houve um tempo em que as pessoas começaram a reclamar água e saneamento, como se fosse possível instalar tudo de borla. Lembro-me de uma grande dificuldade numa semana em que o nosso sistema de água não funcionou e invadiram-me a Câmara. Em 1990, o centro histórico não tinha saneamento básico. Como em outras áreas. Na fase da reabilitação, o que foi mais difícil não foram as intervenções nos espaços públicos, mas a aquisição de palácios antigos. A Câmara foi comprando e reabilitando com a ajuda de fundos comunitários, como o Tribunal da Relação, a nova extensão do Museu Alberto Sampaio, no edifício da antiga polícia instalamos o Arquivo Municipal.
Como se trazem as pessoas para viver no centro? As normas e custos para a compra de um edifício, recuperá-lo e aí viver são incomportáveis. É caríssimo…
Quem lidera os licenciamentos nas áreas classificadas é o IGESPAR com um ou dois funcionários para atender todo o Norte do País. Se não estiver estabelecida uma relação de confiança com o trabalho das Câmara, é difícil obter uma licença aí. O IGESPAR é mandão nesta matéria e nós temos de aceitar. Concordo que os investi-mentos na habitação no centro histórico
‘as causas do “feísmo” [da periferia] não são fáceis
de tratar, mas terão origem em tempos em que não houve mão
dura para suavizar isso.”
118
são caros, mas o proprietário fica com o benefício de não pagar IMI e um valor patrimonial em espiral de valorização. Se me tivesse apercebido disso, há uns anos, tinha comprado casa no centro histórico. Há treze/catorze apartamentos arrendados na Oliveira, um T3 custa à volta de 650 euros/mês. É, de facto, caríssimo. Um investidor pode comprar e recuperar e, em vez de alugar, instalar um hostel. Se pagassem IMI num sítio daqueles era uma fortuna…
Sem estacionamento, chega-se ao cúmulo de, no centro, não ser possível parar um automóvel para escoar uma pessoa sem se formar uma fila. É possível uma cidade, como Guimarães, sem automóveis privados?
Uma cidade, como a nossa, não pode permitir que cada um aparque o automóvel no exato local onde julga poder fazê-lo. Todos os centros históricos classificados, em qualquer parte do mundo, impõem restrições. Em Guimarães é possível largar um passageiro sem suceder uma fila. Mas é preciso fazê-lo no local adequado que, por vezes, fica à frente escassos metros. Foi contra esses conceitos passadistas que se fez a requalificação, que felizmente tem mais apreciadores que detratores. Aqui e nos que nos visitam, que são aqueles que animam a nossa economia. Há automóveis privados por todo o lado em Guimarães. Há aparcamento não a esmo, mas orde-nado, nem sempre grátis, nos lugares de maior procura, pago. Se é assim em todo o mundo civilizado, por que não aqui?
A escassez e o preço do estaciona-mento no centro é um castigo pela contestação ao parque de estaciona-mento no Toural?
Não pode ser um castigo, porque o parque não podia ser construído. Não
somos uma cidade qualquer, e o preço não tem nada de extraordinário compa-rado com o que se pratica em outras cidades com a nossa atração. Visa apenas a rotatividade, é preciso deixarmos de ser “velhos do restelo”, e atuar para dar vida ao nosso tecido económico, respondendo a quem vem até nós às centenas, todos os dias, e não se queixa, ao contrário de uma dúzia que reclama quotidianamente.
Guimarães pretende afirmar-se como cidade criativa. Mas os dados demográ-ficos mostram que, entre 2001 e 2011, a população com licenciatura subiu em Guimarães de 4% para 10%, o mesmo que em Famalicão, praticamente igual a Fafe. Braga subiu de 11% para 19%. Comparativamente, Guimarães não deu nenhum salto, e a massa crítica provem daí…
Não concordo. A massa crítica não vem só daí. Os números de frequência e resulta-dos na escola pública, em Guimarães, são muito bons, a nível nacional. Mas a inserção da criatividade numa cidade não se faz só com os seus filhos, mas também atraindo novos residentes. O Avepark tem uma centena de jovens altamente qualifi-cados, que vieram de vários pontos do país e da Europa, há lá 18/19 nacionalidades. Não podemos é resolver esse problema com uma penada. Claro que há dificuldades. Mas se não fizermos nada e continuásse-mos agarrados aos conceitos tradicionais, o futuro seria pior. A estratégia da criativi-dade, da inovação, da ciência, da aplicação da investigação em produto, é para manter.
Qual é então essa estratégia?A afirmação de Guimarães como cidade
da cultura, do património, das indústrias criativas exige um funcionamento em rede com um programa cultural de modo a continuar 2012. Estava combinado com
entrevista
119
o Governo anterior que assumiríamos a liderança de todos os equipamentos que Guimarães tem, tanto da tutela nacional como municipal, no modelo da CEC, e com a sustentabilidade que alguns desses equipamentos já têm. Hoje, não temos qualquer retorno do Governo atual para esta pretensão. Parece que o Governo só quer alimentar a cultura em Lisboa e Porto. Se fosse criada a rede preconizada, todas as dificuldades que estamos a sentir seriam ultrapassáveis. Teríamos programas abrangentes, plurais, polivalentes, atrati-vos para os jovens virem aqui, graciosa-mente ou não, expor os seus trabalhos. Se esta via tivesse apoios, marcaríamos a intervenção cultural a vários níveis e Guimarães seria uma cidade competitiva em todos os níveis. Era uma estratégia em que acreditávamos.
Mas não vai ser possível porquê?Em 2012, uma vontade apelativa e
responsável apagou os velhos do restelo. Não foi fácil fazer o trabalho que Guimarães fez, o que é reconhecido, embora, como isto está partidarizado, politicamente falando, se escondam certas verdades. Quando assumirem a dimensão que a CEC 2012 teve, farão justiça àqueles que deram o corpo ao manifesto pela
causa. Estou convencido que, seja qual for a vontade política nacional, este projeto tem pernas para andar, fruto do conjunto de valências que temos e uma outra qualquer cidade média não tem. Toda a gente o reconhece, de vários pontos da Europa, e tecem loas que ninguém lhes pediu. Foi um capital muito difícil de conseguir e era preciso dar-lhe sequência, mas só com a Câmara, e com as restrições no futuro, não será possível. O Estado no IVA da hotelaria e restauração ganhou imenso. Então porque não aposta, se poderia ganhar mais? Só porque a Câmara é PS e o Governo PSD? Isso é uma tonteria. Assim não vamos a lado nenhum.
No fim, sente-se realizado?Realizado, mas injustiçado algumas vezes.
Há sempre coisas que nos são desagradáveis. Mas sinto-me realizado e sinto que a popula-ção percebeu que valeu a pena.
Na política acabou por ganhar um lugar especial na história vimaranense…
Tão cedo não haverá um cidadão que esteja tanto tempo como eu à frente da Câmara. Tal não me dá um estatuto especial. Quero continuar a viver a minha vida de uma forma simples e ocupada. O meu problema maior vai ser ocupar-me porque gosto de trabalhar, mas tenho consciência do que acontece a quem esteve tanto tempo num cargo como este. Deixei, porventura, algumas inimizades e confli-tualidades, como sempre sucede quando se lidera com um modelo como fui habituado. Mas ele resultou de uma vivência que me marcou muito, que me tornou corajoso, destemido até, não apenas perante dificul-dades de caráter físico, mas também dificuldades de outra índole com que tive de me confrontar.
“em 2012, uma vontade apelativa e responsável
apagou os velhos do restelo (…). Quando assumirem
a dimensão que a cec 2012 teve, farão justiça àqueles
que deramo corpo ao manifesto pela causa”
122
os reformados do Jardim
d urante o processo de intervenção para a requalificação dos espaços em vários locais da cidade de Guimarães, um cenário lunar,
desordenado e caótico ocupou o quoti-diano de algumas áreas. Na Rua de S. António, na Praça do Toural ou na Alameda de S. Dâmaso, homens e máqui-nas tomaram o espaço durante um período de cerca de um ano, restando alguns carreiros construídos para os transeuntes circularem. Uma rede com sinalética variada e avisos de segurança circundava a área de obras. Dentro da rede, os operários da construção civil agiam num enlameado caos onde máquinas e homens pareciam perdidos em atos e tarefas aparentemente desligadas. Atrás dessa rede, como uma moldura humana, homens de idade
entrada, geralmente transportando um ar de quem é dono do tempo, contemplavam o andar das obras. Em alguns momentos aproximavam-se da centena.
Vestiam roupa domingueira e, quando caminhavam, faziam-no com a elegância de quem transporta um cabide nos ombros. De manhã, quando se cruzavam pela primeira vez no dia, cumprimentavam-se entre sorrisos rasgados, gestos largos e pose circunspecta. Finda a conversa curta e circunstancial, ligava-os o silêncio e o ponto comum de espraiação do olhar. Às vezes o silêncio era quebrado para uma troca de algumas palavras, algum assentimento, muitas discordâncias, mas nenhuma conversa se alongava.
Por volta do meio-dia, a moldura humana que cercava o meio em obras desaparecia para voltar a comparecer no início da tarde. No final do dia, com o fim da jornada de trabalho, o debruado
etnoGrafias
nas obras do toural
o temPo das interroGações
esser JorGe silva
123
humano despedia-se entre si e, tal como os operários, abandonava o cenário, legando ao espaço a aridez caótica própria de um campo de batalha entre o homem, máquinas e natureza.
Estes homens cabem dentro de um estatuto em geral muito ansiado na região vimaranense. O reformado tem na desocu-pação o seu ativo mais importante. Em geral é o resultado de uma longa e ansiosa espera que marca a fronteira para uma relação passiva com o cronómetro. A reforma dos indivíduos constitui uma desobrigação com as marcações e a agenda e, nesse aspeto representa uma revolução na vida do indivíduo porque todo o tempo lhe é acometido. Ter tempo exclusivamente para si, tempo para consumir de acordo com a sua vontade, tempo para ocupar com o contrário das agruras da sua vida de trabalho, unifica praticamente todos os interesses destes homens cuja existência impôs o desejoso da vida pasmada, sem tarefas, contemplativa e exclusivamente dominada pela submissão a cronos.
Julgando-se espetadores, estes homens foram surpreendidos, primeiro pelos debates por si inspirados nas redes socias, seguindo-se o interesse da imprensa. Refeitos da surpresa pela descoberta da dupla condição a que estavam submetidos, simultaneamente observadores-observa-dos, perceberam-se transformados em
espetadores-atores, cujo papel, perante a indagação, revelou-se na utilidade emulsionada da inteligência social: “somos fiscais de obras”, disseram uns, concor-dando todos. O interesse gerado pelo exterior, nomeadamente a presença da sua representação inscrita em papel de jornal como ato socialmente útil, transformou aquela presença pasmada e inerte, em indivíduos com serventia reconhecida, apesar de impensada.
A muralha humana que circundou as obras apontava, entre si, as falhas e avançava soluções. Seres contemplativos foram assim transformados em especiali-zados trabalhadores inativos. O lugar por si ocupado na hierarquia era cargo de topo. Tinham direito à crítica impiedosa e o elogio não fazia parte do discurso. Transportavam a sabedoria que só o tempo inscreve e, daí, a autoridade e legitimidade. Donos do tempo e libertos da necessidade de contrapartidas desco-briram-se na posição dos que sabem desinteressadamente. Os “fiscais das obras” depressa perceberam-se em posição superior, impondo com a sua presença a qualidade superlativa que toda a obra de construção civil deve conter para contribuir, verdadeiramente, para o desenvolvimento.
“a muralha humana que circundou as obras apontava, entre si, as falhas e avançava soluções. seres contemplativos foram assim transformados em especializados trabalhadores inativos. o lugar
por si ocupado na hierarquia era cargo de topo. tinham direito à crítica impiedosa e o elogio não fazia parte do discurso.”
124
tempo dos f isCais das obr as
a s edificações estão conotadas com o labor tortuoso a necessitar de resistência física, um apelo para a realização máscula, apesar de
praticamente quase todas as tarefas esforça-das da construção civil estarem acometidas a máquinas. Actantes misturados com atores, de onde não se percebe quem comanda os atos, se a tecnologia através das suas imposições mecânicas e da imensa capacidade de realizar tarefas hercúleas, se a destreza humana na locomoção e orientação dessas máquinas. Ainda assim, o apelo da edificação baseado no esforço humano subsiste no imaginário da moldura de homens que olham e vêm o seu mundo. Daí, os comentários centrarem-se no que alcançam como importante: a argamassa gomosa, a caixa esquálida, a conduta linearmente estendida, a cofragem vedada e cheia de cimento, as cores e o diâmetro das canalizações, encantaram e coloriram os dias daqueles homens, os “fiscais das obras”.
Por vezes, após intensas discussões entre si, os “fiscais das obras”, usando a autoridade dada pela idade e a legitimidade legada pela sabedoria popularizada, extravasaram as suas competências, colocando toda a sua violência simbólica no modo de destratar o operário: “tu não sabes que não é assim que se faz?” Nessas alturas instalava-se um momento de conflito e, em determinadas
situações, o encarregado da obra viu-se na necessidade de vedar o cenário, restringindo o olhar aos fiscais de obras com um taipal. A presença coerciva e o intenso debitar de conhecimentos diversos desorientava os operadores de campo, levando-os ao desespero. Não raras vezes, os “fiscais das obras” foram convidados pelos operários, principalmente os mais novos, a fazerem “qualquer coisa na vida”. Apesar do conflito sempre latente, os “fiscais das obras” nunca arredaram pé, nem destroçaram do seu posto, debatendo todas as opções e colando os olhos em todos os gestos.
A contemplação da transformação vimaranense teve género. Apenas machos procuraram posição nos “fiscais das obras”. Nenhuma mulher ali se prostrou desempe-nhando, sequer, o papel de acompanhante. Tratando-se do uso do espaço público surge a tentação de atribuir as causas desta presença ao domínio dos homens, geral-mente dados à exterioridade da rua por contrapartida do domínio do espaço privado acometido ao ser feminino. Zelosos com o cumprimento de vários horários, a generalidade dos “fiscais das obras” deixavam perceber o lugar em que guarda-vam a companheira, destroçando dos seus postos em direção à residência, nunca se atrasando no encontro com a “patroa”, principalmente à hora do meio-dia, momento em que, por coincidência, os mais antigos impõem como o momento ideal para o almoço.
etnoGrafias
125
“a contemplação da transformação vimaranense teve género. apenas machos procuraram posição nos “fiscais das obras”.
nenhuma mulher ali se prostrou desempenhando, sequer, o papel de acompanhante.”
A prostração perante uma obra num grande descampado em avanço lento, apesar da evidência aparente, não é resultado da dicotomia do uso dos espaços público e privado. Por detrás reside a ideia de desenvolvimento, ligada a uma perspe-tiva objetivista, de onde apenas o visível e palpável produz encanto, e que eleva o edificado ao estatuto de coisa valorizada. No posto da sua observação, desenvolvi-mento tornou-se a palavra-chave destes senhores do tempo. Quase sempre não só dita, mas entoada com exclamação e suspirada como um advento.
Antes de se transformarem em “fiscais das obras”, os reformados assisti-ram ao desaparecer de um espaço que unia todas as suas diferenças. Para além de donos do tempo, eram também os donos do lugar. Foram a última ordem instituída do “jardim público” ou “jardim dos reforma-dos”, o popular “jardim velho”. Os bancos de jardim, hermeticamente ordenados desde sempre nos mesmos lugares, voltados para pontos fixos e repetíveis, desaparecem num repente. Habituados à inércia do corpo em repouso, uma mudança do espaço em atividade compul-siva impõe também a desordem dos seus sentidos. O primeiro movimento dos corpos é difícil. Instala-se a indisciplina naquele espaço antes ordenado, cujos traços já estavam decorados em todas as cabeças.
Recusando o papel marginal, os “fiscais das obras” iniciam a sua atividade quando
deparam com a estranheza das primeiras visões. Circuitos de águas separados em condutas classificadas dão ao interior todos os fluxos da vida exterior. Canais estendem-se para receber a pluviosidade e ordenar a natureza sob os desígnios do ser social. Águas limpas sobem para as habitações. Feita a purificação dos lares e dos corpos, águas servidas descem das mesmas habitações. Energia circula acumulada em circuito de cobre, transpor-tando motricidade para o humano. Um único fluxo fibroso de transmissão de dados e comunicação, múltiplo nos canais, infinito nas saídas, imenso nos conteúdos, diverso nos conhecimentos, feito de amplas disciplinas e saberes encantados, viaja num só cabo trazendo o mundo em direção aos que querem saber do mundo. Submersas na totalidade da cidade ficarão escondidos alguns tesouros geradores da energia vital.
Mergulhados no seu silêncio, mãos nos bolsos e olhares fixados no terreno, os “fiscais de obras” admiraram o encanto da revolução dessas profundezas, guar-dando para si algumas ideias misteriosas e insondáveis. Nas profundezas jaz toda a desordem útil, ocultada aos olhos, enquanto a superfície ganhava as formas ordeiras e recortadas, desenhos esquálidos e novas representações, elementos sempre necessárias à realização da comunhão dos indivíduos.
128 etnoGrafias
praça do toural as novas
soCiabilidadesesser JorGe silva
os passantes e os passe antes
a edificação do grosso acolhe apreciações estéticas exclusiva-mente técnicas. Enquanto a profundeza atrai apenas alguns
reformados auto transformados em “fiscais das obras”, a filigrana da superfí-cie impõe apreciações, discussões, aprovações e reprovações. Todas as atenções confluem para o resultado final da Praça do Toural. Antes de ser entregue ao uso público, o gradeamento mantém o espaço circundado impossibilitando o acesso mas não impedindo o olhar. O silêncio do olhar anónimo passa a expressar-se no areópago público das redes sociais. As discussões são ilustradas com a banalidade da imagem. As fotos vistas de vários ângulos apelam aos sentimentos de todos, inclusive aqueles
que se encontram no estrangeiro. As discussões fazem-se mais de acordo com as emoções do que com razões passíveis de produzir mudanças de opinião.
O novo Toural acalenta as maiores divergências na temperatura das aprecia-ções. Um código binário, expresso entre a distância de um “gosto” e “não gosto”, enuncia a simplicidade totalitária da rede social. Aí prolonga-se o areópago da discussão libertando-se a verve e os argumentos dos contrários. Os partidários das descargas “gosto” elogiam a novidade por ser nova, o amplo espaço dos passeios, a noção de praça ampla, o fim do estacio-namento. Os que assinam por baixo “não gosto” criticam a ausência dos canteiros de flores, o desaparecimento das árvores, a aridez do espaço, a redução dos lugares de estacionamento. Alguns invocam apenas a nostalgia do desaparecimento da imagem habitual, outros aclamam
129
“o cidadão passante do eixo não só atravessa. corporiza, um tipo de individuo que se denuncia na pressa e na largura do passo. alguns vão em frente, objetivados pelo plano previamente concebido para a sua viagem.
outros caminham absortos em si, limitados no tempo determinado”
os benefícios da mudança. Outros ainda registam o lamento por não se ter ido mais longe fazendo o espaço uma cobertura de um parque de estacionamento. Argumentos emocionados tocam os dois lados. Dados históricos sustentam tanto uns como outros. Nostálgicos, culturalis-tas, modernistas, naturalistas, pós modernistas e ecologistas colocam ideias e palavras na praça, digladiando e esgri-mindo teses. Afinal quem tem a receita?
O novo Toural não é indiferente a nenhum vimaranense. Após abertura ao trânsito, muitos residentes na área periférica ensaiaram a volta automobilís-tica à praça, como se estivessem a regres-sar de uma ausência. Esse é o momento da descoberta prática do significado da anulação de trezentos lugares de estacio-namento na orla das vias. O desapareci-mento desses espaços não anulou uma das mais antigas sociabilidades vimaranense usada, através da comunicação não-ver-bal, na reivindicação silenciosa dos que pretendem marcar posição. Aí, atores, não residentes nos limites do centro urbano, transformaram o local num ponto de êxtase e demonstração de estatuto social. A transformação da praça legou apenas três lugares para automóveis parados, espaço que, contudo, não recebe autoriza-ção de estacionamento mas exclusiva-mente de cargas e descargas de
mercadorias. Dois polícias municipais quase permanentes encarregam-se de zelar pelos três lugares vazios, autori-zando amiúde, perante compromisso solene do condutor, um curto momento de estacionamento.
Em geral, quatro piscas do carro, acendendo e apagando em candência regular, dão à autoridade o código do cidadão apressado, porém demorado na dependência bancária local onde se trata de dinheiro. Mesmo quando é um automó-vel a fazê-lo, piscar serve para conquistar o parceiro e, ainda que se trate da autori-dade, o cidadão sabe que pode contar com o beneplácito do olhar do agente, inclusive, quando o objeto do olhar é uma raridade móvel com potência alta e desenho raro. Estes indivíduos fazem parte da cidade externa, afastada do centro, mas entendem-se a fonte da força concêntrica potenciadora da vida econó-mica da urbe. Estamos perante um tipo de cidadão que habita a cidade excêntrica, realiza-se independentemente do centro, mas precisa do palco central. A sua ida ao centro é fugaz e faz de si um passante. Trata-se de um indivíduo que não se detém sentado num banco de jardim, nem se demora em contemplações. Quase sempre passa apressado pelo Toural.
O cidadão passante do eixo não só atravessa. Corporiza, um tipo de
130
individuo que se denuncia na pressa e na largura do passo. Alguns vão em frente, objetivados pelo plano previamente concebido para a sua viagem. Outros caminham absortos em si, limitados no tempo determinado. Uns e outros vestem os traços de uma máscara habitual decidida para causar boa impressão. Alguns seguem encimados e circunspec-tos enquanto outros deslisam cabisbaixos e derreados. Usam o espaço com a objeti-vidade dada a todo o utensílio. Os seus gestos e trejeitos comunicam urgência, o que realiza a existência dos que se entregam ao trabalho e vincam muito bem a sua distância para com o prazer. Os passantes seguem e deixam ficar atrás de si um rasto de desatenção civil, modo plástico de comunicar não só os seus valores mas também o seu estatuto. Em geral o passante é um nativo conhece-dor dos códigos da terra. No seu rasto deixa ficar todo o peso dos afazeres, toda a dificuldade da vida. Concebe uma imagem vergada pela responsabilidade a que está obrigado o bom cidadão.
O passeante transforma a montra num ecrã a que empresta o seu olhar. Aspira o ar vagarosamente à procura dos perfumes do lugar. A maior parte das vezes as andanças do passeante são lentas e atentas às imagens que o quadro apre-senta como novidade. Segue o seu cami-nho bebendo o espaço, umas vezes sorvendo grandes goladas, outras demo-
rando no degustar do tempero. Às vezes embebeda-se na profusão das visões: a fachada histórica, a casa antiga, a cornija única, a apelativa montra. Um doce olhar pousa na montra da pastelaria e um conflito interior estabelece-se durante a viagem da retina; se continua o estonteante sorver da diversidade, ou se o devorar imaginário da iguaria se concretiza num real e prolongado prazer. O passeante é totalmente estendido nos seus sinais: lassidão no caminhar, novi-dade permanente no olhar, silêncio no apreciar das coisas. O turista, cidadão estrangeiro, dá-nos a sua presença com todo o esplendor dos que sabem ocupar o lugar de invasor desejado.
O passeante forasteiro denuncia-se por fotografar tudo o que é óbvio para o passante nativo. O ato não é deliberado nem é artificial porque a culpa é do objeto ali colocado, uma espécie de apelo à objetiva e à fixação da forma em milhões de pixels. O passeante indígena, geral-mente um indivíduo ostentando a altivez da sua figura, estabelece na pose e indu-mentária, os cuidados necessários para se apresentar naquele palco. Valsa deva-gar e gracioso, ora parando para uma curta conversa, ora deixando cair ligeira e um tanto lateralmente a cabeça para a frente num gesto de cumprimento, sempre acompanhado de um sorriso. Esta pose está reservada exclusivamente a homens e acontece apenas do lado
etnoGrafias
131
“o passeante transforma a montra num ecrã a que empresta o seu olhar. aspira o ar vagarosamente à procura dos perfumes do lugar. a maior parte das vezes as andanças do passeante são lentas e atentas
às imagens que o quadro apresenta como novidade”.
nascente, talvez explicada pelo desnível que dá à praça a noção de anfiteatro.
Excetuando o caso das visitantes, mulheres locais não se colocam na mesma posição contemplativa que os homens. Uma lisboeta em comissão de serviço aclarará o olhar do andante, declarada-mente surpreendida pela qualidade com que se vestem os vimaranenses, na sua opinião, bem elucidada tanto no brilho dos sapatos dos homens, como na precei-tuada, aturada e atualizada indumentária fêmea. Estas passam quase sempre com o rosto ligeiramente levantado e o olhar fixado no horizonte, querendo com isso simbolizar a sua desatenção para com o espaço ocupado pelos contempladores. Contrastando com estes últimos, são elas, as mulheres, quem mais usa os bancos do Toural colocados exatamente no lado contrário.
A alteração das características do eixo substituiu a anterior dominância dos passantes pela atual graça dos passeantes. A lassidão tomou conta dos lugares do eixo, nomeadamente da Praça do Toural. Na atualidade, passeantes e passantes confundem-se tanto na ocupação como nos fluxos. Nativos e forasteiros mistu-ram-se na relação com o espaço sendo difícil decifrá-los.
soCiedade espl anada
a s primeiras esplanadas em locais públicos surgiram na cidade de Guimarães na década de noventa do século XX no Largo da Oliveira.
O seu aparecimento está associado à dinâmica comercial e às novas sociabili-dades emersas no âmbito das intervenções de requalificação do Centro Histórico. Inicialmente eram reduzidos os vimara-nenses que as usavam e, em certos casos, aquando de manifestações populares na cidade, notavam-se muitos indivíduos tapando a boca com uma mão concavada enquanto mastigavam. Por vezes era comum ouvir o pedido de uma mesa “lá dentro porque não gosto de comer na rua”. Nos usos costumeiros, ingerir uma refeição estava acometido ao espaço interior e a sua realização no exterior colocava o individuo num quadro anormal, inseguro no ato e diminuído na sua condição.
A ocupação do tempo livre e o cada vez maior número de estrangeiros visitantes da cidade naturalizou as esplanadas e, depressa, esses espaços de estar, tornados também espaços de lazer, de estudo e de trabalho, avançaram por praticamente toda a cidade. O Toural, local central de encontro, não cedeu a essa moda, distin-guindo-se, durante muitos anos, por aí não haver nenhuma esplanada.
132
A exiguidade dos passeios e a falta de imaginação não proporcionavam o seu aparecimento. Alguns ensaios, como o da pastelaria Docélia, serviram para demons-trar a inoperacionalidade funcional de atravessar uma rua equilibrando uma bandeja, para além da fraca rendibilidade económica da esplanada colocada no centro da praça.
O novo Toural foi concebido com amplos passeios ladeando a área central. Para além da diversificação e de um novo dinamismo do comércio local, era espe-rado também o aparecimento de algumas novas esplanadas, funcionando não só enquanto espaços de fruição mas também como estimuladores da circulação de indivíduos. O aparecimento de uma gelataria prometeu uma esplanada do lado nascente mas, findado o tempo de degus-tações frias, as mesas e cadeiras recolhe-ram à aconchegada temperatura interior, aguardando um equinócio de quenturas.
Com a geletaria Regatto, subsistem quatro esplanadas no Toural. Do lado poente a pastelaria Camir e pastelaria Clarinha, do lado nascente cervejaria Martins. Não sendo propriamente uma esplanada, pode-se acrescentar o caso do Café Milenário, um espaço com caracterís-ticas particulares a proporcionar vistas da praça do Toural e que, durante o período de primavera e verão, abre praticamente a totalidade das suas portas vidradas, pondo a rua em contacto com o seu interior.
É fácil distinguir um estrangeiro de um nativo pela forma como é usada a espla-nada. Se não fosse de outro modo, o livro de bolso ou o jornal em língua diversa, comprado no quiosque Marinho e aposto num dos cantos da mesa, denuncia-os. Em geral os visitantes optam por uma atitude discretamente olhadeira, fazendo--o numa máscara de serenidade, man-tendo o silêncio mesmo quando estão acompanhados. Contemplam a cadência do andamento da praça, notando, uma ou outra vez, pormenores estranhos ao seu quotidiano. Por vezes deixam o olhar pousado num ponto, por exemplo, numa “Torta de Guimarães” entregue na mesa ali ao lado onde quatro mulheres conver-sam alegremente sem se aperceberem que estão a ser observadas. A máquina fotográfica, regra geral, não é levantada deliberadamente para as pessoas mas, a sua presença assente na mesa, despida de qualquer invólucro e com a objetiva sem resguardo, denuncia o seu uso antes de ali se sentarem os forasteiros. A sua atitude é também condicionada pelo empregado de mesa a quem é necessário explicar por gestos e em português arranhado, a encomenda pretendida.
O visitante nativo, provindo de outras paragens, age completamente diferente. Quatro jovens, dois rapazes e duas raparigas, aparentando não mais de uma vintena de anos sentam-se numa esplanada ao lado da igreja de S.Pedro. Denunciam a sua proveniência quando
etnoGrafias
133
“o novo toural foi concebido com amplos passeios ladeando a área central. para além da diversificação e de um novo dinamismo do comércio local, são esperados algumas novas esplanadas, funcionando não só enquanto espaços
de fruição mas também como estimuladores da circulação de indivíduos”.
um deles, a propósito da sua conversa, refere “lá no Porto”. O jovem empregado da esplanada aproxima-se e pergunta se desejam alguma coisa. “Sim… pode ser… pode… quero qualquer coisa típica” refere um dos jovens. O jovem atendedor da pastelaria hesita, como quem não espe-rasse ser confrontado com uma decisão. Hesita antes de se refugiar num estraté-gico “vou ver o que temos”, desaparecendo no interior da pastelaria.
Mesmo ali, exposto na montra, uma travessa de “Tortas” de Guimarães, doce conventual sobrevivente através da Casa Costinhas, exibem um recomendável ar de doçura exclusiva exigindo três euros como contrapartida. Ao seu lado um “Toucinho-do-céu” totalmente coberto de uma fina camada branca de açúcar desafia as papilas gustativas de qualquer visitante. Mas a falta de hábito em enfrentar um pedido de ajuda na descoberta das coisas da terra surpreende o jovem empregado. Mesmo assim, depois de avisar o que a pastelaria possuía de iguaria local, perante a solicitação dos seus ingredien-tes, o rapaz volta a titubear na explicação da receita do “Toucinho-do-céu”, por sinal a única recomendação que se lembrara.
Os visitantes portugueses não se coíbem de expressar a sua ansiedade, demons-trando-se prontos para a descoberta da cidade, facto que não escondem de ninguém. A causa do seu desassossego, verdadeiramente notório, vai-se tornando conhecida através dos desabafos e críticas
à viagem de comboio, “quase hora e meia para percorrer cinquenta quilómetros”. Na verdade não serão os únicos visitantes a exprimirem tal queixa, regra geral acompanhada da incompreensão pelas escassas viagens de comboio a uma cidade classificada como Património Mundial e Capital Europeia da Cultura. Viajantes aí chegados, desligados de qualquer pro-grama turístico e entregues ao imprevisto, di-lo-ão variadas vezes em interrogativas de incompreensão. A descoberta da praça não só é uma surpresa confessada, como promotora de um fascínio reconciliador do viajante, desagravando a insatisfação e dando a recompensa ao espírito do aventureiro.
Para quem chega de comboio à cidade de Guimarães, descendo a Avenida D. Afonso Henriques, o olhar do viajante é atraído pela torre da Alfândega. Aí chegado, o eixo Toural-Alameda promove um momento de indecisão. Nesse primeiro contacto visual, a praça ganha sempre a primeira atenção do forasteiro. O piso de quartzo e basalto e a generalidade das paredes brancas, para além de se destacarem do monocromático granito nas restantes fachadas, promovem uma luz rara e intensa. Esta transparência distingue o Toural dos outros locais da cidade apelando aos sentidos dos que ali chegam. Mesmo quando no final do dia o sol desaparece, o artifício mantem a luminosidade dominando todo o espaço da praça.
134
Regra geral, os agentes locais expressam uma linguagem corporal enunciadora de um maior à vontade quando ocupam um lugar da esplanada. Na maior parte das vezes são mulheres e fazem-no quase sempre acompanhadas umas das outras, principalmente no início e no fim da tarde. Um café e um copo de água e, por vezes, um bolo é o pedido mais vezes realizado, seguindo-se conversas sobre o quotidiano da pessoa, habitualmente num tom de voz audível para qualquer passante. A atenção dos locais, quando numa esplanada, centra-se no contra-ponto e não em qualquer atrativo da praça. Só se houver alguma novidade ou alguma realização extraordinária é que a atenção é desviada.
Durante o passar do dia o Toural não se afigura um local capaz de atrair a juven-tude. Nas sociabilidades da cidade, estes preferem outros pontos cardeais mais para o interior do casco histórico. Só ao fim do dia, principalmente no tempo de aulas, se vislumbra alguma juventude. Em geral não usam as esplanadas mas sim no interior das pastelarias para onde desaparecem, ocupando os lugares menos expostos ao olhar. A partir das cinco da tarde, uns poucos entram e saem trans-portando um bolo envolto num guarda-napo. Um violino ou uma guitarra, várias vezes transportados nas costas, denun-ciam a sua condição de aprendiz de música ali ao lado na Academia de Música Valentim Moreira de Sá.
abanCar na pr aça
a praça do Toural perdeu os cantei-ros de verdura mas não deixou de contar com os bancos de jardim, agora transformado em bancos
da praça. São catorze bancos cujas dobras mantém o anglo reto e as arestas, o que denuncia a sua antiguidade. Estão colocados na extremidade noroeste da Praça, situando-se por baixo de umas quantas árvores prometedoras de sombra no futuro. O decorador da praça reservou três bancos orientados para a fachada poente. Quem aí se senta esbarra o olhar na fachada da antiga da casa do Fidalgo do Toural, figura incontornável da vida cultural e política vimaranense na segunda metade do século XVIII. A proximidade com o objeto impõe um ângulo fechado, o que não permite vislumbrar outros motivos capazes de prender a menina do olho. Em toda a fachada desse lado do Toural, este é também o único edifício com traço arquitetónico reconhecido capaz de explicar a proximidade da tripla de bancos. Quando sentada e voltada para esse lado, a pessoa tem ainda direito ao movimento do trânsito circulando praticamente aos seus pés e a possibili-dade de acompanhar os passos apressados dos passantes cruzando a praça em direção aos seus principais enfiamentos.
Os outros onze bancos da praça
etnoGrafias
135
“É fácil distinguir um estrangeiro de um nativo pela forma como é usada a esplanada. se não fosse de outro modo, o livro de bolso
ou o jornal em língua diversa, comprado no quiosque Marinho e aposto num dos cantos da mesa, denuncia-os”.
convidam o olhar para a fachada do lado nascente. A sua localização dista uns cinquenta metros do objeto da visão. Esta distância funciona também como ângulo aberto, praticamente impondo ao olhar a obrigação de captar uma larga faixa desse lado da Praça. Percebe-se a preocupação do decorador: dar o retrato da mais fina imagem, o mais convidativo cenário e o mais belo traço de arquitetura ao maior número de olhos. Não há dúvidas que o decorador pré-determinou o local para abancar com o intuito de proporcionar ao visitante uma imagem marcante e dura-doira, idêntica à que, uma vintena de anos antes, daria um ótimo bilhete-postal.
A fachada nascente é um exemplo de arquitetura pombalina. Nos finais do século XVIII, D. Maria autorizou alguns moradores a derrubarem a muralha para construírem ou ampliarem as suas casas, o que, contudo, não deveria diminuir a Praça. Foi desenhada em Lisboa e as suas características unificadoras no estilo inspirariam o Padre António Caldas, a designá-la “um só edifício regular e simétrico, de quarenta e quatro portas e cento e vinte e cinco janelas”. Esta lineari-dade reproduz uma espécie de linguagem mimética da muralha de outrora. O desenho estampado neste alçado, concebido segundo um efeito ordeiro das peças expostas, lega harmonia às vistas.
Os passeantes usam os bancos indistin-tamente, sem preocupação com a estética do que vêm. Na maior parte das vezes,
quando se sentam, os passeantes fazem--no acompanhados e, neste caso, o ato de sentar retém a atenção no “outro” e menos no espaço. Risos e conversas audíveis, próprias de rua, sonorizam o espaço. Por vezes a mãe manda a criança cami-nhar até ao pai, ficando a avó em tremeli-ques acudindo o neto com cuidado para não cair. Fica denunciada a condição familiar de muitos sentados na praça. Os estrangeiros dão a sua localização através do idioma. São poucos os jovens forastei-ros a usar aqueles bancos. Em geral, são indivíduos com mais de quarenta anos os que se acomodam nos bancos da praça. A maior parte das vezes falam da beleza da cidade, da imensa juventude andando pelas ruas, da simpatia das gentes e da gastronomia. Sorriem enquanto falam. Fazem-no descontraidamente, como pessoas serenadas com a sua existência.
Muitas vezes, mesmo acompanhados, principalmente quando se tratando de duas pessoas, o ato de sentar deixa perceber o uso do tempo aparentemente para nada. Silenciosamente abancados, leves movimentos com a nuca denunciam a viagem da retina varrendo a extensão da fachada como que embebecidos pelo feitiço do sítio. Nestes e noutros casos, raras são as vezes que uma máquina fotográfica é vista a fotografar a fachada pombalina a partir do aglomerado de bancos do Toural.
137
luGar de aCrobaCias
o s “fiscais das obras” foram até ao fim na sua missão de observadores da transformação do espaço. Por vezes, no seio do grupo estabelece-
ram-se discussões, criticaram-se ações e imaginaram-se soluções. Dificilmente o conteúdo das discussões saiu dessa espécie de irmandade ali constituída, facto explicado porque, no final, todos tinham chegado a um conclusão, em geral, concor-dando com as soluções postas no terreno. Na verdade, apesar da aparência, as discussões não se ligavam a um conheci-mento ou capacidade de descodificação dos sinais pelos “fiscais das obras”. Estariam mais próximos da conjetura, procurando adivinhar os motivos porque certa coisa assim era feita. A discussão em grupo, longe dos especialistas e dos
decisores, legava autoridade ao “fiscal” que melhor desempenhasse o papel na dialética e composição argumentativa de uma tese. Em certas alturas, após discus-sões de onde se preconizava determinado fim, o objeto sofria sucessivas alterações conforme se iam mostrando dados novos, não imaginados à partida. A falácia explica o motivo por que as acaloradas discussões iniciais resultavam em profundos silêncios no final.
Os “fiscais das obras” guardaram sempre uma atenção especial sobre o jardim da Alameda, no fundo o jardim dos reforma-dos. O seu jardim. Por ali foram esprei-tando o andamento da intervenção sem intrometerem qualquer questão às mudan-ças. O facto do jardim, por via da imperme-abilização da maior parte do terreno, ter deixado de o ser para se tornar num bosque e por isso, no “bosque da Alameda”, quando muito e, hipoteticamente, no
etnoGrafias
no bosque da alameda
esser JorGe silva
138
“bosque dos reformados”, não provocou nenhuma estranheza nem levantou qualquer questão. A certeza da declarada presença das árvores, seguramente em número superior do que antes, mais do aumentar a crença ecológica de todos, sossegou os necessitados de sombras.
Para além do número de copas de árvores, os reformados elegeram a sua principal motivação na comodidade do espaço. Habituados aos bancos no antigo “jardim dos reformados”, os “fiscais das obras” fixaram a sua atenção naqueles poisos. A primeira constatação foi a forma dos novos assentos: sem ângulos retos e sem arestas como antigamente, com dobras curvas e um centro côncavo. Desenho e ergonomia da peça, a apelar ao apetite do corpo para a lassidão, foram recebidos como um irrecusável convite.
No total, sessenta e quatro bancos de jardim foram pregados ao chão sem uma linha lógica. Apareceram colocados no espaço numa aparente desordem, orien-tando a visão para todos os pontos cardeias. Após todas as discussões e a decrescente dinâmica habitual, os “fiscais das obras” não se sentiram assaltados pela falácia habitual, nem perante alguma dúvida metódica. A certeza histórica da orientação hermética dos bancos de jardim autorizou desta vez a conclusão uníssona, porque óbvia, do atraso a que estava
remetido a colocação dos poisos no seu devido lugar. Perante a ansiedade da visão do seu espaço reposto, alguns “fiscais das obras” dirigiram-se ao desenhador da ideia querendo saber para quando a colocação dos bancos no seu habitual e devido lugar, a tal posição habitual hermética e alinhada.
A Alameda de S. Dâmaso tem um acentuado e indisfarçável desnível. O bosque é um espaço que se intromete entre duas vias de trânsito distando uns cinquenta metros uma da outra, enquanto no caso do jardim o desnível era disfarçado por uma parede de sebes. No miolo, um corredor de passagem entre os bancos alinhados, deu aos abancados o retrato dos passeantes e passantes, um espetáculo simultâneo para ambos, os primeiros pela imagem oferecida e os segundos pela possibilidade de exibição com audiência garantida.
Na sua gestação social, durante os fins de tarde, libertos das responsabilidades da vida quotidiana, apesar da manutenção dos traços de “reserva exterior” impostas pela cidade, homens e mulheres laçavam os braços em passos lentos no jardim público. Davam forma, com um anda-mento compassado, em estilo aparente-mente desinteressado dos olhares, às sociabilidades do recorte florido impondo, ao original espaço de paisagem campestre,
139
“no esplendor da sua juventude, passear no jardim da alameda era reservado àqueles que aprendiam ou se dispunham a aprender o uso do espaço público para realizarem, ou tornarem conhecido,
determinado estatuto almejado.”
características urbanas de sensibilidade e comodidade. Circunscritos entre paredes arborestas, comunicavam aos espetadores alguns marcadores de qualidade próprios da vida urbana. Usufruir da passagem do tempo no Espaço Público era uma novidade que a poucos tocava, um luxo só admissível a indivíduos com estatuto elevado.
No esplendor da sua juventude, passear no jardim da Alameda era reservado àqueles que aprendiam ou se dispunham a aprender o uso do espaço público para realizarem, ou tornarem conhecido, determinado estatuto almejado. Era lá que pretendentes se autodenunciam, primeiro na timidez da respiração sofrida e olhares nervosos, até que o consentimento geral autorizasse gestos descontraídos e passos seguros. Ali se mostravam as indumentá-rias de domingo, o último corte do fato e o resultado do figurino vertido para o tecido do vestido. Em passo imaginado sedutor, lento e vagamundo, os homens de negócios deixavam que a sua imagem de sucesso abrilhantasse o jardim. Mulheres empres-tavam ao éter toda a beleza desenhada, num esforço feito talento de melhorar a natureza.
No mapa atual desapareceu o corredor do jardim público. A nova configuração do lugar não só dispersou os poisos como acabou com o corredor que formava
o objeto de passeantes e abancados. O desnível do bosque foi aproveitado em favor da extensão do espaço útil permitindo a quadruplicação dos bancos. Com esta solução desapareceu também o muro de sebes que balizava o olhar aos frequentadores do espaço. Habituados a uma ordem tornada natural das coisas, os reformados sentiram-se deslocados do espaço. Do seu espaço. O tal em tempos apropriado e que durante anos os realizou num tipo de sociabilidade ligada à passivi-dade apenas permitida aos donos do tempo. Para aqueles homens todas as mudanças do espaço estavam autorizadas, exceto a ordem dos elementos geradores dos sentidos locais.
Cada banco do bosque dá um horizonte diferente aos utilizadores. Fachadas diversas de ângulos variados, pontos longínquos como a montanha da Penha, cenários enquadrados como o Toural e novidades como o casario da zona de Couros, passaram a constituir as telas oferecidas pelo espaço.
A ausência de barreiras ao olhar renovou as sociabilidades do lugar. O fluxo de passeantes aumentou e diversificou. Nenhuma ordem ou classe tem exclusivi-dade no espaço. Estudantes servem-se agora dos bancos para ponto de encontro, demorando-se em conversas e risotas num ato muito repetido em que, um ou dois
140 etnoGrafias
indivíduos se sentam e, à sua frente, um ou dois ficam de pé, apesar de haver espaço disponível para todos. Casais de turistas usam os assentos aproveitando a fresca da sombra intervalando o olhar com comentá-rios do que vêm. Os reformados, habituais da área, cedo descobrem as novas atrações do lugar; todavia não diversificam os poisos. Todos os dias, a determinada hora é possível encontrar o mesmo grupo de amigos procurando usar o mesmo banco. Chegados ao local e, dando pelo poiso ocupado por desconhecida cara, ensaiam uma espera que às vezes resulta dado o abandono do ocupante. Variadas vezes o grupo depara-se com ocupantes demora-dos sendo obrigados a escolher um banco alternativo.
No esverdeado da Alameda, cruzam-se várias ordens durante praticamente todo o dia. Passantes dos passeios, principal-mente do lado norte onde as montras funcionam como apelo, descobrem a possibilidade de atravessamento num espaço inabitual. Misturam-se com os passeantes diversos, por vezes visitantes ocasionais, outras vezes viajantes mais demorados ou turistas surpreendidos dispersados de grupos excursionistas. Mulheres passam a procurar o bosque não só para uso dos poisos mas também para a distensão física percorrendo o espaço em passos apressados. A área
aberta aos olhares transmite confiança e, inclusive para a senhora que, encontrando--se só, não se inibe de aí permanecer tranquilamente esfolhando as páginas de uma revista.
Por ali, uma criança aparentemente desacompanhada, equipada com um capacete e joelheiras, lança a sua pequena bicicleta numa destemida aventura velocista mostrando a todos a sua infantil destreza. Ao cimo, sentado num dos bancos, um homem interrompe a leitura de jornal para chamar a atenção do petiz, Pedro de seu nome, e recomendar cuidado. Fá-lo num tom de voz arrastado, mantendo a sua desatenção para com o espaço sem tirar os olhos do jornal. Na verdade, o ato serve para comunicar a presença do progenitor e a autorização tácita para as acrobacias precoces.
De manhã, no piso alisado, algumas linhas paralelas pretas apareceram algures desenhadas no chão. Revelam uma novidade não compreendida, inicialmente intrigante e a merecer atenção. Dia após dia as linhas paralelas vão aumentado tanto na frequência como na extensão do bosque da Alameda. Timidamente vai-se descortinando a origem das retas paralelas no piso alisado. Ao fim de tarde, com incidência nos fins-de-semana, jovens rapazes procuram, timidamente, introdu-zir o atravessamento do bosquedo através
de skate. A ondulação desnivelada do piso revela-se um aliado e um ótimo pretexto para os malabarismos da prancha sobre rodas. Uma delas ganha vida própria após sair disparado dos pés de um jovem. Preocupado, este segue o percurso do veículo pranchado tentando, com os olhos, desviá-lo dos transeuntes. A presença do polícia chamando a atenção do jovem para o perigo que o seu skate constitui, confirma a dificuldade na gestão das transições dos lugares e a lentidão com que se processam as mudanças. Mesmo assim, nos dias seguintes, quando a tonalidade da mor-mansa parece encobrir o que resta do dia, os rapazes e o skate ensaiam a normaliza-ção da sua presença, tentando assim que os olhares se habituem à sua presença.
Deambula-se pelo bosque impermeabili-zado possuído pela noção de ligação à natureza. O piso é limpo e nem as folhas das árvores se atrevem aí residir mais do que um par de horas. O espaço asseado impõe cuidados aos transeuntes, desper-tando os sentidos para o uso dos recipien-tes do lixo. Os círculos de terra à volta do caule das árvores mantêm-se sem qualquer objeto que não seja a negritude do húmus. A microfísica da limpeza promove um efeito coercivo nos utilizadores do bosque da Alameda.
O espaço antigo jardim velho ganhou dinâmica e diversidade de usos. Ao banco
do bosque colocado em frente à Torre da Alfandega foi reservada a missão exclusiva de impor ao olhar a visão inscrita naquele pano da Muralha. O passeante que ali se senta descobre, com surpresa, o corpo acomodado num ângulo pouco habitual, de tal forma o seu tronco e a sua cabeça cairão para trás dando de frente, quase obrigatoriamente, com a inscrição icónica “Aqui Nasceu Portugal”. Todavia esse é um poiso raras vezes ocupado, tanto pela sua incomodidade como pela necessidade de um ângulo mais aberto para a visão do ícone arquétipo vimaranense. O espaço do seu prolongamento, uma extensão com toponímia própria, o Largo 25 de Abril, é o melhor ponto para os fotógrafos darem largas à produção de mais um bilhete-pos-tal digital. A frase em letras góticas, originalmente de madeira, ali colocada em finais da década de cinquenta por ideia e iniciativa de Laurentino Ribeiro Teixeira, acabou por vingar como uma afirmação do ato fundador sendo entendida como uma frase histórica. Assim é explicada aos visitantes que a contemplam, não se coibindo alguns locais, quando abordados, de admitir a necessidade de traduzir tal frase para inglês a fim dos turistas a entenderem.
141
“dia após dia linhas paralelas vão aumentado tanto na frequência como na extensão do bosque da alameda. ao fim de tarde, com incidência
nos fins-de-semana, jovens rapazes procuram, timidamente, introduzir nos hábitos o atravessamento do bosquedo através de skate.”
142142 reportaGem
plataforma das artes e laboratórios de Criatividade em busCa do futuro e do talentoesser JorGe silva
jo
ão
pe
ixo
to
144
a alteração observada no espaço do antigo mercado Municipal revela toda a idiossincrasia da transforma-ção do núcleo central da cidade
vimaranense. O espaço, outrora de comer-cialização de produtos da terra, cultivados segundo o sentido primário do termo, resultou, mais uma vez, na demonstração da noção polissémica de cultura. A agricul-tura, fundamento original do mercado concebido sob o traço do arquiteto Marques da Silva, deu lugar a um espaço não só de fruição como também de produ-ção cultural enquanto bem transacionável, neste caso, um projeto do atelier Pitágoras, dos arquitetos Raul Roque, Seara de Sá, Alexandre Coelho Lima e Manuel Roque. Também neste último caso se percebe a ideia de mercado ali expressa.
O casamento entre os traços dos dois arquitetos, distanciados por várias gera-ções, resulta de uma noção muito presente em várias transformações vimaranenses, não só no campo patrimonial mas também em mutações sociais, de onde os traços originais resistem como vincos da memó-ria. A noção do futuro assente num passado de honras, é uma matriz que percorre quase todo a vertente criadora
na Plataforma das Artes e da Criatividade (PAC). Simbioses complementares, como a ocorrida entre a agricultura e a indústria, revelam a noção estratégica transversal ao território, presente em variadas ativida-des profissionais.
O esforço no encontro entre as duas linguagens arquitetónicas, praticamente antagónicas, tanto no risco como nos materiais, é também revelado na metamor-fose do espaço, local onde outrora predo-minava uma cultura agrícola, assente na transação de bens materiais, convertido agora num local de cultura criadora imaterial e de fruição das coisas sensíveis ao espírito descobridor.
Neste jogo de passado honrado e do futuro de incertezas, a enfrentar com bravuras, dir-se-ia estarmos presente numa espécie do arquétipo que ocupa o imaginário vimaranense que se finca na consciência presente de autorresponsabili-dade e na procura de soluções para os problemas. Trata-se da noção de rutura com a estática e o imobilismo e a consciên-cia presente de que o destino não resulta per se, mas se constrói enfrentando a incógnita com um plano. A Plataforma das Artes e da Criatividade, até por ser
a plataforma afigura-se como o prolongamento do imaginário da “praça”,
local onde compradores e vendedores se encontram para trocar produtos.
reportaGem
145
um passo arrojado, não só na sua conceção, mas também no seu objeto, configura uma espécie de aventura, um arriscar, em terrenos desconhecidos. Todavia, o desconhecido tem respostas para quem ousa e o silêncio confirmado para quem não arrisca.
Em resultado da sua área de implanta-ção, linhas, materiais e silhueta surpreen-dentes, o edifício da PAC tornou-se, em pouco tempo, uma espécie de santuário visitado por variados especialistas. Muito fotografado, acabou também por se destacar pelo interesse de imensas revis-tas, tanto de arquitetura como de design, publicadas um pouco por todo o globo. A visibilidade conseguida pelo edifício quase que o torna num ex-libris, só explicá-vel pelas suas qualidades intrínsecas, e pela visibilidade conseguida no estran-geiro, muito mais evidente e debatida do que o fraco interesse demonstrado pela crítica especializada nacional.
Não espanta por isso o seu aparecimento como finalista em variados prémios internacionais de arquitetura, tendo arrebatado, em 2013 Red Dot Award na categoria “best of the best”, depois de, em 2012 ter-lhe sido atribuído o muito
concorrido Detail Price, um prémio em que, à partida, foram selecionados 589 projetos de arquitetos do mundo inteiro e no qual, ocorreu uma pré-votação de 3.894 leitores. Se contarmos com a presença da PAC na escolha do “Edifício do Ano de 2012” promovido pelo site ArchDaily, percebemos os motivos porque arquitetos do calibre de David Chipperfield, Norman Foster, Richard Meier ou Odile Decq, se renderam ao projeto do gabinete Pitágoras, catalogando-o de “impressionante, arquitetonicamente desafiador, com características inovadoras e um conceito global coerente”. Estes resultados manifes-tados através do interesse editorial fora de Portugal, coincidem com a estratégia de colocar a marca Guimarães numa perspe-tiva internacional, fazendo emergir, não só a qualidade do património edificado mas também, a qualidade técnica que habita a região, competências essas que, internamente, dificilmente se conseguem impor às lógicas centralistas e, em conse-quência, ultrapassar a sua condição de criadores de província.
configura também a ideia de transformação, com uma rutura radical do edifício principal mas guardando a
memória da utilidade original do espaço.
146
pretende-se agora que os encontros ali acontecidos se estabeleçam
numa outra linguagem, principalmente numa outra esteira de negócios.
jo
ão
pe
ixo
to
147
A PAC nasceu segundo uma ideia conceptualizada para a multifuncionali-dade à procura de dinâmicas entre as artes concebidas e a atividade artística criadora. A coleção permanente de arte africana, arte chinesa, arte pré-colombiana e arte contemporânea do pintor José de Guimarães funciona como âncora, à volta da qual exposições temporárias de temáti-cas diversas constituem-se como elemento da diversidade, a fim de, dessa forma, se garantir a atratividade permanente do espaço. Para além da área expositiva, outras valências no interior do edifício serão palco de diversa programação complementar baseada em pequenas performances e espetáculos de arte performativa. O objetivo é o de manter o espaço da PAC em cartaz submetido a uma programação dinâmica.
Na envolvente, alguns espaços individu-alizados esperam a autorização do Tribunal de Contas para os afetar à A Oficina, entidade a quem incumbirá a gestão de toda a zona edificada. Só após será efetuado um concurso público para atribuir uma área pré-definida como restaurante, uma outra como cafetaria e uma terceira como livraria. Outros espaços, com a particularidade de comuni-carem, simultaneamente, com a Avenida Conde Margaride e com o interior da praça do antigo mercado, serão espaços vocacio-
nados para atividades económicas conota-das com a produção criativa. A praça ao centro terá a particularidade de se constituir como um novo local de usufruto público, pelo que as novas sociabilidades e dinâmicas que daí resulta-rão são esperadas como a alquimia caracte-rística da poética dos espaços enquanto pontos de vivência únicos.
Nesta aceção, a PAC afigura-se também como o prolongamento do imaginário da “praça”, local onde compradores e vende-dores se encontram para trocar produtos. Configura também a ideia de transforma-ção, com uma rutura radical do edifício principal mas guardando a memória da utilidade original do espaço. Pretende-se agora que os encontros ali acontecidos se estabeleçam numa outra linguagem, principalmente numa outra esteira de negócios.
Esgotados os modelos produtivos industriais, as cidades como Guimarães buscam um acerto com a realidade, num campo onde ainda tudo é quase inédito e experimental. A produção económica de ponta já não advém de bens materiais, mas a de conteúdos desmaterializados e tecnológicos de elevado valor acrescen-tado, como a marca, o estilo, a identidade, a imagem e tudo quanto respeite à comuni-cação e à informação. A cultura tornou-se num fator de criação de riqueza, desenvol-vimento e sustentabilidade e parece não haver dúvidas que se trata de um setor produtivo de grande vitalidade, onde se prenunciam grandes ganhos de conheci-mento e inovação.
a multifunCionalidade
148
O facto é que o sistema económico global assiste desde há poucas décadas a um movimento a que foi atribuído o epíteto de cultural turn e que trouxe à cultura uma nova noção coincidente com a sociedade de mercado. Vai assim longínquo o ano de 1947, data em que Theodor Adorno e Max Horkheimer se manifestaram criticamente contra o que apelidaram de “indústrias culturais”, a seu ver, uma intolerável mercantilização da cultura. Contudo, fruto das dinâmicas resultantes do aumento do tempo livre de trabalho, a partir da década de 1970 a expressão obteve novas proprie-dades com o cada vez maior acesso dos cidadãos às atividades culturais. A partir dos anos 1980 a expressão passou a integrar o léxico do Greater London Council para caracterizar atividades culturais que operavam enquanto atividades comerciais. Nessa altura mostravam ser uma impor-tante fonte de riqueza e emprego. Com a propagação das tecnologias de informação, de software e a explosão da internet, as indústrias culturais viram-se invadidas por estas novas formas de criatividade, dando origem ao aparecimento do que hoje é designado por Indústrias Criativas.
É neste contexto que se pode incluir os planos futuros da PAC quando se fala nos Laboratórios de Criatividade. José Bastos, gestor da Oficina recorda o diretório “As indústrias culturais e o emprego
nos países da União Europeia” onde se afirma que “a vida cultural pode tornar-se um serviço público e privado economica-mente rentável, bem como um instru-mento catalisador da identidade e integrador das sociedades”, advertindo ser necessário e “essencial adotar-se uma abordagem nova” baseada em ideias inovadoras e talentosas “para enfrentar a concorrência cultural à escala mundial”. “Isso é o que queremos fazer, sabendo de antemão que não estamos sós e que há dificuldades a enfrentar”.
Os Laboratórios Criativos são a dimensão a que a gestão atribuiu maior atenção na fase de arranque daquele equipamento. Nos gabinetes ali existentes pretende-se acolher profissionais liberais, promotores de novas empresas existentes com um máximo de dois anos de atividade, mas que estejam possuídos de uma ideia inovadora capaz de surpreender na sua aplicação. Por trás da decisão deteta-se uma urgência, a que não é alheia a necessidade de provocar um encontro entre as indústrias mais tradicionais e os jovens em busca de epifanias criativas. Perspetiva-se por isso de um contexto amplo em que a PAC quer também servir de espaço de interligação entre empresários, investidores e gente possuidora desse tempero criativo.
reportaGem
novas formas de Criatividade
149
A primeira experiência aconteceu ainda no ano da Capital Europeia da Cultura com a organização de vários workshops que conseguiram reunir mais de 200 pessoas do norte do país. O cartaz “Talentos 2012”, daí resultante, conseguiu despertar a atenção de 66 jovens. Nessa altura já se perspetivava a ideia de “catalisador” de um “ecossistema criativo” que resul-tasse numa cultura empreendedora suportado por projetos competitivos. Nessa altura percebeu-se que o entendi-mento atribuído à criatividade se centrava, largamente, em produtos desmaterializa-dos. A área de serviços, consultoria e assessoria, constitui-se em dois quintos dos projetos apresentados, ligeiramente superior ao campo de desenvolvimento de produto, praticamente com um terço. Nesta altura já se percebia a existência de um forte pendor para as intenções de investi-mento na área do digital e audiovisual com um quinto das conceções ali apresentadas.
Muitos do “Talentos 2012” tiveram vida curta mas o ensaio serviu, em grande medida, de embrião para o futuro. O potencial estava identificado e a metodo-logia de seleção afirmava-se assertiva. Daí resultou uma estratégia para albergar negócios no futuro de acordo com as necessidades dos promotores que podem assim recorrer a duas circunstâncias diferenciadas de incubação: uma
incubação física, modalidade de ocupação paga. Neste caso são disponibilizados serviços de apoio ao arranque e cresci-mento da atividade e ao desenvolvimento do negócio, sendo o período normal de incubação de 1 ano, podendo o contrato renovar-se por acordo das partes até 3 anos sucessivos. A outra modalidade, classifi-cada como Incubação virtual, também paga, destina-se a não residentes, que pretendem usufruir dos serviços disponibi-lizados pelos Laboratórios Criativos.
A forma de acesso à incubação implica a aceitação da candidatura após avaliação de um júri composto por três elementos designados pela Oficina. Os fatores deter-minantes na escolha prendem-se com o grau de inovação e viabilidade económico--financeira do projeto, competências técnica e gestionária dos promotores, enquadramento dos projetos nos domínios criativos, potencial de mercado, criação de postos de trabalho e contributo para o desenvolvimento regional. Os projetos selecionados para incubação estão obriga-dos a persistir durante dois anos. Esse é o custo a pagar pelo simbólico valor do arrendamento mensal: 100 euros.
É ali, num desses espaços dos Laboratórios que Francisco Brito está a avançar com o seu negócio de comércio de livros antigos e, simultaneamente, a edição fac-similada dos mesmos livros, duas vertentes do mesmos negócio. Eis ali, mais uma vez os dois mundos que se interligam, a arte instituída e o futuro criativo, o passado e o presente. Dedicado à história, seu campo de formação, Brito há muito que procurava um espaço para dar conti-nuidade a um negócio que entrou no ADN da sua família, outrora proprietária da Livraria Lemos, uma das mais importantes
plataformade talentos
150
casas de livros que atravessou várias gerações de vimaranenses. As dificuldades em encontrar um espaço compatível quase que o levava à desistência. Acabou por descobrir a incubadora por mero acaso e agora aí está, pronto para conceber e promover edições, além de gerir, a partir da incubadora, uma plataforma de exposição on-line dos seus produtos.
Há anos que José Luis Ribeiro e a Associação de Ciclismo do Minho incitam o uso popular da bicicleta pelas ruas vimaranenses. Porém, a ideia local da utilidade da bicicleta persiste na sua exclusivamente componente desportiva. A justificação para o pouco uso da bicicleta como meio diário de transporte centra-se na morfologia sinuosa do território e as consequentes dificuldades de locomoção. Paula Mendes e Carla Rocha parecem ter encontrado a solução para um apelo ao uso das duas rodas sem dificuldades de transpiração, podendo o cicloandante sem pedalada recorrer a uma bateria acoplada à bicicleta e que lhe reduz o esforço. A GetGreen foi constituída segundo uma perspetiva inovadora para o mercado com um objeto que apela à “indústria turística e ecológica” e a promoção de “mobilidade urbana em bicicleta na cidade de Guimarães”. A atividade não se confina apenas ao negócio de aluguer de bicicletas a turistas e residentes ocasionais. Pretende também prestar um serviço de estafeta urbana. A ideia explora, desde logo, um estudo que afirma ser a bicicleta “a melhor opção para percursos entre três a cinco quilómetros” para além do seu uso ajudar a manter o corpo em bom estado físico retardando as maleitas da idade. O negócio tem várias extensões como “o serviço de publicidade dinâmica”, a comercialização
e adaptação de bicicletas, o comércio de kits elétricos, etc.
O encontro estabelecido entre as várias ideias ali instaladas tem gerado acrescen-tos aos planos de negócio. Um exemplo: o projeto Lets Go Ó que consiste numa parceria em a GetGreen fornece motrici-dade e Brito desenha o percurso à medida do visitante da cidade. Os Open Days têm como objetivo levar todos os promotores da incubadora a participar numa espécie de feira mensal na área da praça. O hábito de agir em rede faz parte das competências da maior parte dos promotores. É o caso de Oliver Michelangelli e Marta Pinto, promotores da Meraki Tech, parelha que esteve na programação 2012 fazendo parte da comunidade de ideias TEDx. A ideia agora é conceber artefactos (gadgets) eletrónicos com o objetivo de “comunicar através de dados utilizando metáforas visuais”.
A totalidade dos interventores nas organizações incubadas traz atrás de si competências solidificadas. Não se trata da posse de uma licenciatura apenas mas, em alguns casos, de uma vasta experiência profissional. Antes de se propor ao seu projeto em que tenta convencer o mercado das vantagens do uso de materiais susten-táveis ecologicamente, Gisela Rodrigues perorou por várias Câmaras Municipais intervindo numa longa lista de projetos de engenharia. A empresa Making Off tornou--se praticamente numa omnipresença registando em vídeo grande parte dos eventos da CEC 2012. Enquanto ultimam a formatação de 6 terabytes de dados, Pedro Alves e Filipe Leite preparam-se agora para convencer o mercado do valor das imagens.
reportaGem
151
Provavelmente a característica menos observada nos jovens gestores é a crença serena no potencial das suas ideias. André Dias é um web designer e programador crowdfunding. Dirige-se a pequenas bandas aceitando os riscos que outros produtores não aceitariam. Pretende criar uma plataforma para eventos musicais, pales-tras, stand-up comedy. A orientação para a novidade e a experiência da descoberta ocupam o espírito de quem pensa tornar isto melhor. Make it adorable é o lema que guia MIA, como quem diz, Maria e Susana Azevedo. O seu negócio é feito a partir de coisas tão simples como reabilitar e recriar produtos em fim de vida. Qualquer consul-tor organizacional diria que estamos perante uma missão bem definida: tornar útil o que é inútil.
Os tempos ainda são de começo. Qualquer motivo serve para os membros dos laboratórios entabularem conheci-mento e conversa entre si, como se o sucesso de um dependesse o sucesso de todos. Numa sala de reuniões ali existente, onde todos pensam realizar muitos negócios, acontecerá uma espécie de brainstorming mensal, para que a coesão incubada produza efeitos individuais superlativos. Por enquanto, da ampla montra envidraçada que permite ver e ser visto, vai-se notando a necessidade
de abertura da livraria, cafetaria e do restaurante. As poucas pessoas que entrecruzam a praça durante o dia dão contudo uma ideia de futuro daquele lugar.
A noção multifuncional, não só do edifício principal mas também da envol-vente, em busca da diversidade de ativida-des, exprime uma antecipada preocupação com a programação daquela área. Não sendo um equipamento instalado num grande centro, a PAC é, talvez, uma das mais marcantes estruturas construídas em Portugal no século XXI. A sua ousada e, internacionalmente, reconhecida matriz conceptual extraordinária, torna-a numa marca indelével da terceira Capital Europeia da Cultura do país, aspeto que a nivela com outros equipamentos classifica-dos como de interesse nacional, como é o caso da Casa da Música e de Serralves no Porto. O seu verdadeiro desafio é, assim, conseguir convencer os responsáveis nacionais da sua importância na afirmação de Portugal num espaço mais amplo da sua cultural contemporânea.
os tempos ainda são de começo. Qualquer motivo serve para os membros
dos laboratórios entabularem conhecimento e conversa entre si, como se o sucesso de um dependesse o sucesso de todos.
154
À entrada da Fábrica ASA o imenso espaço alisado com um pé direito muito alto, totalmente aberto, sem mobiliário ou outros objetos
a ocupar a visão, esmaga os sentidos de qualquer visitante. Uma área idêntica a meio campo de futebol apresenta-se límpida, à espera de ocupação. É difícil de imaginar que durante mais de um ano, foi quele espaço ocupado por uma torre construída sob patamares querendo com isso expressar a diversidade de idiomas, linguagens, atores, projetos, exposições, conferências, artes plásticas e performan-ces que por ali foram acontecendo durante o ano de 2012. Com o fim da programação para aquele espaço de Guimarães – Capital Europeia da Cultura 2012, a torre babiló-nica desapareceu e, com ela, os linguajares em sonoridades diversas.
E contudo, naquele espaço, artistas e alunos de arquitetura residentes, toma-ram-se de livre espírito e, através de um Laboratório de Curadoria, deram asas à imaginação, literalmente. Na ASA estenderam-se as maiores exposições de Guimarães, Capital Europeia da
Cultura: a transformação da arquitetura, do arquiteto e do “Ser Urbano” de Nuno Portas, a tetricidade das roupas sem corpos movendo-se na “Dança Macabra” de Christian Boltanski, as novas linhas concecionais da comunicação, real ou virtual, físicos ou químicos, observados nas “Emergências 2012 – Novos media”, estenderam um caldo de criatividade num espaço outrora de gestos repetidos e mecânicos. Ali se estabeleceu o espaço de improbabilidades On.Off, onde foram oferecidas experiências inusitadas e práticas culturais menos evidentes.
São os seus responsáveis que o afirmam: a Capital Europeia da Cultura ajudou a colocar a Fábrica ASA no mapa. Por ali se construiu uma Caixa Negra, uma sala de espetáculo para 250 pessoas com salas de ensaios, camarins e balneários e que, depois de servir a CEC 2012, por lá irá ficar a funcionar como um dos centros de atração, neste caso, para a área da cultura. À boleia da mediatização, o espaço espera hoje conseguir atrair projetos de um recorte diferente do tradicional shopping.
Contando com a sua localização, muito
reportaGem
na asa estenderam-se as maiores exposições de guimarães,
capital europeia da cultura
155
próxima do centro da cidade e da facilidade de acesso a transportes públicos, de onde conta com uma estação de comboios, paragem de autocarros praticamente à porta e do acesso direto à autoestrada, as ideias da equipa de projeto que idealizou e reformulou a Fábrica ASA, vão na direção de um denominado “Centro de Atividades Lowcost”. Com uma área total de 24.000 metros quadrados, o edifício da ASA consegue baixar o preço do metro qua-drado e apresentar valores de arrenda-mento incomuns. Uma sala com vinte metros quadrados fica por 80 euros.
O resultado está à vista na reconversão do edifício em três valências: Centro de Negócios, Centro de Lazer e Centro de Cultura. Em pouco tempo o espaço da fábrica conseguiu assim estabelecer uma noção de competitividade a que estão a aderir vários negócios. A área de escritó-rios conta já com cerca de uma vintena de jovens, em geral ainda a frequentar a Universidade do Minho, a tentar negócios na área digital. Por lá vai funcionando uma empresa de leilões online, uma de desen-volvimento de software, jovens advogados
e um investigador de psicologia. Uma outra, a “25th Project” concebe ideias de diversas atividades procurando chamar jovens até si. Uma empresa de danças de salão que ali opera com cerca de 160 alunos, vai agora arrendar uma área de 720 metros quadrados para conceber jantares dançantes em que, geralmente participam cerca de 400 pessoas. Praticamente a nascer está uma área de Indoor Soccer que vai ocupar um espaço de 2700 metros quadrados e proporcionará a prática de futebol em piso sintético.
Marinela Coelho, gestora do quotidiano do espaço ASA vai notando um aumento nos contactos de procura de áreas para novos negócios. O espírito de aventura, a noção de mudança conceptual da Fábrica ASA e a dinâmica imposta pela necessi-dade andam por ali.“Sente-se que as pessoas têm ideias e vontade mas o receio e o medo acaba por tolhê-las” levando-as a adiar os seus propósitos para um momento futuro mais propício.
em pouco tempo o espaço da fábrica conseguiu assim estabelecer
uma noção de competitividade a que estão a aderir vários negócios.
157
A atividade de lazer vai-se mostrando também. Uma exposição de carros clássi-cos, uma feira de artesanato, atividades de apelo como o “Mercado Urbano” em que moda, concertos e produtos gourmet casaram e uma Feira de Stocks com descontos a chegar aos oitenta por cento, entre outras ocorrências, vão realizando o apelo à curiosidade, tentando criar hábitos de visita ao local. Na área que se popularizou como o On.off, perspetiva-se agora uma galeria de arte. Aí se espera que jovens pintores possam ter e explorar a difícil e, por vezes impossível, primeira oportunidade.
Serenamente, a Fábrica ASA vai entrando no novo quotidiano, cada vez mais longe das grandes unidades fabris que caracteri-zaram o tecido económico e ocupacional vimaranense. Enquanto aguarda a chegada de alguns negócios âncora, orientados por agências de procura de investidores, os seus responsáveis avançam também para alterações estéticas. Um projeto em decisão vai agora ocupar-se da caracterização e humanização do espaço. Mantendo os marcadores museológicos, em que
máquinas e antigos artefactos de produção expressam a memória passada, o átrio central, a que se alude no início deste texto, vai receber um ajardinamento modulável, capaz tanto de definir percursos com sentido, como de proporcionar alterações para exposições. O objetivo é de conceber “elementos de repouso, ou conversa”, criando o efeito de sociabilidades de espaço público naquele interior. A coloca-ção de “baloiços recreativos” e a ocultação dos pontos menos nobres das fachadas, recorrendo a revestimentos em tecidos de várias cores, obedece à uma noção de mistura comunicativa para acolhimento e fruição da Fábrica ASA como uma novidade permanente.
a área de escritórios conta já com cerca de uma vintena de jovens, em geral
ainda a frequentar a Universidade do minho, a tentar negócios na área digital.
160
a pesar de nunca ter sido escrito, o CAAA – Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura é, para o mais conservador dos nativos, uma
espécie de extra terrestre. Não raras vezes, o pedido de informação de quem anda à sua procura identifica-a como “a fábrica preta” o que, desde logo, revela uma machada no imaginário da “fábrica” local, no passado, edificado sob colorações clarificadas, em geral, caiadas de branco. É provável que a negritude do seu edifício--sede, situado na Caldeiroa, em pleno centro da cidade de Guimarães, siga também a proposta de Daniel Blaufuks, uma reflexão sobre o esquecimento e o abandono da fábrica enquanto local de produção de sentido.
Há um elo de ligação entre Ricardo e Rodrigo Areias e o edifício fabril que decidiram transformar e usar como ponto de partida para as coisas da arte e arquite-tura. Os dois irmãos são netos do fundador da Fábrica ASA, acrónimo de Agostinho da Silva Areias. Toda a narrativa da fábrica lhes é presente no imaginário familiar. Por isso mesmo, talvez a opção por um espaço de origem fabril para darem largas à instalação de um tipo de atividade pouco ou nada imaginado por privados vimara-nenses, tenha o seu quê de romântico.
Exatamente pelo seu cariz romântico, o CAAA “faz sentido enquanto fizer sentido”,
refere o seu diretor Ricardo Areias. Trata-se de um tipo de projeto cuja existên-cia “terá de contar sempre com apoios públicos”. A renda do edifício custa dinheiro e as possíveis parcerias com entidades públicas, além de escassas, revelam velocidades por vezes não consen-tâneas com as oportunidades. É assim que, apesar de uma parceria com o Instituto de Design através do departamento de artes performativas, limitada na decisão pela burocracia do estado, acabou por atrasar os planos iniciais. Todavia, Rodrigo Areias confessa: “não podia continuar à espera e decidi comprar uma grua, algo muito necessário para quem quer filmar. Agora falta pagá-la”. Convém esclarecer que uma grua para filmagens é uma espécie de matéria-prima que pratica-mente só se encontrava em Lisboa.
Aliás, em Portugal cumpre-se um ritual em que “só tem apoios privados quem tiver reconhecimento pelas instituições esta-tais”. Trata-se de um paradoxo com as sociedades europeias onde, “quem deter-mina a existência de apoios estatais é o reconhecimento privado”. Recentemente a Direção Geral da Artes reprovou apoios à atividade CAAA, obrigando, em conse-quência, à alteração da sua programação para o ano de 2013. Cumprindo-se a regra, os mecenas complementares, fruto dos tempos atuais, deixaram de existir.
o caaa faz sentido enquanto fizer sentido. trata-se de um tipo
de projeto cuja existência “terá de contar sempre com apoios públicos”.
riCardo areias, responsável do Caaa
reportaGem
161
Em 2012, o CAAA realizou uma parte da programação da Capital Europeia partici-pando na dinâmica criativa que envolveu os vimaranenses. A sua presença no mapeamento da programação da cidade adquiriu uma visibilidade tão grande que a tornou numa estrutura referenciada. Hoje começa a sentir-se um tanto à margem. “Faz sentido que haja uma entidade a promover o sentido geral” mas sente-se um “benefício orientado para as estruturas municipalizadas que não ajuda a alavancar a criação de privados”.
Um exemplo é o “Guicul – Guimarães, Arte e Cultura”, edição que se propõe reunir e congregar informação ao nível de “um projeto de futuro, um projeto de cidade”. No seu número apresentador o Guicul anuncia-se como a “reformulação da imagem gráfica da programação cultural”, isto é, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes e da Criatividade, Central de Criação de Candoso e Black Box da Fábrica ASA. Ricardo Areias acha que tal não ajuda à inclusão de privados. Um visitante que tenha o Guicul nas mãos não fica com a informação cultural total da cidade de Guimarães. “Temos uma extraordinária relação com a Oficina. Não nos podemos queixar de absoluta-mente nada e sempre nos ajudaram em tudo o que necessitamos. Mas a gestão do Guicul devia ser um mapa de inclusão
e não de exclusão. Devia ser o mapa integrado da cultura da cidade”.
Em 2013 o CAAA recebeu eventos do Guidance “mas não absorveu nada dos Festivais de Gil Vicente”. Esse é um dos indicadores de que o momento atual revela-se ainda incaracterístico. Vive-se um “período de descompressão” e ainda não há “um posicionamento claro, um plano definido para o pós-Capital Europeia da Cultura”. Todavia há um ativo fortale-cido resultante de 2012, um espaço de “ambiente aberto e de reforço da boa vizinhança entre as associações e os operadores privados”. Por isso respeita-se o espaço de cada um, “não nos interessa concorrer com o Cineclube, Convívio ou o CAR, mas as coisas podem ser mais coordenadas”.
Contribuindo para esse espaço com valências diferenciadas das habituais, continua a decorrer a catalogação da sua biblioteca especializada em arquitetura, uma oferta de Yehuda Safran, um antigo professor de Ricardo na Universidade de Columbia em Nova York. Trata-se de um espólio especializado em arquitetura que ficará acessível para consulta a qualquer investigador externo.
a gestão do guicul devia ser um mapa de inclusão e não de exclusão.
devia ser o mapa integrado da cultura da cidade.
riCardo areias, responsável do Caaa
162 reportaGem
bairro ConCeição estiGma e redenção de um bairro soCial esser JorGe silva
pa
ulo
pa
ch
ec
o
164
u ma semanas antes do natal de 1978 chegou a notícia em forma de presente no sapatinho: a Câmara Municipal de Guimarães
iria assumir junto de empresa Bernardino Jordão & Filhos, Lda. a resolução de um problema com a ligação elétrica na então novel Urbanização da Conceição. E assim entre Dezembro e Janeiro de 1979 muitos casais rumam para a sua nova casa nos terrenos onde outrora existira o muito vitoriano campo de futebol da Amorosa. Por essa altura não há dia que camiões de vários portes atraquem à porta das entra-das dos prédios cheios de pertences maís díspares e inverosímeis. A luz elétrica chega apenas às habitações. Durante muito tempo as entradas e as escadas viverão às escuras. E os elevadores só entrarão em funcionamento uns dois anos depois.
De tanto subir e descer, acarretando móveis e demais tralhas, num esforço glorificado, a memória fixou, para sempre, aquele dia. É uma contagem inesquecível: do rés de chão ao sexto andar percorrem-se setenta e dois degraus. Fixei a conta para sempre, mais de cem subidas e descidas, numa incrível manhã de sol de inverno e jurei que um dia o escreveria um texto
sobre o tema. Por cada vez que vencia a estafada escadaria, crescia-me o sentimento de urgência em habitar uma casa nova. A estrear. Como acontecia à maior parte dos moradores nunca nos tinha acontecido estrear uma casa a cheirar a cimento fresco. E aí estávamos nós, no meio de desconhecidos, cantando como Vinício de Morais “começar de novo, vai valer a pena”.
Marquei o que havia de ser o meu quarto aquele que tinha a melhor vista para o estádio do Vitória, um privilégio. Olhei a encosta da Penha horas seguidas adap-tando o olhar às novas configurações. Os primeiros dias foram de uma estra-nheza ambivalente. Havia pouco movi-mento no prédio, quase nenhum nas ruas. Mas pouco tempo depois éramos muitos, à data entre os 12 e os 16 anos, a procurar o estabelecimento de laços e afinidades. Formaram-se grupos, ora por solidariedade etária, ora por interesses culturais, ora por ambições desportivas, ora pela lógica política, ora por motivos inconfessáveis. Pouquíssimos moradores tinham carro e por isso as ruas entre os blocos serviam para jogar futebol. “Velhote” Virgílio, morador vindo do “Ferroviário” de Angola, tinha um Fiat ao serviço da malta cujos faróis faziam de poste de iluminação quando a noite caía. Com ar de sábio e pose à José Maria Pedroto, foi ele a impulsionar o futebol de bairro.
Em 1980, treinados por Alfredo Rodrigues, o ainda júnior mas já consa-grado “Laureta”, os “Admirados FC”,
reportaGem
uma Juventude inquieta
165
efémera organização e invenção deste escriba, patrocinada e excelentemente vestida pelo Stand Clemente, venceu o torneio de verão e, assim, uma boa dúzia de nós foi “captada” para os quadros juvenis do Vitória de Guimarães. A falta de jeito tirou a maior parte de lá. Antes, contudo, já tinha nascido o Grupo Desportivo da Amorosa que, no primeiro torneio em que entrou, venceu-o. Aconteceu em S.Lourenço de Selho em 1980, contra o Lameiras. Três a um foi o resultado final após prolongamento. Armando, Branco, Chico Martins, Tó “Cambuta”, Cerejo, Carlitos, Sereno, Nono, Joaquim Pereira, Berto Laureta, Germano, Mendes Cantonha são alguns dos heróis. Toda a Conceição rejubilou com o feito “dos nossos rapazes”. Houve festa noite dentro. Ganha-se confiança e todos mostram o seu íntimo. Por esses dias o mecânico Sereno enchia-se de brios para com o bairro, “temos de constituir umas brigadas vermelhas do bem para defendermos as nossas mulheres”. Um ano antes o italiano democrata cristão Aldo Moro tinha aparecido morto depois de um sequestro das brigadas vermelhas. Do mal, é claro.
Alguns, como Paulo Santos, insistem na carreira futebolística, mas nem só o futebol ocupava a malta nova. A equipa de basque-tebol do Xico d´Holanda ganhou altura com o Batista e a técnica do Luís Fininho. Enquanto se apaixonava pela matemática Vítor Mariano reforçava o andebol do Vitória. Zé Arquiteto, antes de o ser, era andebolista do Fermentões. Paulo Silva
debutava na equipa de basquete da Coelima, uma invenção do “Baquecas”, filho de Francisco Coelho Lima. Muitos anos antes de traduzir autores como Paul Auster, Joaquim Alberto Gomes inicia uma carreira nas letras traduzindo a revista Bravo para os seus amigos futeboleiros e assim aprender alemão.
No verão, à noite, o calor dentro das habitações era insuportável, o que obrigava a sair de casa. À porta dos prédios junta-vam-se muitas conversas com interesses diversificados. Faziam-se as primeiras descobertas dos sentidos. Sondávamos estrategicamente a recetividade das instituições da cidade, desde o Círculo Arte e Recreio, o Académico de Guimarães, passando pelo Cineclube. Uma fase da criação da Juventude Socialista que havia de animar a política vimaranense durante alguns anos deu-se numa festa de aniver-sário aí realizada. Aos sábados de manhã as gémeas Capela passaram a emitir música diretamente da sua sala para todo o bairro: Earth Wind & Fire, Abba, Modern Talking e Imagination, ocuparam, para todo o sempre, o top dos despertadores violentos.
Durante os primeiros anos da urbaniza-ção alguns pais insistiam com os filhos para estes realizarem festas e convidarem os amigos. Os mais velhos punham subtilmente a sabedoria em prática. Dona Luísa mandou comprar uma bola de cristal e luzes psicadélicas que escurece-ram todas as festas. Vendeu-a o Adérito da Rádio Adérito que aproveitou o embalo
166
e casou com a Zita, irmã do Nelson do segundo bloco. Senhor Belo apresentou--nos um homem à sua maneira, Frank Sinatra, New York, New York, um balançar lento de quadris pouco afastados. Senhor Manuel punha a memória a discorrer todos os filmes por si vistos em Angola. John Waine, Kirk Douglas, Jack Palance e Dean Martin eram recordações portentosas. Nós, os jovens, retribuímos com Barclay James Harvest, The Moody Blues, Percy Sladge, John Lennon e os incansáveis Joe Cocker e Jennifer Warnes e Up We are Belong que formavam imagens de Richard Ghere e Debra Winger. Ali se formavam também oficiais e cavalheiros. Não havia festa sem Gilda, a maior excelência na doçaria cuja receita nunca foi revelada por Dona Margarida, mãe da Sónia e da Tinó. Com tais mimos, muitos alunos das escolas secundárias exteriores ao bairro, enlaçados na amizade, passaram a frequentar a Conceição.
Alguns grupos mais heterogéneos começaram por organizar as comemora-ções do 25 de Abril. No primeiro ano das festas questionámos um dos organizadores por insistirem na música de “combate”. Para nós, em 1982 já não fazia sentido continuar a ouvir Tino Flores em vinil declarando que “Isto só vai à porrada”. Claro que já todos tinham percebido a presença organizadora do Partido
Comunista mas tal era aceite natural-mente, ainda mais porque havia mesmo atividades variadas. A festa de S.João foi um ponto de instituição popular nascida dessa capacidade de organização comu-nista. Nos primeiros anos teve direito a grande fogueira e a saltadores nos terrenos onde hoje se ergue o pavilhão do Xico. Enquanto a fogueira se consumia, alguns congeminavam a ideia de construção de um ringue nesses terrenos. Não nasceu o ringue mas os que o imaginaram funda-ram a Associação de Moradores da Amorosa.
Com uma anormal capacidade obreira, a Associação de Moradores construiu o Convívio, local onde era suposto os moradores se encontrarem. De uma assentada, durante um fim-de-semana, os fundos de parte do segundo bloco foram fechados, apropriados e tornados território dos moradores. Aí passa também a ser a sede do Grupo Desportivo da Amorosa. Um café e uma mercearia serão os ativos e a sustentação económica da Associação. Alguns moradores revêm-se nesta organi-zação mas a maior parte não concorda com a informalidade instalada. Aos poucos o Grupo Desportivo da Amorosa passa a confundir-se com a Associação de Moradores e praticamente deixa de funcionar. Há também uma biblioteca onde se pode ler, em exclusivo, quase toda a obra marxista.
“a construção do quartel dos bombeiros em 1988, do pavilhão do Xico em 1989, a expansão da Urbanização da Quintã, do club de ténis, do centro de saúde
reportaGem
167
É aí, num exíguo espaço, que em 1985 nasce a Rádio Guimarães, um dos mais bem conseguidos projetos de rádio tentado em Guimarães. Vinga por praticamente transmitir tudo em direto, recorrendo à Banda do Cidadão (CB), o que, num tempo em que não havia telemóveis, obrigava ao transporte de um emissor com uns dez quilos às costas. Para a Urbanização da Conceição confluem vários jovens ansiosos por qualquer coisa. Neste espaço de uns 12 metros quadrados, cruzam-se Bento Rocha, Luís Cirilo, Miguel Larangeiro, Paulo Santos Pinto, Alberto Gomes, Dino Freitas, Paulo Silva, Jorge Händel, António Dourado, José Paredes, Pedro Guedes, Carlos Cerca, Sílvia Fernandes, Paula Vieira e Brito, Isabel e Cristina Rodrigues, Amadeu Portilha, Teresa Portilha, Júlio Nunes, entre outros. A Rádio Guimarães é também a Conceição a tentar arrastar a cidade para si. Todavia, poucos meses depois, um plenário provoca uma cisão e a Rádio Guimarães dá origem à Rádio Santiago. Um ano depois uma nova cisão dá origem à Rádio Nova Guimarães. A Rádio Guimarães morreria definitiva-mente com o processo de licenciamento.
Os moradores que acederam à posse de uma casa na Urbanização da Conceição eram à data, traços largos, casais jovens, com filhos (em geral mais de dois), operá-rios e funcionários públicos de baixas qualificações vivendo de assalariamento. Em Guimarães da década de setenta do século passado a construção era raríssima. Famílias aglomeravam-se nas casas dos pais, também essas sem condições. Um apartamento tipo 3 chega a ser arrendado por 4.500 escudos. A maior parte ganha o salário mínimo de então (em janeiro de 1979 é de 1.106 escudos e 40 centavos). A origem destes moradores é diversa: grande parte são pessoas que habitavam o edifício onde hoje é a Pousada da Oliveira. Outros vêm de habitações precá-rias da Zona de Couros, Rua Nova, Trás-de-Gaia e Praça Santiago. Uma grande fatia é gente retornada das ex-colónias, pessoas que antes viviam em hotéis e pensões e expensas do Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais (IARN). Outros, pura e simplesmente, são casais de áreas rurais remediando em divisões precárias na casa de familiares.
da amorosa e do Quartel da polícia, impuseram novos fluxos e novos ritmos
que levaram a cidade a engolir e a naturalizar a Urbanização da conceição”.
os “estranGeiros da Cidade
168
O concurso público deixa muita gente de fora. O senso comum não entende e critica a entrega de casas a ciganos. Vem daí o rebaixamento popular a que é submetida a urbanização que ganha o epíteto de bairro dos jagunços, o que faz emergir um preconceito quase generalizado. Aparecem estórias mirabolantes de ciganos vivendo com animais dentro de casa, salgando porcos em banheiras e cozinhando nos quartos por não saberem da utilidade da cozinha. Fala-se, apesar de nunca se ter visto, de habitações com cinquenta, e mais, pessoas. Institui-se a ideia de cuidados redobrados com crianças, pretensas vítimas indefesas dos ciganos. E contudo, certo dia, foi a família do velho cigano Mau-Mau que, vendo a casa de um vizinho inundada e não o conseguindo contactar, arrombou a porta, fechou a torneira, escoou a água e colocou uma série de aquecedores no interior a secar a alcatifa do vizinho. Francisco Assis, o “Tira” para os amigos, uma das primeiras pessoas a sucumbir à paramiloidose – vulgar doença dos pezinhos-, contará esta estória vezes sem conta aos amigos.
Apesar da inveja e da aparência esplen-dorosa, a urbanização da Conceição tinha os seus problemas. Coexistirá muitos anos com o esqueleto do centro e saúde da Amorosa. A luz das suas ruas será sempre uma iluminação de penumbra. O lixo
constitui uma odisseia desconhecida e revela a viragem civilizacional nos anos seguintes. Os prédios até tinham previsto um sistema bastante cómodo para o morador. Bastava ir ao seu patamar e fazer submergir o seu lixo por uma conduta abaixo. Cá um baixo um reservatório esperava pela recolha. A primeira e última recolha de lixo verificou-se ao fim de cinco anos. E aconteceu porque algumas paredes de alguns apartamentos no rés-do-chão começaram a humedecer, brotando líquidos estranhos com cheiros pestilentos. Seladas as condutas de envio do lixo por afundamento, ficou também impedido que algum indigente inimputável, como era o caso da família Vigairo, cuja mãe Vigaira, para se certificar da eficiência da conduta, por lá meteu seu filho Passarinho, esse mesmo a quem a beleza infantil que o moldava, levou, para além do treinador José Maria Pedroto, meia cidade de Guimarães a tentar mudar-lhe, sem êxito, o destino traçado à nascença. Passarinho haveria de mergulhar nas profundezas da sua sorte morrendo de uma overdose.
Porém a conduta do lixo desenvolveu também o seu papel na construção social do bairro. O seu uso confundiu à partida quem a ela não estava habituado. Por isso não constituiu surpresa ver uma senhora despejando aí, diretamente, uma panela de sopa. Ou verificar a introdução lixos
reportaGem
169
não acondicionados em sacos plástico. Alguns moradores, outrora habituados a conviver em prédios em altura, refeitos da surpresa, foram passando as suas experiências aos vizinhos que estavam habituados a uma vizinhança de porta aberta. Aliás, durante algum tempo insistir na manutenção de um patamar limpo foi uma aventura impossível de explicar a quem queria instituir o hábito de usar as escadas como ponto de conversação em altura, literalmente.
À época, vários pensadores da cidade gastam algum tempo a teorizar sobre o perigo de uma urbanização do género. Em questão está a opção por se canalizar para um único local indivíduos desqualifi-cados, humildes e sem objetivos. Ver-se-á que tal era uma premissa inexistente na medida em que se caracterizava a pobreza como um indicador possuído de certas características já determinadas. Um erro, claro. A verdade é que na Urbanização da Conceição se irão juntar vários níveis de pobreza, alguma exclusivamente material. Esta última, porém, não se sobrepõe à riqueza que emergirá das diferentes proveniências sociais. Nem tão pouco da riqueza que os moradores farão sobressair das suas relações do dia-a-dia. Casais jovens “bebendo” a mudança democrática e objetivando novos horizontes juntam-se a indivíduos com experiências trazidas
de África envolvendo os moradores mais humildes. Esta é a receita que brotará a alquimia das relações na Conceição.
Um outro fator será determinante na formação social da Conceição: no imediato a cidade de Guimarães não adotou a Conceição como parte. Dificilmente os responsáveis pela cidade irão até ali. Construída nos limites da Freguesia de Azurém, mais próxima de Fermentões, de Creixomil e do centro da cidade (Freguesia de S.Paio), os moradores têm de fazer um percurso atípico em direção à periferia para chegarem à sua Junta de Freguesia que fica a uns cinco quilómetros de distância. A envolvente do estádio é miserável e até cobras podem ali ser encontradas. À sua volta existem montes e campos cultivados com milho. Em boa verdade, a urbanização situa-se num espaço com traços não urbanos. Para consolo espiritual os moradores demoram a perceber onde levar a alma. E, principal-mente, o corpo na hora da morte. Uns vão para a igreja de Santa Luzia, outros procuram a capela de Nossa Senhora da Conceição. Poucos, ou quase nenhuns, passarão a frequentar a igreja da Misericórdia junto ao Hospital, afinal, o templo indicado como sendo o adstrito ao bairro. A construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, um templo de linhas modernistas, com alguns traços
170
pós modernos, da autoria do arquiteto António Fernandes da Silva, acabará por ter um papel fulcral na realização comuni-tária dos seus moradores, não tanto para satisfação em vida mas principalmente para consolo na hora da morte.
Para além da relação administrativa e espiritual, o espaço delimitou a urbaniza-ção durante alguns anos. Não se pode falar em segregação mas, na verdade, para aí chegar é necessário atravessar um imenso e inóspito descampado. Estudantes noturnos sentem o profundo desconsolo invernal dessa travessia. É uma fronteira bárbara aquela que delimita a cidade da não cidade. A inexistência de construções e de fluxos que levem a população da cidade à Conceição deixa-a a viver consigo. Nos anos de início, os moradores são obrigados a procurar a cidade como um outro destino territorial. Percebem com facilidade que a urbanização não tem nada a oferecer à cidade.
Os primeiros sinais de mudança e de integração da Conceição acontecem quando a estrada de saída para Braga deixa de ser pela então rua de S.Gonçalo para se passar a fazer através da rua (ou estrada) paralela à Urbanização da Conceição. A construção do quartel dos bombeiros em 1988, do pavilhão do Xico em 1989, a expansão da Urbanização da Quintã, do Club de Ténis, do Centro
de Saúde da Amorosa e do Quartel da Polícia, impuseram novos fluxos e novos ritmos que levaram a cidade a engolir e a naturalizar a urbanização como parte integrante do centro urbano. Tristemente, quando se verifica a integra-ção desejada desde o início, dá-se o paradoxo das consequências. A integração do bairro na geografia urbana será mais nefasta do que benéfica.
A decadência de uma urbanização não acontece de um dia para o outro. Acontece por um processo de abandono, desleixo e desinteresse ao longo dos anos. A Conceição teve de tudo um pouco desde o seu início. Construído pelo Fundo Fomento da Habitação (FFH), instituto estatal sem representação local, a Urbanização da Conceição viveu sempre sem saber muito bem quem eram os seus proprietários. Extinto em 1982, o FFH não deu lugar a nenhum substituto imediato, o que levou
reportaGem
“atualmente os parques de estacionamento entre os blocos
não chegam para tantos automóveis.
viaGem pela deCadênCia
171
alguns moradores a não saberem a quem se dirigir para pagar as suas rendas. Só em 1987, com a criação do IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado) é que os inquilinos passaram a conhecer o senhorio. Contudo o senhorio interessou-se quase nada pelo seu património. À parte a fase inicial em que algumas infiltrações foram arranjadas pelo ainda FFH, o IGAPHE jamais se interessou pelo estado dos prédios. Só a legislação levou a entidade pública a proceder ao arranjo dos elevadores, único ato que se pode registar como uma obriga-ção do senhorio aí acontecida nestes anos. Do resto, foi só esperar para que o tempo marcasse a sua passagem em sinais de degradação bastante visíveis. Nos últimos tempos, após a queda de partes das paredes, eram visíveis os ferros enferruja-dos da estrutura. A maledicência chegou a especular que a decadência era premedi-tada por ofertas feitas por empreiteiros, para ali construírem prédios de luxo, deslocando a população residente para outros bairros sociais fora do centro urbano.
As rendas das habitações situam-se entre os 2,10 e os 20 Euros e resultam dos valores inicialmente contratados. Nunca houve qualquer atualização, não se sabe se por indisponibilidade dos inquilinos ou se por falta de exigência do senhorio. Dito
de outra forma, a urbanização deixou de exigir a si própria desde o seu início. Habituados à ideia de “casa” os moradores não se apercebem da necessidade de instituição de regras de funcionamento. Na melhor das hipóteses os residentes de cada patamar tentam organizar a limpeza, a substituição de lâmpadas fundidas. Mas há sempre alguém que se desinteressa e os espaços de uso comum entram em degradação acentuada.
A ausência do senhorio deixou a autar-quia numa circunstância de não poder atuar. Com o passar do tempo, a degrada-ção acentuada foi ocupando o espírito dos moradores. O espaço público tende a acompanhar a degradação do espaço privado. Paradoxalmente a naturalização do espaço como parte do centro urbano, colocando a sua presença nos fluxos citadinos de passagem dos cidadãos retirou-lhe identidade. Os seus jovens deixaram de querer ser parte das institui-ções e clubes da cidade. Não experimenta-ram o papel de “estrangeiro” que a primeira geração de jovens tinha sentido. Desaparecera a vontade de integração e de construção de um espaço coletivo. A integração urbana, no caso dos jovens outrora irmãos mais novos, era agora total e não questionada. Passaram a usufruir a naturalização da Urbanização da Conceição sem noção do “outro”.
por aí se verifica que o bairro se estratificou internamente com alguns moradores a
ascenderem na capacidade de consumo”.
172
Mas ainda assim, o estigma dos Jagunços persistiu. Qualquer denúncia de um acontecimento negativo aí acontecido tinha uma ampliação noticiosa maior do que um outro local. Para além disso, um qualquer acontecimento negativo na Conceição era tido como sendo um acontecimento do lugar. Diferente de um acontecimento negativo num outro local da cidade, tido como um acontecimento exclusivamente fruto da ação do agente que lhe dera lugar.
A droga chega à Conceição ao mesmo tempo que se estende por toda a cidade. Ao mesmo tempo que chega a todas as cidade. Muitos jovens sucumbem. Irmãos mais novos dos primeiros jovens do bairro são marcados pela polícia. São feitas rusgas e revistas. Um charro com mais gramagem do que a consentida pela lei, encontrado num carro, fará de alguns destes jovens criminosos. Presos, alguns ficarão marca-dos para sempre como um ferro marca o gado. Estigmatizados, passarão a consti-tuir uma população que impõe a atenção das autoridades. Nos últimos dez anos, quem por vezes visitasse a Conceição, deparava muitas vezes com homens de pé lendo um jornal. Era a Polícia Judiciária que acreditava estar num território de negociação e tráfico de droga na cidade.
Os mais velhos sentem pesadamente o desnorte do seu território. Antes mesmo
da vereadora Ermelinda Oliveira mandar gravar na pedra a mudança de “urbaniza-ção” para “bairro” já os seus moradores se tinham acantonado na vergonha. O estigma encolhe as pessoas. Os mais velhos passam a esconder-se em casa e o espaço público apenas serve para passa-gem. As conversas desaparecem e são os silêncios que predominam. A solidariedade de vizinhança mantém-se presente nas relações dos mais velhos mas os mais novos desligam-se da realidade de bairro em busca de relações deslugarizadas. De todo não se revêm numa realidade de bairro mas sim numa realidade urbana.
Atualmente os parques de estaciona-mento entre os blocos não chegam para tantos automóveis. Por aí se verifica que o bairro se estratificou internamente com alguns moradores a ascenderem na capacidade de consumo. Algumas situa-ções derivam das melhorias das condições familiares. Nestes casos os progenitores adquiriram novas habitações noutros locais da cidade cedendo o apartamento da Conceição aos filhos ou outros familia-res. Outros, na hora da saída, mantiveram a posse da habitação, arrendando-a ao melhor preço, ou instalando alunos da Universidade do Minho que apresentam como familiares. Nem sempre se pode continuar a falar de habitação social quando se está a falar da Conceição.
reportaGem
173
É assim que muitos dos que hoje ali vivem não conheceram o espírito inicial do estrangeiro. A transformação do “outro” em indígena. Do esforço dos jagunços, dos pretos, dos brancos, dos pobres, dos remediados, dos velhos e dos jovens que vieram povoar a cidade fundindo atitudes e comportamentos diversos. Não conhe-cem a identidade produzida pela urbaniza-ção através da riqueza que só a alquimia das mesclas sabe cozinhar. Não experi-mentaram o orgulho dos iniciantes e só conheceram o estigma do presente. Não contactaram com o esforço da construção de relações e só conseguem vislumbrar as disfunções que o preconceito instituiu.
Em junho de 2011, a imprensa trocou as voltas a Ermelinda Oliveira e voltou a atribuir o estatuto de “Urbanização” à Conceição. Uma intervenção profunda nos prédios permitiu capturá-los à decadência e trazê-los à condição de habitabilidade moderna. Como explicava um construtor civil, vestiram um casaco de quatro centímetros de espessura à volta de cada prédio, melhorando-os totalmente.
Doravante a temperatura exterior não entrará para o interior e a amplitude térmica não entrará em extremos. As paredes voltam a apresentar-se condig-nas. Varandas, marquises, janelas e persianas condizem. Há campainhas que tocam e as portas já não são de verde-apro-ximado-ao-que-se-julgava-ser-o-original. As ruas voltaram a ter ordem. Enquanto de espera que a relva cresça, as zonas envolventes passaram a ter jardins dese-nhados. Desapareceram os choupos que tanto polenizavam a vida dos moradores e apareceu uma arborização diversificada, luxuriante e bem tratada. Quando cai a noite um mar de luz amplia as cores da Conceição.
Quando as novas cores surgem por ali, a invisibilidade a que fora submetida o bairro dos jagunços dá lugar a olhares namoradeiros de espanto e admiração. Nesse momento deu-se uma inversão de sentido e a cidade cultural, curiosa e descomprometida, saiu do centro em direção à Urbanização da Conceição. Uma população que nunca ali havia entrado, surgiu encantada em visita ao novel bairro. A transformação do espaço desleixando em área com estética cuidada, agradável às vistas e convidativo para qualquer transeunte, começou a povoar as cabeças que antes apenas ali viam um “antro de droga”, um local a evitar a todo o custo.
o efeito aGatha
174
E contudo, apesar de todas as benfeito-rias materiais ali realizadas, foi uma ação imaterial que catapultou os espíritos para alturas onde estrelas e nuvens se juntam para dar forma a um novo mundo aos moradores. Apesar que, de todo, não foram as formas impressas por cima do cor-de--rosa tradicional daquela urbanização as principais responsáveis pela explosão de auto-estima. Foi a Agatha, petit-nom tu cá, tu lá, com que os moradores passaram a designar a autora, Agatha Ruiz de la Prada, que através do arrojo espetacular derrotou a burocracia que enevoa os dias e pensa ter uma solução sempre impressa num regulamento. Foi a sua existência feita de cores descomprometidas, flores imaginá-rias, corações encarnando paixão e o azul celestial, a sua assinatura e a sua mundiali-zação que levantaram o astral dos morado-res da Conceição e os levou até às nuvens tornando-os estrelas.
Com algumas pinceladas, literalmente, resolveram-se uma série de problemas, capturou-se a atenção, e até o Google já regista a Urbanização da Conceição como lugar do mundo. A ideia nasceu na Lameirinho, empresa associada à estilista. Até nesse aspeto a realização na Conceição é extensível à realização empresarial de Guimarães. Trata-se de um encontro entre público e privado, arte e requalificação, social e empresarial, numa conciliação que
tem tanto de corajosa como de surpreen-dente. Eis aqui um plano que merece ser estudado e replicado várias vezes. Se o concelho vimaranense escolheu uma íntima ligação com a cultura e indústrias criativas para a sua realização futura, é provável que, na prática, tal tenha come-çado na transformação de um decadente bairro numa muito orgulhosa “urbaniza-ção, a mais bonita de Guimarães”, como dizia a estilista no meio de um inebriante entusiasmo.
A riqueza imaterial ali colocada pela artista nunca foi quantificada. Para além de ter sido assumida por uma entidade privada, o seu valor ganhou expressão superlativa dadas as consequências altamente positivas. Mas, a intervenção materializada, a cargo do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, entidade herdeira do IGAPHE, não deixou de apresentar as suas contas, alardeando o gasto de 2.263.999,98 euros no arranjo dos 366 fogos constituintes dos quatro blocos habitacionais, uma “média de 6.556,94 euros por fogo”. Nada impedia a entidade proprietária do bairro em continuar a sua contabilidade e referir-se ao gasto por ano e por fogo, nesta intervenção: 204,90 euros. O IHRU podia continuar, infinitamente, a apresentar contas: em 2011, este valor correspondia a 41,8% do salário mínimo, o que quer dizer que, se tivesse feito uma
“(…) Vestiram um casaco de quatro centímetros de espessura à volta de cada prédio,
melhorando-os totalmente. as paredes voltam a apresentar-se condignas. Varandas,
reportaGem
175
intervenção em 1990, ano e-m que o salário mínimo era de 174,57 euros, esse montante seria, efetivamente, de 72,97 euros. Quer dizer, 32 anos para intervir num bairro social, furtando-se às suas obrigações legais enquanto proprietário, é um exa-gero. E, provavelmente, a felicidade nem é assim tão cara. Basta ter imaginação.
Três décadas depois, talvez a cidade olhe para a Conceição como parte de si. É também provável que “ser dos jagunços” transporte agora uma nova conotação. Pelo menos nos dias 24 e 25 de junho de 2011, logo após a reinauguração do bairro, vários vimaranenses do centro urbano resolveram ali passar a noite comendo sardinhas e ouvindo Israel, o cantante, coqueluche que não renega as suas origens ciganas, o novo herói da Urbanização. Pela primeira vez em muitos anos desloca-ram-se ali responsáveis autárquicos em catadupa. A Associação de Moradores voltou a organizar a festa de S.João. Os irmãos Nono e Germano voltaram a cantar. O Arruda Bar animou-se. Houve festa, bons vinhos e sardinha assada.
Um ato não é a eternidade. Os moradores sabem-no. Agora que o espírito se elevou e a estima está em cima, gostar do território voltou a ser moda. Prometem-se vigilân-cias, denúncias de quem estragar. Pede-se que se alindem janelas e não se estenda roupa no exterior. Tenta-se a educação dos
mais jovens para que a Urbanização da Conceição não viaje em direção ao inferno que a consumia. As áreas relvadas volta-ram a sê-lo e o jardim passou a ter desenho. Já se sabe que a amiga Aghata será visita constante. O espírito de comunidade ali existente, uma construção solidificada pelos anos de vizinhança e pelas relações entrelaçadas, urdida lentamente entre tristezas e alegrias, voltou a pousar na Urbanização da Conceição.
marquises, janelas e persianas condizem. Há campainhas que tocam e as portas já não são de verde-aproximado-ao-que-se-julgava-ser-o-
original. as ruas voltaram a ter ordem.”
176 reportaGem
ser Jovem numa Cidade antiGa que Já foi Capital europeia da CulturamarCela maiaMestranda em Comunicação Arte e Cultura na Universidade do Minho
jo
ão
pe
ixo
to
178
h á algo de delicioso na antítese de escrever sobre o futuro que Guimarães, uma das mais velhas cidades do país com uma das
maiores taxas de população jovem na Europa, aufere aos seus jovens habitantes.
Escrever sobre este tema assemelha-se talvez a tentar transpôr para um papel o carinho que um avô tem pelo seu neto e o legado físico e emocional que lhe transmite.
Apesar de não ser tarefa fácil, parece-me que os mais velhos nem sempre recebem o reconhecimento merecido por parte dos mais jovens, assim e numa tentativa de contrariar esse facto, ínicio a minha deambulação por esta magnífica cidade, percepcionada pelos olhos de uma jovem habitante.
Enquanto seres nascidos em Guimarães, sentimos desde o berço uma enorme empatia pela cidade, não fosse ela o aconchegante “Berço da Nação”.
O legado histórico que pode ler-se nas entrelinhas das pedras com milhares de anos que contam fragmentos de uma história, que é a nossa história, origina talvez a empatia mencionada anterior-mente. Essa empatia manifesta-se de várias formas e feitios, tão simples quanto: o momento em que falamos com algum “não local” sobre a cidade e damos por nós a fazê-lo com um brilho especial no olhar. Quando por diferentes motivos temos de
nos ausentar da cidade e o nosso regresso a casa sabe quase que a um retorno ao útero da nossa Mãe, ou até mesmo quando vemos reconhecida alguma notoriedade à nossa cidade.
Sendo de conhecimento geral que Guimarães é uma cidade histórica, deve ser também de entendimento global, que história, há muito deixou de ser sinónimo de velhice e antiguidade. A história de Guimarães vai-se re-escrevendo a cada dia e para isso contribuem centenas de gerações, que em determinado momento da vida passaram pela juventude.
É dito que os vimaraneses são um povo de conquistas, ora hoje, mais do que nunca, os jovens têm de partir à conquista do mundo, o que pode querer dizer que os jovens de Guimarães partem em vantagem uma vez que levam consigo uma bagagem carregada de saberes e sabores que a sua cidade tão bem lhes enraizou.
Os que não partem, ou os que partem enquanto não partem, encontram nesta cidade ensinamentos diários aos mais diversos níveis.
No passado ano de 2012, a menção de Capital Europeia da Cultura, nascida de um projeto da Comissão Europeia, pairou em forma de cabeçalho sobre a cidade de Guimarães.
Fomos Capital Europeia da Cultura e fizemos parte.
reportaGem
179
Fizemos parte enquanto jovens e enquanto vimaranenses interessados em contribuir para o desenvolvimento da cidade.
O título de Capital Europeia da Cultura, visava talvez primordialmente, mostrar Guimarães e as suas potencialidades ao mundo, não obstante esta mostra mundial teve de encontrar alicerces sólidos a nível local.
Pelo que vivenciei e observei, mais do que mostrar Guimarães ao mundo, o estatuto de capital Europeia da Cultura, mostrou aos cidadãos o seu próprio papel e a sua importância enquanto motor respon-sável pelo bom funcionamento da cidade.
Nós, jovens vimaranenses, estivemos por toda a parte e em todas as frentes. Foram-nos dadas inúmeras oportunidades de demonstrar o que de bom sabemos fazer e de que fibra somos feitos.
Pois bem, 2012 já lá vai, mas o seu legado, ainda por cá se faz sentir.
Pelas nossas ruas somos levados a caminhar como cidadãos que depois de terem atingido o “nirvana”1 ainda não desceram à terra. Há um sentimento comum de continuidade na fase que se viveu o ano passado. É quase como que
1. De acordo com a concepção budista, o Nirvana seria uma superação do apego aos sentidos, do material e da ignorância; tanto como a superação da existência, a pureza e a transgressão do físico.
Guimarães tivesse, qual fénix, renascido com mais força no ano de 2012. Uma força que foi feita para nós e que agora tem de continuar a ser alimentada por nós.
Guimarães 2012 soube apostar em nós e criar infra-estruturas com sabor a criatividade, dispostas a incubar e ajudar a desabrochar os nossos talentos.
A Plataforma das Artes deixou-nos os Laboratórios de Criatividade que conti-nuam no ativo com vários projetos sui generis e de grande valor. Ali, jovens das mais diversas áreas e com as mais distintas personalidades travam diariamente uma batalha prazerosa para tentarem conseguir uma rampa de lançamento para os seus inovadores projetos. Espera-se que futura-mente os talentos que ganham força nas incubadoras da Plataforma das Artes sejam capazes de contribuir para o desenvolvi-mento da cidade e que também deste modo, haja uma maior valorização dos nossos talentos, de forma a que os mesmos se sintam protegidos e acolhidos no nosso território.
O Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura, vulgo CAAA, e a Fábrica ASA são dois exímios exemplos de requali-ficação urbana que me parecem estar bastante interessados em permitir aos jovens criativos e pró-ativos de Guimarães um lugar, não ao sol, mas nas sombras dos seus espaços. Sobre este dois projetos,
“É dito que os vimaranenses são um povo de conquistas (…) o que pode querer dizer que os jovens
de guimarães partem em vantagem uma vez que levam consigo uma bagagem carregada de saberes e sabores que a sua cidade tão bem lhes enraizou”
180
tendo a deixar a minha imparcialidade nas estantes dos meus livros, uma vez que me são os dois especialmente queridos. Não me são queridos por ter alguma vez lá partilhado a minha criatividade, até porque a mesma é restrita à escrita, mas porque os estudei carinhosamente e sei que desafiaram muitas teorias normativas e fugiram da normalidade que é espectável de um espaço cultural, o que, na minha modesta opinião, era precisamente o que Guimarães precisava.
Não se sabe ao certo o que por lá vai acontecer, se vão conseguir subsitir e obter os apoios necessários, mas provavelmente valeria a pena louvar dois espaços que através de manifestações artísticas ganharam um novo alento. Talvez fosse importante perceber que ali residem espaços mutáveis onde a nossa voz pode ganhar vida.
No centro histórico, ponto de encontro de todos os jovens, renovaram-se os espaços de lazer de sempre e criaram-se novos espaços onde é possível a partilha de ideias e o alívio dos problemas quotidianos.
Hoje, talvez maioritariamente graças à requalificação do centro da cidade, para além dos observadores do costume – cavalheiros com idade superior a 50 anos, de grosso modo, podemos observar aglomerados de jovens que se reúnem ao
redor dos simbólicos e icónicos corações deixados pela passada CEC.
Talvez também graças ao título de CEC, hoje conhece-se mais Guimarães e sobre Guimarães. As pessoas aumentaram a sua rede de conhecimento nas mais diversas àreas e estão hoje mais atentas ao que se passa à sua volta.
O estatuto de CEC dotou-nos de uma auto-estima reforçada e resultou numa cidade mais viva.
Temos para o futuro uma população mais qualificada e mais interessada em lutar por uma cidade próspera económica e socialmente.
Apesar de tudo o que mencionei até então, não julgo que a CEC tenha sido um comprimido milagroso que tenha tornado a vida dos habitantes num mar de rosas. Fazendo parte de um país que há muito descurou a cultura, Guimarães continua a ter limitações óbvias e a não conseguir dar resposta a todas as necessidades de quem por cá anda.
Mas, e uma vez que a minha voz é só uma gota no oceano de jovens que povoam Guimarães, permiti-me enriquecer este artigo, usando as minhas mãos, para dar também voz a outros, que como eu têm algo a dizer sobre a sua cidade.
Em conversa, percebi que não era a única a pensar no que escrevi. Jovens, amigos, vimaranenses, mais ou menos pró-ativos
reportaGem
“maioritariamente, graças à requalificação do centro da cidade,
para além dos observadores do costume – cavalheiros com idade superior a 50 anos,
181
durante a CEC, enunciaram a sua opinião, regra geral positiva acerca do ano de 2012 em Guimarães.
Ouvi dizer que, os espectáculos ao ar livre dos Fura del Baus, as incomparáveis performances da Fundação Orquestra Estúdio e a integração da comunidade no programa cultural deliciaram a população.
Consegui perceber que, aos olhos dos outros jovens vimarenses que vos trago aqui, a CEC proporcionou um ambiente cosmolita em Guimarães,”que é hoje um dos principais destinos turisticos nacio-nais” e que foi “precisamente parte desse movimento que conseguimos manter nos dias de hoje. O hábito de sair mais à rua, frequentar as esplanadas, passear pelos sempre bem tratados jardins, explorar as novas estruturas que vieram para ficar.”
Recebi manifestos optimistas sobre o futuro de Guimarães, “caso, continuem a haver incentivos e apoios como se demons-trou no ano passado porque a cultura tem, sem dúvida, uma grande importância na coesão social”, e palavras de esperança que nos dizem que “ o legado está do lado da cidade. Ela mesma tem de puxar por si própria, visto ter um motor próprio com as associaçoes e outras entidades.”
No que respeita ao futuro, podem existir algumas reservas sobre o que a vida nos trará, não obstante, há intrinseco ao ser vimaranense uma garra de conquistador
que não nos permite baixar os braços perante as adversidades, assim que cá estaremos para abraçar futuras iniciativas e para mostrar que grandes mentes podem estar escondidas atrás de um computador; parede; papel; tear ou de um outro mecanismo desconhecido.
Sendo certo que ainda é muito cedo para avaliar os efeitos de um período pós Capital Europeia da Cultura, resta-nos continuar a acreditar em nós, quer cidade, quer individuos e tornar as infra-estruturas criadas no âmbito da CEC cada vez mais nossas e cada vez mais úteis.
Em jeito de uma conclusão da minha beve deambulação, resta-me dizer que, passear por Guimarães é deixar-se conta-giar e surpreender pela criatividade dos jovens. É deixar-se viajar por uma cidade cheia de garra e de projetos que embora possam não o fazer, merecem definitiva-mente, vingar. Conhecer os jovens de Guimarães é partir numa montanha-russa de emoções rumo à esperança e força de vontade que nunca tem fim. É saber que para além de “Berço da Nação”, Guimarães é o berço das ideias. E que bom berço este, para se nascer e viver.
de grosso modo, podemos observar aglomerados de jovens que se reúnem
ao redor dos simbólicos e icónicos corações deixados pela capital europeia da cultura”
182 reportaGemj
oã
o p
eix
ot
o
Couros uma mudança que se pressente alberto José teixeira
jo
ão
pe
ixo
to
184
a Zona de Couros teve um papel preponderante no tecido econó-mico vimaranense durante os tempos áureos da indústria dos
curtumes, mas com a decadência desse sector o mesmo sucedeu a toda a área. De tal forma, que permaneceu como que abandonada, emparedada do resto da cidade durante grande parte do século XX.
Hoje, a Zona de Couros está em mudança. Os investimentos realizados no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC 2012), de onde se destaca o Campurbis, traduzem-se, desde logo, num recuperar do espaço público e numa tentativa de conferir uma nova dinâmica a uma zona com reconhecido valor arqueoló-gico industrial, adjacente ao Centro Histórico. Esse investimento de carácter público foi também acompanhado pelos privados, o que se traduziu num amplo processo de recuperação do edificado, ou como descrevem os moradores, num “embelezamento” de toda aquela área.
Mas o “embelezamento” não é o principal efeito que os moradores referem. Com as obras realizadas, estes sentem-se agora mais próximos da cidade. Essa ligação nota-se não só nas melhores condições de acesso, mas também na própria actividade e dinâmica, que parece fluir da cidade para a Zona de Couros e vice-versa. Existe uma visão optimista em relação ao que o futuro
próximo pode trazer, sobretudo quando o Instituto de Design, o Centro Avançado de Formação Pós-Graduada e o Centro Ciência Viva estiverem a operar na totali-dade das suas capacidades.
Há também quem ainda se mostre céptico quanto ao surgimento de uma nova dinâmica, sobretudo em termos comer-ciais. Até ao momento, os comerciantes da zona não sentiram qualquer diferença no que ao negócio diz respeito. E não têm grandes expectativas para o futuro. Marisa Silva reconhece que “há mais movimento”, mas isso não tem repercussões no volume de negócio. “Não estou muito convicta de que irão haver grandes alterações”. Na mesma linha, Rui Rodrigues é da opinião de que o impacto do investimento ainda não se fez notar, mas espera que com “a afirmação do Instituto de Design”, o panorama se possa alterar.
reportaGem
‘o “embelezamento” não é o principal efeito que os moradores referem.
com as obras realizadas, estes sentem-se agora mais próximos da cidade.
185
O vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG), Manuel Martins, é cauteloso na abordagem que faz à questão dos impactos do investimento realizado na Zona de Couros. O dirigente refere que “esse impacto ainda não foi significativo”. “Penso que quando o Centro Ciência Viva estiver, finalmente, aberto ao público, potenciará novos utentes, na casa das centenas ou mesmo dos milhares. Esses novos utentes irão levar a que surja uma resposta em termos comerciais. Até ao momento, a diferença na utilização da área ainda não é significativa. As actividades que existem na zona de Couros, já existiam antes do período da CEC 2012”, explica.
Em termos de dinâmica, no que toca à afluência de pessoas, nomeadamente estudantes da Licenciatura de design de produto, também ainda não se verificam grandes diferenças, até porque as cheias que se afectaram o Instituto de Design, obrigaram a que as aulas decorressem
no Centro Avançado de Formação Pós-Graduada. “Essa dinâmica ainda não tem muita força. É uma alteração que se pressente, mas que ainda não se concreti-zou”, afirma o dirigente da ACIG.
Manuel Martins coloca a tónica na parceria estabelecida com a Universidade do Minho (UMinho), para levar avante a concretização do Campurbis. Na sua opinião, é de capital importância a pre-sença da academia numa zona central da cidade. “Em Guimarães, nunca se sentiu a presença dos cerca de 5 mil alunos da Universidade do Minho, nunca se respirou muito o espírito académico de uma cidade universitária. Isto tem um significado simbólico, mas também tem consequên-cias em termos económicos. Com vários alunos e docentes a viverem em Braga, os postos de trabalho gerados à volta da academia acabam por ser muitos em Braga e poucos em Guimarães”, compara.
A ACIG tem, por isso, “as maiores expectativas” para a expansão da Universidade para uma zona mais central da cidade e considera ser a “forma defini-tiva” para que a UMinho e a cidade se “abracem e interajam efectivamente.”
essa ligação nota-se não só nas melhores condições de acesso, mas também na própria
atividade e dinâmica, que parece fluir da cidade para a Zona de couros e vice-versa’
“impaCto ainda não foi siGnifiCativo”
186
Bem consciente da importância da presença da UMinho perto do centro da cidade está o presidente do conselho geral da Associação Instituto de Design, José Cardoso Teixeira. O Campurbis, onde consta também o Ciência Viva, que não está sob alçada da Universidade, resulta de um esforço conjunto entre a câmara municipal de Guimarães e a academia.
José Cardoso Teixeira encara esse conjunto de estruturas como um campus da UMinho além-muros, no sentido em que integra “outras valências que não pertencem à Universidade” e por permitir “uma ligação mais estreita com as próprias instituições da cidade”. “Regressámos à cidade, numa perspectiva de abertura. Não existe um espaço murado, sendo que o próprio Instituto de Design é um espaço de passagem”, reforça.
Nessa lógica de abertura à cidade e à comunidade, o Instituto de Design é, simultaneamente, promotor e palco de
diversas actividades desenvolvidas para e pela comunidade local. “Sem ignorar a componente de design, tem-se privile-giado uma convivência com a comunidade de Couros que vai suportar e até participar em alguns dos eventos que envolvem a divulgação e discussão do design. Essa participação da comunidade é importante porque puxa-os para uma área de exposi-ção ao exterior que não teve durante vários anos.”
O professor crê que os efeitos da parceria entre as duas instituições permite já colher frutos, desde logo no campo da reabilitação urbana. “Houve uma revitalização urbana e a Universidade assumiu o papel de lhe dar continuidade e de fazer perdurar a reabilitação que foi iniciada, com conse-quências no campo económico. É um papel abraçado pela UMinho que, de resto, não faz mais que dar continuidade a um dos seus objectivos que é a ligação com a sociedade.”
reportaGem
“reGressámos À Cidade numa perspeCtiva de abertura”
187
O presidente da câmara municipal de Guimarães, António Magalhães, lembra que durante grande parte do século XX, a zona de Couros foi um “ponto negro” da cidade, praticamente deixada ao abandono. Os primeiros passos para recuperar desse atraso foram dados com a fixação da Pousada de Juventude, do Cybercentro e da Fraterna naquele espaço. O Campurbis é, até à data, o projecto mais ambicioso e integrou a candidatura de Guimarães a CEC 2012.
O edil é assertivo ao afirmar que o investimento realizado na Zona de Couros permitiu devolver Couros à cidade, o que, há vinte anos, não sucedia. “Nela há agora habitação de qualidade requalificada, estruturas culturais e de apoio social, novos espaços públicos de fruição urbana, e os novos equipamentos que constituem o pólo de Couros da Universidade, o Instituto de Design, o Centro Avançado de Formação Pós-Graduada e, dentro de um prazo curto,
o Centro de Ciência Viva. A frequência universitária na área central da cidade é indiscutivelmente um factor de animação urbana. Mas haverá, no futuro, comércio de qualidade, espaços privados de diversão se, como esperamos, se criarem melhores condições para o investimento privado que, neste momento, como se sabe, vive tempos de retracção.”
reGresso À Cidade 20 anos depois
“regressámos à cidade, numa perspectiva de abertura. não existe um espaço murado,
sendo que o próprio instituto de design é um espaço de passagem”
188
Couros e a indústria de Curtumes
em guimarães, a ligação da população à curtimenta data do século Xiii. a ribeira da costa/couros deve o seu nome ao facto de nas suas margens se ter instalado um bairro industrial de curtumes, pois é uma actividade que necessita de água em abundância e essas condições foram encontradas nos arrabaldes da vila. a preponderância dos curtumes subsistiu, com altos e baixos, até meados do século XiX, altura que foi dada preferência ao têxtil. “em meados do séc. XX ainda laboravam intensa-mente algumas unidades industriais, onde a transformação das peles em couro obedecia a práticas ancestrais conjugadas com algumas incursões tecnológicas”, como se lê comércio de guimarães de 29 de março de 2006. essas práticas, de forte impacto visual, marcaram também profundamente a paisagem da zona, que hoje é de grande valor arqueológico industrial e que, em 2001, fica inscrita, na lista do património mundial da Unesco, como zona tampão do centro Histórico.
192
s e os efeitos imediatos gerados pelo investimento realizado na Zona de Couros ainda não são consensuais, no que toca ao médio e longo prazo
os principais intervenientes acreditam que toda aquela zona poderá reassumir o papel preponderante que tinha no auge da indústria de curtumes. Desta feita, com um carácter de pólo irradiador de conheci-mento e investigação, onde a sua afirmação caminha lado a lado com o crescimento e enraizamento do Campurbis, em especial do Instituto de Design.
Da parte da autarquia, António Magalhães diz-se “muito confiante” no impacto que a Zona de Couros pode ter a nível económico e social. “Será uma área fundamental da Guimarães do século XXI. Temos uma certeza, a área central da cidade alargou-se, ganhou novas mais--valias. Hoje vemos a passear nos Couros vimaranenses que não iam lá há vinte, trinta anos. Mas é preciso esperar para ver a sua dinâmica de crescimento”.
A própria estratégia do município foi e tem sido a de criar condições para que Couros se torne o tal pólo irradiador. “Os prédios adquiridos pela câmara, antigas fábricas, foram destinados à instalação de unidades de formação e investigação, cujos contributos para mais conhecimento serão, desejavelmente, canalizados para aplica-ção e produção industrial. Acreditamos,
por isso, que o pólo de Couros da UMinho será irradiador de conhecimento.”
José Cardoso Teixeira partilha dessa opinião e explica que se pode estabelecer uma razão de proporcionalidade entre a afirmação do Instituto de Design e uma maior dinâmica na Zona de Couros. “A presença da Universidade do Minho e das outras instituições tem relevância para aquela zona, que é de baixa densidade populacional. Há um conjunto de serviços que serão necessário naquela zona, cuja necessidade já se faz sentir. Falamos de serviços de refeições, de alojamento”. No caso do alojamento, o presidente do conselho geral da Associação Instituto de Design, adianta que estão já a ser estudadas hipóteses com a câmara para se perceber como poderá ser implementado alojamento naquela área para alunos e docentes.
Há ainda um comércio de proximidade que “tem de ser assegurado”. Por outro lado, enfatiza que os estudantes são produtores e consumidores de cultura. Existe um curso de teatro no Centro Avançado de Formação Pós-Graduada que “induzirá interesse nesse tipo de atividades e irá levar o público a Couros. A atratividade da zona depende de tudo isto. É importante continuar a mostrar e a valorizar o património histórico e arquite-tónico, mas não queremos apenas isso.
reportaGem
193
Queremos ter um papel mais abrangente pois existe a dimensão do ensino, da formação, da ligação com as empresas e da também da investigação científica no campo do design.”
O vice-presidente da ACIG, Manuel Martins, acredita também que novos negócios se irão fixar em Couros, mas destaca o carácter turístico da zona, que levou ao surgimento de um hostel, mas outros novos serviços se poderão seguir. “Esse interface da Universidade, enquanto local de saber e investigação, com a indústria, ficará mais facilitado. Também se espera que nos edifícios recuperados se possam instalar indústrias ligadas à criatividade, por exemplo.”
Os privados não ficaram indiferentes ao forte investimento público realizado em Couros e, muitos deles, procederam à reabilitação das suas propriedades. “A recuperação dos espaços públicos é sempre indutora do investimento pri-vado. Por isso avançou primeiro, criámos novas zonas de atracção urbana e turística, a cidade central ganhou extensão”, explica Magalhães.
Também nesse campo, será possível gerar mais valor para a cidade como um todo, assim que a situação financeira nacional melhorar. Assim, “o aumento muito significativo dos pedidos de licencia-mento para intervenções na requalificação de edifícios privados”, poderá potenciar “a instalação de mais comércio, serviços, e habitação nos prédios já requalificados.”
“manuel martins da associação comercial e industrial de guimarães, acredita também que novos negócios se irão fixar em couros,
mas destaca o carácter turístico da zona, que levou ao surgimento de um hostel”.
Contributo dos privados
195
pa
ulo
pa
ch
ec
o
instituto de desiGn (antiGa FábriCa da ramada)
através de uma rede de parcerias, formação e inovação, este equipamento perspectiva a criação de uma unidade de valorização e visibi-lidade do design como domínio fundamental na anexação de mais-valia à actividade empresarial e produtiva.
Centro CiênCia viva (antiGa FábriCa ÂnCora)
interface lúdico e educativo, acessível a toda a comunidade, potenciando a compreensão dos processos de transforma-ção e criação de novos produtos e o conhecimento da evolução das técnicas de manufactura em estreita ligação com a ciência e a tecnologia. É a única valência que ainda não se encontra aberta ao público.
Centro avançado de formação pós-Graduada (antiGa FábriCa Freitas & Fernandes)
o complexo visa fomentar o desenvolvimento articulado da inovação e tecnologia, potenciar a oferta do ensino pós-graduado, captar novos públicos e promover a formação multidisciplinar em função das necessidades e perspectivas do tecido económico local e regional.
requalifiCação dos espaços públiCos da zona de Couros