Histórias Conectadas
Transcript of Histórias Conectadas
1
Histórias Conectadas: Uma Proposta Teórica e Metodológica a Partir da Índia1
Fernando Rosa Ribeiro
Universidade Estadual de Campinas
I
Men kan niet ontkennen dat voor het tijdperk van Modjopahit, Sumatra het
culturele centrum was met als politiek middelpunt het rijk van Sriwidjaja. De
Boeddhistische Hogeschool in de hoofstad van Sriwidjaja droeg niet alleen de
fakkel van het boeddhisme in Indonesië, maar, kan men stellen, op een gegeven
ogenblik in de gehele boeddhistische wereld. Dharmakirti in Sriwidjaja werd als de
grootste boeddhistische geleerde van zijn tijd erkend. Jah Hien en I-Ching, de twee
1 Este capítulo se baseia numa apresentação feita junto ao Seminário “Histórias Conectadas: Identidades, (Pós-) Colonialidades e a Construção da Nação: África, Ásia e Caribe – séculos XIX e XX”, promovido pelo Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná e a Fundação Araucária em Curitiba, nos dias 13 e 14 de novembro de 2006. O seminário reuniu membros do grupo de pesquisa “Histórias Conectadas”, e foi organizado e coordenado por Lorenzo Macagno, a quem sou muito grato. Agradeço também a John Monteiro, do Departamento de Antropologia da Unicamp, que foi quem pela primeira vez me apresentou o trabalho de Sanjay Subrahmanyam na área de histórias conectadas; e a Cláudio Pinheiro, do Departamento de História da Unicamp, a quem devo muitas conversas importantes sobre a Índia, além do empréstimo de obras de Sanjay; e, finalmente, a Janice Theodoro, da Universidade de São Paulo, a quem devo meu primeiro contato com a obra de Sanjay. Para trabalhos do grupo, ver Farah (2007), Huigen (1995), Macagno (2005), Pinheiro (2006), Rosa Ribeiro (1998, 2002, 2005, 2006, 2007), Santos (2002, 2005), Slenes (2007 a, 2007b), Swart (2007), Thomaz e Nascimento (2004) e Viljoen (2007).
2
Chinese geleerden van het boeddhisme en ook in de westelijke wereld erkend als
grote oosterse geschiedkundigen, verbleven lange tijd in de hoofdstad van
Sriwidjaja om het boeddhisme te bestuderen. In die tijd stond Sriwidjaja op het
toppunt van zijn macht en was het boeddhisme in Hindoestan al weer over zijn
hoogtepunt heen; de invloed van Sriwidjaja op de nog bestaande resten van
boeddhistische politiek en cultuur in Hindoestan was zeer groot.
Tan Malaka, “Naar de mensentuin” (in Poeze e Schulte Nordholt, 1995: 92).
O trecho acima provém de um texto do nacionalista indonésio nascido em Sumatra,
Tan Malaka, traduzido do malaio-indonésio por Harry Poeze (“Ke taman manusia” ou “Em
Direção ao Jardim da Humanidade” – Malaka, 1951). Malaka estudou e foi ativista político
comunista nos Países Baixos e na União Soviética (onde se tornou membro do Comintern),
e também viveu e atuou na China, Filipinas, Malaca, Singapura e Tailândia. Foi morto em
Java em 1949, durante a guerra de libertação (Poeze e Schulte Nordholt, 1995: 91). Seu
texto foi publicado postumamente em Jacarta em 1951. Trata do reino de Srivijaya em
Sumatra, que floresceu aproximadamente entre os séculos VII e IX, como centro comercial
e de irradiação e estudos do budismo que influenciava desde a Índia até a China, recebendo
inclusive dois grandes sábios budistas chineses que vieram estudar na sua capital. Escrito
em plena guerra e durante a ocupação japonesa (1943), que lhe permitira voltar a Java, de
onde havia sido banido pelas autoridades coloniais vinte anos antes, o arrazoado de Malaka
tem como objetivo contestar a visão colonial holandesa de que as Molucas (como grandes
produtoras de especiarias) são o passado da Indonésia, Java seu presente, e Sumatra seu
futuro (devido à produção de petróleo e produtos agrícolas para exportação). Segundo
Malaka, Sumatra foi historicamente, do ponto de vista cultural, pioneira antes das outras
ilhas, com o reino de Srivijaya tornando-se provavelmente o maior centro internacional do
budismo de sua época, além de ponto nevrálgico comercial entre Índia, Sudeste Asiático e
China.
Aproveitando o caráter transnacional e altamente conectado da citação acima,
provinda do que acabara de deixar de ser a Índia Neerlandesa (Nederlandsch-Indië, atual
Indonésia), por obra nem de neerlandeses nem de indonésios, mas dos japoneses, que
3
invadiram o arquipélago em 1942, inicio este ensaio com um comentário sobre o título: a
frase “a partir da Índia” é mais que ligeiramente ambígua para descrever a proposta teórica
do historiador Sanjay Subrahmanyam e sua obra, embora, claro, Sanjay seja um historiador
indiano e escreva sobre história da Índia. Sua abordagem da história indiana lembra além
disso mais que incidentalmente a abordagem de Tan Malaka da história indonésia no trecho
acima, já que, como este no caso da história da Indonésia, centra-se nas conexões
complexas e intricadas em meio às quais se encontra há séculos a Índia em geral e, mais
especificamente, sua praia historiográfica de preferência, a Índia do sul ou Decão
(incidentalmente, região que tinha relações próximas com Sriwijaya em Sumatra). A
proposta das histórias conectadas é ademais a abordagem de um intelectual com uma
trajetória intensamente transnacional, que inclui anos de residência em Paris, Lisboa,
Oxford e Los Angeles, entre outros lugares, trajetória que fica pouco ou nada a dever à de
Tan Malaka quase meio século antes. Dentro da própria Índia, sua trajetória partiu do sul do
país (Chennai, antiga Madras) e o levou a Nova Déli (igualmente, Tan Malaka também
possui uma trajetória semelhante, da “periferia” para o “centro” – de Sumatra para Java -,
tal como definidos colonialmente). Ademais dessa trajetória geográfica ampla, Sanjay
emigrou da história econômica para uma história mais centrada em processos de circulação
e transmissão de idéias e práticas culturais.2 Em lugar de fazer um tipo mais clássico de
historiografia, faz uma história mais nitidamente transregional – do Golfo de Bengala, do
mundo persianizado, dos impérios eurasianos da era moderna e seu milenarismo, do
comércio internacional, entre outros temas que têm abordado em suas obras. Seu trabalho
enfatiza que, em realidade, não é possível fazer uma história da Índia sem fazer uma
história das companhias comerciais européias na Ásia; do Estado da Índia; das redes de
portugueses e luso-asiáticos; das redes de religiosos europeus e muçulmanos; das
influências milenaristas eurasianas; do trânsito de idéias e pessoas no mundo persianizado;
dos vínculos e influências do Sudeste Asiático; das ligações com o Novo Mundo; do
comércio com a costa africana; dos vínculos com a Ásia Central, e assim por diante.3
2 Em realidade, o historiador extremamente prolífico que é Sanjay nunca abandonou a história econômica (ver Subrahmanyam, 2002, por exemplo). 3 Devo confessar imediatamente que não sou um profundo conhecedor da obra de Sanjay com um todo. Partes de sua obra me interessam claramente muito mais que outras, e me faltam assim leituras mais abrangentes para poder avaliá-la como um todo com a profundidade que merece. Este ensaio portanto se restringe a aspectos de sua obra e trajetória que mais me chamaram atenção, ancorados em leituras altamente seletivas
4
De fato, mesmo como historiador econômico, desde o início Sanjay centrou-se
numa perspectiva transoceânica. Como o próprio Sanjay reconhece, isto é uma herança da
influência do seu mentor Ashin Das Gupta (2001), que enfatizava a importância de uma
história que não fosse presa de uma historiografia centrada no estado-nação.4 Em realidade,
podemos aventar que a obra de Sanjay é pelo menos em parte derivada de uma tradição
historiográfica cujo tema clássico foram as redes de comércio no Oceano Índico e para
além dele. Essa tradição tratava de trânsito de navios, pessoas, metais preciosos, escravos e
muitos tipos de mercadorias ao longo de várias rotas oceânicas. Mesmo quando estava
enraizada em historiografias nacionais feitas em inglês, neerlandês, francês ou português
(ou, mais raramente, dinamarquês, alemão e outras línguas), e utilizando majoritariamente
documentação nos arquivos nacionais em um desses idiomas, essa tradição inevitavelmente
revelava com nitidez e detalhe cada vez maior as conexões profundas e antigas entre
diversas partes do mundo. Talvez fosse de se esperar que em algum momento os trabalhos
deixassem de enfatizar apenas o comércio, por exemplo, e sua influência nas diversas
economias índicas, e se voltasse para temas menos econômicos e materiais. A grande,
embora talvez não absoluta, originalidade da obra de Sanjay está exatamente em que ele foi
um daqueles que deram o salto.
Esse salto teve dois aspectos: em primeiro lugar, representou um deslocamento
temático, da circulação de bens materiais, navios, pessoas, etc, para a circulação de idéias e
práticas culturais, ainda que, é importante enfatizar, a ênfase anterior não se tenha nunca
perdido de vista. Assim, nessa perspectiva, ainda hoje é imperativo que o historiador
interessado em circulação de idéias e noções tenha uma boa formação sobre a circulação de
bens e pessoas, e sobre rotas oceânicas, companhias comerciais, redes de religiosos e assim
por diante, como mostra bem a obra de Sanjay. Em segundo lugar, esse salto aprofundou
ainda mais um distanciamento que já se prenunciava claramente na perspectiva anterior, a
saber, um movimento de afastamento da perspectiva das histórias nacionais e mesmo das
histórias regionais definidas geo-historicamente pelas area studies da academia
euroamericana e seus satélites mais imediatos. Naturalmente, não houve exatamente uma
dos trabalhos do autor. Essas leituras estão assentadas ademais em meus interesses de pesquisa pessoais e até na disponibilidade mesma dos textos, já que nenhuma biblioteca brasileira, seja pública ou privada, parece conter a maior parte de sua obra, quanto mais a sua totalidade. 4 Sanjay reconhece também outras influências intelectuais na constituição de seu arcabouço de histórias conectadas, como a de Victor Lieberman e de Serge Gruzinski (Subrahmanyam, 1997).
5
implosão de fronteiras acadêmicas; contudo, essas fronteiras ficaram claramente abaladas e
tiveram que ser profundamente relativizadas. Nesses dois aspectos também a obra de
Sanjay é paradigmática dessa nova perspectiva: ela não se atém a temas clássicos e explora
novos domínios; e não respeita fronteiras estabelecidas, nem as dos estados nacionais, nem
as da academia. Voltarei a essa questão mais abaixo, quando então fornecerei algumas
ilustrações elucidativas desses dois aspectos.
Outra característica marcante, tanto da reputação do autor, quanto de sua obra, é o
impressionante multilingüismo de ambos. Relembrando minhas diversas leituras, Sanjay
utiliza extensamente fontes em línguas européias (inclusive línguas como o neerlandês, que
quase não se usa para pesquisa no Brasil)5, incluído o português (que ele fala e escreve com
fluência) e, claro, o latim; fontes em línguas indianas (bengali, por exemplo); e fontes em
persa e árabe. Mesmo que se trate parcialmente de um multilingüismo funcional (digamos,
para uso na leitura de documentos), ainda assim sua habilidade lingüística é impressionante,
e rara entre pesquisadores. Seu uso de fontes é desse modo altamente eclético, já que sua
pesquisa não está restrita só a três ou quatro idiomas, como é geralmente o caso do comum
dos mortais na academia. Esse multilingüismo é bastante intrigante – deixando de lado o
claro e inegável talento para línguas do autor, é difícil deixar de pensar que ele não seja
uma conseqüência direta do ecletismo de suas fontes e de sua perspectiva inerentemente
transregional e transoceânica.
Ou seja, o multilingüismo aqui – do autor, de suas fontes, de sua obra – é
constitutivo da perspectiva adotada, e portanto não é mero acidente de percurso ou derivado
exclusivamente de um talento pessoal. É difícil imaginar que seja possível fazer
historiografia como a faz Sanjay sem vários idiomas, tanto europeus como asiáticos
5 Só consigo pensar em três historiadores brasileiros, além de mim, que lêem neerlandês, dois deles bastante sênior. A terceira é uma jovem historiadora, Mariana Françozo, que faz doutorado sob a orientação de John Monteiro na Universidade de Campinas. As conseqüências disto foram nefastas: até hoje, o interregno neerlandês de vinte e poucos anos no Nordeste brasileiro no século XVII possui mais que alguns cantos historiográficos mal explorados. Ademais, Mariana Françozo parece ser a primeira pesquisadora nacional que se enfronha realmente nas complexas redes interoceânicas neerlandesas ligando a Ásia à África, Américas e Europa, estudando a circulação de objetos, pessoas e saberes do Brasil holandês. Ver seu artigo sobre a Mauritshuis, o palácio de Nassau em Haia (Françozo, 2007). Na África do Sul, Sandra Swart, que está escrevendo uma história dos cavalos na África Austral, está investigando igualmente as redes neerlandesas e européias que entram na construção histórica e biológica das raças na região (Swart, 2007). Os neerlandeses eram grandes criadores e exportadores de cavalos (e elefantes), vendendo puros-sangues árabes e persas, por exemplo, para príncipes javaneses, assim como elefantes, que criavam no Ceilão, para soberanos indianos, ademais de terem introduzido o cavalo em vastas regiões da atual África Austral, via circuitos índicos e europeus.
6
(mesmo que seja igualmente impossível imaginar, de uma perspectiva brasileira, na qual ler
em neerlandês é altamente exótico, que muitos de nós consigam reproduzir o ecletismo
lingüístico do autor com facilidade).6 Mesmo que não seja facilmente imitável, esse
multilingüismo contudo permanece como um horizonte difícil de evitar completamente.
Talvez aqui seja o lugar de mencionar uma queixa que alguns colegas fizeram quando os
expus a textos do Sanjay: que são de leitura trabalhosa e até pouco agradável. Realmente, o
universo de referências de Sanjay é tão amplo, seu estilo tão, digamos, transoceânico, sua
fluidez interpretativa tamanha, que seus textos às vezes são talvez exaustivos, nos dois
sentidos da palavra. Sanjay possui um comando invejável de vastas áreas da historiografia,
além de um acesso igualmente invejável a bibliografia especializada e arquivos em pelo
menos três continentes. A fluência com que discorre sobre vastas regiões da Ásia – todas
inevitavelmente mal conhecidas entre nós – chega a ser frustrante, assim como seu imenso
domínio da bibliografia especializada (às vezes igualmente mal conhecida por nós). Alunos
em particular têm dificuldade com a mera geografia sendo apresentada, para não mencionar
a história. E, realmente, falar, por exemplo, do reino de Aracão para alguém que mal sabe o
que é Birmânia pode ser um desafio complicado, para mencionar só um estado que Sanjay
trata com detalhe e esmero em mais de uma de suas obras.
Isto leva a uma questão importante, que me interessa de perto: em que medida seu
conceito de histórias conectadas estaria de alguma maneira preso à historiografia que ele
desenvolve, uma historiografia com a qual nem todos podemos nos identificar no todo ou
em parte. Aqui é sempre bom lembrar o destino mais prestigioso da obra de indianos mais
conhecidos na academia anglófona, a saber, o grupo dos subaltern studies, muito mais
centrados numa historiografia de cunho nitidamente nacional (leia-se indiano).7 Voltarei ao
6 É sempre bom relembrar que as pouquíssimas instituições brasileiras de ensino superior que oferecem cursos regulares de idiomas africanos e asiáticos possuem ademais uma seleção extremamente limitada destes: quase certamente a única universidade brasileira onde se pode aprender um idioma indiano, por exemplo, é a Universidade de São Paulo. Contudo, o idioma oferecido é o sânscrito, e não um vernáculo moderno. Quase metade da população brasileira descende em parte ou em todo de imigrantes e escravos africanos: há contudo poucos cursos de línguas africanas no Brasil, geralmente restritos exclusivamente ao iorubá ou ao árabe. Cerca de metade de todos os escravos vieram da área do Congo e Angola; não se oferece um único idioma dessa região em nenhuma universidade, que eu saiba. Fongbe, outra língua africana importante na história brasileira, tampouco existe em qualquer instituição de ensino superior. A Universidade de São Paulo passou recentemente a oferecer, contudo, um curso pioneiro de kiswahili. 7 Graças a esforços recentes, especialmente da organização neerlandesa Sephis, que trouxe um dos expoentes do grupo, Partha Chatterjee, ao Brasil há alguns anos, o trabalho do grupo dos estudos subalternos é hoje mais conhecido entre nós (Chatterjee, 2004). A única coleção completa, contudo, dos trabalhos do grupo
7
contraste. É importante também relembrar que o nome de Sanjay nos é familiar, mas não
por causa de seu trabalho sobre o reino de Aracão no vale do Bramaputra ou do mundo
persianizado que existiu na Ásia durante séculos. Nós o conhecemos mesmo porque
escreveu sobre o sacrossanto império português. Nesse sentido, talvez não seja coincidência
que quando ouvi pela primeira vez o nome de Sanjay, lá por volta do ano 2000, ele tenha
sido pronunciado exatamente no departamento de história da Universidade de São Paulo,
onde existe a cátedra Jaime Cortesão de estudos portugueses... (A data de meu encontro
com a obra de Sanjay também deu a esta um sabor ligeiramente milenarista, pelo menos
para mim.) Seja como for, o nome e a obra de Sanjay são conhecidos na academia brasileira
devido à sua lusofonia e ao seu tratamento de temas lusófonos em contexto asiático.
Contudo, sua obra, apesar de incursões importantes em temáticas luso-imperiais, tem uma
abrangência e profundidade que não se coaduna com qualquer espaço imperial, português
ou não, assim como não se restringe a um espaço nacional indiano. É bom lembrar ademais,
restringindo-nos agora aos europeus, que Sanjay também escreve sobre os holandeses (no
reino de Aracão, por exemplo), sobre um frei dominicano espanhol, sobre vários cronistas
europeus de diferentes nacionalidades que escreveram relatos sobre a corte mogol, entre
outros usos de fontes européias (Subrahmanyam, 2005b). Nem o autor nem sua obra
portanto habitam, estritamente falando, o mundo da lusofonia.8
Não obstante, suas temáticas assim como suas referências históricas e geográficas
certamente dificultam a assimilação e mesmo a apreciação de grande parte de sua obra
entre nós, especialmente considerando que não existem, estritamente falando, estudos
asiáticos no Brasil como área consolidada, antiga e abrangente (em realidade,
provavelmente nem a área de estudos africanos mereceria esta descrição). Contudo, a
invocação de Sanjay de temas da história européia permite ao leitor brasileiro que quase
inevitavelmente não é especialista em Ásia que se identifique com sua obra. E este é um
(publicados numa série), que conheço no Brasil está na biblioteca particular de Cláudio Pinheiro, o que diz muito sobre o impacto ainda bastante limitado da obra do grupo por aqui. O indiano cuja obra é mais conhecida em nossa academia, pelo menos em ciências humanas, continua sendo Homi Bhabha. O historiador indiano mais lido entre nós no último meio século, contudo, ainda deve ser K.M. Panikkar, autor do clássico A Dominação Ocidental na Ásia (Panikkar, 1965). 8 Isto dito, contudo, é interessante mesmo assim notar como as três obras de Sanjay relacionadas diretamente aos portugueses na Ásia (Subrahmanyam 1994, 1995 e 1998) foram importantes no desenvolvimento de seu trabalho intelectual, e representam assim praticamente uma fase específica de sua carreira acadêmica. Ele não dedicou tanto esforço a nenhum outro poder ou rede européia na Ásia até hoje. Vale notar que bem poucos historiadores indianos contemporâneos lêem ou falam o português.
8
dos pontos mais atraentes da obra do autor indiano: quase nada do que ele escreve pode ser
qualificado como pertencendo meramente a area studies, interessantemente nem quando
trata exclusivamente da própria Ásia, como é o caso de seus estudos, por exemplo, por
conta própria ou em parceria com Muzaffar Alam, sobre o mundo persianizado (Alam e
Subrahmanyam, 2007). Desse modo, sua descrição desse mundo pode servir de porta de
entrada para compreendermos como funciona sua abordagem historiográfica particular.
Sanjay enfatiza repetidamente que esse mundo, que existiu aproximadamente do
século XIV ao XIX, e portanto por cerca de meio milênio, desaparece quase completamente
tanto da historiografia nacional iraniana quanto da historiografia nacional indiana do século
XX. O mundo persianizado em realidade, na sua acepção mais ampla e ambiciosa, estendia-
se do Mediterrâneo oriental até a Birmânia atual. Sanjay não menciona contudo que, se
retrocedermos para uma época ainda mais remota, o mundo persianizado inclui também os
sultanatos portuários suaílis da costa oriental africana (Middleton, 1992, Tominaga, 20019).
Em sua acepção mais restrita, o mundo persianizado incluía o Irã e amplas regiões do que
são hoje Afeganistão, Ásia Central e Índia (tanto a área do Império Mogol como os
diversos sultanatos do Decão). Em determinado momento, no século XVIII, com a invasão
persa do Império Mogol, chegou a existir brevemente a possibilidade da construção de um
imenso império persa e persianizado. De todas maneiras, o persa era língua de corte e de
cultura de corte tanto no Império Otomano quanto no Império Mogol e nos sultanatos do
Decão (no Império Mogol e nos sultanatos era ademais a língua da administração estatal).
Nos três grandes impérios islâmicos da era moderna – otomano, persa e mogol –
dinastias islâmicas de origem turcomana (Turkic, usado aqui para fazer uma distinção do
etnônimo, bem mais restrito, “turco”) usaram todas o persa como língua de corte. No
Império Otomano, ademais, desenvolveu-se uma língua de administração estatal, o
otomano, que misturava de maneiras complexas, no mesmo texto, frases e sentenças
alternadamente do turco, do persa e do árabe, criando assim uma língua altamente híbrida.
Desnecessário dizer que, apesar dos três idiomas serem escritos, pelo menos até o século
XX, em escrita de origem árabe, não são idiomas em absoluto aparentados entre si – o
árabe é uma língua afro-asiática, o turco uma língua altaica e o persa uma língua indo-
9 Agradeço a Patricia Hayes da University of the Western Cape, na África do Sul, por ter-me emprestado a obra de Tominaga. A influência persa mais importante na costa suaíli contudo, apesar de muito antiga (iniciando-se provavelmente antes da islamização da Pérsia), termina no século XV.
9
européia, seguindo uma classificação lingüística comum no século XX. É importante
lembrar aqui que a heterogeneidade lingüística e de poderes estatais das regiões de origem
dos diversos idiomas não impediu a criação de uma língua híbrida comum, mostrando que
historicamente as culturas não se conectam entre si seguindo as divisões etno-lingüísticas e
imperiais que nós valorizamos hoje na academia. Infelizmente, esse hibridismo significou
que nos últimos cinqüenta anos quase tudo que tivesse referência ao antigo Império
Otomano permanecesse em certa medida o domínio de especialistas em Turquia que
conseguissem ler otomano. A reforma lingüística de Atatürk em 1928 aboliu o uso da
escrita de origem árabe, assim como expurgou uma porcentagem muito alta de vocábulos
árabes do turco, criando um fosso entre o turco moderno e o turco otomano, difícil de
negociar mesmo para falantes nativos. O interessante é que na Turquia não houve pressão
colonial no sentido de abolir a escrita árabe, ao contrário do que aconteceu na Indonésia e
Malásia, mas sim uma pressão interna para ocidentalizar o país, criando uma ruptura
ideológica entre a Turquia otomana e a Turquia atual que afeta também, claro, os estudos
históricos. Desse modo, em seu excelente relato histórico sobre Istambul, Pamuk (2005)
confessa que teve que usar autores ocidentais escrevendo sobre Istambul antes do século
XX, porque o acesso aos arquivos otomanos é demasiado complicado (isto é, Pamuk não lê
otomano), e os otomanos, ademais, não escreveram relatos sobre sua própria cidade. Seu
irmão é contudo um historiador otomanista (ver Sevket Pamuk in Faroghi et ali, 2006).
Incidentalmente – e aqui vou enveredar por uma digressão - o otomano também
permite uma vinculação com a África. O Império Otomano teve territórios nesse continente
durante séculos, até a invasão italiana da Tripolitânia e da Cirenaica em 1911-1912. Até
1914, ademais, os ingleses reconheceram uma certa suserania otomana sobre o Egito (que
fora anexado ao império em 1512).10 Além disso, o primeiro grande empreendimento
colonial na África após 1800 não foi europeu, mas sim egípcio-otomano, com a invasão e
ocupação do Sudão na década de 1820, ou seja, mais de meio século antes da famosa
corrida para a África. No final do século XVII, ademais, forças navais otomanas e os
portugueses já se haviam confrontado na costa do atual Quênia, causando a derrota e a
expulsão definitiva dos portugueses de Mombaça e da quase totalidade da costa suaíli
(Pearson, 1998).
10 O persa era usado pelo menos como língua de contabilidade em territórios otomanos da África.
10
Agradeço a um membro do grupo “Histórias Conectadas”, Patrícia Santos, por ter-
me lembrado que a valorização crescente pela Porta (o poder central otomano) da
instituição do Califado do século XVIII em diante provocou o surgimento de várias
correntes islâmicas renovadoras, tanto na Península Arábica quanto na África Sudânica
(que se estende da Senegâmbia ao atual Sudão, passando por diversas regiões nos atuais
Mali, Níger, Nigéria e Chade). Entre elas se encontra o movimento do famoso Uthman dan
Fodio no Califado de Sokoto no início do século XIX (note-se o nome do estado,
claramente um desafio ao monopólio otomano do Califado – Fodio, 1978). Desnecessário
relembrar também que todos os territórios otomanos da África do Norte, da costa da atual
Argélia até as costas do Mar Vermelho no Egito e Sudão, foram durante séculos pontos de
passagem obrigatórios para um fluxo contínuo de peregrinos, letrados, escravos e
comerciantes africanos em trânsito para o Mediterrâneo e Oriente Médio (e também de
vários tipos de viajantes islâmicos, entre eles letrados e imigrantes, na direção oposta). Há
portanto vastos arquivos otomanos sobre a África referentes a um período de cerca de pelo
menos quatro séculos, que tradicionalmente não são contudo examinados por africanistas,
mas quase exclusivamente por uma raça à parte de especialistas acadêmicos, denominados
otomanistas. Estes em geral possuem escasso interesse pelo continente (por exemplo, tanto
Quataert, 2000, quanto Faroghi et ali., 2006, se concentram em outras áreas do império,
negligenciando a África de maneira quase típica entre otomanistas, com exceção de certa
atenção ao Egito).
Essa digressão em direção à África a partir do mundo persianizado não é à-toa, nem
foi feita apenas para relembrar o leitor onde fica minha praia oficial. Desde o início deste
ensaio o mundo persianizado já incidiu nada menos que duas vezes sobre a África, direta ou
indiretamente. Se relembrarmos ademais que as diversas irmandades sufis são virtualmente
a maneira africana mais comum de ser islâmico, e que o sufismo tem raízes extremamente
importantes e amplas no mundo persianizado em geral e na Pérsia em particular, outra
conexão histórica muito antiga e ainda atual entre os mundos persianizado e africano surge
com bastante força (M’backé, 2000). Como mostra Hunwick, o Irã continua até hoje a
atrair as confrarias sufis africanas, financiando inclusive um periódico em hauçá (Hunwick,
1996: 241). Nesse sentido, sua influência serve de contrapeso importante à influência
wahabbita exercida pela Arábia Saudita, que é anti-sufi.
11
Assim, o papel histórico do Império Otomano nessas conexões complexas entre
África, Ásia e Europa precisa ser profundamente reavaliado, assim como a imensa
influência persa da qual o império esteve eivado.11 Incidentalmente, a África é o único
continente negligenciado por Sanjay. Essa negligência não é total, mas é mesmo assim
notável, já que até o continente americano é examinado por ele. Na minha opinião, isto se
dá porque grande parte da África, em especial aquelas regiões muito longe da costa, embora
não isolada, antes do século XIX praticamente não tinha conexões diretas nem óbvias nem
com outras regiões do próprio continente, muito menos conexões transoceânicas. Isto é
especialmente óbvio na região dos Grandes Lagos, por exemplo, e em áreas da África
Central em geral, em particular no interior da atual República Democrática do Congo.
Ademais, como a história dessas regiões é acessível basicamente através de uma
combinação de história oral, arqueologia, etnologia e estudos lingüísticos, e não de textos,
ela claramente não se insere na metodologia histórica empregada por Sanjay, que depende
da existência de vastos arquivos documentais. Assim, é difícil falar de early modern
(categoria de periodização fundamental na obra de Sanjay) no reino de Kuba, por exemplo.
Desse modo, pode-se dizer que a África, uma vez mais na historiografia, representa um
contexto limitante também para a abordagem de Sanjay. Ver nesse sentido o trabalho
pioneiro de Jan Vansina sobre a África equatorial (Vansina, 1990).
Pulando agora da África para territórios ligeiramente mais ao leste, o reino de
Aracão utilizava o persa para sua correspondência diplomática (incluída sua
correspondência com europeus, a saber, portugueses e holandeses); nos sultanatos
sumatranos e da Península Malaia, frequentemente havia pelo menos alguns letrados que
sabiam persa. Gêneros narrativos e narrativas persas ademais influenciaram gêneros e
narrativas em malaio, replicando aqui um fenômeno que o subcontinente indiano também
conheceu em grande escala (Braginsky, 2005)12. Ademais, o persa também tinha
11 Em trabalho de tradução recente, do árabe otomano para o português, Paulo Daniel Farah mostra que houve também pelo menos uma conexão importante entre o Império Otomano e o Império do Brasil no século XIX, através do Imã Al-Baghdadi, que conviveu com muçulmanos negros brasileiros na década de 1860 e deixou-nos uma descrição até recentemente inédita do Império e do Islã brasileiros (Farah, 2007). Incidentalmente, o trabalho de Paulo Farah é um exemplo raro e importante de como emancipar-se do mundo da eurofonia traz frutos inesperados e úteis para a historiografia nacional. Nesse sentido, a coleção de manuscritos amealhada por Farah, em árabe e línguas africanas em escrita árabe, provavelmente produzidos por libertos e diversos africanos na África e no Brasil em torno da virada do século XIX para o XX, pode também constituir uma fonte inédita e muito importante para a história do Brasil, ainda totalmente inexplorada (Coleção Farah). 12 Agradeço a Ben Murtagh da School of African and Oriental Studies a referência à obra de Braginsky.
12
importância em domínios bem mais mundanos e corriqueiros da vida social, como ilustra o
fato de que até hoje em malaio a palavra que designa “porto” é o persa ب�ن�د�ر� )bandar).13
Como tanto Sanjay como Muzaffar Alam (2007) indicam, havia um grande trânsito de
vários tipos de profissionais e especialistas entre o Irã, o Império Mogol e os sultanatos do
Decão. Alguns chegaram a ocupar postos de alto escalão nas diversas cortes indianas, e
vários literatos adquiriram grande renome. Ademais, o florescimento dos diversos gêneros
da literatura em língua persa durante séculos dependeu em grande medida de literatos que
viviam e trabalhavam sob a proteção dessas cortes, cujo trabalho – que constitui um corpus
imenso em comparação com o corpus mais especificamente iraniano da mesma época –
ainda hoje não está plenamente incorporado nos cânones de literatura persa no Irã e fora
dele. Desnecessário dizer que esse corpus tampouco está incorporado nos cânones literários
das diversas línguas da Índia, já que o persa deixou de ser utilizado, por ingerência
britânica, como língua de administração e de corte, no século XIX. O mais interessante e
intrigante aqui é que essa influência persa extremamente marcada deu-se quase à revelia de
um poder estatal persa propriamente dito: dos três grandes impérios islâmicos – o Otomano,
o Persa e o Mogol – entre os séculos XVI e XIX, o persa foi a maior parte do tempo
claramente o menor, o menos próspero e o mais fraco. Nesse sentido, a influência do persa
se compara parcialmente à influência do malaio no Sudeste Asiático ou do kiswahili na
África Índica, que tampouco se assentava em centros estatais poderosos, e sim em redes
transnacionais de circulação de pessoas, mercadorias e idéias.
A data fatal aqui é 1833, quando a administração da Companhia das Índias Orientais
inglesa decretou a substituição do persa pelo inglês como língua de administração e ensino.
Essa data é comparável à de 1824, ano em que os ingleses na Colônia do Cabo da Boa
Esperança decidiram que toda a administração estatal e judicial se faria em inglês,
decretando portanto a morte do neerlandês na África do Sul.14 Desnecessário acrescentar
que, assim como o neerlandês é uma língua morta na África do Sul de hoje, o persa é 13 O mesmo se dá no extremo oposto do Oceano Índico, onde bandara designa “porto” em kiswahili. Em realidade, um artigo da Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/Bandar - acessado em cinco de junho de 2007) lista nada menos que vinte e cinco cidades iniciadas por “Bandar” ou que contêm esse nome, geralmente portos, da Somalilândia (ou norte da atual Somália) até a Indonésia e o Sultanato de Brunei. 14 O neerlandês ainda sobreviveria mal e mal oficialmente até 1925, quando foi substituído definitivamente pelo afrikaans. A tradução da Bíblia de Dordrecht para o afrikaans, que apareceu em 1933, marcou a queda do último bastião da neerlandofonia no continente, a saber, a Igreja Reformada Holandesa. Terminava assim uma presença lingüística neerlandesa de cerca de duzentos e oitenta anos. Para uma história parcial da literatura em neerlandês na África do Sul, ver o excelente trabalho de Huigen (1995).
13
igualmente uma língua praticamente extinta na Índia atual. Os sul-africanos têm quase tanta
dificuldade (para não mencionar desinteresse) em acessar seu passado em língua
neerlandesa (especialmente aquele após 1800 e o início da soberania britânica) quanto os
indianos têm em acessar seu passado ainda mais longo em persa. A única vantagem
importante que pelo menos alguns pesquisadores sul-africanos possuem sobre seus pares
indianos é uma familiaridade lingüística muito maior com o neerlandês, já que o afrikaans é
língua intimamente aparentada a ele. O persa ademais é escrito em escrita derivada do
árabe, com a qual os pesquisadores indianos em geral não têm trato algum, a esmagadora
maioria das línguas indianas atuais usando escritas derivadas do devanagari. Portanto,
vastos arquivos do passado indiano não são imediatamente acessíveis aos pesquisadores do
país – em realidade, à primeira vista, não são sequer imediatamente decifráveis para o leitor
não especializado. A familiaridade da escrita é um ponto importantíssimo. Uma colega do
departamento de história da Unicamp, Silvia Hunold Lara, contou-me que já se arriscou a
ler trechos de documentos em neerlandês, mesmo sem saber o idioma: isto simplesmente
não é possível se os documentos estiverem em uma escrita diferente, em cujo caso o texto
se torna opaco ao leitor. No mundo malaio e javanês também existe o mesmo problema,
considerando que as autoridades coloniais inglesas e neerlandesas impuseram com êxito a
escrita latina em detrimento da escrita de origem árabe, no caso do malaio, e de origem (em
última instância) sânscrita, no caso do javanês. O mesmo aconteceu com o kiswahili na
África, que utilizava antes da era colonial uma escrita de origem árabe. Assim, grande parte
do trabalho historiográfico na área malaio-indonésia e javanesa, por exemplo, resume-se
em transliterar fontes para que estejam acessíveis a leitores e pesquisadores
contemporâneos. É o que Ahmad (1979) fez, por exemplo, transliterando versões em jawi
(malaio em escrita de origem árabe) da Sejarah Melayu ou “Crônica Malaia”.
Essa longa discussão sobre culturas persianizadas (minha tradução do inglês
Persianate, que Sanjay usa, no modelo do par de contrates Italian/Italianate, para indicar
uma influência ou inspiração marcada de origem persa, mas não algo ou alguém
necessariamente etnicamente persas) tem um objetivo maior do que discutir um assunto que
me interessa pessoalmente, como aprendiz de feiticeiro de estudos do Índico radicado em
academia periférica luso-obcecada. As descrições de Sanjay do mundo persianizado que
existiu durante séculos em grande parte da Ásia (com ramificações até na África) mostram
14
que existem conexões historicamente muito significativas que tanto as historiografias
nacionais quanto os area studies, mesmo sem desconhecê-las, ainda assim não examinaram
em seus contornos plenos. Afinal, não há em princípio nenhum interesse político estatal ou
de outro tipo que valorize uma conexão transnacional antiga entre dois estados nacionais
modernos, um formalmente islâmico e outro majoritariamente hindu, um parte de uma
região definida como Oriente Médio, outro parte de uma região definida em inglês como
South Asia e em francês como Asie du Sud. Formalmente, portanto, na academia
euroamericana, um é estudado sob a rubrica de Middle Eastern studies, enquanto o outro
faz parte de outro domínio, South Asian studies. O sul-asianista não é normalmente
encorajado a buscar treinamento em persa, assim como o especialista em Oriente Médio
não é geralmente estimulado a olhar para a Índia na sua formação. Assim, uma importante
ecumene que durou séculos fica quase invisível em termos de historiografia tradicional (e
continua sendo pouco estudada até hoje). Mohamad Tavakoli-Targhi chega portanto a falar
de “homeless texts”, ou “textos sem pátria”, para designar os textos da modernidade
persianizada indo-iraniana no século XVIII e primeira metade do XIX que foram relegados
ao limbo pelas histórias nacionalistas subseqüentes (Tavakoli-Targhi, 2001).
A situação se replica também mais a leste. Como Sanjay indica, o reino do Aracão
caiu num fosso entre a área de estudos da Ásia do Sul e a área de estudos do Sudeste
Asiático, para não mencionar num fosso entre as historiografias nacionais do Bangladesh,
Birmânia e Índia (Subrahmanyam 1997:746; 2001 e 2005b: 200-248). A razão dessa
invisibilidade é tão simples quanto pujante: o reino esteve localizado geograficamente
numa área de fronteira entre os estados nacionais atuais. Não pode assim ser facilmente
reivindicado nem por uma historiografia indiana nem por uma birmanesa, por exemplo, ao
contrário do Império Mogol (apesar deste ter incluído territórios que hoje estão no
Afeganistão, por exemplo, para não mencionar no Paquistão e Bangladesh, e de não incluir
vastos territórios hoje na Índia), ou dos diversos estados birmaneses que se sucederam no
tempo. No máximo, é parte de histórias regionais dos estados pós-coloniais: do Assam, no
caso da Índia, ou de Arakan, no caso birmanês. Sanjay menciona um autor cujo livro
sempre admirei: trata-se de Anthony Reid, um especialista australiano em Sudeste Asiático
e que domina o malaio. Sua obra já clássica é Southeast Asia in the Age of Commerce.
Nela, Reid (1990) argumenta que a região possui algumas características bem demarcadas,
15
e constitui uma unidade tanto geográfica como histórica. Esse tipo de argumento, aliás, não
é apanágio apenas de Reid ou de estudos do Sudeste Asiático: o historiador guineense
baseado no Senegal, Boubacar Barry, em outra obra que admiro bastante, argumenta que a
Senegâmbia constitui uma unidade histórico-geográfica óbvia (Barry, 1988). Sempre achei
a argumentação de Barry em seu excelente livro (talvez seja a melhor história da
Senegâmbia antes de 1900 na era moderna) um pouco difícil de aceitar. Afinal, existiu em
determinada época um espaço político-cultural de intercâmbios intensos que se estendia da
Península Ibérica até as margens do rio Senegal, onde povos arabo-berberes, moçárabes,
judeus, cristãos e senegambienses interagiram e se influenciaram mutuamente durante
séculos, minando assim qualquer noção de uma suposta África subsaariana desvinculada de
uma África do Norte, para não mencionar uma Europa medieval sem África (Diouf,
2001).15
No caso do Sudeste Asiático, Sanjay argumenta que o quadro geográfico escolhido
por Reid é em realidade mero recurso contingente. E cita exatamente a corte Magh, que
controlava Aracão, para enfatizar esse ponto (Subrahmanyam 1997, 2005b). A corte usava
o bengali como língua literária, o pali para escrever suas crônicas, e a correspondência
diplomática se fazia em persa. Seus antigos territórios – conquistados pelo Império Mogol
no final do século XVIII, e pelos ingleses já a partir da primeira metade do XIX – estão
hoje dispersos entre três estados pós-coloniais. Algumas de suas tropas provinham ademais
do Decão, enquanto outras eram constituídas de “francos”, isto é, de europeus.
Supostamente é parte do Sudeste Asiático devido à sua ligação com a atual Birmânia, onde
estava Mrauk U, sua capital (e que também servia como nome do estado), em termos das
divisões de area studies vigentes. Em realidade, como sugere Sanjay, a corte Magh teria
parecido muito mais estranha para um visitante, digamos, vietnamita (vindo portanto de um
país reconhecidamente do Sudeste Asiático) do que para bengaleses que nela encontraram
15 Alain Kaly, ao ler uma versão anterior deste capítulo, comentou que, além de Barry, dois autores importantes, um recente, outro clássico, comentaram sobre a unidade histórico-cultural de uma área que inclui a Senegâmbia, embora vá mais além dela (Monteil, 1980; Tamari, 1997: 263). Monteil frisa a unidade através da difusão antiga do Islã na região, enquanto Tamari constrói a idéia de uma unidade a partir do sistema de castas e da difusão da cultura mandinga a ele vinculada. O argumento de Barry (1988), contudo, não depende de nenhuma unidade histórico-cultural, mas sim geo-histórica, já que os povos senegambienses cuja história relata não estão vinculados entre si por nenhuma religião comum nem pelo sistema de castas. O argumento de Monteil e de Tamari me parece assim bastante melhor fundamentado que o de Barry, onde a unidade histórico-geográfica é um recurso contingente. Para as dificuldades de descrever uma área em termos de características próprias, ver minha tentativa de definir a região das Guianas (Rosa Ribeiro, 2006).
16
refúgio (apesar de serem supostamente habitantes de uma área, Bengala, que pertence à
Ásia do Sul) (Subrahmanyam, 1997:743 e 746). Sanjay indica ademais que os reinos
aracanês e seu vizinho siamês dependiam do Golfo de Bengala para seus contatos
comerciais importantes, por exemplo, com a Pérsia (um estado cujo avatar moderno está
hoje em área do Oriente Médio). Essa geografia de contatos e relações nos parece
complicada à primeira vista, e isto se deve exatamente ao fato de que, sem que o saibamos,
aprendemos geografia e história, no fundo, de maneira vinculada. Nessa geo-história
adquirida, “Pérsia”, “Sião”, “Índia” não pertencem às mesmas subdivisões da Ásia.
Tradicionalmente, portanto, estudam-se suas relações internas e com os europeus, e não
seus contatos entre si que, podemos argumentar, em termos de uma história que não seja
eurocentrada, sejam talvez tão significativos quanto os contatos com os europeus. Pulando
de continente agora, para voltar ao exemplo africano que mencionei acima, tampouco
“Península Ibérica”, “Marrocos” e “Senegâmbia” parecem pertencer ao mesmo espaço geo-
histórico. Assim, que eventos às margens do Guadalquivir e do Senegal possam estar
vinculados não nos parece uma possibilidade naturalmente aceitável.
17
Mapa do Golfo de Bengala, com as fronteiras dos estados atuais e suas
capitais e cidades principais. Note-se em especial a localização dos portos, como
Colombo, Chennai (Madras), Kolkata (Calcutá), Yangoon, Medan, Malaca e
Singapura. Note-se ademais a região de fronteira entre a Birmânia, o Bangladesh e a
Índia, onde se localizava o antigo reino de Mrauk U ou Aracão
(Fonte:Wikipedia(http://zh.wikipedia.org), acessado no dia cinco de junho de 2007).
18
II
Voltando agora para o early modern na Eurásia, a proposta de Sanjay fornece um
modelo interpretativo estimulante, localizada, como está a meio caminho entre uma
abordagem generalista e abordagens altamente especializadas. Um exemplo de seu método
é sua descrição da lenda alexandrina, cuja trajetória Sanjay traça através do tempo e do
espaço. O historiador mostra que a dinâmica das sociedades da era moderna que lhe
interessam se pautava no mais das vezes por uma interação complexa entre o regional e o
supra-regional, e até o mesmo o global, nenhum dos dois níveis existindo em si (Sanjay,
1997: 745). Falando do milenarismo no século XVI eurasiano, em cuja análise Sanjay
insere as vicissitudes da lenda alexandrina, menciona que, ao abordar o fenômeno, “não
podemos tentar [fazer] uma ‘macro-história’ da questão sem sujar os pés na lama da
‘micro-história’” (op. cit, 750). Sanjay apóia-se aqui no estudo de um otomanista, Cornell
Fleischer, que mostra uma conexão clara entre idéias e expectativas milenaristas na
Península Ibérica, na Itália e no Império Otomano, ou seja, em quase toda a área do
Meditterâneo, no século XVI. Sanjay argumenta que essa conexão em realidade pode ser
estendida para a Pérsia, o Império Mogol e o Decão também. Ilustra isto com vários
exemplos, entre eles o da lenda alexandrina, base importante para visões milenaristas na
região. Na versão “oriental” da lenda alexandrina, que passa do siríaco para o persa,
Alexandre torna-se meio-irmão de Dario. Alexandre é um conquistador – islâmico, claro -
que une os mundos helênico e persa, e é ademais um profeta. Também é um vidente, a
quem se atribui tratados de astrologia. Ele vai procurar ademais a “água da vida”ح�ي�ا�ة�ب�آ� )
), aab e hayaat, que traz a imortalidade, instruído tanto por Aristóteles como Khwaja Khizr,
profeta islâmico. Ademais, protege a “civilização” da “barbárie”, construindo uma muralha
19
de cobre no fim do mundo. No milenarismo do século XVI no mundo persianizado,
Alexandre não só estabelecerá um reino universal, como um reino universal do Islã. É sob
essa figura – de protetor da civilização - que é representado como um herói islamo-persa
tanto para persas, indianos como otomanos (op. cit, 757).
A lenda se encontra também em várias versões malaias, sob o título de Hikayat
Iskandar Zulkarnain, ou “História de Iskandar Zulkarnain”. “Iskandar Zulkarnain” é o
nome islâmico amplamente utilizado de Alexandre (Zulkarnain sendo uma figura do Corão
à qual Alexandre é assimilado), de certa forma equivalente a “Alexandre o Grande” na
tradição ocidental. No sultanato sumatrano de Aceh, na primeira metade do século XVII, a
lenda alexandrina será assimilada explicitamente à trajetória do soberano, Sultão Iskandar
Muda (literalmente, “Alexandre o Jovem”). Mais tarde, ainda no século XVII, na corte de
Aracão, a versão persa da lenda (chamada Sikandar Naama) será traduzida para o bengali
(língua literária da corte). Nessa versão, Alexandre é o protagonista de um Islã que não faz
concessões. Sua figura parece estar moldada sob inspiração daquela do imperador mogol
Shah Shuja’ (loc. cit, 757). Na Sejarah Melayu ou “Crônica Malaia”, escrita no século XVI
e início do XVII, que relata a história dos reis de Malaca (assim como a tomada de Malaca
pelos portugueses), Alexandre provém em última instância da Makaduniah (Macedônia)
em Rum (Roma, Bizâncio, ou ainda, Império Otomano), e também é denominado Iskandar
Zulkarnain. Ademais, apesar de nenhum soberano de Malaca ter tentado assimilá-lo à sua
pessoa, como no caso de Iskandar Muda em Aceh, Alexandre é claramente o progenitor da
longa linhagem de reis que, passando pela Índia, desemboca nos soberanos malaios. Além
disso, Alexandre se casa na crônica com a filha do rei da Índia, que derrotara anteriormente,
casamento que incorpora assim o subcontinente indiano na trajetória narrativa que
começara no Mediterrâneo oriental e chegara até a Península Malaia. A crônica diz: “Maka
ada seorang raja di tanah Hindi, terlalu besar kerajaanya, setengah negeri Hindi itu dalam
tangannya; namanya Raja Kida Hindi” (Sejarah Melayu, página 4, linha 6; Malay
Concordance Project, acessado no dia 7 de junho de 2007).16 Traduzido, isto fica: “Havia
então um rajá na Índia, cujo reino era extremamente extenso, já que tinha em suas mãos
metade da Índia; seu nome era Rajá Kida Hindi”. A crônica diz que, após seu casamento
16 O texto é baseado no texto estabelecido por Ahmad, 1979. Agradeço a Ben Murtagh por ter-me disponibilizado esse texto.
20
com a filha de Kida Hindi, que Alexandre derrotara, e o nascimento de um filho, e após
terem passado quarenta anos, o Rajá Iskandar Zulkarnain (literalmente, Alexandre
“Bicorne”) retornou à Macedônia. Portanto, na crônica, Alexandre pára na Índia, não tendo
nunca chegado até as terras malaias, o que se coaduna com o que sabemos de sua trajetória
na Ásia. O filho de Alexandre na Índia, Rajá Aristun Syah (note-se o título índico – rajá –
acrescido do título persa – xá -, junto a um epíteto helênico, o conjunto podendo talvez ser
traduzido por “Rajá Grande Xá”) casa-se com uma filha do rajá do Turquestão (Turkistan),
um topônimo que surge somente em crônicas de meados do século XVI a meados do século
XVIII, julgando pelos textos contidos no Malay Concordance Project.
Herói islâmico, irmão de Dario, progenitor de linhagens reais, profeta, vidente,
genro do rei da Índia, sogro da filha do rei do Turquestão, autor de tratados de astrologia,
conquistador do mundo, ancestral totêmico de linhagens reais malaias, protetor da
civilização contra o caos e, finalmente, figura importante para o milenarismo islâmico do
mundo islamo-persa no século XVI, Alexandre adquire assim várias roupagens à medida
que sua lenda se desloca do Mediterrâneo oriental em direção a Sumatra, Península Malaia
e o reino de Aracão. Sanjay conclui que a lenda alexandrina e vários mitos relacionados a
ela foram importantíssimos na formação de estados na era moderna, e na construção de
idéias e movimentos milenaristas. Contudo, como indica igualmente, essa lenda e suas
versões não se coadunam com as fronteiras dos estados-nações modernos, nem com as
divisões dos area studies da academia (assim, no caso do Sultão Iskandar Muda em Aceh,
os modelos alexandrinos estão vinculados também a modelos literários e estatais do
Império Mogol, e também da Pérsia). Sanjay pergunta-se: “How were these myths and
ideas carried, and did the channels by which they circulated also serve as the sluices for the
convection of other ‘technologies’?” (“Como se transmitiam esses mitos e idéias, e será que
os canais pelos quais circulavam também serviram de desaguadouros para a transmissão de
outras ‘tecnologias’?”) (op.cit, 759).
Essa questão é crucial, ainda que não seja fácil de responder. Mesmo uma rede de
relações e circulação de idéias e pessoas de um período bastante mais recente, como é o
caso de noções e idéias circulando através do antigo mundo colonial neerlandófono na
primeira metade do século XX – assunto que me interessa - deixa muitas questões em
aberto. Que eu sabia, até hoje, por exemplo, não existe nenhum estudo abrangente,
21
exaustivo e profundo dos contatos dos egressos das várias colônias e ex-colônias
neerlandesas na Amsterdã de antes da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser de
conhecimento comum que esses contatos não só existiram, como foram muito importantes.
Ligações entre nacionalistas indonésios, indianos, sul-africanos e de outras origens
circulando pelo Índico é um assunto ainda mais obscuro. Só muito recentemente, por
exemplo, mencionou-se que Olive Schreiner, importante feminista e pensadora sul-africana
que refletiu sobre a nação, o gênero e a “raça” em seu país (e que conhecia Gandhi), tinha
suas idéias circulando em Kolkata através de um periódico de uma das redes da elite
nacionalista bengalesa na década de 1920. Igualmente, não muito depois o famoso escritor
e pensador nacionalista bengalês Rabindranath Tagore entrou num debate sobre Fort Hare,
universidade sul-africana de origem missionária, onde importantes figuras africanas e
indianas estudaram, entre elas Nelson Mandela (Hofmeyer, 2007).
A perspectiva das histórias conectadas no fundo não pode ser apenas complementar
a perspectivas mais enraizadas e tradicionais, porque em realidade ela as subverte de
maneira significativa, configurando não apenas um modo diferente de trabalhar materiais
históricos, como também um jeito muito diverso de olhar a história em geral. Sanjay nota
que o olhar orientalista e histórico-etnográfico, numa união desafortunada com a
perspectiva nacionalista, terminou por nos cegar com relação à possibilidade da conexão,
que dizer de sua importância (op. cit, 761). Nesse sentido, a perspectiva de Sanjay é
virtualmente antiorientalista, porque não pressupõe que, digamos, um estado indiano,
birmanês, ibérico ou sumatrano represente necessariamente uma alteridade histórica que
tenha que permanecer o apanágio de especialistas circunscritos, ou, pior ainda,
necessariamente exija um tratamento à parte na literatura: como Sanjay indica na sua
análise de idéias e noções milenaristas na Eurásia quinhentista, há noções religiosas que
percorrem esse espaço da Península Ibérica até a Índia e além, e que estão conectadas,
embora possuam, claro, profundas articulações regionais. Não é possível ver essas
conexões permanecendo apenas um hispanista, otomanista, persianólogo, indólogo, etc. Ao
mesmo, tempo, um mero generalista tampouco serve, como Sanjay indica, trazendo à tona
os muitos pontos fracos de várias teorias generalistas, desde as clássicas sobre
modernização até as mais recentes, centradas no Islã, no materialismo, na geografia, no
colonialismo e assim por diante. Significativamente, a realidade das conexões é complexa
22
demais para ser tratada com êxito por generalistas, e ao mesmo tempo abrangente demais
para ser o domínio apenas dos diversos especialistas. Isto porque, como mostra Sanjay ao
analisar os vários avatares da lenda alexandrina e idéias milenaristas relacionadas a ela,
essas versões não existem nem como meros empréstimos transcontinentais, nem como
versões estritamente regionais, mas sim sempre como resultado de uma articulação
complexa entre o universal e o local.
III
Gostaria de chamar a atenção aqui para um aspecto interessante da obra de Sanjay – seu marco cronológico, que delimita uma obra que está muitas vezes a cavalo entre a história medieval e moderna, para não dizer a história contemporânea. Todo seu trabalho está relacionado a um período histórico que pode ter várias balizas cronológicas (digamos, do XIV ao XVIII), que ele denomina de early modern.17 Esse período, por várias razões, trouxe mudanças importantes consigo, entre elas uma intensificação enorme de viagens e contatos, e não só entre europeus. Ele não pressupõe assim uma modernidade primeira que teria surgido na Europa e em seguida sido exportada para fora dela; num argumento de fundo algo orientalista, uma colega sugeriu que o termo é em realidade uma construção ocidental (mais especificamente anglófona), que não tem necessariamente equivalente em outras línguas. E, realmente, se atermo-nos por exemplo, ao malaio-indonésio ou ao japonês, é de se duvidar que o termo “moderno” tenha sido cunhado ou transliterado nessas línguas antes da segunda metade do século XIX - modern em malaio, por falar nisto, e 近代 (kindai, usado com o sufixo teki ou a partícula no), ou現代 (gendai, usado com a partícula no) que, apesar de sua aparência estranha em comparação com sua contrapartida malaia, passando por manifestação de alteridade lingüística absoluta, em realidade funcionaram
17 Claudio Pinheiro sugeriu uma tradução lusitana para esse termo, que não utilizamos comumente: “alvores da modernidade”.
23
historicamente como neologismos no Japão da era Meiji, e significam simplesmente a era recente ou atual.18
Fiz uma pesquisa no corpus do excelente Malay Concordance Project, um site
mantido por um especialista da Australian National University, que permite pesquisar
palavras e (bem mais raramente) textos completos em malaio, do período pré-colonial (a
partir de 1300) ao final do século XX. Encontrei, por exemplo, um artigo que é um dos
primeiros textos que pertencem ao corpus que discutem a questão da modernidade, onde
vem a seguinte explicação:19
Apa Modern?
Modern satu kalimah bahasa Inggris yang sama juga tujuannya dengan
Adiriyah di bahasa Arab, “Baru” di bahasa kita Melayu.
Kalimah Modern ini bukannya satu kalimah yang baru menjelma di alam
perbahasaan Barat, tetapi di sisi orang-orang Melayu kalimah ini di dalam dua tahun
yang lalu belum begitu di kenal, jika dibandingkan dengan hari ini.
Bahwa kalimah Modern ini telah menjadi buah mulut kanak-kanak yang
masing pelat bertutur dengan bahasanya sendiri yang ada di kampung-kampung
yang dikatakan jauh dari lonjong ini pun telah kedengaran tau menyebut-nyebut
Modern. Di dalam tak berapa lama lagi agaknya harus kalimah Modern ini menjadi
satu bahasa bahasan orang-orang Melayu raya dan semangatnya tak syak pula
semakin sehari semakin mesra ke darah daging Orang Melayu.
E, na minha tradução mais que recalcitrante:
18 Ver a obra de Minami (1980) para uma apreciação da relação entre japoneses e o Ocidente no pensamento de vários intelectuais importantes da era Meiji, assim como do período Tokugawa tardio. 19 O texto é “Orang-orang Melayu dengan Pengaruh Modern” (“Os Malaios Sob a Influência Moderna”), assinado por um certo Hamdam, publicado em Majlis, um periódico que circulava nos Straits Settlements (colônias inglesas do Estreito de Malaca) e nos Malay States (estados malaios sob tutela inglesa), isto é, em partes da atual Malásia, na edição de 27 de junho de 1935, página 4 (http://www.anu.edu.au/asianstudies/ahcen/proudfoot/MCP/N/SK/163.html, acessado dia sete de junho de 2007). O Malay Concordance Project contém uma amostra de periódicos, manuscritos e textos poéticos malaios, que, apesar de considerável, está longe de ser exaustiva.
24
O que é “Moderno”?
“Moderno” é uma palavra da língua inglesa que também é equivalente a
“Adiriyah” em língua árabe, ou “Novo” na nossa língua malaia.
A palavra “Moderno” não é uma palavra que tomou forma recentemente no
mundo das línguas do Ocidente, mas apesar disso os malaios não a conheciam há
apenas dois anos atrás, ao contrário do que acontece hoje.
Contudo, a palavra “Moderno” já se tornou parte da fala das crianças que
engatinham e tentam falar desajeitadamente sua própria língua nos bairros populares
(kampung-kampung)20 que, apesar de estarem longe, já se sabe que mencionam
repetidamente o “Moderno”. Dentro de não muito mais tempo provavelmente a
palavra “Moderno” deverá se tornar um termo dos malaios em geral (orang-orang
Melayu raya) e de seu espírito, e sem dúvida também será cada dia cada vez mais
absorvida pelo sangue e pela carne dos malaios. 21
O texto acima à primeira vista parece confirmar nossas piores suspeitas etnográfico-
orientalistas: o autor diz que até muito pouco tempo antes, ninguém conhecia a palavra
“moderno” (e, tendemos a ler imediatamente, tampouco o seu referente último, a
modernidade). Contudo, prosseguindo a leitura, vemos que então mesmo os bebês que
engatinham no kampung já estão incorporando a palavra a suas tentativas de falar. Em
breve, assevera o autor, todo o povo malaio a terá absorvido como parte de seu próprio
corpo: será sangue de seu sangue, carne de sua carne... É difícil imaginar uma maior
visceralidade autoctonista. Nossa tendência natural é desconfiar desse tipo de declaração.
Contudo, é difícil não escutar nas entrelinhas um eco da condenação colonial (no caso, 20 Kampung pode ser o bairro que os ingleses denominariam de “nativo”: a idéia é de que seus habitantes e a aparência do bairro não são ocidentais nem prósperos; a palavra também é usada para designar uma aldeia camponesa, ou o local de origem ou terra natal de alguém (com conotações rurais ou de cidade pequena). O termo portanto tem conotações complexas de autoctonia e ruralidade, assim como de subalternidade (especialmente no contexto colonial, como é o caso). 21 A palavra lonjong não faz sentido para mim neste texto. Não consegui encontrar uma tradução adequada para ela, e assim a deixei de fora. Ela não aparece ademais em nenhum outro texto do Malay Concordance Project, de nenhum tipo, o que faz pensar que talvez seu uso seja aqui idiossincrático ou dialetal. Seu sentido de dicionário ademais não se coaduna com o sentido da sentença onde se encontra.
25
inglesa) do “nativo” e suas inclinações pouco civilizadas, para não dizer nada modernas.
Afinal, como todo o Império Britânico sabia, inclusive os milhões que nunca puseram os
pés no Sudeste Asiático, Malays run amok, isto é, em coloquial chulo, quando menos se
espera os malaios piram... (Alatas, 1977).22 Nesse sentido é muito interessante a invocação
do kampung no texto como local onde já se fala do moderno: pois o kampung colonial é o
locus por excelência da autoctonia, da alteridade e da subalternidade. Do kampung, logo a
modernidade certamente alcançará todo o povo malaio, no seu espírito e na sua carne e
sangue, ao contrário do que acreditam os colonialistas, o texto parece dizer muito
claramente. Assim, o argumento de que não há modernidade originalmente porque não há o
“moderno”, interessante como é, também é complicado. Isto se dá porque se trata no fundo
de um raciocínio de cunho etnográfico-orientalista: eles não tinham modernidade, porque
sequer possuíam a palavra para designar o fenômeno, até que o Ocidente e sua
modernidade a impingiram a eles...
A isto, o texto acima claramente responde que, sim, é verdade, não a tínhamos, mas
já a temos em alguma medida, e em breve a teremos em grau ainda maior, a ponto de que
nosso espírito, carne e sangue estarão eivados de modernidade - assim como, podemos
supor, o espírito, carne e sangue dos ingleses. E, note-se, também dos árabes. Assim, o
articulista, Hamdam, deixa claro logo no início que, mesmo que os malaios não possuam o
moderno, um povo islâmico como eles, e considerado civilizado até pelos europeus, os
árabes, já o possuíam. Falando como etnógrafo, há uma conceito nativo (ou semi-nativo) ao
qual corresponde o moderno dos ingleses, presente muito antes que estes chegassem. Há
ademais um equivalente local: baru. Acho muito significativa essa equivalência conectada
entre Modern, Adiriyah e Baru. O árabe aqui está claramente posicionado entre o inglês e o
malaio, o que replica a história conectada do mundo malaio numa chave, digamos,
lexicográfica, e, ainda por cima – o que é muito importante - no que é claramente uma
argumentação em prol da modernidade autóctone. 23
22 Amok vem do malaio-indonésio amuk - fúria, raiva intensa. Mengamuk significa atacar, ficar completamente louco de raiva (ou ficar “atacado” mesmo). 23 Não consegui, contudo, encontrar o equivalente árabe de Adiriyah. É interessante notar também que o artigo, como quase todo texto malaio, tem palavras de origem árabe, como kalimah (“palavra”) e alam (“mundo”), assim como de origem sânscrita, como bahasa (“língua” ou “palavra”) e raya (“grande”, “glorioso”). Assim, a própria tessitura lingüística do texto, ao mesclar vocábulos de origem afro-asiática, indo-européia e austronésia, já revela um mundo intimamente conectado.
26
IV
Como Sanjay frisa, há uma tendência muito forte a reificar certos processos
históricos em detrimento de outros: assim, a modernização ou o colonialismo seriam
realidades bem mais importantes do que, digamos, o milenarismo (1997:745). Não há
nenhuma razão historicamente convincente, argumenta, por quê certos processos históricos,
nossos favoritos, devam possuir uma realidade objetiva maior do que outros. Desse modo, a
obra de Sanjay se diferencia também bastante (algo que não é muito notado) da obra do
grupo de historiadores mais prestigiosos e conhecidos da Índia no exterior (pelo menos no
exterior anglófono), aqueles vinculados aos subaltern studies, para quem a realidade
colonial foi um fenômeno primaz essencial e formativo na história indiana (ver os ensaios
em Diouf e Bosma, 2004, para uma amostra do trabalho do grupo).24Assim, tachar algo de
“pós-colonial” é em grande medida dar ênfase a um processo histórico em detrimento de
outros. Para piorar, é também usar, no fundo, certos pressupostos sobre a colonialidade e a
pós-colonialidade que não se aplicam realmente após um exame detalhado de casos
concretos em chave conectada.
Para finalizar, a perspectiva das histórias conectadas, complicada como possa
parecer (fixar o reino do Aracão na nossa memória historiográfica, por exemplo, não é
necessariamente tarefa fácil), permite mesmo assim afastar-nos de certezas e axiomas
antigos, vigentes ainda hoje tanto na antropologia como na história, para não mencionar a
24 Interessantemente, contudo, os historiadores do grupo não tratam em geral do período anterior a 1800, que é a praia de Sanjay por excelência. Assim, uma divergência metodológica e heurística está intimamente vinculada a uma diferença importante de periodização. Outro detalhe interessante é que há comunicação entre Sanjay e membros do grupo dos estudos subalternos, como mostra o fato de que escreveu um prefácio elogioso para a edição brasileira dos ensaios de Partha Chatterjee (Chatterjee, 2004).
27
crítica e a teoria literária, em direção a horizontes desorientalizados (e, por quê não,
deslufonizados), ainda pouco conhecidos, mas mesmo assim, como espero ter podido
indicar acima, bastante promissores. Nesse sentido, a proposta de Sanjay, ainda que possa
soar peculiar e difícil de seguir em todos os detalhes intricados da rica indumentária
eurasiana de seus trabalhos, representa uma via importante para a desprovincianização de
academias periféricas como a nossa, via que ademais, sem que o nome de Sanjay seja
sequer mencionado, já está sendo claramente seguida pelo menos por um ou outro
especialista em academias em situação semelhante à nossa, como mostra o trabalho de
Hofmeyer na África do Sul (Hofmeyer, 2005). Isto talvez indique que o momento é um de
conexão, mais que de reprodução do campo historiográfico tradicional. Incidentalmente,
como mostra o trabalho de Sanjay, o momento também é um de transdisciplinaridade, onde
as fronteiras entre as diversas disciplinas acadêmicas são atravessadas quase com tanta
freqüência quanto as fronteiras dos estados nacionais e suas historiografias, antropologias e
estudos literários.
28
Referências
AHMAD, A. Samad (organizador e editor). Sulalatus salatin (Sejarah Melayu). Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, 1979.
ALAM, Muzaffar e Sanjay Subrahmanyam. Indo-Persian Travels in the Age of
Discoveries, 1400-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
___________________________________. The Mughal State, 1526-1750. Oxford: Oxford
University Press, 2000.
ALATAS, Syed Hussein. The myth of the lazy native: a study of the image of the Malays,
Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of
colonial capitalism. Londres: F. Cass, 1977.
BARENDSE, René. The Arabian Seas: the Indian Ocean world of the seventeenth century.
Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2002.
BARRY, Boubacar. La Sénégambie du XVème au XIXème siècle. Paris: L’Harmattan,
1988.
BRANGISNKY, Vladimir. The Heritage of Traditional Malay Literature. Leiden: KITLV
Press, 2005.
29
CHATTERJEE, Partha. Colonialismo, Modernidade e Política. Salvador: Editora da
Universidade Federal da Bahia, 2004.
CHAUDHURI, K.N. Trade and Civilisation in the Indian Ocean: an economic history from
the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
_________________. Asia before Europe: economy and civilisation in the Indian Ocean
from the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
DIOUF, Mamadou. Histoire du Sénégal: le modèle islamo-wolof et ses périphéries. Paris:
Maisonneuve & Larose, 2001.
DIOUF, Mamadou e Ulbe Bosma. L’historiographie indienne en débat. Colonialisme,
nationalisme et sociétés postcoloniales. Amsterdã e Paris: Sephis e Karthala, 2004.
GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Zutphen: Walburg Pers, 2002.
FARAH, Paulo Daniel (organização e tradução). Deleite do estrangeiro em tudo que é
espantoso e maravilhoso. Edição multilíngue. Argel, Caracas e Rio de Janeiro:
Bibliothèque Nationale d’Argel, Biblioteca Nacional de Venezuela e Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro, 2007, no prelo.
FAROGHI, Suraiya, Bruce McGowan, Donald Quataert e Sevket Pamuk. An Economic and
Social History of the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
FODIO, Uthman Ibn. ������� ��� ������ ���� ���� . Bayan wujub
al-hijrah 'ala al-'ibad. Organizado e traduzido por F.H. El Masri. Cartum: University of
Khartoum, 1978.
FRANÇOZO, Mariana. “Maravilhas do Ocidente na Europa”. In: História Viva, Temas
Brasileiros, número especial sobre o Brasil Holandês, 6, 2007, pp. 54-57.
30
FREITAG, Ulrike e W.G. Clarence-Smith (organizadores). Hadhrami Traders, Scholars,
and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s. Brill: Nova York e Leiden, 1997.
GOMMANS, Jon e Jacques Leider (organizadores). The Maritime Frontier of Burma.
Exploring political, cultural and commercial interaction in the Indian Ocean World, 1200-
1800. Leiden: KITLV Press, 2001.
GUPTA, Ashin Das. The World of the Indian Ocean Merchant 1500-1800: Collected
Essays by Ashin Das Gupta. Organizado por Uma Das Gupta, com uma introdução de
Sanjay Subrahmanyam. Oxford: Oxford University Press, 2001.
HOFMEYER, Isabel. The Portable Bunyan: a transnational history of The Pilgrim’s
Progress. Princenton: Princeton University Press, 2004.
_________________. “The Black Atlantic Meets the Indian Ocean: Forging New
Paradigms of Transnationalism in the Global South”. In: Social Dynamics, 2007, no prelo.
HUIGEN, Siegfried. De weg naar Monomotapa: Nederlandstalige representaties van
geografische, historische em sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika. Amsterdã: Amsterdam
University Press, 1996.
HUNWICK, John. “Sub-Saharan Africa and the Wider World of Islam: Historical and
Contemporary Perspectives”. In: Journal of Religion in Africa, 26, 3, agosto de 1996, pp.
230-257.
MACAGNO, Lorenzo. Outros muçulmanos: Islão e narrativas coloniais. Lisboa: Imprensa
de Ciências Sociais, 2006.
31
MALAKA, Tan. “Ke taman manusia”. In: Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika.
Jacarta: Widjaya, 1951, pp. 398-410.
MARKOVITS, Claude, Jacques Pouchepadass e Sanjay Subrahmanaym (organizadores).
Society and Circulation: Mobile People and Itinerant Cultures in South Asia, 1750-1950.
Anthem Press, 2007.
M’BAKÉ, Khadim Mohamed Said. ������� ������ ������ ��
������� [“Attasawwuf wa turuq assuufiiya fii Sinighaal”] Rabat: Institut d’Éstudes
Africaines, Université Mohammed V Souissi, 2002.
MIDDLETON, John. The World of the Swahili: an African mercantilist civilization. New
Haven e Londres: Yale University Press, 1992.
南博「日本人論の系譜」1980.講談社. MINAMI, Hiroshi. Ninhonjinron no keifu.
Tóquio: Kodansha, 1980.
MONTEIL, Vincent. L’Islam Noir. Paris: Seuil, 1980.
PAMUK, Orhan. Istanbul. Memories and the City. Londres: Faber & Faber, 2005.
PANIKKAR, K.M. A Dominação Ocidental na Ásia do século XV aos nossos dias.
Prefácio de Otto Maria Carpeaux. Rio de Janeiro: Saga, 1965.
POEZE, Harry e Henk Schulte Nordholt (organizadores). De roep om Merdeka:
Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw. Amsterdã e Haia: Mets e
Novib, 1995.
PEARSON, M.N. Port cities and intruders: the Swahili Coast, India, and Portugal in the
Early Modern Era. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998.
32
PINHEIRO, Claudio. Traduzindo mundos, inventando um império: Língua, escravidão e
contextos coloniais portugueses dos alvores da Modernidade. Rio de Janeiro, 2006. Tese
de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
QUATAERT, Donald. The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000.
REID, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1650; The Lands Below the
Winds. Volume 1. New Haven e Londres: Yale University Press, 1990.
ROSA Ribeiro, Fernando. “The Dutch Diaspora”. In: Itinerario, 22, 1, 1998, pp. 87-96.
_____________________. “A Construção da Nação (Pós-) Colonial: África do Sul e
Suriname 1933-1945”. In: Estudos Afro-Asiáticos, 24, 3, 2002, pp. 483-512.
____________________. “Bahasa Persatuan: Idioma e Nação na Indonésia Colonial (1915-
1950)”. In: Afro-Ásia, 32, 2005.
____________________. “The Guianas Revisited: Rethinking a Region”. In: Ruben
Gowricharn (organizador), Caribbean Transnationalism. Londres: Lexington Books, 2006,
pp. 23-42.
____________________. “Fornicatie and Hoerendom or The Long Shadow of the
Portuguese: Connected Histories, Languages, and Literatures”. In: Social Dynamics, 2007,
no prelo.
SANTOS Schermann, Patricia. Dom Comboni: profeta da África e do Brasil. Catolicismo e
Islamismo no Sudão no século XIX. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
33
________________________. Fé, guerra e escravidão: cristãos e muçulmanos face à
Mahdiyya no Sudão (1881-1898). Niterói, 2005. Tese de doutorado. Programa de Pós-
Graduação em História, Universidade Federal Fluminense.
SLENES, Robert Wayne. a. “The Nsanda Tree Replanted: Kongo Cults of Affliction and
Plantation Slave Identity in Brazil’s Southeast, ca. 1810-1888”. In: Cahiers du Brésil
Contemporain, 2007, no prelo.
__________________. b. “Saint Anthony at the Crossroads in Kongo and Brazil:
‘Creolization’ and Identity Politics in the Black South Atlantic, ca.1700/1850”. In:
Boubacar Barry; Élisée Soumonni; Livio Sansone (organizadores), Africa, Brazil and the
Construction of Trans-Atlantic Black Identities. Lawrenceville, New Jersey: Africa World
Press, 2007, no prelo.
SUBRAHMANYAM, Sanjay. Merchants, Markets and the State in Early Modern India.
Oxford: Oxford University Press, 1990.
____________________. Comércio e conflito: a presença portuguesa no Golfo de
Bengala, 1500-1700. Lisboa: Edições 70, 1994.
____________________. O império asiático português 1500-1700: uma história política e
econômica. Linda-a-Velha: Difel, 1995.
___________________. Merchant Networks in the Early Modern World. Variorum, 1996.
___________________.“Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early
Modern Eurasia”. In: Modern Asian Studies, 31, 3, 1997, pp. 735-762.
____________________. A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama. Com prefácio de Luís
Filipe F. R. Thomaz. Lisboa: Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, 1998.
34
___________________. Money and the Market in India 1700. Oxford: Oxford University
Press, 1999.
___________________. “Persianisation and Mercantilism: Two Themes in a Bay of
Bengal History, 1400-1750”. In: Om Prakash; Denys Lombard (organizadores), Trade and
Cultural Contacts in the Bay of Bengal, 1400-1800. Déli: Manohar, 1999.
___________________. “And a river runs through it; The Mrauk U Kingdom and its Bay
of Bengal Context”. In: Jos Gommans; Jacques Leider, The Maritime Frontier of Burma.
Exploring political, cultural and commercial interaction in the Indian Ocean World, 1200-
1800. Leiden: KITLV Press, 2001.
___________________. The Political Economy of Commerce: Southern India 1500-1600.
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
___________________. Explorations in Connected History: Mughals and Franks. Oxford:
Oxford University Press, 2005a.
___________________. Explorations in Connected History: From the Tagus to the
Ganges. Oxford: Oxford University Press, 2005b.
SWART, Sandra. “ ‘High Horses’ – horses, class and socio-economic change in South
Africa”. In: Journal for Southern African Studies, 2007, no prelo.
TAMARI, Tal. Les castes de l’Afrique Occidentale. Nanterre: Société d’Ethnologie, 1997.
TAVAKOLI-TARGHI, Mohamad. Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism, and
Historiography. Nova York: Palgrave Macmillan, 2001.
35
THOMAZ, Omar Ribeiro e Sebastião Nascimento. “Narratives de la precarietat: la
construcció social del foraster - Indis a Uganda i Moçambic”. Paper apresentando junto ao
Congrès d’Africanistes Ibèrics: Àfrica Camina, Barcelona, 2004.
富永智津子 「ザンジバルの笛」2001・未来社. TOMINAGA Chizuko,
Zanjibaru no fue. Tóquio: Miraisha, 2001.
VANSINA, Jan. Paths in the Rainforest; towards a history of political tradition in
equatorial Africa. Madison: University of Wisconsin Press, 1990.
VILJOEN, Shaun. “Proclamations and Silences – “Race”, Self-Fashioning and Sexuality in
the Transatlantic Correspondence between Richard Rive and Langston Hughes”. In: Social
Dynamics, 1997, no prelo.



































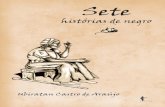







!["A Europa e a Ásia: histórias e historiografias comparadas" [Europe and Asia: Histories and Historiographies Compared]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d0fcea906b217b9074205/a-europa-e-a-asia-historias-e-historiografias-comparadas-europe-and-asia.jpg)












