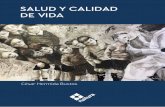ANÁLISE CONFIGURACIONAL DE HISTÓRIAS DE VIDA DE ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ANÁLISE CONFIGURACIONAL DE HISTÓRIAS DE VIDA DE ...
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS
__________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PEDAGOGIA DA MOTRICIDADE HUMANA __________________________________________________________________
JORGE ANDRES JIMENEZ MUÑOZ
ANÁLISE CONFIGURACIONAL DE HISTÓRIAS DE VIDA DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM DOIS PAÍSES:
BRASIL E COLÔMBIA
Bauru/SP
2018
JORGE ANDRES JIMENEZ MUÑOZ
ANÁLISE CONFIGURACIONAL DE HISTÓRIAS DE VIDA DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM DOIS PAÍSES:
BRASIL E COLÔMBIA
Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Bauru, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências da Motricidade (Pedagogia da Motricidade Humana).
Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Rossi
Bauru/SP
2018
Muñoz, Jorge Andrés Jiménez.
Análise configuracional de histórias de vida de
professores de educação física em dois países: Brasil
e Colômbia / Jorge Andrés Jiménez Muñoz, 2018
123 f. : il.
Orientador: Fernanda Rossi
Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual
Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2018
1. Histórias de vida. 2. Professor. 3. Configurações. 4. Norbert Elias. 5. Educação física.
I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de
Ciências. II. Título.
AGRADECIMENTOS
Quero agradecer primeiramente a minha esposa, Stefania “pekas”, amiga e
companheira de viagem incondicional que de uma forma muito especial, sempre deu
força, me apoiando sempre, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Nós
estivemos sempre juntos!
Aos meus pais, Olga e Jorge, e os meus irmãos Junny e Jorge Edwin, pelo apoio e
inspiração constante.
À CAPES, juntamente com a UNESP, que me proporcionaram a oportunidade de
expandir meus horizontes.
A minha orientadora Prof.ª Dr.ª Fernanda Rossi, pela orientação, paciência com
meus erros de Português, e principalmente, pela parceria e apoio durante todo o
processo do mestrado.
Aos professores Jorge Zabala Cubillos, Hector Peralta Berbesí, João Baptista Tojal e
José Guilmar Mariz de Oliveira por compartilharem todas as suas experiências de
vida. Ao professor e amigo Cesar Zabala, por seus valiosos ensinamentos e
amizade.
As professoras Dagmar Hunger e Dijnane Vedovatto Iza. Suas leituras críticas
enriqueceram muito a minha pesquisa.
Ao professor Rodolfo Puttini e seu orientando Leandro Dri Manfiolete. Meus amigos
e parceiros de academia e crítica social.
Ramila Barros, Fernanda Pastori e Rodrigo Martins Bersi, amigos para sempre!
Eu agradeço ao Brasil, país maravilhoso!
RESUMO
Esta pesquisa objetivou analisar, por meio da Sociologia configuracional de Norbert Elias, histórias de vida de professores de Educação Física no Brasil e na Colômbia, com base nas diferentes configurações sociais das quais eles fizeram parte: familiares e escolares, formação acadêmica, experiência e desenvolvimento profissional. Com fundamentação na metodologia da história de vida e por intermédio de entrevista semiestruturada orientada por eixos relacionados à vida pessoal e profissional, foram entrevistados dois professores aposentados de cada país. Os dados foram analisados segundo uma operação historiográfica que assumiu um diálogo com as narrativas desses professores, empregando, ainda, outras fontes de dados históricos que possibilitaram a ampliação das informações. De tal modo, foi produzido um texto narrativo para cada país que apresentou as vidas entrecruzadas, sendo que muitas das experiências narradas tiveram a sua origem em confrontações e lutas materiais e simbólicas que constituíram habitus sociais perante o desenvolvimento profissional em escolas, faculdades e grupos aos quais pertenceram. Outras teias de interdependência emergiram no interior de cada configuração proposta: o relacionamento com os pais, a figura do professor da área na escola, limitações na formação inicial, a militância política e a etapa da pós-graduação. Dentre os aspectos convergentes entre os países destaca-se como o desequilíbrio na balança “eu – nós”, pendendo para um “nós” confirma a importância da liderança de diferentes grupos e coletivos para os professores. Como aspectos divergentes, destaca-se para um país um caráter sócio-profissional daqueles grupos, e para outro a existência dessas agrupações concomitantemente com uma ampla configuração acadêmico-científica da área. Conclui-se que abordagens configuracionais das histórias de vida possibilitam compreender e analisar as múltiplas interdependências e as relações de força que configuram o ser docente na atualidade. Palavras-chave: Histórias de vida; Professor; Configurações; Norbert Elias; Educação Física.
ABSTRACT This research aimed at analyzing, through the configurational sociology of Norbert Elias, life histories of Physical Education teachers in Brazil and Colombia, based on the different social configurations they were part of: family and school, academic training, experience and professional development. Based on the methodology of life history and through a semi-structured interview guided by axes related to personal and professional life, two retired teachers from each country were interviewed. The data were analyzed according to a historiographical operation that assumed a dialogue with the narratives of these teachers, also using other sources of historical data that made possible the amplification of the information. Thus, a narrative text was produced for each country that presented the lives intertwined, and many of the experiences narrated had their origin in confrontations and material and symbolic struggles that constituted social habitus before the professional development in schools, colleges and groups to which they belonged. Other webs of interdependence emerged within each proposed configuration: the relationship with the parents, the teacher figure of the area in the school, limitations in initial formation, political militancy and the postgraduate stage. As convergent aspects between countries stand out as the imbalance in the balance I - we, hanging to a "we" confirms the importance that had for teachers the leadership of different groups and collectives. As divergent aspects, one country stands out for a socio-professional character of those groups and for another the existence of these groups in concomitance with a wide academic-scientific configuration of the area. It is concluded that configurational approaches to life histories make it possible to understand the multiple interdependencies and relations of force that shape the teaching being in the present time.
Keywords: Life history; Teacher; Settings; Norbert Elias; Physical Education.
LISTA DE QUADROS
Quadro 1- Trajetórias dos Professores do Brasil.......................................................44 Quadro 2- Trajetórias de vida dos professores Colombianos....................................45 Quadro 3- Eixos da vida pessoal e profissional dos professores, norteadores do roteiro de entrevista....................................................................................................46 Quadro 4- Categorias de análise: Configurações sociais..........................................47
Quadro 5- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração familiar e escolar e no desenvolvimento histórico da área............................................................................................................................56 Quadro 6- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta nas configurações “Formação acadêmica” e “Experiência e desenvolvimento profissional” e no desenvolvimento histórico da área.................................................67 Quadro 7-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração “Experiência e desenvolvimento profissional” e no desenvolvimento histórico da área.............................................................................73 Quadro 8- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração “Experiência e desenvolvimento profissional” e no desenvolvimento histórico da área.............................................................................77 Quadro 9- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na “configuração familiar e escolar” e no desenvolvimento histórico da área............................................................................................................................82 Quadro 10-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração “Formação acadêmica” e “experiência e desenvolvimento profissional” e no desenvolvimento histórico da área.................................................88 Quadro 11-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração “formação acadêmica” e no desenvolvimento histórico da área............................................................................................................................98 Quadro 12- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração formação acadêmica e no desenvolvimento histórico da área..........................................................................................................................102 Quadro 13- Eventos realizados no contexto do I Congresso Internacional de epistemologia da EducaçãoFísica............................................................................104 Quadro 14- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração formação acadêmica e no desenvolvimento histórico da área..........................................................................................................................106
LISTA DE FIGURAS Figura 1- Configuração estabelecidos-outsiders........................................................31
Figura 2- Cronologia do processo metodológico........................................................49
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ACM- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS
ACPEF- ASSOCIAÇÃO COLOMBIANA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
ASCUN- ASSOCIAÇÃO COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
CAPES- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR
CFE- CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CODUCO- CONSELHO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO
CONFEF- CONSELHO FEDERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA
INEF- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELN- EXÉRCITO DE LIBERTAÇÃO NACIONAL
ENEF- ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ENEFD- ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEF- FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FIEP- FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ICH- INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS AMERICANA
ICHSP- INSTITUTO DE CINESIOLOGIA HUMANA DE SÃO PAULO
MEN- MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO NACIONAL DA COLÔMBIA
PUC- PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
UFSCAR- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
UNEC- UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES COLOMBIANOS
UNICAMP- UNIVERSIDADE DE CAMPINAS
UNIMEP- UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA
USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA ....................................................................... 10
1.1 CADA IDEIA SURGE NO INTERIOR DE UMA HISTÓRIA DE VIDA SINGULAR ............... 10 1.2 A RESPEITO DA PESQUISA .............................................................................. 12
2. HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ................. 18
2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DAS HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES ...... 25
3. APROXIMAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO ESTUDO. CONFIGURAÇÕES SOCIAIS E HABITUS ............................................................... 27
3.1. A SOCIOLOGIA CONFIGURACIONAL COMO EMBASAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO ....................................................................................................... 27 3.2. A CONFIGURAÇÃO SOCIAL .................................................................................. 29 3.3. O HABITUS ........................................................................................................ 32 3.4. PROCESSO CIVILIZADOR E INDIVIDUALIZAÇÃO. ..................................................... 34 3.5. O ESTUDO DE UMA TRAJETÓRIA. MOZART ........................................................... 36
4. METODOLOGIA ................................................................................................ 41
4.1. A SOCIOLOGIA CONFIGURACIONAL COMO FUNDAMENTO METODOLÓGICO ............... 41 4.2. A HISTÓRIA ORAL DE VIDA COMO GÊNERO DA HISTÓRIA ORAL ............................... 42 4.3. PARTICIPANTES DA PESQUISA ............................................................................ 42 4.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE COLETA ................................. 45
5. CONFIGURAÇÕES NAS HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES NA COLÔMBIA E NO BRASIL ....................................................................................... 51
5.1. COLÔMBIA, VÁRIOS MATIZES: TEMPO DE VIOLÊNCIA E LIDERANÇA CONTINENTAL NA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA PROFISSÃO........................................................................ 51 5.1.1. Configuração “Familiar e Escolar”. Iniciando na Educação Física no contexto da violência .......................................................................................... 53 5.1.2. Configuração “Formação acadêmica”. A Educação Física e as lutas sociais e políticas ............................................................................................... 57 5.1.3. Configuração “experiência e desenvolvimento profissional”: organização social e cultura escolar. ................................................................. 60
5.2. HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES NO BRASIL: A LUTA PELA CONFIGURAÇÃO
DO CAMPO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ............................................................ 79 5.2.1. A configuração “familiar e escolar”. O método Francês na escola ....... 79 5.2.2. A configuração “formação acadêmica”. A influência do professor de Educação Física escolar .................................................................................... 83 5.2.3. A configuração “experiência e desenvolvimento profissional”. A Educação Física na pós-graduação. ................................................................................... 86
6. CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE CONFIGURACIONAL NO ESTUDO DAS HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ................... 107
6.1. À GUISA DE CONCLUSÃO .................................................................................. 114
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 116
10
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
1.1 Cada ideia surge no interior de uma história de vida singular
Minha experiência como professor de Educação Física começou com a
formação como Licenciado na Universidade de Cundinamarca, na região central da
Colômbia, no período de 2003-2008. Num trajeto de quase dez anos de experiência
na escola, interatuei na área de formação psicomotora das crianças. Nesse
momento percebi uma relação com meu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
- TCC, que abordou a relação entre alguns processos psicológicos da autoestima e
autopercepção das crianças, depois da execução de uma atividade motora.
Após um tempo, surgiu a necessidade latente de aprofundar a dimensão
acadêmica da minha profissão. O mestrado na área da Educação, desenvolvido na
Pontificia Universidade Javeriana de Bogotá, possibilitou a compreensão de tópicos
reflexivos que quatro professores atuantes na disciplina de prática pedagógica
profissional, construíram na sua prática pedagógica. Foi constatado que por meio da
reflexão sobre a própria prática, é possível que o professor avalie e critique suas
próprias atuações pedagógicas.
Assim, trabalhei durante cinco anos na Universidade de Cundinamarca,
no programa de Licenciatura em Educação Física. Nesse espaço acadêmico,
participei de pesquisas de nível TCC orientadas a aprofundar as práticas
pedagógicas de estudantes-estagiários em diferentes níveis educativos. Como
conclusão dessa experiência, descobri deficiências em relação a uma formação
histórica, cultural e política dos estudantes, provavelmente devido à predominância
das ciências biológicas na formação inicial.
Nessa interação, como fruto das minhas tarefas como organizador de
eventos acadêmicos na Universidade de Cundinamarca, na minha posição como
professor de pesquisa, foram estabelecidas relações muito próximas com
professores de alguns países do nosso continente. Nisto, surgiu nesse momento a
necessidade de buscar uma formação de nível de pós-graduação num país
estrangeiro. Diante de opções em Cuba, Argentina e Brasil, encontrei nas linhas de
pesquisa na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, no
11
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade, uma adequada
possibilidade de aprofundamento em relação ao meu interesse: a formação docente
na área da Educação Física, tanto inicial como contínua, assim como a constituição
identitária de seus atores.
Uma vez tomada a decisão, empreendi a aventura para um país
desconhecido, mas também, de muitas possibilidades de formação acadêmica e
pessoal. A entrada no programa depois de um processo seletivo foi para mim uma
importante conquista, e nesse momento, pude sentir que a decisão foi a melhor. Na
posterior relação com professores e alunos, uma nova língua e grupos de pesquisa
constituíram um patamar de questionamento, conceituação e constante renovação,
o que possibilitou maiores níveis de compreensão, com referência às minhas
suspeitas iniciais sobre a própria prática pedagógica e profissional.
Nessa curta “história de vida”, tento narrar o vivido para introduzir o
conteúdo restante do presente texto. O professor sempre fala e age num contexto
social e histórico particular. Esse percurso, trajeto ou reminiscência está ancorado
na memória daquilo que lembramos e daquilo que somos e que não somos daquilo
que desejamos ser e aquilo que não podemos ser. Os sentimentos, atitudes e
saberes singulares estão indissoluvelmente ligados às identificações nos grupos
sociais aos quais pertencemos nas relações com os nossos semelhantes. Nossos
desejos têm um ponto de realização que vai além das nossas próprias expectativas.
Nessas teias de dependência nascemos, crescemos e desenvolvemo-nos
em diferentes espaços sociais que oferecem desiguais possibilidades de acesso e
permanência. Nesses espaços vamos nos tornando seres humanos incompletos,
sempre em constante desenvolvimento, pois fazemos parte de um longo processo
civilizatório. Trazemos conosco marcas milenárias que fazem nos lembrar a nossa
finitude e a nossa restrita liberdade de escolha.
Assim, a presente dissertação traz consigo todas essas reflexões. Somos
professores, mas também, somos pessoas. Nossa história pessoal está ligada à
história do grupo social mais próximo, à família, à escola, à formação e à experiência
profissional. Lutamos por aquilo que acreditamos, e participamos do jogo da nossa
interioridade pessoal e a exterioridade social. Somos enquadrados nas relações de
poder a partir do complexo de valores que vamos tecendo desde a nossa inserção
na configuração familiar de origem.
12
Nossa disposição fisiológica, psicológica e social está orientada aos
outros, porque justamente precisamos deles para existir. Este fato é uma questão
inevitável nas nossas vidas. Por fim, nossos desejos dependem dessa rede, que nós
chamamos de sociedade. Nenhum professor, nem qualquer outro indivíduo, pode
entender-se como um indivíduo isolado no mundo.
1.2 A respeito da pesquisa
A minha trajetória de pesquisa tem transcorrido em torno das práticas
profissionais dos professores. Diante de pesquisas e publicações no cenário da
formação inicial e contínua, discuti a singularidade que representa o docente da
Educação Física no contexto educacional, em relação à sua formação e aos saberes
implícitos nas suas práticas pedagógicas.
Na investigação desenvolvida no curso de mestrado1 foi feita uma análise
no campo da formação continuada que apostou em um agenciamento de uma
prática reflexiva com professores em um programa de graduação na Colômbia. A
pesquisa assumiu a reflexão como um processo em que o sujeito assume sua
experiência, envolvendo aspectos cognitivos (pensamento e ação) e afetivos
(sentimentos). Desta maneira, uma prática reflexiva promoveu nos professores uma
criação de sentido e conceituação da experiência e, assim, uma construção de
conhecimento a partir da sua prática. Isto foi constatado na análise qualitativa de
diários de campo elaborados por eles durante dois meses (JIMENEZ, 2011;
JIMÉNEZ; ROSSI; GAITÁN, 2017).
Também estudei o campo da formação inicial participando numa
pesquisa2 financiada pelo Ministério da Educação da Colômbia, na qual foram
avaliados dezesseis programas de formação para identificar o papel da investigação
e a inovação nos currículos e nas práticas. Neste estudo foi compreendido como
para as Universidades Colombianas é essencial a construção de uma identidade
1Programa de Mestrado em Educação. Linha de pesquisa “Práticas educativas y processos de formação superior”. Pontifícia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009-2011. A pesquisa analisou tópicos reflexivos que os professores elaboram a partir da escrita e a reflexão em diários de campo, sobre as suas práticas profissionais na Universidade, especificamente no contexto da formação inicial de Licenciados em Educação Física. 2A pesquisa foi intitulada: “La investigación y la innovación en la formación inicial de docentes”, realizada entre 2012-2013 nas principais Universidades públicas e privadas que oferecem programas de graduação na Colômbia. Nessa pesquisa, atuei como assistente e desenvolvi a análise curricular dos programas de formação envolvidos.
13
docente com base na contínua convergência de propostas curriculares com grupos
de pesquisa, objetos de conhecimento e práticas reflexivas sobre as próprias
práticas pedagógicas (JIMENEZ, 2013). Investimos nesta preocupação da formação
de profissionais para área na medida em que é considerada de acentuada
importância para um país.
No interior do campo da formação docente, concordamos com Hunger,
Rossi e Souza Neto (2011), quando indicam como no discurso da academia criou-se
um conceito de indivíduo (professor) isolado e abstrato, baseado nas lógicas
racionais do conhecimento científico, próprio da hegemonia das ciências biológicas e
médicas. Porém, no caso dos docentes, hoje podemos reconhecer que “o ser
professor adquire sua característica individual a partir da história de suas relações,
de suas dependências e, por fim, da história de toda a rede humana em que
convive” (HUNGER; ROSSI; SOUZA NETO, 2011, p. 708).
Ainda, a vida do professor insere-se em contextos sócio-históricos
específicos. Segundo Bertini Junior e Tassoni (2013) os processos de repressão
social das classes dominantes, as formas de governo representadas na maioria em
ditaduras militares, e a forte influência da medicina em favor de projetos eugênicos e
higiênicos no começo do século XX tem gerado um aparente conflito de natureza
filosófica, trazendo consequências para a definição do profissional da Educação
Física que se deseja formar.
Historicamente “tem-se desconsiderado o professor como um sujeito ativo
de seu próprio desenvolvimento, suas experiências adquiridas no exercício da
profissão docente e os conhecimentos construídos nas suas histórias de vida”
(ROSSI, HUNGER, 2012, p. 324). Apesar das possibilidades de mudança no interior
das reformas, o professor é um ator subestimado no contexto sócio-político e
econômico. Ele não é um indivíduo isolado, sua vida e sua profissão são construídas
no interior do tecido social:
[...] é um ser eminentemente social e histórico. Ele não vive isolado e é inseparável do meio em que se encontra inserido; é um ser embriagado de cultura, e sua forma de pensar e agir são direcionadas esteja ele consciente ou não, por suas percepções e manifestações diante do contexto sociocultural e histórico do seu tempo, que é fruto de todo um passado (HUNGER; ROSSI, SOUZA NETO, 2011, p. 699).
No interior dessa temática, a abordagem das histórias de vida de
professores vem se constituindo nos últimos anos como uma possibilidade para
14
gerar novas compreensões sobre o professor, sua trajetória e sua própria formação.
Com base nas reflexões do português António Nóvoa (2008) uma série de estudos
que abordaram as histórias de vida dos professores começou no campo da
Educação Física a partir das suas experiências singulares dentro e fora da escola
(BETTI, MIZUKAMI, 1997; HOPF, CANFIELD, 2001; FOLLE et al., 2009; ALMEIDA;
FENSTERSEIFER, 2007; SANTOS; BRACHT; ALMEIDA, 2009; FOLLE;
NASCIMENTO, 2010; BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013; NUNES; GODOI, 2013;
GALLO; GARCÍA, 2013; FRIZZO, 2016).
Diante dessa revisão de literatura, concebemos que as histórias de vida
estão além de uma possibilidade metodológica de pesquisa para a reconstrução de
experiências de docentes. Pelo contrário, no presente estudo, refletimos sobre as
diferentes interdependências sociais que vinculam os professores a outros
indivíduos e contextos históricos e sociais. Assim, existem na vida das pessoas
relações de forças que as ligam entre si diante dos contextos nos quais estão se
relacionando, seja na família, na escola ou na universidade.
Seguimos assim a proposta de Hunger, Rossi e Souza Neto (2011) sobre
o ser professor baseada na sociologia configuracional de Norbert Elias (2008).
Sugerimos que essa proposta pode ser considerada como um referencial importante
para entender os professores como indivíduos inseridos no contexto social no
interior de teias coletivas.
Perante este cenário, emerge como problema de pesquisa: quais são as
construções configuracionais que possibilitam compreender as histórias de vida dos
professores? Para elucidar tal problemática, a presente pesquisa teve como objetivo
analisar as histórias de vida de professores de Educação Física em dois países,
Brasil e Colômbia, e compreender as diferentes teias de interdependências com
base em configurações sociais das quais eles fizeram parte: a) familiares e
escolares na infância e adolescência; b) na formação inicial; c) na experiência e
desenvolvimento profissional.
Nesse intuito, conceitos sínteses como a configuração e o habitus social,
propostos pela sociologia configuracional, foram peças-chave para as nossas
análises das histórias de vida dos professores. Para Hunger, Rossi e Souza Neto
(2011) por meio do conceito de configuração, o professor é entendido como um
produto das teias de interdependência construídas em relação a outros indivíduos.
Para González (2014) esse conceito pode ser aplicado tanto em nível macro como
15
micro social, incluindo os fenômenos sociais que acontecem entre os dois pólos, por
exemplo, entre indivíduos de um grupo, como no caso de professores e alunos.
Para Kaplan (2008) os homens aparecem como sistemas abertos,
orientados mutuamente uns aos outros e ligados pelas interdependências de vários
tipos, e por meio delas, em conjunto, formando configurações específicas. Para Elias
(2008) essas teias coletivas, ou configurações, são compreendidas como uma rede
de interdependências entre indivíduos, em torno de um jogo de forças. Neste jogo,
apresentam-se desequilíbrios ao longo da história, na qual a identidade humana, ou
seja, o equilíbrio entre a identidade “eu” e “nós” no decorrer do processo civilizatório
vem mostrando o deslocamento de uma identidade “nós”, ligada ao clã ou a tribo,
para uma identidade “eu”, mais competitiva e individualista.
Na dinâmica processual das configurações, a teoria Elisiana propõe o
conceito de habitus social, ou também entendido como estrutura social de
personalidade. Habitus representa a pergunta: quem sou eu? - no nível individual e
social. Integra tanto os processos da psicogênese (a internalização e autocontrole
psíquico em torno das práticas e normas sociais), assim como os processos da
sóciogênese, ou seja, a conformação dos jogos de força e as relações de poder que
estabelecem os indivíduos entre si, nas quais se involucram as dimensões materiais
e simbólicas (ELIAS, 2015). Entendemos, assim, que cada professor possui um
habitus construído na sua história pessoal, que não pode ser desconexo das
configurações que ele desenvolve com os outros.
Diante desse referencial teórico, as histórias de vida dos professores
podem ser entendidas como construções sócio-históricas dos indivíduos, que por
estarem inseridas nas configurações sociais, são instáveis, e referem a um elemento
essencial: elas respondem aos jogos de poder entre os indivíduos, indo para
direções não planejadas. As situações de inter-relacionamento social se apresentam
como um movimento dinâmico que são dirigidas na direção de mudanças no
equilíbrio entre as formas de controle externo e formas de autocontrole dos
indivíduos (ELIAS, 2008).
Nesse intuito, consideramos como sujeitos de pesquisa professores
aposentados em dois países Latino-americanos como Brasil e Colômbia,
considerando que perpassaram por diferentes etapas de desenvolvimento pessoal,
social e profissional, fato que implica um olhar amplo sobre cada um dos seus
16
percursos. Ainda, aspiramos determinar diferenças e semelhanças que essas
histórias podem indicar em dois contextos sócio-históricos particulares.
Assim sendo, compreendemos que o presente estudo contribui para a
construção de aportes para o conhecimento histórico e social da área da Educação
Física: a) no sentido de analisar, mediante uma perspectiva configuracional, as
histórias de vida de professores, entendidas não como trajetórias biográficas
particulares, mas como parte constituinte de diversas configurações sociais; b) uma
análise das convergências e divergências ao redor das histórias de vida dos
professores para cada país; c) como uma oportunidade para os professores
envolvidos de refletir sobre seus percursos pessoais e profissionais.
Nesse contexto, consideramos neste estudo a hipótese que as histórias
de vida são formadas por diversas configurações sociais, quer dizer, por variadas
formas de inter-relação dos indivíduos (professores) com outros indivíduos. Assim, a
análise configuracional permitiria uma compreensão mais realista das diferentes
disposições e inclinações que configuram essas histórias de vida de professores dos
dois países. Tais configurações podem contribuir para o entendimento das trajetórias
profissionais e pessoais na docência em Educação Física, no interior de um jogo de
forças e poderes políticos, religiosos, educacionais e familiares presentes dentro e
fora dos contextos educativos.
Com relação à estrutura desta dissertação, após esta introdução
caracterizando o percurso do pesquisador, a temática, os objetivos e problema da
pesquisa, apresentamos no capítulo 2 chamado Histórias de vida de professores
de Educação Física a análise de algumas pesquisas no contexto Brasileiro e uma
pesquisa Colombiana que abordaram a temática das histórias de vida de
professores. No capítulo 3 com o título Aproximações teórico-metodológicas do
estudo. Configurações sociais e habitus esboçamos uma compreensão da
sociologia configuracional proposta por Norbert Elias, em torno de conceitos que
nortearam as nossas escolhas e reflexões teóricas e metodológicas. O capítulo 4
expõe o desenho metodológico embasado em alguns princípios da história oral de
vida e a descrição do trabalho desenvolvido em campo junto com os professores
participantes dos dois países.
No capítulo 5 Configurações nas histórias de vida de professores na
Colômbia e no Brasil expomos as análises configuracionais para cada país,
apresentando as vidas dos professores entrecruzadas e não como experiências
17
singulares de indivíduos isolados, fazendo destaque para as configurações sociais
que teceram as trajetórias.
No capítulo 6 intitulado Contribuições da análise configuracional no
estudo das histórias de vida de professores de Educação Física sintetizamos os
principais achados das análises, destacando as principais convergências e
divergências entre os dois países, no entendimento dos processos configuracionais
que teceram as histórias de vida. Por fim, apontamos algumas limitações
metodológicas que podem ser exploradas em estudos futuros.
18
2. HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Diante o cenário das perguntas que surgiram no decorrer do processo de
pesquisa, investimos em uma revisão de literatura que objetiva indagar as diferentes
perspectivas de estudos sobre a temática. Para além de um acúmulo de pesquisas
localizadas em fontes científicas, objetivamos neste capítulo compreender como
historicamente foram se constituindo os estudos embasados em histórias de vida de
professores de Educação Física, assim como suas principais contribuições a esta
área do conhecimento. Porém, tivemos em conta os apontamentos de Folle e
Nascimento (2011) na medida em que os estudos embasados nas histórias de vida
docente são compreendidos como abordagens metodológicas de pesquisas
empíricas voltadas a compreender, entre outros conceitos analíticos, as trajetórias
docentes, o desenvolvimento profissional, os percursos profissionais, entre outros.
Nesse sentido, assumimos outras pesquisas que apesar de não adotarem a história
oral como metodologia, analisaram o envolvimento pessoal e profissional ao longo
da vida do professor.
Historicamente, os estudos do português António Nóvoa (2008) na
década de 1990 oferecem novas abordagens no debate sobre a formação de
professores a partir de uma perspectiva centrada no terreno profissional, sobretudo
na evolução na carreira e vida do professor e influenciou a emergência de estudos
no Brasil. A chave para enfrentar a problemática nesse momento histórico em seu
país, em relação a fenômenos como a proletarização da profissão, estava no
investimento de ações e propostas ao redor da formação docente, que incluíram três
eixos principais:
1. O desenvolvimento pessoal, ou produzir a vida do professor,
pois a formação não é uma acumulação de cursos ou conhecimentos, pelo
contrário, uma busca de autonomia e sentido, nas relações entre a própria vida
do professor com uma postura crítico-reflexiva frente a sua profissão.
2. O desenvolvimento profissional, ou produzir a profissão, com
ênfase nas dimensões coletivas do professorado, como possibilidade de
emancipação frente a uma vida controlada por questões administrativas e
burocráticas.
3. O desenvolvimento organizacional, ou produzir a escola, na
conexão entre práticas de investigação-ação e formação-ação organizacional, ou
19
seja, conectar os projetos de aula com as transformações do contexto escolar
mais amplo. A formação trata-se de um processo permanente, que congrega a
formação contínua com a gestão escolar e curricular.
Esses eixos discutidos por Nóvoa possibilitaram o surgimento de estudos
sobre histórias de vida de professores. Um dos estudos pioneiros na Educação
Física que empregou a metodologia de história de vida foi desenvolvida por Betti e
Mizukami (1997). Como sujeito participante foi escolhido uma professora recém-
aposentada, graduada de Educação Física no ano de 1965. A partir da aplicação de
uma entrevista semiestruturada de caráter biográfico, foram encontrados aspectos
intrínsecos e extrínsecos na vida pessoal da professora, que descreveram a sua
trajetória da vida profissional e as condições que giravam em torno da sua
experiência escolar.
Como aspectos intrínsecos foram destacados: a importância da escolha
profissional, o amor e respeito pelos alunos, a importância da experiência, a
motivação para criar e testar modelos de ensino, a motivação e prazer para ministrar
aulas e o envolvimento político com a carreira. Este último compreende a implicação
ativa do professor em todos os acontecimentos sucedidos no seu ambiente de
trabalho. Como aspectos extrínsecos foram compreendidos como o professor é
modelo para outras pessoas, a troca de experiência entre os pares da disciplina e de
outras, a importância da formação continuada, o apoio da família e a valorização de
outros profissionais. Por fim, as pesquisadoras se referem à importância de
pesquisar a história de vida de professores aposentados, possibilitando dar voz e
vez a esses professores e objetivando analisar como eles constroem suas vidas e
suas profissões (BETTI; MIZUKAMI, 1997).
Nesse intuito de dar voz a professores aposentados, no Brasil Hopf e
Canfield (2001) objetivaram compreender como um grupo de professores do ensino
superior construiu sua profissão, reconhecendo o desenvolvimento dos percursos
profissionais em sua carreira. Utilizando a entrevista semiestruturada foram
encontradas cinco tendências:
1) A escolha da carreira e os primeiros anos, em estreita relação com o
esporte, e a influência do professor de Educação Física que haviam tido na escola;
2) afirmando-se como professor, na existência de uma maior segurança e melhor
estruturação dos conhecimentos didático-pedagógicos no ensino superior; 3)
atitudes face às inovações e mudanças, quando segundo a diversidade de cargos,
20
alguns professores procuraram diversificar em relação à aula, enquanto que outros
optaram por fazer mudanças institucionais; 4) relacionamentos interpessoais nas
aulas de graduação, as relações pessoais com seus estudantes eram mais
afastadas, enquanto que na pós-graduação conviviam numa maior proximidade
devido às orientações das pesquisas; 5) os últimos anos e aposentadoria, os
professores manifestaram uma não valorização social da área.
Folle et al. (2009) analisaram a história de vida de quatro professores
atuantes na realidade escolar que se encontravam em diferentes fases da carreira
docente: entrada, consolidação, diversificação e estabilização. Tendo em conta que
“[...] no desenvolvimento profissional, o docente agrega uma gama de expectativas,
perspectivas e valores que auxiliam na definição de sua identidade profissional” (p.
27), os pesquisadores compreendem que na socialização profissional do professor
discorrem uma série de conflitos que diversificam as trajetórias. Como conclusões do
estudo, os autores encontraram que, ainda com formações alcançadas em
momentos e contextos distintos, as trajetórias mostram pontos comuns, como os
motivos da escolha pela profissão, o choque com a realidade na entrada da carreira
e a luta pelo reconhecimento da profissão no contexto social.
Nesse sentido, Almeida e Fensterseifer (2007) estudaram histórias de
vida de duas professoras pertencentes a diferentes momentos históricos. Partindo
do conceito “Processo identitário” de Nóvoa (2008) as autoras estabeleceram uma
tensão entre os aspectos pessoais e profissionais com as mudanças da Educação
Física nas décadas de 60-70, 70-80 e 80-90, no intuito de contextualizar os
resultados encontrados nas histórias singulares.
Durante as décadas de 60-70, em que uma das professoras era
estudante do Ensino Fundamental e Médio, a Educação Física como área do saber
era concebida como um prolongamento da instituição esportiva. Politicamente, os
códigos e normas nessa instituição vieram da ditadura militar, no projeto “Brasil
grande”. Já nas décadas de 70-80 o objetivo principal da área era formar
professores hábeis, ou seja, ótimos atletas que soubessem demonstrar as ações
motoras. Nas décadas de 80-90, o período de crise da Educação Física foi
considerado no estudo como um cenário de discussão acadêmica, visando atingir
concepções mais amplas para a formação integral do ser humano, embora essas
discussões não atingissem o contexto escolar.
21
Nesse contexto histórico os pesquisadores estabeleceram como eixos de
análise do desenvolvimento pessoal e profissional das professoras: a) as
experiências/vivências como alunas nas aulas de Educação Física (construção de
imaginários pela ausência de um professor de Educação Física; b) a escolha da
profissão; c) a procura de algo diferente (pela vontade de mudança de profissão por
causa dos constrangimentos vivenciados na formação como professoras); d) o
ingresso no universo profissional (ALMEIDA; FENSTERSEIFER, 2007). Por fim, o
estudo conclui que:
[...] não importando a formação, os professores acabam caindo na “rotina” de uma “cultura escolar do esporte” que, por um lado, proporciona aos alunos momentos de lazer, de um prazer imediato. Por outro, compromete a sua aprendizagem, limitando-os a “usufruírem do esporte”, nos limites de uma compreensão prévia, tornando-os incapazes de auxiliar na (re) significação da Educação Física enquanto área do saber, além de espaço de pesquisa, de reflexão e de produção do conhecimento. Enquanto esse espaço permanecer fechado, continuaremos a pegar “carona” com o esporte” (ALMEIDA; FENSTERSEIFER, 2007, p. 31, grifos do autor).
Santos, Bracht e Almeida (2009) assumiram a formação do professor de
modo bastante amplo, abrangendo desde as experiências escolares na infância, a
opção e entrada na habilitação profissional, até a aposentadoria. Mediante
entrevistas biográficas orais com três professores aposentados com 20 anos de
profissão na escola, compreenderam a pessoa que é o professor, nas suas relações
com a carreira, com o saber e consigo mesmo, a partir das seguintes temáticas:
1. A vida que antecede e sucede à habilitação profissional: os professores
formados na década de 70 narraram como a decisão da escolha foi assumida pela
paixão pelos esportes. Durante a formação na Faculdade, um dos professores
ressaltou ter vivenciado uma contradição, devido a um alto grau “desportivizante” do
currículo. Na habilitação profissional e formação continuada ocorre um
desprendimento dos saberes que trazem nas histórias de vida, para privilegiar os
saberes acadêmicos, esquecendo-se, entre outros, do cotidiano escolar dos
professores.
2. Estratégias para preservação da vida no trabalho. Entre o diálogo, a
negociação e a doença: aconteceu com os professores uma síndrome de
fragmentação de atividades e multiplicidade de funções, que comprometeu a
identidade profissional devido às constantes contradições no cenário escolar,
22
originadas por mudanças na relação entre professor e aluno e a
desresponsabilização da família na educação dos filhos.
3. Estágios na profissão docente: o início da docência foi um período de
crise na carreira dos professores, ocorrendo assim um momento de “sobrevivência”
e de aprendizagem ensaio-erro, pelo confronto entre o que se aprende nos cursos
de formação e a realidade das escolas. Depois, acontece uma fase de estabilização
e diversificação. Por fim, os autores supõem que todo professor atinge um estágio
de questionamentos em sua carreira sobre aquilo que fizeram durante sua
experiência, refletindo sobre sua imagem na docência.
Por sua parte, Folle, Boscatto e Nascimento (2010) pesquisaram
trajetórias de vida de quatro professores que tinham 25 anos de intervenção
profissional nas escolas estaduais na cidade de Florianópolis. Partindo da pergunta
por seus percursos formativos e profissionais, o estudo aprofundou em quatro
etapas: entrada na carreira, desenvolvimento profissional, cargos assumidos,
desinvestimento profissional e expectativas em torno da aposentadoria.
Os autores concluíram que ainda que os professores narrassem
diferentes histórias, podem ser estabelecidas trajetórias semelhantes, como no caso
de similitudes na formação inicial, o déficit na relação teoria e prática, e um estágio
curricular embasado em uma formação tecnicista voltada para a formação de atletas
e limitado para prover experiências em acordo com as diferentes realidades. A
respeito da formação pode-se advertir como as políticas públicas ainda apresentam
limitações no que se refere ao processo de capacitação de professores, ficando
longe de um genuíno processo de desenvolvimento profissional.
A pesquisa de Bertini Junior e Tassoni (2013) convidou quatro
professores atuantes no ensino público, formados nas décadas de 70, 80, 90 e
2000, com o fim de identificar a concepção do professor e sua prática pedagógica
segundo as mudanças ocorridas na área da Educação Física a partir de três
núcleos: formação inicial; atuação do docente na área e relação docente-sociedade.
De tal modo, destaca-se segundo os discursos desses professores e as diferenças
geracionais e históricas de cada um, uma aparente maior valorização social do
professor na época da ditadura militar e que os pesquisadores problematizam em
relação à presença de um sentimento de temor na sociedade, por ser ele um
profissional a serviço da repressão.
23
Em relação à formação inicial, dois professores formaram-se em um curso
com perfil técnico, esportivo e promotor de saúde pelo meio das aptidões físicas, no
interior de uma abordagem desenvolvimentista, na qual o aspecto motor era
valorizado por meio dos esportes e jogos com características motoras e
psicomotoras. Os dois restantes professores conviveram numa matriz curricular
equilibrada entre as áreas biológicas, esportivas e humanas, ainda que no estudo
“destacou-se uma fragilidade em relação às especificidades dos conhecimentos e as
possibilidades de atuação profissional” (BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013, p. 477).
A respeito da atuação profissional, a desvalorização da área por parte de
pais/responsáveis e alunos, além de gestores e outros professores é o traço
distintivo. Algumas questões estruturais podem contribuir para esta distorção e
perda de legitimidade, contudo:
[...] em muitos momentos o próprio docente não consegue transmitir o valor da Educação Física, pois não tem clareza a respeito de seu objeto de conhecimento e de sua identidade, contribuindo para que se mantenha a idéia estereotipada do jogo e da recreação (BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013, p. 481).
Na relação docente-sociedade, observam-se alguns traços de
pensamento crítico nos professores ao redor de uma concepção da área além do
exercício físico. Porém, foram encontrados traços de estereótipos que revelam
alguma influência histórica da eugenia, da higiene e do militarismo nacionalista do
século XX (BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013).
Nunes e Godoi (2013) analisaram a história de vida, formação e
desenvolvimento profissional de um professor de Educação Física atuante nas redes
de educação pública com 28 anos de profissão. Especificamente, objetivaram
analisar:
a) a motivação para a escolha da profissão e a possível influência que
teve algum modelo de professor. Nesse aspecto, foi clara a influência de seu
envolvimento com o esporte, argumento comum entre os profissionais da Educação
Física. Por outro lado, nenhum professor serviu como modelo profissional, ao
considerá-los como “rígidos e tecnicistas” e pertencentes à época da ditadura militar
no Brasil, b) a formação inicial, que foi considerada pelo professor como insuficiente,
fato que trouxe dificuldades para o ingresso na área escolar, sobretudo na imagem
que tinha de si, c) a trajetória profissional, que foi marcada por experiências
24
significativas como a sua participação como professor de uma especialização,
mesmo que nesse momento ele não contasse com a formação em curso de
mestrado.
Ainda, foi analisado o envolvimento do professor com os colegas de
trabalho e com o movimento sindical. Nesse sentido, os pesquisadores argumentam
a importância que tem para a profissionalização dos professores a formação e
atuação política. Por fim, a respeito da percepção do professor sobre as políticas
educacionais e a formação continuada que apresentavam incoerências na prática e
dificuldades de uma formação oferecida pelas secretarias de educação perpassada
por cursos esporádicos, aleatórios e pouco valorizados pelos professores.
Gallo e García (2013) por meio da reconstrução de tramas narrativas
relacionadas com o corpo3 de professores de Educação Física atuantes em
contextos rurais (escolas) e urbanos (universidade) analisaram o saber da
experiência desses professores em relação ao contexto Colombiano. Nessa
abordagem, enfatiza-se que o sentido de ser professor é determinado, entre outros
aspectos, pela influência de familiares e alguns professores na decisão pela
profissão. Além disso, o trajeto de formação desses professores estava imerso na
tensão entre práticas de submissão e obediência, e de contestação contra as
normas estabelecidas socialmente que tentam definir o significado da docência.
Esse significado de ser maestro foi revelado nas narrativas em relação com a
formação humana e no compromisso com a sociedade, longe de uma perspectiva
técnica e instrumental:
[...] encontramos uma redefinição do professor de Educação Física uma vez que existe um pequeno deslocamento no imaginario do professor que assume um tom altamente pedagógico (GALLO; GARCIA, 2013, p. 55).
Numa pesquisa de caráter historiográfico e biográfico sobre a vida de
professores de Educação Física, a proposta de Frizzo (2016) analisou a biografia do
professor Gregório Bezerra, revolucionário e comunista torturado nas duas ditaduras
do Brasil, através de uma análise documental e material produzido pelo próprio
personagem. Com embasamento na historiografia da Educação Física, na crítica de
perspectivas que imputaram à área uma função de “reprodução do ideário oficial”, e
3Para os pesquisadores, por meio das biografias corporais é possível assumir a dimensão biológica,
relacional e simbólica dos professores, quer dizer, uma auto compreensão deles como sujeitos pertencentes a uma cultura, uma língua, uma tradição, um espaço e um tempo.
25
nas reflexões sobre a economia política do Brasil no século XX, definida pelo autor
como uma produção voltada para o mercado exterior, o pesquisador faz um estudo
biográfico do professor por diferentes etapas que constituíram sua trajetória, fazendo
destaque no campo político, pois, a pesquisa deixa claro que:
Certamente que o fato de ser professor de Educação Física não foi o aspecto mais importante de sua vida, porém, ao contarmos as diferentes histórias de professores de Educação Física que ousaram enfrentar as tendências, estaremos também contando a história da própria Educação Física por meio das suas contra tendências. Assim, podemos caracterizar a vida de Gregório Bezerra, um homem de ferro e flor, que enfrentou a opressão do mundo e ajudou a construir a parte bela da história do Brasil (FRIZZO, 2006, p. 226).
Frizzo (2016) argumenta que mesmo que a Educação Física no país
conserve uma tendência militarista, uma análise das tendências e contra tendências,
como o desenvolvido por ele na sua pesquisa, fornece à historiografia da área um
olhar longe das relações lineares, evolutivas e causais. Esta abordagem permite ter
em conta histórias de pessoas como o professor Bezerra, que durante sua trajetória
foi formado no contexto rígido do militarismo na década de 1930, e depois se tornou
um dos mais importantes militantes comunistas na luta contra as ditaduras.
2.1. Considerações sobre o estudo das histórias de vida de professores
Compreendemos que estratégias como as histórias de vida, como
possibilidades metodológicas de pesquisa, impulsionaram um avanço de
conhecimentos ao redor de perspectivas que visaram à compreensão das trajetórias,
percursos e práticas profissionais dos professores. Ainda, percebe-se em estudos
mais recentes a necessidade de reconhecer as vidas e as trajetórias não como
eventos lineares, mas em vez disso, entendidas como processos inseridos nos
contextos sociais e históricos.
Por um lado, em alguns estudos foi predominante a análise das diferentes
fases da carreira docente (HOPF; CANFIELD, 2001; FOLLE et al., 2009; FOLLE;
NASCIMENTO, 2010). Esses estudos conceberam as trajetórias dos professores
alinhadas com ciclos propostos em alguns referenciais teóricos preexistentes (como
no caso de Miles Huberman). Por outro lado, foram encontrados estudos que
estabeleceram etapas e que surgiram a partir da análise das próprias experiências
26
narradas pelos sujeitos. Essas narrações foram obtidas através da aplicação de
entrevistas semiestruturadas e narrativas (GALLO; GARCÍA, 2013; BETTI;
MIZUKAMI, 1997; SANTOS; BRACHT e ALMEIDA, 2009). A história de vida como
estratégia qualitativa valoriza as experiências dos indivíduos, no entanto ela pode
correr o risco de não ir além de questões subjetivas.
Entretanto, mais recentemente, estudos que abordaram alguns referentes
da historiografia da Educação Física auxiliaram com análises mais contextualizadas
sobre as histórias de vida dos indivíduos (ALMEIDA; FENSTERSEIFER, 2007;
BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013; FRIZZO, 2016). Assim, é possível reconhecer
nessa perspectiva uma compreensão dos aspectos pessoais e profissionais no
interior do contexto histórico da Educação Física.
Além, note-se como no campo da historiografia da Educação Física são
reconhecidas outras versões da história, a partir das narrações dos próprios
professores. No interior desses estudos, destaca-se como os pesquisadores
argumentam a importância que tem para a formação dos professores a atuação
política (no caso dos sindicatos), além do trajeto acadêmico e a atuação profissional.
Concluindo, nos estudos de Hopf e Canfield, (2001); Betti e Mizukami
(1997); Santos, Bracht e Almeida (2009) destaca-se como as histórias de vida de
professores aposentados constituem uma importante fonte de conhecimento sobre
as múltiplas relações do ser professor com a carreira, com o saber e consigo
mesmo, permitindo com isto refletir sobre as implicações que tem para a profissão e
para a área o desenvolvimento de pesquisas qualitativas que reflitam sobre as
experiências sociais, históricas e políticas que edificam o ser docente.
27
3. APROXIMAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO ESTUDO. CONFIGURAÇÕES SOCIAIS E HABITUS
3.1. A sociologia configuracional como embasamento teórico-metodológico
Após a análise dos estudos que adotaram a História de vida como
estratégia de pesquisa sobre as vidas e os saberes dos professores da área,
desenvolveremos o referencial teórico-metodológico do estudo, refletindo na
maneira como uma teoria sociológica pode contribuir para discutir e ressignificar as
pesquisas sobre as histórias de vida do professor.
Como fundamento teórico do estudo foi assumida a contribuição da teoria
Sociológica de Norbert Elias4 (2008, 2009, 2015) que inicialmente foi conhecida no
interior de uma disciplina5 no curso de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade
da UNESP, campus Bauru, enquadrando-o nesse momento com as intenções de
pesquisa, e possibilitando uma compreensão sociológica e histórica sobre o objeto
de estudo.
A proposta da teoria da civilização no contexto da sociologia processual e
configuracional (ELIAS, 2015), vem recentemente contribuindo aos estudos, entre
outros, da área da educação (BRANDAO, 2003; HONORATO, 2015). Ainda que
Elias tenha feito somente algumas referências para esta área nas pesquisas
empíricas do seu expressivo trabalho - a história da civilização - em alusão ao
controle das emoções e a história dos costumes no antigo cenário ocidental,
reconhece-se sua contribuição teórica como relevante para pensar sobre algumas
questões sócio-históricas da Educação Física, particularmente as histórias de vida
dos professores.
4 Norbert Elias foi um sociólogo Alemão de origem Judaico. Teve formação de forma paralela, em medicina por desejo de seu pai, e de filosofia, em Breslau. Foi aluno de Karl Mannheim em Frankfurt. Nesse momento, sua proposta sociológica girava em torno de dois aspectos: a) a sociologia como ciência a serviço da desmistificação de estereótipos e mitologias, deslocada de partidarismos e ideologias, b) a teoria sobre as redes de interdependência que se constituiria numa das bases das suas pesquisas. Sua principal obra foi “O processo civilizador” na que analisou os efeitos da formação do Estado Moderno sobre os costumes e a moral dos indivíduos pertencentes à época medioevo-feudal. Nesse olhar, as questões das repressões do inconsciente causadas pelas regras e padrões sociais, e da violência apoiadas na teoria psicanalítica de Freud ocuparam um lugar principal em suas reflexões. 5 A disciplina é denominada “O Conhecimento Histórico, o Pensamento Intelectual e a Formação Profissional em Educação Física, Esporte e Lazer”, ministrada pela Profa. Adja. Dagmar Hunger.
28
No contexto específico da formação de professores, a teoria Elisiana foi
discutida por Hunger, Rossi e Souza Neto (2011) por meio da pergunta: o que
implica ser professor? Nessa reflexão, os autores sugerem:
[...] a constituição do ser professor resulta das diferentes configurações nas quais ele está imerso. Conforme o pensamento de Elias (1980), as pessoas (no caso, professores) modelam suas idéias a partir de todas as suas experiências e, essencialmente, das experiências que tiveram no interior do próprio grupo. (HUNGER; ROSSI; SOUZA NETO, 2011, p. 701).
O conceito de ser professor, ao situar-se numa compreensão histórico-
social, propõe que a história pessoal do indivíduo (professor) não pode ser
entendida como desconexa da sua experiência no interior de diferentes grupos
sociais. Nessas conjunturas, o indivíduo vai se tornando professor no meio de
múltiplas relações sociais, numa “sociedade de indivíduos”. No interior dessa análise
conceitos-chave da teoria Elisiana como configurações e o habitus auxiliam um olhar
alternativo sobre o mundo social, no qual o indivíduo é entendido como um ser que
convive em meio a redes que ele mesmo constitui ao longo da sua vida.
Esses conceitos surgiram no decorrer da trajetória de pesquisa empírica
de Norbert Elias. No estudo sobre o processo civilizatório, orientado à vida privada e
os costumes da antiga sociedade ocidental, foi possível para o autor entender o
desenvolvimento social e cultural como um processo estrutural percorrido por muitas
gerações, que não tem um rumo definido (ELIAS, 2008).
Assim, durante extensos períodos de tempo tem acontecido um processo
associado ao controle dos impulsos e das emoções. A natureza humana, expressa
em necessidades fisiológicas e pulsões psíquicas, sofreu de muitas restrições
(manuais de bons costumes, padrões de comportamento) deslocando esta natureza
para a esfera do privado e do secreto. Distintas mudanças nas estruturas sociais
acarretaram um processo contínuo de engendramento de sentimentos (ansiedade,
medo e vergonha) sendo possível para os padrões sociais dominantes gerar um
controle efetivo das emoções e dos corpos. O trabalho inicial de Elias foi então
mostrar o longo processo de mudança de padrões primitivos ou naturais, para
padrões civilizados (ELIAS, 2008, 2015).
Nessa perspectiva, a teoria Elisiana pode fornecer um olhar para
compreender o complexo tecido composto entre o indivíduo (professor) e a vida
social. No interior desse arcabouço teórico, Elias estabelece que para compreender
29
alguém é preciso conhecer os anseios primordiais que este deseja satisfazer. A vida
faz sentido ou não para as pessoas, dependendo da medida em que elas
conseguem realizar tais aspirações, mesmo que esses anseios não estejam
definidos antes de todas as experiências.
É por isto que esta pesquisa assume as trajetórias dos professores em
suas relações e interações, e não do indivíduo isolado na sua história de vida
singular. A compreensão dessas histórias de vida vai além de uma história linear e
causal, pelo contrário, deve procurar abranger as contradições inseridas nas
relações sociais e históricas que determinam os desejos, os rumos, as contradições
e as mudanças. Certamente, Elias sugere sobre a necessidade de mudar o nosso
pensamento para abordar também a estrutura total da experiência social. Assim, não
pensar mais em substâncias isoladas e, pelo contrário, empregar abordagens em
termos de relações e funções (ELIAS, 2008).
Considerando-se a teoria configuracional como relacional e fornecedora
de conceitos-chave como os de configuração social e habitus para pensar as vidas
dos professores da área da Educação Física, o presente capítulo objetiva
problematizar essa estrutura teórica para a análise das histórias de vida de
professores de Educação Física, como indivíduos inseridos nos complexos
processos de desenvolvimento e configuração da sociedade por meio de conceitos
como os de configuração social, habitus e o processo civilizatório.
3.2. A configuração social
Norbert Elias, situado entre as interfaces da sociologia e psicanálise,
tentou explicar o processo de desenvolvimento individual no nível ontogenético,
assim como entre a sociologia e a antropologia no nível filogenético do
desenvolvimento coletivo da humanidade (HEINICH, 2001). Assim, afastou-se de
concepções deterministas - que compreendem os homens como sendo
influenciados, apenas, por forças externas que agem sobre eles - como de posturas
idealistas que focalizam o indivíduo como sendo inteiramente livre de qualquer
determinação. Por isso, o conceito de configuração, segundo o autor, coloca uma
análise mais realista sobre o mundo social, no qual as pessoas:
30
[…] através de suas disposições e inclinações básicas são orientadas umas para as outras das mais diversas maneiras. Estas pessoas constituem teias de interdependência ou configurações de muitos tipos, tais como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados (ELIAS, 2008, p. 15).
A configuração estabelece-se, assim, como um conceito alicerce da
sociologia processual que pretendeu construir um arcabouço conceitual afastado
dos conceitos das ciências naturais. Segundo Hunger, Rossi e Souza Neto (2011) o
conceito Elisiano de configuração contribui para entender o significado de ser
professor hoje. De tal modo, segundo os autores, estudos com embasamentos
históricos e sociológicos são importantes porque contribuem para a compreensão
dos códigos e as práticas que constituem os saberes e poderes na construção da
área e da profissão.
Essa perspectiva aplicada no estudo das histórias de vida dos
professores alcança uma importância significativa, isto pela razão que os indivíduos
constantemente fazem escolhas segundo os seus ideais e desejos, posicionamentos
políticos, crenças e valores, inseridos nas relações de força relativa dos jogadores6 e
próprios das configurações sociais.
A respeito da aplicação desse conceito no estudo intitulado “Os
estabelecidos e os outsiders”, num povoado (Winston Parva) dois grupos
estabelecem uma configuração caracterizada por uma sociodinâmica de relação, na
qual um deles, os “estabelecidos”, ostenta as vantagens econômicas e materiais
disponíveis, além de se colocarem numa ordem superior frente aos outros, os
outsiders (ELIAS; SCOTSON, 2000). Por meio de uma análise diacrônica, o autor
explica este vínculo duplo, assim como a distribuição de poder existente. Os
“estabelecidos” tinham tal posição por serem descendentes dos antigos moradores
daquela região e por terem atravessado juntos um processo grupal por duas ou três
gerações. Não obstante, no seu interior, constituía-se uma segunda identidade “nós”
competitiva, na luta por privilégios e vantagens sociais (ELIAS; SCOTSON, 2000).
6 No livro “Introdução a sociologia”, Elias (2008) propõe substituir o conceito de “relações de poder”
pelo conceito de “força relativa dos jogadores”. Nessa perspectiva, o poder constitui um elemento integral de todas as relações humanas, como ocorrência cotidiana, sua multipolaridade e seu equilíbrio podem ser compreendidos pelos modelos de jogo. Nessa análise, Elias afirma que: “[...] sejam grandes ou pequenas as diferenças do poder, o equilíbrio de poder está sempre presente onde quer que haja uma interdependência funcional entre pessoas [...] Dizemos que uma pessoa detém grande poder, como se o poder fosse uma coisa que ela metesse na algibeira. Esta utilização da palavra é uma relíquia de ideias mágico-míticas. O poder não é um amuleto que um indivíduo possua e outro não. É uma característica estrutural das relações humanas, de todas as relações humanas” (p. 81).
31
No interior dessa análise, o conceito de “carisma grupal distintivo”
proposto por Elias e Scotson (2000) explica como na sociedade tende-se a
estabelecer grupos que ostentam para seus membros uma autoimagem possibilitada
nos termos dos diferenciais de poder. As pessoas que constituem os grupos
estabelecidos (nós) vêem-se como melhores e dotados de uma virtude específica
que é partilhada por todos seus membros e que falta aos outros (eles), os outsiders.
Conforma-se assim uma “sociodinâmica de relação” entre grupos que têm
atravessado gerações, e nos quais ocorrem lutas pelas vantagens materiais e
simbólicas disponíveis.
A opinião desenvolvida num processo grupal liga-se ao indivíduo por meio
de um “cordão elástico invisível”. Este termo mostra que quando o diferencial de
poder é muito grande frente aos outros, um membro de um grupo estabelecido pode
ser indiferente às opiniões dos outsiders, mas não às opiniões de seus pares. A
autoestima e a autoimagem estão ligadas ao que os outros do grupo pensam dele
(ELIAS; SCOTSON, 2000).
Figura 1- Configuração estabelecidos-outsiders
Fonte: Elaboração própria com base na proposta de analise configuracional de Elias e Scotson (2000)
Essa sociodinâmica de relação (estigmatização) entre grupos interligados
estabelecidos e outsiders é determinada por sua forma de vinculação, e não por
qualquer característica (biológica) independente dela. Tal é o caso como: 1) relações
entre grupos podem manter-se latentes (diferencial de poder é maior); 2) aparecer
abertamente sob a forma de conflitos contínuos (a relação de poder se altera em
favor dos outsiders); 3) no caso contrário, esta análise pode não ser operante
32
quando a dependência é quase inteiramente unilateral (diferencial de poder é muito
grande). Essas diferenças permitem compreender como as pessoas estão
aprisionadas num vínculo duplo, pois, elas tendem a integrar grupos perante
distintos bens em disputa (profissionais). Esses grupos interligados lutam pela
manutenção de uma superioridade sobre outros, no interior de um mundo cada vez
mais interligado.
Pensar um indivíduo alheio a essas disputas, como independente e
autônomo da natureza das próprias configurações sociais, resulta para Elias, uma
análise idealista e incompleta. Porém, essas interdependências e as diversas formas
de vinculação social têm também implicações nos aspectos pessoais, ou o que o
autor chama de “estrutura social da personalidade”.
3.3. O habitus
Nesse olhar configuracional, o habitus representa outro conceito-chave no
interior do processo civilizatório. No intuito de demonstrar que o indivíduo e a
sociedade não são entidades fixas nem deterministas, Elias estabelece que o
habitus não só poderia contribuir para pôr fim a essa relação dicotômica
predominante no momento histórico do autor, mas também explicar a maneira como
a vida do indivíduo, mesmo que não possa ser compreendida como afastada do seu
meio social, contém certas propriedades psicológicas que permitem sua
singularidade e especificidade.
A estrutura social em constante transformação mantém uma estreita
ligação com a estrutura da personalidade ou habitus. Esse habitus social se refere à
particularidade das funções psíquicas de uma pessoa, uma qualidade estrutural de
sua auto-regulação em relação a outras pessoas e coisas e que vai além das suas
maneiras de pensar (ELIAS; SCOTSON, 2000). Assim, surge como expressão que
se refere à maneira e a medida especiais em que a qualidade estrutural do controle
psíquico de uma pessoa difere de outra (ELIAS, 2015).
33
Esse habitus, a composição social dos indivíduos, como que constitui o solo de que brotam as características pessoais mediante as quais um indivíduo difere dos outros membros da sua sociedade. Dessa maneira, alguma coisa brota da linguagem comum que o indivíduo compartilha com outros e que é, certamente, um componente do habitus social - um estilo mais ou menos individual, algo que poderia ser chamado de grafia individual inconfundível que brota da escrita social (ELIAS, 2015, p. 123)
Na pesquisa de Elias “A sociedade da corte” (CHARTIER, 1988), estudo
feito numa análise sociológica de longa duração, entre os séculos XI até XVI, sobre
o estado absolutista de Luís XIV, o autor ilustra como foram estabelecidos
instrumentos de dominação como o monopólio fiscal e militar, além de uma rígida
imposição dos padrões sociais próprios da etiqueta da corte. Portanto, Elias vai
propor o conceito de habitus, interpretado por um dos seus maiores leitores, o
historiador Francês Roger Chartier:
Inscrevendo assim a distinção na proximidade, a realidade na aparência, a superioridade na dependência, a vida da corte requer dos que nelas participam propriedades psicológicas específicas, que não são comuns a todos os homens: é o caso da arte de observar os outros e de se observar a si próprio, a censura dos sentimentos, o domínio das paixões, a incorporação das disciplinas que regulam a civilidade. Uma tal transformação não modifica apenas as maneiras de pensar, mas toda a estrutura da personalidade, a economia psíquica que Elias designa por um termo antigo, o habitus. (CHARTIER, 1988, p. 113)
O habitus social contém efeitos coercitivos, necessários para o indivíduo
conseguir se identificar com o grupo, no intuito da sua sobrevivência tanto biológica
como sociocultural. Ele mesmo, por meio da sua capacidade de “auto observar-se”
vai moldando sua conduta, seus sentimentos e comportamentos, em relação com os
outros. Dessa maneira, a sociedade mantém uma “auto-regulação” entre todos os
indivíduos, pela qual ela percorreu um longo processo de integração, no interior do
processo civilizatório:
A unidade primordial de sobrevivência, o nível mais elevado de identidade-nós era a tribo. Nesse estágio inicial de desenvolvimento, ela desempenhava um papel semelhante ao dos estados nacionais numa etapa posterior. Assim, a identificação pessoal do indivíduo era tão natural quanto necessária. A ela, como mais elevada unidade e fonte de sentido coletiva, em outras palavras, ajustava-se o habitus social, o caráter social ou a estrutura social de personalidade do indivíduo (ELIAS, 2015, p. 142)
34
Elias argumenta que o habitus tem sua origem numa filiação social a
determinado grupo de sobrevivência. Em sociedades primitivas, à diferença das
atuais, o habitus representava uma construção mais simples de acordo com as
dinâmicas de inter-relação existentes nesse estágio. A esse fato Elias atribuía o
termo de “camada única”, para designar a composição desse habitus, associada a
tribo ao qual o indivíduo pertencia. Pelo contrário, no atual estágio de
desenvolvimento, os habitus sociais representam variadas camadas, umas
relacionadas com as outras, em relação à participação em diferentes grupos com os
quais eles costumam se identificar, entre eles, a nacionalidade. Dessa maneira, o
habitus de uma pessoa vai depender do “número de planos interligados” da
sociedade na qual vive.
3.4. Processo civilizador e individualização.
Conceitos síntese como configurações e habitus social constituem a
“identidade eu-nós” que um indivíduo vivencia durante sua vida. No interior desse
desenvolvimento, o uso dos pronomes “eu” e “nós”, leva a entender a importância
das representações que os indivíduos constroem de si mesmos, assim como as que
os outros fazem deles. Desta maneira, os seres humanos são a única espécie com a
capacidade de se auto distanciar e designar por meio da linguagem aos outros como
“eles”, e a si mesmos como “eu” ou “nós”. Neste processo, ambos os aspectos
biológicos da espécie (o rosto humano, o corpo) e simbólicos atrelados à cultura (a
memória, a comunicação) variam segundo o estágio de desenvolvimento da
sociedade.
Essa proposta de compreensão do processo civilizatório auxilia o
entendimento histórico que apresenta o desenvolvimento humano como um
processo contraditório: temos hoje uma individualização manifesta no desequilíbrio
entre uma “identidade eu”, com referência a uma “identidade nós”, quando na
aparência, a humanidade encontra-se indo para um processo de integração global,
como ocorrido na formação dos estados e as atuais pós-nações (ELIAS, 2015).
O atual estágio de desenvolvimento da civilização, em que as principais
fontes de poder (técnicas, militares, econômicas) ultrapassam a autonomia, a
competitividade e a função de sobrevivência dos grupos de parentesco, nos leva a
pensar as construções identitárias dos sujeitos perpassadas por cenários mais
35
complexos de dominação e forças que se opõem umas às outras. Assim, temos
como que uma “identidade nós” no processo decorrente da individualização dirige-se
para uma “identidade eu” (ELIAS, 2015).
Nesse sentido, os progressos técnicos e econômicos das sociedades
industrializadas estão conduzindo os indivíduos a um processo de individualização
muito agressivo. As identificações com a horda, nas sociedades antigas, passando
pelos grupos de parentesco como a família, como aconteceu nas sociedades pré-
estatais, e nas que existia um equilíbrio relativo entre os conflitos e os acordos,
estão sendo substituídos por um cenário que outorga ao indivíduo a plena
responsabilidade por sua vida (ELIAS, 2008).
Esse processo civilizatório é complexo demais para antecipar a sua
direção, e depende das múltiplas interligações sociais e das decisões que o conjunto
de indivíduos adote. Nesse sentido, artesãos livres-classe latifundiária, nobres-
burgueses ou capitalistas-desprovidos têm sido pólos das tensões mais poderosas,
que nunca foram planejadas por indivíduos isolados. Estas são “forças reticulares”
que no curso da história ocidental mudaram a forma e a qualidade do
comportamento humano, assim como toda a regulação psíquica do comportamento
em direção à civilização (ELIAS, 2015).
Assim, a identidade “nós” é inseparável da identidade individual “eu”, pois
essa inter-relação oferece aos sujeitos possibilidades de diferenciação de uns aos
outros através das orientações, necessidades, anseios e desejos. Em Elias, a busca
de autonomia do indivíduo é colateral de suas agrupações num espaço social e
segundo as condições disponíveis (ELIAS, 2015).
Assim sendo, hoje poderíamos encontrar como os seres humanos tendem
a se identificar, nessa relação social, como sendo ao mesmo tempo submetidos a
práticas de individualização muito diferentes. Aqui, o processo civilizatório vem
atuando na constituição de seres humanos “civilizados” gerando práticas de controle
das condutas e das emoções no nível da consciência e no nível social (ELIAS,
2008).
Nosso próprio entendimento como seres humanos é inteiramente
dependente das tensões e conflitos acontecidos nessa relação sociedade-indivíduo.
A pergunta que tornou significativo o estudo de Elias tem a ver com a possibilidade
ou não que a humanidade consiga atingir um equilíbrio mais estável dessa balança
“eu” e “nós” no decorrer desse processo civilizatório que ainda vivenciamos.
36
3.5. O estudo de uma trajetória. Mozart
Um dos principais estudos empíricos de Elias com embasamento na
teoria configuracional foi feito sobre a vida do grande músico Amadeus Mozart no
livro intitulado “Mozart. Sociologia de um gênio”. Por meio desse estudo, interessa
para a presente pesquisa apresentar algumas reflexões desenvolvidas pelo Elias
sobre a vida do músico, considerado pela humanidade como um gênio. Dessa
maneira, analisar como é possível aplicar conceitos como configurações sociais e o
habitus, para o estudo de histórias de vida de indivíduos, no interior de uma
perspectiva histórico-social.
Um dos objetivos do sociólogo nesse estudo foi argumentar que mesmo
que Mozart seja considerado como um dos maiores expoentes da música clássica, é
possível entender a maneira como sua trajetória foi sendo determinada nas
diferentes redes de interdependência em que foi construindo suas experiências
pessoais e musicais. Dessa maneira, destaca como o seu grande talento não
conseguiu ir além do momento histórico e das redes constituídas na época da
sociedade da corte. Por fim, o autor demonstrou a análise reduzida que até então
era feita sobre a vida de Mozart, chamando-o de “gênio musical”, porquanto
correspondia a uma compreensão reducionista que desconhecia os múltiplos
elementos que fizeram parte da formação do músico, e que foram além das
explicações hereditárias ou aspectos divinos, empregados na época.
Elias fez uma leitura na qual analisou em simultâneo os principais
aspectos biográficos na vida do músico em relação a um complexo processo
estrutural: a história da arte e a música inserida num processo social mais amplo.
Tentou mostrar, assim, como por meio da teoria das configurações era possível
enfrentar um problema epistemológico nas ciências humanas: a influência que a
fragmentação das ciências biológicas e fisiológicas exercia sobre as ciências sociais
e humanas (ELIAS, 2009).
As configurações estão inseridas na compreensão que o processo social
geral, de acordo com Elias, segue numa certa direção não planejada devido à
complexa rede de indivíduos que o compõem. Em Mozart, através do “macrocosmo”
o autor mostra um processo civilizatório que percorreu a época do absolutismo e as
sociedades da corte, em fins do século XVII, para a ascensão da classe burguesa no
37
século XVIII. Foi assim que ocorreram mudanças sociais tais como a divisão do
trabalho e do mercado, do mesmo modo como o surgimento da competição própria
das nascentes sociedades industrializadas burguesas (ELIAS, 2009).
No nível ontogenético a configuração veio a ser compreendida
primeiramente como uma característica estrutural da sociedade, na que uma
aristocracia da corte determinava a vida social, os padrões da época e as
preferências musicais, acompanhando a distribuição geral de poder. Esses padrões
impostos entravam em conflito com os principais desejos do jovem Mozart: a
liberdade e a autonomia para criar, embora tais valores o “gênio” jamais tenha
alcançado, porquanto teve que lutar contra uma desigual distribuição de poder que
nesse momento era detida contra sua classe social, a burguesia. Vemos então como
um desejo pode estar longe de sua realização.
A vida do Mozart aconteceu na tensão entre dois mundos: o círculo não
cortesão (os outsiders) e a aristocracia da corte (os estabelecidos). Para Elias, uma
das suas maiores preocupações de pesquisa foi conhecer como e por quê os
indivíduos ligam-se entre si (ELIAS, 2008). Mozart teve que enfrentar seu pai e os
príncipes da corte, pois, para a época do músico, gerava-se um habitus social de
obediência, próprio do microcosmo social (corte de Salzburg) e o macrocosmo social
(a sociedade do século XVII) e que levava a condutas de dependência pelas
diferenças de poder.
Mozart confrontou como um “outsider” duas forças combinadas da
sociedade aristocrática: a primeira, a força de seu pai, um empregado da corte, e
quem desejava que seu filho pudesse herdar seu lugar como músico para assim
manter possibilidades de ascensão social; a segunda, a força proveniente do
príncipe governante do estado quem tentou quebrar a sua resistência. Assim, ele foi
um subordinado socialmente apesar do seu grande talento musical e a preferência
que de sua música tinham as classes mais altas. Esta relação de forças é um
exemplo do que Elias chamava “aspectos sociogenéticos” do processo civilizador, e
que induzira depois a Mozart a viajar fora do principado para lutar pelo almejado
reconhecimento de sua obra (ELIAS, 2009).
Mais estritamente em relação com seu pai, Mozart sempre esteve sujeito
a uma pressão excessiva, fato que deixou alguns traços infantis que o afetariam,
com um senso da realidade limitado e o exagero de seus próprios desejos e
fantasias. Leopold Mozart, músico burguês da Corte de Salzburgo padeceu à
38
relação de interdependência entre a Aristocracia e a Burguesia, assumindo a
posição de outsider, um servidor com escassas oportunidades de ascensão social e
econômica. O talento do seu filho foi entendido por ele como uma oportunidade para
equilibrar a balança de poder, daí que as relações pai-filho tornaram-se de pressão e
excessiva dependência. Até o casamento de Amadeus Mozart aos 25 anos, seus
aspectos financeiros foram atendidos pelo seu pai (ELIAS, 2009).
Ainda, quando era tão somente um adolescente, o jovem Mozart já tinha
produzido oito óperas. Embora o seu grande talento, ele não conseguia desequilibrar
a posição social de outsider. Foi assim que no percurso da sua vida como
compositor e artista, padeceu muito sofrimento por não alcançar os seus desejos de
liberdade criativa. É possível, segundo Elias, que essa autoconsciência seja fruto do
excessivo constrangimento durante a sua formação inicial (ELIAS, 2009).
Na formação como músico, porquanto até os 21 anos, Mozart recebeu um
complexo e árduo treinamento que continha a apresentação das obras de grandes
músicos e viagens a outras cortes mais influentes como Viena, França e Paris.
Justamente, a participação nas cortes e a exibição da sua música em “tournées de
concerto”, fizeram com que o menino pudesse conhecer cidades mais evoluídas do
ponto de vista social e econômico. Isto se constituía numa experiência tão
estimulante como exigente para ele, em relação a sua idade.
No decorrer da sua formação como artista, Mozart exibiu uma
hipersensibilidade musical que afetou todas as suas relações sociais. Certamente o
pessoal da corte tinha que fazer algum tipo de imitação musical e sonora para
conseguir interatuar com o menino, o que era interpretado por ele como um sinal de
amor e aceitação. Este fato produziu um traço infantil na sua personalidade que o
acompanhou durante toda sua vida, causando-lhe mais tarde muita carência de
amor e uma forte depressão, quando ele não conseguia que os demais
satisfizessem os seus desejos. Com a música, Mozart alcançou os desejos de amor
que ele mantinha, mas depois, na vida adulta, isto causou-lhe muita frustração:
Quando o sentimento de não ser amado e de solidão se tornava muito forte, ela deve ter sido um conforto e um refúgio. No final, no entanto, ele já não podia fechar os olhos; seu fracasso, a não realização de sua necessidade de amor, a falta de sentido de sua vida eram indisfarçáveis (ELIAS, 2009, p.72).
39
Mozart tinha uma grande capacidade de criação musical, adiante do seu
tempo, mas ele não conseguiu atingir o processo de mudança histórica final, o qual
poderia ter dado a autonomia tão esperada, talvez porque sua criação já não seria
mais sujeita ao gosto dos príncipes.
Porém, Elias esclarece como o músico sustentava sentimentos muito
elevados que tendiam a reconhecer seu próprio valor como compositor e intérprete,
o que o levou a não se identificar com o “establishment” aristocrático; ele sempre
manteve o hábito de dizer o que sentia e pensava, apesar de: a) conviver numa
família pertencente a um círculo de pequenos burgueses excluídos socialmente; b) a
constante pressão que sofreu por seu pai, e por último; c) o habitus social
predominante muito próximo para a polidez e a cortesia:
Recordar que Mozart certa vez se viu em tal encruzilhada, que foi forçado a tomar uma decisão que afetou todo o rumo futuro de sua vida — e recordar também que ele optou por um caminho e não por outro — evidencia ainda melhor como é equivocada a divisão conceitual entre o "artista" e o "homem". Fica claro que o desenvolvimento musical de Mozart, a qualidade especial de sua evolução como compositor, é inseparável do desenvolvimento de outros aspectos de sua pessoa — no caso, sua capacidade de perceber que carreira, ou precisamente, que lugar seria mais frutífero para o desabrochar de seu talento. A ideia de que o "gênio artístico" pode se manifestar em um vácuo social, sem levar em conta a vida do "gênio" enquanto ser humano na convivência com os outros, pode parecer convincente se a discussão permanecer num plano muito genérico (ELIAS, 2009, p. 125).
Em suma, pode-se argumentar a dificuldade de tentar dividir a vida
pessoal e a vida artística de Mozart. Para os fins da nossa análise das histórias de
vida de professores, podemos reconhecer como para Mozart houve a ação de um
conjunto de complexidades produzidas nas configurações sociais no decorrer da sua
vida, e que podem nos levar a compreender que a história de vida de um indivíduo
está inserida nessas redes de interdependência. A abordagem sociológica de Elias
sobre a vida de Mozart nos apresenta uma possibilidade de reflexão sobre a vida do
professor, evitando incorrer em análises dicotômicas, empregando conceitos-
sínteses como o de configuração e habitus social, os quais permitem entender as
conexões pessoais e sociais que constituem aspectos diferentes de uma mesma
realidade.
Na presente dissertação consideramos a pesquisa de Elias sobre a vida
de Mozart significativa para as nossas intenções metodológicas, na medida em que
40
sua proposta de sociologia configuracional permite: a) pensar a estrutura social na
vinculação de duas dimensões: micro e macro, subjetividade e objetividade,
indivíduo e sociedade, por meio da metáfora do tempo (longa duração); b) analisar
conflitos, ambivalências, contradições vividas pelos indivíduos em torno as
características sócio-históricas do seu tempo e suas escolhas pessoais; c) refletir
configurações específicas constituídas na estrutura social e incorporadas nos
habitus dos indivíduos (relações com a família, com a profissão, com os padrões
sociais etc.).
41
4. METODOLOGIA
“Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para el que tiene corazón” Gabriel García Márquez
No presente capítulo apresentamos as escolhas teórico-metodológicas,
os participantes que fizeram parte do estudo e os procedimentos metodológicos e
técnicas de coleta, para narrar o vivido no interior da pesquisa.
4.1. A sociologia configuracional como fundamento metodológico
Para pensar a sociologia configuracional como referencial metodológico
de pesquisa trazemos a crítica que Norbert Elias (2008) faz à estatística como
ferramenta para a compreensão dos problemas sociológicos e a subsequente
subvalorização das impressões descritivas, consideradas como subjetivas e sem
rigor. O autor propõe enfrentar esse reducionismo metodológico por meio da
dialética análise-sinopse:
A análise ou separação dos elementos é meramente uma etapa temporária numa operação de pesquisa que requer a complementação por outra, pela integração ou sinopse dos elementos, do mesmo modo que esta requer a suplementação pela primeira; aqui o movimento dialético entre análise e síntese não tem começo nem fim. (p. 58, grifo nosso)
Assim, a análise é uma etapa de separação temporária dos elementos
para depois ser complementada pela integração ou sinopse. Portanto, na tarefa
metodológica da sociologia configuracional de analisar as razões pelas quais os
indivíduos conformam entre si configurações sociais, e em relação aos nossos
objetivos de pesquisa, partimos das vidas singulares dos indivíduos (professores)
por meio de entrevistas semiestruturadas compreendidas no contexto da história oral
de vida (MEIHY; BOM MEIHY, 2010) e processual das configurações, as quais
fazem parte de um “movimento temporal” (ELIAS, 2008) de modo que no momento
da sinopse, pudéssemos desenvolver um entrecruzamento dos relatos dos
professores para cada país, Brasil e Colômbia, trazendo referentes historiográficos
para auxiliar o processo.
42
4.2. A história oral de vida como gênero da história oral
Existem segundo Meihy e Bom Meihy (2010) três gêneros em história
oral: de vida, temática e tradição oral. Para o presente estudo optamos pela “história
oral de vida” uma vez que oferece a possibilidade de reconhecer a subjetividade
implícita nas narrativas das pessoas que falam sobre o que vivenciaram durante
suas trajetórias. Assim, as histórias de vida:
[...] são decorrentes de narrativas e estas dependem da memória, dos ajeites, contornos, derivações, imprecisões e até das contradições naturais da fala. Isso talha a essência subjetiva da história oral de vida. (MEIHY, BOM MEIHY, 2010, p. 35)
Nesse sentido, as fontes orais originadas nessa modalidade metodológica
não são reduzidas a dar conta objetivamente do acontecido. Pelo contrário, podem
contar o que as pessoas queriam fazer, o que confiavam estar fazendo e o que
agora avaliam que fizeram (GARNICA, 2015). Portanto, a história oral de vida é
completamente legítima do ponto de vista histórico, e deve ser compreendida
criticamente no sentido em que as narrativas nunca são neutras, pelo contrário,
sempre respondem às distintas posições e estratégias que orientaram as decisões e
as escolhas dos indivíduos.
Dessa forma, a história oral de vida vai além das construções narrativas
fixadas em tentativas de objetividade a partir dos fatos históricos, admitindo uma
série de condições próprias da natureza humana tais como as fantasias, delírios,
silêncios, tendo em conta que “o improvável também se situa no âmbito da vida
social” (MEIHY; BOM MEIHY, 2010, p. 34).
4.3. Participantes da pesquisa
No processo da seleção dos participantes, refletimos sobre as
características pessoais e profissionais dos professores que seriam convidados, ao
redor das nossas intenções. A esse respeito podemos dizer que os focos de estudo
foram inicialmente histórias de vida de alguns professores aposentados. Assim,
foram estabelecidos os seguintes critérios de escolha:
a) Como requisito de pesquisas embasadas na história oral, tivemos, no
decorrer da pesquisa que definir as condições espaço-temporais ligadas à
própria história. Dessa maneira, decidimos por incluir professores formados
em Educação Física na década de 60.
43
b) Uma Experiência considerável como professores/as em seus países, em
escolas, faculdades, associações e/ou coletivos e, se possível, com uma
trajetória reconhecida pela comunidade acadêmica no interior da história da
Educação Física, na liderança em projetos educativos, sociais e políticos.
Diante destes critérios, na pesquisa foram escolhidos dois professores
aposentados em cada um dos países envolvidos. Para o Brasil, inicialmente foram
estabelecidos contatos informais com docentes Universitários do Estado de São
Paulo7 no intuito de reconhecer os professores que tiveram uma participação
significativa em escolas, instituições e faculdades de Educação Física, segundo os
nossos critérios de escolha.
Dessa forma, inicialmente conseguimos nos aproximar do professor
aposentado José Maria Guilmar Mariz de Oliveira, convidado previamente pelo
Grupo de Estudos e Pesquisas Históricas, Sociológicas e Pedagógicas em
Educação Física, da Faculdade de Ciências da UNESP Bauru, para abordar alguns
aspectos da sua perspectiva epistemológica da Educação Física. Conseguimos
estabelecer contato com o professor José por meio de e-mail. Assim, foi acordada
uma entrevista, no Instituto de Educação Física da Universidade de São Paulo, na
cidade de São Paulo.
Durante essa entrevista, o professor José propôs contatar o professor
João Baptista Tojal Andreotti, quem participou junto dele de alguns momentos
importantes da sua trajetória profissional. Verificando a trajetória do professor Tojal
(na plataforma do Currículo Lattes) decidimos escolhê-lo como o outro depoente
para a pesquisa. A entrevista com o professor Tojal foi desenvolvida na sua
residência na cidade de Campinas, no estado de São Paulo.
As trajetórias pessoais e profissionais8 desses professores são
apresentadas no seguinte quadro:
7 Foi estabelecido um recorte geográfico para o estado de São Paulo, devido à grande extensão territorial no Brasil (em comparação com a Colômbia) e nesse sentido, o grande número de Universidades, programas de formação da área no país e professores vinculados. 8As trajetórias dos professores do Brasil foram verificadas a partir de uma busca dos seus currículos
na plataforma Lattes do CNPq, pertencente a uma integração de bases de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações para o país, além de outras fontes como documentos biográficos e textos produzidos por esses professores.
44
Quadro 1- Trajetórias dos Professores do Brasil
PROFESSOR TRAJETORIA PESSOAL E PROFISSIONAL
JOSE GUILMAR
MARIZ DE
OLIVEIRA
-Nascido em 1947. -Formado no ano de 1969 pela Universidade de São Paulo-USP. -Especialização pela Universidade de São Paulo-USP (1976). -Mestrado em Kinesiology and Physical Education pela Northern Illinois University (1971). -Doutorado em Physical Education pela University of Oregon (1980). -Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (1989). -Professor titular da Universidade de São Paulo e da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Física. (1986-2002) -Aposentado no ano 2002. -Coordenador general Instituto de Cinesiologia Humana de São Paulo. (2002-atualidade)
JOAO BAPTISTA
TOJAL
-Nascido em 1945. -Graduação em Educação Física. Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1970). - Mestrado em Filosofia da Educação. Universidade Metodista de Piracicaba, Brasil. (1989). - Especialização em Basquetebol. Universidade de São Carlos-UFSCAR (1979). -Doutorado em Motricidade Humana. Universidade Técnica de Lisboa U.T.LISBOA, Portugal. (1993). - Pós-Doutorado. Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (1982). - Livre-docência. Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (1993). - Professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUC Campinas, Brasil (1997). -Professor da Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP (1982-2001) -Idealizador e primeiro diretor da Faculdade de Educação Física (FEF) UNICAMP (1985). - Vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). -Aposentado no ano 2001. -Avaliador de programas de Educação Física-MEC.
Fonte: Elaboração própria com base em documentos biográficos e textos produzidos pelos professores.9
No caso da Colômbia, tivemos em conta a realização de um importante
evento acadêmico nos dias prévios à escolha dos participantes da nossa pesquisa.
Assim, na comemoração dos “80 anos da profissão Educação Física”10 realizado no
mês de junho de 2016, os professores Hector Peralta Berbesí e Jorge Zabala
Cubillos foram reconhecidos como os principais contribuintes para o
desenvolvimento da profissão no país. Essa seleção foi realizada por um comitê
interinstitucional composto pelo “Comitê Olímpico Colombiano-COC”, a “Associação
Colombiana de Professores de Educação Física-ACPEF”, o “Instituto de Recreação
e Esportes-IDRD” de Bogotá (capital do país) e as Universidades “Pedagógica
9 Refere-se a livros (informes de pesquisa) produzidos pelos professores durante sua trajetória
profissional, os quais contêm informação biográfica dos autores. 10Site oficial do evento “Comemoração dos 80 anos da Educação Física como profissão” na Colômbia: http://www.coc.org.co/all-news/se-celebro-la-gala-de-lanzamiento-de-los-80-anos-de-la-educacion-fisica-como-profesion/ Acesso em 10/10/16.
45
Nacional-UPN” e “Cundinamarca-UDEC”11. Dessa forma, consideramos incluir esses
professores por se enquadrarem aos nossos critérios de escolha dos participantes.
A seguir são apresentadas as trajetórias pessoais e profissionais dos
professores Colombianos:
Quadro 2- Trajetórias de vida dos professores Colombianos
PROFESSOR TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL
JORGE ZABALA
CUBILLOS
-Nascido em 1930. -Graduado de 1960 na “Escola Nacional de Educação Física” - ENEF. -Organizador do jornal “Classe Obreira” na época da violência (1948). -Representante da Associação de professores de Educação Física da Colômbia. -Professor da “Universidade Pedagógica Nacional” - UPN. -Vice-presidente e membro organizador do XXI Congresso Pan-americano de Educação Física-Colômbia-(2010).
HECTOR PERALTA BERBESÌ
-Nascido em 1935. -Graduado no ano de 1961 na “Escola Nacional de Educação Física - ENEF. -Professor da “Universidade Pedagógica Nacional” e “Universidade de Cundinamarca”. -Especialista em Educação Especial com ênfase na Comunicação. -Membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Educação Física- FIEP. (1979-atualidade) -Vice-presidente “Conselho Latino-americano e do Caribe da Educação Física e Ciências do Esporte” - CLACED. -Conselheiro do “Conselho Centro-americano e do Caribe da - Educação Física, esporte e lazer para pessoas com deficiências” - CACEFI. -Repórter acadêmico da Federação Internacional de Educação Física FIEP. (1979-atualidade)
Fonte: Elaboração própria com base em documentos biográficos e textos produzidos pelos professores.
A aproximação pessoal com esses professores facilitou-se pelo fato de
conhecer muitos colegas no país, os quais possibilitaram os encontros. Por exemplo,
no caso do encontro com o professor Zabala, contamos com a colaboração de um
parente próximo. O professor Peralta foi contatado via telefone. As entrevistas foram
feitas nas residências dos professores.
4.4. Procedimentos metodológicos e técnicas de coleta
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram orientados pela
proposta de Meihy e Bom Meihy (2010), na qual destacamos os seguintes
momentos: a) realização da entrevista e gravação; b) estabelecimento do
documento escrito, e por último c) a análise.
11 As trajetórias profissionais dos professores participantes da pesquisa foram desenvolvidas nessas duas Universidades, localizadas na região central do país, no departamento de Cundinamarca, e na capital do país.
46
a) Realização da entrevista e gravação: no interior de um projeto
orientado pela perspectiva metodológica da história oral, a entrevista é orientada
para a produção de uma gravação e a posterior construção de um texto histórico em
que é garantida a perspectiva dos participantes. Porém, na pesquisa foi importante
delinear o processo da entrevista como participativo, reconhecendo o entrevistador e
o entrevistado como “colaboradores” (MEIHY, BOM MEIHY, 2010).
As entrevistas foram orientadas por eixos sobre a vida pessoal e
profissional dos professores relembrando nossos objetivos de pesquisa. Assim,
configuramos um roteiro de questões baseado em eixos norteadores específicos,
apresentados no seguinte quadro:
Quadro 3- Eixos da vida pessoal e profissional dos professores, norteadores do roteiro de entrevista.
VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL
FAMILIARES E
PESSOAIS
As configurações presentes em relação: a) a família; b) escola (professor, pares) c) agrupações esportivas (clubes, equipes de esportes).
FORMAÇÃO ACADÊMICA
As configurações presentes em relação aos seus professores, gestores e pares nas faculdades ou institutos inseridos em contextos socioculturais específicos, durante a formação inicial como Licenciados.
EXPERIENCIA E
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
As configurações presentes em relação: a) aos seus alunos; b) gestores; c) outros professores da Educação Física; d) professores de outras áreas, na cotidianidade da aula nas práticas educativas em escolas, Universidades ou outro espaço de atuação. Além, outras ações coletivas (sindicais, políticas, esportivas, acadêmicas) consideradas como significativas.
Fonte: Elaboração própria.
Na Colômbia, as entrevistas foram realizadas no mês de janeiro de 2017,
em um dia para cada professor, sendo o dia 16 de janeiro para o professor Zabala e
14 de janeiro para o professor Peralta, tendo como local as suas residências na
cidade de Bogotá, capital do País. Assim, procedeu-se a dividir o dia da entrevista
em dois momentos: duas horas no período da amanhã e duas horas no período da
tarde.
Para o caso do Brasil, a entrevista com o professor José foi realizada no
dia 26 de abril de 2017, no instituto de Educação Física da Universidade de São
Paulo, durante três horas contínuas de conversação. O encontro com o professor
47
João aconteceu no dia 23 de maio de 2017 na sua residência na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, em dois momentos, cada um de duas horas.
Foi utilizado um gravador de voz para registrar cada uma das falas. No
total, foram obtidas onze horas e trinta e cinco minutos de gravação. Cabe destacar
que tanto o Projeto de Pesquisa, como os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido assinados pelos professores no momento das entrevistas, foram
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista
“Júlio Mesquita Filho” – Faculdades de Ciências – Campus de Bauru, parecer
número 2.154.886, o que garantiu aos participantes sua possível desistência no
decorrer da pesquisa, além de esclarecer os objetivos e procedimentos para a
participação no estudo.
b) Estabelecimento do documento escrito: o processo de transcrição
procurou salvaguardar o tecido narrativo gerado no encontro das subjetividades do
pesquisador e dos professores. Esta etapa objetivou construir um registro autêntico
das falas, conservando os vícios de linguagem e os elementos linguísticos presentes
nas narrativas.
c) Procedimentos para análise de dados: no processo de análise e
interpretação, seguimos inicialmente a proposta de Almeida (2015), que destaca que
no interior de um projeto orientado pela história oral, após o processo de transcrição
das falas, é desenvolvida uma “textualização” conduzida à organização de um texto
histórico articulado às questões de pesquisa e às outras fontes de dados.
Essa organização do texto histórico responde a uma das finalidades da
história oral. Assim, segundo Garnica (2015), uma operação historiográfica é
compreendida como um processo que assume um diálogo com a narrativa de um
sujeito situado, empregando outras fontes de dados históricos que possibilitem a
ampliação de informação dos diferentes acontecimentos narrados pelos
participantes, ou seja:
[...] incorporando escritos e informações outras, ampliando essa perspectiva não para checar a (ou chegar à) verdade do sujeito, mas para criar um enredo plausível no qual narrador e ouvinte se reconheçam: um enredo que narrador e pesquisador julguem significativo como parte do acervo de que dispõem para conhecer determinado aspecto do mundo (GARNICA, 2015, p. 42).
48
Nesse sentido, justificamos a construção de uma interpretação dos dados,
tendo como foco central as falas dos professores e que foi acrescentada por outras
fontes históricas complementares tais como: a) entrevistas dos professores
Colombianos, arquivadas em sites de emissoras de rádio12 e jornais13; b) pesquisas
historiográficas em bases de dados produzidas na área da Educação Física para
cada país, as quais foram referenciadas no decorrer da análise.
Dialogar com fontes de várias naturezas (escritas, pictóricas, fílmicas etc.), ressaltadas as fontes orais; negando que a verdade – essa onírica, imaculada e sempre ausente presença que nos assombra – jaz dormente em registros escritos, implicando, com isso, a - historicidade da fantasia, dos sonhos humanos, da memória (sempre enganadora) que se deixa captar oralmente (GARNICA, 2010, p. 5, grifos do autor).
Essas fontes não só contribuíram para ampliar informações e dialogar
nesse momento da textualização e interpretação com as narrativas dos professores,
mas também possibilitaram a construção de um contexto histórico que contornou
cada uma dessas narrativas, possibilitando um entendimento mais próximo da nossa
intenção de pesquisa em relação à análise de algumas configurações sociais
presentes nas histórias de vida dos professores em cada país.
Nesse sentido, assumimos dois aspectos centrais na tentativa de analisar
vidas de professores: a) ler essas vidas implica analisar as relações estabelecidas
entre pessoas que fazem parte do grupo social desses professores (pessoal,
familiar, profissional), quer dizer, refletir em termos de relações e não de indivíduos
isolados; b) as diferentes práticas (sociais, educativas, profissionais) respondem a
certas regras fornecidas pelo conjunto do contexto social, micro (configurações
sociais) e macro (país).
Por conseguinte, na tentativa de apresentar o conjugado das nossas
reflexões, optamos por construir um texto narrativo final que apresenta as vidas dos
professores a partir dos encontros e desencontros analisados nas transcrições das
falas, assim como situadas em contextos micro (família, instituições educativas,
grupos profissionais) e macro (características sociais, culturais e econômicas). Esse
12 A entrevista do professor Jorge Zabala pode ser consultada no site https://www.ivoox.com/27-04-2016-en-red-ando-prof-jorge-zabala-audios-mp3_rf_11325199_1.html. A entrevista do professor Hector Peralta pode ser consultada no site http://www.edu-fisica.com/Revista-8/EDUCACIN-FISICA-COLOMBIA.pdf. 13 A entrevista do professor Hector Peralta Berbesí foi realizada pelo professor Hector Contecha no ano 2008. Pode ser consultada no site http://www.edu-fisica.com/Revista-8/EDUCACIN-FISICA-COLOMBIA.pdf.
49
texto foi dividido em duas partes (uma para cada país) e organizado por temáticas
que emergiram durante a análise, consideradas centrais pela nossa interpretação
sócio-histórica do conjunto das fontes empregadas. Ainda, tendo em conta o
embasamento do estudo na sociologia configuracional, procuramos apresentar para
cada país as vidas dos professores entrecruzadas, pois muitas das experiências
narradas tinham a sua origem em sociodinâmicas de relação, ou seja, configurações
entre grupos aos quais pertenciam esses professores, e que aconteceram em
diferentes momentos históricos.
No interior desse texto, objetivando argumentar as nossas interpretações
e garantir a prevalência das fontes orais, usamos excertos das entrevistas
considerados como esclarecedores do sentido que os professores outorgavam a
suas experiências de vida, que complementamos com informações localizadas nas
outras fontes como as entrevistas de rádio e jornais.
Como recurso de síntese, apresentamos a seguinte cronologia para
representar o percurso e a simultaneidade acontecida para cada uma das etapas
vivenciadas no decorrer do trabalho de campo:
Figura 2- Cronologia do processo metodológico
Fonte: Elaboração própria.
Diante dessa construção metodológica, apresentamos no seguinte
capítulo o resultado do processo de interpretação dos depoimentos. A trama
narrativa que envolve o depoente com a sua memória foi organizada a partir das
intenções do presente estudo num texto que transcorre três configurações principais
ou eixos temáticos de análise que respondem aos objetivos do estudo, explicitadas
no seguinte quadro:
50
Quadro 4- Categorias de análise: Configurações sociais nas histórias de vida
Categorias de análise propostas
Configuração “familiar e
escolar na infância e na
adolescência”
As interações do indivíduo com a família, como grupo
social primário, assim como o meio histórico-cultural na
qual se encontram inseridas, afetam a constituição do
habitus social do professor.
Configuração “formação
acadêmica”
Tanto a formação formal quanto a informal estão
constituídas por múltiplas configurações, dependentes das
distribuições de poder. Assim, aspectos acadêmicos,
políticos, culturais e religiosos interagem nos processos
formativos dos professores.
Configuração “experiência e
desenvolvimento
profissional”
A atuação profissional nas diferentes instituições (Escolas,
Universidades, Associações) traz consigo complexidades
nas lutas pelo poder e exigem habitus específicos de
acordo com as dinâmicas sociais das configurações.
Fonte: Elaboração própria
51
5. CONFIGURAÇÕES NAS HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES NA COLÔMBIA E NO BRASIL
Neste capítulo é apresentada a análise das histórias de vida dos
professores de acordo com cada país. Diante dos pressupostos da teoria
configuracional de Norbert Elias optamos por apresentar as vidas dos professores
entrecruzadas, e não como experiências singulares de indivíduos isolados, fazendo
destaque para as configurações sociais, pois concordando com Elias (2009, p. 19)
em seu estudo sobre a vida de Mozart:
O destino individual de Mozart, sua sina como ser humano único e, portanto como artista único, foi muito influenciado por sua situação social, pela dependência do músico de sua época com relação à aristocracia da corte. Aqui podemos ver como, a não ser que se domine o ofício de sociólogo, é difícil elucidar os problemas que os indivíduos encontram em suas vidas, não importa quão incomparável sejam a personalidade ou realizações individuais — como os biógrafos, por exemplo, tentam fazer. É preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais que agem sobre o indivíduo. Tal estudo não é uma narrativa histórica, mas a elaboração de um modelo teórico verificável da configuração que uma pessoa — neste caso, um artista do século XVIII — formava, em sua interdependência com outras figuras sociais da época.
No decorrer das análises foi se percebendo como a configuração constitui
um conceito e uma possibilidade para analisar e compreender esses conflitos e
pressões sociais que tecem as trajetórias de professores como indivíduos inseridos
em contextos sociais. As configurações familiar e escolar, formação acadêmica e a
experiência e o desenvolvimento profissional, possibilitaram situar o estudo sócio-
histórico particular da presente pesquisa ao redor das relações de força que
constituem histórias de vida no interior da profissão Educação Física. No interior
dessas complexas configurações, foi possível ver como outras interdependências
mais simples, próprias da cotidianidade, emergiram para fornecer outras reflexões.
5.1. Colômbia, vários matizes: tempo de violência e liderança continental na organização social da profissão
A Colômbia é formada por um conjunto de circunstâncias sociais e
políticas, alojadas no interior de um contexto geográfico imponente. Tem uma das
maiores reservas naturais do mundo, não obstante apresente em contraste um
52
conflituoso e violento desenvolvimento social que vem afetando todas as esferas do
país (econômica, política, cultural).
A respeito da sua população, de acordo com estatísticas oficiais14 o país,
no ano 2005, alcançou o número de 41,46 milhões de habitantes, numa extensão
territorial de um milhão, cento e quarenta e dois mil quilômetros. Sua maior base de
exportação centra-se no café, no carvão, no petróleo e no níquel.
Na sua história recente, a partir do começo do século XX, a Colômbia foi
o território de lutas políticas pelo poder e práticas de dominação próprias de um país
que estava mudando seus modos de produção. A Educação, e mais estritamente a
Educação Física, a partir da promulgação da lei 80 de 1925 (QUITIAN, 2013) atuava
no interior de um “projeto biopolítico”15 voltado ao controle dos corpos, a
diferenciação social através do esporte e a higienização da população.
Nesse processo de mudança, partindo de um modelo econômico agrícola
para outro baseado no capitalismo industrial, fez sua aparição a Educação Física
como profissão, tal como apontara o professor Zabala num dos seus depoimentos:
Na Colômbia, por exemplo, no surgimento do desenvolvimento industrial, na chamada “Revolução em andamento”, [...] quando ela aparece é quando surge a Educação Física no ano de 1936, faz oitenta anos [...] para que as pessoas pudessem utilizar as máquinas. (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
A Revolução em Andamento16 foi o nome dado ao período entre os anos
1934-1938. Essa revolução representou uma série de mudanças radicais, voltadas
para a modernização do país nos campos econômicos, políticos e educacionais. Ela
foi liderada pelo presidente da época, o liberal Alfonso López Pumarejo, que
encerrou uma hegemonia conservadora no país de quase trinta anos. Nesse
período, a Educação Física foi o veículo, por meio da elaboração de textos, da
transmissão de ideários políticos e educacionais, como a higiene, a ginástica e os
conhecimentos fisiológicos do corpo. No ano de 1936, foi criado o Instituto Nacional
14 Informações disponíveis em: http://www.dane.gov.co/ 15Quitián (2013) compreende esse projeto como a intenção do estado de consolidar uma pacificação do país para aumentar as possibilidades de acumulação capitalista e, além disso, conter o risco que representavam os grupos sociais mais independentes dos poderes centrais. Assim, no começo do século XX a sociedade enfrentou uma mudança na vida social e política do país, de uma elite rural representada pelos “Caudillos” a uma elite urbana liderada por uma burguesia em ascensão. 16 Ardila Duarte, Benjamín. Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha. Revista Credencial História. 2005. Disponível em: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2005/revolucion.html. Acesso em: 10/05/17.
53
de Educação Física (INEF) pelo “Decreto 1518” de junho daquele ano. Esse instituto
era dependente do Ministério de Educação Nacional da Colômbia (CHINCHILLA,
2004).
Foi no INEF que se originou a Educação Física como profissão, dentro de
uma instituição Universitária. O germe desta aparição aconteceu anos antes, com a
promulgação da “Lei 80 de 1925” na qual foi criada a "Comissão Nacional de
Educação Física". Essa comissão assumiu, entre outras funções, a implementação
de um “Plano racional de Educação Física obrigatória nas escolas de instrução
primária e em escolas secundárias, e a promoção de esportes para a cidadania”
tendo como referência países da América do Sul como Brasil, Uruguai, Chile e
Argentina, e que naquela época já tinham consolidado o esporte com fins
educacionais (CONTECHA, 2012).
Uma missão de professores Chilenos contratada pelo governo deu origem
ao primeiro curso de formação para professores, contando com a participação de
180 alunos entre docentes, policiais e militares. Ao mesmo tempo, a primeira
participação da Colômbia nos Jogos Olímpicos (Berlim, 1936) e a organização dos
Jogos Bolivarianos, em função do esforço da “Direção Nacional da Educação Física”
(CONTECHA, 2012) permitem entender que o desenvolvimento do esporte no país
nasceu por gestão da comunidade da Educação Física que naquela época estava
começando a se organizar e consolidar.
Foi no interior deste período de modernização e incorporação da
Educação Física e do esporte na Colômbia que nasceram os professores Jorge
Zabala Cubillos, na capital do País, Bogotá, no ano de 1930 e o professor Hector
Peralta Berbesi, na cidade de Chinácota, departamento de Santander, no ano de
1938. Anos depois de muitas vivências familiares, sociais e educacionais, essas
histórias de vida decidiram dar início a um projeto na Educação Física.
5.1.1. Configuração “Familiar e Escolar”. Iniciando na Educação Física no contexto
da violência
Na década de 40 começaria no país a organização social da profissão,
com a criação da “Associação de Professores de Educação Física” (ACPEF). Este
fato foi importante para a área, já que representou o começo da organização social e
a luta coletiva dos professores em um contexto social de violência.
54
No ano de 1942, fruto de uma disputa pelo uso de laboratórios de
Fisiologia, liderado por estudantes de Medicina contra estudantes de Educação
Física, foi fechado o Instituto Nacional de Educação Física (INEF) (QUITIÁN, 2013).
Nesse mesmo ano, a Escola Normal Superior17 (ENS), como instituição
Universitária, por meio do “Decreto 166” de 1942 decidiu criar uma seção para
formar Professores de Educação Física (CONTECHA, 1999).
Com a conclusão da República Liberal, que governou o país desde a
década de 1930, aconteceu um evento que marcou a história moderna da Colômbia:
o assassinato do caudilho liberal Jorge Eliécer Gaitán no ano de 1946 deu origem a
um período de violência que intensificou uma antiga disputa política entre liberais e
conservadores. Para Quitián (2013) mediante um processo civilizatório, o Estado
Colombiano deu origem ao campeonato profissional de Futebol, com o fim de gerar
o controle da violência dentro do próprio conflito (QUITIÁN, 2013). Sobre isso, o
professor Zabala afirma que:
[...], além disso, o futebol começou seu desenvolvimento. Foi quando o profissionalismo se desenvolve mais. Chegaram os Cossi, Rossi, Di Stéfano ([jogadores] Argentinos de futebol que integraram os times nacionais) [...] povos viviam pensando neste campeonato, mas não nos problemas do país. Além disso, eles não poderiam estar interessados nesses assuntos, porque eles foram para a prisão ou foram mortos. (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Nesse contexto de infância e juventude em torno da violência, o professor
Zabala participou da criação de uma equipe de basquete, já que sua família estava
muito próxima dos esportes. Nesse momento, praticou o esporte não só como lazer,
mas também como uma forma de resistência política em torno da ditadura que
governava o país.
No caso do professor Peralta, naquele tempo de infância, começou a
desenvolver um gosto por teatro e declamação. Nesse contexto, ocorreu um fato
particular, comum nas duas vidas: o professor Peralta começou a estudar
Engenharia Eletrônica na Universidade Distrital, e o professor Zabala empreendeu o
caminho da Arquitetura.
17 As “Escolas Normais Superiores” - ENS - lideraram a preparação nacional e regional de professores de acordo com as necessidades da Colômbia. "Desde a sua criação em 1821, por autorização do general Francisco de Paula Santander, diferentes processos de transformação realizaram-se de acordo com a dinâmica do setor educacional em nosso país e as tendências pedagógicas em todo o mundo sobre a formação de professores; as ENS são assim estabelecidas como instituições extraordinárias para serem instituições de formação de professores para educação pré-escolar e básica” (Ministério de Educação da Colômbia) Disponível em: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-345504.html. Acesso em: 26/01/18.
55
Esses dois inícios na formação profissional foram associados com duas
visões diferentes de mundo: a família do professor Peralta era composta por
engenheiros, arquitetos ou médicos. Isso gerou uma pressão sobre as suas
escolhas subsequentes. Porém, o gosto pelas práticas corporais o levou a conseguir
uma bolsa de estudos na Escola Nacional de Educação Física (ENEF). Essa
decisão provocou um confronto com sua família, uma vez que a Educação Física na
época não era valorizada como uma profissão:
[...] Minha família tinha uma posição na qual não apoiava quem quisesse ser um professor. Para a família, para a sociedade em que convivíamos no norte do Santander, em Chinacota, era não aceitar que uma pessoa da família de médicos, advogados, engenheiros, fosse professor de Educação Física, que era um golpe baixo, quando eu disse que eu queria estudar Educação Física, enorme problema social na vila; as duas palavras que eles usaram: Hector é “bruto”, e a outra, Hector é “homossexual”, e você está ouvindo-os, porque o que era valorizado no ambiente social na minha família era ser médico, engenheiro, arquiteto, dentista [...] (Excerto do depoimento do Professor Peralta).
Para o professor Zabala a situação foi muito diferente. Sua mãe era
educadora e mantinha um contato frequente na sua casa, que ficava perto da Escola
normal, com os estudantes de Educação Física pertencentes ao Instituto naquele
momento, orientando-os em tópicos referentes às novas teorias pedagógicas. Maria
Luísa Cubillos, mãe do professor Zabala, fundou o Instituto Central Colombiano no
ano de 1940, instituição que foi a formadora de normalistas. Nesse contexto, ele
manteve contato com as teorias pedagógicas de Decroly e Montessori (ZABALA et
al., 2008). Embora ele começasse uma formação na arquitetura, a ligação com o
esporte e a pedagogia foi mais forte e determinou o empreendimento posterior.
56
Quadro 5- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração familiar e escolar e no desenvolvimento histórico da área
Jorge Zabala Fatos historiográficos da área Hector Peralta
*Filho de Educadores. *Família ligada ao
basquete. *Participou de uma
equipe de basquete, convertendo-a numa
escola de pensamento e militância política na
época da violência. Defesa do desporto
amador. *Jornal "Classe obreira".
1940-1950
1941-Criação da “Associação de professores de Educação Física”.
1942-Integração do “Instituto Nacional de Educação Física” /INEF com a Escola Normal
Superior.
1946-Início do período da violência bipartidária.
1950-1951
Governo de Laureano Gómez.
1951- Fechamento definitivo do INEF.
1952-Criação da “Escola Nacional de Educação Física” graças à luta
dos professores e estudantes.
1957-Seminário convocado pelo “Fundo Humanitário Monetário”.
1958-Início da “Frente nacional” Governo de coalizão dos liberais
e conservadores. 1959-Revolução Cubana.
*Conflito familiar Baixo reconhecimento social da
profissão. Preferência para profissões liberais. Imaginário em torno da Educação Física como escolha para tendências
sexuais homoafetivas.
Preferência por práticas corporais alternativas na escola
Teatro-Declamador.
Dilema: entre a Engenharia e a Educação Física.
1956-Implementa
basquete na escola integrando-o com
outras áreas como a matemática.
Dilema: entre a Arquitetura e a
Educação Física.
Formação profissional Participação.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e pesquisas historiográficas acessadas.
Essas distribuições de poder nas interdependências vividas durante a
infância e adolescência dos professores Colombianos permitiram destacar como
acontecimentos políticos específicos da época influenciaram, mas não determinaram
os rumos que cada uma dessas vidas iria empreender. Para um professor, a
pedagogia e a militância política incorporada por meio do esporte nessa teia familiar
com sua mãe e seus tios determinaria suas expectativas posteriores. Essas
interdependências estavam inseridas numa configuração mais vasta de violência e
persecução política vivida na capital do país. Para outro professor, essa
57
interdependência familiar tinha características de resistência, lutando não só contra
os anseios dos seus pais, mas também com uma configuração social mais ampla na
sociedade rural da época que assumiu como indecorosa uma vida dedicada à
ginástica e outras práticas corporais.
5.1.2. Configuração “Formação acadêmica”. A Educação Física e as lutas sociais e políticas
O início da Educação Física como profissão, na conformação de
currículos e Instituições oficiais reconhecidas pelo estado começou com a criação do
Instituto Nacional de Educação Física (INEF). Podemos dizer que a luta social pela
sua legitimidade como área de conhecimento e como profissão, teve muitos
momentos críticos, como o fato de ser expulsa da Universidade Nacional, a maior da
Colômbia, por causa de um desequilíbrio de poder em relação à medicina, na
utilização de laboratórios destinados a produzir conhecimentos em Fisiologia. Devido
a esse fato, o curso foi assumido pela Escola Normal Superior que oferecia
formação aos professores do país em diferentes áreas.
Foi nesse período que o professor Zabala começou seu processo de
formação como profissional na ENS (Escola Nacional Superior), no ano de 1951.
Teve uma formação política induzida pelo seu irmão mais velho no comunismo
originário na Revolução Russa que coincidiu com um governo (Colombiano)
ditatorial, sob a liderança do presidente Conservador Laureano Gomez. Nesse
período, aconteceu uma série de persecuções e assassinatos de militantes dos
partidos de resistência, como o Liberal e o Comunista, cometidos por uma polícia
política chamada de “Chulavitas”18.
Uma configuração importante vem a constituir-se neste momento
conturbado. No seu depoimento o professor Zabala narra a contradição social
originada no momento em que o governo ditou um decreto que dispôs fechar a ENS
e o INEF. A queima de livros e persecuções específicas foram os traços
característicos de um processo que foi para além de um encerramento de
instituições, pois tinha claramente propósitos políticos:
18Fonte: http://www.banrepcultural.org/node/32650. Acesso em: 10/05/17.
58
Eu vi que os guardas estavam puxando para fora da biblioteca. Eles trouxeram no ombro e mão livros [...] eu me aproximei e perguntei a um deles: o que vocês estão fazendo aqui? E um deles disse: “Nós fomos enviados aqui para queimar esses livros". Fiquei espantado [...] e eu fui ver o que eles estavam fazendo, eles iriam queimar os
livros! Eu percebi que era toda a literatura marxista, pois a ENS tinha a biblioteca mais rica em literatura marxista, mais do que a Biblioteca Nacional ou qualquer outra na Colômbia (Excerto do depoimento do professor Zabala).
Como resposta, os estudantes decidiram organizar um coletivo com a
pretensão de lutar contra o que eles consideravam injusto, pois este conflito estava
pondo em risco não só os seus futuros profissionais, mas também o futuro da
própria Educação Física. Nesse espaço, deparou-se com a ACPEF (Associação
Colombiana de professores de Educação Física), decidindo trabalhar junto com eles
para um propósito comum de luta e resistência:
[...] Percebemos que eles tinham acabado com a Educação Física, “Vamos chamar todos os companheiros! Não podemos ficar imunes a isso!” E, na semana seguinte, começamos a conformar um coletivo entre os estudantes [...] encontramos um pessoal que estava na mesma tarefa, professores pertencentes à ASPEF [...] aí eu disse: “vamos pegar este “ônibus", porque vamos trabalhar juntos!” (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Como resultado desta luta, o movimento estudantil conseguiu ter acesso
ao Ministro de Educação, que foi persuadido a convencer o presidente a desfazer o
decreto. Como resposta à pressão, foi criada a ENEF pelo Decreto 1.052 de 1952,
no âmbito do Ministério da Educação Nacional (MEN). Porém, alguns elementos
repressivos ainda foram mantidos, como por exemplo, a separação de escolas para
cada um dos sexos (CONTECHA, 1999):
[...] Quando chegamos ao final de abril para reiniciar atividades, às nossas colegas não lhes foi permitido ingressar, diziam que era porque as mulheres não tinham direito de estudar, e muito menos Educação Física, já que elas “ficavam mostrando as pernas”.19
Uma vez que o estado reconheceu a Educação Física, destinou um
orçamento para o pagamento dos salários dos professores. Não obstante,
desconsiderou um investimento para a aquisição de um local onde pudesse ser
19Depoimento oferecido pelo professor Jorge Zabala para o programa de rádio "Em rede ando.
Cruzamentos corporais", realizado conjuntamente pelo Bank of Radio Park e a Corporação Universitária Cenda. 27 de abril de 2016. Disponível em: https://www.ivoox.com/27-04-2016-en-red-ando-prof-jorge-zabala-audios-mp3_rf_11325199_1.html?var=web376&utm_expid=113438436-40.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.1. Acesso em 10/05/17.
59
construída a nova escola. Numa ação corajosa, os estudantes, entre os que se
encontrava o professor Zabala, ocuparam uma antiga escola abandonada.
Nesta configuração, entra em jogo, tempos depois, o professor Peralta, já
que conseguiu não só iniciar sua formação, mas também usufruir uma bolsa de
estudos, no ano de 1959, graças em parte a uma resistência coletiva que possibilitou
uma concessão educacional:
[...] Eu obtive uma bolsa de estudos na ENEF. Sem ela não teria sido capaz de estudar [...] a bolsa de estudo era de 120 pesos mensais que me deram para o almoço, o chá da tarde e ir para a Escola. (Excerto do depoimento do Professor Peralta)
Podemos neste ponto afirmar que a união da ACPEF com o coletivo
estudantil foi um exemplo de interdependência, que defendeu não só o
reconhecimento da profissão, mas também os direitos de professores e estudantes.
Essa configuração dependeu de uma relação de poder exercida pelos ideais
conservadores do governo e os interesses de grupos que estavam sendo
constituídos no seio da comunidade educativa da Educação Física.
Nesse contexto sócio-político, o posterior processo de formação dos
professores Zabala e Peralta percorreu dois caminhos diferentes: para o professor
Peralta, o interesse pela ginástica num processo formativo de três anos lhe conferiu
um grau de liberdade, sem restrições e com tranquilidade. Aprofundou na ginástica
como possibilidade de pensamento além do movimento, fato que ia se constituir
como um aspecto fundante do seu posterior percurso profissional:
[...] [Na escola] encontrei apoio dos professores, eles sabiam que eu queria ser professor e eles me deram um bom suporte educacional e profissional. Eu era o "cara”, nunca estava atrasado para uma classe. Uma vez que fui atrasado para uma aula, o mundo inteiro ficou surpreendido! Foram três anos de formação. (Excerto do depoimento do Professor Peralta).
Para o professor Zabala, o caminho tornava-se mais conflitante, embora
iniciada sua formação no ano de 1951, só no ano de 1960 recebeu o diploma. Ele
argumenta que esse atraso foi devido a sua participação no movimento estudantil,
tornando-o alvo de repressão por parte dos gestores:
60
[...] essas são as tragédias da Educação Física na Colômbia que ninguém conhece, e acreditam que sempre foi um "rio de leite e mel", e não era desse jeito, foi sempre pela luta! [...] meus colegas de turma completaram o curso no ano 54, a galera toda conseguiu obter o título, menos eu. Por estas datas do mês de janeiro fui lá para saber o que tinha acontecido: “nós não damos o diploma porque recebemos ordens para não fazê-lo" -"mas por quê?” Perguntei, pois, se todas as minhas qualificações foram iguais aos meus colegas de classe. Aí ele disse "sim, está tudo, menos a de religião". Nós tínhamos religião no currículo [...] aí falei para o diretor de Curso que não ia assistir a essas aulas (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Por fim, a configuração social “formação acadêmica” apresentou de
maneira específica as relações entre os sujeitos e o lugar que ocuparam nas
interdependências recíprocas, como foi o caso das diferentes estratégias
desenvolvidas na aliança professores-estudantes no contexto problemático da
violência, e a contribuição que essa interdependência trouxe para a próxima
geração, nas bolsas de estudo que possibilitaram a formação dos novos
profissionais.
5.1.3. Configuração “experiência e desenvolvimento profissional”: organização social e cultura escolar.
As experiências no exercício da profissão iniciaram para os professores
num contexto social convulsionado, situado no quadro político do "Frente Nacional",
que marcou o fim de um período de ditadura orquestrado pelo general do exército,
Gustavo Rojas Pinilla. Em 1956, líderes dos dois partidos políticos tradicionais, o
Liberal e o Conservador, com apoio dos empresários decidiram retomar o controle
político, outorgando a cada um deles durante dezoito anos e num período de quatro
anos para cada um, a presidência da república.
Em 1957 a proposta foi submetida à votação, modificando-se a
constituição segundo a aprovação dos cidadãos. No contexto mundial da Guerra
Fria, este período de pacto marcou a origem de partidos políticos dos trabalhadores
de esquerda no país, assim como movimentos guerrilheiros que exerceram uma
forte oposição, fato que aumentou a violência20. Já no ano de 1958 o continente
20AYALA DIAGO, César. Frente Nacional: acuerdo bipartidista y alternación en el poder. Revista Credencial História, Bogotá, n. 119, 1999. Disponível em: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre1999/119frente.html. Acesso em: 10/05/17.
61
latino-americano viveu uma expansão revolucionária originada pelo triunfo do
movimento 26 de julho em Cuba, e que na Colômbia contribuiu para a organização
dos estudantes Universitários, que foram uma peça importante na queda da ditadura
e a posterior criação da União Nacional de Estudantes Colombianos (UNEC) (DIAZ,
2010).
O primeiro a começar a travessia no encontro com a prática pedagógica
foi o professor Zabala. Ainda que ele não tivesse conseguido o diploma, iniciou o
exercício profissional no ano de 1956 numa instituição fundada e coordenada por
sua família. Na escola "Central Colombiano", numa relação interdisciplinar21 com a
matemática, propôs um tipo particular de ensino do basquete, esporte praticado por
ele durante a sua formação escolar, no qual foi campeão intercolegial. Mesmo
durante o exercício da sua profissão, sua militância política persistiu, participando
ativamente de diversos coletivos e eventos, como no congresso de fundação da
UNEC (União Nacional de Estudantes de Educação Física) em 1958.22
Nesse sentido, é possível entender como no exercício da sua profissão, o
professor Zabala desenvolveu simultaneamente sua trajetória política e pedagógica.
No ano de 1957, como representante da ACPEF (Associação Colombiana de
Professores de Educação Física) e, além disso, como representante dos estudantes,
pois se encontrava formando em arquitetura, participou de um seminário convocado
pelo Fundo Humanitário Monetário na cidade de Cali, na qual foram discutidas
questões sobre a Educação Física no país. Desse processo, resultou uma
convocatória para as delegações das Universidades participantes dos primeiros
jogos Nacionais Universitários em 1958, as quais trabalharam juntas com a ACPEF,
para dar origem ao Conselho Esportivo Universitário (CODUCO), que liderou por sua
vez a organização dos “Segundos Jogos Nacionais Universitários”, realizados na
cidade de Medellín.
21 A família de Jorge Zabala representou uma dinastia de importantes educadores no país. Sua mãe,
Maria Luísa Cubillos, fundou o Instituto Central da Colômbia (1940-1985), tornando-se o colégio de Mulheres para a formação de professores normais, onde os alunos da Escola Normal Superior vivenciaram a formação pedagógica. Seu irmão, Germán Zabala foi um reconhecido cientista matemático e pedagogo popular do país. Dentro dessas relações familiares, eles conseguiram integrar no Instituto Central o ensino de matemática, a compreensão das ciências sociais e a ação política em uma proposta de educação política popular. Dessa forma, essa primeira etapa de experiências do professor Jorge levou-o a conceber uma aposta particular do movimento humano mediada por essa configuração institucional (ZABALA et al.; 2008) Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502008000200012. 22 Depoimento oferecido por Jorge Zabala Cubillos ao professor José Abelardo Diaz Jaramillo em 2008. Disponível em: file:///C:/Users/tefy/Downloads/117-473-1-PB%20(1).pdf. Acesso em: 01/06/17.
62
Depois disso, a Associação Colombiana de Universidades (ASCUN)
absorveu o CODUCO, exercendo um poder frente à ACPEF. Porém, apesar de uma
derrota nesse jogo de forças, o professor Zabala persistiu na liderança da
associação, conseguindo no ano de 1962 a organização do “Primeiro Congresso
Nacional de Educação Física” e o “Quarto Congresso Pan-americano” no ano de
1965 na Colômbia.
O Decreto 604 de 196623 do Ministério de Educação Nacional (MEN)
retratou a influência que teve o Congresso Pan-americano sobre as políticas
nacionais a respeito da carga horária necessária aos currículos de formação escolar,
aumentando de 60 para 90 horas anuais a carga horária da Educação Física nas
escolas:
Que, pelo Decreto nº 045 e 2117 de 1962, foram estabelecidos os currículos de Ensino Secundário ou Bacharelado e de Ensino Secundário Comercial, que os Decretos acima mencionados estabelecem uma intensidade horária de 60 horas em cada um dos cursos de 1 ° a 6 ° dos dois ramos, para Educação Física; Que essa intensidade seja insuficiente para que a juventude colombiana seja plenamente educada, e que a Colômbia adquiriu no IV Congresso Pan-Americano, realizado em Bogotá em maio de 1965, o compromisso de aumentar as horas atribuídas a este assunto nos planos de estudo, a fim de estabelecer a unidade continental nesse sentido [...] aumentar para 90 horas por ano a intensidade destinada à Educação Física, em cada um dos cursos dos dois ciclos do ensino médio. (Tradução nossa)
Por outro lado, o Congresso Pan-americano foi nesse momento, além de
uma possibilidade acadêmica, uma instituição com uma forte tendência política,
surgida em estreita relação com o movimento revolucionário Cubano. O “Quarto
Congresso Panamericano” foi, segundo o professor Zabala, um evento que teve
grande sucesso e repercussão no país e na América Latina:
[...] a maioria dos países Pan-americanos estavam presentes, algumas delegações grandes demais, dez, quinze pessoas, outros países que só enviaram o delegado do governo, mas também, e só tendo em conta os colombianos, participaram 458 delegados, quando os outros congressos apenas registraram 20 ou 30 delegados oficiais. (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
23 Diário oficial 31901 de 5 de abril de 1966. Decreto Nº 604 de1966. Ministério de Educação Nacional da Colômbia. Disponível em: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104183_archivo_pdf.pdf. Acesso em: 10/08/17.
63
Apontando para um horizonte diferente, o professor Peralta obteve um
cargo na "Escola Nacional San Luís Gonsaga" da cidade de Tuquerres, no
departamento de Nariño. A partir de uma forte convicção como pedagogo, e das
suas experiências na ginástica, começou a promover uma série de mudanças
didáticas e pedagógicas que hoje são reconhecidas pela comunidade acadêmica da
Educação Física Colombiana como baluartes da área:
[...] Fui nomeado lá na escola e a partir daí começou um desenvolvimento muito interessante do que eu queria ser: um professor de Educação Física. Eu não desejava estar em um “pátio de recreio”, pelo contrário, queria ser um professor para produzir conhecimento, quer dizer, os meus estudantes achavam que mais facilmente era fazer com que as pessoas corressem e pulassem, mas pensar e executar não. Em seguida, consegui construir uma plataforma que meus alunos me disseram: “professor: educação física é pensar?” Isso não se encaixava na cabeça deles, porque não era costume, em 1960. (Excerto do depoimento do Professor Peralta)
É interessante compreender a realidade educativa daquele tempo à luz da
memória do professor Peralta. Nesse momento, surgiu para ele um desconforto
frente à concepção de Educação Física da época. Porém, por intermédio da sua
proposta de "revista de ginastica" conseguiu romper com uma cultura escolar
conservadora. A revista consistiu em uma apresentação de criações de ginástica por
estudantes, acrobacias e outras técnicas corporais. Assim, seu nome começou a
tornar-se reconhecido no âmbito escolar e acadêmico.
Três meses depois foi transferido para a cidade de Neiva, no
departamento de Huila, na escola "Santa Librada", que nesse momento, segundo o
narrado pelo professor Peralta, tinha uma peculiaridade: os filhos de líderes da
guerrilha Colombiana estavam na instituição. Naquele momento histórico essa
guerrilha estava lutando contra a hegemonia política exercida pelo frente nacional.
Longe de isso trazer quaisquer preocupações para o professor, ele conseguiu
construir a sua pedagogia, por meio das suas revistas ginásticas:
[...] e o interessante é que Neiva acolheu naquele tempo muitos filhos dos líderes guerrilheiros em Huila. Quando cheguei a Neiva, tinha caráter, [...] passei dois anos lá em Neiva, lutando. Os estudantes eram muito cavalheiros, eles entenderam o que eu queria. Fiquei fascinado com revistas de ginástica. Nós os fizemos para mostrar aos outros o que estávamos fazendo. Eu disse a eles: “vocês vão mostrar aos seus pais o que são capazes de fazer!” Eu fiz uma revista em Huila, foi espetacular e foi feita junto com eles! (Excerto do depoimento do Professor Peralta).
64
Destaca-se como a “luta”, descrita pelo professor na sua fala, é reflexo do
seu compromisso educativo num contexto perpassado por violência e medo. Nos
testemunhos, o professor Peralta refere-se ao que para ele sempre foi uma busca
constante: inovar e mudar a cultura escolar a partir das práticas corporais.
Foi assim que a revista ginástica, além de uma série de habilidades
motoras apresentadas à comunidade educacional, tornou-se uma possibilidade de
estabelecer um compromisso com uma realidade em conflito, o que exigiu dele não
só suas habilidades e conhecimentos, mas também seu caráter e sua vocação para
mostrar aos outros o que a Educação Física poderia trazer para esses contextos de
violência. Tempo depois, ele viajou por vários departamentos do país, sendo
professor em Ocaña (Norte de Santander) na escola José Eusébio Caro. Lá, o
professor Peralta empreendeu uma nova luta pedagógica, pois essa instituição tinha
como um de seus principais representantes culturais e educativos, a banda marcial.
Os estudantes pertencentes a essa banda mantinham um status que lhes permitia
obter boas notas, mesmo sem frequentar aulas. O professor Peralta, valendo-se de
seu forte caráter e de sua estratégia pedagógica, a revista ginástica, conseguiu
equilibrar a balança de poder:
[...] Não entreguei as notas aos estudantes da banda. Lá eu disse a eles: “vocês vão participar da aula de Educação Física?” E eles me disseram que não, então, eu respondi: “se vocês não vão assistir, então onde posso obter a nota?”. Eles estavam acostumados a obter um cinco, só pelo fato de pertencer à banda, e isso não me satisfez, o cinco eles deveriam ganhar na aula! Na verdade, começou a disputa, em seguida, veio a primeira aula, como sabia que o pessoal da banda não gostava de mim [...] fizemos uma revista que transcendeu na Colômbia [...] para mim foi significativo, sabia o que queria e os meninos sabiam que eles iriam contribuir muito. (Excerto do depoimento do professor Peralta).
Tempo depois, o professor Peralta viajou para Barranquilla (Atlântico),
cidade onde conheceu sua atual esposa. Logo, na capital do país, Bogotá, foi
empregado do Governo de Cundinamarca, para finalmente chegar à Escola Normal
de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca. Como acontecimento importante, o
professor Peralta participaria nessa instituição, na formação de reconhecidos
Educadores Físicos no país, como o professor Leonel Morales Reina24, que foi um
24 O professor Leonel Morales Reina foi o fundador do Bacharelado em Educação Física (Fusagasugá), fundador do Programa Profissional de Ciências do Desporto e Educação Física (Soacha) e Vice-Reitor Acadêmico da Universidade de Cundinamarca. Também foi coautor das diretrizes curriculares de Educação Física do MEN, pesquisador das competências específicas da
65
dos acadêmicos da área de mais alta consideração. Foi talvez a experiência na
Escola normal uma das mais enriquecedoras da sua vida profissional, na qual
desenvolveu um método pedagógico específico para orientar seus estudantes, que
faziam estágios nas escolas para crianças da região:
[...] porque eles eram estudantes tipo Leonel [Morales], um cara pensador, Leonel fazia a sua tarefa, mas ele sabia o que tinha que fazer. Todos os meus alunos tiveram seu caderno estruturado, ou seja, a Escola Normal teve a função de programar aulas para uma escola adjunta, então eu orientava aos estudantes de sexto grau, os quais tinham de dar aula para os meninos. (Excerto do depoimento do professor Peralta).
Porém, seu método e o seu apelido de "profesor casete" geraram um
conflito com os professores das outras áreas, na medida em que eles não
conceberam positivamente suas ausências em sala de aula. De acordo com o
professor Peralta, ele só estava tentando construir autonomia e pensamento nos
estudantes. Assim narrou um destes episódios conflitantes:
[...] A parte feia: em uma reunião de professores conheci algumas pessoas que não concordavam com esse jeito de ministrar aulas, ou seja, eu não fazia a aula tradicional, meus alunos tiveram que fazer sua própria aula. Bem, assim aconteceu: na reunião de professores, quem mais raiva tinha foi o professor de Matemática, naquele dia eu estava de mau humor, então eu disse a eles: minhas aulas são desta estrutura, cada aluno deve desenvolver um projeto de classe para cada dia, [...] assim que não tem de se preocupar, eles estão fazendo as suas práticas e os seus projetos de classe, então, para que vocês saibam, meus alunos desenvolvem uma classe, a diferença é que os professores de Educação Física criam conhecimento, vocês "mastigam" o conhecimento (Excerto do depoimento do professor Peralta).
Na medida em que o professor Peralta desenvolvia suas primeiras
experiências profissionais, o professor Zabala era um dos líderes da ACPEF.
Foi o ano de 1965 que marcou o posterior desencontro entre eles dois,
anos mais tarde. Num congresso organizado pela Federação Internacional de
Educação Física (FIEP) em Madrid, Espanha, o professor Zabala apresentou um
panfleto sobre o que ele concebia no momento como as novas bases científicas da
Educação Física. Foi o primeiro e o único congresso organizado pela FIEP em que
ele participou, pois a ACPEF que ele liderava mantinha diferenças teóricas e
Educação Física e coautor do Plano Nacional para o Desenvolvimento da Educação Física 2004 a 2008. Fonte: Curriculum Científico CVLAC, Colciencias. Disponível em: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001375023. Acesso em: 29/01/18.
66
políticas frente ao Congresso Mundial da FIEP, mais especificamente a sua
organização como federação:
[...] Até então a Federação [ACPEF] cumpriu sua função, não é que agora não a cumpra, ela o cumpriu no sentido da organização e aculturação dos professores. Agora isso não existe, as coisas que eles fazem estão lá nas Cataratas do Brasil, que eles fazem todos os anos, já não precisam chamar os professores, as pessoas vão admirar todas as belezas que tem a natureza, mas nada de Educação Física, todos falam sobre campeões mundiais e isso não é Educação Física (Excerto do depoimento do professor Zabala).
Essa divergência gerou uma diferença entre um “eles” (A FIEP e o
congresso Mundial) e um “nós” (ACPEF) e o seu evento acadêmico (o congresso
Pan-americano). Pode ser claramente visto como na Educação Física esta
construção histórica coletiva e individual fez com que surgissem disputas pelos bens
simbólicos (recrutamento de seguidores) e materiais (possibilidades de
financiamento).
[...] e agora essa é a grande diferença, eles (FIEP) sempre perceberam como o Congresso [Pan-americano] tinha um “boom”, então tentavam chamar para os seus encontros simultaneamente com os nossos congressos, até o ponto que ficavam sozinhos, pelo menos os pertencentes ao continente americano [...] a FIEP tem suas formas de financiamento, eles fazem isso, mas nada a favor da aculturação particular da Educação Física, todos vão falar da academia olímpica (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Mais tarde o Professor Peralta irá narrar sua própria versão da história,
sobre esta interdependência, uma vez que ingressou na FIEP no ano de 1979.
67
Quadro 6- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta nas configurações “Formação acadêmica” e “Experiência e desenvolvimento
profissional” e no desenvolvimento histórico da área
Jorge Zabala Fatos historiográficos da área
Hector Peralta
1960-Licenciado em Educação Física. ENEF Líder do movimento estudantil Universitário que lutou contra a ditadura. Experiência profissional na escola: Colégio Central Colombiano Treinador de basquete. 11 vezes campeão nacional. *Experiência na escola. Práticas com “alunos indisciplinados” * Luta pelo reconhecimento acadêmico da área à luz das reflexões sobre sua origem no seio da “revolução em marcha” e o capitalismo industrial. 1965-Luta da Associação de professores de Educação Física para organizar o “4º Congresso Pan-americano” 1965-profundas diferenças com a Federação Internacional de Educação Física
1960-1970
1960-Tendência mundial da inclusão, originada depois da segunda guerra mundial. Primeiros jogos olímpicos e movimento paraolímpico. ONU e direitos humanos 1962-Criação do CODUCO (Conselho Esportivo Universitário) Primeiro Congresso de Educação Física (1962) 1965-4º Congresso pan-americano de Educação Física na Colômbia 1965-Congresso Internacional de Educação Física. Madrid-Espanha 1968- Revolução de maio.
1961-Licenciado em Educação
Física. ENEF Experiência profissional na
escola *Experiência numa escola de filhos de líderes guerrilheiros.
*A revista ginástica como inovação pedagógica
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e os documentos historiográficos acessados.
No contexto mundial, agora temos dois eventos que exerceriam influência
sobre os professores Zabala e Peralta e as redes de interdependência a que
pertenciam. O primeiro acontecimento consistiu nos movimentos revolucionários no
mundo, com a chamada "Revolução de Maio” que trouxe uma mudança nas
maneiras de pensar e na organização social da resistência. Dos Estados Unidos até
a Europa, movimentos que tiveram o seu ponto de partida em Universidades,
representaram a luta dos jovens em reação às formas cristalizadas de autoritarismo.
68
Este movimento teve como símbolos, entre outros, os atletas norte-americanos
Tommie Smith e John Carlos com o "Black Power" nos jogos olímpicos do México25.
Na Colômbia, esse momento histórico entrou em vigor três anos depois,
quando o sistema universitário nacional foi paralisado por uma juventude altamente
politizada, que criticou tanto o modelo educacional dominante, de influência norte-
americana quanto a sociedade excludente. Esse movimento estudantil superou a
força política de outros grupos sociais em disputa, constituindo assim uma força
central dentro do cenário revolucionário da época (ACEVEDO, 2011).
O corpo discente nessa época era visto como uma força histórica superior à classe trabalhadora sindicalizada, capaz de colocar o regime nas cordas. O protagonismo alcançado pelo movimento estudantil e, em alguns casos, a abordagem de certos líderes para a luta de guerrilha desde meados da década de 1960 gerou um conjunto de representações sobre jovens em universidades públicas como potenciais guerrilheiros. Até certo ponto, isso se deveu ao fortalecimento experimentado por grupos insurgentes, como o Exército de Libertação Nacional-ELN, com a incorporação de importantes quadros universitários em suas fileiras. (ACEVEDO, 2011, p. 58-59, tradução nossa).
Esse estado Colombiano em crise seria o terreno fértil para o surgimento
das guerrilhas que o desafiariam por meio da ação militar. Porém, na década de 70
consolidou-se um período de forte repressão durante a presidência de Júlio César
Turbay caracterizada, entre outros, por assassinatos extrajudiciais, prisão ilegal e
mentalidade e atmosfera de "estado de sítio" (LA ROSA; MEJIA, 2013).
Por outro lado, no início dessa década de 60, gerou-se outro movimento
de ordem mundial, que defendeu os direitos para as pessoas com deficiências. A
comemoração dos primeiros jogos paraolímpicos em Roma, propostos pelo cientista
Alemão Ludwig Guttmann, marcou o ponto de lançamento para o reconhecimento
social das pessoas com deficiência.
Ao respeito da “Revolução de Maio”, o professor Zabala trouxe como
lembrança no seu depoimento uma mudança radical nas formas de pensar, a partir
deste movimento social, sobretudo em relação à influência que sofreu a Educação
Física, mais estritamente no reinício dos Congressos Pan-americanos. Nesse
momento objetivaram como coletivo construir novas abordagens conceituais para a
área.
25Ramoneda, Joseph. El año en que se rebelaron los jóvenes en todo el mundo. Revista de cultura. Disponível em: http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/05/17/01673634.html. Acesso em: 12/05/17.
69
Por sua parte, o professor Peralta começava dois trajetos importantes no
seu desenvolvimento profissional. O primeiro deles refere-se ao início da sua
experiência na Universidade Pedagógica Nacional de Bogotá, como formador de
profissionais na Licenciatura:
[...] Durante 25 anos sempre deixei os alunos irem ao corredor, para que as pessoas pudessem vê-los. Gostava que eles fossem vistos, que outros professores e estudantes olhassem o que eles faziam. Eu tinha um grupo de ginástica independente do curso mesmo [...] comecei a levar esse grupo para as escolas e os institutos da cidade, para que as pessoas pudessem vê-los, aplaudi-los (Excerto do depoimento do Professor Peralta).
O professor Peralta persistiu naquilo que era para ele um elemento
pedagógico central ao longo de sua trajetória na escola: a ginástica. Além de
representar uma pedagogia específica criada por ele, tornou-se um elemento de luta
pelo reconhecimento da área, tentando mudar a cultura institucional por meio de
apresentações que comunicavam para a comunidade as possibilidades do
movimento para pensar e para criar. Ainda, para o professor, foi sempre mais
importante o reconhecimento das pessoas pelas construções ginásticas dos seus
estudantes, do que as habilidades motoras que poderiam ser aprendidas.
[...] quando começamos a ver os modelos (a revista ginástica) e os meninos conseguiam fazer aquilo que eu estava pensando, porque eles estavam tendo sucesso [...] isso me ajudou para o desenvolvimento motor deles. Além disso, eu queria que os meninos especulassem com o movimento, para que os outros pudessem aplaudi-los. Isso era o que eu queria. (Excerto do depoimento do Professor Peralta).
Além disso, o segundo trajeto importante para o professor Peralta
relaciona-se com sua experiência em torno da solidariedade com os excluídos. Com
a ascensão do esporte para pessoas com deficiência no mundo, ele começou a se
interessar pelo fenômeno. O professor Peralta é considerado na Colômbia como um
dos precursores da chamada Educação Física inclusiva:
70
[...] Todo o meu percurso na Educação Física na Colômbia girou em torno de três áreas: A gimnasiada Americana, a Educação Física em torno da FIEP, mas foi à terceira [área] o capítulo que realmente me interessou: a atenção às populações com deficiência e, como tal, desde 1973 defendi a “Educação Física para todo e para todos”, em todos os eventos em que participei: Congresso Pan-americano, Congressos Mundiais, conferências regionais, Jogos Paraolímpicos, Jogos Olímpicos. Estávamos sempre as mesmas pessoas, porque naquela época não tínhamos especialistas, e todos faziam o que podiam. 26
No interior desse contexto de desenvolvimento profissional e acadêmico,
as instituições de educação superior da Colômbia deram origem a programas de
formação de profissionais da área. Temos assim o surgimento da Universidade de
Antioquia em 1969, Pamplona em 1972, Pedagógica e Tecnológica de Tunja em
1971, a corporação Unicosta de Barranquilla em 1972, Central do Valle de Cauca
em 1972, Valle em 1975, Surcolombiana em Huila em 1975 e Cundinamarca em
1977 (CONTECHA, 1999; PINILLOS, 2003).
Anos depois, a década de 1980 marcou uma ampla abertura da área,
gerada pela ACPEF e as Universidades, que chamaram a atenção sobre dois
problemas particulares: a ausência de reflexão dos docentes em suas práticas, e o
seu reducionismo para abranger as múltiplas necessidades humanas. A organização
do Congresso Colombiano de Educação Física e a Conferência Latino-americana de
Educação Física, Cultura e Sociedade foram frutos de um esforço que refletem esse
momento histórico (COLOMBIA, 2002).
O ano de 1979 seria importante para a trajetória social e política do
professor Peralta, com a sua entrada na FIEP por meio da sua nomeação como
delegado adjunto no Congresso Mundial na Suécia, ainda que ele conhecesse essa
Federação desde o ano de 69. Naquela época, começou a ser configurado um
movimento sócio-acadêmico de professores na Colômbia chamado "Comissão
Nacional FIEP", que o professor Peralta lembra num trecho da entrevista com o
professor Contecha27 no ano 2011:
26 Depoimento oferecido por Hector Peralta Berbesí ao professor Luis Felipe Contecha Carrillo no ano 2011. Disponível em: http://www.edu-fisica.com/Revista-8/EDUCACIN-FISICA-COLOMBIA.pdf. Acesso em: 01/05/17. 27 O professor Doutor Luis Felipe Contecha Carrillo é um pesquisador Colombiano na área da historiografia da Educação Física. Também atua como delegado da FIEP para a Colômbia.
71
[...] Começamos a trabalhar os dois (professor Alberto Gomez, representante da FIEP para Colômbia naquela época) e durante o curso de um trabalho em equipe criamos a comissão Nacional FIEP, composta por oito profissionais altamente reconhecidos [...]. Com eles, o Comitê trabalhou alguns anos, realizamos vários cursos internacionais em nome da FIEP. Depois aconteceram dificuldades, e as pessoas estavam se retirando por muitas razões, por falta de tempo, e em seguida, acabou a ação do comitê28.
Nesse período, o professor Peralta empreendeu outra faceta profissional,
a comunicação do conhecimento, trabalhando na edição da “Revista FIEP” nos anos
79, 80 e 81. Além disso, com o seu trabalho acadêmico e organizativo na FIEP, a
Colômbia recebeu professores internacionais que trouxeram para o país diversos
discursos da Educação Física, com especial destaque para a visão antropológica e
filosófica de José María Cagigal29 da Espanha e a proposta da Educação Física
metódica do Frances Pierre Seurin30, entre outros (CONTECHA, 2008).
Este contato com a literatura internacional e a troca de ideias com
professores estrangeiros incrementaram o discurso acadêmico, que se apresentava
como uma prioridade para a nascente comunidade acadêmica nas Universidades.
Porém, mais uma disputa FIEP-ACPEF veio-se a configurar. Os dois grupos
iniciaram uma batalha pelo reconhecimento social e a legitimidade dos
agrupamentos como representação dos profissionais, nos dois eventos que
simbolizavam essa ação no país: o Congresso Mundial FIEP e o Congresso Pan-
americano da ACPEF.
Os dois professores se referiram em suas falas a essa disputa pelo
controle acadêmico, científico e político da área. Vejamos como o professor Zabala
refere-se a esse fato:
28 Depoimento oferecido por Hector Peralta Berbesí ao professor Contecha no ano 2011. Disponível em: http://www.edu-fisica.com/Revista-8/EDUCACIN-FISICA-COLOMBIA.pdf. Acesso em: 01/05/17. 29 José María Cagigal foi um Filósofo-esportivo espanhol e Licenciado em Educação Física, fundador do Instituto Nacional de Educação Física (INEF). Seus trabalhos intitulados “Cultura física, cultura intelectual” e “¿Educación Física, ciência? tiveram grande influência no desenvolvimento acadêmico da área na Colômbia. 30 Pierre Seurin foi o Secretário geral da FIEP na França e membro da “Fédération Française de
gymnastique éducative” que impulsionou a chamada “ginástica voluntária” ou ginástica higiênica e recreativa para adultos. Disponível em: http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/5513/11809.
72
[...] Desde o segundo Congresso, eles [os Cubanos] não voltaram, então um professor Cubano, no encerramento do evento, disse: "eu quero pedir a sede para Cuba do décimo Congresso". Nós [Colombianos] fomos os primeiros a aplaudir. Graças a eles, os congressos foram salvos, e o décimo foi na Havana, lá no Palácio. Foi o evento de maior participação, o Palácio das Convenções lotou, se reconstruíram os congressos, fizemos novamente (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Para o professor Zabala, o Congresso Pan-americano foi o cenário de luta
para exercer uma liderança na organização social dos professores, e para defender
uma Educação Física comprometida com a realidade específica da América do Sul,
quer dizer, as particularidades sociais, políticas e econômicas desse continente. No
caso do professor Peralta, o Congresso Mundial da FIEP oferecia uma possibilidade
de troca de conhecimentos, intercâmbio profissional e organização social, com uma
necessidade de financiamento pelos seus membros, para suportar os custos dos
cursos oferecidos pelos pesquisadores estrangeiros.
Ainda, ele sempre reconheceu a importância dessa troca de culturas no
contexto da formação, sendo que visitou mais de sessenta países, conhecendo de
perto as organizações e estruturas da Educação Física e do esporte. Essas viagens
levaram-no a escrever o livro "Inovações e alternativas metodológicas para os
estudantes da Educação Física" (CONTECHA, 2008) obtendo o "Prêmio nacional de
pesquisa em Educação Física”31.
31Journal "El Tiempo" Investigadores con alto rendimiento. Bogotá, Colômbia. Disponível em: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-123027. Acesso em: 23/05/17.
73
Quadro 7-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração “Experiência e desenvolvimento profissional” e no
desenvolvimento histórico da área
Jorge Zabala Fatos historiográficos da
área
Hector Peralta
Experiência profissional com
inclusão e populações deficientes
1970-1980
1970-Emergência do conceito de Motricidade a
partir da proposta teórica da Escola Francesa.
1973-Lutou pelo ingresso do país no movimento mundial para pessoas com deficiência. 1975-Ingresso como professor de Faculdade (Universidade Pedagógica Nacional). 1979- É nomeado delegado adjunto da Fiep na Colômbia.
1980-1990
Crise da Educação Física Colombiana e mundial
1979-1981*Editor da revista Fiep na Colômbia *Produção acadêmica Livros *Membro e cofundador da Comissão Nacional de Educação Física 1986-Publicação do livro “Educación Física para personas em sillas de ruedas” 1986-Publicação do livro Gimnasia solo gimnasia
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e os documentos historiográficos acessados.
Num período histórico mundial perpassado pela queda do muro de Berlim
e o fim da Guerra Fria, configurou-se para a América Latina um acontecimento
político que orientou um movimento dos países da América do Sul, no sentido de
resistência contra a influência dos Estados Unidos. A entrega do canal do Panamá
por parte dos Estados Unidos foi um dos fatos que estaria presente nesse momento
histórico, no interior da Educação Física, em relação a uma tensão que surgiria no
congresso Pan-americano frente à participação dos Estados Unidos.
Nesse período, a Colômbia conseguiu grandes conquistas esportivas
como a primeira medalha de bronze em atletismo nos jogos olímpicos. No campo da
Educação, foi promulgada a Lei General de Educação em 1994 (Lei 115) que
manteve o ensino obrigatório e a prática de Educação Física, Recreação e o Esporte
na formação (CONTECHA, 1999).
Para os professores Peralta e Zabala acontecia um período de síntese
profissional. Após apresentar cada um dos rumos que os dois teceram como um
produto histórico e social dos seus percursos profissionais inseridos nas distintas
redes de interdependência percebemos esta etapa não como um período de
afastamento, mas pelo contrário, uma afirmação de ideais, valores e concepções.
74
No caso do professor Zabala, ele reafirmou sua militância e compromisso político
com a liderança da ACPEF.
Entretanto, o professor Peralta continua seu percurso com um interesse
muito próximo frente às populações física e socialmente excluídas. Empreendeu a
tarefa de consolidar uma proposta teórica surgida numa longa trajetória de viagens,
eventos acadêmicos e práticas de ensino da Educação Física Escolar. Contudo, ele
costuma dizer que tem sido sempre um "professor de pátio". Num período de forte
produção acadêmica, publicou as suas pesquisas, como o "Projeto Esperança"32
(1991) e o "Hecper. Inovações metodológicas para o ensino da Educação Física"33
(1994).
Note-se que o projeto Esperança inicia com uma crítica da Educação
Física e a sua incapacidade para atender as populações marginalizadas:
[...] Pesquisada muita literatura sobre o assunto, analisadas muitas práticas físicas, conversas com muitos professores de Educação Física e a participação em muitos eventos sobre o assunto em 64 países, além disso, ter interagido com professores de toda a Colômbia, mostrou-me que a Educação Física desenvolvida no nosso país e em muitos países do mundo, é para aqueles que têm tudo. (PERALTA, 1991)
É possível perceber nos depoimentos uma crítica aos seus colegas no
contexto da Universidade. Para o professor, o contexto da formação dos novos
profissionais da Educação Física reproduzia perigosamente atitudes e práticas de
marginalização. Assim, o projeto “Esperança” foi constituído por essas contradições
com as quais o professor Peralta se encontrou em sua carreira. Ainda nesse
trabalho, faz uma crítica à terminologia empregada na área, que muitas vezes
exerce um poder contra a deficiência. Para ele, essas pessoas têm as mesmas
possibilidades de desenvolvimento pelo movimento:
32 O “Projeto Esperança” foi um projeto de pesquisa desenvolvido pelo professor Peralta no ano de 1991, orientado a propor novas práticas pedagógicas com a população deficiente. Foi publicado pela Universidade Pedagógica Nacional nesse mesmo ano, em Bogotá, Colômbia. 33 “Hecper” foi uma ferramenta metodológica para o ensino da Educação Física com crianças com comprometimento cognitivo. Ganhou o “Prêmio Nacional de Pesquisa em Educação Física e Esporte” no ano de 1994.
75
[...] no projeto aparecem notas da terminologia, utilizando termos como deficiência, desativado, limitado, deterioração, diminuição, lesão, inválido, alteração, defeito, deficiente, que permanece ainda, e que as pessoas não conseguiram assimilar alguns conceitos, em qualquer caso, é o projeto de esperança indo para uma Educação Física para todos. Em seguida, o movimento é um privilégio dos seres vivos, o homem como um ser vivo tem esse privilégio, não importa se ele é limitado, através do movimento é possível construir uma habilidade, com a habilidade uma destreza, com a destreza um hábito, com o hábito uma realização para a vida, isso é o que nós afirmamos no projeto. (Excerto do depoimento do Professor Peralta)
Entretanto, o professor Zabala nas suas falas relata uma confirmação da
sua militância política, expressando claramente a sua vontade de impulsionar uma
ação coletiva, que segundo ele lutava contra qualquer influência do movimento
acadêmico dos Estados Unidos, e a necessária tarefa da Educação Física de dirigir-
se para a sua natureza Latino-americana. O congresso Pan-americano decidiu
nomear um representante mexicano em vez de um representante dos Estados
Unidos. Essa estratégia teve como propósito inclinar a balança de poder a favor dos
países centro e sul-americano. Já no XVII Congresso Pan-americano no Panamá,
em 1999, foi confirmada essa posição de resistência frente aos Estados Unidos:
[...] A Associação Latino-Americana de Educação Física fez uma homenagem, particularmente da Colômbia ao Panamá, manifestando-nos contra os Estados Unidos [...] isto porque se notificou aos Estados Unidos que até 31 de Dezembro tinha que entregar a administração do canal aos seus proprietários naturais, isso era uma loucura, essa foi a atmosfera da América Latina (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Embora este fora um ato de resistência política, para o professor tinha
também um tom acadêmico. A excessiva influência nos discursos oficiais dos países
do continente, que abordavam a Atividade Física, pela influência do país Norte-
Americano, como eixo das suas políticas de saúde, representava para ele um efeito
prejudicial para a Educação Física. Para o grupo ao qual pertencia o professor
Zabala, a formação dos seres humanos encontrava-se nesse momento em risco,
pela incapacidade dos países de pensar as suas próprias dinâmicas culturais e
sociais. O congresso exercia então uma ação de reflexão sobre este assunto:
Na América Latina os Congressos Pan-americanos tiveram uma grande influência [...] começamos a unificar o trabalho, dentro da particularidade de cada país, nos contornos laborais. (Excerto do depoimento do Professor Zabala)
76
Uma Educação Física mais próxima dos contextos Sul-americanos exigia
uma nova compreensão do homem em movimento, que lutara contra um discurso
totalizante da atividade física, do esporte e da higiene. Para os professores do
Congresso, esse discurso ameaçava contra as próprias compreensões que cada
país do continente poderia desenvolver:
Hoje, no mundo, a nova crise econômica, a crise da ciência, esse novo momento histórico não entende que a Educação Física é a principal área [...] mas, pelo contrário, deixam de lado, para falar sobre atividade física. Assim, você vê que a atividade física tem em todos os cartazes de propaganda de governos (Excerto do depoimento do Professor Zabala).
Embora a interdependência entre esses grupos (FIEP - Congresso Pan-
americano) tenha sido descrita pelos professores como mediada por conflitos e
tensões políticas e acadêmicas, o Manifesto Mundial FIEP (2000), um dos
documentos mais importantes desta instituição, reconheceu o Congresso Pan-
Americano do Panamá como uma de suas referências, destacando as
características do surgimento daquele movimento americanista de Educação Física:
O congresso Pan-americano de Panamá, em suas resoluções e considerações, defendeu a criação de bases de dados que facilitem o trabalho e a pesquisa de profissionais da área da Educação Física e que os países das Américas estabeleçam seus modelos conceituais resultantes de investigações e avaliações. (MANIFESTO MUNDIAL FIEP, 2000, p. 16)
Ilustrando essa interdependência político-acadêmica, através da metáfora dos
jogos que Elias (2008) usa para esclarecer a multipolaridade e o equilíbrio que o
poder assume nas relações cotidianas, podemos afirmar que essa configuração não
tinha uma dinâmica própria, nem estava submetida a regras compartilhadas no
interior de cada grupo acadêmico. Pelo contrário, foi guiada pelas ações dos
jogadores (professores) e da relação estabelecida uns com os outros, porquanto,
num momento, se estabeleceu uma função34 de oposição, na luta pelo poder de
representatividade do coletivo profissional na Colômbia, e pela liderança acadêmico-
política. Porém, diante do contexto sócio-político (a hegemonia do império Norte-
americano), esses grupos, como foi constatado no manifesto da FIEP, tornaram-se
aliados na defesa da Educação Física pan-americana propondo o desenvolvimento
34 Elias compreendeu a função como aquelas tarefas desempenhadas pelos grupos
interdependentes, no interior de uma relação. Esse conceito é oposto ao proposto pelos estruturalistas e funcionalistas que pressupõem um só movimento. Elias supõe que não pode ser compreendido o que A desempenha em B, sem conhecer a função que B desempenha em A.
77
de pesquisas e o estabelecimento de referenciais conceituais próprios. Nesse
sentido, o conceito de configuração implica, portanto, nesse padrão mutável, um
entrelaçamento das ações dos jogadores (professores) interdependentes e
mutáveis, e das quais é impossível garantir o controle acerca do que irá acontecer.
Quadro 8- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Zabala e Peralta na configuração “Experiência e desenvolvimento profissional” e no
desenvolvimento histórico da área.
Jorge Zabala Fatos historiográficos da
área
Hector Peralta
1995-Disputa contra a influência dos Estados Unidos na Educação Física Pan-americana através da Associação Pan-americana Contribuiu para estabelecer a “Associação Peruana de professores de Educação Física” 1999-Fundador e presidente da “Associação Latino-Americana de Educação Física”
1990-2000
1991-XIII Congresso Pan-americano de Educação
Física (Colômbia)
1995-XV Congresso Pan-americano de Educação
Física-Lima, Peru. “Carta de Lima”
Independência da Educação Física dos Estados Unidos
1999- XV-Congresso Pan-americano de Educação
Física-Panamá Criação da “Associação
Latino-Americana de Educação Física”
1991-Criação “Proyecto Esperanza. Hacia uma autêntica Educacion Física para todos” Obra de grande impacto no campo da inclusão. *Obtenção do reconhecimento “Prêmio Nacional de Investigação em Ciências do Esporte e a Educação Física"
2000-Afastamento da docência na Universidade 2002-Participação na elaboração do plano Nacional de desenvolvimento da Educação Física (2002-2006) como representante da associação.
2000-ATUAL
.
2002- Afastamento da docência na Universidade
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e os documentos historiográficos acessados.
Diante dessa análise sobre a vida de dois professores de Educação
Física da Colômbia, pode ser refletido com base na teoria configuracional e no
interior das particularidades da sociedade Colombiana, habitus específicos
requeridos aos indivíduos (professores) nas lutas e as relações de força
constituintes das histórias de vida. Para cada configuração proposta nos objetivos do
78
estudo, surgiram configurações mais específicas, interligadas no contexto social
mais amplo.
As experiências familiares e escolares, mesmo que fossem diferentes
para cada um dos professores, trouxeram naquela época resistências por ser a
Educação Física uma profissão ainda emergente. Porém, para esses professores a
configuração familiar foi a que determinou a escolha pela Educação Física, para um,
no meio de um ambiente desportivo e pedagógico favorável, para o outro, uma
marcada resistência por ser considerada a área portadora de pouco valor social.
Para Elias (2015) aquilo que cada pessoa tenta fazer, depende das
funções que ela exerce, tanto quanto das funções exercidas por outros. Numa
sociedade complexa, composta por longas cadeias de atos, inevitavelmente são
constrangidos todos os agires e todas as funções das pessoas. Essa colocação
pode ser considerada no contexto da formação inicial dos professores: ela atingiu
uma atmosfera de conservadorismo do governo Colombiano, que almejava controlar
e definir o currículo, e reprimir qualquer postura política e ideológica. Essa tensão
contribuiu para o trabalho conjunto no interior dessa interdependência professores-
alunos no instituto de formação inicial da época, configurando nos indivíduos habitus
orientados no interior de um complexo de valores específico: luta, crítica social e a
importância do coletivo, diante das dificuldades de perseguição, controle e recortes
de investimentos por parte do estado.
É possível trazer alguns elementos das entrevistas que possibilitam
entender as interdependências constituídas no interior dessa complexa configuração
da experiência profissional. Por exemplo, uma interdependência pedagógica e
escolar apresenta como a Educação Física naquela época lutou por constituir-se
como uma área que tinha um valor educativo, a partir de uma prática e
conhecimentos próprios. No interior dessa luta diferentes traços específicos como
uma relação de força estabelecida com professores das outras áreas do currículo,
atividades culturais como a banda de guerra, assim como imaginários sociais em
torno da área, influenciaram a construção dos habitus sociais desses professores.
Por outra parte, a organização social dos professores por grupos
sócioprofissionais, como a ACPEF e a FIEP, que estavam integrados a grupos
maiores no continente e no mundo, lutaram não só por uma representatividade dos
professores no país, mas também por estabelecer eventos acadêmicos, relações
com professores de outros países e a obtenção de financiamento para apoiar outros
79
empreendimentos. A experiência dos professores foi fortemente determinada por
essa interdependência, marcando uma grande diferença política, conceitual e
ideológica entre os dois.
5.2. Histórias de vida de professores no Brasil: a luta pela configuração do campo acadêmico da Educação Física
A análise das configurações sociais nas histórias de vida dos professores
no Brasil, como realizado com os professores Colombianos, incluiu diálogos com
algumas fontes historiográficas, no intuito de construir o momento de síntese ou
sinopse. Três configurações principais sintetizaram o processo de elaboração das
trajetórias profissionais: a configuração “Familiar e escolar” diante de momentos
sócio-históricos do país e a influência que teve o método francês na experiência
escolar desses professores. Posteriormente, a configuração “Formação acadêmica”
que reflete o papel desempenhado pelos professores de Educação Física escolar na
escolha de nossos participantes para a Educação Física como profissão.
Finalmente, a configuração “Experiência e desenvolvimento profissional” que
descreve algumas interdependências presentes no ingresso da Educação Física no
nível de pós-graduação.
5.2.1. A configuração “familiar e escolar”. O método Francês na escola
O Estado Novo, regime político brasileiro instituído por Getúlio Vargas,
que vigorou de 1937 a 1945, foi um período intensivo de modernização no Brasil, na
transição dos modos de produção voltados para uma economia urbano-industrial.
Nessa época, a Educação Física foi vinculada fortemente à capacitação da mão de
obra requerida. Também, a Educação Física militarista voltada para a Segurança
Nacional, deslocou a concepção higienista que prevalecia até então. A adesão do
Brasil ao conflito bélico da segunda guerra foi uma das causas dessa mudança
(CORRÊA, 2007). Neste momento histórico de modernização industrial nasceram os
professores João Baptista Andreotti Gomes Tojal e José Guilmar Mariz de Oliveira.
O professor Tojal, no ano de 1944 em Campinas, e o professor Oliveira em
Sorocaba, ambas as cidades localizadas no estado de São Paulo.
80
A infância do professor Tojal ficou marcada pela tragédia: a perda da sua
mãe pouco depois do seu nascimento por causa da febre amarela, e de seu irmão
mais velho em um acidente de trânsito. Deste modo, conviveu, mais proximamente,
com seu pai e um irmão mais velho. A infância do professor Oliveira ocorreu ao lado
de seus pais e irmãos.
Na interface entre a configuração familiar e a configuração da formação
acadêmica, ocorreram interessantes episódios que foram definitivos para as
escolhas desses professores pela área da Educação Física. No caso do professor
Tojal, pela ausência da mãe e as ocupações do seu pai, ocupou todo o seu tempo
de lazer com atividades esportivas e recreativas:
[...] Então o que meu pai fazia com esses dois filhos, [...] ele pegava os dois filhos e levava-os à piscina para fazer natação, ficando no clube. Enquanto isso, ele ia para a loja. Na hora de almoço ele vinha pegar as crianças, nós comíamos. [...] a gente estudava numa escola vizinha à prefeitura, num prédio lá no centro. Daí ele [o pai] pegava e trazia para a casa [...] depois era o treino no Culto à Ciência que era uma escola maravilhosa. (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Em um relacionamento muito próximo com seu irmão, o professor Tojal
conseguiu usufruir amplamente das possibilidades que oferecia o “Tênis Clube” e o
Colégio Técnico Bento Quirino “Culto à Ciência”, sendo que seu pai apoiou
fortemente essas experiências esportivas e lúdicas em seus filhos:
[...] nós fazíamos corrida, mas não tinha professor, só natação tinha e era uma advogada, e tinha outro professor, que era saltador de saltos ornamentais. (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Já no interior das experiências escolares, a figura do professor de
Educação Física Pedro Stuchi Sobrinho se tornaria definitiva para o seu
envolvimento com o ensino; ele o tornaria seu assistente nas aulas:
[...] o Stuchi me usava muito como um modelo para as coisas [os exercícios], àquela época tinha, não sei se você lembra-se da história da Educação Física, o método Francês, aquela calistenia. Eu era o modelo, então fazia os exercícios (Excerto do depoimento do professor Tojal).
O método Francês era a concretização educativa da ideologia do estado
brasileiro no processo de modernização. Orientado por uma concepção positivista,
este método representava a neutralidade do conhecimento biológico e fisiológico do
corpo. Surgiu na França nos séculos XVIII e XIX, orientado por uma ideologia da
regeneração da raça, da promoção da saúde e da formação do homem forte e
81
corajoso, útil para a guerra e a indústria. Chegou ao Brasil em 1907 em uma missão
militar francesa que ministrou uma instrução militar para a força pública do estado de
São Paulo. Porém, foi no período de 1920 a 194635 que exerceu uma grande
influência hegemônica, ideológica e pedagógica, legitimada pelo estado na
emergência do Estado Novo (GOELLNER, 1992).
Foi assim que os professores dessa época foram influenciados pela dupla
composta entre o militarismo e os médicos higienistas. A escola de Educação Física
militar fundada em 1933 na cidade de São João (Pernambuco), e a Escola Nacional
de Educação Física e Desportos em 1939 no Rio de Janeiro, reproduziam o método
na formação dos profissionais e, depois, nas escolas. A partir de uma concepção
individualista de saúde e um organismo livre de doenças, o professor assumiu na
prática pedagógica o papel de orientador e terapeuta, subjugado ao conhecimento
biológico do médico. Ainda que em 194436 tivesse sido adotado na escola o estudo
de outros métodos ginásticos, o método francês prevaleceu até meados da década
de 1950 (GOELLNER, 1992).
Nesse contexto de desenvolvimento da Educação Física, o professor
Tojal, durante sua infância e formação escolar, viveu essas duas experiências (entre
práticas esportivas no Clube e experiências como discípulo do professor Stuchi na
escola). O gosto pela atividade física e o movimento foram se desenvolvendo apesar
das dificuldades familiares:
[...] na Educação Física na escola eu participava de tudo o que tinha, eu fazia corrida, salto em altura, arremesso do peso, fazia basquete, vôlei e natação, então, eu gastava meu tempo lá, e meu irmão um pouco menos, ele jogava basquete só (Excerto do depoimento do Professor Tojal).
Para o professor Oliveira, sua experiência na escola denota alguns traços
que evidenciam a influência de valores eugênicos e ideologias nacionalistas e
militares. Embora ele declare que essas características não foram facilmente
discerníveis, destacou alguns elementos característicos da educação na época:
35 No período entre 1930-1945 foram formadas 3409 pessoas em Educação física, das quais 1634 eram provenientes de instituições militares, 1042 de instituições civis e 733 de cursos provisórios (GOELLNER, 1992). 36 O método francês programou a ginástica e o esporte com fins de rendimento e aperfeiçoamento físico (marcha normal, corrida de velocidade, lançamento de peso, boxe inglês e francês, luta, esgrima, basquetebol, futebol, rúgbi) (GOELLNER, 1992).
82
[...] alguns professores, muitos deles foram para a escola do exército, foram para o Rio de Janeiro, inclusive esse que deu aula inaugural do método francês, mas o professor de ginástica, professor Boaventura, era estilo, aliás, todos eles, era formação, chamada e tinha que dizer o sobrenome, então, você tinha que falar, nº 55, Guilmar, e assim vai. E nessa disciplina nós tínhamos os desfiles escolares lá no Pacaembu, então o nosso desfile tinha que ser impecável, com uniforme da escola e o nosso tênis tinha que ser branco. Então, muita gente não tinha condições de ter tênis branco, e ele verificava tênis por tênis, eu fiquei reprovado nessa disciplina, por que tinha uma demonstração de ginástica, que a gente tinha que fazer na aula, não acertei. (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Ainda que o professor Oliveira argumentasse certa ingenuidade no
momento da sua formação escolar, ressaltou as repercussões da atmosfera social
da época em sua infância e adolescência:
[...] Veja, em nenhum momento, e você fala, você foi ingênuo demais, eu me senti prejudicado pela opressão militar, talvez porque eu era ingênuo demais, eu não queria confrontar o sistema, mas tinha amigos que foram perseguidos, alunos no nosso grupo, [...] eu não estava pensando em afrontar o poder, o sistema. [...] Nossa escola estava do lado do quartel, então não tinha para onde se esconder (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
É assim que a memória dos professores fornece uma aproximação sobre a
formação social e as interdependências entre os indivíduos (professores-alunos) no
contexto escolar daquela época. Neste processo de desenvolvimento, outros aspectos
influenciariam a escolha posterior de iniciar os estudos em Educação Física, como por
exemplo, o papel do professor de Educação Física escolar da época.
Quadro 9- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na “configuração familiar e escolar” e no desenvolvimento histórico da área.
João Baptista Tojal Fatos historiográficos da
área José Guilmar Mariz de
Oliveira
1944: Nascimento (Campinas, Estado de São Paulo) Atleta de basquete. Praticou outras atividades esportivas. Formação escolar no Colégio “Culto à Ciência”.
1939 Criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos
(ENEFD)
1937-1945 Estado Novo
Hegemonia do militarismo na Educação Física
1940-1960
Implantação do Método Francês nas escolas
1947: Nascimento (Sorocaba, Estado de São Paulo) Atleta de Basquete.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos historiográficos acessados.
83
5.2.2. A configuração “formação acadêmica”. A influência do professor de Educação Física escolar
A decisão dos professores Tojal e Oliveira pela Educação Física foi
fortemente influenciada pelos professores de Educação Física Escolar,
positivamente para um e negativamente para o outro. Na década de 1960 o país
estava vivendo o pleno auge da política educacional ancorada na teoria do capital
humano, que foi uma onda de reformas que marcou os anos 1950 e 1960 na
América Latina no seio do nacional desenvolvimentismo (OLIVEIRA, 2008). Esta
teoria foi o referencial teórico do tecnocratismo educacional.
Oliveira (2003) estudou o a relação entre políticas públicas para a
educação e a Educação Física escolar e a formação de professores escolares de
Educação Física no período de ditadura militar (1964-1985). Para esse autor, o início
da expansão dos cursos superiores no Brasil coincidiu com um contexto sócio-
político no qual foi discutido tanto a formação dos professores, como a organização
da disciplina no interior da instituição escolar:
A reforma universitária proposta pela lei 5.540/68, que expandiu a oferta de vagas no ensino superior no Brasil; a expansão da escolarização obrigatória, no seu aspecto quantitativo, que gerou a necessidade de mais escolas e, consequentemente, a necessidade de mais professores para atender o aumento do número de vagas; a mudança de referência paradigmática na Educação Física brasileira, que passa a buscar cada vez mais uma identidade científica; o debate mundial sobre a importância da Educação Física para a sociedade e sua vinculação com a universidade; à organização crescente dos professores de Educação Física em torno da sua necessidade de reconhecimento profissional e status social; a perspectiva centralizadora e planejadora do poder central; a consolidação mundial do esporte como forma de atividade física privilegiada (2003, p. 154).
Esse momento de desenvolvimento da Educação Física37 no país estava
inscrito no campo das tensões entre a vontade individual ou de grupos minoritários
como a “Associação dos professores de Educação Física do estado de Guanabara”
(APEF) e uma “razão de estado” do governo ditatorial que almejava as intenções de
“renovação” da cultura e da sociedade impulsionada por órgãos burocráticos e
governamentais como a Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e
Cultura-DEF-MEC. No interior dessa tensão, a burocracia governamental articulou
37 Essa atmosfera de revolução estava acontecendo simultaneamente no mundo. Por exemplo, agências como a Unesco, propuseram o “Manifesto mundial da Educação Física”, o qual teve significativa repercussão em países como o Brasil (OLIVEIRA, 2003).
84
as intenções de uns e outros através do órgão tecno-burocrático “Centro Nacional de
Recursos Humanos/Instituto de Pesquisas Econômicas e Avançadas”, o qual fazia
parte do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, e quem encomendou o
“Diagnóstico da Educação Física e Desportos no Brasil” publicado no ano de 1971,
alinhado com uma administração da vida e da sociedade e dos valores econômicos,
tais como desenvolvimento, subvenção, ineficiência, produtividade e planejamento, e
não com fins políticos na manutenção do regime, argumento tão caro às
perspectivas historiográficas (OLIVEIRA, 2003).
No momento de ingresso no curso superior, o professor Tojal padeceu o
aparecimento do câncer em seu pai. Em meio às dificuldades, inclinou-se pela
arquitetura, mas pela impossibilidade de deslocamento para cidades como São
Carlos ou São Paulo que ofereciam esse curso, decidiu iniciar a formação em
Ciências Econômicas na Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Campinas.
Dentro de uma não conformidade pessoal, seu professor de Educação Física da
escola, Pedro Stuchi, tentou convencê-lo a abandonar a economia e optar pela
Educação Física:
[...] um ano depois dele [de seu irmão] fui fazer Ciências Econômicas, [...] e daí esse professor Stuchi, como ele achava que eu era um bom modelo como atleta, [...] insistiu para que eu fizesse Educação Física. Aí eu fui fazer. (Excerto do depoimento do Professor Tojal).
E essa influência não termina aí. Uma vez começado o curso, o professor
Tojal foi convidado pelo seu professor para trabalhar na escola da qual foi aluno
(Colégio Técnico Bento Quirino “Culto à Ciência”) exclusivamente com o sexo
masculino, uma vez que as aulas foram divididas por sexo, e as meninas interagiam
com as professoras. Em relação às experiências como graduando na Universidade,
o professor Tojal afirmou que não foram muito significativas, vivendo uma formação
mais significativa na prática de trabalho que se desenvolveu paralelamente ao curso:
[...] eu aprendi muito pouco na PUC, e aprendi muito com o Stuchi, que era o delegado regional de Educação Física no interior do estado. Ele era “o cara” que ensinava a gente barbaridades. Aprendi muito com ele e muito pouco na Faculdade (Excerto do depoimento do Professor Tojal).
Para o professor Oliveira, uma série de circunstâncias da época
determinou a sua escolha pela Educação Física. No último ano de colegial (atual
Ensino Médio) recebeu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Ainda que
85
naquele momento estivesse inclinado para a agronomia, nesse país conheceu de
perto o sistema esportivo, que, juntamente com a paixão pelo basquete, acabariam
por determinar seu futuro:
[...] eu estava prestes para fazer agronomia. [...] Eu me candidatei e recebi a bolsa para fazer o último ano do colegial nos Estados Unidos, então fui fazer o último ano de colegial lá e como eu ia fazer agronomia, eles me indicaram para um estado eminentemente agrícola, essas coisas, para plantação de milho, batatas, essas coisas, leite, para contribuir para minha futura profissão. E aí eu me envolvi tanto nas questões dos esportes da escola. [...] eu fui dispensado das aulas de Educação Física, porque eu participava nas equipes de futebol americano, basquetebol, atletismo e beisebol lá na escola, então, minha visão voltando para cá, ela modificou totalmente. A minha intenção agora era me envolver com essa área. (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
À diferença do acontecido com o professor Tojal, a influência do docente
da Educação Física escolar não seria tão definitiva na escolha profissional do
professor Oliveira. Devido ao limitado reconhecimento social da área na época, esse
docente tentou persuadi-lo a mudar de idéia:
[...] (Professor Oliveira): professor, eu vou embora, não vou terminar o curso aqui, vou para os Estados Unidos. (Professor da escola): oh muito bem etc, etc. (Professor Oliveira): vou fazer agronomia. (Professor da escola): oh tudo bem, vai embora. Eu volto do curso dos Estados Unidos, volto a conversar com ele: (Professor Oliveira): professor, eu não vou fazer agronomia, vou fazer Educação Física... Ele fala [...] você é muito mais inteligente do que isso, não faça Educação Física (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
O professor Oliveira inicia sua formação em Educação Física na Escola
de Educação Física e Esportes. Essa escola se encontrava em meio a mudanças
administrativas, que a levou a se tornar um Instituto isolado do Sistema Estadual de
Ensino Superior (MASSUCATO; BARBANTI, 1999). Mais tarde seria incorporado à
Universidade de São Paulo, em 196238. No ano de ingresso do professor Oliveira
nessa escola, predominou uma dupla dificuldade: a precariedade das instalações,
pois a escola funcionava no Ginásio do Ibirapuera, e o ambiente social próprio da
ditadura cívico-militar que começou no ano de 1964.
[...] Quando eu entrei na Faculdade já estava difícil, lá no Ibirapuera, a gente era “calouro”, então tinha trote, e a gente saiu na Avenida Paulista para o trote, e fomos atacados pela polícia. Eles não
38 Memória USP, Escola de Educação Física e Esporte. Disponível em: http://200.144.182.66/memoria/por/unidade/144-Escola_de_Educacao_Fisica_e_Esporte Acesso em: 03/06/17.
86
queriam manifestação, mesmo que fosse de calouro (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Importa salientar que, como o professor Tojal, o professor Oliveira
considerou o momento da sua formação profissional restrito ao esporte, o que impôs
uma série de dificuldades na prática profissional subsequente:
[...] Por exemplo, eu tinha que lutar três rounds de box para passar, era a avaliação final, tinha que lutar esgrima para passar, tinha que nadar 45 minutos na piscina, uma piscina gelada, carregando aquela tábua de fazer exercício. O que é que meu professor estava pensando? Que eu ia num naufrágio, que ia ficar a deriva e que tinha que me manter vivo no mar? Esse era o tipo de pressão que a gente tinha (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Por fim, para ambos os professores, as suas experiências na formação
inicial não foram muito significativas. Aspectos como o currículo e os conteúdos não
foram muito refletidos durante a entrevista, além de que essa formação reducionista
e determinada pelo paradigma hegemônico da performance foi descrita como uma
das motivações para optar pelo ingresso na pós-graduação.
5.2.3. A configuração “experiência e desenvolvimento profissional”. A Educação Física na pós-graduação.
As dificuldades da formação inicial foram percebidas pelos professores
nas primeiras experiências laborais. Por exemplo, o professor Oliveira reflete sobre
como essas dificuldades de reducionismo e hegemonia o levaram a se tornar um
agente reprodutivo dessa racionalidade técnica e de performance predominante
durante sua formação inicial:
[...] naquele momento de não reflexão [...] Eu dava aula num colégio, no Tatuapé, em São Paulo, numa escola particular. Era uma casa, uma casa que se tornou escola, e tinha um corredor, um corredor de dois metros e meio por cinco, vamos supor. Eu dava aula ali dentro. A gente conseguiu um ginásio, tentei levar os alunos para o ginásio, de uma forma inconsequente, que eu não pensava naquela época. A gente saia com os meninos, e se for atropelado, e se se machuca. A gente ia “numa boa”, e nesse corredor o que eu fiz, eu dei os 1248 tempos e reprovei os meninos que não faziam, exigia deles aquilo que eu aprendi. (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
O professor Oliveira lembra-se muito bem de uma experiência que trouxe
para ele uma retribuição econômica importante. Ele foi contratado por um cidadão
francês residente no Brasil para ministrar aulas de Educação Física para suas
87
crianças. Aquele cidadão estrangeiro concebeu muito bem a importância que a área
tinha:
[...] e apareceu lá um senhor, um francês, estava querendo uma pessoa para trabalhar com os filhos dele, de três, cinco e seis anos, que estavam num colégio francês famoso na época [...] e veio para mim com a idéia: eu não estou contente com as aulas de Educação Física, eu quero alguém que oriente os meus filhos para a Educação Física. Então ele me contratou, pra ir a casa dele na segunda, quarta e sexta. Ficava lá, das três às quatro e meia (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Essa valorização da área pelo cidadão francês não só lhe trouxe
benefícios econômicos, mas também um requisito profissional para projetar aulas
que atendessem às suas expectativas. Em seguida, veio a necessidade de refletir as
suas práticas de ensino:
[...] eu tinha um quarto lá com cama e banheiro [...] e aí “olha”, eu precisei de uma trave, uma caixa de areia, de cordas, porque trabalhava com o método natural para crianças. O domingo ia à piscina, na hípica paulista. Com esse primeiro salário eu comprei meu primeiro carro, fazendo isso. Eu não aprendi isso na escola, tive que aprender fazendo (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
A Educação Física daquela época se configurava em torno de um
paradigma de formação de esportistas. Foi em função das suas experiências de vida
que os professores conseguiram questionar o status quo da prática esportiva
educativa, direcionada exclusivamente à performance. A este respeito, o professor
Oliveira sustentava como naquela época era importante ganhar a todo custo,
colocando em risco outros valores associados à formação integral de pessoas.
Contudo, ele manifesta outra visão do esporte em uma perspectiva educacional:
[...] nessa época eu fui treinador de basquete do “Time Clube Paulista” [...] O pai falava: ‘o que você fez com meu filho? Meu filho hoje está outro, está mais educado, pra vir jogar aqui nos domingos, domingo dia que eu quero dormir, não posso dormir, eu tenho que acordar para dar queijo branco, suco de laranja, banana. A criança estava sabendo que para jogar basquete tinha que se alimentar, e você ensinou ao meu filho amarrar o tênis! Ele não sabia amarrar o tênis, ele sabe amarrar o tênis hoje, o que você faz?’ O que é que você pode falar, não em nome do esporte, em nome de uma atenção para um grupo que tem o pai e a mãe ausentes (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Essas preocupações em relação à sua formação profissional e às
contradições que surgiram durante as primeiras experiências profissionais seriam
levadas algum tempo depois para a Universidade, onde anos mais tarde estes
88
professores se tornariam educadores de educadores. A partir desse espaço social e
acadêmico se situariam importantes lutas pela construção da área. Nessa
configuração, eles lutaram pela construção acadêmica da Educação Física.
Quadro 10-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração “Formação acadêmica” e “experiência e desenvolvimento
profissional” e no desenvolvimento histórico da área.
João Baptista Tojal Fatos historiográficos da área
José Guilmar Mariz de Oliveira
1968: Primeira experiência Escolar no Colégio “Culto à Ciência” – Campinas.
1960-1970: Auge da política educacional ancorada na teoria do capital humano. Aparecimento de novos cursos de nível superior e o predomínio do culto ao esporte na sociedade. 1962: Parecer CFE 292/62 1964: Início da ditadura cívico-militar 1969: A escola de Educação Física passou a integrar a USP- Resolução CFE 9/69 Resolução CFE 69/69
1969-Graduação na Universidade de São Paulo – USP – São Paulo. Experiência escolar concomitante à formação inicial.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos historiográficos acessados.
Nesse período estava acontecendo um processo de desenvolvimento
acadêmico da Educação Física e novas preocupações em torno da formação
profissional no interior da Universidade. Segundo o estudo feito por Souza Neto et
al. (2004), no fim da década de 1960 propõe-se uma mudança nos currículos de
formação dos profissionais, tendo em conta três movimentos sociais principais: a
internacionalização do mercado, o aparecimento do esporte como fenômeno de
massas e a reforma Universitária de 1968 que propôs uma Universidade científica e
a pós-graduação. O Conselho Federal de Educação apresenta o Parecer nº 627/69
que estabeleceu um núcleo de matérias pedagógicas, voltado à necessidade de
construir a Educação Física como um campo de conhecimento.
Para Benites, Souza Neto e Hunger (2008) o fim da década de 1960 foi
marcado por uma série de reformas como o Parecer CFE 292/62 a Resolução CFE 9
de 1960, assim como a Resolução CFE 69 de 1969, que trouxeram como foco um
novo olhar em torno da formação de professores. Uma dessas mudanças
estabelecidas foi a proposta de um currículo mínimo com uma carga horária de
89
1.800 horas, mas que manteve uma concepção biológica predominante e a
importância de um “saber-fazer”. Para Souza Neto et al. (2014) nessas 1.800 horas
destinava-se para os currículos três eixos de saberes: a) estudos da vida humana
nos aspectos celular, anatômico, fisiológico, funcional, mecânico e preventivo; b)
estudo dos exercícios gímnico-desportivos nos aspectos físicos, motores, lúdicos,
agnósticos e artísticos; c) estudo das matérias pedagógicas nos aspectos didáticos,
estruturas de ensino, psicologia e prática do ensino.
Já na década de 70, a partir das análises sobre o campo social de autores
como Paiva (2004) e Bracht (1999) a Educação Física, que nas décadas anteriores
se encontrava dependente de um projeto social de país, assim como de outros
campos sociais (militar-médico) começa agora um movimento de construção do seu
próprio campo, na busca de autonomia das influências externas. Paradoxalmente,
para Paiva (2004) essa construção deve sua força ao alcance social do campo
esportivo, o qual mantinha influência na Educação Física Escolar. Ainda que em um
ambiente de ditadura, encontramos como traços específicos da Educação Física
naquele momento:
Um desenvolvimento da pós-graduação e a propagação dos cursos de
graduação. Como integrante do Sistema Universitário Brasileiro, incorpora as
práticas científicas presentes nesse âmbito. (BRACHT, 1999)
Uma produção de pesquisa baseada nas ciências biológicas e exatas, que
levou os professores a assumirem um papel de treinadores e técnicos
desportivos. Para Hunger (2004) esta década marca a indiscriminada
ampliação de Faculdades a partir da iniciativa privada, o que ocasionou “uma
queda acentuada na qualidade do ensino universitário, também, em
Educação Física.” (p. 4).
Justamente com essa chegada da Educação Física na lógica científica do
campo Universitário, no ano de 1972, o professor Tojal centra seu percurso na
Universidade Estadual Campinas (Unicamp). Nessa instituição, tem início a
organização da Educação Física como um componente integral dos diferentes
currículos de formação.
Já o professor Oliveira, após a conclusão do seu processo de formação
em Educação Física, deparou-se com uma decisão difícil: participar com a Seleção
Brasileira de Basquetebol nos jogos sul-americanos na Argentina, ou cursar um
mestrado na área nos Estados Unidos. Uma série de situações pessoais e
90
profissionais naquele momento desequilibrou a balança, optando pelo segundo
caminho. Tempo depois, conclui o seu mestrado na “Northern Illinois University”, em
1971. Logo, decide retornar para o Brasil para atuar como docente voluntário na
escola de basquetebol Corinthians, na cidade de São Paulo.
Anos mais tarde, na Universidade de São Paulo (USP), o professor
Oliveira participava, em uma posição acadêmica como docente Universitário, da
construção do campo acadêmico da Educação Física. Assim, em 1977 o mestrado
na área foi inaugurado e coordenado pela Escola de Educação Física, que segundo
Amadio (2007) buscou a capacitação de professores para o ensino superior, bem
como uma qualificação para a pesquisa. Este surgimento foi acompanhado de uma
série de regulamentos estabelecidos pelo governo, como o Parecer n.º 977/65 do
Conselho Federal de Educação, elaborado por Newton Sucupira, onde foi
conceituada e formalizada a pós-graduação no país (QUADROS; AFONSO, 2013).
Para Manoel e Carvalho (2011) esse movimento de caracterização
acadêmica da Educação Física foi influenciado pelos Estados Unidos, que na
década de 1960 lutou para que a área fosse considerada uma disciplina acadêmica
legítima. Assim, naquele país se considerou o “movimento humano” como uma
ciência com objeto de estudo próprio, que empregava métodos de pesquisa
adaptados da biologia, da psicologia, da educação e da sociologia.
No bojo deste contexto, o professor Oliveira participou como docente no
curso de mestrado da USP, e lembra como esse movimento nacional influenciou de
forma recorrente uma nova organização profissional do professor, pois uma
formação (pós-graduada) poderia desencadear uma melhor remuneração salarial.
Contudo, ele admitiu que esta organização desenvolveu-se lentamente, tanto que
ele só conseguiria uma melhor remuneração quinze anos depois:
[...] Surge então a necessidade do governo de certa pressão com a Educação Física, para a universidade, que não era tão forte no ponto de vista acadêmico [...] ela (a área) participava de Conselho Universitário da Fapesp39, de todas as coisas de pesquisa e eram poucos os envolvidos com isso. O grupo que veio pra cá, a maioria não tinha reconhecimento acadêmico, não tinha professor titular, livre-docente, foi feita aos poucos e não sei se todos tiveram ascensão a professor titular por meio de concurso. Foi por meio de documentos, alguém atestou e com essa pressão toda, surge a necessidade de doutorado na área. E nesse meio tempo abriu esse mestrado aqui (na USP), então muitos professores fizeram o mestrado nos anos 70 (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
39 Fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo.
91
É interessante ver como aquele momento foi nomeado pelo professor
Oliveira como de “intimidação” para os docentes, pela necessidade do momento
histórico de uma formação que estivesse de acordo com a construção do campo
acadêmico da área. Uma vez concluída a primeira fase de formação de mestres, por
meio do apoio de instituições como a CAPES40, um grupo de profissionais
pertencentes a Universidades Públicas, entre os anos 1970 e 1980 receberam
bolsas de estudo para realizar programas de pós-graduação nos níveis de mestrado
e doutorado, especialmente em Universidades norte-americanas (MANOEL;
CARVALHO, 2011).
[...] então terminado esse ciclo que alguns fizeram o mestrado aqui, então a CAPES falou: nós vamos ter que mandar professores para fazer doutorado. Então, num convênio com a CAPES e com os Estados Unidos, em especial eu acho que com Alemanha, também, alguns professores são quase intimidados a fazer doutorado, então, você faça contato com a Universidade Americana e veja se eles te aceitam para o doutorado. Eu fiz esse contato com três universidades, e acabei escolhendo a Universidade de Oregon (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Esta etapa marca um momento transcendental para a Educação Física
como uma área de conhecimento. Na década de 1980 adveio a consolidação de um
movimento intelectual e político que desencadeou na definição de um campo
acadêmico (BRACHT, 1999; PAIVA, 2004). Nesse sentido, o professor Oliveira
reflete como este momento de êxodo de professores para o exterior e o posterior
retorno ao país trouxe para a área uma confusão disciplinar, porquanto a
multiplicidade de áreas que foram aprofundadas nesse período. Para ele, essa
perda de identidade foi associada a uma confusão disciplinar e a busca de status
dentro das Universidades:
[...] só que na volta muitas das pessoas (professores) “eu não me identifico mais com Educação Física, eu me identifico com biomecânica e não mais com Educação Física”, “com fisiologia do esforço, eu não mais com Educação Física”, “com aprendizagem motora”, na ideia de que a suma desses estudos iria para a Educação Física, o que não é verdade segundo o que está acontecendo hoje (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
No interior desse movimento de formação dos professores, e a
abordagem de referenciais teóricos das Ciências Humanas, desenvolveu-se um
40Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
92
movimento de crítica e reflexão acadêmica. Bracht (1999) argumenta que surgiu a
ascensão de uma crítica de origem Marxista ao paradigma da aptidão físico-
esportiva. Assim, essa década é considerada pela comunidade científica como
transcendental para o avanço de uma diversidade de posturas e concepções
políticas e acadêmicas no interior da área, fato que desencadeou não apenas em
lutas conceituais, mas também ideológicas (BRACHT, 1999; PAIVA, 2014; DAOLIO,
1997).
Para Daolio (1997) com base em um estudo antropológico-etnográfico
sobre o pensamento acadêmico da área, essa construção científica originou-se num
momento de fortes embates culturais e diversas visões de mundo que disputavam
um lugar na produção de conhecimento. O momento político após as ditaduras levou
os professores da época a se posicionarem sobre o cenário social. Assim,
polarizações como a biologista/reacionário ou social/de esquerda dificultaram o
avanço do debate acadêmico.
Na USP, o professor Oliveira, no ano de 1984, junto com os professores
Go Tani e Ana Maria Pellegrini, começaram a construir junto com alunos de
mestrado e doutorado, as bases da abordagem desenvolvimentista na Educação
Física escolar. Essa abordagem é concebida como um processo regular e universal
em que a escola tem a tarefa de oferecer ambientes às crianças, de acordo com o
processo de desenvolvimento que eles atravessam.
Do mesmo modo, na UNICAMP, o professor Tojal mantinha uma luta de
muitos anos com diferentes setores acadêmicos daquela Universidade, na tentativa
de fundar uma Faculdade de Educação Física que alcançasse um espaço autônomo
de conceituação epistemológica, profissional, curricular e acadêmica. Esses relatos
dos professores apresentam o processo de busca por um espaço acadêmico no
interior da Universidade, que representou uma luta em que as distribuições de poder
relegavam à Educação Física o papel de outsider no interior da academia
Universitária.
A tese doutoral do professor Tojal intitulada: “Motricidade Humana, o
paradigma emergente” reflete sobre o momento histórico da área, durante a criação
e implementação da Faculdade de Educação Física (FEF). Tojal argumenta que
acontecia nesse momento uma “crise de identidade da área” definida por três
aspectos gerais: a) a existência de mais de 100 cursos dedicados exclusivamente à
Educação Física escolar, b) uma falta de consenso epistemológico e c) uma herança
93
vinda do sistema educativo Universitário do Brasil, oprimido por sua vez por um
“estrangeirismo” ou influência ideológica e cultural dos Estados Unidos, traduzida
numa pedagogia tecnicista e voltada para a formação de um capital humano
requerido por um país de economia emergente (TOJAL, 2010).
[...] No final da década de 70, a preocupação com o estágio em que se encontrava a Educação Física no país e com a formação oferecida pelas escolas superiores aumentou bastante. Vários encontros e seminários foram realizados, e das discussões sempre constava o perfil dos egressos das escolas. Logo, no início da década seguinte, em 1982, quando da organização da proposta da criação do curso de bacharelado em técnica desportiva, visava-se ampliar e assegurar um campo de atuação profissional fora do sistema de ensino formal, como administrador desportivo, técnico desportivo, planejador e executor de projetos vinculados a estudo e aproveitamento de materiais, equipamentos, locais e potencialidades da comunidade (TOJAL, 2010, p. 36).
O médico José Aristodemo Pinnoti, reitor da Universidade Estadual de
Campinas/Unicamp no período 1982-198641, acreditaria na proposta do professor
Tojal. O projeto de construção da Faculdade estaria baseada na implementação de
um programa42 que, ligado à Educação Física, estivesse inserido nas Ciências da
Saúde, aproveitando o grande desenvolvimento dessas ciências na Universidade43.
Porém, o caminho não foi fácil, ocorrendo vários episódios de luta:
[...] encontrei-me com ele [Pinotti] na defesa de doutorado de um médico [...] e à noite fui jantar lá na casa. Sentamos eu e cinco médicos numa mesa. O Pinnoti me perguntou... “e daí, você estava querendo uma Faculdade?” Falei: “continuo querendo, tenho intenção, nós vamos passar para a área de saúde...” ele falou: “mas como?” Daí, eu tive que explicar para os médicos, porque para eles também Educação Física era jogar bola (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Aquele poder médico parecia definir uma hierarquia no interior do
currículo universitário, e foi nesse contexto que o professor Tojal teve que
desenvolver sua luta pessoal e profissional. A criação da Faculdade era uma aposta
41GOMES, Eustáquio. Pinotti foi chave na consolidação da Unicamp. Jornal da Unicamp. Campinas. 13 de julho a 2 de agosto de 2009. Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/julho2009/ju435pdf/Pag02.pdf. Acesso em: 06/06/17. 42 Os professores Wagner Wey Moreira, Ídico Luiz Pelegrinotti, Bráulio Araújo Júnior e Milton Arrivabene trabalharam junto com o professor Tojal, durante dois anos, na construção das diretrizes da Faculdade, que foi entregue ao Conselho Universitário em agosto de 1984, obtendo conceito favorável. Disponível em: Jornal da Unicamp - Edição 336 - 11 a 17 de setembro de 2006-Portal FEF Unicamp. Disponível em: https://www.fef.unicamp.br/fef/historico/inicio. Acesso em 08/02/2018. 43 A Unicamp mantém atualmente uma estrutura acadêmica dividida em dez Institutos (Artes, Biologia, Química, Física.) e catorze Faculdades (Medicina, Enfermagem, Ciências Farmacêuticas, Educação etc.). Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/faculdades-e-institutos. Acesso em: 01/06/17.
94
arriscada para aquele momento histórico de uma Universidade com apenas quinze
anos de operação e uma crise financeira e institucional:
[...] em 82 o Pinnoti foi eleito reitor, e me procurou lá na assessoria técnica da reitoria, [...] era obrigatório ter Educação Física em todos os graus e níveis de ensino, qualquer aluno da Unicamp, eu trabalhava com isso. Daí o Pinnoti foi lá me procurar, e ele falou assim: “o que é que você ainda quer…”, “eu quero criar uma faculdade! ...”. Acabamos discutindo e ele me falou: “Quanto tempo você leva para me entregar um projeto?” Ele falou... “Deve estar pronto”, eu falei: “Olha, dois anos...”, “Como dois anos?”. “Antes disso tenho que preparar todos os professores daqui, todos os profissionais, para a gente poder, se for autorizado, começar, eu não vou ficar procurando gente por aí!”. Levei dois anos, fiz o projeto inteiro, trabalhamos os profissionais, professores da Educação Física lá da Unicamp (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Como líder do projeto, o professor Tojal foi formando uma escola de
profissionais que pudessem se identificar com a proposta. Dois anos de trabalho
organizativo, de gestão e formação profissional conseguiram dar conta do desafio a
frente. Porém, o plano inicial era a criação de um Instituto de Educação Física e não
uma Faculdade, e mais uma vez encontraria resistências:
[...] em dezembro de 1984 Pinotti me chamou na festa de aniversário, me chamou e falou: vem cá, você vai conversar com o coordenador geral dos Institutos. [...] ele veio (o coordenador) encostamos tocando piano, conversando, comendo, e esse matemático falou para mim assim: “olha, amigo Tojal, vou te dizer, não tem como criar um Instituto...”. Mas falei, porra! É a terceira vez que intento e não vou conseguir? ... “Faculdade consegue...” No outro dia, na hora de almoço foi autorizada a Faculdade em reunião do Conselho Universitário, para fazer vestibular em 85 [...] Eu comecei com o curso, e os professores “super preparados”, para alguma coisa que era muito diferente, daí tive que pegar médico, peguei físico, alguns biólogos (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Daí começaria um período de desenvolvimento e criação acadêmica
coletiva. Como diretor da Faculdade44, no ano de 1985 iria à busca de professores
que acompanhassem o processo, como o professor Ademir Gebara45, quem seria,
tempo depois, o seu orientador no mestrado em Filosofia, ressaltando a ausência de
mestrados na área, nessa época.
44 A Faculdade de Educação Física foi criada em 1985 com a implantação do Curso de Graduação nas modalidades de Bacharelado em Técnicas Desportivas e de Licenciatura. Disponível em: http://www.fef.unicamp.br/fef/historico/inicio. Acesso em: 09/02/18 45 O professor Ademir Gebara Graduado em História e em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1970), mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo (1975) e doutorado em Economic History - London School of Economics And Political Science (1984). Foi professor da Unicamp no Departamento de História IFCH e na Faculdade de Educação Física.
95
Assim descreve o professor Tojal o contexto histórico em torno da
proposta do Bacharelado:
[...] eu criei o primeiro bacharelado no Brasil, por isso não gostam de mim, mas quando eu crie o bacharelado, foi em 85, em 87 nós mudamos a legislação Brasileira46 e o que as faculdades passaram a fazer? Eles passaram a dar o curso de licenciatura, era licenciatura ampliada, eu te dou mais duas disciplinas e você é bacharel também, eles não conseguiram entender que o bacharelado era para levar para a área da saúde (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Nesse sentido, a proposta do curso de Bacharelado inserido nas Ciências
da Saúde, correspondia a um trabalho de vários anos, acompanhado de discussões
com profissionais dessa área (médicos) na Universidade. Para o professor Tojal
essa diferenciação licenciatura-bacharelado, além da procura do mercado de
trabalho, tinha seu fundamento numa reflexão de caráter epistemológico sobre a
natureza específica do conhecimento que sustentava a prática fora da escola:
[...] o que eu vou estudar? O ser humano, a natureza, a sociedade, materiais e equipamentos, como eu vou usar e com que finalidade é outro “pau”. Quatro semestres licenciatura e quatro semestres bacharelado. Licenciatura é só para a escola, o bacharel treinamento físico, esportivo, recreação e lazer e área da saúde. Um não é igual ao outro, eu tenho que ter conhecimento da resposta científica necessária para aqueles problemas. (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Esta proposta de bacharelado surge no interior de um decorrente
processo de desenvolvimento e crescente hegemonia do esporte como fenômeno
social no país. Betti e Betti (1996) afirmam como a profissão nesse momento
encontrava-se migrando do “técnico-desportivo” para o modelo de orientação
“técnico-científico”, o que provocou a dualidade da formação de professores, os
quais agora tinham outro campo de trabalho fora do campo escolar.
Com o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) n. 215/87 e a
Resolução CFE n. 03/87 foi estabelecida a criação do bacharelado. A partir daí
surgiu no país um debate em torno dessa diferenciação profissional, alimentado por
questionamentos advindos de pesquisadores e docentes que argumentaram certo
46 A FEF foi a primeira faculdade do país a introduzir o bacharelado na área da Educação Física Brasileira no ano de 1985. Disponível em: Jornal da Unicamp - Edição 336 - 11 a 17 de setembro de 2006. Portal FEF Unicamp. Acesso em 08/02/18. Disponível em: https://www.fef.unicamp.br/fef/historico/inicio.
96
corporativismo e reserva de mercado. Na perspectiva da constituição do campo
profissional que estava em desenvolvimento naquela época, Souza Neto et al.
(2004) advertem que nessas condições históricas, o surgimento do bacharelado
obedeceu a uma busca pelo reconhecimento da Educação Física como campo de
conhecimento na Universidade, embora também gerasse a preocupação pela
criação de novos cursos e uma especificidade própria em torno da formação e o
perfil de profissional, assim como de outras áreas da atividade física que também
apresentavam suas particularidades.
Na seguinte década, o professor Oliveira assumira a direção da Escola de
Educação Física da USP, no ano de 1991, em meio a essa discussão entre o
Bacharel e o Licenciado. Anos atrás, em 1986, ele propôs uma série de reformas
aos cursos oferecidos nessa escola, baseando-se numa análise do mercado de
trabalho e a formação profissional (BERTINI JUNIOR; TASSONI 2013) concluindo
com a necessidade de uma preparação diferenciada desses profissionais. Quanto à
proposta do professor Oliveira, o professor Tojal comenta:
Sua proposta centrou-se na preparação profissional diferenciada para as áreas da Educação Física e do Esporte, procurando, assim, justificar a proposta de mudança do nome Esportes e Educação Física para Escola de Educação Física e Esportes, bem como o oferecimento dos cursos de bacharelado em Educação Física, Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Esporte, estabelecendo para cada caso um objeto de estudo, ou seja, a Educação Física ou o Esporte, conforme o curso (TOJAL, 2010, p. 85).
Ainda, segundo a pesquisa de Bertini Junior e Tassoni (2013) que
objetivou analisar o contexto histórico das mudanças curriculares da década de
1990, é possível perceber que tais mudanças foram o resultado de um contexto
amplo de debate na Educação Física ao redor do objeto de estudo da área e o perfil
de formação profissional almejado. Nesse contexto, é possível identificar a
contribuição do professor Oliveira ao processo, partindo das suas reflexões,
construídas nas vivências pessoais e profissionais no Brasil e nos Estados Unidos.
Por exemplo, no seguinte trecho ele refere-se a um dos sentidos que tinha o
Bacharelado para a formação do profissional almejado pela Escola da USP:
97
[...] um aluno do curso de graduação em Esporte que tivesse acesso ao vestiário [de futebol], ele vai para que consiga entender a dimensão do que é isso, uma situação de machismo e de exposição do sexo feminino [...] ela vai lá (uma estudante qualquer) junto com os colegas do curso para entender o que é uma competição, se é xingado pelo jogador, pela plateia. É isso mesmo o mundo de esporte. Então esse é um curso que pra mim é belíssimo (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Alguns anos antes, o professor Tojal, na direção da FEF, teria a tarefa de
construir uma base conceitual para apoiar cada uma das propostas curriculares.
Naqueles dias, num evento acadêmico fora do país, o professor Wagner Wey
Moreira assistiu a uma palestra de um cientista que para a época estava começando
a ganhar prestígio acadêmico por sua obra revolucionária: Manuel Sérgio Vieira e
Cunha. Depois de uma conversa com o professor Moreira ao redor da proposta
epistemológica do português, o professor Tojal decidiu fazer um convite para o
português, oferecendo-lhe um contrato de trabalho com a Unicamp.
Assim, começaria um processo de construção coletiva que perpassou os
limites da Unicamp. A Motricidade Humana, como auxílio teórico transformador do
enfoque cartesiano da Educação Física, chamou a atenção do professor Tojal,
trazendo algumas respostas e perguntas adicionais para seu percurso profissional
como docente e como gestor:
[...] a Motricidade Humana, ela tem um paradigma de movimento intencional da superação, quando você falar da Motricidade Humana, movimento intencional de superação, não importa se eu quero ganhar ou não, mas eu quero superar, eu estou nesse movimento, eu quero superar, eu estou fazendo um movimento (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Esta abordagem da Educação Física, com base em um conceito de
movimento intencional de superação, transcendeu naquele momento, para ele, a
hegemonia do esporte. Anos mais tarde, o professor Tojal começaria a cursar um
doutorado na Universidade de Lisboa, no começo da década de 1990.
98
Quadro 11-Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração “formação acadêmica” e no desenvolvimento histórico da
área.
João Baptista Tojal Fatos historiográficos da área
José Guilmar Mariz de Oliveira
1970: Licenciatura em Educação Física. Pontifícia Universidade Católica PUC-Campinas. 1971: Especialização em Voleibol. Universidade de São Carlos – UFSCar. 1972: Professor de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 1975: Especialização em Metodologia do Ensino Superior. Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. 1979: Especialização em Basquetebol. Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 1978 – 1979: Graduação em Pedagogia, Habilitação em Administração Escolar. Instituto de Ciências Humanas Americana, ICH, Brasil. 1985: Fundador e primeiro diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. 1989: Mestrado em Filosofia da Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP.
1970-1990: Mudança nos currículos de formação - profissional Parecer nº 627/69-Construção da Educação Física como área de conhecimento. Incorporação do esporte na Educação Física Brasileira Caráter tecnicista da área Leis nº 5.540/68 e 5.692/71 1977: Criação do primeiro Mestrado em Educação Física. USP. Bolsas de estudo da CAPES para cursos de pós-graduação para professores no exterior. Migração da formação profissional do “técnico desportivo” para o modelo de orientação “técnico-científico” 1985: Criação da Faculdade de Educação Física da Unicamp 1987: Promulgação do parecer CFE n. 215/87 e da resolução CFE n. 03/87 Criação do bacharelado em Educação Física 1988: Proposta de preparação diferenciada de profissionais para a Educação Física e para o esporte. Contexto da crise da Educação Física Necessidade de fundamentação teórica da prática
1970: Mestrado Northern Illinois University, NIU, Estados Unidos. 1985: Diretor Faculdade de Educação Física da Associação Cristã de Moços ACM de Sorocaba. 1989: Doutorado em Educação Física University of Oregon, U.O., Estados Unidos. 1989: Pós-Doutorado. Universidade de São Paulo – USP.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos historiográficos acessados.
As histórias de vida dos professores em relação à formação na pós-
graduação e as suas posições como gestores nos programas de graduação na
Unicamp e na USP, retratam as lideranças que eles estavam realizando no interior
desse complexo quadro de mudanças da Educação Física no campo Universitário,
assim como as relações de força que existiam nas diferentes interdependências, no
99
interior da configuração atuação profissional. Assim, os dois concordaram naquela
época na luta pela construção acadêmica e pela defesa da Educação Física como
área de conhecimento.
O contexto brasileiro apresentava naquele momento uma Universidade
pesquisadora e científica, que reconheceu a Educação Física já não por sua
dimensão prática, mas sim pela sua legitimidade para constituir-se como um campo
acadêmico. As Universidades do estado de São Paulo, USP, Unicamp e UNESP,
aumentaram a oferta de programas de formação no âmbito de graduação e pós-
graduação, a fim de responder a diversas circunstâncias sócio-profissionais: o amplo
campo de trabalho, a perda de prestígio dos cursos de Licenciatura em relação à
formação de profissionais para a escola e a produção de novos conhecimentos para
caracterizar a área (HUNGER, 2004).
De fato, segundo Lüdorf (2002), houve o aumento, na década de 1990, de
produções de pesquisas inseridas nos paradigmas fenomenológico-hermenêutico e
crítico-dialético. Este movimento foi gerado pela “absorção” de outros referenciais
teóricos das Ciências Humanas, surgindo assim “[...] a necessidade de buscar novos
rumos metodológicos que se ajustem à exploração dos fenômenos humanos e
sociais” (p. 21).
Valter Bracht (1999) em estudo das teorias pedagógicas da Educação
Física apresenta como no contexto das Universidades surgem propostas derivadas
da pedagogia crítica Brasileira. Nomeadamente, o estudo intitulado “Metodologia de
ensino da Educação Física” de um coletivo de autores, baseada na pedagogia
histórico-crítica, propôs a cultura corporal como objeto de estudo da área,
concretizada em suas diferentes expressões (esporte, ginástica, jogo, lutas, dança e
mímica). Também, a proposta crítico-emancipatória de Elenor Kunz, que apontava
desenvolver os aspectos de uma cultura de movimento, na qual os alunos
adquirissem a capacidade de analisar e agir criticamente nesse campo. Por último, a
proposta da concepção de aulas abertas à experiência do professor Alemão Reiner
Hildebrandt, professor Visitante da Universidade Federal de Santa Maria, que
procurava através de uma concepção aberta de ensino a co-participação dos alunos
nas decisões didáticas, objetivando a formação de um sujeito autônomo e crítico.
Na Unicamp o professor Doutor, Jornalista e Filósofo Manuel Sergio
iniciaria o seu percurso na FEF no ano de 1986. O professor Tojal o convidou,
porquanto a nascente FEF precisava desenvolver uma proposta teórica e curricular
100
fundamentada na pesquisa. Nesse sentido, o trabalho do português sobre a “Ciência
da Motricidade Humana” influenciaria os primeiros desenvolvimentos científicos,
acadêmicos e curriculares na faculdade. Sergio, Doutor em Motricidade Humana
pela Universidade Técnica de Lisboa, desenvolveu suas reflexões e teses na
disciplina “Filosofia das atividades corporais” na mesma Universidade.
O professor e pesquisador português produz nesse período o livro
intitulado “Educação Física ou Ciência da Motricidade Humana?”. Dividido em três
capítulos, Sergio empreendeu a tarefa de apresentar sua proposta de reconstrução
epistemológica da Educação Física no interior da FEF e no Brasil. Mediante um
recorte epistemológico, assevera que se faz necessário construir uma teoria própria
para a área, já que em seu conceito, ela costumava tomar empréstimos de outras
ciências sem produzir sua especificidade e seu sustento. A criação de uma “Ciência
da Motricidade Humana” atualizaria o conceito ultrapassado e reducionista de
Educação Física, trazendo para uma emergente comunidade científica a revolução
científica e o estabelecimento de um novo paradigma. Essa mudança levaria a
constituição de um novo sustento epistemológico para as Faculdades de Educação
Física (SERGIO, 1989).
Nesse sentido, o autor destaca alguns critérios que defendem essa
proposta revolucionária para o campo acadêmico e científico da área: a)
Epistemológicos, para isso se estabelece a Motricidade47 como o objeto teórico da
nova ciência, embora precisasse construir uma comunidade científica que
trabalhasse no seu desenvolvimento; b) Políticos, na necessidade de lançar um
projeto político voltado ao desenvolvimento científico, e no qual a Motricidade
Humana adquire um compromisso pela democracia e a justiça social; c) Culturais, na
medida em que o homem é um ser práxico, ser-em-ato que se relaciona e
transforma na cultura, e não é mais um ser com uma cognoscibilidade inata
carregada de conceitos a priori.
No capítulo 1, intitulado “Carta aberta aos professores da Educação
Física”, originalmente escrito para professores portugueses (contudo, ampliado para
47 Manuel Sergio entende a Motricidade como um referente “antropo-científico” que perpassa o conceito mecanicista de movimento. Nesse sentido concebe o homem como um “ser aberto à transcendência e, como tal, um ser práxico que, na totalidade sócio-política e pela motricidade, a persegue. O homem, porque aberto a transcendência, constitui o sentido do mundo e é a motricidade (praticamente) a dizê-lo”.
101
os professores brasileiros num post scriptum48), o português apresenta as teses que
argumentam a necessidade de considerar essa Ciência autônoma que dê suporte às
ações na prática pedagógica. Com base em “corte epistemológico” pretende
constituir uma ciência independente da Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia
e Biologia. Nesse quadro, propõe a “Educação Motora” como o ramo pedagógico
dessa ciência, pois, a Educação Física ainda carrega certezas vindas do higienismo
e o militarismo que reforçam historicamente sua dependência científica e ideológica.
Desta forma conceitua:
No caso particular da ainda denominada Educação Física, tanto em quase toda Europa como em quase todo Brasil, ela jamais conseguiu tomar consciência de seu caráter redutor, seja ele médico, militar, ou eivado de um pedagogismo em articulação com uma ciência (no meu modesto entender, a ciência da motricidade humana) que dê a este campo de conhecimento uma “matriz teórica” peculiar. (Grifos do autor) (SERGIO, 1989, p. 67)
Também, neste período, com o professor Tojal, empenharam-se em
desenvolver essa comunidade científica da Motricidade Humana, no estado de São
Paulo. Já naquele momento, muitas possibilidades de construção começaram a
emergir:
Na Faculdade de Educação Física da Unicamp, onde, como reflexo do que se passa nesta magnífica Universidade Brasileira, encontrei um ardor de renovação e a proliferação de meios de interdisciplinaridade, indispensáveis a pesquisa, empolguei-me com a excitante aventura de, na esteira dos meus colegas do corpo docente e sob estímulo dinamizante de João Baptista Andreotti Gomes Tojal (Diretor da FEF-UNICAMP), desbravar terras virgens, o que equivale a se dizer: fundar a primeira Faculdade de Motricidade Humana do Brasil. (SERGIO, 1989, p. 68)
Porém, nesse momento já estavam em disputa outras perspectivas
construídas por professores hoje reconhecidos no Brasil: Mauro Betti com a
compreensão da Cultura Corporal de Movimento, Manuel José Gomes Tubino e
suas reflexões sobre a epistemologia da Educação Física e do Desporto, Alberto
Reinaldo Repold Filho e sua proposta de campo de estudos do Movimento Humano,
José Maria Camargo Barros e as reflexões sobre os conhecimentos que demandam
as novas realidades, e por último, a proposta de Cinesiologia Humana do professor
Jose Maria Guilmar Mariz de Oliveira (TOJAL, 2010). No entanto, a intenção dos
48 Na página 62 do livro, Manuel Sergio reconhece aos professores João Paulo Subirá Medina, Aguinaldo Gonçalves, João Baptista Gomes Tojal, João Baptista Freire da Silva, Celi Zulke Taffarel, Wagner Wey Moreira e Anna Maria de Albuquerque como representantes de uma comunidade científica em gestação, e estudiosos da teoria da Motricidade Humana no Brasil.
102
professores Sergio e Tojal era discutir suas teses na comunidade acadêmica do
estado:
[...] viajamos todas essas cidades onde tinham Faculdades e daí eu discutia muito com ele. Ele falava assim: corpo, alma, natureza e sociedade. Eu falava assim, Mané! ... Eu o chamava de Mané, né? Entenda bem, se eu falar corpo, alma para você, você vai entender que é o ser humano, não é cultura corporal, a cultura está em mim, mas não em meu corpo. Corta meu pescoço e procura ver se tem cultura aqui. Sou eu, cultura corporal não existe! E ele era do meu lado. Daí o que existe? Existe corpo, alma, natureza e sociedade. Eu falava para ele: eu acho que é isso que a Faculdade tem que ensinar: o ser humano, a estrutura biológica, intencional (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Durante um período de visitas a algumas Universidades do Estado, foi
apresentada a Ciência da Motricidade Humana como proposta revolucionária para a
época. Essa discussão foi aprofundada durante a formação doutoral do professor
Tojal, na qual Sergio e ele estabeleceram uma relação orientador-orientando no
programa de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa (Portugal), e que foi se
tornando mais próxima no decorrer do tempo.
Quadro 12- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração formação acadêmica e no desenvolvimento histórico da
área.
João Baptista Tojal Fatos historiográficos da área
José Guilmar Mariz de Oliveira
1993: Doutorado em Motricidade Humana pela Universidade Técnica de Lisboa, Portugal 1993: Livre docência pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
1990: Surgimento de produções de pesquisas inseridas nos paradigmas fenomenológico-hermenêutico e crítico-dialético, nas Universidades.
1990: Editor da Revista Paulista de Educação Física-USP 1991-1994: Diretor da Escola de Educação Física e Esporte. Universidade de São Paulo.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos historiográficos acessados.
Esta relação pessoal e profissional contribuiu para o estabelecimento de
um coletivo de professores em diferentes Universidades, os quais, interessados
nessa teoria que almejava revolucionar o campo de conhecimento da Educação
Física, foram convocados para apoiar a visita do professor Sergio, enquanto
orçamento e organização geral das locações:
103
[...] eu conheci muito esse pessoal, então marcava com eles. Eu falava: gente, eu estou com Manuel Sérgio aqui. Nós estávamos programando uma visita por esse estado: vejam umas cinco faculdades para receber a gente, período que nós vamos estar com vocês, vocês vão pagar para mim, daqui ao Paraná, quando chegar lá, aquela faculdade banca para ir para lá, e eu cobrava, só que tudo o que eu recebia dava para Manuel Sergio. (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Este processo foi o início da organização de uma série de importantes
eventos acadêmicos no começo do novo século. Foi assim que com o apoio do
Conselho Federal da Educação Física (CONFEF), instituição a que pertencia o
professor Tojal como conselheiro eleito no ano de 199849, foram realizados no ano
2005 três Colóquios e um “Congresso Internacional em Epistemologia da Educação
Física”. O livro publicado pelo congresso expõe as principais intenções desses
eventos acadêmicos:
O I Congresso Internacional em Epistemologia da Educação Física foi organizado como resultado das discussões desenvolvidas e avanços obtidos nas três edições de colóquios sobre epistemologia da Educação Física, realizados no ano de 2005, sob os auspícios do Conselho Federal de Educação Física, que mesmo possuindo plena certeza que esse tipo de promoções de discussões, análises e estudos na área acadêmica não é de sua alçada, contudo, tendo constatado a necessidade de que esse processo fosse oportunizado no país, uma vez que inexistem nesse segmento associações, sociedades científicas ou outros tipos de instituições que se propuseram a realizar e bancar os eventos referentes às questões epistemológicas, e devido a necessidade de dar respostas seguras a categoria profissional e a sociedade sobre o campo de conhecimento, os conceitos e as terminologias que vem sendo utilizados nas intervenções dos seus profissionais no mercado de trabalho, é que se processou o início do processo para o qual foram convidados pesquisadores e estudiosos sobre as questões epistemológicas da Educação Física. (TOJAL, 2010, p. 7)
Já para esse momento, os professores começaram um processo de
sínteses e reflexão dos seus percursos, pois, nos eventos daquele momento,
compartilhavam o produto do seu desenvolvimento profissional nas suas histórias de
vida, uma vez que estava chegando para eles o momento de aposentadoria. Nesse
sentido, o professor Oliveira reflete em torno da situação atual das Universidades no
cenário capitalista:
49 Conselho Federal de Educação Física-CONFEF. História da Regulamentação da Educação Física no Brasil. Elaboração de medidas legais e a criação de um conselho. Disponível em: http://www.confef.org.br/extra/conteudo/default.asp?id=16. Acesso em: 12/06/17.
104
[...] Agora quando entra uma política dessas como está a Universidade hoje, né? Eu resolvi sair dela, porque do jeito que está, é uma idiossincrasia. Cada um é dono do seu mundo, se você não produz você padece. É um fenômeno latino-americano, você publica ou vc morre, não renova sua bolsa, não renova o seu negócio, e aí o papel aceita tudo, eu sei de artigos que... Um fala do “rabo da lagartixa”, você produz os artigos e o que está acontecendo? Você não vê, então, ficar aqui numa situação dessas (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
Nesse período de afastamento e aposentadoria, junto com outros
profissionais da área, o professor Oliveira fundou o “Instituto de Cinesiologia
Humana” no ano 200250, que assumia muitos dos seus principais fundamentos
teóricos e experienciais, como por exemplo, a elaboração de um Boletim publicado
no site do Instituto, que com o nome de “Movimentar-se” tenta expor a sua aposta
epistemológica.
Este desenvolvimento teórico foi apresentado pelo professor Oliveira e
discutido junto com outros professores, nessa série de eventos no ano de 2005,
acima mencionados. Esses eventos apresentaram a seguinte cronologia:
Quadro 13- Eventos realizados no contexto do I Congresso Internacional de epistemologia da Educação Física
Data Local Objetivo Conclusão
31 de maio e 1 de junho
Campinas, Estado de São Paulo
Estabelecer discussões sobre as origens filosóficas e científicas que dão sustentação à Educação Física
Entendimento de que a Educação Física é ao mesmo tempo uma área acadêmica, enquanto elaboração e construção teórica metodológica, e campo profissional, quando passa a intervir no atendimento a problemas da sociedade e o desenvolvimento de cultura para adoção de um estilo de vida ativo.
18 a 20 de julho
Maringá, Estado do
Paraná
Discutir e chegar a convergências entre conceitos e termos através de uma fundamentação epistemológica tentando ir além do estabelecimento de relações políticas entre eles.
Esta sustentação tem se dificultado devido aos condicionantes históricos de ações voltadas à aplicabilidade operacional do profissional junto ao mercado de trabalho, onde predominam interesses mercadológicos e consumo social.
21-22 de setembro
Capital do estado de
São Paulo.
Buscou-se fornecer um espaço para incluir nas próprias perspectivas a construção intelectual dos demais.
Serão necessárias mais discussões, análises e conceituações visando identificar convergências sem pretensões de chegar a unanimidades.
13-15 novembro
Capital do estado de São Paulo
Dar continuidade às discussões e apresentar o conhecimento construído para a comunidade científica e acadêmica.
Foram sintetizados e apresentados os trabalhos (perspectivas epistemológicas) desenvolvidos em cada um dos colóquios.
Fonte: Elaboração própria com base em Tojal (2010)
50 Sobre o Instituto de Cinesiologia Humana de São Paulo – ICHSP. Disponível em: http://www.ichsp.com/instituto.html. Acesso em: 12/06/17.
105
A respeito da configuração como grupo de professores Universitários
aposentados, esse espaço acadêmico construído por eles revela uma série de
interdependências, necessárias para o desenvolvimento acadêmico da área.
Entende-se ali como o conhecimento não é neutro, sempre é construído diante de
diferentes posicionamentos sócio-políticos e valores que vão se desenvolvendo nas
histórias de vida e nas configurações sociais. Neste sentido, é possível perceber nos
depoimentos uma tentativa de superação das restrições impostas pelos cenários
acadêmicos da atualidade, mediante uma troca conceitual e epistemológica
oferecida pelos congressos e simpósios:
[...] naquele encontro, Manuel Sérgio foi, Tojal foi, Mauro Betti foi, eu fui, acho que Palma foi, Dartagnan foi, um grupo de pessoas de alguma forma de influência em seus lugares. Em três dias, e era quase fechado, tomávamos café, íamos trabalhar, almoçávamos, íamos trabalhar, jantávamos e íamos trabalhar, e mesmo no almoço ou na janta se discutia. Ali foi o momento de escutar. Olha [...] você acha ou não acha, eu não entendi o que você disse, me explica melhor o que você expôs? Então foi muito produtivo (Excerto do depoimento do professor Oliveira).
[...] eu jamais deixei alguém que era contrário fora, nem falar aqui no livro, porque aqui você vai discutir. Não quero te convencer! Só quero que você ponha mais uma coisa para mexer, um dia você vê se aceita ou não aceita [...]. E assim foi feito. Esse evento quem bancou foi o Conselho Federal de Educação Física, e quem publicou o livro foi o CONFEF, por quê? Não porque João Batista que quis, é porque o interesse que a gente tinha de dar um padrão de conhecimento para nossa área, esse padrão de conhecimento, o que era? Se eu transformo você como aluno de um curso de Educação Física, falar para você o que é Educação Física, eu tenho que estudar muito para dizer o que é Educação Física, como é que ela está inserida no contexto daquela sociedade (Excerto do depoimento do professor Tojal).
Ainda, podem-se perceber nos depoimentos as contradições pessoais e
profissionais que coexistem no interior de uma discussão deste tipo no âmbito
acadêmico. Assim, personalidades tão diferentes revelam um olhar pessoal e
profissional, construído no interior das histórias de vida. A complexidade das
diferentes tensões com o meio social, e das interdependências surgidas nos
diferentes âmbitos sociais, permitem entender que essa grande diversidade de
posturas conceituais, empreendimentos e conquistas acadêmicas e políticas
presentes na história da Educação Física no Brasil, e para o nosso caso particular,
presentes nas experiências dos professores Tojal e Oliveira, foram permeadas pelo
106
conflito e a contradição presentes em múltiplos cenários da vida do indivíduo, que
perpassa ao longo da sua existência.
Quadro 14- Contextualização das trajetórias biográficas dos professores Tojal e Oliveira na configuração formação acadêmica e no desenvolvimento histórico da
área.
João Baptista Tojal Fatos historiográficos da
área
José Guilmar Mariz de Oliveira
2001: Aposentadoria e afastamento da Unicamp
2002: Criação do Instituto de Cinesiologia Humana
2005-Congresso Internacional de Epistemologia da Educação Física
2002: Coordenador geral do Instituto de Cinesiologia Humana. São Paulo. 2002: Aposentadoria e afastamento da USP
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos historiográficos acessados.
Diante da análise configuracional, por meio das narrativas dos
professores brasileiros podemos destacar que a configuração do campo acadêmico
e científico da Educação Física foi muito marcante nas trajetórias dos professores. O
surgimento de políticas educativas e científicas conduzidas pela Capes, a entrada da
Educação Física nas lógicas científicas dessa configuração, a formação na pós-
graduação em Universidades no exterior, a proximidade com referenciais teóricos
das Ciências Humanas e as interdependências constituídas perante a gestão dos
professores nos programas de formação e nas Faculdades, contornaram um jogo de
forças que determinou cada um dos percursos. Até o final dessas trajetórias,
manteve-se uma defesa pela profissão e por sua legitimidade como campo de
conhecimento.
107
6. CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE CONFIGURACIONAL NO ESTUDO DAS HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A aproximação ao estudo das interdependências em que o professor está
envolvido permite compreender as histórias de vida dos professores não apenas
pelo o que os indivíduos são, mas, principalmente, o que são entre si. Para Norbert
Elias, é no ambiente da configuração formada por indivíduos de origens sociais e
culturais diferentes, no nosso caso professores de Educação Física dos dois países,
que distintas interdependências estruturariam uma formação social na aquisição de
habitus (ELIAS, 2009, 2015). Portanto, concebemos que a docência está inserida no
interior da relação dialética entre a vida social e individual.
Predomina na literatura científica a concepção de “Ciclos de vida
profissional” como alicerce dos estudos de histórias de vida e trajetórias profissionais
dos professores (HOPF; CANFIELD, 2001; FOLLE et al., 2009; KRUG, H.; KRUG,
R.; CONCEIÇÃO, 2013; NUNES; GODOI, 2013; FIGUEREIDO; MORAIS, 2013).
Esses estudos estabeleceram duas conclusões principais: a) a demarcação de
aspectos gerais do desenvolvimento profissional (FOLLE; NASCIMENTO, 2008)
vividos pelos professores, tais como: motivos para a escolha da profissão docente,
entrada na carreira docente, desenvolvimento profissional e aposentadoria docente;
e b) o estabelecimento de trajetórias semelhantes nos percursos de professores
(FOLLE; BOSCATTO; NASCIMENTO, 2010).
Diante dessas colocações, o presente estudo ao situar a análise
configuracional perfilou uma concepção do tempo que nos permitiu considerar uma
outra aproximação ao estudo das histórias de vida por meio da noção de “processo”.
Assim como no estudo sobre a trajetória de Mozart (2009), a qual situou-se diante
uma configuração de longa duração ou macrocosmo (fim do absolutismo do século
XVII) e microcosmo (a configuração da sociedade da corte) foi possível pensar as
vidas dos professores Colombianos e Brasileiros no imbricamento das duas
dimensões: micro e macro, subjetividade e objetividade ou indivíduo e sociedade.
Refletir aspectos históricos atrelados na constituição das configurações
nos dois países no interior de um macrocosmo (as questões sócio-históricas e
políticas desses países em desenvolvimento durante o século XX) e um microcosmo
(o entendimento da infância, a vida familiar, a formação inicial e a experiência
108
profissional) forneceram chaves para o entendimento das temporalidades
específicas a cada configuração.
Com efeito, os indivíduos, segundo seus habitus, não são apenas
membros, mas também constituintes da sociedade, modelando-a e modelando-se
ao interagir uns com os outros, e mediados por forças reticulares ou tensões
dinâmicas que variam de acordo com o tempo histórico no qual convivem (ELIAS,
2015). Nesse entendimento, os conceitos síntese habitus e configuração se
constituíram em chaves para a nossa análise, evitando por exemplo, uma análise de
cada trajetória sem considerar os jogos de força específicos de um indivíduo que
existe e age pelas suas relações com os outros.
De tal modo, os professores constituíram várias camadas de um habitus
social, entendido como uma composição individual que um ser individualiza em
maior ou menor grau, indissociável de sua existência como ser social no interior do
processo civilizatório (ELIAS, 2015). No interior das dinâmicas sociais, políticas e
econômicas, esses professores configuraram seu ser docente como esportistas na
juventude, trabalhadores durante a formação inicial, líderes estudantis na
Universidade e gestores nas Faculdades. Essas funções sociais não foram
constituídas exclusivamente de sua vontade como pessoas isoladas, pelo contrário,
no interior das configurações que requisitaram determinados habitus, segundo as
exigências impostas pelo conjunto dos indivíduos. Nesse sentido, “não há
identidade-eu sem identidade -nós. Tudo o que varia é a ponderação dos termos na
balança eu - nós, o padrão da relação eu - nós” (ELIAS, 2015, p. 124).
No que diz respeito à configuração “familiar e escolar” proposta no
estudo, especificamente no tocante ao relacionamento com os pais mediado pela
valorização social da Educação Física na época e na escolha da profissão,
destacamos um traço distintivo encontrado na história de um dos entrevistados
Colombiano, que sofreu a resistência de seus pais pelo fato do desejo expresso de
cursar Licenciatura na área. Nessa interdependência foi requisitado um habitus
específico, expressado na defesa que ele teve que fazer da sua escolha profissional
perante sua família, no interior de um contexto social de baixo reconhecimento social
da área. Assim, para Elias (1994) a estrutura que a família constitui pode permitir ao
indivíduo diferentes alternativas para ele conseguir aquilo que pretende alcançar de
acordo com o momento histórico:
109
Essas relações — por exemplo, entre pai, mãe, filho e irmãos numa família —, por variáveis que sejam em seus detalhes, são determinadas, em sua estrutura básica, pela estrutura da sociedade em que a criança nasce e que existia antes dela. São diferentes em sociedades com estruturas diferentes. Por essa razão, as peculiaridades constitucionais com que um ser humano vem ao mundo têm uma importância muito diferente para as relações do indivíduo nas diferentes sociedades, bem como nas diferentes épocas históricas de uma mesma sociedade. (p. 23)
O que pudemos observar nas histórias narradas foi uma grande variedade de
situações específicas que cada um deles, professores Brasileiros e Colombianos,
tiveram que enfrentar, pois, as redes de relações familiares criavam diversas
expectativas e exigências para os filhos. Por exemplo, para um professor, essa rede
constituía-se em torno da pedagogia, ao pertencer a uma família de educadores, e
como moradores da capital da Colômbia, onde eles administravam uma escola. No
caso do outro professor, uma família de moradores de uma cidade pequena que
tinha outras expectativas em torno das profissões que eles queriam para seus filhos,
muito distantes da profissão docente. No Brasil, essas relações foram muito mais
próximas ao incentivo para a prática de esportes em clubes, aspecto que
influenciaria uma posterior escolha profissional pela Educação Física. No interior
dessas teias, Elias esclarece como as decisões pessoais são influenciadas por uma
“ordem invisível”:
A ordem invisível dessa forma de vida em comum, que não pode ser diretamente percebida, oferece ao indivíduo uma gama mais ou menos restrita de funções e modos de comportamento possíveis. Por nascimento, ele está inserido num complexo funcional de estrutura bem definida; deve conformar-se a ele, moldar-se de acordo com ele e, talvez, desenvolver-se mais, com base nele. Até sua liberdade de escolha entre as funções preexistentes é bastante limitada. Depende largamente do ponto em que ele nasce e cresce nessa teia humana, das funções e da situação de seus pais e, em consonância com isso, da escolarização que recebe (ELIAS, 2014, p. 19).
Por tanto, na escolha profissional dos professores Brasileiros duas
divergências se destacaram: 1) para um dos professores essa escolha aconteceu no
interior de um cenário de promoção e valorização do esporte dentro e fora da escola,
devido ao apoio do seu pai nas práticas esportivas e a influência do seu professor de
Educação Física escolar; 2) para o outro professor, em um cenário de baixo
reconhecimento social da área, a inclinação profissional foi decorrente de um ato de
resistência pessoal, a de opor-se a um dos seus mentores, o seu professor de
Educação Física, quem desprezara a sua escolha pessoal. Nos estudos feitos no
110
Brasil, além da prática do esporte na infância e juventude, a figura do professor de
Educação Física escolar tem sido destacada como outro importante fator de
influência na escolha profissional (HOPF; CANFIELD, 2001; CORREA, 2007).
No tocante à configuração “formação acadêmica”, foram destacados dois
aspectos centrais: a) a importância de experiências para além dos cenários
institucionais e b) traços configuracionais da formação inicial da época. Destes dois
aspectos concluímos que uma formação inicial percebida como deficiente e
reducionista, foi compensado com experiências fora das universidades e institutos
de formação profissional.
Assim, as experiências de formação para além dos cenários institucionais
da época se constituíram substancialmente em outras teias de interdependência: no
caso de um professor Brasileiro, as primeiras experiências de ensino com seu
professor de Educação Física escolar tiveram mais significado para sua formação
profissional, sendo lembradas como importantes para a construção de uma postura
pessoal e profissional. Para o outro, a lembrança da sua experiência de ensino com
os filhos de um cidadão estrangeiro (que ocorreu simultaneamente a sua formação)
fez mais sentido para a compreensão dos seus saberes como professor de
Educação Física. A esse respeito, nos estudos recentes sobre histórias de vida
quando os professores refletem sobre a sua formação profissional, os aspectos
extraprofissionais são constantemente destacados (SANTOS; BRACHT; ALMEIDA,
2009).
No tocante aos traços configuracionais da formação inicial da época,
destacamos: na Colômbia, a experiência conflitante dos professores com disciplinas
(religião) que procuravam impor doutrinas, e que mostram como o poder religioso51
influenciava na formação docente Colombiana daquela época e, especialmente, na
Educação Física. A formação sofreu a repercussão da “Assembléia Nacional
51Para Piñeros (2007), o contexto histórico da violência na Colômbia inclui uma Igreja Católica que
enfrentou o perigo do liberalismo do século XIX. Para a igreja, esse ataque não residia exclusivamente na erosão de seus privilégios, mas também na ameaça à liberdade de exercer sua missão, como ela a compreendia desde os tempos de sua fundação. Para Rojas (2017), no auge da violência e do bipartidarismo, os conservadores instrumentalizaram o povo católico, incitando-o a defender seu país e a religião. Alguns líderes políticos influenciaram as hierarquias eclesiásticas, procurando liderar um povo crente que os aceitasse como salvadores da pátria e da fé, em face do caos liberal, protestante e comunista. No governo de Laureano Gómez, os ministros da educação repetiram que fariam o que fosse necessário para estimular o ensino privado católico, permitindo a participação da Igreja nas políticas públicas educacionais e na escolha dos professores para as escolas públicas. Por exemplo, os professores a serem admitidos nas escolas deviam apresentar um certificado de boa conduta, emitido pelo sacerdote local.
111
Constituinte” do ano de 1952, que se traduziu no ano seguinte em um projeto de
constituição da abolição da liberdade de cultos e a imposição da moralidade do
nacionalismo católico (ROJAS, 2017). Essa interdependência configurada na
formação de professores de Educação Física seria uma das causas da criação de
movimentos estudantis dos quais participaria um dos professores.
No Brasil, a formação inicial representou para os professores uma
excessiva demonstração de habilidades esportivas no interior da época da ditadura
militar. Sobre isso Oliveira (2004) afirma que:
[...] a história da educação física no Brasil tem mostrado um conjunto bastante significativo de dificuldades limitadoras da potencialidade criadora dos professores, ou, se preferirmos, da sua autonomia: uma formação acadêmica deficitária e – sintomático – ainda francamente esportiva; deficiência de forma e conteúdo nas iniciativas de formação continuada; perpetuação de um discurso de cunho higienista, integrador e moralizador; prevalência da ênfase sobre as atividades em detrimento da ênfase sobre o conhecimento; precariedade de condições de trabalho, seja no tocante ao aspecto material (espaço, equipamento etc.), seja no tocante à condição econômica dos professores (p. 17)
Porém, esse mesmo autor argumenta que a hegemonia esportiva estava
longe de ser o resultado de uma relação de dominação, mas sim um longo processo
de “modernização” da área com a anuência de um setor dos profissionais e a
resistência de outros pequenos grupos, quer dizer, no interior de uma luta de
representações de diferentes indivíduos e grupos na definição dessas políticas
(OLIVEIRA, 2003).
Essas dificuldades vividas pelos professores durante o período de
formação e as teias de interdependência constituídas entre os diferentes atores da
Educação Física e as configurações sócio-políticas dos países permitem uma
compreensão mais realista das posteriores escolhas que eles fizeram durante a sua
trajetória. De fato, essas escolhas no interior de uma sociedade com tantas tensões
e uma divisão avançada do trabalho admitem um campo restrito para as
capacidades e inclinações do indivíduo (ELIAS, 2015).
Do mesmo modo, a análise configuracional possibilitou uma compreensão
da configuração “Experiência e desenvolvimento profissional”: para Almeida e
Fensterseifer (2007) a atuação dos professores nas suas práticas pedagógicas
acaba caindo na rotina por causa de uma “cultura escolar do esporte” que os torna
incapazes de ressignificar o sentido formativo da Educação Física nas aulas
112
escolares. No entanto, os professores Colombianos e Brasileiros destacaram como
uma formação inicial insuficiente não foi impedimento para desenvolver práticas
inovadoras. Por exemplo, no interior das práticas educativas na Colômbia no
contexto histórico da violência, a utilização de uma estratégia didática alternativa
(revista ginástica) na relação conflitante entre professor e alunos (filhos de líderes da
força armada insurgente que fazia oposição ao Estado), contribuiu para o equilíbrio
nessa relação de poder, assim como a obtenção de reconhecimento dos seus
alunos.
Uma diferença importante entre os dois países vem a ser representada no
interior dessa configuração: para a Colômbia, segundo as narrativas dos
professores, a experiência mais transcendental foi a organização sócio-profissional.
Uma disputa entre grupos rivais na Colômbia exemplifica a busca de uma identidade
da Educação Física para a América Latina em dois níveis: 1) entre a ACPEF e a
FIEP, que por intermédio de eventos acadêmicos e políticos procuraram legitimidade
para representar o coletivo docente e influenciar a política educativa; 2) entre a
ACPEF e o Congresso Pan-americano contra a organização da Educação Física dos
Estados Unidos (composto por professores norte-americanos), no interior da
influência que os EUA exerciam sobre o continente em diferentes aspectos
econômicos, políticos e educativos. Os professores Colombianos, por meio de várias
lutas no interior da organização sócio-profissional, conquistaram como grupo uma
relativa independência, expulsando os representantes do país norte-americano.
Portanto, lembrando Elias (2000) no estudo no povoado de Winston
Parva, quando sugere a existência de uma “sociodinâmica de relação” entre grupos
interligados “estabelecidos” e “outsiders”, por uma forma específica de vinculação,
entendemos que ocorreu uma luta material e simbólica entre a ACPEF e a FIEP.
Essa interdependência foi configuradora de uma identidade docente, muito próxima
a uma formação política, importante para a docência. Nessa perspectiva da
militância dos professores, Nunes e Godoi (2013) afirmam que a formação e atuação
política são importantes para a docência e a profissionalização dos professores.
No interior desse modelo analítico Elisiano, ao estudar as
interdependências entre dois grupos sociais, por se assentarem em condições de
origem similares, é preciso analisar as tensões e conflitos através da complexa
forma em que os indivíduos vinculam-se ao jogo. Foi assim que, diante da influência
113
do país norte-americano, os dois grupos, tanto a ACPEF quanto a FIEP, mudaram a
dinâmica e o sentido da sua interdependência, tornando-se aliados.
No caso do Brasil, ressaltamos que a configuração “Experiência
profissional” foi se desenvolvendo em relação às mudanças históricas da área.
Constatamos nos depoimentos dos docentes duas etapas principais:
1) Uma aproximação das próprias práticas profissionais com a educação
e a pedagogia, por exemplo, em referência às críticas que os professores fizeram
sobre a formação inicial que receberam, e o desencontro que esta formação tinha
com as realidades educativas. Esse traço característico que emergiu no estudo já foi
discutido em outros estudos em relação ao ciclo “entrada na carreira” (NUNES;
GODOI, 2013; FIGUEREIDO; MORAIS, 2013).
2) Uma mudança evidenciada nas trajetórias após a formação na pós-
graduação dos professores. Concordando com Figuereido e Morais (2013), o
ingresso em cursos de Mestrado e Doutorado foi fundamental para os professores,
pois se constituiu numa oportunidade de permanência na profissão, o avanço na
carreira e uma revalorização social da profissão. Assim, constatamos que em
meados da década de 1980 até o ano da aposentadoria, os professores fizeram
parte da constituição das bases acadêmicas da Educação Física com suas atuações
em posições privilegiadas na Universidade (como gestores de Faculdades e
Institutos). Com relação a esse assunto, o estudo de Hopf e Canfield (2001) também
considerou trajetórias de professores aposentados que tiveram atuação na
Universidade. Porém, a análise centrou-se em vivências subjetivas em torno dos
conteúdos de ensino, didáticas ou relações com alunos.
Como convergência para ambos os países, em relação a essa
configuração da “Experiência e desenvolvimento profissional” destacamos a
prevalência de uma “identidade-nós” como uma parte importante dos seus
desenvolvimentos profissionais, em uma época em que foram constituídas
agrupações devido às complexas lutas sociais e acadêmicas que enfrentaram.
Nesse sentido, a balança “eu – nós” pendeu para um “nós”, na busca do
reconhecimento e legitimidade como profissionais da Educação Física.
Nesse sentido, a importância da organização social e profissional desses
professores foi um traço característico muito relevante na configuração das histórias
de vida: para um dos países, a Colômbia, essa balança se configurou entre as lutas
sociais contra os governos da época e a constituição sócio-profissional. Para o
114
outro, Brasil, a configuração de um campo acadêmico-científico levou a constituir
nas Faculdades e Institutos projetos e perspectivas conceituais e epistemológicas no
interior de coletivos docentes, verificado isto nos depoimentos que deram conta das
dinâmicas grupais. Por tanto, a importância do "coletivo" na docência poderia ser
interrogada na contemporaneidade da profissão, perante o atual processo de
individualização já descrito pelo Elias:
Agora o indivíduo tem que contar muito mais consigo mesmo ao decidir sobre a forma dos relacionamentos e sobre sua continuação ou término. Ao lado da permanência reduzida, surgiu uma permutabilidade maior dos relacionamentos, uma forma peculiar de habitus social. Essa estrutura de relações requer do indivíduo maior circunspecção, formas de autocontrole mais conscientes e menor espontaneidade dos atos e do discurso no estabelecimento e na administração das relações (ELIAS, 2015, p. 137).
Assim, na nossa atualidade surge a pergunta por essa balança “eu - nós” em
torno da formação e o desenvolvimento docente, porquanto, no interior dos distintos
âmbitos educativos, poderiam se manifestar práticas e processos de individualização
muito agressivos, diante os atuais cenários neoliberais. Caberia a mais pesquisas
interrogar no assunto, analisando os rumos da profissão.
6.1. À guisa de conclusão
Para concluir esta pesquisa, nestes últimos apontamentos ressaltamos,
como exemplo de limitação de estudos como o aqui desenvolvido, que embora o
objetivo da sociologia configuracional seja o entendimento das redes de forças
atuantes nas interdependências, a memória dos professores aposentados pode
incorrer em histórias tendenciosas assim como esquecimentos. Desse modo, pode
ser conveniente considerar em pesquisas futuras outros relatos de alunos,
professores e gestores que fizeram parte das configurações sociais, ampliando,
sobretudo, as possíveis redes de interdepedência estabelecidas.
Quando o indivíduo interage com outras pessoas constitui sua inserção
no mundo. Mas essa inserção dá-se num processo dinâmico, fluido, num mundo
inacabado. Diante desse processo continuo de mudança, conceitos como “habitus” e
“configuração” articulam-se para fornecer ferramentas analíticas, que incorporadas à
reflexão sobre as histórias de vida, contribuem para olhar o complexo processo de
mediação e dinamização das redes de forças que configuram as relações sociais.
Perante essa análise, as etapas da carreira, os ciclos de vida profissional do
115
professor, como têm sido nomeados na literatura sobre a temática, são
compreendidos como processos configuracionais, dinâmicos e instáveis.
Diante desse olhar, concluímos que as histórias de vida dos professores
são configuradas no interior de variadas teias de interdependência, entendidas como
espaços intermediários entre as macro-estruturas sociais, políticas e econômicas e
as vivências subjetivas. A análise dessas teias permite-nos concentrar a atenção no
modo como as ações e experiências dos indivíduos se interpenetram no cotidiano.
Foi assim que outras teias de interdependência emergiram no interior de
cada configuração proposta neste estudo a priori : o relacionamento com os pais e a
família, que por sua vez estava inserida em uma estrutura social mais ampla; a
função do professor da área durante as experiências escolares dos nossos
participantes da pesquisa; algumas limitações percebidas durante a formação inicial;
a militância política como configuradora da história de vida como professor e, por
último, a etapa da pós-graduação e a participação ativa na configuração acadêmica
da área.
Ainda que construir uma “análise comparativa” entre os países não fosse
o objetivo principal do estudo, tanto as convergências como as divergências
encontradas permitem esclarecer que as teias de interdependência configuram-se
em presença de específicas formas de vinculação, historicamente vinculadas a
estruturas sociais mais amplas, porém, não determinadas. Isso significa que, embora
os indivíduos (professores) não fossem inteiramente autônomos, participariam
ativamente das teias segundo diversos interesses, inclinações, concepções e
valores relacionalmente constituídos.
Por fim, abordagens configuracionais das histórias de vida dos
professores possibilitam entender as múltiplas interdependências que configuram o
ser docente na atualidade, elucidando que a docência não pode ser entendida
aquém de uma perspectiva sócio-histórica. Nos atuais cenários torna-se importante
compreender as relações de força em torno da educação e a profissão docente.
116
REFERÊNCIAS
ACEVEDO, A. Juventud y revolución. Mayo del 68 en el sistema mundo. Revista UIS Humanidades, Santander, v. 39, n. 1, p. 51-62, 2011. ALMEIDA, L. de; FENSTERSEIFER, P. E. Professoras de Educação Física: duas histórias, um só destino. Movimento, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 13–35, 2007. ALMEIDA, S.P. Um lugar: muitas histórias – o processo de formação de professores de matemática na primeira instituição de ensino superior da região de Montes Claros/ norte de Minas Gerais (1960-1990). 403f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte, 2015. AMADIO, A. C. Consolidação da Pós-graduação “stricto sensu” da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo: trajetória acadêmica após 30 anos de produção e as raízes da Pós-graduação. Rev. Brasileira Educ. Fís. Esp., São Paulo, v. 21, p. 25–36, 2007. BENITES, L. C.; SOUZA NETO, S. D. S.; HUNGER, D. O processo de constituição histórica das diretrizes curriculares na formação de professores de Educação Física. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 343–360, 2008. BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física. Cadernos Cedes, ano XIX, n. 48, P. 69-88, Agosto, 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v19n48/v1948a05.pdf. BERTINI JUNIOR, N. B.; TASSONI, E. C. M. A Educação Física, o docente e a escola: concepções e práticas pedagógicas. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 467–483, 2013. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/63117>. BETTI, I. BETTI, M. Novas perspectivas na formação profissional em educação física. Motricidade, Portugal, v. 2, n. 1, p. 10–15, 1996. BETTI, I.; MIZUKAMI, M. D. G. N. História de vida: trajetória de uma professora de educação física. Motriz, Rio Claro, v. 3, n. 2, p. 108–115, 1997. CHARTIER, R. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1988. CHINCHILLA, V. J. Historiografía de la Educación Física en Colombia. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2004 COLOMBIA. Plan nacional de desarrollo de la educación física. Educación física: conocimiento y construcción social 2002-2006. Bogotá, DC: Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colombiano del deporte - Coldeportes -Asociación Colombiana de profesores de Educación Física, 2002. CONTECHA, L. La educación física en colombia una mirada desde la experiencia de
117
vida del Profesor Hector Peralta Berbesi. [s.d.] 2008. Disponível em: http://www.edu-fisica.com/Revista-8/EDUCACIN-FISICA-COLOMBIA.pdf. ________. La Educación Física y el Deporte en Colombia. Una historia. Revista Digital Lecturas: Educación física y deportes, Buenos Aires, v. 4, n. 17, p. 1–6, 1999. CORRÊA, Denise A. Relatos de memória tecendo histórias: a “era Vargas” e o desvelar da trajetória docente em educação física escolar. In: III Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana: o lazer em uma perspectiva latino-americana, 2007, São Carlos. Anais... São Carlos: SPQMH -DEFMH/UFSCar, 2007, p.197-206. DAOLIO, J. Educação física brasileira: autores e atores da década de 80. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Florianópolis, v. 18, n. 3, p. 182-191, maio 1997. DIAZ, J. Juventud, nueva izquierda y revolución en Colombia : los avatares políticos de. Revista Controvérsia, Bogotá, v. 194, p. 265–291, 2010. ELIAS, N. A sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2015. ________. Introdução a Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2008. ________. Mozart: Sociologia de um Gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. ELIAS, N.; SCOTSON, J. Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Manifesto Mundial FIEP. Foz do Iguaçu/PR: Congresso FIEP, 2000. Disponível em: http://www.congressofiep.com/manifesto/ FOLLE, A.; FARIAS, G.; BOSCATTO, J.; VIEIRA DO NASCIMENTO, J. Construção da carreira docente em Educação Física: escolhas, trajectórias e perspectivas. Movimento, Porto Alegre, v. 15, n. 1, p. 25–49, 2009. FOLLE, A.; NASCIMENTO, J. V. do. Estudos sobre desenvolvimento profissional: da escolha à ruptura da carreira docente. Revista da Educação Física/UEM, Maringá, v. 19, n. 4, p. 605–618, 2008. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/3521>. FOLLE, A.; NASCIMENTO, J. V. do. Trajetória docente em educação física: percursos formativos e profissionais. Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v. 24, n. 4, p. 507–523, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbefe/v24n4/a08v24n4.pdf>. FRIZZO, G. F. E. Gregorio Bezerra: professor de educação física, revolucionário, comunista e torturado nas duas ditaduras do Brasil. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São Paulo, v. 38, n. 3, p. 220–226, 2016. Disponível em:
118
<http://dx.doi.org/10.1016/j.rbce.2015.12.009>. GALLO, L. E.; GARCÍA, H. W. Experiencias educativas de maestros: relatos de cuerpo y educación en la frontera escolar. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Manizales, v. 9, n. 2, p. 40–57, 2013. GARNICA, A. Registrar oralidades, analisar narrativas: sobre pressupostos da História Oral em Educação Matemática Transcribing oral depositions, analysing narratives: some remarkson oral history in athematics education. Rev. Seropédica, [S.I.], v. 32, n. 2, p. 29–42, 2010. ______. História oral em educação matemática: um panorama sobre pressupostos e exercícios de pesquisa. Historia Oral, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 35–53, 2015. GOELLNER, S. O método Frances e a Educação Física no Brasil: Da Caserna a Escola. 1992. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano). Programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de educação Física Superior, Porto Alegre, 1992. GONZÁLEZ, L. J. La investigación sociológica figuracional de Norbert Elias : elementos conceptuales y metodológicos. Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, Buenos Aires, v. 14, p. 16, 2014. Disponível em: <http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Gonzalez-Oquendo-texto.pdf>. HEINICH, N. A sociología de Norbert Elias. Bauru: Edusc, 2001. HONORATO, T. modelos escolares para formação de professores no estado de são Paulo (1897-1921): o poder à luz de Norbert Elias. COMUNICAÇÕES, Piracicaba, v. 22, n. 2, p. 123–136, 2015. HOPF, A. C. O. CANFIELD, M. D. S. Profissão Docente - Estudo da Trajetória de Professores Universitários de Educação Física. Kinesis, Santa Maria, v. 24, p. 49–72, 2001. HUNGER, D. A formação profissional em educação física numa retrospectiva histórica. In: Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP, 2004, Campinas. Anais...Campinas: Unicamp, 2004, p.1-9. HUNGER, D. ROSSI, F. SOUZA NETO, S. A teoría do Norbert Elias. Uma análise do ser professor. In: Educação e pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 697-710, 2011. JIMENEZ, J. La práctica reflexiva escritural: una experiencia con docentes de la Facultad de Educación Física. In: CABRA, et al. Formas en Educación 10. Facultad de Educación PUJ. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011. p. 55-83. __________. La investigación e innovación en las propuestas curriculares. In: CABRA, et al. La investigación y la innovación en la formación inicial de docentes. Aportes para la reflexión y el debate. Bogotá. Ministerio de Educación nacional-PUJ, 2013. p. 101-164.
119
JIMENEZ, J. ROSSI, F. GAITAN, C. La práctica reflexiva como posibilidad de construcción de saberes. Aportes a la formación docente en la Educación Física. Revista Movimento. Porto Alegre, v. 23, n. 2, p. 587-600, abr./jun. 2017. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/viewFile/69442/42072. KAPLAN, C. V. Las preguntas por la subjetividad social: Aportes desde Norbert Elías. In: Simpósio Internacional Proceso Civilizador, 11. Anais... Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, p. 271-281. 2008. KRUG, H.; KRUG, R.; CONCEIÇÃO, V. Dar voz aos professores de educação física: as histórias de vida sobre os momentos significativos em relação às fases da carreira docente. Interfaces da Educ., Paranaíba, v.4, n.10, p.109-133, 2013. LA ROSA, M. J. y MEJÍA, G. R. Historia concisa de Colombia (1810-2013). Una guía para lectores desprevenidos. Bogotá: Ministerio de Cultura, Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. 2013. LÜDORF, S. Panorama da pesquisa em educação física da década de 90: análise dos resumos de dissertações e teses 1. R. da Educação Física/UEM, Maringá, v. 13, n. 2, p. 19–25, 2002. MANOEL, E. D. J.; CARVALHO, Y. M. De. Pós-graduação na educação física Brasileira: a atração (fatal) para a biodinâmica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 389–406, 2011. MASSUCATO, J.; BARBANTI, V. Histórico da escola de educação física e esporte da universidade de São Paulo. Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, v. 13, p. 7–12, 1999. MEIHY, J. BOM MEIHY, F. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto. 2010. NÓVOA, A. Os professores e o “novo” espaço público da educação. In: TARDIF, M.; LESSARD, C. Ofício de professor: história, perspectivas e desafios internacionais. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 217-231. NUNES, R. M.; GODOI, M. R. História de vida, formação e desenvolvimento profissional de um professor de Educação Física que atua nas Redes Públicas de Educação. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 156–172, 2013. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/4490/4124>. OLIVEIRA, M. A. Taborda de. Políticas públicas para a educação física escolar no Brasil durante a ditadura militar: uma só representação? Perspectiva, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 151-178, jan. 2003. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10212/9438>. Acesso
120
em: 07 ago. 2018. doi:https://doi.org/10.5007/%x. _______. Educação física escolar e ditadura militar no Brasil (1968-1994): entre a adesão e a resistência. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v.25, n.2, p. 9-20, jan. 2004. PAIVA, F. S. L. Notas para pensar a EF a partir do conceito de campo. Perspectiva, Florianópolis, v.22, p. 51-82, jul./dez. 2004. n. especial. PERALTA, H. Proyecto esperanza. Hacia una auténtica Educación Física para todos. Bogotá, D.E. 1991. _______. “HECPER”.Innovaciones metodológicas para la enseñanza de la Educación Física. Bogotá: Arte publicaciones. 1994. PINILLOS, J. La educación física y el deporte en Colombia. Una oposición de discursos en el periodo comprendido entre 1968 y 1991. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) Facultad De Educación, Departamento De Educación Avanzada, Universidad De Antioquia, Medellín, 2003. PIÑEROS, María del Rosario. La Iglesia y la Violencia Bipartidista en Colombia (1946-1953) Análisis historiográfico. AHIg, 16, 309-334. 2007. QUADROS, H. AFONSO, M. A. RIBEIRO, J. O Cenário da Pós-Graduação em Educação Física: Contextos e possibilidades na região sul do Brasil. Rev Bras Ativ Fis e Saúde, v. 18, n. 5, p. 576-584, 2013. Disponível em: file:///C:/Users/Acer/Downloads/2920-7053-1-PB.pdf QUITIAN, D. Deporte y modernidad: caso Colombia. Del deporte en sociedad a la deportivización de la sociedad. Revista Colombiana de Sociología, Bogotá, v. 36, n. 1, p. 19-42, 2013. ROJAS, Daniel. La actitud de la iglesia católica colombiana durante las hegemonías liberal y conservadora de 1930 a 1953. Cuestiones Teológicas, Medellín, v 44, n. 101, p. 67-94. 2017. SANTOS, N. Z.; BRACHT, V.; ALMEIDA, F. Q. Vida De Professores De Educação Física: O Pessoal E O Profissional No Exercício Da Docência. Movimento, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 141–165, 2009. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/3067>. SERGIO, M. Educação Física ou Ciência da Motricidade Humana. Papirus: Campinas, SP. 1989. SOUZA NETO, S., ALEGRE, A. N., HUNGER, D., PEREIRA, J. M. A formação do profissional de educação física no Brasil: uma história sob a perspectiva da legislação federal no século XX. RevBrasCienc Esporte. 2004, v. 25, n.2, p. 113-28, 2004. TOJAL, J. Epistemologia da Educação Física. Lisboa: Instituto Piaget. 2010.