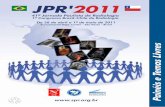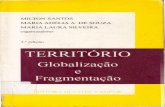FEIRAS LIVRES EM DÍLI, TIMOR-LESTE: UM TERRITÓRIO MARGINALIZADO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of FEIRAS LIVRES EM DÍLI, TIMOR-LESTE: UM TERRITÓRIO MARGINALIZADO
FEIRAS LIVRES EM DÍLI, TIMOR-LESTE:
UM TERRITÓRIO MARGINALIZADO
Gabino Ribeiro Moraes
Doutorando em Geografia pela UNESP / Rio Claro - SP
E-mail: [email protected]
Introdução
A ilha de Timor está localizada no que é conhecido como arquipélago das
Pequenas Sonda, conjunto de ilhas mais a leste de Sumatra e Java, as Grandes Sonda, na
região outrora denominada como Insulíndia, lugar de rotas de navegação comercial
datadas desde a antiguidade. Os portugueses chegaram à região em meados de 1500 e
tomaram Malaca, na atual Malásia, em 1511, entrando no circuito comercial da área que
girava em torno de especiarias, e que, à época, era dominado por navegadores chineses,
javaneses, malaios, macaçares e guzerates.
O período inicial da presença portuguesa em Timor pode ser dividido em duas
fases: a primeira, entre os séculos, XVI e XVII, momento em que esta presença é mais
difusa e está centrada no comércio e nas atividades missionárias. A segunda fase tem
início em 1702, com o estabelecimento do primeiro governador de Timor, Antônio
Coelho Guerreiro, em Lifau, no atual enclave de Oé-Cussi, que permaneceria como sede
do governo até 1769, quando houve a transferência para Díli.
É importante destacar que em Timor havia uma organização territorial que,
provavelmente, remete a um momento anterior à chegada dos europeus no século XVI,
dividindo a ilha em dois conjuntos de reinos: a Província de Servião, a oeste, e a
Província dos Belos, a leste. No entanto, a presença de holandeses e portugueses veio
reforçar esta divisão regional com o estabelecimento de termos de vassalagem dos reis
locais de ambas as partes da ilha com os representantes dos reis europeus, visando à
garantia de acordos comerciais e a proteção militar.
A divisão territorial da ilha entre as duas potências coloniais européias, porém,
só veio a ser estabelecida definitivamente em 1917. Importa destacar o Tratado de 1851,
ratificado em 1859, no qual Portugal abre mão das ilhas de Solor, Flores, Adonara,
Alor, Pantor e Lomblem, em troca de um valor em dinheiro; o enclave holandês de
Maubara em Liquiçá e o reconhecimento do domínio português, no enclave de Oé-
Cussi.
Em 7 de dezembro de 1975 a Indonésia invadiu Timor-Leste, e em 16 de julho
de 1976 o país foi transformado na 27ª província da República Indonésia, recebendo o
nome de Timor Timur, com um governador designado por Jacarta. A população, porém,
iria resistir durante 24 anos à ocupação, organizando uma frente armada nas montanhas,
uma frente clandestina de apoio à guerrilha e uma frente diplomática no âmbito
internacional, para lutar pelo direito à autodeterminação.
Em 1999, devido a diversos fatores conjunturais, foi possível organizar a
histórica votação de 30 de agosto, na qual os timorenses puderam optar pela
autodeterminação. O que se seguiu ao referendo, porém, foi uma retirada violenta das
tropas indonésias, que arrasou o território com a destruição de grande parte da
infraestrutura material – estradas, prédios públicos, casas – e, novamente, o
deslocamento de milhares de pessoas, de timorenses para as montanhas, de indonésios
para o Timor ocidental e, mais tarde, de timorenses que foram praticamente
escravizados em outras ilhas indonésias.
Em 20 de maio de 2002 ocorreu a restauração da independência do território
timorense e, de acordo com sua constituição, determinou-se que:
O território da República Democrática de Timor-Leste compreende a superfície terrestre, a zona marítima e o espaço aéreo delimitados pelas fronteiras nacionais, que historicamente integram a parte oriental da ilha de Timor, o enclave de Oe-Cusse Ambeno, a ilha de Ataúro e o ilhéu de Jaco. (TIMOR-LESTE, 2002)
A partir deste momento os timorenses puderam, pela primeira vez após um
longo período de dominação estrangeira, pensar-se enquanto nação, com um território
próprio, e enquanto povo, com unidade comum, apesar da diversidade linguística e
cultural interna, pois em Timor, são faladas 16 línguas nativas, afora as duas línguas
oficiais, o português e o tétum, e as duas línguas de trabalho, o inglês e o indonésio.
Com Timor independente, novas questões territoriais se apresentaram, pois foi
necessária uma imensa força-tarefa para realocar os deslocados, e que só agora chega a
bom termo. Do mesmo modo, ainda faz-se necessária uma discussão sobre o estatuto
jurídico das terras e da propriedade territorial, enquanto surgem questões relacionadas à
dinâmica entre campo, representado pelo interior de Timor, e urbano, representada por
Díli, que, atualmente, recebe um afluxo cada vez maior de migrantes das áreas rurais.
Este trabalho se insere nesta problemática ao tentar avaliar como se configuram
as relações de trabalho em Díli, principalmente no caso dos trabalhadores de rua, em
particular dos feirantes, que funcionam como um elo de relação entre o campo e a
cidade, locomovendo-se entre estas duas paisagens que compõe o cenário atual de
Timor-Leste.
Segundo Raffestin, os atores sociais são determinantes para a invenção de novas
espacialidades:
O território não poderia ser nada mais que o produto dos atores sociais. São eles que produzem o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um “processo” do território, quando se manifestam todas as espécies de relações de poder. (RAFFESTIN, 1993, p. 7-8)
Em Timor-Leste existiram atores díspares interagindo no espaço e no tempo com
os timorenses na formação do seu território. Em primeiro lugar, os portugueses com seu
projeto colonial, depois os indonésios com a sua ocupação militar, e mais recentemente,
os internacionais, de inúmeras as partes do mundo, “justamente por ser relacional, o
território é também movimento, fluidez, interconexão – em síntese e num sentido mais
amplo, temporalidade” (HAESBERT, 2005, p. 101).
Ao longo da história de Timor os inúmeros atores, de forma direta ou indireta
contribuem para o trabalho em Díli. Como exemplo, o trabalho nas feiras livres desta
cidade que na atualidade, com a consolidação do território, está delimitada a partir de
territorialidades e desterritorialidades. Processos devidos não somente aos fluxos
populacionais, mas também ao rápido processo de urbanização e modernização desta
cidade. Neste ambiente de troca reside1 e trabalha uma grande parcela da classe
trabalhadora de baixa renda na capital timorense.
De acordo com senso populacional de 2010, Timor-Leste possui 1 070 000
habitantes. O país está dividido em quatro grandes regiões e, ainda, uma região especial
autônoma, o enclave do Oé-Cusse. Díli está na terceira região que também inclui o
distrito de Aileu, Ermera e a Ilha de Ataúro. Abaixo desta grande estrutura
macrorregional, o território de Timor-Leste é repartido em distritos, subdistritos, sucos e
aldeias. O distrito de Díli possui seis subdistritos, 31 sucos e um total de 241 aldeias.
Mapa de Timor-Leste, enclave do Oé-Cusse e as ilhas de Ataúro e Jaco.
O objetivo mais específico deste trabalho é analisar os espaços de sociabilidade
engendrados pelas transformações recentes das feiras livres timorenses, espaços de
convívio e comercialização da produção do agricultor de Timor. Lugares que
conformam ambiências específicas, peculiares, que ainda ajudam a alimentar o uso
coletivo dos espaços públicos.
O texto se divide em três segmentos. No primeiro aponto algumas características
do trabalho tradicional em Timor-Leste com destaque para a relação interpessoal do
1 Embora os indivíduos que trabalham nas feiras de Díli geralmente sejam oriundos
das montanhas, lugar onde mantém suas respectivas hortas e também residência, sendo necessário descerem para cidade para comercializarem sua produção, moram em uma situação improvisada. Nos termos de Simião em um país marcado por um registro rural, no qual 70% da população vive em pequenos vilarejos organizados em torno de casas de chefes, Díli representa praticamente o único espaço propriamente urbano. (SIMIÃO, 2006, p.166)
casamento em Timor-Leste, o barlaki. No segundo, utilizo o quadro teórico do espaço
dividido em circuitos inferior e superior de Milton Santos com análise para a divisão do
trabalho em Timor na contemporaneidade. E finalmente o caso específico da cidade de
Díli e do processo de territorialização e desterritorialização das feiras e, ainda, das
diferenças do trabalho formal e informal encontrados nesta cidade.
As relações de trabalho em Timor-Leste
O trabalho pode ser compreendido como uma categoria geográfica, pois o
espaço é construído por intermédio do trabalho humano. Mas também pode ser um
objeto interdisciplinar entre as ciências humana e sociais. Sendo assim, o trabalho em
sua totalidade social e ontologicamente relacionado ao processo de humanização do
homem (THOMAZ JUNIOR, 2002). Esta demarcação teórico-metodológica permite,
por um lado, reconhecer o metabolismo do capital e seu sistema de regulação social, que
subordina o trabalho e os trabalhadores ao seu processo de reprodução.
Para compreender a geografia do trabalho, no caso de Timor-Leste, uma vez
operacionalizada a categoria de base, território, é necessário tentar compreender alguns
aspectos históricos que demarcam a materialidade e a subjetividade deste trabalho no
país, configuradas a partir das formas e faces do espaço, principalmente na relação
campo-cidade.
Em Timor-Leste o trabalho possui relações metabólicas pertencentes à categoria
de país pobre e não-industrializado, ou seja, a estrutura do trabalho é frágil. A atividade
de produção em vista da subsistência quase nunca é exercida a título individual ou por
motivações puramente individuais. Os frutos do trabalho ou o excedente que se pode
obter por meio de um esforço suplementar de ambos os gêneros, não são atribuídos ao
indivíduo que se esforçou, mas aos parentes contraídos por alianças.
As atividades tradicionais em Timor tinham uma divisão nítida de gêneros. Para
o sexo masculino teríamos a guerra, a caça, a pesca no mar, a recolha de produtos
encontrados nas florestas (frutos silvestres, mel e cera), a derrubada do mato e a
queimada, a remoção e o transporte de materiais pesados para a construção de casas, de
muros e de fortificações. Na agricultura teríamos o cultivo do arroz e a condução de
búfalos2.
Já o trabalho feminino seria a recolha de tubérculos e de outros gêneros
alimentícios espontâneos obtidos de arbustos, cozinhar e afazeres domésticos – entre as
quais constavam a tecelagem, a olaria e a preparação de sal. Todos os trabalhos
agrícolas de preparação de hortas, com exceção da derrubada e da queimada, eram
exclusivamente femininos. Os timorenses ainda consideram a horticultura como tarefa
feminina. Além das tarefas que lhes competiam, davam apoio aos homens, ajudando na
confecção e distribuição de alimentos, cantando, tocando e tomando parte ativa nos
trabalhos mistos como a debulha do arroz3.
Em relação às alianças entre grupos, estas eram feitas com o contrato
matrimonial denominado barlaki. No passado, os noivos eram designados pelos pais
ainda no ventre materno. Tradicionalmente, a escolha do parceiro não era uma decisão
de caráter individual, mas familiar, comunitária, e realizada segundo a tradição e a
classe social dos indivíduos. Embora hoje os jovens possam escolher seus parceiros, a
negociação do barlaki é uma parte fundamental para a realização do casamento. O
casamento em Timor é imprescindível para o entendimento do vínculo dos grupos de
casas específicas e a consolidação de territorialidades, principalmente nos distritos do
interior. Segundo Souza:
Em Timor, a organização social tradicional assentava na linhagem. Seguindo normas unilineares, a organização parental era fortemente patrilinear,
2 O búfalo é símbolo de riqueza e de prestígio entre os timorenses, que o utilizam nos trabalhos
preparatórios das várzeas do arroz, nos pagamentos dos dotes matrimoniais (barlake) e nas cerimônias de carácter profano e sagrado: festejos e ritos funerários. Afora estas ocasiões de excepção, os timorenses mantêm intactas as manadas – os abates anuais representam cerca de 2 por cento do total da espécie – e se não tiram delas todo o proveito possível também não cuidam do seu tratamento. (LOUREIRO, 1995, p.24) 3 Nos trabalhos mistos, havia outrora certas normas mágico-legais que, em última análise, tinham por fim
evitar abusos e promiscuidade. Por exemplo: o caso da debulha do arroz, durante a qual não se podiam ter relações sexuais; aos que transgrediam o tabu aplicavam-se castigos físicos e morais tais como bater, retirar as roupas, humilhar, etc [...]; a sanção mágica consistia em perderem a fecundidade que passaria para o arroz. Note-se que em todo o Oriente como até na Europa actualmente o arroz está associado ao conceito da fecundidade, abundância e fertilidade – motivo porque em certos ritos é aspergido sobre os noivos, ou dado aos mortos para terem abundância na outra vida, etc [...] (informação acerca do tabu
sexual obtida nas planícies de Lóis, Luca, Laga e em Korubidai (Quelicai)). (MENEZES, 2006, p.52)
especializara o casamento exogâmico, sendo proibido geralmente o matrimónio entre parentes da linha recta por consanguinidade e entre irmãos e tios e sobrinhos. As noivas eram escolhidas geralmente fora do suco, criando-se relações entre duas aldeias, a do marido (Fetosá) e a da mulher (Umane). Os homens da aldeia fetosá podiam continuar a casar com mulheres da aldeia umane, mas o contrário era interdito. (SOUZA, 1998, p. 11)
A instituição do barlaki com as suas imposições de alianças e negociações
sociais mostra-se fundamental na estruturação das linhagens e do território de Timor. A
dominação patrimonial promove alianças entre comunidades territoriais e aldeias
independentes através de linhas de água, montanhas, zonas costeiras, áreas de
abundância de recursos agrícolas, eixos de comunicação, estruturando a paisagem
agrária timorense. Linhagem e apropriação do espaço, parentesco e territorialidade são
fatores fundamentais na organização social tradicional dos povos de Timor-Leste.
É na relação interpessoal do casamento em Timor que os lugares vão sendo
construídos. A espacialização traçada pelos sujeitos é geométrica, homogênea e
equivalente, embora de acordo com a hereditariedade e a classe social. Tal vínculo irá
constituir o lugar e, sucessivamente, o produzir e o reproduzir no dia-a-dia, nas relações
de trabalho, de afetividade, de rejeição, de circulação mesmo na produção de ideias.
Em sociedades agrárias a necessidade de uma divisão do trabalho é eminente e
conformada ao território, porém em tempos passados, no período onde a relação de
Portugal com Timor transita de uma relação de protetorado para uma relação colonial,
há uma mudança no trabalho em Timor, com a implantação da monocultura do café e a
mudança do modelo de gestão colonial.
Mas os laços familiares estão ainda bem presentes em Timor nas ligações entre
unidades regionais, através de redes familiares extensas que conectam regiões distantes
e fisicamente isoladas. Não é pelo trabalho que se define o estatuto social ou que se
trava e conserva o laço social. Estamos diante de sociedades estruturadas por lógicas
diferentes que possuem uma relação particular com a exterioridade (a tradição, a
natureza e os deuses) que determina as regras sociais e as torna suficientemente ‘fortes’
para articularem o conjunto da sociedade, não precisando necessariamente de outros
tipos de regulação.
A cidade de Díli, as feiras livres e suas territorialidades
A cidade de Díli originou-se, entre outros fatores, pelas condições adequadas de
seu porto, localizado próximo a uma baía profunda e possuindo um acesso estreito
devido aos bancos de coral. A cidade está situada na costa norte de Timor-Leste, e
estende-se ao longo das planícies até as montanhas que circundam a cidade e
atravessam em comprimento a ilha. Díli reproduz o modelo de muitas outras cidades
geradas pela colonização portuguesa, que tiveram nos respectivos portos a sua razão de
ser numa época em que as comunicações marítimas tinham uma importância exclusiva.
Para Timor-Leste, atualmente, Díli configura-se como o único elo de
comunicação marítima com o exterior – vital sob todos os pontos de vista, sendo Timor-
Leste uma ilha que depende do exterior para o abastecimento de bens de consumo
corrente. Um bom exemplo é o arroz, principal elemento da dieta dos timorenses, que é
comprado de outros países do sudeste asiático como Vietnã e Tailândia.
Díli é também a sede do governo e por esta razão nela localizam-se diversas
repartições públicas como o Palácio do Governo e os Ministérios, o Parlamento, o
Comando Militar e seus principais órgãos de apoio logístico, além de ser a sede da
Diocese Católica e dos principais estabelecimentos de ensino (como, por exemplo, a
Universidade Nacional Timor Lorosa’e com as suas diversas unidades acadêmicas e o
Instituto Nacional de Formação de Professores). Díli possui, assim, uma importância
funcional, resultante da sua exclusividade como centro urbano e pelo desnível
socioeconômico que a separa do resto do território.
O trabalho na cidade de Díli foge da lógica do trabalho agrícola, típico de um
lugar ainda não-industrializado. Uma vez que é em Díli que ocorre o planejamento do
território em escala nacional, essa centralização iniciada com a colonização portuguesa
perpassa o período de dominação indonésio e continua nos dias atuais. A planificação
de Timor ocorre a partir da sua capital em função dos momentos históricos, das ideias e
dos valores de quem governa. Além disso, o planejamento depende, para a sua
concretização, de meios financeiros, recursos materiais e humanos, o que faz com que,
em Díli, haja um setor formal de trabalho baseado nesta centralização.
Mas o imperativo do trabalho em Díli é, sem dúvida, o do setor terciário, uma
vez que existem poucas manufaturas (apenas a do processamento do café e algumas
carpintarias). Uma parte considerável dos trabalhos em Díli se concentra no comércio e
na prestação de serviços.
Em Timor-Leste, particularmente em Díli, essa subordinação ocorre de forma
diferente, uma vez que não existe industrialização, tornando o país totalmente
dependente, em mercadorias maquino faturadas, de outros países industrializados da
região (Indonésia, demais países do sudeste asiático, Austrália, União Europeia, Estados
Unidos, Brasil e etc.). Entretanto o espaço vivido é super controlado pela presença da
ONU e pelo Terceiro Setor4 que engrenam a totalidade espacial da cidade, com a sua
onipresença, criando uma dinâmica econômica na cidade.
O comércio em Díli é próspero, mesmo com a dolarização da economia e a
cidade sendo uma das mais dispendiosas do Sudeste Asiático. Um bom exemplo de
ditoso desenvolvimento é o Colmera, onde se concentram as grandes lojas de
departamento da cidade e onde é possível encontrar os mais diferentes produtos
industrializados. O local possui uma movimentação de consumidores timorenses e
internacionais. Mas os proprietários das lojas do Colmera são na sua maioria oriundos
de outros países da Ásia principalmente chineses e indonésios, embora seus
trabalhadores sejam timorenses.
Outro bom exemplo de progresso nos serviços de Díli está na alimentação. É
possível encontrar restaurantes por toda a cidade com gastronomia: chinesa, portuguesa,
tailandesa, australiana, italiana, japonesa, nepalesa, indiana e até brasileira. Mas a
maioria dos restaurantes são frequentados por internacionais, pois se paga caro por um
4 A denominação “terceiro setor” se explicaria, para diferenciá-lo do Estado (Primeiro Setor) e do setor
privado (Segundo Setor). Ambos não estariam conseguindo responder às demandas sociais: o primeiro, pela ineficiência; o segundo, porque faz parte da sua natureza visar o lucro. Essa lacuna seria assim ocupada por um ‘Terceiro Setor’( Organizações Não-Governamentais - ONGs, Fundações, Associações e etc.) supostamente acima da sagacidade do setor privado e da incompetência e ineficiência do Estado.
prato de comida na grande maioria dos restaurantes de malae5. Todavia é possível
comer por um preço acessível em muitos outros estabelecimentos timorenses com
culinária indonésia.
O trabalho informal em Díli: dependência do formal
É compreensível o espraiamento do trabalho informal, observando a formação
histórica e social e a independência recente de Timor, em 2002. Em linhas gerais, Díli e
Timor-Leste estão na dependência do exterior para consumo de inúmeros bens. O
surgimento do setor informal como ‘guarida’ dos trabalhadores com pouca, ou
nenhuma, qualificação para o trabalho urbano torna-se possível pela não-possibilidade,
ou não-viabilidade, econômica do Estado e das empresas exercerem certas funções, o
que permite o surgimento de interstícios entre as atividades econômicas mais
importantes.
No sentido de superar essas análises, Milton Santos (1977), com base em ampla
investigação internacional, sugeriu a existência de dois circuitos na economia urbana,
um superior, outro inferior. Simplificadamente em Díli, podemos apresentar o circuito
superior como constituído pelos bancos6, setor terciário, e o Terceiro Setor presentes no
país.
A cidade se estrutura em dois circuitos a partir dos impactos do processo de
modernização que bipolarizam o espaço. Para Santos (1977, p.25), cada período
histórico se caracteriza por uma modernização específica. Contando com o apoio das
elites nacionais, o circuito superior se implanta rapidamente, desfrutando ainda do papel
simbólico que lhe é atribuído pelo discurso dominante: o de elemento novo que traz a
modernidade e representa o tão esperado progresso.
O circuito inferior, por sua vez, constitui um universo de atividades resultantes
da iniciativa das camadas sociais desfavorecidas para garantir sua sobrevivência pelas
5 O nome correntemente atribuído aos estrangeiros.
6 O único banco timorense é o banco central, cuja função não é propriamente bancária. Outros bancos em Díli são Mandiri (Indonésia), Caixa de Depósito (Portugal) e ANZ (Austrália).
vias alternativas, gerando, assim, empregos (ou subempregos) e trazendo para si uma
razoável gama de bens e serviços a custos mais acessíveis.
Mas o circuito inferior, como bem frisou Milton Santos, não é a contrapartida
das estruturas dominantes de produção, mas uma faceta subjugada desta, daí a
denominação inferior, operando em condições de dependência e atrelada ao
desempenho do circuito superior.
Assim fica fácil deduzir que não existiria desenvolvimento no circuito superior
em Díli sem a presença de tantos internacionais na cidade. O circuito inferior é
dependente da existência do circuito superior, pois são o terciário e o Terceiro Setor
materializados que permitem aos trabalhadores timorenses ter renda e adquirir os
produtos vendidos pelo circuito inferior.
Basicamente, o circuito inferior emerge, entre outros fatores, da incapacidade do
modelo capitalista timorense em oferecer o pleno emprego, pois isso entraria em
contradição com os princípios da economia de mercado. Os desempregados recorrem,
então, ao trabalho informal e improvisado, devido ao grau primário de organização e o
baixo nível tecnológico das atividades deste setor.
No circuito inferior, em Díli existe uma gama variada de atividades: feiras livres,
vendedores ambulantes (que circulam pela cidade com tais7 e artesanatos de madeira e
ferro, hortaliças e frutas, peixes frescos e secos, mel, produtos derivados do plástico) e
vendedores fixos (que vendem bebidas, doces, cigarros, churrasquinho de carne, milho
assado, peixe assado e etc.). E ainda, espalhados pelos principais cruzamentos da cidade
e em frente aos estabelecimentos de comércio, os vendedores de pulsa (recarga em
cartão para celular).
Territorialidades e desterritorialidades nas feiras livres em Díli.
7 Os tais são têxteis produzidos artesanalmente e que têm um papel importante nos rituais das
comunidades. Por serem criados por grupos de etnias diferentes, podem distinguir-se uns dos outros, quer em estilo e nas técnicas utilizadas, quer no seu significado cultural. Em Díli existe um mercado especializado na venda de tais procedente dos distritos produtores.
A história da formação das primeiras feiras livres remonta ao desenvolvimento
da história humana, relacionada com os primeiros excedentes de produção que eram
comercializados e permutados por diferentes grupos, fazendo-se necessário, assim, a
existência de lugares de trocas. É daí que surgem as ‘feiras’, de suma importância para
conseguir determinadas mercadorias. Sendo uma atividade econômica por excelência, a
feira consolida-se desde a formação das primeiras cidades, onde eram o local do
comércio.
Ao chegar a Díli, em julho de 2007, o primeiro impacto é o calor monçônico e as
cores verde e vermelho das montanhas que circundam a planície do sítio urbano. Para
desvendar esta cidade o transporte8 mais adequado para estrangeiros é o táxi. O percurso
passa pela estrada do Comoro e, atravessando uma ponte sobre a ribeira de Comoro,
logo se depara com o matiz das feiras de Díli, onde são comercializados produtos
hortifrutigranjeiros orgânicos. E, também, carnes bovina e bufalina, frango, proteína de
soja processada (tofu), produtos plásticos, artefatos para casa em geral, alimentos
industrializados, condimentos e roupas novas e usadas9. Como observou Mascarenhas:
Feiras não são apenas formas e lugares de anônima aglomeração periódica. São espaços de sociabilidade específica, gestados no contexto da modernidade, contexto crucial em nossa análise, pois ali as tradicionais estruturas da vida cotidiana foram abaladas e novos espaços de sociabilidade são engendrados. A modernidade como atmosfera portadora não apenas de todo um conjunto de novas expectativas e práticas sociais, mas também de decisivas transformações na espacialidade urbana, destruindo velhas urbanidades e as substituindo por novos formatos. (LEFEBVRE,1991 apud MASCARENHAS et. al., 2005, p. 78).
Mais do que em qualquer outro lugar, as tradicionais estruturas de vida são
visíveis nas feiras livres de Díli. Na maioria dos lugares vamos encontrar mulheres
trabalhando nas feiras. Contudo, nestes locais, apresenta-se uma socialização mais
ampla com a presença de crianças e inúmeros agregados da família. Os vendedores
8 O transporte público em Díli é feito com um pequeno ônibus chamado de Microlet utilizado
predominantemente por timorenses. Os estrangeiros (malae) utilizam os táxis que circulam por toda cidade ou transporte particular. 9 Principalmente próximo das feiras de Díli é possível encontrar imensas ‘araras’ com roupas, além de
bolsas, cintos e calçados para vender (novos ou usados). A provável fonte destes bens são as doações de inúmeros países.
dormem no próprio ambiente de trabalho, já que muitos trabalhadores não residem em
Díli e sim nas montanhas, muitas vezes em condições precárias, pois a luz é proveniente
de ligações ilegais e a água é oriunda, em geral, de ribeiras contaminadas.
É possível encontrar em Díli pequenos quiosques espalhados por toda cidade que
vendem diferentes produtos e, até o final de 2008, era possível comprar produtos
agrícolas em quatro grandes feiras livres presentes em quatro sucos distintos. Estes
locais se constituem como nós de uma articulação social e comercial que podem ser
compreendidos como territórios, que devem ser estudados e compreendidos.
As feiras livres de Díli são representadas por múltiplas territorialidades, com
destaque para o grande mercado de Taibesse, no suco de Lahane, ao sul da cidade, rumo
às montanhas. Mas, concordando com Heidrich (2007), os territórios se desmancham,
situação que ocorreu com algumas das grandes feiras livres de Díli: a já citada feira que
se estendia na estrada do Comoro, a feira conhecida como Mercado Lama, na rotatória
do suco de Calico, outra, a leste da cidade, no suco de Pantai Kelapa e, finalmente, a
feira de Bidau-Lecidere, próxima ao hospital Geral Guido Valadares.
Antiga feira livre em Pantai Kelapa, Díli. Fonte: Gabino Moraes/2008.
As feiras de Comoro, o Mercado Lama e a feira de Pantai Kelapa sofreram um
processo de desterritorialização. Eram grandes feiras que foram deslocadas para um
único local em Comoro - o antigo Bazar Comoro, local de conflito em 2006 e que, por
isso, teve os trabalhadores deslocados. Deste modo, foi constituída uma nova
territorialidade para venda de grande variedade de produtos locais e industrializados,
porém, com as mesmas carências de infraestrutura das antigas feiras existentes: falta de
água e luz e lama no período de chuvas.
Contudo, a feira de Bidau-Lecidere, na beira da praia, sofreu um processo
provisório de desterritorialização, pois as antigas bancas de madeira foram substituídas
por construções de alvenaria, inclusive com banheiros coletivos para as trabalhadoras,
água potável para a manutenção dos vegetais vendidos, e luz à noite, substituindo o uso
de velas. A nova territorialidade, com mais estrutura para as feirantes, foi criada para
atender à grande parcela de internacionais que frequentam esta feira, já que a feira de
Bidau fica em frente a um grande supermercado da cidade, onde um grande número de
internacionais faz compras todos os dias.
Os microterritórios são comuns em Díli, pois existe um fosso separando os
internacionais dos timorenses. As espacialidades do cotidiano dos malae diferem da
prática social timorense: os trânsitos de ambos são distintos. Entretanto, pode coincidir
de frequentarem o mesmo território, porém cada grupo com sua própria territorialidade.
Considerações finais
A formação do território em Timor-Leste e suas representações sociais
conciliadas ao seu uso, ao longo do tempo, por distintos agentes circunscrevem-se como
elementos centrais na análise territorial timorense. O território, o trabalho e o poder são
uma tríade indissolúvel para compreender a apropriação e a produção do espaço
agrícola, dos distritos interioranos, ou, ainda, urbana, de Díli.
Contudo, a cidade de Díli está em processo de urbanização e modernização de
infraestruturas e restauração de prédios históricos, bem como a construção de
edificações que abrigarão setores públicos. Esse processo ganhou uma nova proporção
nos últimos semestres, período em que os lugares ilegais territorializados pelos
deslocados, cidadãos que perderam suas casas com os conflitos de 2006, deixaram de
estar à vista nos sucos de Díli.
O trabalho em Díli é uma categoria que merece destaque pelas suas
territorialidades. Destaque para o trabalho informal das feiras livres intrínsecos a
territorialidades e desterritorialidades lembradas ou não pelo Estado. Outro trabalho que
também chama atenção em Díli é o formal, que possui características de informalidade
empregando um ou no máximo dez trabalhadores com baixo investimento de capital.
Entretanto, um novo fenômeno demográfico ocorre: a cidade de Díli está ficando
hipertrofiada, recebe um grande afluxo de habitantes vindos dos 13 distritos rurais de
Timor-Leste. Esta rápida urbanização não resulta de um processo de acumulação de
riqueza. A falta da indústria compromete o setor terciário e o circuito superior, que não
são suficientemente desenvolvidos para oferecer empregos aos jovens e aos novos
migrantes. Dessa maneira, grande parte da população economicamente ativa se volta
para uma economia informal que proporciona baixos rendimentos, amenizando muito
pouco o significativo desemprego em Díli.
Outro fator importante a viabilizar atividades informais é o fato de que o circuito
superior tende a operar apenas onde existem condições mínimas de rentabilidade. Já o
circuito inferior admite operar com rentabilidade menor, atuando em áreas periféricas e
em situações adversas, motivo pelo qual temos as feiras livres timorenses.
Mas é imprescindível e necessária a organização das feiras livres, e estas
melhorias cabem ao Estado como aparelho capaz de controlar e coordenar o
funcionamento das feiras, que cada vez mais se consagra como um importante
fenômeno econômico no desenvolvimento de Díli.
O êxito na luta contra a pobreza e as desigualdades depende, em grande parte, de
um crescimento econômico sustentado que, embora condição necessária, não é
suficiente para atingir esse objetivo. A maneira como a riqueza é criada e distribuída
tem um papel fundamental na construção de sociedades mais prósperas e equitativas. O
trabalho como elo articulador entre crescimento e desenvolvimento humano é
fundamental para a construção da nação maubere.
Referências Bibliográficas
Constituição da República Democrática do Timor-Leste. <
http://www.constitution.org/cons/east_timor/constitution-port.htm> [05 de setembro de 2007] HAESBAERT, Rogério. Des-caminhos e perspectivas do território. In: RIBAS, Alexandre Domingues; SPÓSITO, Eliseu Savério; SAQUET, Marcos Aurélio. Território e desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão – PR: UNIOESTE, 2005. HEIDRICH, Álvaro L. Território, integração socioespacial, região, fragmentação e exclusão social. In: RIBAS, Alexandre Domingues; SPÓSITO, Eliseu Savério; SAQUET, Marcos Aurélio. (Org.). Território e desenvolvimento: diferentes
abordagens. Francisco Beltrão: UNIOESTE, 2005. LACOSTE, Yves. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer a Guerra. Lisboa: Iniciativas editoriais, 1977. LEFEBVRE, Henri. O direito à Cidade. São Paulo: Editora Moraes, 1991. LOUREIRO, Rui Manuel. Onde nasce o sândalo: Os portugueses em Timor nos séculos
XVI e XVII Grupo de Trabalho do Ministério da educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Lisboa, 1995. MASCARENHAS, G. Feiras livres: Informalidade e espaços de sociabilidade. Colóquio
Intenacional, Comércio, Culturas e Políticas Públicas em Tempos de Globalização. p. 1. 2005 MENDONÇA, Marcelo Rodrigues. A urdidura espacial do capital e do trabalho no
Cerrado do Sudeste Goiano. 2004. 458 f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente, 2004. MENEZES, Francisco Xavier de. Encontro de Culturas em Timor-Leste. Díli: Crocodilo Azul, 2006. RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília SANTOS, Milton. O Espaço Dividido: Os Dois Circuitos da Economia Urbana nos
Países Subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
SIMIÃO, Daniel Schroeter. Imagens da Dor: Sentidos de Gênero e Violência em
Negociações no Espaço Urbano de Díli, Timor-Leste. In: SEIXAS, Paulo Castro; ENGELENHOVEN, Aone. Diversidade na Construção da Nação e do Estado em
Timor-Leste. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2006. SOUSA, Ivo Carneiro. Encontros de Divulgação e Debate em Estudos Sociais. Porto: CEPESA, 1998. THOMAZ JR, Antonio. Desenho societal dos Sem Terra no Brasil, 500 anos depois. Revista Pegada, Presidente Prudente: CEGeT,v. 2, nº 2, 2001. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-70.htm>. [04 de fevereiro de 2009]. ______. Por uma Geografia do Trabalho. Scripta Nova, Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VI, nº 119 (5), 2002. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-5.htm>. [10 de dezembro de 2008]. ISSN: 1138-9788.