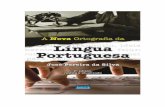Dialogismo e vozes: refrações em materiais didáticos de língua portuguesa
EXPRESSIVIDADE NA LÍNGUA PORTUGUESA - CORE
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of EXPRESSIVIDADE NA LÍNGUA PORTUGUESA - CORE
UNIVERSIDADE EEDERAL DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
z
EXPRESSIVIDADE NA LÍNGUA PORTUGUESA - O VALOR INTERJECTIVO
Dissertação submetida ã Universidade Fe- deral de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Letras, Ãrea de Lingüística Aplicada ao Ensino do Portu-
z gues.
TEREZA DE MEDEIROS LUCIANO
FLO P1 ANÓPOLI s `
1985' '
YI
Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do grau de0
MESTRE EM LETRAS
Àrea de Lingüística Aplicada ao Ensino de Português e aprovada
em sua forma final pelo Programa de Põs-Graduação em Letras.
BANCA EXAMINADORA:
Á;[email protected].Á^>le.›%4z7 Prof. Dr. Apóstolo T. Nicolaoõpulos Coordenador do Curso de PÕs-Gradua- ção em Letras - Lingüística.
Prof? Dr? Maria Marta Furlanetto Orientadora
Prof? Dr? Maria Marta Furlanetto
~ ,it Prof? Dr? ere z“nh\O ng Michels
Ns P Fe i / Marghotti
\ .
\
A VALMIR, alicerce de minhas realizaçoes... A ADRIANY, FABIANY e CRISTIANY, filhas amadas que souberam a-
ceitar as minhas ausencias...
à CAPES .
à Secretaria de Educaçao e Cul-
tura. A Maria Marta Furlanetto, orien- tadora incausãvel, pelo estímulo, pela dedicação e pela verdade‹pm possibilitou o ser deste traba lho.
Aos professores e colegas do
Curso...
--×
�
RESUMO
Neste trabalho, focalizamos alguns aspectos teóricos
que embasam a discussão do tema expressividade na língua por- ~ _ , ~ tuguesa, a partir da relaçao opositiva expressao versus expres
sividade estudada na estrutura da frase, e tendo em vista a
problemática do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, con-
substanciada na centralizaçao do que se pode denominar o códi-
go, a gramática, que não privilegia os aspectos semãnticos e
pragmãticos da linguagem.
Abordamos, então, conceitos teóricos e metodológicosper tinentes ao tema: discurso e texto, ideologia, normatividade ,
estilo/estilística, funçoes da linguagem; em seguida, a partir dos elementos tipicamente expressivos - interjeição e onoma-
- ._ topëia -, analisados em sua funçao e forma de ocorrencia no
texto, chegamos ao conceito de valor interjectivo, aqui deter-
minado em função da importância que assume na constituição do
discurso.
Propomos, finalmente, uma abordagem de textos que pri-
vilegie a linguagem em seu inteiro, cada texto devendo ser
visualizado como o recorte de uma produção contextualizada.
ABSTRACT
In this work we focused our attention on some ümnretical aspects that support the discussion of the theme: expressiveness
in the Portuguese Language, based on the opposing relation between expression and expressiveness studied in the structure
of the sentence, and considering the teaching/learning problem
of the Portuguese language, oonsubstantiated in the
centralization of what can be called the code, the grammar, which does not priviledge the semantic and pragmatic aspects of the language.
We then approached the theoretical and methodological concepts related to the theme: discourse and text, ideology, normativity, style/stylistics, functions of language; afterwards
departing from elements typically expressive - interjection and onomatopoeia - analysed in their function and occurrence in the text, we arrived at the concept of interjective value, here determined in relation to the importance it takes in the
formation of discourse. A
We finally suggested the study of texts in such a way as to priviledge language as a whole, visualizing each text as a
clipping of a contextualized production.
SUMÃRIO
Pág.
INHwmmÃ>.“. . . . . “.“.H.H. . . . . “.“.H.U.. . . . . . . . ... 1
CAPÍTULO I - A QUESTÃO DO ENSINO DO PORTUGUES . . . . . . . . . . .. 5
1. Preliminares .. . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . .. 5
2. Apresentaçao do Problema .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 8
3. Comentários . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ...... . . . . .... 15
CAPÍTULO II - POR UMA LINGUÍSTICA TEXTUAL - PRESSUPOSTOS TEÕRICOS . . . . . . . . ... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. 25
1. Discurso e Texto ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 25
2. A Dimensão Ideolõgica do Discurso - Normatividade ... 35
3. A Linguagem e seu Funcionamento ... . . . . . ... . . . . . . . . .. 48
3.1. Linguagem Humana e Linguagem Animal .... . . . . . . .. 49
3.2. Linguagem e Estilística . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... 54
3.3. As Funçoes da Linguagem . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 68 .Q
4. Normatividade na Gramatica .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 88
CAPÍTULO III - EXPRESSÃO E EXPRESSIVIDADE - O VALOR INTER-~ JECTIVO ........... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. 99
1. Expressao e Expressividade - GUILLAUME . . . . . . . . . . . . .. 99
2. A Interjeição e o Valor Interjectivo ..... « . . . . . . . . . .. 107
3. Interjeiçao e Onomatopëia - Tipologia de palavras-
frases ......... . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125
CAPÍTULO Iv - PEDAGOGIA DA LÍNGUA MATERNA . . . . . . . . . . . . . . .. 141
1. Discutindo a Pedagogia ....... . . . . . . . . ......... . . . . .. 141
2. Análise Ilustrativa ...... . . . . ... . . . . . . ........ . . . . .. 154
REFLEXÕES FINAIS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ..... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ....
ANEXOS An exo Ane xo
Ane xo
Ane xo
Ane xo
Ane xo
Ane xo
Ane xo
I onooooonooonono u ¡ o u o Q u n o o o n ¢ u o u o o o ooo Q o o u - u o o oo
II ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......... . . . . . . .......
III ...... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .....
IV..... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
V.... . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
VI ......... . . . . ...... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..
VII ... . . . . . . .......... . . . . . . ....................
VIII . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ..
177
189
192
196
203
204 209
221 229
INTRODUÇÃO _
Este trabalho, enquanto subprojeto do projeto coordena-
do pela Professora Maria Marta Furlanetto (Para uma macros-
sintaxe da língua portuguesa: algumas exploraçoes), e realiza-
do no âmbito do Departamento de Lingua e Literatura Vernãculas da UFSC, se enquadra no objetivo geral ali formulado, qual se-
ja, apresentar diretrizes para a exploração da língua portu-
guesa do ponto de vista de uma macrossintaxe, que, privilegian~
do, como ponto de partida, a organizaçao sintãtica da frase,
pretende articular os diversos elementos dos atos de fala,con- siderando a interação de vãrios dominios de representação sim-
bõlica.
Esta dissertação tem como ponto de apoio a relação Eg-~ pressao versus Expressividade, explorando-se, sempre que pos-
sível, a teoria sintãtica, as formulações semântica e pragmã-
tica com o objetivo primeiro de verificar o status da inter- ~ `
jeiçao no contexto lingüístico.
Levantamos como hipõteses:
¬_- w-- ~w Y~ - - ¿¬~.
i
2
19 - a interjeição encontra explicação no campo da enunciação, onde se consideram as condições ideolõgicas e pragmãticas de emprego da linguagem;
~ 29 - a interjeiçao tem seu modo de ser definida na qualidade de elemento que, no conjunto da linguagem, se situa nas
proximidades da total expressividade, como representante~ típica da funçao emotiva.
Tentamos mostrar, na estrutura frasal, a histõria e a ~ ~ funçao do que se convencionou chamar interjeiçao, delineando
possíveis conseqüências no que diz respeito ã sintaxe dos tex- tos escolares.
Apesar de as gramãticas normalmente fazerem referência ' a este tipo de "palavra", ela tem permanecido marginal para a
análise lingüística. Por alguns autores ë considerada como pa-~ lavra-frase; no entanto, esse tipo de condensaçao lingüística
merece um estudo mais pormenorizado. à
Neste trabalho, consideram-se certas atitudes dos gra-
mãticos e filõlogos com respeito ã interjeição, desde a sua ~ ~ nao inclusao nas partes do discurso, como a faz Gladstone Cha-
ves de MELO (l967:l77)l, até o reconhecimento de que pode ser
utilizada conscientemente para agir sobre o ouvinte, com vã-
rios tipos, que denotam uma continuidade de elementos monossí-
labos (ahh oht põÍ)a locuções (ora essa!,ora bolasL,muito bemi). Pelo fato de formar frase por si mesma, acreditamos ser de
grande interesse, hoje, a pesquisa da "histõria" e função da
_. ~ ~ l"As interjeiçoes ou sao gritos instintivos sem intençao de comunicação - e não pertencem ã linguagem propriamente di- ta -, ou são equivalentes de oração - e não podem ser consi- deradas "partes do discurso". (Cf. Gladstone Chaves de MELO, l967:l77).
3
~ - ~ categoria interjeiçao no contexto lingüístico em que estao in- seridos os textos escolares.
4 ' 4 ~ ~ O tema sera encarado na otica da comunicaçao-intençao ,
buscando-se, sempre que possível, no elemento subjetividade, nos principios de anãlise da enunciação, uma fonte de escla-
recimento desse fenômeno da linguagem que aparece, ainda hoje, como algo "residual".
O trabalhoziqueims propomos está composto de quatro par tes:
~ Na primeira parte, enfocamos a questao do ensino do por tuguês, auxiliada por uma pesquisa de campo, na tentativa .de
averiguar o porquê do desinteresse pelo estudo da língua mater na. Esse levantamento envolveu alunos deal? e 29 graus e pro-
fessores dos três graus de ensino da rede estadual e particu-
lar.
Pressupostos teõricos envolvendo discurso e texto, fun-
ções da linguagem e normatividade da gramática são os assuntos da segunda parte, uma vez que são prë-requisitos para a efeti-
~ va realizaçao de nossos objetivos.
O clímax desta dissertação acontece na terceira parte,
quando apresentamos a de Gustave GUILLAUME sobre Expres- O\ Ff' |.|. O 9-7
são e Expressividade, passando, em seguida, ã abordagem tradi-
cional de interjeição, concluindo com o esquema de Lucien TES-
NIERE, numa tipologia que privilegia funções, e ã relação en-
tre interjeição/onomatopëia.
Na quarta parte, tentamos uma análise-ilustrativa, en-
volvendo críticas e sugestões em relação ao material didático, principalmente os livros-textos que, apesar da variação da ca-
4
pa e dos autores, continuam apresentando uma metodologia sem inovações.
~ Em “reflexoes finais",apresentamos um comentário con-
clusivo da pesquisa, sugerindo que mais pesquisas neste campo aberto da enunciação devem acontecer, e que os professores te- nham disponibilidade em "inovar" sempre que possível. Os gra-
mãticos falham or não a resentarem a lín ua como onto de en- P P ~ zw _ _ contro de um feixe de relaçoes que sao caracteristicamente so
ciais, por não mostrarem a convivência entre meios de expres-
são e de expressividade. A escola falha por seguir - na falta
de melhor - uma pedagogia, segundo se tem denunciado, voltada para o cõdigo, privilegiando os conhecimentos metalingüísticos (gramática) e dirigindo seus mestres no sentido da rejeiçao me cânica do ERRO.
CAPITULO I
A QUESTÃO DO ENSINO DO PORTUGUES
1. Preliminares
Na maioria dos países do mundo, o ensino da lingua ma-
terna ocupa lugar de destaque, principalmente nos primeiros anos de escolarização. No entanto, ouvem-se, de todas as par-
tes, depoimentos que demonstram sêrias preocupações quanto ã
(D HK H. O H. (U)Ú Cia de tal ensino. Há declarações que lamentam a pobre- za e o descuido vernacular atestado no desconhecimento das re-
~ gras mais triviais e na penúria dos meios de expressao.
A imprensa escrita do País, nos últimos anos, tem di-
vulgado insistentemente noticias e comentários a respeito da
pobreza vernacular verificada nos estudantes das novas gera-
ções. Pondera-se que entre as crises do século estã a crise da~ língua (nao menos grave). O nível das provas vestibulares ëuma
das muitas conseqüências da crise da língua, pois os candida-
tos, na sua imensa maioria, desconhecem flexao verbal, pontua-
ção, concordância, ortografia das palavras, ...
6
O exposto acima não ë simples constatação da realidade com o fim ünico de censurar ou põr em relevo o mau uso que se
faz da língua. E hora de se tomar uma atitude mais positiva
e científica no sentido de investigar as causas e pesquisar as
deficiências verificadas nas ãreas de ensino, primeira medida
para a elaboraçao de programas mais eficientes no ensino da
lingua materna. É preciso que o professor faça o diagnõstico
dos "erros" mais comuns para que os mesmos sejam o ponto de
partida para um estudo mais cuidadoso. E tarefa do professor,
em qualquer comunidade, fazer uma descrição do comportamento lingüístico dos alunos.
A lingua escrita oferece um vasto campo de pesquisa so-
bre os aspectos diretamente ligados ao fenômeno da linguagem
humana. É das representaçoes do pensamento humano a que mais
se aproxima da língua falada. A maioria das línguas modernas
pode ser decomposta em unidades menores: locução, vocábulo,
sílaba, grafema, sucessivamente, o que de certa forma está re-
lacionado com uma das principais características da linguagem
humana: articulaçao.
As escritas alfabëticas devem sua origem ã fonologia,
pois procuravam aproximar-se da realidade da língua oral. Atu-
almente, sem perder de todo seu caráter fonolõgico, apresentam acentuadas características etimolõgicas, provocando um distan-
ciamento acentuado entre código falado e código escrito, re-
percutindo no processo da alfabetização.
Ora, o ensino da lingua materna não tem sido muito pro-
veitoso¡ condena-se o professor, critica-se a escola, o siste-
ma; porém, cai no esquecimento o fato de que o problema ë an-
tigo. As primeiras gramáticas portuguesas (século XVI) surgi-
7
ram para que a nossa lingua fosse sistematizada, e para que o
colonizador a passasse para o colonizado, coincidindo, este
fato, com a êpoca da grandeza de Portugal, cuja preocupaçãopri meira era a de glorificar a língua e transmiti-la aos povos
conquistados.
A nossa gramática ê o resultado desse ambiente e ê, em
essência, a mesma de sêculos passados. A propósito; na nota in trodutõria ao trabalho da professora Amini B. HAUY - "Da ne-
cessidade de uma gramática .. padrão da língua portuguesa" - o Professor Doutor Felipe JORGE comenta, com relaçao às gramá-
ticas normativas atuais, que,
aos defeitos (felizmente poucos) das gramáticas do passado vieram somar-se centenas de outros muito mais graves e difíceis de extirpar (1983: x). ›
Atualmente, ainda há grande preocupação com o bem falar e es-
crever e, por isso, o apego do professor em regras e modelos,
impondo-os aos alunos, que, sem saber o que fazer, passam a ‹
não gostar do estudo de sua língua materna e, conseqüentemente,
a desinteressar-se dela.
Dessa forma, surge a gramática da palavra¡com origenr
na gramática latinaJpara descrever o Português, gerando-se a
necessidade de prescrever regras de regência e concordância,
dando origen\ a uma gramática da frase.
Atualmente, sentimos problema em continuar ensinando a
gramática como está apresentada, pois o homem não fala/ouve e
ou lê/escreve por palavras e/ou frases isoladas, mas através
de textos, já que a característica de sua linguagem ë a tex-
tualidade. Aliás, não nos cabe ensinar gramática, mas lingua;
melhor ainda: mostrar-lhe as riquezas e a potencialidade ex-
Y
8
presshas que abre a seus usuários.
A gramática tradicional ë um manual de consultas e nao
um livro didático. Sabemos, também, que ë um livro que priva o
pensamento do aluno ao impor regras e normas. Por isso, não
devemos nos limitar a ela, mas endereçar nosso estudante a va-
riadas fontes bibliográficas, fazendo com que ele aprenda va-
lores originários das relações que ele mesmo estabelece em
língua. Sõ assim estaremos fazendo do nosso aluno um ser pen-
sante com possibilidades de ler e escrever melhor, ouvir e fa-
lar com maior eficiência.
_» 2. Apresentacao do Problema
~ Apreciaremos aqui, inicialmente, as consideraçoes de
HALLIDAY et alii contidas em "As ciências lingüísticas e o en-
sino de línguas" (1974), destacando o "estudo da língua mater- na", (pp.257 ss.). Afirmam, os autores, que o ensino da língua materna tem lugar obrigatório nos currículos escolares, esta-
~ `
belecido pela tradiçao. Seu valor, porém, raramente ë discu-
tido e, por isso mesmo, poucas vezes refonnulado, continuando
a ser ministrado por métodos obsoletos em busca de finalidades
ultrapassadas. No entanto, o ponto de partida para a análise
do papel do ensino da língua materna ë a compreensão da natu-
reza da linguagem e das características que definem uma lingua
em oposição a outra, pois a maioria dos cidadãos do país tem
uma língua materna única e quando aprendem outra ê com a in-
tençáo de usá-la como variante de atividades, não substituin-
do a língua nativa.
9
Os "erros" de linguagem que as crianças cometem vão se
corrigindo com o seu próprio desenvolvimento, não havendo ne-
cessidade de os professores se dedicarem a corrigir os rema-
nescentes nesta idade. Seu trabalho maior ë o ensino de leitu- ra e de escrita, sendo necessário que eles mesmos (cs profes-
~ .- sores) encarem a distinçao entre os tres tipos de ensino da
língua: o produtivo, o prescritivo e o descritivo.
O ensino produtivo ë 0 ensino de novas habilidades; na
língua materna se salientam as de leitura e de escrita. O pres critivo, que inclui o proscritivo, ë restrito ao ensino da
~ lingua materna; visa a substituir padroes de atividades já ad-
quiridas por outros. Já o ensino descritivo ë a demonstraçãode como a língua funciona e como se utilizam as habilidades ad-
quiridas.H
HALLIDAY et alii tecem críticas quanto ao ensino da
lingua, alegando ser superestimado o ensino prescritivo em de- _' ~ trimento do ensino produtivo. A substituiçao de padroes já
adquiridos por outros baseia-se em juízos institucionais de ~ ø , ø , ~ língua, que estabelecem padroes aceitaveis ou 1naceitave1s.Nao
se deve esquecer, porém, que qualquer padrão lingüístico nati-
vo que a criança normal dominou para usã-lo no seu meio sócio- cultural ë tão bom, enquanto linguagem, quanto os que se quer que ela adquira.
As aulas de língua devem, portanto, acontecer dentro de
padrões convencionais, onde a parte teórica atue como parâme-~ tro e suporte para a constante elaboraçao discursiva e promo-
tora de situações-problema capazes de desenvolver os aspectos
prescritivo, descritivo e, principalmente, 0 produtivo da lin-
guagem. -
10
A adequação da linguagem deve surgir como conseqüência
da prõpria comunidade lingüística em que se está inserido, não se podendo, no entanto, dispensar todos os aspectos que for-
mam a histõria de uma lingua, nem considerã-los espelho severo de uma atualidade evoluida, mas sujeita a constantes modifica-
ções. Sô a presença de um equilibrio poderá traduzir um resul-
tado de coerência entre os idioletos e dialetos para a preser-
vação da unidade da lingua como um sistema de comunicaçao.
Segundo Fernanda Irene FONSECA e Joaquim FONSECA, em
"Pragmãtica lingüística e ensino do português" (1977), a aula
de língua materna compreende dois momentos: praticar e anali-
sar a comunicação (nesta ordem).
Praticar a comunicação aponta para o exercício da lin- oz. .- guagem em situações concretas de produçao discursiva nao dia-
lögica (exposição, narração, argumentação) e em situação de ~ ~ ~ recepçao ou de produçao/recepçao discursiva dialógica (debate,
entrevista, inquérito, trabalho em equipe, ...).
Analisar a comunicaçao comporta atividades de elucida-
ção, de reflexão sobre os instrumentos atualizados nos discur-
sos projetados em comunidade, mas em especial nos discursos
criados nas referidas atividades de prática de comunicação so-
bre os mecanismos, as operações e as condições da execução.
As aulas de língua materna figuram numa posição parti-
cular em relação âs demais disciplinas do sistema curricular.~
É que o objeto de estudo ë inseparável do meio de transmissao
do conhecimento. Além disso, o tipo e a natureza do' conheci-
mento procurado na aula de língua materna são bem diversos das
demais disciplinas.
Note-se que, se em outras disciplinas hã transmissão e-
fetiva de conhecimentos do professor para o aluno; na aquisi-
ção do saber lingüístico como domínio da linguagem, orientado
para o agir efetivo, que ë a comunicação (em sentido amplo)~ nao há semelhante transmissão. O que ocorre freqüentemente ë a
utilização ra o tratamento de matérias específicas através de temas mal
selecionados ou tomados como objeto de aula, quando tais -
mas, salientam os autores, deveriam servir apenas de suporte
r
das aulas de língua materna como uma antecâmara -
de desencadeamento do processo comunicativo:
Outro problema a ser corrigido nas aulas de língua ma-
terna ë a s
ficativa de que isso disciplina ou forma o pensamento, fazendo
com que tai terem plena competencia comunicativa . Tal argumentação e in-
coerente na prática, pois no processo de aquisiçao da -lingua-
gem, não podemos separar uma competência lingüística de uma
competência pragmática, ambas associadas e influentes na com-
... este topic indispensável tem que constituir apenas o suporte ou a motivação para o arranque e manutençao da comunicaçao a exercitar e a analisar - e nunca o tema da aula de língua materna, que será, insistimos, inequivocamente a linguagem, a língua, a comunicação (FONSECA & FONSECA, 1977 z 86).
uv upervalorizaçao do ensino de gramática como justi-
s conhecimentos gramaticais conduzam os alunos ._ 2 ._ -
_»
pet ënci a comuni cativa.
2Cbmpetenci" ` a lingüística, para Chomsky, ë o cDn1*e<:i.mer1to que o falante-ou- vinte possui da lingua. O sujeito da cnnpetência lingüística, na teoria, ë o individuo que sabe perfeitamente a sua língua e que está inscrito nu- ma aamuriidade homogênea, sendo que ro exercicio verbal não é afetado por fatores gramaticalmente relevantes. O objeto ë o annjunto finito de re- gras que czxnfian un conjunto também finito de unidades lingüísticas e que garante a formulação de un numero infinito de frases. Por outro laio cnmpetëncia
unidades ás
CA, l977:60)
ovmunicativa sugere "... não só o domínio da atrutura formal de un sistena, que pennite a construção e o reconhecimento de frases "ben fonnadas" , como também a capacidade de wmtruir e reoon1°ecer unida da mais extersas que a frase za alca.nça.r e reconlecer a adequação destas
cordições do uso an situaáes concretas, preencherfio, an ar- ticulação com outros oõdigos (não verbais) , que igualmente se actuaiizan roacto cnmunicativofiunçõa diversas nelas suscitadas" (FOI\BECA & EODBE-
12
\.
4 ~ As atividades de analise e educaçao da linguagem nas ag las de língua materna devem ser orientadas pela gramática, mas não para a gramática, como se fosse ela o objetivo a alcan-
eu .-
çar, uma vez que a aquisiçao da linguagem tem dimensoes prag
máticas, pelas quais são interiorizadas, igualmente, as normas
que presidem ã utilização dos instrumentos lingüísticos nas . _ ~ . ~ 3 diversas situaçoes de comunicaçao .
Ooncluem os autores que a aula de Português é, antes
de tudo e sempre, aula de língua, onde se procura adquirir
linguagem, isto ê, se desenvolve e se estrutura plenamente a
competência comunicativa do aluno.
O professor de Português, se está consciente da dimen-
são pragmática da linguagem e atua de acordo com essa consci-
ência, ë um professor de comunicação como integração na práxis
social (atividade social transformadora).
No plano didático, cabe aos professores de língua por-
tuguesa orientar o uso das variações lingüísticas de acordo
com as situações sociais, preocupando-se sempre com a lingua-
gem culta, sim, sem, no entanto deixar de considerar (com bom~ senso) o valor afetivo da gíria e do palavrao como represen-
tantes da linguagem popular. .
Considerar a língua materna como u todo importante pa-
ra o desenvolvimento da competência comunicativa do educando
ê fator imensuravelmente importante para que se possa atingir
o principal objetivo geral do ensino da língua: o estímulo ao
desenvolvimento da capacidade de comunicação e expressão em
3Remetanos, oportunamente, aos comentários específicos de Nereu (DRREA (Q palavra: aarte da conversação e da oratõria. ` Floriarršpolis, Ed. da UFSC, 1983) e de Carlas Albemto FÃRAOO (“As sete pragas do ensino do portuguë". In J.W. GERAILDI. O texto na sala de aula. Cascavel, Asso$_ te EH. Efiucativa, 1985.)
13
Lingua Portuguesa, e, através da lingua, o desenvolvimento da
consciência crítica e criadora. Esse objetivo geral, assim es-
tabelecido, pressupõe que o conteúdo mental a ser expresso nao
se forma simplesmente no psiquismo subjetivo, mas é resultado
de um processo em que a interação social é condição para a di- ._ ferenciaçáo da consciencia. Isso será discutido mais adiante.
Após longa reflexão sobre a nossa realidade educacio-
nal, podemos enumerar, como aspectos a serem seriamente exami-
nados:
a) ensino prescritivo, descurando-se do produtivo;
b) o ensino feito, freqüentemente, a partir de uma rea-
lidade ilusória e incoerente com a do educando (criação ideg
lógica); '
c) a gramática considerada como um fim e a língua como_ meio para aprende-la, quando o inverso deveria ser enfatizado,
pois é verdade que muitos sabem português sem saber necessa-
riamente todas as regras de gramática. Rui BARBOSA teria di-
to: ... em um exame de regras gramaticais, eu seria fatalmente um aluno reprovado (citado por LEITE & PAGLIUCHI, l982:l9).4 _
Além do mais, a gramática de cunho normativo tem sido ampla-
mente analisada e criticada, e mesmo denunciada, como o fez
recentemente a professora Amini Boainain HAUY (1983), que ten-
tou mostrar, de modo sistemático, através de ampla pesquisa, ~ ~ ~ 4 erros, contradiçoes, omissoes, distorçoes das gramaticas atu-
almente em livre curso no Pais;
d) a despreocupaçáo do professor no sentido de tornar
48mm: leitura cmnplenentar, indicanos Osman LINS "A.arte da sedução", na obra Do ideal e da glória - problemas incultuiais brasileiros. São Paulo Sunnus, 1977.
14
suas aulas interessantes através de conteúdos básicos, como
também de seu bom relacionamento com os discentes;
V e) a quase exagerada preocupação do professor (pressio-
nado pelo sistema escolar) em esgotar o conteúdo programático
gramatical;
f) os métodos e técnicas utilizados no processo ensino-
a rendiza em, muitas vezes inade uados ao nivel de a rendiza- P _
P
gem da turma ou rotineiros, causando desinteresse;
g) as aulas de literatura transformadas em mera histo-
riografia de estilos de época;
h) o processo de leitura incompleto, deixando muito a
desejar a nivel de interpretação e crítica;
i) a integraçao de disciplinas afins pouco evidencia-
da, incidindo de forma negativa no desenvolvimento integral do
ensino-aprendizagem;
j) o livro didático utilizado, quase sempre, como única _.__í_.5 fonte de consulta para professor e aluno;
1) os exercicios formulados, muitas vezes, de maneira ~ ~
objetiva, tolhendo a expansao das habilidades de expressao;
m) a preocupaçao do professor de Didática em fornecer
modelos de Plano de Ensino, quando o professor organizado e ~ .~ criativo tem condiçoes de desenvolve-lo no decorrer de suas
atividades;
n) a preocupação da escola em informar o aluno, esque-
cendo-se das orientações do Conselho Federal de Educação, que,
5Ver tênmém, a esse propósito, o cap. I de Celso Pedro LUFT (1985), orde o amxnrfaz refhmiks sobre¡acnñnica'T)gigohšcks falmnxs", de11fisIRa› nando vmíssmo.
15
atravês da Lei nÇ 5.692/7l, artigo 17, apregoa que~ ... o ensino de 19 grau destina-se á formaçao da
criança e do pré-adolescente, variando em con- teúdo e métodos segundo as fases do ídesenvolvi- mento dos alunos.
3. Comentários
Os aspectos anteriormente mencionados são resultantes de longas conversas com especialistas em educaçao,professores, alunos, pais, além de leituras e questionários-sondagem subme- tidos a professores e alunos de diferentes séries e graus de ensino, tendo-se tido o cuidado de variar, inclusive, o nível
sócio-econômico da clientela.
A tônica de nossa investigação girou em torno do des-
prestígig (por que não desinteresse) no estudo da Língua Por-
tuguesa como disciplina curricular responsável pelo
cultivo de linguagens que ensejem ao aluno o con tato coerente com os seus semelhantes e a mani- festação harmõnica de sua personalidade, nos as- pectos físico, psíquico e espiritual, ressal- tando-se a Língua Portuguesa como expressão da Cultura Brasileira (Resolução n9 8, CFE, 19/12/ 71, art. 39, letra A)
e do enfogue dado ã interjeição na relação Expressão versus
Expressividade, á exploração das implicações sintáticas, se- _ ' t ` " 'Õ 1" d análise manticas e pragmaticas dessa ca egoria resi ua a
lingüística, á determinação de sua função textual e ã verifica
ção das implicações date estuio na análise e interpretação de
textos escolares.
O levantamento de dados foi realizado em duas etapas:
16
a primeira em junho de 1984, e a segunda em setembro do mesmo
ano. Na primeira, só foram considerados alunos e professores
de Lingua Portuguesa da cidade de Jaguaruna (centro e perife-
ria). Os professores receberam um estudo sobre interjeiçao
(histórico e levantamento das definições, classificação, locu-
Çao interjectiva e observaçoes contidas em diversas gramaticas
normativas) e dois questionários: um para o professor e outro
para os alunos (anexo LI, questionários l e 2, p.l89-91).
Desse estudo, observou-se o emprego freqüente de gírias
como interjeiçao (carambal põ! porra! repeteco! bai, bai! le-
gal: jõiaâ);'
Os professores alegaram que muitas interjeições citadas
nas gramaticas normativas sao arcaicas, desconhecidas (por
eles e seus alunos) e que costumam apresentar em aula somente
as mais usadas e conhecidas na região. Consideram a interjei-
çao um assunto acabado, nao merecedor de um estudo mais porme-
norizado por nao ter função sintatica. Estranham, igualmente,
o fato de estar entre as classes gramaticais, pois mais parece . 6 umagíria .
Como bem se observa, a interjeição (como classe e va-
lor) ë bastante marginalizada e, segundo a pesquisa, nenhum
professor ou aluno foi além daquilo que nossas gramaticas tra-
zem; para espanto nosso, a grande maioria jamais se preocupou
em fazer um estudo paralelo ou, ao menos, sugerir ua pesquisa orientada sobre o assunto. "Interjeiçao" esta sendo tema para
mais ou menos uma hora/aula. ~
6Naturahnente, ha que considerar os pontcs de contato entre os elenenuos assim rotulaios, o que se fara mais adiante. Afinal de cnntas, a inter- yáçaozndesernmflsêfiamEdamnteemcmBda‹Dmo1n1vakntemxmiafivo,de nndocmmaaçfiriazxde qgnxmerxútidamflme am1vakntimxfljedjNo.
17
A segunda parte da pesquisa foi mais variada, uma vez
que os informantes eram de diferentes cidades e da rede esta-
dual e particular de ensino. Os professores eram profissionais comprometidos com o ensino em todos os graus, e os alunos eram
de 19 e 29 graus. A clientela estava assim distribuída: - professores da lê â 4% série: 10
- professores da 5? ã 8? série: 06
- professores do 29 grau: 02
- professores do 39 grau: 02
alunos da 5% série: 62
alunos da 7? série: 65
alunos do 29 grau: 93.
Como se observa, hä bastante variedade na formação in-
telectual dos alunos e professores escolhidos para a pesquisa.
O preenchimento do questionário pelos alunos foi feito
mediante entrevista informal conjunta e resposta individual,em sala de aula, orientados pelos professores de Lingua Portugue-
sa nas séries do l9 grau e pela proponente nas séries do 29
grau, enquanto que os professores tiveram quinze dias (em mé-
dia) para expor suas idéias. A maioria registrou por escrito
o seu posicionamento.
Como resultado do questionamento aos alunos podemos e-
numerar: a) os alunos reclamam maior número de exercícios de fi-
xação e tarefas mais bem elaboradas;
b) pedem que a exposição dos conteúdos seja mais crite- ._ riosa (na medida de sua compreensao) e que os exercícios sejam
corrigidos em aula; `
c) sugerem trabalhos diversificados (em grupos, com mú-
v
18
sicas, batalhas de perguntas, teatro, pesquisa, etc.);
d) solicitam menor nümero de avaliaçoes e leituras mais
"divertidas", aulas mais comunicativas (com diálogos entre pro~ fessor e aluno) e nao querem escrever muito.
Gonstatamos, de modo geral, que o modelo de aula dese-
jado pelos alunos nao coincide com aquele que eles recebem,
sentindo-se, por isso, desmotivados para a aprendizagem.
É tarefa do professor, . diante da importancia que a Língua Portuguesa.rÊ flete na vida do indivíduo, estimular o desen- volvimento de habilidades fundamentais e o estu-
_
do da Língua Portuguesa, por ser ela o
instrumento básico para o desenvolvimento de to- das as atividades do processo ensino-aprendizaym (Cf. Lei Federal n9 5.692/71).
bbssa pesquisa atingiu também os professores da lê ã 4%
série do 19 grau de escolas estaduais e particulares. Nestas ~ '
séries a interjeiçao é abordada sob forma de frases exclamati-~ vas (valor enunciativo). A preocupaçao está voltada ao uso
correto do ponto de exclamação. Ela é apresentada
incidentalmente na cartilha, nas frases, na pon- tuaçao, nos textos, nas leituras durante todo o ano7;
como recurso didático: utilização do flanelõgrafo e papel co-
lorido.
Da 5? ã 8? série do 19 grau, a interjeiçao é apresenta-
da rapidamente aos alunos de 6? série, limitando-se o objetivo
apenas a memorizar sua definição e classificação (?). Nas de-
mais séries, a interjeiçáo é assunto marginalizado.
Também fez parte da pesquisa a redação de dois diálo-
7Depnimento de uma das professores de lê série do 19 Grau.
19
gos - ambos de temas livres -, realizados em sala de aula
sob orientação do professor titular. O objetivo do primeiro_ diálogo foi verificar a ocorrencia de valores interjectivos.
O resultado foi assustador, pois os diálogos foram monõtonos e
superficiais. Constatamos uma pressa exagerada em terminar a
tarefa e, conseqüentemente, o uso incontrolado de gírias para
preencher linhas. Foi como se os alunos trabalhassem com e um
tipo de redação não coincidente com a realidade do uso da lin-
guagem. Coisa estranha, já que a comunicação pressupõe o diá-~ logo, a interaçao verbal.
O segundo experimento consistiu em testagem após a ex-
posição do conteúdo - interjeiçáo - e visava-se avaliar o
uso das interjeições. Como resultado, verificamos que a obri-
gatoriedade despoja o texto de sua criatividade e torna-o va-
zio. Em outros termos, a situação de imposição da feitura de
um texto não ë favorável ã manifestação espontânea que se es-
pera. E essa, afinal, so se atinge com longa preparaçao de
ambiência (incluindo-se aqui sentimento da língua e estado de
espirito).
Apontam-se como interjeiçoes mais usadas pelos alunos:
ai! socorro! ah! nossa! legal! que pena! que bacana! Ô! oba!
>< O› esplêndido! oxalá! tomara! ui! lindo! viva! alô! beleza! era! aleluia! obrigada! ih! puxa! caramba! arre! puxa vidalcor
ra! outra vez! ave maria! cruzes! bom dia! epa! ufa! meu Deus!
heureca! chi! bah! salve! oh!
. Os alunos da pesquisa definiram interjeição como uma"pa
lavra usada para expressar sentimentos, reflexos imediatos da
mente"; "para realçar certas expressões"; "para dizer algo sú-
20
bito"; "para indicar dor, espanto, admiração, etc.". Algunspme
feriram não se pronunciar, alegando fazer uso da mesma somen-
te quando lhes é imposto. É o que lhes parecia --o que indi-
ca, de algu modo, a separação da linguagem em dois mundos, um
dos quais - o da expressividade - não recebe nenhum privilé- gio na gramática. '
Considerando esta última afirmaçao, verificamos que o
uso forçado da interjeição anula sua definição na experiência
de ensino-aprendizagem: '
palavra ou locuçao que exprime um estado emotivo. Vozes ou exclamações vivas e sfibitas que brotam de nossa alma sensibilizada [...] (Cf. CEGALLA, l984:253),
de modo que, contraditoriamente, o aluno utiliza um pobre su-
porte formal para veicular coisa nenhuma.
Na opinião de alguns professores (quatro), a entonação - 4 z
".. de frases exclamativas e interrogativas e esquecida, nao exis-
tindo preocupaçao em se obter dos alunos uma leitura expressi
va (como veículo de comunicação) e "um colocar prá fora de ¢` sentimentos e emoções", embora se de, teoricamente, valor ã
expressão criativa. Justificam-se, aborrecidos, inconformados
diante do grande numero de alunos semi-alfabetizados que per-
meiam as classes da Sê ã 8% série.
Girias e palavrões são bastante usados nas escolas e
estão presentes na vida das pessoas menos conservadoras. Os
professores os aceitam até o momento em que não ferem a sensi-
bilidade de quem os ouve. A gíria, algumas vezes, acontece nor malmente e está relacionada com admiração, surpresa, raiva,su§ to(como se vê, as mesmas emoções que se afirma, na gramática,
serem oonsubstanciadas nas interjeições).Afirma Mário SOUTO
2l
MAIOR: "O mundo inteiro diz palavrão [...]" (Cf. Dicionário do
palavrão e termos afins, 1980). .Q - ~ Gilberto FREYRE e favoravel ao uso do palavrao quando
empregado no momento exato. Já o juiz Eliêzer ROSA, da 8? Vara Criminal da Guanabara, afirmou ã imprensa carioca:
A , ~ Nota-se que a semantica do palavrao oferece mar- gem a um estudo de muito interesse porque há um. visivel enfraquecimento de sentido da palavra. Existe até o palavrão carinhoso, pois nem sempre o palavrão significa, realmente, o que sua lite- ralidade quer dizer. Ê uma interjeição lançada pelo homem zangado, decepcionado, irritado, sur- preendido por uma situação inesperada, por um choque ou dor momentãnea. Mas o teatro ai está, e deve ser ele a quem deve ser confiada a tare- fa de tornar abominável o uso do palavrão e não ser o veículo dessa ferrugem da lingua e da al- ma. [...] (apud SOUTO MAIOR, l980:XIV).
Para os gramáticos o palavrão ê um problema sociolimmfis- tico e
nunca teve seu uso tão generalizado quanto hoje, simplesmente porque o povo ë quem faz a lingua que fala, quem lhe dá o colorido, o pitoresco da gíria e do palavrão (SOUTO MAIOR, l980:XIV).
No mesmo dicionário'acima mencionado,seu autor lista
uma série de opiniões em torno da pergunta "Que ë palavrão?" CQ mo resposta obteve-se de Jorge AMADO, romancista:
~ Considero queho.chamado palavrão ë uma palavra igual a todas as demais, que por uma circunstân- cia qualquer tornou-se maldita - no fundo, uma palavra vitima de preconceito.
Olimpio Bonald NETO, poeta: Vocábulo que exprime ação, qualificação ou ex- clamação, com intenção de chocar, excitar ou o- fender; agressão verbal; apelido dos Õrgaos e atos sexuais.
Veríssimo de MELO, etnõgrafo: .
Uma palavra ou expressão de baixo calão. Às ve- zes, fere. Noutras ocasioes, agrada. Depende da conotaçao e,as vezes,da entonaçao.
22
Ehnar JOENCK, professor de Português: ~ f ~ _. Palavrao e palavra ou expressao (frase ou locuçao)
capaz de expressar (não necessariamente comunicar) um estado emotivo ou psicológico altamente explo- sivo de uma pessoa cuja atenção, tenção ou tensão se frustrem ou atinjam seu auge em situações cho-` cantes ou pertubadoras [...].
Comenta PRETI, em "A gíria e outros temas" (l984:39-43)
que atualmente palavra obscena, gíria, linguagem vulgar, vocá-
bulo grosseiro ou outras denominações que circulam de boca-em-
boca são usadas para registrar as variações sócio-culturais do
léxico de uma língua, quando em contato com seus elementos a-
fetivos e expressivos. Este ë um problema diretamente ligado
a aspectos histõricos e sociais de determinada época e povo,
misturando-se com valores morais e confundindo-se como costume
e moda.i
Muitas palavras proibidaájã estao fazendo parte nas
letras de musicas que estão em sucesso; estão, igualmente, nos
"scripts" de TV, nas reticências das legendas dos filmes, na
boca dos apresentadores de rádio, nos teatros, nas conversas
informais, nos bancos escolares; enfim, estao entre nõs.
Lendo e observando contos, crõnicas, romances, revistas
(principalmente as quadrinizadas) verificamos um número bas-~ tante sugestivo de interjeiçoes, onomatopëias (muitas de' ori-
gem americana), gírias, focalizando os costumes e a fala dos ~ ~¬ personagens; os palavroes, contudo, sao evitados, como quer a
censura (Anexo II,.p_192_5)_ Um dos tópicos do Programa de Ensino nao muito empol-
gante para professores e alunos - com razão - ë o das clas-
ses gramaticais. Não hã motivação para um estudo crítico-compg
rativo, nem existe preocupação em fazer o estudo a partir de
textos. Os professores, na sua grande maioria, se acomodaram ,
restringino o conteüdo de suas aulas ao do livro-texto, dei-
xado no esquecimento a criatividade e a poesia de cada um.
23
Predomina a preocupação exagerada em seguir todos os itens su-
geridos pelo autor do livro adotado em cada série, impossibili tando-se a criação de um trabalho original, e transformando-se
as aulas de Língua Portuguesa em sessões maçantes de constan-
tes repetiçoes de conteúdos abordados em séries anteriores.
O livro didático é um dos instruentos de trabalho do
professor. Jamais será o instrumento exclusivo. Compete ao
professor conhecer o conteúdo do livro didático escolhido para
que possa aproveitá-lo bem e adequá-lo de acordo com as neces-
sidades da classe em que atua.
Ê da responsabilidade do professor a escolha deste ou
daquele livro didático, sobretudo a partir de agora: os pro-
fessores de 19 grau, em regime de consenso, poderao fazer a ~ ` ~ ` ~ opçao pelo livro mais adequado a regiao e as condiçoes locais.
Presume-se, com essa medida, que o magistério se sinta valori-
zado; por outro lado, as editoras se sentirao incentivadas pa-
ra produzir material de qualidade (Informe FAE - Fundação _
de
Assistência ao Estudante/MEC).
Nesta questão de escolha, o professor não pode deixar-
se influenciar pela propaganda, nem pela apresentação. Deve-se
adquirir o melhor. Acerta Osman LINS quando afirma que os au-
tores de livros didáticos estao colaborando com os editores e
distribuidores de compêndios escolares ao exporem apresenta-
çoes do tipo: '
De nossa parte, estaremos também trabalhando pa ra oferecer-lhe um novo livro e um novo cader- no [...]
O que há, na verdade, ë uma "luta feroz pelo mercado" (Cf.LINS,
l977:l27 e 129).
O problema das ilustrações nos livros didáticos -
24
as fotografias, em geral, de uma grande banali- dade e mal impressas, reproduções de obras de arte verdadeiramente lamentäveis, quase sempre borradas e, por vezes, sem informação sobre o original, os desenhos representando noções ele- mentares e de caráter cõmico.. `
coloca em risco a qualidade do ensino, prejudicando a capacida
de leitura e de compreensao de textos. O excesso de visual e
ficção depreciam a capacidade e maturidade do aluno, bem como
o seu vocabulário (Cf. LINS, l977:l33 ss.).Q Observa-se, com freqüencia, a oferta de manuais aos
professores com as propostas de exercícios já previamente res-
pondidos. Este fato deveria ser recebido pelo professor como
uma.afronta â sua capacidade e auto-estima, porém, constatamos
que, por várias razões, a grande maioria dos professores -uti-
liza este instrumento de trabalho sem uma prévia análise crí-
tica. Nao queremos desmerecer a importante funçao do livro-tex
to (tentativa de orientar o professor), mas sim expressar nos-
sa preocupação quanto ã qualidade e ã forma de explorä-lo sem ¢~ eliminar a consciencia crítica de que cada professor ë possui
. 8 dor, em maior ou menor grau .«
No momento em que se tem conhecimento dessa abertura r_e_
lativa ao livro didatico a ser adotado na escola de 19 grau,
espera-se que os Estados, como está previsto, realmente mante-
nham programas de apoio ao professor, no sentido de que aspec-
tos como os que salientamos acima sejam efetivamente analisa-
dos, através de critérios bem definidos. É essencial se resu-
mir na resposta ã seguinte questao: Para que vamos ensinar
lingua portuguesa? Que lingua vamos ensinar?"
8I`^e‹:omendanos a leitura de "ldeologias ro Ezrsino de Portuguè" de Marcnp des Râsa de SOYBA (Arexo HI, p_l96-202) .
CAPÍTULO II
POR UMA LINGUÍSTICA TEXTUAL - PREssUPosTos TEÓR1cos
l. Discurso e Texto
Consideramos importante estabelecer a(s) diferença(s)
entre texto e discurso, uma vez que também ê preocupação nos-
sa, além da pesquisa em torno da expressividade quase que res-
trita ã interjeição enquanto classe gramatical e tao margina-
lizada no âmbito da gramática de cunho normativo¡ a efetiva
produçao e análise de textos nas aulas de língua materna.
No primeiro capítulo da obra "Lingüística textual", de
FÃVERO & KOCH (1983), registramos o estudo feito pelas autoras
citadas sobre texto e discurso, que irá contribuir enormemen-
te aos objetivos amnw`mx;propomos no parágrafo acima.
Segundo a pesquisa realizada por FÃVERO & KOCH, a lin-
güística textual ë uma das ramificaçoes da lingüística, tendo
seu início na década de 60, na Europa. Ê objeto de investiga-
ção da lingüística textual o texto e não a palavra, por ser o
texto a maneira específica de produção da linguagem.
26
O principal objetivo da gramática textual, afirmam as
autoras, ê discutir fatos inexplicáveis por meio de uma gramá-
tica do enunciado, embasada na diferença de ordem qualitativa
existente entre enunciadQ_em contraste com o que caracteriza
o texto: resultante da competência específica do falante - a
competência textual - exigindo, alêm da seqüência de enuncia- dos, compreensão, coerência, completude, atribuiçao de um tí-
tulo, capacidade de produção de um texto, resumo ou síntese.
Subseqüentemente, contribuiram no surgimento das teo-
rias de texto: a teoria dos atos de fala, a lógica das ações,
a teoria lógico-matemática dos modelos e a pragmática, sendo
esta última motivo de várias correntes que se contradizem quan - . - . l to a forma de considera-la dentro da teoria de texto .
Às páginas 15 e 16 da obra citada, as autoras registram
que, para DRESSLER, a pragmática ê apenas um componente acres-
centado "a posteriori" a um modelo preexistente de gramática
textual, responsável pela situação comunicativa na qual o tex-
to ê introduzido. Dado que uma gramática do enunciado não ê
capaz de dar conta dos efeitos das relações de referência, que
atuam efetivamente sobre a interpretação semântica, determinan
do uma organizaçao especial da estrutura superficial, ele pos-
tula uma extensão do domínio textual, buscando, nos moldes da
teoria gerativa, ua estrutura profunda da gramática de discur so. Tomando o significado como ponto de partida, considera,con
tudo, ser arbitrário um corte entre sintaxe e semântica. Para
SCHMIDT e outros a pragmática significa a evolução da lingüís-
1A esse rspeito, reneteros ã síntese feita por Eiuardo GUIMARÃES, discu- tindo a "diversas pragnatica": "Sohme alguns caninhos da pragmática". In: Sobre pragngtica. Serie Estudos - 9, Uberaba, Fiub, 1983. pp.l5-29.
27
tica textual em direçao a uma teoria pragmática do texto tendo como base o ato de comunicação - explicandum da lingüística -
Q ø f ¡ . ... 4 onde a competencia basica e empírica da teoria de texto nao e
a competência textual e sim a comunicativa. Já OLLER conside-
ra o uso da língua como u processo que se realiza em três di-
mensões integradas: sintática, semântica e pragmática, sendo
que '
a pragmática da geraçao de frases é que determi- na a opção a ser feita em cada situação sintati ea e semântica (Apud FÃVERO az KOCH, 1983z16).
Para OLLER estas dimensões são interdependentes. PETÕFI tam-
bém defende esta interdependência e está desenvolvendo uma
teoria parcial do texto chamada ¶¢SW¢5T (Teoria da Estrutura de Texto-Estrutura do Mundo), a qual estuda a estrutura de um
texto e as interpretações extensionais do mundo (ou do com-
plexo dos mundos) que é textualizada em u texto.
FÃVERO & KOCH, ao se referirem ao termo texto, citam
STAMMERJGAHANN‹ Segundo ele, o-termo texto faz parte do concei
to central da Lingüística Textual e da Teoria de Texto, enqua- drando textos orais e escritos com a variaçao mínima de dois
signos lingüísticos e máxima indeterminada onde, às vezes, um
signo pode ser suprido pela situação, ocorrendo textos de uma
só palavra. Ex.: "Socorro".
A lingüística textual ocupa-se com textos delimitados ,
possuidores de início e final determinados explicitamente.Ex.:
sermão, diálogo, livro, ... Porém, quando trabalhada nos mol-
des da lingüística frasal, apenas ampliada para poder dar oon-
ta do encadeamento de sentenças (e, portanto, conservando o
mesmo método de análise), o procedimento náo foi positivo. Al-
28
guns encaram-na como uma nova orientação da lingüística a par-
tir da noção de texto, aplicando-se o método descendente (tex-
to-frase-unidades menores). Dentro dessa perspectiva, preten-
de-se a segmentação e classificação das unidades, a partir do
texto, o que não pode ser feito se se perder de vista a função
textual dos elementos isolados.
Considerando que "os textos são seqüências de signos
verbais sistematicamente ordenados", acrescentam FÃVERO »&
KOCH (ibid., p.l9) que se pode considerar um determinado tex-
to como um signo lingüístico primário e global e seus segmen-
tos tendo apenas status de signos parciais. No entanto, o es-
tudo de frases ou palavras, etc., sô pode ser efetuado se as
condiçoes de seu isolamento do conjunto do texto forem anali-
sadas concomitantemente. ~ f «_ Nao e unanime o reconhecimento da unidade frase com es-
tatuto especial na lingüística textual. Todos admitem, porém,
que os elementos que estruturam o texto são os conectores .que Q Q podem ser acréscimos (juntores, redundancias, deiticos...) ou
reduções (pronomes, elipses, etc.)3 Os textos caracterizam-se
pelo que neles ocorre ou deixa de ocorrer.
A semântica textual (parte da lingüística textual) preg cupa-se com as regras válidas para a determinação recíprocados
signos verbais no texto e a sua compatibilidade no contexto,
atribuindo o nome de sentido aos significados ordenados de to-
dos os signos que constituem o texto. É objetivo da semântica
e sintaxe descrever os elementos constitutivos que estruturam
os textos e, dependendo da teoria de texto adotada, os requisi tos de adequação, explicitude e formalidade. À gramática 'tex-
tual, cabe ainda, explicar os quesitos que estruturam um tex-
29
to, ou seja, a textualidade.
Texto pode aparecer, para alguns autores, como sinônimo
de discurso, preenchendo funções comunicativas.
VAN DIJK (1978) estabelece como diferença entre discur-
so e texto: discurso ë
zu unidade passível de observaçao, aquela que se interpreta quando se ve ou se ouve uma enuncia iÇaÔ" 1
e texto ë
unidade teoricamente reconstruída, subjacente ao discurso (Apud FÃVERO & KOCH, l983:23).
VAN DIJK, igualmente, diferencia discurso como "type" e enun-
ciaçao do discurso como "token". Segundo ele, a diferença está
no evento empírico imediato em um contexto particular e único
que ocorre no último (token) e uma abstraçao no primeiro(type)
a qual sõ pode ser descrita corretamente se uma gramática
(textual) ou outra teoria do discurso considerarem as estru-
turas regulares, sistemáticas de cada tipo de discurso. O dis-
curso-tipo caracteriza-se por fatores empíricos tais como: con Q Q tinuidade do enunciado e coerencia semantica e pragmática. Es-
se discurso-tipo ê que permitiria, efetivamente, o levantamen-
to de uma gramática; não seria uma teoria do uso da linguagem,
onde ocorrem, geralmente, incorreções gramaticais, falsas in-
terrupções, incoerencias, etc.; o texto, por ser mais abstra-
to, resulta de componentes gramaticais, estilísticos, retõri- ~ as
cos, esquemáticos, etc. Tais acepçoes encontram divergencias,
pois existem autores que empregam os termos discurso e texto
como sinonimos ou quase sinonimos.
Para os postuladores da análise do discurso, o termo
discurso tem significado mais amplo que o texto, pois envolve
30
enunciados e condições para a sua produção; e o texto ê uma ma
nifestação resultante.
VAN DIJK sugere chamar "teoria do discurso" a todas as
pesquisas sobre o discurso, incluindo a lingüística de texto,
a estilística, a retÕri¢a, etc., enquanto que a gramática de
texto deve levar em conta apenas certas propriedades lingüís-
ticas (gramaticais) dos discursos, eliminando estruturas re-
tõricas e narrativas, pertencentes a outras teorias.
Para HJELMSLEV e seus seguidores, texto ë todo e qual-
quer processo discursivo, de onde se deduz que a textualidade
ë caracteristica específica do homem (condições de criar tex-
tos verbais e não-verbais). A noção de texto aparece em
HJELMSLEV a partir da distinção que estabelece, por hipótese,
entre processus e sistema. O processus ë composto de um número ea limitado de elementos passíveis de ocorrencia em novas combi-
nações; a todo processus, por sua vez, corresponde um sistema,
que permite analisa-lo com base em um número restrito de pre-
missas. Entenda-se, entretanto, que o objetivo desta análise
ê uma classificação dos elementos do_processus, de modo a es-
tabelecer um cálculo algëbrico de combinações permissiveis. Em
outras palavras, segundo o próprio HJELMSLEV(l97l:l7):
O objetivo da teoria da linguagem ë verificar a tese da existência de um sistema subjacente ao processus, e a de uma constância que subentende as flutuações, e aplicar esse sistema a u ob- jeto que pareça particularmente se prestar a isso.
Ê exatamente ao processus que FJELMSLEV chama texto, especifi-
camente quando se trata de uma língua natural falada (ao sis-
tema corresponde a langue). O processus textual, por outro
lado, ë virtual, podendo se realizar através de objetos parti-
culares.
31
Como se percebe, dado o seu objetivo, HJELMSLEV não es-
tã preocupado com a função textual em si, mas com a descober-
ta do sistema, como, de resto, dentro do estruturalismo em ge-
ral.
Nessa mesma linha, HARWEG postula para o texto a dis-
tinção emico-ético. Êmico (texto no singular) pertencente ã
estrutura subjacente textual que prende ã superficializaçãodos
infinitos textos (plural) éticos possíveis. Cada texto ético
corresponde ao discurso. o
Concluem FÃVERO & KOCH que, em sentido lato, texto é
toda e qualquer manifestação de capacidade textual humana (poe
ma, música, filme, etc.). Ê a comunicação que se realiza atra-
vés de signos. Discurso (em linguagem verbal) é a atividade
comunicativa de um falante, em determinada situação, envolven-
do enunciados e eventos de sua comunicação. Em sentido restri-
to, texto é qualquer passagem, falada ou escrita, que consti-
tui um todo significativo, independente de sua extensão, ca-
racterizado pela coerencia e coesao (fatores responsáveis pela
tessitura do texto). Discurso é a.manifestação lingüística por
meio de textos.
Para ORLANDI (l983:l46), "Falar em discurso é falar. em
condições de produção", sendo que as condições são "formações~
imaginárias", segundo PÊCHEUX (1969). Porém, essas 'formaçoes
englobam:
a relação de forças (os lugares sociais dos in- terlocutores e sua posição relativa no discur- so), a relação de sentido (o coro de vozes, a intertextualidade, a relação que existe entre um discurso e os outros) e a antecipação (a ma- neira como o locutor representa as representa- ções do seu interlocutor e vice-versa).
Lembra ORLANDI que a ilusão subjetiva, própria do sujei
32
to falante, está associada ás formações imaginárias e seus fa- nz tores, na convicçao de ser exclusivo no seu discurso; na rea-
lidade, "o seu dizer nasce em outros discursos".
O discurso ê considerado fenómeno social por ser deter-
minado pelas formações discursivas (palavras, textos) que, por
sua vez, participam da formação ideológica, "determinando o
que pode e deve ser dito".
Conforme o exposto, a análise de discurso não ë um ní-
vel (fonético, sintático, semantico) diferente de análise e
sim um ponto de vista diferente. Se, no entanto, analisarmos
unidades de vários niveis - palavras, frases, períodos _- as
mesmas náo perdem a especificidade de seu nível (lexical, mor-
fológico, sintático, semantico), porém, pela análise do discup
so outros aspectos, aparentemente despercebidos, se revelarão,
evidenciano o discurso como um objeto de conhecimento e o tex to como a unidade da análise do discurso.
Discurso e texto "se equivalem, mas em níveis concep-
tuais diferentes", diz ORLANDI, isto ê, o discurso`ë interpre-
tado como conceito teórico e metodológico, e o texto como o
conceito analítico correspondente; portanto, entre discurso e
texto há uma relação necessária.~
Tomado o texto nesta perspectiva teórica, ele nao será
apenas unidade de análise, mas unidade complexa de significa- ~ 4 ø ~ '
çao. Por isso, e uma unidade de analise nao formal, mas prag-
mática.' - ,_ f ORLANI tambem coloca quec>tenx›nao e definido pela sua
zu ~ ` extensao, mas pela sua unidade de significaçao frente a situa-
ção, ocupando o centro comum no processo da interlocuçao.
Teremos sempre por suposta essa demarcaçao teórica, tal
‹> «zw H é »‹ vmar ç
...âwf*-'>_
como ORLANDI a resume.
FONSECA & FONSECA (1977) não estabelecem distinção ex-
plícita para discurso e texto. De fato, tentando caracterizar
o que seria uma lingüística da fala, colocam que sua unidade
central não seria a palavra ou a frase, mas o discurso (cf. p.
62). Esclarecem que o texto serã concebido como produto do ato
de fala, como discurso com mensagem, projetado num aqui-agora
constituído, originariamente, por um eg, será concebido como 4. indício da dinamica do conjunto de relações existentes entre
os diferentes pólos do ato verbal. Por outro lado, o falante,
no uso da linguagem, "assume o seu próprio discurso" e "consti
tui textos" (ibid., p.96). Seu interesse está voltado para a
exploraçao do texto na sala de aula, que tem como objetivo a
tentativa de levantamento das marcas dessa di- namica do processo enunciativo, das açoes e in teraçoes nele presentes (ibid., p.ll3).
O levantamento dessas marcas, afirmam os autores, ocasionarã a
"determinação das características específicas dos textos ou da
especificidade dos discursos", como também o estabelecimentoóm
tipologias. Esses objetivos pressupõem
abertura da aula de lingua materna ã pluralida de dos discursos projectados na comunidade lin güística (ibid., p.ll3).
Na citada pluralidade não estão somente aqueles discur
sos levados ã aula pelo professor, mas também os desenvolvidos
nela, destacando-se o discurso escrito, oral, literário e o
não literário. Portanto, o estudo do texto na aula de ' Portu-
guês terã como meta "o estudo da especificidade dos discursos ._ ~
em articulaçao com as situaçoes que os suscitam".
De posse destas considerações, fica claro que o discur-
34
so literário (na prática didática não está situado no conjunto dos demais discursos), por exemplo, ocupará na aula somente o
seu lugar, o que nao coincidirá, certamente, "com a banaliza-
ção do seu uso", insensibilizando o aluno para sua especifici- dade.
A partir da presença implícita ou explícita nos enun-
ciados, nos textos, das relações entre o eu-emissor, o tu-re-
ceptor e o ele-referente-objeto, surgirão tipos de discursqmma vez que todo discurso surge como marcado "pela presença do su-
jeito que o produz e nele se (re)produz" (ibid., p.ll6).
Sob este ponto de vista, vemos, que num texto há mais
do que uma estrutura formal e um conteúdo temático (únicos as-
pectos focalizados pelas "análises de texto" tradicionais)¿meã supondo
á
uma concepçao instrumental da língua como obje- to com existência prõpria separável do uso e utilizado para transmitir este ou aquele conteá do (ibid., p.11õ).
Na verdade, o texto deve ser analisado como parte «integrante
de um comportamento e concebido "como um momento de um proces- so ininterrupto e global de comunicaçao e de interaçao". A es-
se tipo de análise ë que se pode chamar análise pragmática,por preocupar-se com o modo de como o texto está estruturado e re-
presentando fundamentalmente a realização não apenas de um ato locutõrio: "produção de um enunciado conforme ás regras de um
sistema gramatical", como também de um ato ilocutõrio: "orien-
tado para influenciar o comportamento do interlocutor" e, i-
gualmente, de um ato perlocutório, que se resue no "efeitopmg duzido no interlocutor" (ibid., p.ll7).
Ainda consideramos necessário acrescentar, com os auto-
35
res, os dois momentos complementares da atividade didática na
aula de lingua materna: análise e produção de textos. Na aná-
lise parte-se do texto a ser analisado com o objetivo de re-
constituir as coordenadas situacionais e a sua adequação a
elas; na produção parte-se das situações com o intuito de
(re)criar o texto, de produzir adequadamente as circunstâncias
antes elaboradas.
Cabe ao professor de Português, além de motivar ã ex-
pressão oral e ã expressão escrita,
explicitar a articulação entre as situações mo- tivadoras que cria e as marcas que correlativa- mente surgem nos enunciados oral e escrito, nas suas diversas modalidades e variantes, dialógi- cas e não dialõgicas (ibid., p.l55).
2. A Dimensão Ideolõgica do Discurso - Normatividade
Õbvia ë a presença da ideologia na constituição da lin-
guagem, do ponto de vista em que nos colocamos - o objeto de
estudo da pragmática ë dominio das relações linguagem/ideolo -
gia.
_ A realidade dos fenomenos ideológicos ë a rea- lidade objetiva dos signos sociais _ (BAKHTIN, 198l:36).
E a palavra ë o fenômeno ideolõgioorpor excelência. [...] o modo mais puro e sensivel de relação social (ibid., p.36). -
Em princípio, emprestando as palavras a VOGT (l980:l30), con-
sideraremos a ideologia como abarcando
tanto os sistemas de idéias-representações so-`
'
36
ciais (ideologias no sentido estrito) como e os sistemas de atitudes e comportamentos 'sociais (os costumes) e nao necessariamente como sinoni mo de "ma consciencia" ou "mentira piedosa"...
. Dado que os enunciados lingüísticos deverão ser consi- derados no conjunto textual, e, como unidade de significação, só têm realidade no processo de interação verbal (incluindo-se ai o texto escrito), decorre dai que o caráter ideológico da linguagem, com suas implicações, deve ser mantido - embora nem sempre pretendamos realizar análises com focalização da dimen- são ideológica. Ela deve, sim, ser reconhecida na medida anque
~ nâ tenhamos de atentar para as relaçoes sociais no intercambioven- bal. Como tal, a estrutura enunciativa se compromete É com a situação social imediata Ê com o meio social mais amplo.
Em todo caso, objetivando-se considerar a padronização lingüística no ensino institucionalizado (normativização ë ideológica), examinemos esta afirmação de KRISTEVA (l974:399):
O discurso contêm e impõe sua ideologia, e cada ideologia mostra o seu discurso. Compreendemos pois porque ë que qualquer classe dominante vi- gia particularmente a prática da linguagem, e controla as suas formas e os meios da sua difu- são: a informação, a imprensa, a literatura.Com preendemos porque ë que uma classe dominanteten as suas linguagens favoritas, as suas literatu- ras, a sua imprensa, os seus oradores, e tende_ a censurar qualquer outra linguagem.
Este problema, apontando a orientaçao ideológica cons- cientemente exercida por um grupo sobre outro grupo (manipula- çao da linguagem com objetivos específicos), apontando ao mes- mo tempo a linguagem como ARMA, se constitui, pode-se dizer, em aspecto da problemática, em teoria geral da linguagem,V da hipótese de RELATIVIDADE LINGUÍSTICA. Resumiremos, a esse res- peito, o comentário de TERILLIGER (1974).
A questão fundamental ë determinar que efeitos as reco- nhecidas diferenças entre as línguas
` podem exercer sobre o espírito em geral ou sobre qualquer função mental especifica em particular (TERWILLIGER, l974:30l).
37
A hipótese ë de B.L. WHORF/E. sAP1:R'(_em 19_56).Em termos práticos, pode ser assim enunciada:
a língua particular que uma pessoa fale exe; cerá influência sobre ela e a tornará dife- rente do que seria se falasse outra língua (ibid., pp.30l-2). t
Como há vários modos de interpretar a hipótese, desde a .~ _ ` versao mais extremada e simplista, que faz referencia a influ-
n. ø f ; ~ encia do lexico de ua lingua, ate a versao que faz "assevera- çóes a respeito de estados de caráter mais cognitivo e cultu- ral" (ibid., p.302), TERWILLIGER, analisando a questão, utili- za o teste de tradução de uma língua para outra e levanta hi- póteses sobre o comportamento das pessoas com relação às lín- guas que falam. Contudo, sua avaliação conclusiva sobre a aná- lise da hipótese é pessimista, segundo diz, embora isto nao
~
~
signifique que a hipótese seja falsa. Apenas nao teria havido demonstração satisfatória de sua validade. Se ela nunca foi refutada, também nao ë fácil comprová-la.
'Tudo isso porque
... certos termos críticos foram deixados sem definição. [...]... para ua avaliação dessa hipótese faz-se necessária uma teoria psico- lógica - teoria do espírito e da linguagem.So entao poderemos afirmar que a linguagem tem ou não tem efeitos sobre o espírito e só en- tão poderemos especificar as condições em que a linguagem afeta o espírito (ibid., pp. 309- 10).
38
~ TERWILLIGER se propoe esta tarefa, analisando a lingua-
gem como arma, usando dessa estratégia para sustentar a hipó-
tese do relativismo lingüístico, que encontra, segundo enten-
demos, respaldo nas teses de BAKHTIN/VOLOSHINOV. Ou seja, a
linguagem encarada como comportamento social. Como arma, como
meio de argumentação, o homem leva seu semelhante a determina- das reaçoes, comportamentos, conclusoes, seja de um modo óbvio, seja de um modo comportando muitas sutilezas - de qualquer for ma, o elemento persuasão aparece aqui. E hã pólos entre cujos
extremos uma gama indefinida de valores discursivos pode sur-
gir.
O comando, conforme aponta TERWILLIGER, ë a forma lin- .- güistica mais direta de exercer influencia, apresentando-se cg
mo u imperativo no pólo positivo de um vetor. Só que o pro-
blema ë complexo; a situação de comando não determina, de modo_ absoluto, a obediencia. É preciso encarar imediatamente o as-
Q ~ ~ pecto psicologico da questao, e analisar as disposiçoes para
responder, associadas a estímulos; ora, os estímulos são va-
riados, podeno corresponder, nos casos extremos, a treinamen- ~ z .` tos conscientes para obtençao de habitos de obediencia. Esse
tipo de treinamento pode ser até tentado (ou É, de fato) por
estímulos verbais tais como aqueles usados nas propagandas de ~ ._ consumo (que nao tem, necessariamente, uma resposta positiva
do ouvinte).
Um exemplo típico de comando ë o caso militar: "a pala-
vra do comandante ë lei para o subordinado", diz TERWILLIGER.O soldado bem treinado
age literalmente antes de pensar e, sem dúvida, em muitas situações, nem chega a pensar (ibid., p.3l7).
39
Eis u caso típico de treinamento consciente em que ao estimu lo deve corresponder imediatamente um comportamento, seja fí- sico, seja verbal. O objetivo é a obediencia cega, aquela que independe de qualquer reflexão, e que apela, portanto, ã in- consciência, ao comportamento mecanizado. `
TERWILLIGER aponta e sustenta a interessante tese de que H
o ensinamento da obediência envolve sistemáti- ca eliminação do significado das palavras da lingua, até o ponto de cada palavra só ter associada a ela uma tendência de resposta, no contexto em que os comandos ocorrem (p.3l9).
Explica-se: correlacionam-se, em seu texto, inconsciên- .~ cia/ausência de significado. Consciencia, no contexto em que
ele se move¡ se define como "um conjunto de disposições para responder [...] diante de certos estímulos" (ibid., p.3l8).Ela é um resultado de ambigüidade, incerteza, possibilidade da es- colha. Se não há essa possibilidade, estamos diante da incons- ciência - só hâ, aqui, uma disposição para responder e o su- jeito não ve um conjunto de possibilidades - só hä uma respos- ta possível. O discurso é autoritário, unilateral, imperativo. Ora, o significado, nesse mesmo contexto dado pelo autor, tam- bém se apresenta como ' '
~ -
Q u conjunto de tendencias para responder a de- _
terminada palavra (ibid., p.3l8). Assim sendo, também ele é ambíguo, incerto, consciente, exige opçao. Ou seja:
a compreensão e o emprego da linguagem do sis- tema de significado que e a linguagem, apre- senta-se como processo consciente (ibid., p.
- 319).
logo, para ele, sem opção não há, na verdade, significado - em
40
outros termos, não há valores, uma vez que só se define o va-
lor relacionalmente, por associaçao e contigüidade (sintagmáti
ca e paradigmãtica).
Ou ainda: do ponto de vista do comandante, ele ë quem
escolhe o significado dentre os vários, ele ê quem pensa, que
tem '. consciência. Para um comando, dessa forma, só uma ação ë permitida e apenas uma se manifesta. Não há, pois, ambigüi-
dade. Não hã significado. Ou: ë pela eliminação do significado
através do treinamento rápido que o comando pode emmxxm-se am-
pla e eficazmente.
Como fugir a esse radicalismo? Naturalmente, ele só po-
de ser rompido por uma transformação radical do contexto am-
plo. Se o comando se exerce em esferas cada vez mais amplas da
vida, como acontece em nossas sociedades, fugir a essa influ-
ência se torna mais difícil. Afinal, a linguagem, na sucessi-
vidade das gerações, passa adiante, ë aprendida e ensinada.
Quem não aprendeu a pensar não é capaz de ensinar a pensar.
Ora, ë avaliando tais casos extremos (em que ocorre treinamen-
to), contudo perfeitamente recorrentes em nossas sociedades,
que se poderá avaliar a hipõtese do relativismo lingüístico.
A lavagem cerebral, também detalhadamente ilustrada por
TERWILLIGER, ê um tipo de treinamento em que ê possível subs-
tituir modos de percepçao da realidade decorrentes de um tra-
tamento da linguagem em que se abandona um conjunto de signi-
ficados para adquirir outro. Alteram-se ações e comportamento
global - o objeto de referencia, O mundo, ë diversamente per-
cebido, ë o que parece. -z Presue-se, nesta hipótese, que a alteraçao fundamen-
tal de significado implica alteração de percepção, cognição,
41
pensamento, uma vez que o significado (na linguagem) e as for-
mas outras de cognição seriam somente aspectos diversos de um
mesmo sistema (de cognição), e não sistemas mentais relativa mente independentes. (Nesse caso, a independencia nao poderia ser senão um tratamento teórico, com as perdas conseqüentes -
como no tratamento chomskyano da linguagem).
Dos dados e das avaliações feitas, TERWILLIGER tira es-~ ta importante conclusao: o comportamento pode ser afetado pe-
las categorias lingüísticas de que disponhamos. Nessa ótica, qualquer aprendizado de linguagem
'ë uma forma de lavagem cerebral, jã que envol ve o aprendizado de um conjunto de usos de pa- lavras inteiramente arbitrãrio, onde a única definição de correção é a proporcionada pelos padrões sociais (ibid., p.328).
Assim, a linguagem nos controla, ou, como prefere dizer Roland BARTHES, a linguagem ë simplesmente fascista:
o fascismo nao ë impedir de dizer, é obrigar a dizer (Aula:l4). ~
Sugere-se fortemente aqui que
pensar ê sempre prejudicial para a manutençao de sistemas de significado estaveis e relati- vamente restritos (TERWILLIGER, l974:330).
E, mais adiante:
Naturalmente, nõs nos veríamos todos transfor- mados em seres humanos consideravelmente mais enriquecidos [se fosse permitido o pensamento livre], mas, evidentemente, isso não ë tão im- portante quanto o status quo (ibid., p.330).
Sustentando a conexão íntima entre os sistemas de sig-
nificado e outras funções mentais, TERWILLIGER defende a hipó- tese elaborada por WHORF. Esta posiçao ja se encontra impli-
citamente em BAKHTIN/voLosHINov (1979)-anterior, sa1ie,ntemos,ã
42
formulação da hipõtese - diante do problema de distinguir ans- ¢~ Q ciencia (atividade mental subjetiva) e ideologia. A conscien-
cia, do ponto de vista de uma psicologia objetiva, tem de ser realizável num material determinado, que ë semiõtico (signos) - seja ele palavra, desenho, pintura ou musica. É exatamente na medida dessa exteriorizaçao, cuja orientaçao e predominan- temente social, que se dá a modelagem ideológica da consciên-
~ cia, a sua diferenciaçao.
A atividade mental, desde o início orientada para a Êx- pressão (a exteriorização, a consecução, o ponto de chegada da atividade), por sua vez passa a exercer
um efeito reversivo sobre a atividade mental: ela põe-se a estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda mais definida e
' mais estável (BAKHTIN, l98l:ll8).
Chegamos aqui ao ponto fundamental, reiterado nos dois seguintes trechos:
Não_ê a atividade mental que organiza a expreâ são, mas, ao contrário, ê'a expressão que or- ganiza a atividade mental, que a modela e de- termina sua orientação (ibid., p.ll2).
_. ø nu ... nao e tanto a expressao que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo inte- rior que se adapta às possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e orientações pos siveis (ibid., p.ll8).
Nesse sentido, ë ilustrativo, se bem que altamente alegõrico, o que nos mostra George ORWELL em sua ficção "l984" (conforme
SOUZA FILHO, 1984), em que contrapõe o Newspeak (Nova Fala) ao
Oldspeak (Velha Fala), sendo aquela uma lingua artificial des- tinada a substituir esta - natural. A nova língua ë construida de tal forma que impossibilita expressar o que ê inconveniente do ponto de vista dos governantes, empobrecendo de modo geral
43
o pensamento, impedindo a consciência crítica (fechando-lhe as
opções) e o dizer desafiante de uma ordem instituída. O News-
peak, desse modo, passa a orientar a vida interior, exerce um
controle mental. Em outras palavras, a linguagem
pode ser u instrumento de poder e manipulaçao ideológica, muito diferente do meio de comu- nicação cooperativo e neutro que freqüentemen- te supõe-se ser (SOUZA FILHO, l984:96).
Na mesma ordem geral de idéias, introduzimos a seguir uma dis-
cussão sobre a norma na sociedade em geral e'na linguagem, ad-
mitido que uma ideologia ë necessariamente veiculada, ou me-~
lhor, a norma manifesta uma ideologia - pondo-se em questao a
norma, não simplesmente para rejeitã-la, mas para delinear-lhe
os contornos para entender a sua natureza, em primeiro lugar.
Depois, como diz LEYLA PERRONE-MOISÉS¿analisando Roland BAR-
THES «,In BARTHÉS: aulab'talvez combater estereotipos;
... o trabalho de BARTHES, como o de todo es- critor, se efetua na linguagem e, para ele, transformar o mundo ê transformar a linguagem, combater suas escleroses e resistir a seus a- comodamentos (Aula(postãcio):58).
É que, no caso, os aäereõtipos são veículos da ideologia(aqui,
no sentido menos neutro do tempo), perpetuando
a inconsciência dos seres falantes com relação- a suas verdadeiras condições de fala (de vi- da)... (Aula:58).
_ Dino PRETI, em seu "Sociolingüísticaz os níveis de fa-
la" (l974:34), discutindo os fatores de unificação lingüística
relacionados a uma norma vigente, apresenta os meios de comu-
nicação de massa como os mais importantes atuando sobre o uso
e a norma,
... criando (pelo menos, em nossos dias) V um
44
verdadeiro condicionamento lingüístico e até social. Eles agem, não apenas no sentido posi- tivo, divulgando a língua comum, a norma geral das comunidades cultas, contribuindo para a nivelação das estruturas e do léxico, mas tam- bém, lamentavelmente, sobre o próprio locutor, no sentido de restringir-lhe as maneiras de dizer, diminuir-lhe as possibilidades criati- vas na linguagem, automatizâ-lo, fazendo-o pen
. sar, falar e, conseqüentemente, agir dentro de padrões predeterminados.
i Como diz TERWILLIGER, em última instância, um uso não
seletivo, não plenamente consciente da linguagem - um uso ori-
entado, imposto, que rouba ao locutor, no caso, a sua persona-
lidade.
E acrescente-se, seguindo a citação de PRETI (ibid., p.
34):
Este condicionamento se processa, em particu- lar, quando estes meios estão a serviço da so- ciedade de consuo.
A linguagem se presta maravilhosamente ao condiciona-
mento social, despersonalizando, desarraigando "hábitos lin-
güísticos seculares" e uniformizando "o próprio ritmo da lín-
gua", segundo PRETI. Se PRETI crê nisso, ê que ele crê igual-
mente na veracidade da hipótese de WHORF.
A seguinte afirmação, ainda de PRETI (ibid., p.3l), ë
ainda mais incisiva:
~ A acomodaçao do indivíduo a uma norma lingüís- tica pode leva-lo a um condicionamento na pro- pria articulaçao de seus pensamentos e de
. I
certa forma, a'u condicionamento do proprio pensamento.
Quer dizer: se hã um ensino da linguagem comum, se hä uma nor
ma, e, portanto, o anelo de atingir u ideal, o falante comu
(ou aquele que sente necessidade de se comunicar) pode ser le-
vado a entrar no jogo "militar" imposto pela cultura e pode-se
45
entender cultura, aqui, nos dois sentidos: o antropológico e o social (instrução e educação).
Considerando assim a norma - em seu horizonte mais largo - fica entendido que a lingua nao pode ser dissociadarkm outros elementos que, com ela, constituem as bases da intera- ção simbólica na sociedade. Sendo ela mesma, inevitavelmente ,
organizada segundo regras que enquadram e condicionam o com- portamento individual, ela impoe esquemas de comportamento. Stanley ALÊONG (1983), trabalhando normas lingüísticas e nor- mas sociais, propõe, para explicar as regularidades de compor- tamento lingüístico numa sociedade, os pontos seguintes (em resumo):
. As instituições sociais (família, escola direito di- _
. 0 I
visão de trabalho) são as formações básicas da organização so- cial.
. A vida social se constitui de interações contínuas en tre indivíduos, os quais têm sua prõpria identidade e uma iden tidade social, que lhe confere determinado status, uma posição na estrutura hierãrquica - onde assumem deveres.
. O estado de consciência do indivíduo (a percepção de si mesmo, dos outros e da situaçao) e condicionada pela situa- ção objetiva na qual se encontra (Cf. ALÉONG, l983:257).
A partir destes pontos, analisando o comportamento so- cial em suas facetas, ALÉONG tenta estabelecer uma distinção entre o normal e o normativo. Normativo seria
um ideal definido por julgamento de valor e pe la presença de um elemento de reflexão cons- ciente por parte das pessoas interessadas; e normal seria definido
46
no sentido matemático de freqüencia real dos comportamentos observados (ibid., p.257).
Considerando as possibilidades estruturais de variação que toda lingua comporta, a norma pode ser encarada como
c produto de uma hierarquia das múltiplas for mas variantes possíveis segundo uma escala de valores respeitando a conveniencia de uma forma lingüística em relação ãs exigencias da interação lingüística (ibid., p.260).
Daí se conclui que não há uma única norma, ao contrá- rio, de acordo com os julgamentos o termo vai, de fato, desig- nar uma variedade de lín ua ue em certo momento, se im õe e 9 z
¢~ passa a ser uma língua de referencia, medida de qualquer com- portamento - a língua correta a qual, indubitavelmente, ë ar- bitrária, se bem que apareça num dado momento, como "lei funda da na ordem natural".
Mas a distinção mais produtiva feita aqui ë aquela en- tre normas explícitas e normas implícitas, levando-se em conta a existência de uma lei arbitrária, tal como acima definida a norma, que compreende então um conjunto de formas resultantes de elaboração consciente, de codificação e prescrição (ideal), mas, simultaneamente, a existência de formas que não são obje- to de freqüente reflexao ou de um esforço de codificação, e
representam os usos concretos na sociedade imediata. Trata-se especialmente do código oral, sem a rigidez do cõdigo escrito. Essa ultima noção leva a ver no comportamento lingüístico uma manifestação de normas sociais que fundamentam toda a intera- ção social. Quer dizer: as pessoas não falam ao acaso - seus usos podem ser compreendidos e explicados seja pelo exame '~da
histõria da língua seja pela integraçao social dos locutores ubid. , pp.2õ1-2) .
47
A reconsiderar a questão da gramaticalidade proposta na teoria transformacional, e julgando as críticas e contra- críticas sobre a identidade gramaticalidade/normatividade. (Ver, por exemplo, Yves-Char1sMORIN & Marie-Christine PARET, 1983:
Q 179 ss.)2 - posta ã parte, para analise mais profunda, a idéia de que o modelo gerativo investe no indivíduo idealizado e não no representante ideal de uma comunidade -,, parece certo que o modelo gerativo repousa na idéia de norma implícita, aqui co- locada, mais que naquela de norma explícita, apesar de que es- ta, e não a outra, saliente o ideal do comportamento lingüíst_i_ co. A norma implícita se configura pelo real, representando o normal na comunidade, ao passo que a norma explícita represen- ta o normativo.
No caso, o modelo gerativo o que faz ê idealizar teori- camente o indivíduo real (toda teoria exige um determinado grau de abstração).
É bastante fãcil, contudo, aceitar e compreender esta colocação do ponto de vista teórico. Porém, entre normal e normativo hã imbricaçoes - e o normativo, apresentando-se como lei imperativa, certamente contribuirá na expressão do normal. Certamente que todo comportamento é regido por normas sociais,
L 1 I e o real lin üístico res nde as ooerçoes sociais mas na me- g I I
dida em que o estudioso, que analisa por introspecção, é um indivíduo escolado, seus juízos de gramaticalidade incorpora- rão inevitavelmente as restrições legais do código arbitrãrio idealizado .
2Para Yva-Charles NDRIN & Marie-C1¬.ristine PAREEI' ocorre una <I>nfLBão na crítica a Chamsky, quarfio se identifica rormatividade e grar.aticalida'1e. "Este modelo é un modelo abstrato,_ideaJ_izado, do irdivídua real, i
que, . ele, não está nuna sociedade homogenea, que ten limitaçoes de memória , etc. , e não de una comunidade lingüística" (p.l94) . Trata-se, pois, para els, de un irdivídu) idealizado, e mo de un- representante ideal de una comunidade lingüística.
48
_
Aliás, essa observação se inclui na conclusao dos auto-
res. Dois universos de regras coexistem entrelaçando-se, esta-
belecendo-se relações entre o real e o ideal, o inconsciente -›
e 0 consciente. As regras da norma explícita serao regras Ên-
tre outras regras sociais. De qualquer modo, em toda parte o
ideológico responde ao lingüístico. Retornaremos aexma questão
da norma na quarta parte deste capítulo (Normatividade na gra-
mática)._
*Finalmente, abrindo uma questão a ser discutida também
posteriormente, devemos reconhecer a existência de um tipo de
discurso da instituição escola, através do qual ë veiculada a
ideologia - o discurso pedagógico, segundo tipologia de ORLAN-
DI (l983:2l), assim o define:
... u discurso circular, isto é, um dizer ins- titucionalizado, sobre as coisas, que se garan- te, garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: a escola.
Esta ë, ao que parece, uma forma de linguagem de coman-
do, conforme se delineou acima.
3. A Linguagem e seu Funcionamento
Nesta parte apresentaremos aspectos gerais da díade lin .-
guagem humana/linguagem animal, focalizando as limitaçoes da
linguagem animal como comunicação, e das funções da linguagem
e da estilistica, na tentativa de localizar a interjeiçao como
representante máxima da expressividade, do ponto de vista de
uma sintaxe instituída.
49
3.1. Linguagem Humana e Linguagem Animal
As inúmeras línguas de que temos notícias até o momento
se unem entre si e se diferenciam de todo e qualquer outro
meio de comunicação pelo fato de serem duplamente articuladas, segundo caracterizaçao de MARTINET (1976 e 1970).
A distinção mais marcada entre linguagem humana e lin-
guagem animal estã, pois, na articulaçao (a linguagem humana
não ê sô articulada, como ë duplamente articulada) em dois pla nos:
l) os enunciados são articulados em palavras e monemas
(unidades mínimas significativas); 2) os monemas são articulados em unidades sonoras (uni-
dades mínimas distintivas) ou fonemas.~ A funçao primeira da linguagem humana, a partir desta
caracterização, feita dentro do estruturalismo, é a comunica-
ção, que pode estar sob a forma de uma afirmação, de uma per-
gunta, de um pedido ou de uma ordem.
Como os homens, os animais também se comunicam utili-
zando alguns de seus órgãos;
seus gritos e gestos [...] traduzem estados psíquicos de desejo, de alegria, de medo, ou fornecem indicações essenciais ã vida do gru- po ou do casal,... (LEROY, l97l:l33).
us
Porém, a linguagem animal ë limitada, em decorrencia da sua
incapacidade quanto ã articulação das palavras, limitando-se a
sons que refletem um estado instintivo. O signo não se diferen
cia da coisa significada e a expressão ë global, sem condiçõesA
de ser analisada (de acordo com os parametros da linguagem humana).
Dentro do ecossistema, uma população de animais se in-
50
fluencia mutuamente através de manifestações de sinais (sons ou gestos). exteriorizando medo, prazer, cólera, etc. Vários dos autores consultados por nós, entre eles LOPES (l980:35ss.L têm registrado que Karl von FRISCH (na década de 50) publicou um livro relatando a vida das abelhas. A experiênciado biólogo de Munique narra que a obreira, após encontrar uma fonte de alimento, retorna ã colmeia e passa essa informaçao às demais,
- . . 3. atraves de dois tipos de dança . Edward LOPES conclui que, por
mais preciso que seja o sistema de comunicação entre as .abe- lhas, não passa de uma
organização físico-biológico.das abelhas, her- dada com a programação genética da espécie (LOPES, l980:37).' Este fato, no entanto, acrescenta LOPES, não ocorre com a lin- guagem humana porque o homem aprende a sua língua.
Um outro fator que diferencia a linguagem humana de ani mal é ue esta é "invariãvel, no tem o e no es aço" fornecen- q 1
do sempre o mesmo tipo de informação. Somente a linguagem hu- mana ë capaz de associar sentidos diferentes com
q
diferentes experiências e situações.
A linguagem dos animais é composta de índices, nao se formando por meio de signos com significado diferente do seu significante, sendo, portanto, formada por dados físicos liga-
-. ~ dos entre si por causalidade natural. Nao se decompoe, igual- mente, em unidades significativas; nem é capaz de ser analisa da em unidades distintivas: ela não é articulada.
Diz JAKOBSON (l973:9) que nem mesmo a comunicaçao es- pontãnea dos animais e suas respostas aos treinadores mostra
ãkn-tamim, ammrefeáània ãIUJguag1das abáüms,c>estuk>de.BHmH¶ISTE "Omnnuncation anünale et langage hunain" (l966:56-62).
51
qualquer
correspondência ä noção fundamental de oração, ou a qualquer outro caminho lingüístico ad- quirido pelas crianças de dois a três anos juntamente com o uso de orações.
De modo geral, assegura ele,
ë tão profunda a brecha entre os mais altos pa drões "zoo-semiõticos" e os mais elementares es tâgios do processo de transição de infância ã plena aquisição da língua, que as marcantesdeã semelhanças pesam muito mais do que as escas- sas correspondências existentes (ibid., p.l0).
Segundo MATTOSO CAMARA Jr., em "Princípios de lingüís-
tica geral" (l974:22-23), não se pode dissociar linguagem e
atividade mental humana. A filosofia moderna, diz MATTOSO, tem
demHBtr¿k,qu¿¿fLux¿@gan não ë somente um recurso para expres- sar pensamentos, emoções e volições. Ela é o meio essencial pa ra se chegar a esses estados mentais.
No limite da linguagem humana e da linguagem animal ve- ~ ~ mos, segundo colocaçao por alguns autores, a localizaçao da
interjeição._
Leonor Scliar CABRAL (l979:37) afirma que "as interjei-
ções, a rigor, não são linguagem articulada". CASSIRÊFÂ J em
PENNA (l976:48-49), vã uma distância suficientemente grande en tre a interjeição e a palavra, para afirmar que a interjeição ê a negação da linguagem. Segundo ele, só a empregamos quando
não queremos ou não podemos falar. PENNA também cita E. BEN-
VENISTE, que diz faltar ã linguagem animal o caráter do diálo- gOO
Para P. CHAUCHARD (l967:l5), a linguagem ê a melhor das invenções humanas:
52
o homem só ë sapiens porque ë loquens, porque soube aprender a falar.
No segundo capítulo de sua obra "Linguagem e pensamen- to" (l967:28 ss.) CHAUCHARD, analisando "A linguagem animal
do homem", diz que, se estamos em contato direto e obrigatório com pessoas que desconhecem a nossa lingua e nós a delas e so-
mos forçados a nos comunicar, recorremos a gestos, mímicas ou
gritos que formam uma linguagem universal muito próxima da linguagem animal. O mesmo ocorreria por ocasião de emoções
~ fortes, pois nao precisamos de palavras para transmitir nossa
alegria, nosso pesar, nossas angústias. As interjeições e cer- ~ f ¢ ~ tas imitaçoes de ruidos ai estao para nos auxiliar.
PENNA indica, alicerçado em CHAUCHARD (l965),cinco par-
ticularidades que diferenciam a linguagem humana da animal: .~
l) ë articulada, sendo de competencia do ser humano
reunir sons com a finalidade de formar estruturas complexas;
2) ë portadora de um potencial imitativo e bastante sig nificativo, tornando-se superior ä de qualquer vertebrado;
3) ë, sobretudo, social. O homem necessita de comuni-
car-se, por isso, acelera o aperfeiçoamento verbal;
4) Além de ser expressiva de estados emocionais, ë dg-
signativa de objetos e descritiva da realidade; ~ ~
5) nao se esgotando na funçao comunicativa porque, a-
través da interiorização, ela se converte em pensamento.
Hernann PAUL (l970)“em."Princípios Fundamentais da Histišria da
Lin ua* desenvolvendo o tema da criação es ntãnea, afirma que Q 1 P0
ela, por si so, nao e suficiente para a criaçao de um sistema
lingüístico. E salienta a condição de retenção na memória da-
53
quilo que foi criado. O falar e o compreender se baseiam na re produção, Isto, porém, não ë o essencial, diz ele, pois também os animais utilizam gritos em que se deve reconhecer algo de tradicional - não puramente espontâneo. Assim, o limite, para ele, aparece somente quando consideramos a associação de pala- vras compondo frase. Ê o que lhe permite libertar-se do objeto imediato de contemplação. Vale, aqui, nesta perspectiva, sa- lientar que, para PAUL, no processo de comunicação voluntária colaborou a "intenção da comunicação e não a intenção de criar um instrumento permanente de comunicação" (Cf. l970:cap. IX).
Em resumo, nessa comparação percebemos qual tem sido a perspectiva de análise da interjeição. Com base na caracte- rística da articulação, que tem fundamentado a compreensão da
~ -d linguagem humana, nao e de estranhar tenha ela si o margina-
lizada também nas gramãticas de cunho normativo.
O problema se localiza na idêia de que a interjeição,tal como entrevista aqui, ë colocada no limite da linguagem arti- culada com a linguagem nao articulada, ou seja, nao caracteriâ ticamente humana. Nem todos, certamente, manifestam o mesmo nível de rejeição. Nesse ponto, vale anotar a observação de SAID ALI (l97l:276) com referência a interjeições tais como ai! ah! ohl: enquanto apenas gritos involuntârios, de dor,rai- va, pasmo, etc., localiza-as "aquém do domínio da linguagem". Se utilizadas, porém,
de propósito para impressionar melhor o indivi- duo ouvinte e provocar nele a sensação que tais gritos costumam provocar, seu valor é, para ele, proposicional. Avançando sobre outros gramãticos, afirma que não é conditio sine qua non da proposi- ção a analisabilidade, mas a própria circunstância de exprimir
3;
54
pensamento ou sentimento. É a intenção, acrescentamos, que pa-
rece elemento indispensável no tratamento desses valores limí-
trofes.
Esta perspectiva do problema será focalizadQ.no capítu-
lo III, quando discutimos o valor interjectivo nos enunciados.
3.2. Linguagem e Estilistica
GUIRAUD interpreta o estilo como "uma maneira de escre-
ver", ou seja, "o modo de escrever próprio de um escritor, de
um gênero, de uma época" (GUIRAUD, l978:9). '
A palavra estilg tem sua origem em "stillus", signifi-
cando punção ou estilete muito usado para escrever em tabui-
nhas. O "stillus" foi utilizado antes da época do papel e da
pena de ganso. Por isso, GUIRAUD definiu estilo como maneira
de escrever. O conceito de estilo se ligou especificamente ä
língua literária, mais exatamente¡a &a1aspecto eëpressivo. Daí
o lema francês (séc. XVIII),"le style c'est l'homme même".Nes-~
se sentido, portanto, o escritor utiliza os meios de expressao
para fins literários, enquanto que a gramática deve se preo-
cupar com o sentido e a correção das formas.
No período clássico, estilo era definido como "um não
sei quê", enfatizando a marca da individualidade(?) do sujeito
na fala. Porém, era tarefa da estilistica tornar operatõria ~ f ~
esta noçao ideologica, passando-se da intuiçao ao saber.
A tradição ocidental fundamenta o estilo em duas dico-
tomias:
a) tema versus predicado, isto ë,enunciado versus enunciaçao,
55
destacando o sujeito em face ao seu enunciado;
b) espirito versus matéria, atribuindo ã linguagem um aspecto
denotativo e um conotativo.
Na antigüidade, a "maneira de escrever" era o objeto da
Retórica, que, por sua vez, é `
uma arte da expressão literária e uma norma, um instrumento crítico para a apreciação dos esti- los individuais e da arte dos grandes escrito- res (GUIRAUD, l978:l3).
Assim definida chegou até nós a Retórica vinda da Idade Média
e dos séculos clássicos. No entanto, a partir do século XVIII .. .
_ 4 . iniciou-se o processo de sua decadencia em virtude da nova
concepçao da arte e da linguagem, nada surgindo em seu lugar.
“ A estilistica seria então uma espécie de retórica moder- › @ 1
\ " I 1 u n 1
na, "uma ciencia da expressao e uma crítica dos estilos indivi-
duais" (GUIRAUD, l978:7). O primeiro a empregar o termo foi
NOVALIS, confundindo-a com Retórica, uma vez que os tratados
latinos nao passavam de reuniões de regras e de exemplos.
Na medida em que a noçao de estilo foi se sistematizando,
muitos confundtam4m,cmm estilística. Contudo, estilística é,
geralmente, concebida como o "estudo da expressão lingüística"e
estilo como a "maneira de exprimir o pensamento por intermédio
da linguagem",(id., ibid., p.9).
Estritamente, "a expressão do pensamento" é deduzida co-
mo a utilização do "léxico e das estruturas gramaticais", po-
dendo significar, igualmente, colaboraçao, desenvolvimento e
exposição do pensamento e, ainda, como a obra inteira. Diante
4Terhasidoc>dogmmúsmo racunEúistaiJáciak>gorlxscafixä a ganda amsa dasa decadência. Una arte que se utilize de instrumentos de persuasão .fi- ca,eHmã3,ohummadda.
56
de tão variados significados ë.que alguns estilistas ficam no
nível lingüístico da expressão e outros norteiam-se para a ci- ._ encia da literatura.
Hã quem considere o estilo apenas como "mero' aspecto
estético da expressão literária" (ibid., p.l0), excluindo a
língua vulgar por considerã-la simplesmente como instrumento
de comunicação. Mas, hã também quem considere a língua popular de muita importância ao estilo.
Alguns estudiosos do assuntovaan no estilo "a escola
consciente dos meios de expressao", enquanto muitos se fixam
na identificação das "forças obscuras" informantes da lingua-
gem do subconsciente.(cf. ibid., p.ll).
Os dicionários comuns da Língua Portuguesa definem es-
tilo como \
conjunto das qualidades de expressao, caracte- rísticas de um autor ou de uma epoca, na his- toria da literatura, das belas-artes, da musi- ca.
e estilística como
tratado das diferentes formas ou especies de estilo e dos preceitos concernentes a cada uma delas (AURELIO B. DE HOLLANDA FERREIRA).
Nesse caso, estilo e estilistica se relacionam como conteúdo
e continente;
MATTOSO CÂMARA JR. define a estilística como disciplina
responsável pela expressão em seu sentido estrito de expressi-
vidade da linguagem, ou seja, a capacidade que as palavras têm
de emocionar e sugestionar, enquanto que a gramática estuda
as formas lingüísticas com o propósito de estabelecer a com-
preensão na comunicação lingüística. Acrescenta, afirmando,que
a estilística considera a linguagem afetiva e a gramática a
57
linguagem ' ' intelectiva
Por considerar a emoção e a sugestão fato inerente ã es tilística, preconiza a transmissao da expressividade através de:
- processos fõnicos (estilistica fõnica) dando ênfase ã as expressividade do material fonico dos vocábulos isolados ou
agrupados); - associações significativas (estilística semântica)
responsável pela conotação concernente ao valor afetivo prõ- prio â significação das palavras;
- construções sintãticas (estilística sintãtica) englo- bando as variantes de colocação com objetivo de causar emoção ou, simplesmente, de sugestionar o próximo (o leitor).
~ f : _ f Seria entao tarefa da estilistica litetaria, com auxi- lio dos recursos literários, detectar:
- a linguagem pessoal, ou seja, o estilo do escritor; - a personalidade e a maneira de compreender e sentir
a vida..
Caberia, igualmente, ã estilística-o estudo das figuras de linguagem.
A estilistica como tal ê uma ciência bastante recente (inicio do século XX), sendo Charles BALLY5 o responsável por sua criação, e por uma definição explícita do seu campo de a- tuação - que ele restringe, evidenciando-se uma posição que não ocorre sistematicamente hoje; estilistica e estilo, aqui, na verdade se opõem. Interessa-nos essa posição pelo fato de
5Sua primeira obra foi Prêcis de stylistique (l905); depois vieram o Traité de stylistique française (l909), le largaqe et la vie (1913) e Linguisti- que gçnerale et linguistigue française (l932);¬qúe tem una traiuçãa rusa (1955 .
Í
58
que, atentando para a potencialidade afetivo-expressiva da lín gua, BALLY nos aponta o caminho para a apreensão de funções, na linguagem, que não seriam meramente informativas - ou co- municativas no sentido estrito.
No prefácio de "Traitë de stylistique française", BALLY (primeiro sucessor de SAUSSURE na Universidade de Genebra) a- centua que a ' ' i não deve ser confundida estilist ca
nem com a arte de escrever, nem com a retórica, nem com a literatura, nem com a historia da lín gua.
Segundo ele, a lingua não ê só pensamento, mas, também senti- mentos e volições. Temos aqui uma _
' influência .dupla: a linguagem expressa fatos da sensibilidade e ao mesmo tempo os fatos de linguagem atuam sobre a sensibilidade. Faz da estilística uma ciencia da língua e não da fala. Por conseguinte, não se confunde com o estilo, que ê individual e entra, como estudo, no campo da Estética e da Crítica Literá- ria. Baseado neste princípio, propôs-se a estudar os efeitos da afetividade nos atos de fala bem como os processos utiliza- dos pelas línguas para fazer brotar a carga emocional inserida no enunciado. A preocupaçao de BALLY foi chamar atenção para o aspecto afetivo do discurso. Igualmente, preoonizou que era tarefa do lingüista preocupar-se com o lado expressivo dos fa- tos de linguagem, uma vez que a linguagem ë um fim e nao um meio.
Atentar-se-ã para o carãter de " ' que BALLY consciencia vê implicado no estilo: cabe ao escritor adequar os meios que a língua põe ã disposição quando persegue determinados objeti- vos. Daí um efeito estético como resultado. Literatura e arte em geral se moveriam, então, em torno deste conceito. Contra-
59
riamente, BALLY busca estudar os meios lingüísticos de expres- são passíveis de utilizaçao por toda uma comunidade, meios es- tes considerados em seu conteúdo afetivo, ou, enfatizando o que se disse acima,
... a expressão dos fatos da sensibilidade pela linguagem e a açao dos fatos de linguagem sobre a ssnsibi1idade.6
Há de se notar também, aqui - retomaremos isto mais a- diante na discussao da expressividade - a observação de que um termo ou seqüência especialmente expressivo pode se "des- gastar" com o tempo. Tonalidades afetivas podem ser substituí- das por elementos "novos" (de alguma forma) mais adequados â
~ expressão afetiva. É que, pela gramaticalizaçao, incorpora-se, institui-se alguma coisa que tinha, na sua origem, o sabor do espontâneo. É esse "jogo de processos espontâneos e coletivos" que centralizou a atençao de BALLY. O que significa que, na medida em que a linguagem espontânea tenda a se direcionar pa- ra a expressão do belo, deixarâ de ser objeto da estilística. Assim sendo, partir-se-â da linguagem falada cotidiana. Como seguidor de SAUSSURE, BALLY utilizará um método sõcio-psicolÕ- gioo (os estados afetivos seriam comuns aos usuários das lin- guas). A questâo ë, pois, descobrir que processos lingüísticos existem potenciabnente na lingua para o atingimento da expres- sividade. Nas palavras de uATToso CÁMARA JR. (1979z118), a es- tilistica de BALLY, pois, serã
um meio de descobrir os padroes expressivos que, numa determinada época, são empregados para co- municar o movimento do pensamento e o sentimen- to dos falantes e de estudar os efeitos espon- taneamente produzidos nos ouvintes pelo uso des
p
GBALLY, Traitê‹ie stylistique française I, apui Iorgu IOHDAN, 1982, p.42l - rota 70.
60
tes padrões.
Nesse sentido, gostariamos de colocar que KLOEPFER, em
seu Poética e lingüística (1984), fazendo referência ã funçao
poética e seu lugar nos estudos da linguagem, defende o retro- cesso ã manifestação lingüística do dia-a-dia, Aqui, o falan-
te, em busca de meios para atingir determinados fins, faz o
"sistema" lingüístico funcionar, adaptando-o também para a
invenção semiótica. 4
_
Iorgu IORDAN (1982) salienta, comparando a estilisti-
ca de BALLY com a de SPITZER (da escola de Vossler), que a es-
tilistica de SPITZER "ocupa ua posição intermédia entre a es- tilistica puramente lingüística de BALLY e os estudos sobre o
estilo das obras literárias" (p.426-7). Esta posição leva a
lembrar também as considerações de SILVIO ELIA (l978:74), na
medida em que é simpatizante de Vossler-Spitzer. Para ele, é
tarefa da ESTILÍSTICA
... estudar a tensão entre a língua e a fala,se- parar, ao longo de um texto, o que representa a vitoria da expressao sobre a inercia do `esquema, antepor, o fazer ao fato, a energeia ao ergon, a. presença de uma personalidade a neutralidade co- letiva,...
Dai, em outros termos, insistir na tensão entre o esti-
lo e a gramática, entre o espírito criador e as normas grama-
ticais. Na verdade, ELIA não acredita num sistema afetivo ou
expressivo complementando o "sistema de fundo intelectivo",co-
mo na trajetória teórica de BALLY. A estilística terá, para
ele, a tarefa de analisar o estilo como "deformação" do siste-
ma gramatical, resultando de busca intencional. O que signifi-
ca que, nos termos de BALLY, entramos no campo da estética e
da critica literária. Q detalhe importante ` aqui é que ELIÀ
61
não restringe a busca da expressão ao literário stricto sensu: admite que a intencionalidade expressiva pode ser detectada na linguagem corriqueira, Portanto, para ele, o campo da Estilis- tica.ë mais abrangente que aquele determinado por BALLY.
O próprio Iorgu IORDAN, manifestando preferencia pela postura de BALLY ("mais próxima da verdadeira lingüística"Ljul ga-a restritiva demais. A julgar pelos autores que comenta (CRESSOT, MAROUZEAU), não seria desejável excluir a expressão literária do domínio da Estilística. Parece que, de alguma forma, a natureza do fenómeno não ë diferente na literatura e
na linguagem cotidiana - haveria mais sistematicidade ou me- nos sistematicidade (ou, usando os termos dos pólos opositivos: mais espontaneidade ou menos espontaneidade nos modos de ex-
pressão da afetividade.) BALLY, contudo, insiste no aspectoes- pontáneo da linguagem, e por isto mesmo o discute do ponto de vista de consciência/inconsciência. A expressão natural esta- ria orientada para o pólo da inconsciência, no sentido de na-
turalidade, não escolha proposital. Preferimos dizer orientada porque, como em toda parte, as fronteiras só podem ser traça- das arbitrariamente, e nosso interesse mais próximo ê exata- mente detectar a expressividade em suas modulações, em sua di- nâmica, em seu vaivëm do mais para menos e do menos para mais. Iorgu IORDAN admite isso; que a consciência influencia a lín-
~ ` ~ f gua falada, com variaçoes proporcionais a educaçao do indivi- duo (Cf. IORDAN, l982:430 - nota de rodapé).
à obra de BALLY certamente foram dirigidas críticas, e
elas se prenderam freqüentemente a esse cuidado que ele teve de manter - seguindo SAUSSURE - distinções tão marcadas:lín- gua escrita/lingua falada; espontâneo/intencional; consciente/ inconsciente; linguagem comu/linguagem literária, segundo se
62
pode depreender. Depois, considerando que BALLY teve preocupa-
ções didáticas, na medida em que era professor, também recebeu critica por falhas metodológicas de exposiçao teõrica - que
seriam resultado da sua preocupação com a prática de ensino do Q. frances.
O que BALLY chamou de Estilistica corresponde, grosso ` ... ... ...7 ._ modo, em BUHLER as funçoes de expressao e apelaçao , funçoes
da linguagem como sendo valores expressivos e valores impressi vos do enunciado. Deduz-se que tanto o conteúdo cognitivo como
a representação podem ser os mesmos em: Silêncio! ou Por fa-
vor, fa§a silêncio! mas as atitudes do falante são bastan-
te diferentes. No segundo exemplo existe explicitamente senti-
mento junto com o pedido de fazer silêncio, possibilitando ao
ouvinte a oportunidade de experimentar a sensação da advertên-
cia, enquanto que no primeiro há uma comunicaçao mais objeti-
va. Logo, constatamos a presença da expressividade (Por favor,
faça silênciol) e impressividade (Silênciol).
Pertence ã estilistica,
além do inventário e interpretação dos recursos expressivos - impressivos da língua, a verifi- cação ou a denüncia do ajustamento ou desacor- do entre a escolha e a situação lingüisticacnn- creta (MEIO, l976:25).
Como se vê, a Estilistica ê que conduz a língua a uma
pragmática, ë a sua válvula de escape para o mundo real/ambien
te.
Em síntese, para MELO, a gramática, buscando o sistema,
faz a anatomia da língua; a Estilística, sua fisiologia, preo-
cupando-se com funções ou valores expressivos e impressivos.
7Ver 3.3, a seguir, para a explicitação dessas funções.
63
Com esta caracterização (atentando-se para impressivos), MELO está se oolocando contra a perspectiva de BALLY; ele faz
apelo, aqui, a uma utilização consciente de recursos - o su-
jeito elege possibilidades lingüísticas com fins determinados. O estilo, aqui, exige conhecimento, reguinte, reinvenção. São
termos de MELO (Cf. l976:23-4).
OOSERIU (1979), estabelecendo a distinção tripartida SISTEMA/NORMA/FALAR na realidade unitária da linguagem (res-
peitando a idéia de ver na linguagem atividade basicamente
criadora), mostra, a partir desta tricotomia, que se justifi-
cam as várias orientações da lingüística. Se valorizarmos a
originalidade expressiva do falante teremos um aspecto estéti- co; se nos fixarmos na norma, teremos uma história da cultura. A estética se configura na linguagem como uma estilistica. A-
parece, assim, uma primeira ampla distinção entre a afetivida- de (ou emotividade) e a inteletividade ou expressividade e ex-
pressão. Seguindo os termos de COSERIU, distinguir-se-á uma
estilistica da lingua e uma estilistica do falar - uma consi- derando a utilização normal das possibilidades expressivas do
sistema, a outra se restringindo aos efeitos de sentido parti- culares ue o individuo de conse uir num texto usando a lin-9
gua.
A estilistica de BALLY corresponde ã primeira destas
modalidades, cujo conjunto deve remeter ã distinçao feita por
SAUSSURE entre uma lingüística interna e uma lingüística ex-
terna. Assim, teriamos uma estilistica interna (da língua) e
uma externa (incluindo comparaçao de meios de expressao entre
várias linguas, ou tipos expressivos numa mesma lingua, ou le-
vando em conta circunstâncias de emprego e intenções específi-
cas em cada caso, ou ainda efeitos produzidos no falante e no
64
ouvinte). O objetivo da estilística interna, que BALLY privi- legia, é, no caso,
~ ... fixar as relaçoes que se estabelecem entre a fala e o pensamento no falante ou ouvinte: ela estuda a língua em suas relações com a que ela encontra aí expressa é quase sempre afeti- vo de alguma forma (BALLY, apud IORDAN, 1982: 422. Nota 70).
Mais precisamente, BALLY teria a preocupação de mostrar que o
mecanismo que aciona o estilo jã se encontra embutido "nas for mas mais banais da língua" (id., ibid., p.422).
G. GUILLAUME rejeita a limitação da Estilística ao do- mínio da língua como faz BALLY, por considerar que a lingua-
~ 4 ~ gem em si nao e inteligente, mas a utilizaçao que dela faze-
mos.
Para R. JAKOBSON (1963) a Estilística é também o estudo científico do estudo das obras literãrias, entendendo ele que a lingüística tem tudo a ver com a poética, dado que esta diz
respeito a problemas de estrutura lingüística.
Como a lingüística é a ciência global das es- truturas lingüísticas, a poética pode ser con- siderada como fazendo parte integrante da lin- güística (p.210).
Não admite, pois, que a poética seja vista em oposição ã lin-
güística, cabendo-lhe apenas julgar o valor de obras literã~ rias. E hã, aqui, uma afirmaçao de JAKOBSON que nos interessa
de perto. Citamos:
A insistencia em manter a poética separada da lingüística não se justifica senão quando ' o dominio da lingüística se encontra abusivamen- te restringido, por exemplo quando certos lin- güistas vêem na frase a mais alta oonstrução analisãvel, ou quano a esfera da lingüística é confinada unicamente ã gramática, ou unica- mente ãs questões nao semânticas de forma ex-
- 65
terna, ou ainda ao inventário de procedimentos denotativos, com exclusao das variações li- vres (pp.2l2-13).
Na hipótese saussuriana, todo texto pertence á fala,
criação individual, por isso o estilo refere-se a uma norma,
concebido como desvio em relaçao ao código. Em suma, sempre se tratará de "efeitos do estilo sobre o fundo da língua". Ve-
mos aí instituída uma estilística do desvio. Diante de tais
normas estamos sujeitos a cair em puros artefatos (retórica mg dernizada) pois a estilística do desvio tem como princípio fa-
as .., zer do individuo um "epifenomeno", proveniente da reduçao do
texto e do afastamento da pratica do escritor.
Os trabalhos de RIFFATERRE parece se encaixarem na es-
tilística do desvio, pois, segundo ele, "a mensagem exprime
e o estilo sublinha".
A gramática gerativa visualiza o texto como um dialeto
particular, objetivando encontrar as estruturas profundas e
as transformações existentes em sua origem. Portanto, o estilo
ë um modo característico de exibir o aparelho transformacio-
nal de uma língua. No caso, uma "escala de poeticidade" cor- -› responderá a desvios em relaçao á língua padronizada. Conclui-
se que a gramática gerativa contribui para a Estilística no
momento em que seus modelos dao conta das frases agramaticais
não desprovidas de sentido. Estamos ainda numa estilística do
desvio.
Diante do apoio á criatividade dado pela gramática ge- ._ rativa, os escritores contemporâneos veemfalinguagem como ua
matéria de experiências, a obra como uma relação com o mundo
e a poesia como uma maneira de viver.
Temos observado, nas considerações presentes enem toda
66
parte, que a discussão sobre o tema estilística/estilo repousa
numa tensão constante entre disciplinas consideradas indepen-
dentes, perseguindo objetivos distintos (quem sabe?), mas tra-
balhando ambas com a mesma matéria-prima: lingüística e Lite-
ratura (colocando-se ao lado desta, em nova perspectiva, a Se-
miõtica da Literatura). JOHN SPENCER, na Introduçao a Lingüís-
tica e estilg, de sua autoria junto com ENKVIST e GREGORY, la-
menta essa independência - publicado este trabalho pela pri-
meira vez em 1964 (Oxford University Press), ele se refere es-
pecificamente ã lingüística descritiva, que se despreocupou
maximamente dos estudos literários, havendo, mesmo, confronta-
ção entre as duas novas áreas em certos pontos. Considera ele
que justamente com respeito a esses pontos comungde discipli-
nas relacionadas ê que se abre a oportunidade de pesquisa cria
tiva - e de ensino criativo. A perspectiva dos autores desta
obra ê exatamente, dados certos interesses comuns, não traçar
limites rígidos entre os estudos literários e os estudos lin-
güísticos. No caso, o estudo do estilo ë uma área que ganharia
com o trabalho conjunto do lingüista e do estudioso de lite- › A
ratura. Nesse caso, enfatizamos que se faz referencia ao con-
ceito de língua enquanto classe de normas, que seriam o pano
de fundo para a observação do estilo. De fato, tal como SPEN-
CER o apresenta, o estilo de um escritor será visto como "uti-
lização criativa e individual dos recursos da língua que o seu
período, seu dialeto escolhido, seu gênero e seu propósito ne-
le incluso lhe oferecem" (pp.l3-4). O ensaio de ENKVIST, na
mesma obra, ê uma tentativa de definir estilo, partindo da
mesma perspectiva. Ele considera o estilo, operacionalmente,
como *
função do conjunto de razões (ratios)entre as ¢~ , . z -
-*T'-*-'__' freqüencias dos seus itens fonologicos, grama-
67
ticais e léxicos e as freqüências de itens cor- respondentes em uma norma contextualmente rela- cionada (p.43).
Incluem-se aqui, portanto, elementos: probabilidade com referência`a norma; itens lingüísticos contextualizados; fre-
qüéncias contextuais de itens; ocorrência em vários níveis(fo-_ nolõgico, morfolõgico, léxico, sintático). A referencia . ao
contexto, aqui, é excepcionalmente importante, porque ENKVIST
define o contexto em vários níveis: textual, léxico, sintáti-
co,..., esquema composicional, extratextual - aqui entramos
na relação falante/escritor, ouvinte/leitor, com todas as suas
implicações, ou seja, numa pragmática.
Assim é que o estilo aparece numa área de imbrioação da ¡f lingüística (descritiva), da Pragmática e da Estética (níveis
diferentes do processo comunicativo e atitudes para com o pro-
cesso).
A análise estilística se processará, entao, para ENK-
VIST, pela comparação de textos a uma norma contextualmente re lacionada.
Preocupado também em conciliar a disputa entre lingüís-
tas e críticos literários quanto â "essência do estilo, ENK-
VIST propõe uma distinção entre a descrição lingüística de es-
tímulos estilísticos (EL = estilolingüística) e o estudo de
respostas a estes estímulos (EB = estilobehaviorística), que
corresponderão a dois aspectos da Estilística - um pé do lado da lingüística, o outro do lado da literatura.
z Como se percebe, na teoria e na pratica a área é de
tensões. Mas é nesse nível, efetivamente, que a linguagem tem
de ser trabalhada a nível de ensino. A discussao que segue mos trará mais claramente esta problemática.
68
3.3. As Funções da Linguagem
Importa-nos aqui delinear, em seus aspectos mais gerais, os tipos de funções que a linguagem como um todo pode desempe- nhar nas mültiplas utilizações que dela fazemos - por um la-
~- do, para refletirmos sobre essas funçoes, reconhecendo-as ou não; por outro, para avaliar a importância que se tenha dado ao lado expressivo, subjetivo, aos papéis emotivos dessa uti-
lização. Ao lado dessa avaliação, para repensar objetivos ge-
rais de ensino da língua materna em termos de levar em conta
funções tanto comunitárias como individuais da linguagem (por
ex.: transmissão de valores, de conhecimentos - comunicação institucionalizada (cõdigo escrito) e funçoes práticas: ex-
pressão, interação verbal imediata, informação, poesia e meta- linguagem (código oral).
Como veremos, inúmeros pesquisadores nos legaram suas
contribuiçoes sobre as funções da linguagem. Porém, foi com
base em KARL BÚHLER que esses estudos se realizaram. .-1 . Os lingüistas empregam o termo aqui, para de- funçao,
signar os variados papéis que a linguagem pode desempenhar na
economia dos atos verbais.
Admite-se, geralmente, a co-existencia de diversas fun-
ções da linguagem. No entanto, não se quer dizer que todas têm a mesma importância e que se manifestam ao mesmo tempo regidas por fatos do mesmo tipo, pois as funçoes sao exercidas dife-
rentemente e são hierarquizadas conforme a corrente lingüísti-
ca, a Õtica de análise.
Toda mensagem, sengundo LOPES (l980:56), tem um objeti vo especifico, podendo
69
servir para transmitir um conteúdo intelectual, exprimir (ou ocultar) emoções e desejos, para hostilizar ou atrair pessoas, incentivar ou i- nibir contatos e ainda pode, bem simplesmente, servir para evitar 0 silêncio. .
Por isso, se diz que a cada mensagem que se possa atribuir um
sentido determinado, ela focaliza um dos fatores da comunica- ~ \
ÇaO.
Admitimos, de início, que, ao falar, as pessoas adotam
ua forma de comportamento que ë regido por regras; elas rea-
lizam atos de linguagem. Ou seja, elas não fazem apenas enun-~ ciar palavras, formando propcsiçoes que se referem a alguma
coisa; ao mesmo tempo em que isso se processa elas também es- ~ ~ , tao entrando em interaçao social, e afirmam, ou declaram, in
terrogam, instigam, ordenam, prometem, etc. Em outras pala-
vras, usando expressão que se expandiu a partir de AUSTIN (des
de 1962, com "How to do things with words"), efetuam atos ilg- cutörios, que, definindo resumidamente, são atos que realizam
ou tendem a realizar a ação nomeada. Esse processo estã, pois,
necessariamente incorporando a significaçao: nossos atos ver-
bais são feitos para significar algua coisa (Cf. SEARLE,l972),
e portanto apresentam uma força particular, que pode ser reco-
nhecida. Assim, o tratamento das possibilidades funcionais da
linguagem - no sentido delineado acima - deve, atualmentehser
coordenado a esses esforços de estudo dos atos de linguagem i-
niciados pelos filósofos.
Os estudiosos da questão (funções da linguagem) concor-
dam em geral com a importância e supremacia da função de comu-
nicação (ë ela que predomina desde a instauração da lingüísti-
ca estrutural, com Saussure) - comunicaçao entendida como, na teoria da informação,
70
utilização de um código para a transmissão de uma mensagem que constitui a análise de uma ex- periéncia qualquer em unidades semio1õgicas,~ a fim de permitir aos homens entrarem em relação uns com os outros (MARTINET, l976:l45).
A partir da década de sessenta e sobretudo da de setenta,quan-
do_a filosofia da linguagem chama especialmente a atençao dos
lingüistas para os valores enunciativos (atos de linguagem), ë
que se começa a questionar a primazia da linguagem enquanto
instrumento de informação, de comunicação. Assim, vemos surgi-~ rem questoes do tipo: será a linguagem apenas um sistema fe-
chado de signos que criam sentido unicamente pelas suas rela-
ções com outros signos? O que se processa entre o real extra-
lingüístico e a realidade lingüística (questão do referente) ?
~ - ~ ~ .- Nao sera a transmissao de informaçoes uma das funçoes mais es-
pecializadas e mais secundárias da linguagem?
Apresentamos aqui apenas uma resposta, resumindo o pen-
samento de muitos estudiosos:
Se a linguagem falasse apenas ã razão e consti- tuísse, assim, uma ação sobre o entendimento dos homens, então ela seria apenas comunicação. Mas [...] ela também articula o conjunto de rela- ções necessárias da existência. E, neste senti- do, o seu traço fundamental ê a argumentativida de, a retÕrica,... (VOGT, l977:l57).
Por vclta de 1900, K. BUHLER mostra-se um discípulo da
fenomenologia de HUSSERL, o qual dá extrema importância ã si-
tuaçáo no estudo de um determinado tema, constatando que a mu-~ dança da situação do diálogo através das variaçoes prejudicam
ao falante, ouvinte, coisas ou fenômenos, provocando, igual-
mente, variações na sua função.
Em 1929, as tão discutidas teses do Círculo Lingüísti-
co de Praga possibilitaram aos estudiosos distinguirem dois
71
tipos de linguagem: a intelectual e a emocional (distinção que
tem sido mantida com insistência, marcando toda a elaboraçàoda gramática de cunho normativo) _ a linguagem intelectual com
função essencialmente representativa, e a emocional suscitando
determinadas emoções no ouvinte ou externando as do falan-
te8.
Essa dicotomia, essa divisão de planos, ê bem antiga.
Basta que citemos duas ilustrações significativas a respeito:
1) James HARRIS, numa obra intitulada Hermes (ou Pes-
quisa filosófica sobre a gramática universal) de l75l, enten-
de o discurso do homem como expressão de um movimento de alma.
E dicotomizar os "poderes da alma": a percepção (incluindo-se .
V 9 aí o intelecto e as sensaçoes, que estao entrelaçados) e a
volição (vontade, paixões, apetites). À percepção correspon-
deria o ato de afirmar; ã volição, aquele de interrogar, ou
rogar, ou desejar, ordenar, etc. É, em outras palavras, O va-
lor ilocucional. Dessa forma ë que, para HARRIS, a estrutura .f frasal corresponde a uma certa analise dos processos mentais
(cf. CHOMSKY, 1972z43-4).
2) Albert SECHEHAYE, discípulo de SAUSSURE, no seu Es-
sai sur la structure Ylogique de la phrase (1926, segundo IOR-
DAN (trad. de l982:437)
depois de afirmar que não toma em oonsideraçao V
as construçoes sintaticas e formas gramaticais que "exprimem os movimentos da vida", tais co-
8JAK3$ON, especialmente, começou o estudo funcional da linguagem pela dis- tinção entre linguagen qmntidiana e linguagem poética.
9".. . podanos rñs chamar inteira e wmpleta toda percepção que incorpore a inteligência san a sensação, ou a sensação san a inteligência? Se não o pndaros, como poderia a linguagem servir ãexprassão completa de mssa per oepção, se não houvesse palavras para exprimir os objetos próprios a cada una dessa duas faculdad$?" (JAKDEON, l973:73).
72
mo a ordem, a exclamação, a pergunta, etc., ten- ta justificar a sua posiçao.
Seu programa, segundo termos (apud IORDAN, op.cit.) ,era buscar "a ossatura psicológica da frase considerada em sua ex- pressão gramatical". A língua, orientada pela lógica, teria como objetivo a expressão do pensamento objetivo. Depois, em contato com a fala viva, deu-se a penetraçao de elementos afe- tivos - acrescentados "sem sistema, um pouco ao acaso". Esses elementos, para SECHEHAYE, se apagam, do seu ponto de vista, por detrãs dos elementos que dão forma ã gramática.
O estudo das funções da linguagem de BUHLER tem relação com determinados conceitos de SAUSSURE, expostos no "Oours":
todas as funçoes, em teoria, estão ã disposição do falante. A escolha de uma ou mais ë determina da pelas necessidades e finalidades da comuni- cação. As funções da linguagem de Bühler formam u sistema, uma classe disjuntiva da qual a es- colha ê feita. [...] A escolha da função é indi- vidual (parole),\não padronizada lingüisticamen- te e sempre visa a comunicação momentânea. O to- tal de escolhas possiveis (langue) não ë indivi- dual mas social e padronizado, sempre ã disposi- ãão daquíšãí Êge
falam uma determinada língua STAUB, : .
Segundo BUHLER, todo enunciado ê composto de três rela- ções:
ç
- com as coisas sobre as quais se diz algo (aspecto re- presentativo da linguagem) - ELE;
- com o próprio falante (aspecto expressivo) - EU; - com aquele a quem se dirige o enunciado (aspecto de
apelo) - TU. Situa o emissor e o receptor no circuito da fala e opta
por três funções: expressiva, apelativa e representativa.
BUHLER fundamenta seu estudo mais na parole que na lan-
73
que e, para tanto, traça um modelo de "organn" - gr._ öpkavor (instrumento com uma ação específica). Para ele a linguagem é "como u instruento que pertence aos utensílios da vida".
MALMBERG (Cf. PENNA, l976:ll8) diz que mais tarde BÚHLER ~ ø ~ ~ falou em funçao simbolica, funçao de sintoma e funçao de sinal
A Uma determinada mensagem, para BÚHLER, pode acumular as tres funções ao mesmo tempo e desempenhar o papel de símbolo, sin- toma e sinal. -
' ' ' ` - Quando uma pessoa diz a alguëm: - Funçao simbolica Chove, este enunciado tem por função indicar qualquer coisa de exterior às pessoas que dialogam.
Função de sintoma - O enunciado, porém, pode expressar um estado ou uma propriedade do falante. Ex.: Chove como sem- re... é azar meu (sintoma de mau humor ou de essimismo).P
Função de sinal - O enunciado exerce influência sobre o ouvinte. Neste caso, o interlocutor que percebe a expressão chove utiliza-se, por exemplo, de seu guarda-chuva ou de sua capa. Aqui, o enunciado converte-se em apelo, um sinal enviado ao ouvinte.
.
As funções mencionadas acima podem ser, grosso modo, e- xemplificadas através do discurso científico (prevalece o sen- tido simbólico ou referencial), da poesia lírica (prevalece o sentido expressivo) e do comando militar (prevalece o aspec- to de apelo).
As funções da linguagem de BÚHLER - que apresentamos em correspondência imediata às de JAKOBSON (l963_ e apud TO- LEDO, 1978 "O que ë a poesia"?) estão assim caracterizadas:
1) Função Representativa - corresponde ã referencial, "denotativa", "cognitiva" para JAKOBSON (centrada no contexto)
74
É uma função exclusivamente humana, com objetivo de transmitir informações, de permitir a troca social. Através desta função se torna possível a descrição da língua dentrodos parâmetros da teoria da comunicação. JAKOBSON não toma o re- ferente como eixo dessa funçao, mas o contexto, uma vez que não hã referência sem contexto. Porém, apesar de o contexto ser relevante para a função referencial, não quer dizer que é o seu alicerce. Tal funçao serve para diferenciar a linguagem animal da humana pelo fato de esta ser duplamente articulada, apresentando caracteres de permanência quanto ao significa do e ã divisibilidade.
As interjeições e locuções interjectivas também se en- caixamlde alguma forma, na função representativa,(teremos oca- sião de apreciar isto mais adiante), por ser o pensamento a
~ ~ -› manifestação de um desejo, de urna emoçao,... O pensamento nao existe de forma autônoma na mente do individuo, ele é a ex- pressão de alguma coisa; o pensamento, tal como se o encara,jã é semiõtico. Esse reconhecimento já é claro também em MARTI- NET, como se verã adiante. Lembrando BAKHTIN/VOLOSHINOV, que salienta a natureza social da realidade psíquica, pode-se co- locar que o psiquismo individual, fora de sua objetivação atra vés de um material semiõtico - seja ele qual for -, "ë uma ficçao" (l98l:l03). Por ser a funçao representativa uma funçao que permite intercomunicação entre emissor e receptor, supõe-
~ _. . . . - ~ 10 se que nesta comunicaçao haja transferencia mutua de emoçoes .
Isto, é claro, é ampliar um pouco a noção estrita de comuni- caçao, uma primeira aproximaçao para entender a expressividade como inplicada na própria matéria lingüística, mais ou menos
tanlaém a perspectiva de análise (femmerológica) apresentaia por El- mar HOLESTEIÍN em Introdução ao pensamento de Raman Jakohaon, Rio, Zahar, 1978.
75
no sentido em que BALLY e OOSERIU colocam uma Estilística da lingua. Diante do exposto, podemos questionar se a função re-
presentativa ë, de fato, a principal função da linguagem(ou única a merecer reflexão), por ser a linguagem capaz de susci- tar paixões, incitar os ouvintes ã prática de certas ações ou
Q ~ faze-los desistir de outras. Em todo processo de comunicaçao Ê xiste um conteúdo emotivo (subjetividade, por mais velada).
2) Função Expressiva - JAKOBSON chamou-a de emotiva (centrada no remetente).
A função emotiva vai descobrir o estado emocional, o
estado de espírito do falante diante do objeto de sua comuni-
cação. O valor que aparece aqui se contraporia ao intelectivo r _ ~ - referencial. Representantes tipicas desta funçao seriam as
interjeições e as palavras carregadas de agressão verbal (?)
(palavrões,gírias). Não se quer dizer com isto que outro enun- ciado lingüístico qualquer não possa fazer parte dessa função. A função emocional ë vista como acrescida ã referencial quando o locutor quer adicionar elementos que dizem respeito ao seu 1' . intimo.
” Difere dos procedimentos da linguagem referencial a u-
tilização tipica de interjeições, que podem ser seqüência so-
nora própria ou sons incomuns. As interjeições e o valor in-
terjectivo serão focalizados adequadamente no capítulo seguin-
te.
H 3) Função Apelativa - e conativa em JAKOBSON (centrada
no destinatário). É a função dos enunciados de ordem volitiva ou ooercitiva, cuja finalidade ë influenciar o comportamen to do destinatário da mensagem. Sao elementos lingüísticos des ta função os vocativos e imperativos.
76
~ ~ ~ A funçao apelativa e expressiva nao sao exclusivas do homem, são notadas em outras espécies animais.
Expressivos da funçao conativa são os discursos de pro- paganda, com o objetivo de persuadir e impor certo comportamen to no destinatário. Esta função vem revestida sob forma de ad- moestações: "Não faça issol" ou injunções: "Beba Bhramal" ou sob a forma de interpelaçoes disfarçadas ou atenuadas (até o aliciamento): "Agora, nõs vamos dormir..." "O mundo trata me- lhor quem se veste beml" atingindo até a modalidade da funçao encantatõria ou mágica.
Aqui, igualmente, as interjeições se fazem presentes no momento que exprimem admoestações ou suscitam satisfações de um desejo.
Em 1936, MUKAROVSKY apresentou, no Congresso Interna- cional de Lingüistas de Copenhague, uma comunicação sob o ti- tulo: "La dénomination poétique et la fonction esthétique de la langue", na qual propunha, oficialmente, o acréscimo da função estétiga ãs três funções da linguagem apresentadas por BUHLER. citamos MUKAROVSKY (cf. ToLEDo, 1978; 165)
A denominação poética difere da denominação co- municativa pelo fato de que a sua relação com a realidade é enfraquecida em benefício da sua inserção semântica no contexto. As funções prá- ticas da língua, ou seja, a representação, a expressão e o apelo, acham-se subordinadas, .na› poesia, ã função estética. Graças a ela, a aten ção concentra-se no prõprio signo. Ao predomí- nio da função estética deve-se a importância do contexto para a denominação na poesia. Sendo1mw das quatro funções essenciais da língua, a fun- ção estética está potencialmente presente em toda manifestação lingüística.
Friedrich KAINZ sô discorda de BUHLER no que se refere á terminologia. Chama de primárias as funções representativa ,
expressiva e apelativa e de secundárias as que visam a expreã
77
são de valores éticos e estéticos.
Jã WHATMOUGH cita quatro funçoes primárias da lingua- gem: - a informativa (referencial); a.dinâmica - chamaria- mos, de acordo com o estudo feito, de conativa, uma vez que
visa ã formação da opinião pública e é expressiva através de manifestos politicos e da propaganda; a emotiva; a estética,
~ confundindo-a com a funçao poética de JAKOBSON.
Para sistematizar as funções da linguagem, JAKOBSON usa como ponto de partida o modelo - organon usado por BÚHLER, ampliando-o para incluir o meio lingüístico e outros componen- tes do ato de fala. Dai considerar: o emissor, o receptor, o
contato entre emissor e receptor (canal), o cõdigo comum, a
mensagem e o referente, ou melhor, contexto. _ ~ ` Acrescenta, pois, mais tres funçoes as de BUHLER, dada
sua observação da linguagem infantil, dos deficientes de lin-
guagem e dos textos literários.
' Função Fãtica (centrada no contato) - Muitos pesquisa- dores consideram as funções referencial, conativa e emotiva as mais básicas, pois correspondem aos eixos fundamentais da cognição, conação e expressão (ELE -'TU - EU), enquanto que as
funções fática, metalingüística e poética constituem deriva- ções históricas das mesmas. É de se admitir que a função fãti-
ca é a mais antiga utilizada pelos seres humanos, ua vez que
surge desde a etapa do balbucio infantil, como também nas ma-
nifestações da linguagem animal. As formas de vocativo e impe-
rativo (função conativa) também fazem parte das primeiras a-
quisições lingüísticas da criança. A
Apesar de a função fática conter traços de apelo é a
menos coercitiva das condutas verbais conativas: apenas requer
78
de seus destinatãrios uma participacao equivalente ã do desti- nador. Dai o seu sentido principal: o de criar solidariedade,o de estar em sintonia com os grupos sociais. As interjeições, nesta função, estimulam a inter-relação e a solidariedade, in-
tensificando os laços afetivos.
Funçao Metalingüística (centrada no código) - Pressu- poe a existência de uma linguagem-objeto (um discurso que se
refere a entidades extralingüísticas) que se pretende deduzir. A metalinguagem vai ser usada para falar da linguagem-objeto -
é um discurso concernente a entidades de natureza lingüística.
Segundo JAKOBSON, os falantes utilizam a funçao meta- lingüística inconscientemente no momento em que fazem averi-
guação sobre o significado das palavras. Ê umí.nstrumento ci-
entífico utilizado pelos lógicos e lingüistas, desempenhando, igualmente, importante função em nossa linguagem cotidiana. No
processo de aquisição da língua materna esta função é muito em pregada pelas crianças no momento em que pedem informações so- bre o léxico.
A afasia é considerada como uma perda da capacidade de ~ 1' realizar operaçoes metalingüisticas.
Função Poética (centrada na mensagem) - JAKOBSON defi- ._-í__í_í.__.---*__-_~ niu a funçao poética como sendo aquela em que a mensagem se
volta sobre si mesma, passando a evidenciar os próprios sig-
nos, logo destacando o seu todo: significante e significado.
JAKOBSON não centra a oposição da função poética na intenciona lidade em produzir uma obra de arte, mas na inclinaçao do emis sor para a mensagem em si mesma. ‹
Para JAKOBSON a Poética preocupa-se com os problemas daQ estrutura verbal. Pelo fato de a Lingüística ser a ciencia glg
79
bal da estrutura verbal, a Poética é vista como parte integran te da Lingüística.
Diz HOLENSTEIN (l978z168)ll
Para Jakobson, a poesia constitui o campo onde descobriu e estudou os mais importantes princí- pios da lingüistica estrutural: a autonomia da linguagem, o carãter estrutural acentuado da linguagem [...], o papel da apercepção ou da orientação, a interdependência de som e sentido e das estruturas prosódica (métrica) e grama- tical, os dois eixos da linguagem, a multiplici dade das funções lingüísticas,etc.
Assim, não poderemos reduzir a função poética ã_poesia ou a ` ~ 4 ~ , poesia a funçao poetica - seria uma simplificaçao excessiva
e enganadora. '
A funçao poética utiliza a seleçag (paradigmãtica) e a
combinação (sintagmãtica), sendo que o princípio de equivalên- ~ 4 - cia do eixo de seleçao e projetado sobre o de combinaçao. A
seleção é baseada na equivalência, semelhança, dessemelhança ,
sinonímia e antonimia; a combinação se baseia na contigüidade.
É oportuno acrescentar que para KIDEPFER (1984) o .uso
poético da língua - e isso ele diz atentando para a linguagem cotidiana, apresentando o discurso comum como cheio de imagens e figuras
existe sempre e especialmente nas situaçoes de comunicação mais correntes (KLOEPFER,l984: 17).
A
Neste mesmo trabalho, KLOEPFER cita cinco posições teó-
]`L‹enbra-ms este camin1r› de descoberta (da poesia ã lingüística) o que vem ocnrrerdo ro camp) da lingüística (strita) en relação ã Semiótica geral, segundo colocou Julia KRISTEVA (História da linguagem): "... a semiótica torm&se‹>lngarcnfie a<iémd¿1seiJternxfi1aflne a‹Dncqq£b finfiamak tal da linguagen, sobre o signo, sobre os sistemas significantes, sobre a sua.organização e a sua mutação.
Ao abordar estas questões, a ciência lingüística é fiarçaia atual- mente a rever pofundanente a sua concepção da linguagen" (l974:4l0).
l
80
~ ricas numa tentativa de esclarecer a questao: A lingüísticacon tém a Poética ou vice-versa? (Cf. p.30ss.). No entanto, as re-
cusa ora por absolutizarem uma possibilidade da poesia, ora por serem unilaterais, e finalmente por não corresponderem em
seu conjunto ã realidade.
KLOEPFER defende a posição de que a Poética,- servindo- se dos resultados da Lingüística, deveria "contribuir para que
A a competencia comunicativa de todos nós atinja o seu melhor desenvolvimento possível"; ela surgiria como "desenvolvimento
sistemático progressivo das possibilidades latentes da lingua- em corrente", ue é ro riedade de todos. Essa ótica vai aoP
encontro do desenvolvimento de nossas reflexões. A aprendiza-
gem "poética" -- se podemos assim chamã-la -- ocorre normal-
mente na aprendizagem da língua.pela criança, e igualmente em
nosso uso adulto normal. Assim sendo, ele recusa encarar a
poesia como "aptidão excepcional" que seria, então, privilégio
de alguns. O que vemos de especial nessa concepção é o seu
fundamento: a própria faculdade humana de linguagem (essa ap-
tidão em transformar coisas em signos) ou seja faculdade de
semiose -, e não, especificamente, as possibilidades inscri-
tas em código.
Analisando as relações Poética-Lingüística, e apontan-
do cinco posiçoes, conforme referimos acima, KLOEPFER chega ã
seguinte síntese: a Lingüística, a Estilística, a Retórica e a
Poética são dimensões de um mesmo fenomeno (lingüístico), cujo
resultado final é sempre u texto, objeto de análise; é inócua,
finalmente, a discussão a respeito de definir se a Lingüística contém a Poética ou vice-versa.
Em resumo, são as seguintes as cinco posições analisa-
81
das por KIUEPFER: l) a linguagem poética é uma sublíngua entre outras; 2) a linguagem poética é uma língua secundária e deri- vada ("desvio" em relação ã língua comum); 3) a linguagem poé- tica é uma das linguagens possiveis, distinguidas entre si pela função, pelo contexto social e outros critérios (posição de JAKOBSON, 1963), para quem a função poética é de competên- cia da Lingüística; 4) a linguagem poética contém a ' língua "normal" e as outras sublínguas (aqui, a Poética englobaria a Lingüística); 5) versão modificada desta ultima: a linguagem
~ poética é concebida como a manifestação da totalidade do códi- go lingüístico de que o indivíduo dispõe (Cf. p.30ss.).
KLOEPFER defende, portanto, (jã observamos isto na dis- cussão sobre Estilística), o retrocesso constante ã manifesta- çao lingüística do dia-a-dia -.o falante usa o código como matéria-prima para a invenção semiótica. Isso significa,trans- portando essa posição para a prãtica pedagógica, aproveitar e reaproveitar os usos cotidianos da linguagem, valorizando-os ,
para em seguida entrar pelos caminhos dos desenvolvimentos mais complexos, devendo-se admitir, então, uma escala em crescendo.
~ ~ ~ A. MARTINET expoe cinco funçoes da linguagem, que nao "casam" exatamente com aquelas baseadas no modelo - organon. Na verdade, estritamente, elas se resumem em duas, do ponto de vista da distinção entre funções primárias e funções secun-
~ ~ dãrias: 1) a funçao comunicativa, que assegura a compreensao mútua, a troca lingüística, pressupondo uma norma geral; por sua vez, ela pressupoe a linguagem como supprte do pensamento lógico - uma atividade mental ã qual faltasse o quadro de ua língua provavelmente não mereceria o nome de pensamento (fun- ção essencial). Ela é, pois, um dos aspectos da função de comp nicação, "na medida em que o próprio pensamento é objeto de
82
comunicação..." (MARTINET, l976:l47). Ao lingüista nao cabe se preocupar com o "pensamento sem linguagem", se é que isto é possivel; 2) a função de meio de expressão, que se inscreve no "desvio" e corresponde, de fato, a não-comunicação. Através desta, nõs chegamos ã afirmação do eu, da personalidade, que não pressupõe necessidade de comunicação. Entre estas, e presa de certa forma ãs duas, aponta a funçao estética - continua- ção da função expressiva. Aqui existe a intencionalidade na
elaboração de uma obra de arte. É também a utilização da lín-
gua para uma melhor comunicaçao. Nao pode ser autonoma, uma vez que não parece suscetível de ser concebida sem intenção comunicativa. Na medida em que certos processos de utilização da linguagem "representam uma elaboração da comunicação" pro-
jetam o que muitos lingüistas chamam de desvio (considerado o
caráter central da função de comunicação - NORMA); no caso da função estética, poder-se-ia resumir o emprego na fõrmula
comunicaçao mais qualquer coisa (Cf. MARTINET, l976:l46-7).
Essa fõrmula, pode-se anotar, corresponde àquela defi- ~ - nição do estilo como "um nao sei que", no período clãssico,co-
mo vimos na discussão sobre Estilística. Em MARTINET(l976) ob-
serva-se também que a análise de funções associada a cada ter- mo constitutivo do processo lingüístico - tal como o fez JA-
ROBSON - deve ser distinguida da que ele mesmo propõe; esta
acepção, segundo coloca, cobre toda a funçao de comunicaçao em
suas modalidades.
Vamos observar também que, referindo-se ã modalidadegê- tética, MARTINET salienta que certas elaboraçoes lingüisticas
não seriam justificadas pela necessidade pura e simples de co-
municar - o que se faz, segundo ele, é explorar certos pontos
_õ3
"marginais e circunscritos, das latitudes proporcionadas >pela
lingua comu"; quer dizer, não há um instrumento próprio para uu ø ~ , isso; nao ha, pois, uma funçao estetica propriamente dita da
linguagem como um todo (ibid., 148). Como se percebe, a função
estética como encarada aqui tem um status bem diferente daque- le que atribui JAKOBSON e MUKAROVSKY ä funçao poética (estéti-
ca) mesmo que, grosseiramente, sejamos tentados a colocä-las
em correspondência._
. M.A.K. HALLIDAY nos interessa a¶ú.por privilegiar a in-
tersubjetividade e a textualidade. Em "As bases funcionais da linguagem", de 1973 (Cf. DASCAL, 1978 - Fundamentos metodo-
lógicos da lingüística - volume 1), HALLIDAY se coloca 4 a ~ ~ ~ questao profunda da relaçao entre as funçoes da linguagem e a
própria lingua. E o que ele discute realmente é se 0 funcio-
namento social da lingua aparece refletido na organização in-
terna da lingua como sistema - e espera que isso ocorra. Ali-
ás, ë essa orientaçao que está na base de um grande número de
trabalhos contemporâneos, e que ele pressupõe no seu ' estu-
do, partindo das longas pesquisas feitas por MALINOWSKI,se- gundo o qual (em 1923)
a lingua em sua estrutura espelha as categorias reais derivadas das atitudes práticas da crian- ça... (Citado por HALLIDAY, p.l27).
Só que MALINWSKI teve de abandonar o conceito de "língua pri- mitiva" pressuposto em seu projeto, uma vez provada, para ele,
a inexistência de algo que se pudesse chamar assim. Não se du-
vida, diz HALLIDAY, de que o sistema lingüístico em desenvol-
vimento na criança percorra os estágios de evoluçao da própria lingua. O que se pode afirmar é que nao existem espécimes 'vi-
vos de seus tipos ancestrais, por isso se deve buscar a evi-
84
dencia do estudo do sistema lingüístico e de como ele é apren- dido pela criança.
Os estudos de MAIII\DWSK[. não tiveram grande repercussão, pois não eram sustentados por investigações próprias do desen- volvimento lingüístico. A preocupação maior, no momento des- sas pesquisas, era com o mecanismo da língua, não com seu sig-
~ nificado e funçao. HALLIDAY retoma MALINOWSKI na medida em que se interessa exatamente pelo desenvolvimento do potencial sig- nificativo (conjunto de alternativas), atentando para a rela-
çao existente entre as estruturas lingüísticas da criança e os usos a que ela aplica a lingua. Ele busca, então, determinar o que cabe chamar de funçoes sociais da lingua - os contextos que são significativos na medida em que somos capazes de espe- cificar parte do potencial de significado que estã, de maneira caracteristica e explicãvel, associado a eles (ibid., p.l3l).
A estrutura da lingua da criança ë, em parte, pelo me-
nos, determinada pelo uso que a mesma faz dela (relação estru-
tura/função). Para mostrar isto, HALLIDAY refere uma experi- ência realizada com uma criança de 19 meses e faz uma demons- traçao de vãrios sistemas funcionais.
Função instruental da língua - refere-se ao uso da Iingua com o intuito de satisfazer necessidades materiais: ë a
função do "eu quero". Atravës desta função a criança pode de-
senvolver um potencial de significado, sendo capaz de solici-
tar coisas ou obter atendimento. Não ë demais lembrar que cada opção potencial de significado se expressa por elementos que
vão formar a estrutura (por ex.: resposta, objeto de desejo, quantificador).
Função reguladora - ou "faça como eu digo". O uso da
85
língua se faz para controlar o comportamento de outros, para
manipular as pessoas no ambiente. Neste estágio (19 meses) não
há negação nesta função. A significação "negação" não está en-
tre as alternativas no potencial significativo da criança.
Função interacional - ou "eu e você". É o uso da lín-
gua pela criança como um recurso de interação pessoal com os
que a cercam. Através desta função a criança ora está intera-
gindo com alguém que está presente hnmqmimento),ora txnmando «_ interagir com alguém que está ausente (chamado: Alo,-vem...,).
Nos, enunciados das crianças muito pequenas/cada enun-
ciado desempenha apenas uma funçao. Em todo caso, HALLIDAY con sidera errado colocar limites rígidos entre as diferentes fun-
ções no sistema lingüístico infantil. Por outro lado, parece-
lhe claro que os tipos estruturais encontrados na língua de criança bem pequenas estão diretamente relacionados com as op-
ções que elas têm no seu potencial de significado. Outras fun-
ções já apontadas por ele, anteriormente, sao a pessoal, a heu rística, a imaginativa e a representacional (ou informativa) -
todas, veja-se bem, funções sociais. E, embora tendo traçado
estas funções em relaçao ás crianças, acredita ser um traço
essencial da língua como um todo essa relaçao funçoes da lín-
gua/sistema lingüístico, com a restrição de que no sistema do
adulto a conexão ë menos nítida.
A variedade das funções sociais da língua ë bem maior
no adulto, dada a diferenciação de atividades do adulto e o fa to de usar a língua em grande parte dessas atividades. E tais
funções se integram (veja-se observação já feita na apresen-
tação das funções em JAKOBSON) num mesmo enunciado. A função
representacional ou informativa, por exemplo, aparece mais tar
86
de na criança e vai sendo enfatizada com o tempo, e o adulto, até mesmo influenciado pelo meio cultural, acaba concebendo que o seu uso da língua ê essencialmente informativo.
Para as crianças pequenas a língua não ê fundamental- mente conteúdo a ser informado, ê muito mais imaginaçao, expe- riência pessoal, processo de armazenar coisas.
No mundo da criança, o uso da língua com o objetivo in- formativo ê apenas um item no uso da língua, ou seja, uma fun- ção entre outras. Jã para o adulto o elemento ideacional (de representação) na língua ë algo presente em todos os seus usos, por isso ê que o adulto tende a pensar a língua primariamen- te em termos de sua capacidade de informar. HALLIDAY aponta a- qui, portanto, a função ideacional.
A origem do elemento ideacional no repertório lingüís- tico da criança não deve ser procurado na função informativa (derivada de outras), e sim na combinação das funções pessoal e ' 'ca (a língua se torna um meio de organizar e arma- heuristi zenar as experiências - ê o começo de uma gramática). Na ver-
~ dade, a funçao informativa parece muito tardia, mesmo quando a criança começa a conviver, fora de casa, com outras' pessoas e passa a ter experiências de que não compartilhamos. "Contar coisas" lhe parece uma coisa estranha.
A função ideacional, na língua adulta (correspondendo aqui ã representativa em BÚHLER e ã comunicativa em sentido geral em MARTINET, referencial em JAKOBSON), na verdade vista como macrofunçao, ë considerada por HALLIDAY como
componente principal_do significado no sistema lingüístico, que ê basico para quase todos os usos da língua (ibid., p.l49). .
87
Uma gramãtica, assim, tem um componente ideacional onde se con
figuram funções como agente, processo, alvg e se determinam
relações estruturais (transitividade).
Por outro lado, a macrofunção interpessoal (no adulto)
abrange todos os usos da língua para expressar relações so-
ciais e pessoais, anexando todas as formas de intervençao no
falante na situação de fala e no ato de fala.
A função ideacional e a interpessoal, integrando-se,são
visíveis na gramática da oração, cujo aspecto ideacional ë a
transitividade e o interpessoalyo modo ou modalidade (crença,
duvida, opinião, aprovação, desaprovação, pergunta, resposta,
cumprimento, apelo,...). A macrofunçao textual
preenche a exigência de que a língua seja ope- racionalmente relevante - que tenha uma tex- tura, em contextos situacionais concretos, que distinga uma mensagem viva de um mero item nu- ma gramática ou num dicionãrio" (ibid., p.l57).
Através da função textual a língua se torna texto, ë re
lacionada consigo mesma e com o seu contexto de usor Sem o
componente textual do significado não poderíamos fazer qual-
-quer uso que seja da língua, não teríamos globalmente o poten-
cial de significado. Ou ainda: ë pré-requisito para que a lín-
gua opere ideacionalmente e interpessoalmente. A funçao tex-
tual, que ë ' ' ' da gramática em HALLIDAY, não ê en- constitutiva contrada em BÚHLER, nem em JAKOBSON, nem em MARTINET. -De fato,
HALLIDAY vê o textg, e não a palavra ou a oração, como unidade
bãsica da linguagem manifestada.
A finalidade da função textual ë conduzir o leitor a um
entendimento da mensagem do texto ao mesmo tempo que pretende
tornã-lo mais rico em figuras literárias (poético). A inter-
88
jeição é utilizada na transmissão fiel dos sentimentos do au- tor ou como instrumento poético (corresponde a função estéti- ca, poética, estilistica).
o. . ~ Diante das evidencias de que a interjeiçao (força ou
valor interjectivo) é um instrumento importante na comunicação por expressar emoções e sentimentos, permitindo um aprofunda-
uv~ mento das relaçoes interpessoais, perguntamos: Por que razao
sua desvalorização nos textos escolares? Será que as gírias e palavrões não estão tomando seu lugar nas conversas informais, nas redações escolares?
Através deste quadro, em que analisamos, a partir de perspectivas diferentes (dos autores) as possíveis funções da linguagem, e em que quisemos salientar o caráter de expressivi dade, de afetividade, de poeticidade, de textualidade, parece ter ficado claro que atribuir á representação, ao aspecto in- telectivo da comunicaçao o papel maior, especialmente se se considera uma língua na medida de sua aprendizagem, é recusar- lhe uma ponte essencial. Essas consideraçoes serao .retomadas oportunamente, na medida do desenvolvimento deste trabalho.
4. yormatividade na Gramática
Eugênio COSERIU, em seu ensaio "Sistema, norma e fala" (Teoria da linguagem e lingüística geral, 1979), publicado pe- la primeira vez em 1952, reformula, analisando, a tão discuti- da dicotomia saussuriana (langue/parole, língua/fala, langua-
~ ‹. ~ ge/speech, Sprache/Rede). Para ele a oposiçao dicotomica nao esclarece o que realmente ocorre na linguagem vista como ati-
89
vidade criadoralz, por isso propõe uma oposição tríplice da realidade unitãria da linguagem: sistema lingüístico, norma e
fala. Estes três aspectos serão articulados, aqui, com o obje- tivo de caracterizar a norma lingüística e visualizã-la para- lelamente aos conceitos expostos por ALÉONG (1983), como tam- bém confrontã-los com a realidade da compreensão da norma ins- titucional (escola) no que se refere ã linguagem - em sua ma- nifestação mais concreta: a gramática.
COSERIU define a linguagem como atividade criadora,dis- tinguindo, em primeiro lugar, um aspecto psíquicg (linguagem virtual) e um aspecto propriamente lingüístico (falar concre- to, linguagem realizada).
No aspecto psíquico, anterior ã linguagem realizada,di§ tingue o saber (acervo lingüístico), que ë condição do falar, e o impulso expressivo (intuição particular que requer expres- ~ ` `. ~ sao concreta) que pertence a psicologia da expressao em geral.
O acervo lingüístico (sempre individual e social ao mesmo tempo) pertence ã psicologia da linguagem. O falar con- creto (linguagem realizada) pode ser visualizado e analisado como ato lingüístico imediato ou como soma de atos lingüísti- cos registrados (material lingüístico).
A língua ë o objeto ideal, sistema de isoglossas que representam os aspectos comuns comprovados, como abstraçao,nos atos lingüísticos concretos.
O esquema seguinte pode dar uma idéia dessa dinâmica:
12Para uma análise crítica do conceito de norma tal u1m›definidQ g
por COSERIU, ver "le concept de rorme dans la theorie d'Eugenio Cbseriu", de Luis Fernando LARA, in: La nonne lingüistigue, pp.l53-77. Aqui, os pres- supostos teóricos manifestados são conveniente para nossos objetivos.
wOUfimwHOUHmm
mOpH®UCOU
›_
AMSUCHHV
4
ÊÊOÉO2
É
Éãäã
`
HV
1
Amoofiümwflw
^mUmflU
^ooHOwHOU
'qfifi
moüm
QÚ
meomv
'QEH
OmOmNHfimwHV
|HmQ
ofififlgwm
Em
`mHm%v
OUHBWHSUZHH
fl£HmHB¢2
OUHBmH5UZHH
OBÉ
O>HmWWMm×m
OWQDNEH
^MÚmNfiHMQH
Eüwmflmflfifiv
^HMD#HH>
Eümmflwflflfiv
OOfi#mH$mGfiH
O#OQmmfl
Á
OUfiDU%wm
O“U®mWG
^QUMUfi>HpMv
Eüwmflmflflq
J
^oOH#
_|mH$mGHH
O>H@OMV
MWm<m
91
Linguagem, em COSERIU, se identifica com atividade lin- güística, sendo que o aspecto psíquico_(linguagem virtual) se caracteriza por: a) "memória estratificada, generalizada e
formalizada de atos lingüísticos reais" - aspecto psíquico; b) "condição e possibilidade de um novo falar concreto" - im- pulso expressivo(Cf. COSERIU, l983:7l). Em última análise, linguagem, em termos gerais, é empregada como substituto de fa- lar-acervo lingüístico-língua. O fenômeno é considerado em sua realidade concreta (falar): em sua virtualidade como condição do falar concreto (acervo lingüístico) e ~
“
_
como abstração que se estrutura sobre a base dos atos lingüísticos concretos (língua)Áibid., p.7l). ' '
Tomando como referência o ato lingüístico concreto, ad-
mitimos que uma língua compreenda este mesmo ato, mas também uma "língua anterior" que -
' “'
corresponde a uma realidade histórica conti- nuada pelo novo ato considerado-(ibid., p.7l).
Considerando o falar concreto como "única realidade in- vestigãvel da linguagem" (ibid., p.7l), é ele que serve como
substrato ã elaboração dos conceitos de norma e sistema. Tais ~ ~ conceitos sao fundamentados numa visao retrospectiva, rela-
cionando os atos lingüísticos e seus modelos (jã estabeleci- dos). Apesar de os atos lingüísticos serem condições inéditas devido ã condição precipua da linguagem (a comunicação), são
.- atos de recriaçao por se estruturarem sobre modelos preceden- tes contidos e superados pelos novos atos que não passam de intuições inéditas, modelos, formas ideais do falante inspira- dos na "língua anterior", quando se expressa em determinadalín
92
gua, fala uma língua, utilizando-se de moldes e estruturas da língua de sua comunidade.
Primariamente, essas estruturas constituem o que cha- mamos de norma (estruturas normais e tradicionais na comunida- de - repetição de modelos); enquanto que, num grau de abstra- ção mais elevado, surgem oposições funcionais a que chamamos sistema. Porem, norma e sistema sao formas de manifestaçao do falar reconhecidas através de abstrações sucessivas a partir do falar concreto, relacionando os atos lingüísticos concretos com o falar anterior constituído (modelos), mediante formali- zação em sistema de isoglossas. Convém salientar que "sistema e norma são formas que se comprovam no falar" (ibid., p.72)por
~ _.. ~ meio de abstraçoes que sao elaboradas pela relaçao entre atos lingüísticos concretos e modelos utilizados.
A concepção de COSERIU é representada por ele mesmo a- .` través de quadrados concentricos, onde o mais exterior (A-B-C-
D) representa os atos lingüísticos concretos (fala), o inter- mediãrio (a-b-c-d) representa a norma (ou primeiro nível de
_. - .f_ abstraçao na analise dos fatos lingü1sticos),oqmrtudoérmikique
Ikâfakaraflconstitui repetição de modelos anteriores, excluindo "
I o inédito, o ocasional, o momentaneo. O central (a'-b'-c -d") constitui o sistema (segundo nível de abstração)como estrutu- ra da língua, que contém elementos indispensáveis que assegu- ram o seu "funcionamento como instrumento cognoscitivo e de comunicação" (ibid., p.73).
93
A aí B
fala a ~ _ b
I10rIT¡a al bl
sistema
cl dl
c '
d
c* D
Segundo COSERIU, ao se estabelecer o conceito de norma efetua-se uma dupla abstração: a) eliminando-se o que é pura-
_ _» z_ mente subjetivo; b) ou abstraindo da norma o que nao e funcio
nalmente pertinente. Por sua vez, "a norma é variável, segundo os limites e a índole da comunidade considerada" (ibid., p.73). Se, por outro lado, considerarmos os atos lingüísticos indivi- duais, introduz-se no esquema a norma individual, isto é,"cam- _____
. _______________ po intermediário entre os limites do falar e os da norma so- cial", compreendendo o "elemento constante no falar do próprio
- _, indivíduo" (ibid., p.73) (tudo que e repetiçao); -
4
Concluindo, a norma se impõe ao indivíduo, tolhendo sua criatividade de expressão e reduzindo as possibilidades ofere- cidas pelo sistema, dentro do fixado pelas realizações tradi- cionais. A norma ê coercitiva, ao passo que o sistema é mais do que um con'unto de "imposições", ë um con`unto de' liberda_ _ J
W J
des, oferecendo amplas possibilidades de realizações, sendo, I-H 8. O i-' (D portanto, de consultiva, proporcionando ao indivíduo os
meios para a sua expressão inédita e compreensível aos que se utilizam do sistema, segundo nos diõ COSERIU.
As vãrias normas, aqui, podem ser representadas como
7.1 " 1;
94
"linguagem familiar, linguagem popular, língua literária, lin-
guagem erudita, linguagem Vulgar, etc." (ibid, p.75) distin- guindo-se, entre si, pelo vocabulário como também nas formas
gramaticais e na pronuncia. No entanto, a norma ê passível de
alteração dentro das limitações do sistema, com possibilidades de alterã-lo no seu equilíbrio. O sistema oferece as diretri- zes para o desenvolvimento da norma pelo falante, podendo ou
não coincidir com a mesma; a rejeição da norma, em contrapar-
tida, motiva o falante a ultrapassã-la, dentro das possibilida des que o sistema oferece.
Conforme vimos anteriormente (Capítulo II - 2), ALÉONG (l983)l3 distingue norma implícita de norma explícita. Esta
~ última correspondente a normativo) nao está incluída no termo
norma(s) definido por COSERIU; o normativo não está especifi-
cado no seu esquema puramente lingüístico. A norma explícita
se refere ãs normas sociais e ã norma individual, sendo esta
um nível de abstração entre o falar concreto (quadrado exte-
rior) e a norma social (quadrado intermediário). A norma im- _ ' 4 ~ plícita ë quecxmreqgxfie šflS)norma(s) em COSERIU. ALEONG nao
considera a norma individual - parecendo encaixar-se no que
ele considera normal (norma implícita).
De acordo com o esquema: i Falar concreto
3 V
abstraçã
com Normal norma(s)
" Normativo
l 31>s articulações entre ALÊDNG e (DSERIU oorznsponden a análise da Profes- sora Maria Marta Furlanetto, en trabalho que desenmolve dentro do projeto de que esta dissertação faz parte. .
95
O normativo situa-se em grau de formalização maior que o normal e este apresenta um nível de abstração menor que a
norma, tal como definida em sua generalidade, estando o normal mais próximo do falar concreto.
O normal (norma implícita) manifesta-se como uma impo- siçao menos consciente (pressao ideológica), enquanto que o normativo é portador de uma carga positiva e concreta de pres- são, cristalizada, em termos de linguagem, nas gramãticas es- colaresr ' "
Estabelecendo a distinção tripartida Sistema/norma/üflan COSERIU mostra também que se justificam as vãrias orientações da lingüística (ibid., p.79). Temos teoria da linguagem quando a lingüística se volta para a análise do falar; lingüística histórica quando se volta para o estudo das línguas. É estéti- ca quando, enfatizando a linguagem, estuda e valoriza a ori- ginalidade expressiva do falante. Se nos fixamos na norma(tra-
.- diçao social e cultural), temos uma história, da cultura, Ao estudar o sistema é gramática pura. A estética (termo de com- preensão ampla e de base filosófica) se manifesta na linguagem como uma estilística, que MATTOSO CAMARA JR. (l977:llO) define COIIIO
Disciplina lingüística que estuda-a expressao [...] em seu sentido estrito de EXPRESSIVIDA- DE da linguagem, isto é, a sua capacidade de emocionar e sugestionar [...].
COSERIU faz menção a dois tipos de estilística: a) a es
tilística da língua (ciéncia da norma) se detém no "estudo das variantes normais com valor expressivo-afetivo" (l979:79); i-
gualmente considera o "estudo da utilização estilística nor- mal" inerente a um sistema portador de valor expressivo (ibid.,
96
p.79); b) estilística do falar ë a que estuda de forma particu larizada o valor que cada elemento da língua pode adquirir num texto.
Estas "duas faces" da estilística já foram suficiente- mente abordadas neste trabalho. Resta como necessário encarar a gramática a par das "normas", como discutidas dentro deste capítulo.
A simples caracterização de que há "normas", e náo uma norma leva a questionar a normatividade (norma explícita, ins- titucionalizada) da gramática que se pretende central no estu- do da lingua. Reconhecidamente, sobretudo nos últimos anos, a gramática de cunho normativo é denunciada na medida em que se a toma como parte fundamental do ensino de língua, pelo hábito de ser considerada importante, mesmo não sendo isto exercido em plena consciência, de modo que fica em segundo plano a pró- pria explicitação de seus objetivos, como diz BAPTISTA (1980: 7). Pensamos que se queira dizer, por trás disso, que os pró- prios objetivos a serem atingidos pekaescola não aparecemsnfii- _cLentemente explicitados. O fato ê que o antigo esforço de centrar o ensino num padrão de língua (idealização), com base numa determinação gramatical, está, reconhecidamente também, fadado ao fracasso. Tal gramática "espelha" uma possível face da linguagem, como já se discutiu, mas pouco ou nada diz so- bre os atos de linguagem e sua adequaçao. Sua "aplicaçao" nos manuais se reduz de regra a um jogo mecánico em que não há de- safios, já que se exige padronização de respostas; em que não há provocação de conhecimento, já que não há esforço efeti- vo de invençao e reinvençao; em que nao ha identificaçao com o espaço e o tempo do aluno, já que o modelo vem pronto e ig- nora a realidade - do aluno e, em última instância, da pró-
97
pria linguagem.
Assim, se todos os tipos de discurso deviam ter direi to de cidadania na escola (informações, _
. reportagens, pu-
blicidade, entrevista, histórias, literatura, cartazes, quadri nhos), manifestando vários padrões e normas e várias funções
de linguagem, o que se costuma encontrar ê a dicotomia lingua- gem/texto científico(a) - linguagem/texto literãrio(a). Na me-
dida, também, em que se dê prioridade ao texto dissertativo .-. (repr¿sentante da linguagem cientifica), ressurge a importan-
cia da gramática (O que temos, oficialmente, como opções de
redação? o texto narrativo, o dissertativo e o descritivo).
DONADON-LEAL (1984) critica os livros didáticos por da-
rem relevo aos textos literários "alegrinhos", onde o discurso falado ë transportado para o escrito - textos esses que pre-
tendem ser um atrativo, conduzindo, no entanto, ã irreflexão.
O autor crê que os textos dissertativos devem ter mais espaço,
"pois são esses os suportes da aplicação da gramática que a
escola busca ensinar". Cabem aqui duas observaçoes: l) por que
a escola ensina (ou deve ensinar) essa gramática ë que deve‹
trabalhar predominantemente textos dissertativos para ser coe-
rente? Não se deve questionar, em primeira mão, por que ensi-
nar gramática? 2) quanto aos autores dos livros didáticos,A
descobre-se uma contradiçao: a escola quer (deve) ensinar gra-
mãtica, no entanto usa textos "alegrinhos", que depois abando-
na em favor de outros textos mais apropriados para que seja
exercido o treinamento gramatical - dissociando a j gramática
dos textos fundamentais - que existem, finalmente, e devem
ser conhecidos, também. Em todo caso, o autor admite que ë
"intolerável" o jogo entre o correto e o incorreto na atual me todologia gramatical. É nesse jogo, exatamente, que se ignora
98
a realidade das normas, a realidade das funções de linguagem, os objetivos que deveriam ser perseguidos pela escola - dog- matizando a noção de CORRETO.
CAPITULO III
EXPRESSÃO E EXPRESSIVIDADE - O VALOR INTERJECTIVO
~ l. Expressao e Expressividade - GUILLAUME
Para GUIRAUD a expressão tem valor nocional (lõgica da expressao), expressivo (mais ou menos inconsciente) e impressi vo (intencional). Atribui valor estilístico aos valores expres- sivos e impressivos. Coloca a noção de sinonímia na base da estilística da expressão. Explica que as estruturas sem valor expressivo como "Paulo bate Pedro" (onde a ordem das palavras
~ ~ ê rígida, nao hã liberdade), nao ficam sem valor estilístico, pois sua distintividade está em sua expressividade de valor "zero". Em contrapartida, argumenta que as onomatopêias e as palavras foneticamente motivadas são palavras ricas em expres- sividade interna e natural, pois percebe-se uma relação entre a forma da palavra e o seu significado. Ex.: "sombre" (sombrio, escuro, triste) ou "monotone" (monótono).
Informa-nos GUIRAUD que o conteúdo afetivo da lingua-~ gem ê o objeto da estilística de BALLY, mas nao podemos confun-
di-lo com um estado afetivo particular. BALLY interessa-se pela
, ioo
~ estilística da língua e nao da palavra, ou seja, pelo valor ex- pressivo das estruturas lingüísticas em si mesmas. Ilustrando: se uma criança cai e se machuca, imediatamente pronunciamos: Coitado! Lingüisticamente podemos detectar dois fatos: uma Êx- clamagão e uma elipse. Ora, a exclamação e a elipse são meios de expressão para manifestar piedade. Uma vez delimitados e
~ identificados os fatos da expressao, BALLY passa ao estudo de seus caracteres afetivos.
E natural, por exemplo, o diminutivo expressar gentileza e fragilidade e o aumentativo ter valor pejorativo (de regra), acrescenta GUIRAUD. O francês possui diminutivo e aumentativo de valor afetivo. Esses são efeitos naturais.¬Outrossim¡¬ deduz que o uso da linguagem está ligado ã idade, ao temperamento, ao
L _ .- carãter, ã cultura, etc. Os efeitos expressivos nmeumxaffituagn V ,.,
_ _ ~ de atualizaçao,ao meio soc`ial'í,a0s grupos sociais. Uma expressao, nes- se caso, ê vulgar, culta, polida, formal, informal, especial.
. As expressoes, assim, evocam sentimentos e atitudes, mostram nítidas diferenças com relação a sexo, idade, nível cultural e
social.
Jã ficou bem claro, como vimos anteriormente, que no campo da expressividade, BALLY se atêm ã afetividade - exclu- indo os chamados valores didáticos e estéticos. Esse último
z . 4 ¢ "* termo, para ele, remete ao , e sua preocupaçao estilo literario_
se prende ã língua comum, espontânea. E uma distinção que vale considerar, dado ao contraste que se coloca, comumente, entre a linguagem comum e a linguagem ` ' '
. Como tal, diríamos literaria_
que a estilística ê um aspecto normal da língua, ê ligitimamen-~ te incorporada ã Lingüística, embora GUIRAUD nao concorde com
isto: para ele, a estilística ë um aspecto particular da ex-
l0l
~ ~ pressao, mas nao uma nova parte da lingüística (Cf.GUIRAUD,l978:
73).
BALLY, mais tarde, substituirá o conceito de afetividade~ por expressividade, que acabou sendo incorporado ã expressao
literária, o que ele não desejava, não fazia parte de seu proje-
to. Seus trabalhos também se fixaram basicamente no vocabulário, mas conviremos que os meios expressivos vão bem mais longe, es-
tendendo-se ãs estruturas morfológicas e sintáticas. Sao estas,
na verdade, que são investigadas especialmente neste trabalho,
com apoio em GUILLAUME.
Assim, vamos examinar o conceito de expressividade, con-
forme anunciamos anteriormente, em sua potencial oposição a ex-
pressão, tal como formulado por GUILLAUMEI, estruturalista euro-
peu que desenvolveu sua teoria psicomecãnica da linguagem nos
anos quarenta e cinqüenta deste século, notável pela coerência ~ ø ~ 4 as
e sistematização de suas ideias. Sua visao genetica dos fenome-
nos da linguagem nos fornece um esquema no mínimo interessante
para muitos pontos colocados aqui para reflexãoz.
Algumas colocações prévias nos serão necessárias para~ chegar ã compreensao do que corresponde ao instituído em sistema
e ao improvisado, conceitos que nos levarão ãquele de expressi- _~ lvrineipee de unguietique thêerique de deteve GUIu.Au~1E - eeletãnea de tex- tos inéditos preparados sob a orientaçä de Roch V%lIN. Québec, Presses de lfikúvenflié Lawflq 1973.
, Guillaume foi discípulo de NEIIIET, enxque domina a noção de sistema.
'SAU$¶E&3tragn1a‹xxsiçã3langxypanfle. GflÍlAH¶3êçmofmuk1estm5 ~noQšm e mifitiüfl.panikapordüsmnso.Toü>o1xabaBm›de(¶HLLM%E1mesmgne ima reflexão profuda do pensamento d S@ISSURE. S
20 terno gentico, salientamos, pod ser entendido em âmbito lašgp estreito Ie abarcando o processo de formação das línguas e o processo de produçao enunciados lingüísticos, uma vez instituído um sistema específico - pela instauração dmsrmndnentos de;x¶BaHBnt0 Uzxmações)cyxapermiüanêâprodução de fnnms (nõs diríauxn de sentido).
102
vidade para, tentativamente, analisar como se passa do improvi-
sado ao instituído, na dinâmica da linguagem.
GUILLAUME argumenta que o ato de linguagem começa mais
exatamente com o apelo do pensamento ã língua (o pensamento, an- ~ , tes de mais nada, ë uma força). Trata-se de uma operaçao subja
cente, cujo mecanismo ê difícil de estabelecer (Cf. GUILLAUME,
l973:l37).
Explicando melhor: nosso espírito nao ê capaz de precisar o que se opera nele mesmo nas profundezas da mente; por esse mo-
~ tivo ê que conhecimentos lingüísticos essenciais nos sao recusa-
dos, pois a parte essencial do ato de linguagem foge ã nossa in-
vestigaçao. O que, na realidade, conseguimos observar deste ato
são seus últimos instantes - perde-se, portanto, o pequeno dra- as ~ ma do contato entre "o pensamento em instancia de expressao e a
língua", posse permanente do espírito. Em contrapartida, fica a~ possibilidade de exame dos traços, no discurso, dessas operaçoes
de pensamento, a partir daquilo que se fixou na língua "sob for-
ma de semantemas, de morfemas e de sistemas". É bom acrescentar
que, incluindo sistemas nessa fórmula de elementos instituídos,
GUILLAUME quer mostrar um fato em que as gramãticas nao têm in-
sistido: ê que os morfemas, na sua integração lingüística aos
semantemas, exigem do pensamento, em sua operação de transporte,~ encarâ-los no sistema do qual fazem parte, e onde, por posiçao,
tomam seu valor. Ilustrando: o emprego de uma forma verbal qual-
quer "supõe uma rápida evocação do sistema completo da conjuga- ~ , A , çao do verbo", o que se faz sem que se tenha disso consciencia.
Como teria dito SAUSSURE: "Em realidade, a idéia -invoca,
não uma forma, mas todo um sistema latente, graças ao qual ,se
obtêm as oposições necessárias ã constituição do signo". (COURS,
l977:l5l).
103
SAUSSURE falava justamente do mecanismo da língua, nos termos de seus dois tipos de agrupamentos: a sintagmãtica e a paradigmãtica.
O pensamento em instância de expressão faz escolha de uma forma, dentre outras, que possa convir ã expressão exata do que se quer exprimir. Essa operação, então, permite uma visão total, sinõtica do sistema, e se dã com uma rapidez tanto maior quanto o sistema se apresente com uma construção adiantada, bem desen- volvida. O tempo necessário para a operação se chamará, segundo a terminologia de GUILLAUME, tempo operatõrio.
~ E importante notar também que, nesta seleçao de formas, existe um valor em sistema, adquirido, fixado, ao passo que O valor de emprego da forma se encontra totalmente por adquirir. O sistema, esse ê que oferece ao discurso a permissão de uma va-
. .
i
3 _ riedade maior ou menor de valores de emprego - o que permite ¬ ~ constatar que as formas em si mesmas têm um valor, elas nao
~ significam um NADA, a partir do qual sairia uma significaçao no enunciado efetivo - isso seria impossível.
GUILLAUME fala de uma cronologia interior a qual repre- senta, em grandes traços, o sistema integral - ao tentar uma cronologia operativa do ato de linguagem. Esta cronologia se faz em dois tempos:
1) tempo inicial de potência - dos elementos de formação ã palavra construída;
2) tempo final de efeito: da palavra ã frase, ou da uni- dade de potência ã de efeito.
3Cf. CDSERIU, op. cit., sobre o caráter d pernússibilidade no sistema, na suatxiomxmúa.
v�
104
Estas operaçoes podem ser relativamente bem observadas
pelo falante; aquelas são inconscientes, e inobserväveis dire-
tamente. Sô nos conscientizamos de seu resultado. A frase, em
relação ãs palavras já construídas, se apresenta como obra a
construir, no psicomecanismo da linguagem. A palavra ë um pas-
sado, a frase um futuro. Esse futuro, por outro lado, ë limita-
do:
[...] as condiçoes de construçao e de limitaçao fazem parte da língua, ou seja, pertencem às operações de pensamento predeterminadas em per- manência no plano de potência (l973:l45-6).4
. Todas essas colocaçoes se nos impuseram para permitir
mostrar o que, na linguagem, corresponde ao positivamente ins-
tituído, sistematizado, e o que constitui o improvisado, segun-
do termo de GUILLAUME, e ainda para, tentativamente, analisar_ como se passa, na dinamica da linguagem, do improvisado ao ins-
tituído - ao sistema, ã língua. Nesse caso, coloca-nos GUIL-
LAUME que um sistema ë sistema na medida em que foi instituído.
Na medida, portanto, em que esse instituído ë"falho¶ por que
razão seja, o ato de linguagem acaba recorrendo "aos meios de zw ' _» sua ordem, que sao puramente expressivos e nao estabelecem, por
signos diferentes, diferenças nocionais, ê construir, no ins-
tituído, a língua" (Ibid., p.l46).
A linguagem, pois, recorre a duas especies de meios:
. meios tardios pertencentes ao improvisado;
. meios precoces pertencentes ao instituído.
Tardio e precoce são termos de definição relativa ao
4Chamnns aztençãäpmraesteckflo uarb en\ústa‹mm:SNI£URE,pek: meus em princípio, exime o sistema dessa regulação: as oerações çsicofísiczs de seleção e oofibinaça dos signos pertenceu a.paro1e(Cf. SAUSSURE, l977:22).
w-.V ›¬.w||uv. rw-_" v‹ '
l05
processo genëtico, e uma manifestação, nesse processo, do que GUILLAUME conceitua como imanência e transcendência na lingua- gem.
A tendência, segundo mostra a história geral da lingua- gem, seria de aumentar os meios precoces para fazer menos ape- lo aos meios tardios, aqueles justamente que dizem respeito ao
improvisado. Releva observar ainda que, nas origens, o ato de linguagem se constituiu de tentativas de parole: estava tudo por fazer e o princípio só podia ser a improvisação. Nessa óti- ca, a expressividade seria única - e um recurso bastante insu- ficiente, precário. No desenvolvimento da linguagem, o gradual estabelecimento do instituído "aliviou o ato de linguagem de ua parte de sua tarefa, e, através disto, reduziu igualmente o que devia ser solicitado ao improvisado"-(ibid., p.l47). ‹
Aqui, a parte mais interessante, para nossos propósi- tos, desse modo de encarar o ato de linguagem. S
Com a reduçao acima referida, o que restou de solicita- ção ao improvisado, nas línguas, corresponderia exatamente ãs
"modalidades expressivas" de apresentação do conteúdo, o que a ~ ø ' língua nao e capaz de fazer totalmente com o material nela ins-
tituído. E, desse modo, chegamos ã dicotomia EXPRESSÃO VERSUS EXPRESSIVIDADE, totalizando o ato de linguagem. A expressao constitui a demanda, a solicitação ã qual a língua responde; a
expressão ë de competência da língua. O ato de linguagem supre, pelo improvisado, a essa demanda feita â qual a língua não res- ponde: ë a expressividade. Isso dado, ë fácil chegar a confi- guração do ato de linguagem: um inteiro, resultado da soma de expressão e expressividade - fórmula guillaumiana:
expressão + expressividade = l
106
É o jogo da expressividade, acrescente-se, que faz va- riar consideravelmente a significação que podem ter no discurso vocábulos "destinados" â expressividade.
"A expressividade, enxertada superabundantemente sobre a expressão, se torna quase tudo" (p.l48). Passando especial- mente ao campo da sintaxe: a sintaxe se beneficia daquilo que a expressividade perde em benefício da expressao, que se torna quase tudo. Ao contrãrio, ela perde quando a expressividade au-
menta em prejuízo da expressão. `
Um exemplo do próprio GUILLAUMEz . Sintaxe de expressão desenvolvida: Haverã esta noite, na Ópe-
ra, uma grande representação de gala.
. Sintaxe reduzida: Na Ópera, esta noite, grande representação de gala.
ã
Colocar-se-ã como princípio: o que se ganha em expressi-~ vidade, perde-se em expressao, e portanto em sintaxe (em senti-
do estrito). Frases sem verbo, por exemplo, tal como exempli-
ficado acima, são frases em que a expressividade ocupa lugar
proeminente. Chegamos a um grau reduzido de sintaxe (sempre em
sentido estrito) quando uma sõ palavra faz uma frase, onde a
expressividade reina: Silêncio! Retirada a expressividade, des- monta-se a frase.
A fórmula guillaumiana expressao + expressividade = l
cnmportarã uma gama imensa de variações partindo do mínimo de expressividade (em benefício de expressão) ao mãximo de expres- sividade (em prejuízo da expressão) - Q que se ganha em ex-
pressividade perde-se em expressao e vice-versa.
Aqui, a localização e definição da Interjeição: está ela
107
no limite máximo da expressividade - praticamente abolindo a
expressão:
Uma interjeiçao ë uma frase, uma frase cujo ve- tor nao e o verbo, mas o movimento expressivo, levado ao seu ponto maximo- (ibid. , p.l50).
Acrescente-se também que 0 relacionamento indicado entre expressao e expressividade ë, para GUILLAUME, um fato profundo de gramática geral.
-› A uma sintaxe de expressao nestes termos, se acrescenta- ria uma sintaxe de expressividade, em vias de possivelmente so-
frer institucionalização (todo meio expressivo poderia ` ser gramaticalizado), entrar no esquema supostamente rigido do ins- tituído. A própria ordem gramatical (Cf. a análise lõgica)“ diz
respeito ã sintaxe de expressao, que pode sofrer rupturas por apelo ã sintaxe de expressividade. d
Como saber, porém, --- e esta questao nos ê apontada por GUILLAUME -,
~ [...] em que grau estao instituídas em língua as sintaxes de expressividade às quais se faz apelo lã onde, do lado expressivo, a sintaxe de ple- na instituição aparece insuficiente? (ibid., p. 152). '
Procurar a expressividade ë, pois, fugir do instituído, do instituído "profundo" e "banal"; por outro lado, essa "eva- ~ Q sao" acaba, pela frequencia de uso, por instituir-se como meio
de lín ua o que torna o instituído um meio mais com lexo. g I -
2. A Interjeição e o Valor Interjectivq
Em "Les mots du discours" (l98G:l6l), DUCROT afirma que
Na perspectiva de uma teoria dos atos de lingua-
108
~ ~ gem, a interjeiçao nao pode mais ser considera- da como um fenômeno marginal ou insignificante. Ela adquire um status central: ë o lugar privi- legiado onde se marca a interação dos indiví-z duos.
Embora as gramáticas normativas normalmente mencionem
esse tipo de "palavra", ela tem permanecido marginal para a
análise lingüística. Apesar de ser considerada por alguns auto-
res como palavra-frase, esse tipo de "categoria" lingüística
deve ser repensado e avaliado.
Segundo DUCROT, atribuir um valor semântico ã frases não
ë uma questão de observações, mas de explicação. Partindo-se da
significação atribuída ã frase, trata-se de prever o sentido
que ela adquirirã em cada situaçao de emprego, em cada enuncia-
do._
Quem se enuncia, diz ele, adota atitudes, desempenha pa-
pëis, e as interjeiçoes fornecem personagens diferentes: o es-
pantado, o feliz, o escandalizado, o aliviado, o suplicante, o
pedinte,... De outro lado, esse mesmo personagem pode se tornar
um agente em relação ao outro, chamando-o a participar de seu
jogo, ou seja, de sua representação dramática, atribuindo ã
interjeição valor argumentativo com o intuito de levar o ouvin-
te a tirar uma conclusão já determinada pelo próprio falante,
podendo, até mesmo, chegar ao nível do aliciamento (Pois ë,Pois ~ z _.
bem). Nesse caso, a interjeiçao ate pode preencher uma funçao
fática (no sentido de JÀkHiB5ofiQcentrada no contato). DUCROT
continua afirmando que, alem de o uso da interjeiçao significar
uma "continuidade de discurso", isto ë, u continuar a falar,
Sfrase deve ser entendida, aqui, cnmo entidade lingüística abstrata, teõri- ca, oono un conjunto de palavras combinado segundo regras sintéticas: o que se ouve, o que se produz, efetivanente, não ê una frae, mas un enun- ciado particular de una frase (Cf- DUCH7Tz 193027)-
109
pode também forçar o prosseguimento do diálogo ao ouvinte, aA aceitar o discurso imposto, a tirar conseqüencias, reconhecen-
do, assim, seu valor argumentativo. No exemplo: Pois bem, e o
livro? pressupõe uma frase anterior marcando o contato dos in-
m Q EL '\J terlocutores. Da mesma forma. E então? A própria conjun-
ção ë marca morfológica de uma conexão que deve existir com uma ~ .- frase anterior (indica direçao discursiva, marca a coesao do
texto).
Em estruturas como: E dai, Armando? E então, minha ca-
ra! não temos oração, nem estrutura sintãtica inteligível. No~
entanto, manifesta-se aí, evidentemente, a funçao interpessoal,
uma troca concretizada em textos específicos.
O vocativo ë exterior ã estrutura sintãtica, nos gramá-
ticos tradicionais, e nem seria, na verdade, termo acessório,
sintaticamente falando, para ser alinhado junto aos outros, co-
mo adjunto adverbial, adjunto adnominal, etc.
Segundo SAID ALI (l¶Ha:277), contudo,~ 'nao temos o direito de colocã-lo no mesmo pla-
no inferior em que andam as interjeiçoes quan- do nao passam de meros gritos involuntarios.
O importante e observar, continua o autor, que ele está
presente em todas as linguas e como "meio de expressão impres-
cindível", uma vez que o homem, no processo da comunicação,pri-~ meiramente procura despertar a atençao de seu ouvinte e, em se-
guida, chamã-lo.pelo nome. .u É tac consciente a linguagem do vocativo como
a do verbo no imperativo, e ambos dimanam do mesmo fundo psíquico (ibid., p.227).
'Sendo a proposição entendida como linguagem intelectiva
com sujeito e predicado, expressos ou não, estar-se-ã excluindo
do discurso regular os vocativos e outras expressões da lingua-
110
gem afetiva. Porém, visto como elemento indecomponível em su-
jeito e predicado, o vocativo, conforme o tom em que ê proferi-
do, traz implícito "o valor de um verbo no imperativo com a
significação de "ouvir" ou “prestar atenção"" (ibid., p.277),po-
dendo, simultaneamente, limitar-se a enfatizar apenas "o nome
da pessoa a quem o discurso se dirige", ou ao seu substituto
(pronome).
Nas sentenças expositivas ou narrativas, o vocativo
assemelha-se ao nome ou pronome, podendo receber atributos ø ~ expressos por simples vocabulos ou locuçoes ou
desenvolvidos em orações subordinadas (ibid.,p. 278).
Explica SAID AII: apesar de o vocativo pertencer ã lin-
guagem afetiva, ele pode trazer como dependentes de elementos
da linguagem intelectual que preencham todos os "requisitos da
análise oracional" e, conseqüentemente, constituir oração su-
bordinada.
[...] no caso de se achar uma sentença na de- pendência do vocativo, cabe a este a função ou de oração principal ou de elemento da oração principal.
Exemplifica:
Oh tu,/ que tens de humano o gesto e o peito[...] a estas creancinhas tem respeito (CAMÕES, Lus. 3, 127) (ibid., p.278).
Nossos gramãticos, no mais das vezes, atribuem ã inter-
jeição apenas o caráter emotivo, afetivo. Vejamos o que nos di-
zem alguns deles:
1. ROCHA LIMA (l976z165) ,_ ~ _. Interjeiçao ë a palavra que exprime emoçao.Sao
elementos afetivos da linguagem, e valem por frases inteiras, cujo sentido, ãs vezes, pode variar segundo a entoação que as acompanha.
111
2. CEGALLA ‹198oz253) -‹ Interjeição ê uma palavra ou locuçao que expri-
me um estado emotivo. Vozes ou exclamações vi- vas e sübitas que brotam de nossa alma sensibi- lizada, as interjeições são u recurso da lin- guagem afetiva ou emocional.
3. MOURA SANTOS (l932:68) ea ~ Interjeiçoes sao palavras que exprimem sensa-
çoes, impressões ou a vontade, de um modo sin- tetico. 1
1
4. SAID ALI (1964z1o5) .- Interjeiçao ë a palavra invariãvel que exprime
os sentimentos ou sensações de dor, alegria,sur- presa, temor, aversão, etc. Proferem-se as in- terjeições em tom de voz diferente daquele que se usa para o vocábulo da linguagem expositiva.6
Hâ¡tambëm, gramãticos que, alem de atribuir ã interjei- ~ - _ _ -. 7 . . ¬ çao o carater emotivo, aproximam-na da onomatopeia , definindo-
a como
uma espëcie de grito8 com que traduzimos de mo- do vivo nossas emoções (CELSO CUNHA, l97l:547).
ou apresentando-a como "a parte menos racional da linguagem".
Se apenas gritos involuntãrios que nos faz sol- tar a dor, a raiva, o susto, o pasmo, [...],fi- cam necessariamente aquêm do dominio da lingua- gem (SAID ALI, 1971a=276).
.- Acrescenta SAID ALI (l97la:276), quando tais gritos sao
usados de propésito para impressionar o ouvinte, causando-lhe
a sensação que, geralmente, esses gritos costumam provocar,
o papel das interjeições será como o das propo-
6Observe-se a dicntcmia suposta: linguagem enotiva/linguagen expositiva.
7Ononatopëia, aqui, enterríida cnxro palavra imitativa de un ruído natural. (Cf. DUBOIS et alii, 1978). _
800 úpoz ah: oh: ,_ muito pzõzums do gzito inartizuiaio (z "ruído natura1") ,
engkflxuño osznfifios quecalrnmm pmfluz,nwás ourmaos espntaneamame.
112
, .- SlÇOeS¡ uma VEZ quê 3.
~ ~ , conditio sine qua non da proposiçao nao e a ana- lisabilidade, e antes a circunstância de se ex- primir com uma combinação de palavras (ou uma simples palavra) um pensamento ou sentimento (ibid., p.276).
~ ~ z A classificaçao das interjeiçoes se da, lamentavelmente, de acordo com o sentimento que exprimem:
. de alegria: ah! oh! olã!
. de desejo: oxalá! tomara! [...]
. de chamamento: Õ! alto! psiu!
. de silêncio: psiu! caluda! [ooo]
(ROCHA LIMA, l97l:l65).~
É importante observar que hã um distanciamento (com fun-
ções de linguagem diferentes, ë claro) entre manifestação de alegria (nível do EU) e o chamamento (nível do TU, ou relação
EU + TUL _
i
Para MOURA SANTOS (l932:68) hã três espécies de inter-
jeição:
as que exprimem impressões e sensações (de dor, alegria,...); as que exprimem vontade (de ape- lo, silêncio,...) e as onomatopêias que são as que imitam ruídos, vozes de animais, etc.
Essa classificação, pelo menos, jã tem o mérito de iden-
ticar vãrias funções, lembrando a tipologia de TESNIÊRE, que
examinaremos adiante.
A preocupação de nossas gramãticas estã em classificar
elementos da linguagem de caráter lõgico, marginalizando outros elementos. Alguns autores se colocam no extremo da questão, re-
jeitando a interjeição como classe de palavras.Diz MENDES DE
ALMEIDA (1979z365)z '
Interjeição ë a palavra ou a simples voz, ou,
113
muitas vezes, um grito, que exprime de modo e- nergico e conciso nao ja uma idéia, mas um pensamento, um afeto subito da alma.
Acrescenta que a interjeição pode desdobrar-se numa oração e
._ muito pouca importancia tem essa classe de pa- lavra; alëm da divisao e de algumas notinhas, nada mais há que sobre ela dizer (ibid., p.365L
GLADSTONE CHAVES DE MELO (l967:l77) nao considera a in
terjeição como uma classe de palavras, uma das "partes do dis-
curso". Segundo ele, p
A
~ ~ as interjeiçoes ou sao gritos instintivos sem intenção de comunicação - e não pertencem ã linguagem propriamente dita -, ou são equiva- lentes de oração - e não podem ser considera- das "partes do discurso".
É importante observar, no entanto, que a linguagem não
ë de natureza exclusivamente lógica. Se assim fosse, onde esta-
ria a expressividade? A emotividade faz parte da expressao lin-
güística (Cf. BALLY), assim como a liberdade criadora do artis-
ta; o mesmo acontece na linguagem coloquial, onde vários ele-
mentos lëxicos são, conforme BIDERMAN (l978:242),
inclassificâveis segundo os modelos lõgico-gra- maticais. «
A expressão sintãtica lógica acolhida em detrimento do
conteúdo semântico espontâneo, como quer a norma explícita,anu-
la na linguagem uma das partes solicitadas. BIDERMAN coloca que
os elementos expressivos sô são classificãveis Q ~ dentro de sua esfera semantica e nao sintãtica
(ibid., p.243).
_
TESNIÊRE, conforme veremos adiante, enfatiza esse aspec-
to quando afirma que as interjeições são inanalisãveis sintati-
camente, mas apresentam um complexo conteúdo semântico. BIDER-
MAN salienta que elementos ditos inclassificãveis
ll4
-ú f ~ sao indices_das funçoes emotiva, conativa, fática e poetica da linguagem (ibid., p.243).
Funçoes que privilegiamos ao mesmo nível da funçao "comunicati- ca". De fato, a língua
não ë um fim em si, mas um meio privilegiado de atingir fins mais essenciais ao homem e ã huma- nidade‹(GAGNÊ, 1983z473).
~ Essa constataçao ë relevante, considerando os objetivos de en-
sino da lingua materna, mesmo porque, como ainda discutiremos, permite redimensionar o status atribuído ao ensino da gramáti-
._ ca e, conseqüentemente, a importancia do aspecto normativo nes- te ensino.
CEGALLA ë o gramâtico (dos consultados) que relaciona u maior número de tipos de interjeição. Segundo ele as inter- jeições ~
podem exprimir e registrar os mais variados sen- timentos e emoções‹(CEGALLA, l984:253),
por exemplo: ah! registra o sentimento de alegria, dor, arre-~ pendimento, lãstima, admiraçao, surpresa, espanto, alivio; oh!
exprime alegria, desejo, dor, arrependimento, lástima, admira-
cão, sur resa, es anto, ena; eh! r sua vez ex rimea ale- ___ v P gria, chamamento, apelo, pedido, admiração, surpresa, espanto.
Assim sucessivamente. Verificamos, também, que várias interjei-
ções exprimem um mesmo sentimento, por exemplo: ah! oh! eh! vi-
va! eta! olä!oba! - todos expressam alegria; puxa! hem! chi ou xi! irra! apre! arre! hum! vote! ora bola! puxa vida! - ex-
pressam impaciência, aborrecimento, desagrado.
As interjeições apontadas com mais freqüência pelos gra- .- máticos consultados sao:
oh! olá! - 100%
ah! viva! - 80%
eh! psiu! psit! hem! chi! fora! - 60%
115
oba! ui! alõ! alto! pst! alerta! upa! ih! uai! uê! opa!
basta!1
irra! apre! bis! õtimo! hum! fiau! - 40%.
As demais correspondem 'a 20%. (Cf__ anexo (IV, p_«2'03_).
Para OSMAR BARBOSA (s/d=133) '
~ ~ ' -v interjeiçaonao se divide mais em tipos. Nao se diz mais: interjeiçao de alegria, de' dor, etc.
Para ele , interj eição
ê simplesmente um termo exclamativo. _Exprime o subito sentimento de que estamos possuídos(ibid., p.l33) .
Gladstone Chaves de MELO (1967) , J. MATTOSO CAMARA JR.
(1978) e Celso Pedro LUFT (1976) possuem semelhanças na clas-
sificação, sendo possível estabelecer um paralelo entre essas~ classificaçoeg:
Apesar de Chaves de MELO considerar impossível classificar as interjei- ções, ele afirma que elas vão:
a) da pura emissão mo- nossilâbica: chi! ai! di! pst!
b) aos conjuntos vocabu- lares estruturados: 6
ora bolas! não diga! ora essa!
c) passando pelas sim- ples --palavras : pipo- cas! papagaio! puxa! tomara!
Pã.1í`8.;_ ~O ÚAMARA JR. as interjeições são de três tipos:
calioos, repres nta- dos na escrita ma convencional ah' oh!
a) determinados sons vo- . .
He de for- fixa:
b) locuçao interjectiva: ora bolas! valha-rre Deus!
c) vocábulos já no domí- nio da língua: arre! olá!
LUFT, acrescenta» mais um tipo de interjeiçao aos três já conhecidos:
a) fonemas vocâlioos e monossilãbioos: oh! põ'
~ b) locuçoes interjecti-
tivas: ora bolas! va- lha-me Deus! ,
muito bem!
c) vocábulos, apesar de serem intelectivamen- te inanalisãveis:alõ! caramba! eia!
d) palavras nocionais tornadas interjeições adeus! adiante! avan- te! viva! morra! - este quarto tipo de interjeição parece es- tar no que Chaves de MHO chama de "simples palavras" .
116
~ ~ ~ Há gramãticos que nao fazem mençao ã locuçao interjecti-
Va, COmO ROCHA LIMA, MOURA SANTOS, GLADSTONE CHAVES DE MELO. OS
que a mencionam se aproximam da seguinte definição:
Locução interjectiva ê um grupo de palavras ou mesmo uma frase inteira. Exemplos: Meu Deus! Nossa Senhora! Quem me dera! Raios te partam!H.
Entre as observagões citadas por gramãticos, mencionamos a de MOURA SANTOS (l932z68)
- _ . , . . 9 ha interjeiçoes com nome especial de vocativos usadas para chamar auxílio possível ou impos- sível, chamado consciente ou inconsciente: Meus alunos! Nossa Senhora! Meu Deus!
Entre outras observaçoes, acrescenta CELSO CUNHA (l97l:9m ~ . ~ que a interjeiçao aparece entre as classes de palavras por nao
se perceber vantagem didática em contestar .
a rotina seguida pela grande maioria das gra- maticas da língua.
Se undo ele as inter'ei ões traduzem "sentimentos sübitos e es- 9 z
pontãneos", e, por isso, classificadas como "gritos instintivos,
equivalendo a frases emocionais". E porque são vistas sob este~ aspecto que elas nao se enquadram entre as outras palavras que
servem para expressar o pensamento objetivo e impassível.
CEGALLA (1984) observa que as interjeições são proferi- das com entonação especial, representada, na escrita, com o pon-
~ _ _ ~ to de exclamaçao, que pode aparecer depois da interjeiçao, no
fim da frase¡ou mesmo ser repetido. Inclui as onomatopêias(pa- || . - . ~ . . . . 4 " ra ele, interjeiçoes imitativas, que exprimem ruidos e vozes )
entre as interjeições, como: pum! miau! plaf! tique-taque! MN- DES DE ALMEIDA (1983) segue o mesmo raciocínio, chamando deu in-
%Observe-se a aproxigação que se encontrou até aqui, entre os diversos auto- res, para interjeiçao/vocativo/imperativo.
117
terjeições onomatopaicas ãquelas que "indicam na pronüncia o que
significam": zás-trás, tique-taque (Cf. ibid., p.366).
M. sun ALI ‹1971bz1o7›l° faz um estudo sobre as inter-
jeições, lembrando, porém, as palavras de H. PAUL (Cf. PAUL,l970:
193)
as interjeiçoes de que de ordinário nos servimos foram aprendidas pela tradição do mesmo modo que os demais elementos da linguagem. E sõ em virtu- de da associação que se tornaram enunciações in- voluntárias; e é por isso que as expressoes para a mesma sensação podem variar nas diversas lín- guas e dialetos e também nos diversos indivíduos do mesmo dialeto segundo aquilo a que se acostu- maram.
Isto está provado através da interjeição ai, grito de
dor, que tem seu correspondente no alemão au; ahimé para os ita-
lianos, hélas paras os franceses.
A interjeição oh é a mais comum. E usada para antepor vo- '
\
cativos,(pelo que o vocativo ocupa a mesma área de valor intera-
cional que a interjeição como já se notou); em uso separado ex-
prime alegria, desgosto, espanto. Em portugués, oh soa como vo-
gal aberta. E mais comum usar-se oh com h, sendo que seu uso se
torna vacilante antes de um vocativo. O simples õ é indicador
de uma pronúncia mais rápida, fugaz - neste caso acompanha um
vocativo. Quando o estado de alma nos faz apoiar a voz na excla-
mação este será escrito com Q.~ A linguagem quinhentista possuía a interjeiçao ou (geral-
mente grafado hou) para chamar pessoas. Hoje temos Q, gh.
Olé é usada para manifestar a satisfaçao pela surpresa
de alguma notícia agradável. Olá, igualmente - acrescida, po-
~ ~ ~ lONeios de expressao e alteraoes semânticas. Rio d Janeiro, Fudaçao Ge- túlnavergãy 1971.
118
rém, do poder de significar chamamento.
QQ pode exprimir tristeza ou alegria, dependendo,exclusi- vamente, do tom da voz. Expressa dor, tristeza quando vem se-
guido de pausa, ou quando se encontra sozinho (isto é, não faz
parte de frase ou oraçao).
QQ, quando prolongado e enérgico, é denotador de surpre- sa, admiração. O seu correspondente no Brasil e em Portugal é
QQ. QQ é dirigido para exclamar algo irritante, patético,enquan-~ to que QQ nos dã a impressao de sinceridade e respeito. Por
exemplo: Ah! parabéns! torna o cumprimento mais agradável do que: Oh! parabéns!
Usa-se o ah também para anunciar algum ponto que estava obscuro. Ah! já sei. Ou para retificar, dissipar opinião ou sus- peita alheia. "Ah! eu quando prometo, cumpro a minha palavra".
(ibid., p.lll) Atualmente, está em moda empregar-se QQ para (D\ significar assentimento: Ah! desabafo: Ah! até que enfim;bra-
do de lamento: Ah! por que o fizeste? e muitas outras signifi-
cações.
Ai exprime dor física - pode ser grito ou gemido. Ou um simples suspiro, manifestação de tristeza, desalento: Ai, quefa- rei?
A linguagem quinhentista se servia do Qi para chamar (mulher chamando outra mulher).
Qi acompanhado de quanto, como, diante de frases exclama-~ tivas tem a finalidade de dar melhor impressao de alto grau de
uma sensação desagradável: Ai, como estou cansada. Quando com-
binado com pronome ou nome regido da preposiçao de, ai é in-
substituível por ah ou oh e é usado tanto por homem como por mu-
¬n› r,
119
~ lher. Pode lamentar uma situaçao presente ou prever um futuro
triste: Ai de ti, se percorreres as cantinas.
Quando se profere ai como um grito vivaz, pode exprimir
a mais pura alegria.
Hui - grito de contrariedade proferido no momento de ex- ~ ~ . perimentar uma sensaçao de frio e pavor. Interjeiçao bastante
usada no teatro de Gil Vicente, em passagens como: "Jesul que
escuro que fazf... Que mâ rua e mau caminho! (...) Hui amara
percudida (G. Vic. 3,20) (ibid., p.ll5). '
SAID ALI, como outros, afirma que os gritos por si mes-~ mos sao raros nos diversos idiomas.
Se aparecem, desvalorizam-se ante o recurso das expressões significativas, de efeito drãs- tico, das quais existe em qualquer idioma re- positõrio inesgotável (ibid., p.ll6).
Hio, Hio e Huhä - são interjeições injuriantes usadas no teatro quinhentista, porém sempre acompanhadas de gestos, com
os dedos, considerados ofensivos. No entanto, o peso da expansão
da raiva, do desprezo, está nas expressões significativas, nos
epítetos e palavrões proferidos em toda a parte. Em português, ~ 4 ~ segundo SAID ALI nao ha interjeiçao que denote asco.
Heim, hum-- não aparece exemplos em Gil Vicente. Isto
não quer dizer que fossem desconhecidos em tal época, acrescenta
o autor.
Heim - ê um interrogativo que se ouve diariamente e a
cada instante, significando ora dúvida ora ironia: Que queres?
Heim? (düvida); Entendeste o que eu quero? Heim? (ironia).
Hum - ê um resmungativo e tem procedência de reparos e
de reflexão culta. Quando isolado ë sarcãstico e desconcertador.
120
Eia ê um grito interjectivo estranho ã linguagem familiar
por se enquadrar, hoje, num estilo mais elevado. E usada como
voz de comando, de animação dirigda, principalmente, ãs pessoas
lentas no agir.
Costunaya-se reforçar eia colocando-se ao seu lado a inter- . _ ~ ~ jeiçao sus, que ê um grito de animaçao hoje esquecido. Eia e
sus eram bastante usadas no teatro antigo:~ Quando a recolher se tarda, o ferir nao he pru-
dente. Eia, sus, mui largamente, cortai na se- gunda guarda (G. Vic. l,227 - Apud SAID ALI,l97l: 117).
~ Está indo para o esquecimento o tã acrescido ou nao de
que utilizados quase sempre nas introduções de dizeres justifi-
cativos.
Tá (diz Christo), que não he essa a mayor cir- cunstancia, que sobe de ponto o meu amor (Vieira, Sermão, 2,35' - Apud SAID ALI, l97l:ll7).
_ , _ ~ _. St - interjeiçao imperiosa usada para conseguir silencio
ou atenção. Proferida sem vogal ë comum a vários idiomas: fr.
§tJ sueco st, al.st. Suas variantes são: pst,ps (usadas em
sânscrito, alemão, sueco, polaco). No entanto, o elemento que
compõe a interjeicão ê a sibilante Ê. Somente ela ë suficiente ~ ._ para provocar a atençao ou o silencio desejado. O mesmo acontece
com a chiante x.
Com a chiante formou-se a interjeição ë, em português xõ
(ou chõ) utilizada para afugentar aves e animais.
Vozes interjectivas usadas para chamar ou instigar ani-
mais, geralmente, representam pura convenção. Uma vez que variam
de idioma para idioma.
Verbos onomatopaicos, para SAID ALI, são
121
vocãbulos imitativos de sons da natureza com os caracteres e flexoes proprias do verbo, como ribombar, coaxar, miar (ibid., p.l2l).
Se apresentarem características do nome, serão chamados de no-
mes onomatopaicos. Vozes imitativas como: tic-tac, miau, au-au, não serão verbos nem nomes, pois falta-lhes requisitos para se
enquadrarem numa dessas denominações.
BAKHTIN/VOLOSHINOV, em"Marxismo e filosofia da lingua- gem"(l98l)ll tem uma posição marcadamente sociológica na carac- terização da linguagem humana, chegando a uma definição da in-
terjeição através da aplicação do método sociológico a proble- mas sintãtioos, que considera
[...] da maior importância para a compreensão da língua e de sua evolução, [...] (l98l:l39-40),
uma vez que as formas sintãticas são as mais próximas das "for-
mas concretas da enunciaçao". O que se privilegia, aqui, ë o
ato de fala. A obra de BAKHTIN/voLosHINov ë um manifesto, tendo como primeiro objetivo dar ao fenómeno da interação verbal, consubstanciada numa expressão, uma orientação sociológica. En-
~ tende como expressao
[...] tudo aquilo que, tendo se formado e deter- minado de alguma maneira no psiquismo do indi- víduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda de algum código de signos exterio- res (ibid., p.ll2). '
É importante observar que, para BAKHTIN/VOLOSHINOV, '
o centro que forma e organiza o psiquismo individual não está
no interior, mas no exterior. Assim, não se trata de atividade mental organizar a expressão, mas a expressão organizar a ati-
vidade mental, modelando-a e definindo suas direçoes (ibid., p.
112). A enunciação, como "produto da interação de dois indiví-
uobra eâezita onginarianente en 1929-3o, eu ieningrado.
122
duos socialmente organizados", aparece, assim, privilegiada, num contexto em que tanto ê pertinente a situação social ime- diata como o meio social mais amplo. Nesse sentido, a enuncia-
ção ë ideologicamente marcada - o signo lingüístico, segundo
BAKHTIN/VOLOSHINOV, ê por excelência ideológico, ê a confluên- cia de todas as relações sõcio-ideolõgicas que os individuos socialmente organizados mantem entre si.
VOGT (1980) visualiza a interação lingüística como um
pequeno drama integrante do processo histórico, onde os atos
de linguagem servem de vínculo entre os diversos papéis desem-
penhados com determinadas intenções - os enunciados estão em Á
.
~ correlação com uma "superposição de máscaras" sobre Os persona- gens. Dado que a interação se dá nu "horizonte social defini- do e estabelecido, segundo BAKHTIN/VOLOSHINOV (ibid., p. ll2),
VOGT (l980:l6l) ratifica que o social
estabelece os limites da região ideológica em que se reproduzem e combinam as imagens
_
do enunci ador e do d estinat ario .
VOGT, na mesma linha, reconhece a importância do sintã-
tico, salientando, contudo, que a especificidade da linguagem humana não reside inteiramente nele, na medida em que se iden-
tifique a sintaxe "tendo a frase como limite superior de seu
dominio" (l980:l38).
Passa-se, assim, de um nível de análise estritamente
segmental, demarcado pela frase, para o texto, predominando as
relações textuais sobre as frasais. Atingido o texto, ë opor-
tuno lembrar como seria a sintaxe, dentro dele. Salienta OR-
LANDI (l983:l29): .- E a sintaxe [...] nao pode ser uma sintaxe
horizontal, linear. Ela e sintaxe de texto[...], sendo preciso se determinar, atraves de recor-
123
tes, como as relaçoes textuais sao representa- das. E, certamente, nao será uma extensão da sintaxe da frase.
A partir do momento em que a linguagem ë linguagem, ou seja, tem uma determinação social, sua expressão ë um elemento legítimo do texto.
Para BAKHTIN/VOLOSHINOV somente o grito inarticulado do
animal tem como fonte o aparelho fisiológico, sendo que este
tipo de reação não está ideologicamente marcado, ao passo que
a enunciação, ato de linguagem, ë resultado de interação social e diz respeito ao desempenho de papéis. do acento apreciativo das expressoes ao
tivo expresso, coloca-o como adjunto do
entoaçáo ë vista como um nível claro de determinado pela situação social em que
~ Considerando a questao lado do conteudo obje- mesmo. Neste caso, a
expressão lingüística, está inserido o diálo-
go. Vista desta forma, a entoaçao nao se liga indissoluvelmen- te ao contefido do discurso¡¬um elemento
-›
lingüístico eventual pode receber uma entonaçao expressiva. Aqui, BAKHTIN/VOLOSHINOV dá especial ênfase ãquilo que se nomeia como interjeição (ou
ainda uma locução, mas vazia de sentido). Entende ele que a
entoaçao, considerada elemento predominante, necessita de um
suporte para a descarga de sentimento. Seguindo essa interpre-
tação, nao ë estranhável encontrar no rol das chamadas inter-
`eições, na lín ua rtu uesa, se entos ue "su rtam" uma sé-1
rie variadfssima de apreciaçoes (ah, oh, ai, eh). Além disso, "' Il ' ' II II I! expressoes comuns, banais como pois e, pois e , sei, sei ,
"pois não, pois não" servem, segundo o autor, de "válvulas de
segurança entoativa" (BAKHTIN/VOLOSHINOV, l98l:l34).
Nesse caso, no nível da enunciação, o acento apreciativo
ë pertinente, e pertinente lingüisticamente, apesar de haver
124
u limite para suas possibilidades expressivas, aquele
da situação social imediata e de um pequeno cir- culo social intimo (ibid., p.l34).
Segundo BAKHTIN/VOLOSHINOV, ë ele (o acento apreciativo)
auxiliar marginal das significações lingüísticas, pertencendo ã indispensável modalidade apreciativa, de que toda enunciação
se alimenta. Somente o signo abstrato, sistematizado, careceria
desse valor.
Tomando-se como referência o grito inarticulado do ani-
mal que ë pura reação fisiológica sem orientação ideolõgica,vis- lumbramos os limites da linguagem humana, no momento em que,
sendo interjeição ou não, a enunciação recebe uma modalidade apreciativa. Por isso ë que muitos autores atribuem ã interjei-
ção a denominação de palavra-frase. Pelo fato de não se inte-
grar necessariamente ao conteüdo intelectivo (mas desempenhando
função específica na constituição da linguagem como ato), a in- .- terjeiçao (cujos limites ë quase impossivel precisar) ê margi-
nalizada nos construtos idealistas e, também, na gramática da
norma institucional. Ela sõ se fará sentir, em sua dinâmica,
na enunciação viva, na produção marcada pelo horizonte social-
ideológico, tal como delineado por BAKHTIN/voLosHINov. É em
perspectiva semelhante que, como vimos no inicio desta parte,
DUCROT privilegia o valor interjectivo: "na perspectiva de uma
teoria dos atos de linguagem". Esse valor, por sua vez, ë marca
de expressividade, conforme se observou pela ótica de GUILLAUME.
Dentro desse enquadramento, a interj eiçao ë representan-
te legítimo, num sentido genérico, de um valor enunciativo, de
modo que o que se conhece por gíria e palavrão, podendo apare-
cer com esse valor, serao eventualmente identificados com in
terjeição - adotando-se essa termin0lOgia COmUm- ASSimz Pode-
125
se "descobrir" Ó valor interjectivo na "classe"interjeição, bem como em outros elementos de outras possíveis "classes". O im-
portante ë que se trata de um valor que ultrapassa os critérios
comumente adotados em gramática, para legitimar-se a nível de enunciação - de interação verbal.
3. Interjeição e Onomatopëia - Tipologia de palavras-frases
Iniciaremos esta parte apresentando algumas considera-
ções, do ponto de vista estrutural da sintaxe de TESNIÊREl2,so-~ bre a interjeiçao assim marginalizada.
Para ele, as palavras-frases, ou "frasiünculas" (phra-~ sillons), em perspectiva de sintaxe estrutural sao inanalisá-
veis e, por isso, sem interesse desse ponto de vista. Porém são
ricas de conteúdo semântico, fato que compensará sua pobreza
estrutural, tornando-as semanticamente analisáveisr ø ~ Convem, aqui, lembrar a distinçao que TESNIÊRE faz entre
o plano estrutural e o plano semântico. Segundo ele, a estrutu-
ra de uma frase e a idëia, o sentido que expressa sao coisas
diferentes. O plano estrutural corresponde àquele em que se ela-
bora a expressão lingüística do pensamento. É gramatical, ë in-Q trínseco ã gramática, enquanto que o plano semantico está sob o
domínio do ensamento e ê extrínseco ã ramática, res eitando ãP lógica e ã psicologia. A atividade estrutural ë subjetiva e in-
A consciente, ao passo que no plano semantico a atividade mental .-
é objetiva e consciente - considerado por TESNIERE como feno-
meno superficial. Diante do exposto, podenos afirmar que os dois plaros
são ,teoricamente irdependentes, e a sintaxe, conseqüentemente, inde-
lzfilêments de syntaxe structurale, 2.eíição, Paris, Klinchieck, 1976. p. 94-9.
126
pendente da lógica e da psicologia, apresentando lei própria. TESNIÊRE coloca, tambëm,que, se entre os dois planos não hã identidade, hâ um paralelismo irrecusãvel. De fato, ãs cone- ~ 13 . -. \ ._ ._ , xoes estruturais se superpoem as conexoes semanticas. Ou me-
_. lhor, o estrutural expressa o semantico.
Diante do exposto, fica claro o fato de TESNIÉRE atri-
buir às palavras-frases o seu aspecto de analisabilidade estri-
tamente semântico. Visto sob este prisma, o conteúdo semântico
serâ bem complexo, e exigirá, muitas vezes, longas perífrases
para sua expressão estrutural. -
.
Notar-se-â, entre as palavras-frases de~TESNIÊRE, a in-
clusão de SIM e NÃO como palavras-frases lógicas (isto ë, inte- - » _ . r lectivas)zde carater anaforico. Isto porque elas trazem impli-
Ciffa uma conexão semântica anafórica com outras frases (em ní-
l3(bnexões, para TESIHÉRE, correspondeu às relações existentes entre as pa- « lavras que formam frase, atribuirfio-lhe carãter orgânico. O conjunto das conexó$ corstitui a estrutura da frase. Na frase Maria saiu, não temos apenas os elenentos Maria e saiu, mas Maria, saiu e a _‹1_)nexao que liga Maria e saiu, una vez que sem ata oanexâo não haveizia frase.
Cada conexão ë fonnada por un tenno superior (regente) e un termo inferior (regido), senão o ápice da hierarquia das conexões ocupada pelo verbo.
TESNEERE ätabelece a distinção entre conexões estruturais e cone- xões semânticas, tomando por base o princípio das conexões entre os ele- mentos da frase. A anãfora supõe duas canexóes senânticas. A primeira du- pla a conexão estrutural por se superpor a ela, e a segurfia ë suplementar e corresponde â anãfora en si mesma. No pr1`mei;ro caso tenos relação de dg- tenninação e ro segundo una renissão senântica, pois não correspnie a nenhuna conexão estrutural. Por exenplo:
Paulo ama sua mãe.
detenninação
_ cp) ama
,ás/" ó*`
af 69 pavio* ` ANÃFORA mae` ¶ a *_
(identidaie)` ` -s (de Paulo)
127
vel transfrasal). Em outras palavras, elas condensam todo o
conteúdo semântico das frases às quais se conectam. (Por exem-
plo: Você vai sair? NÃO).
TESNIÊRE reconhece, ao lado das palavras-frases lógicas, as palavras afetivas, tradicionalmente chamadas de interjeiçao, dividindo-as em IMPERATIVAS, REPRESENTATIVAS e IMPULSIVAS cOn-
forme expressem ua atitude mais ou menos ativa ou mais ou me-
ns passiva do sujeito.
19 polidez (-at.) Por favor!
I. IMPERATIVAS (ativa) 29 apelo (:at.) Pat! d
39 ordem (+at.) silêncio:
II. REPRESENTATIVAS (equilíbrio) (imitativas) bu! paft!
. 19 sensitivas (+pass.) ai! III. IMPULSIVAS (ativa-passiva)
*
. 29 emotivas (+pass.) ah! ih! (personagens expressivos) -
39 intelectivas (-pass.) ora! puxa!
Vamos considerar relevantes as distinçoes de TESNIERE
apresentadas no quadro acima, observando que as palavras-frases
podem ser de dois tipos: lõgico e interjectivo, e este, por sua ø Q vez, que e tema deste trabalho, se apresenta em tres tipos es-
senciais, numa linha contínua em que se representa a maior ou
menor atividade mental do sujeito falante: a forma imperativase
orienta para o TU, a impulsiva para o EU e a representativa pa- »~ ~ ra ELE, que e a nao-pessoa. '
Neste ponto, ë oportuno observar que o esquema de TES-
NIÊRE, enfocando, inicialmente, o aspecto geral de palavra-
frase, traçando, em seguida, uma linha contínua com o propósito
128
de caracterizar a maior ou menor passividade, ou atividade, ou seja, o envolvimento do falante bem como sua participaçao enun- ciativa, cobre o campo vivencial do individuo, expresso na re-
lação EU-TU-ELE, resultando um processo expressivo global. Gon-
forme focalizamos em 3.2, as nossas gramäticas procuram salien- tar na interjeição sua função emotiva, muitas vezes caindo em
confusões. ~ ¢- _. Talvez por nao considerar o fenomeno com uma visao mais
abrangente, de ordenação e articulação de fatos,procura-se ca- ø -› ~ racterizar a onomatopeia como nao-interjeiçao. _
Há, realmente, passagens interessantes sobre este aspec- to da discussão. Por exemplo: SAID ALI (1971), num capitulo su-
plementar de "Meios de Expressão e Alterações Semãnticas", em
que toma como tema a interjeiçao, afirma:
Tomando o termo interjeiçao em sentido muito la- to, costumam os gramãticos e cientistas (Heyse, H. Paul, Schwentner, Hofmann) considerar as vo- zes desta espëcie como um grupo particular das interjeições, e isto para não revolucionar o ve- tusto sistema gramatical e crear categoria nova.
De comum com as demais interjeições têm es- tas onomatopëias o serem palavras inflexionais (SAID ALI, l97l:l2l) _
identificando-se semanticamente "oom verbos e nomes de origem
verbal, como grito, berro, etc.,(ibid.,p.l2l). Observa SAID
ALI que categorias amo verbo e nome possuem o semantema ligado
ao morfema, ao passo que na interjeição onomatopaica temos so-
mmteswmmam. Aparentemente a imitaçao satisfaz, mas
os recursos do idioma que falamos, e os poucos fonemas de que ele dispõe não bastam para repro- duzir fielmente os gritos de qualquer animal nem os ruídos de qualquer objeto,(ibid. p.l2l),
ua vez que a formaçao da onomatopëia pode variar de uma língua
129
_. para outra. Exemplificando: Os franceses supoem que o galo can- ta ooquerico ou cocoroco, em alemão, temos gikiriki, em portu-
guês e brasileiro cocorocõ. Já os da êpoca de Gil Vicente imi-
tavam como cacaracá. _
Como vemos, o cantar do galo difere de uma língua para
outra. A semelhança está nas sílabas com as notas deste cantar.
As onomatopêias que têm por objetivo imitar as vozes hu-
manas nos causam a impressão de dor, de alegria, de espanto,etc. Porêm, estas impressões não têm ligação com a linguagem hua- na - afirma SAID ALI.
Feita a leitura das considerações de SAID ALI, observa-
se que tanto as interjeições como as onomatopêias podem passar
a funcionar como termo de oração intelectivo, como também ser
vocábulo independente de oração. Exemplifica ele:
O vigário tomou a pitada, mas nao pode reter um estrondoso atchim, (ibid., p.l23).
Atchim, aqui, ê usado como sinõnimo de espirro, logo ps- sa a ser uma categoria lingüística, com lugar reservado no es-
quema fechado das formas autorizadas.
Para melhor apreciar a diferença colocada entre inter-
jeição e onomatopëia, tomemos, entre outros, três dicionários:
l. DUBOIS et alii (1978) define a onomatopeia como
unidade lêxica criada por imitação de um ruído natural, `
como bu! - englobando, talvez, os ruídos que o homem produz
mais ou menos espontaneamente - apontando-a, igualmente, como
interjeição do tipo ah! oh!, ao lado de substantivos: cêusldia-
bo! Deus!,advêrbios: bem! e locuções: Ora bolas! Valha-me Deus!
dando-nos a entender que se equivalem a monossílabos, muito
130
próximos do grito inarticulado.
Aqui, não ficou clara a diferença objetivada, isto é,~ a diferença entre interjeiçao e onomatopëia.
2. JOTA (1976) - apresenta a interjeiçao como uma palavra prõ- pria para exteriorizar a afetividade, atribuindo-lhe a fun-
ção de sintetizar uma frase apelativa ou exclamativa. No
primeiro caso, objetiva levar a pessoa com quem se fala ã ação: psiu! alôl; já no segundo caso procura exteriorizar o que sente quem fala: oh! cruzes! expressando espanto, horror, alegria,
etc.À
~ Inclui entre as interjeiçoes as reses:
elemento supënfifite de oração carregado de con- teüdo emotivo,
como Extraordinário! Rua! Observa, JOTA, que ë difícil distin-
guir a rese da locução interjectiva.
Jã a onomatopëia ë definida como
reprodução gráfica ou articulada de um ruído: bum! tlim-tlim, miau,[...]
~ ~ Essas imagens de ruídos nao formam palavras; sao palavras os
nomes dados a eles, Por isso, o miau, o rpnronar, o tilintarcn- mo palavras onomatopaicas. A fase de transiçao efetuada nesse
processo de gramaticalização ë o uso da imagem do ruído num pa-
radigma lingüístico: O relógio faz tique-taque.
Como vemos, nao menciona a interjeiçao quando se refere
às onomat opëi as .
3. MATTOSO CAMARA Jr. (1977) "- distingue as interjeições - das
exclamações, que são
131
vocábulos soltos, emitidos em tom de voz excla- mativo,
e classifica-as como monorremas (Admirávell Que quadro de amar- gurasl) quando são
frase(s) constituída(s) de u só vocábulo que engloba em si os elementos do sintagma oracio- nal.
Ooncorda com SECHEHAYE (1926) quando afirma que a linguagem primitiva, certamente, teve seu início através de monorremas,
' ~ 4 uma vez que as primeiras frases infantis assim o sao. Porem, acrescenta que o vocábulo ê
inanalisável em partes e funciona em bloco.
Sãoldessa espécie as partículas frasais: SIM e NÃO (palavras-
frases.lÕgicas em TESNIÊRE) e ainda as formas verbais que in-
cluem o sujeito e o predicado: Anda! Sai!
Conforme mencionamos na parte 2 deste capítulo, ele‹flas- ~ ¢~ sifica É as interjeiçoes em tres tipos: "certos sons vocá-
lioos": ah! ih! ai!...; vocábulos "já no domínio da língua: .-
¡ ||I arre! olá!; uma locuçao interjectiva: ora bolas. valha-me Deus.
No caso de Valha-me Deus! remetemos a AZEVEDO (1976:
37ss.), o qual propõe uma análise frasal em termos lógicos, no
quadro da gramática gerativa, quando trata do subjuntivo inde-
pendente (= Que Deus me valhal) com ua oração matriz (princi-~ pal) abstrata, nao atualizada.
É importante frisar que, no momento que se pretende ver a interjeição como vocábulo lingüístico, as fronteiras são ins-
táveis.
MATTOSO CAMARA Jr. discute a onomatopëia ã parte, defi- nindo-a como
132
V
vocábulo que procura reproduzir determinado rui- do, constituindo-se com os fonemas da língua, que pelo efeito acústico dão melhor impressão desse ruído.
O autor tem o cuidado de não confundi-las com os vocãbu-
los onomatopaicos, que não passam de "nomes ou verbos com as-
pecto mõrfico usual": o zumbido, o tilintar, e os vocábulos ex-
pressivos, onde -
.~ a estrutura fonica apresenta fonemas que nos pa recem apropriados ao significado respectivo:
clarim.
Levando-se em consideração que a interjeição "deve" tra-~ duzir estados de alma, como querem os gramãticos, nao ë de es-
tranhar sua não relação com a onomatopëia, a qual, aparentemen-
te, neutraliza essa subjetividade, apesar de, esporadicamente,
representar um ruído produzido pelo homem, como atchim.
TOGEBY (1965) tenta uma análise da língua francesa com
base nos princípios da glossemãtica (linha de HJELMSLEV), em
que se considera, para o texto em análise, o plano da expressão~
e o plano do conteúdo, entre os quais hã uma relaçao de soli- .- dariedade. Nesse sentido, o procedimento de segmentaçao sintag-
mãtica encontra, como resultado, o registro dos elementos e do
conteúdo e da expressão - elementos assim classificados por
TOGEBY:
l. Expressão - fonemas .2. Conteudo - morfemas
' 3. Expressão e conteúdo - morfofonemasl4
Segundo TOGEBY, esse tipo de anãlise relega a segundo
plano muitos elementos que, apesar de.finmmemparte da língua,p£-
_ ~ l4Categoria responsável pelaxnâdulaçaa - umidade manifesta pela entonaçaa.
1 \'
š
'" `
Úlëliotocu Un¡\¬¬~ ‹
~ $]FSF -»-.¬ _. ----~ sam a formar um quarto grupo desprovido de expressao e de mcon-
teüdo lingüístico no sentido estrito: as onomatopéias. Por is-
so,
4. Nem expressão nem conteúdo: onomatopéias.
Para ele, as interjeições são morfemas e, por este motivo con-
sidera um "grave problema" fixar marco divisõrio entre ambas.
Encara as onomatopéias como "corpos estranhos" que apenas por
razões gráficas se manifestam por letras nos livros. Ele ilus-
tra desta forma:
- Vê, pois, um médico. - Pfff! Eles nao sabem nada!
~ Neste caso, nao teriamos um fonema [p] seguido de [fl repe-
tido, e sim algo parecido com um sopro, assinalando desconten-
tamento. O mesmo comentário serve aos sons animais. Afirma que
em miau, au-au, o que ocorreu foi uma padronização da grafia,
acompanhada, na pronúncia, de um esforço em imitar o animal.
Para classificar as onomatopéias, TOGEBY adota como cri-
tério sua estrutura exclusivamente consonãntica (Pfffl cht!Luma
vez que, na sua forma primitiva, elas não se equivalem a fone- ~ 4 ~ , mas. Porém, nao e o caso das exclamaçoes vocalicas que se inte-
gram ãs interjeições, sofrendo modulação e, inclusive, podendo
formar frase. Conforme vemos, o critério utilizado para separar
interjeição de onomatopéia é diferente daquele a que estamos
acostumados.
TOGEBY coloca a interjeição entre as PARTÍCULAS no sis-
tema preconizado por ele prõprio, ao lado dos advérbios, prepo-
sições e conjunções, estabelecendo como prioridade a sua forma-
ção em proposição, incluindo, nesse caso, o SIM. O NÃO é ex-
cluído de seu sistema porque pode desempenhar papel de membro
134
subordinado: "Não somente..." Nesse exemplo, temos um náo ad-
vêrbio, segundo TOGEBY. Isto porque seu julgamento se faz a
respeito de NON, no francês, diferente da partícula negativa
NE, á qual, finalmente, ë identificada por ele com o NON do
exemplo citado acima (Cf. l965:l8l): NON seulemente... (Não~ somente...). Il ne va pas (Ele nao vai).
TOGEBY classifica como interjeições, num primeiro momen-
to, palavras de resposta: SIM (e SI, para o francês) que cor-
responderiam ãs palavras-frases lõgicas, assim concebidas por TESNIERE, e, num segundo momento, todo um inventário já conhe-
cido nosso como: oh, ah, ai,... Considera tais interjeiçõeszfia- ses sem relação com outras frases - a glossemática chama de
HOMONEXAS - membros independentes na Sintagmática. Já as in-
terjeições de resposta podem constituir proposição subordinada, como: Ele diz que sim. Aqui temos frases HOMO-HETERONEXAS. E
oportuno lembrar que TESNIERE lhes atribui uma função anafõri- ca - condensando o conteúdo semântico das frases concernen-
tes. ~ _ _ ~ TOGEBY renuncia ã classificaçao de outras interjeiçoes
(Cf. l965:l9l) Por quê?
Na concepção de HERMANN PAUL (1970), há dificuldades em
se distinguir elementos lexicais nascidos de interjeiçõeskxia-
ções espontâneas) de outros, aos quais atribuímos valor foné-
tico expressivo. Para ele, existe um elo causal na criação es- ~ ~ pontânea, para que se concretize a produçao e a compreensao,ou
melhor ele su õe refor o sí uico, sendo essa causalidade de 1 q
ordem psicológica:
[...] existe uma ligaçao causal entre o obje. to denominado de novo e a sua denominaçao, a qual chegamos, por meio dum objeto já antes
135
denominado (PAUL, l970:19l).
Ele investiga uma série de palavras de criação recente - - 15 _ _ a epoca do novo alto-alemao, constatando que tais ~ palavras são designações de ruídos e de movimentos diversos, o que, para PAUL, não prova que devem a sua origem a uma ligação natural de som e significação, ou seja, que sejam de formação onomato-
paica, mesmo havendo um grupo especial de palavras formado por imitação de vozes de animais, possibilitando a designação dos
respectivos animais por meio destas palavras.
Partindo da concepção de "instinto onomatopaico", ele~ define interjeiçao como:
sons produzidos involuntariamente, provocados pela emoçao sem qualquer intenção de comuni- cação (ibid., p.l93).
Isto não quer dizer que aceita a hipõtese de serem oriundas ne-
cessariamente da emoção. Como os demais elementos da línguafiflas também, seriam aprendidas por tradição e, por associação, se
transformariam em exteriorizações involuntãrias, variando de
língua para língua e de indivíduo para indivíduo de mesmo dia-
leto. zu Para PAUL existem duas espécies de interjeiçao:
l. expressões de sensação interior ~ › ~
2. expressoes de formaçao onomatopaica.
No primeiro caso, distingue as expressões usadas para
sensação determinada das que podem se referir a sensações va-
riadas do tipo ail, sendo seu conteúdo determinado apenas pelo
tom que as acompanha (são os suportes formais, as válvulas de
escape, conforme menciona BAKHTIN; PAUL considera-as como"suU5-
l5A obra que se faz referência foi publicada pela prineira vez em 1880.
136
tratos articulados"). Tambêm pode acontecer que tais interjei-~ çoes tenham sua origem em outras línguas, como por exemplo oxa-
É- Podemos talvez afirmar que uma parte das interjeições
que acabamos de citar não seria derivada de outras classes, mas
exprimiriam diretamente sensações, com possibilidades de deri-
var verbos (viva-vivar), ou então de fazê-las, diretamente,
assumir funçao verbal (como, talvez, a proposta para oxalá em
Milton de AZEVEDO (1976z37ss.)l6. *
As expressões de formação onomatopaica, por sua vez, es-
tariam ligadas a sensações interiores e a processos exteriores
com origem em reações e excitações repentinas dos sentidos da ~ ~ ~ ~ audiçao e da visao. Tais expressoes poderao ser empregadas¡pos-
teriormente, na recordação e narração dos processos que foram
responsáveis por essas exclamações: bum! pfff! zãs! brrr! paftl,
etc.i
~ O caráter onomatopaico das interjeiçoes ë enfatizado com
o uso da duplicação e triplicação: bip-bip-bip, tique-tique,...
Estas palavras, como bem se observa, podem aparecer no
processo de sistematizaçao, num primeiro momento, em contexto
de substantivo. Sabemos, contudo, que há substantivos *formados
assim diretamente, como murmur, do latim, que resultou murmü-
rio; num segundo momento, encontramos derivações substantivais
l6"E possível entrever uma razão pela qual as palavras invariáveis talvez e quiçá, por um lad, e oxalá e tornara, por outro, sã senanticamente as- sociadas a sintagnas verbais cono ë possível (q§)... e eu desejo (gE§)..fl respectivanente. Essa razão ê que, em certa altura de sua evoluao histó- rica,êmú£s de asmJm1emc>status‹kapaLmn2s inWmjáweis,§n§ç§, tcmera e aäflá amüivenmnLm1ekmenu>vefixú".Zssüm AHäEDOcxêgmmwaüenuaex- plicar tais formas "por neio de uma estrutura subjacente abstrata que es- clarece sua fução sincrõnica por neio de regras que incorporam informa- ções sobre sua evolução histõrica" (l976:45).
137
e verbais. É o caso de tilintar, zunzunar, urrar, que são ele-
mentos contido no rol das palavras onomatopaicas.
Um bom número de palavras da linguagem das amas, mnnpnr dominância de reduplicação: papa, mama, bibi, dodõi, ê consi-
derado por PAUL como formação onomatopaica. Contudo, essa lin-
guagem tem como fonte de aprendizagem o seu ambiente - seja
ela familiar ou escolar -, não ë criação das crianças. Em contrapartida, PAUL estabelece um marco bastante ní-
~ as tido entre as criaçoes espontâneas (que se incorporam a uma
língua já formada) e aquelas com que começou a criação da lin-~ gua. No primeiro caso, verifica-se uma transmissao de algo já
sistematizado às palavras em formação. Por exemplo: tlim-tlim ~ ~ - tilintar; já as primeiras criaçoes correspondem "a percepçoes
completas" - seriam orações primitivas, frases inteiras, cons-
tituindo no seu âmago predicados, direcionados para a termino- .í_.____ií. logia lõgica, onde o sujeito seria uma impressão fisica, cons-
tatada sua impossibilidade na seleção de um elemento via opera-
çao lõgica. Para PAUL, o mundo em movimento e ressonante criou
no homem o impulso dos primeiros sons da língua, voltado, pri-
meiramente, para aquilo que o rodeia e depois para seus movi-
mentos corporais. Diante disso, o som criado designarã ao mesmo
tempo o objeto e a sensação do indivíduo, isto ê, o que nele
se passa. `
-v 4 ~ _ Nessas criaçoes ditas primarias nao colaboraria de ime
diato a intenção de comunicar, pois esta sô aparece quando, pe-
la experiência, se constata que um fim pode ser atingido atra-
vês do exercício da atividade, resultando uma transformação pa-
ralela com a efetiva criação da língua. Logo, a primeira rela-
ção social realizada entre os homens, através de sons, se daria
138
na medida da audiência por outros indivíduos; a sensação de re-
lação de sons e percepções se concretizaria pela ligação causal real.
Diante desta classificação de HERMANN PAUL e as observa-
ções anteriores, percebemos que a distinção entre onomatopêia ~ ~ e interjeiçao nao está nitidamente compreendida e, conseqüente-
mente, não assumida pelos gramãticos. E um "resultado"fluido‹kr
corrente dos prõprios procedimentos teõricos.
Nossa pesquisa, fundamentando-se nas manifestações es- » A pontaneas de linguagem, numa dinamica que vai da maior expres
sividade ã maior expressao, a partir do limiar da linguagem ar-
ticulada, desemboca em proposta diferente. Por isso,considerar- se-ã o material lingüístico fundamentado numa linha continua
. . _ 17 com possibilidades de recortes , em vez de cortes, uma vez que ~ ~ os recortes nao exigem uma delimitaçao acabada, e poden1 ser
mais ou menos profundos relativos. Quando o objetivo ë explo- as --u_í-ø-í- I
rar o processo criativo e expressivo de um trabalho no processo
enunciativo, levando-se em consideração a(s) norma(s), sõ re-~ cortes serao admissíveis.
Considerado o que foi visto nos diversos autores, con-~ cluímos que, na anãlise da interjeiçao e da onomatopêia (pala-
vras-frases), das palavras expressivas e onomatopaicas, hã um
caminhar para a estabilização (enquanto que muitos outros ele-
mentos expressivos vão, continuamente, aflorando no ato de lin-
guagem), e nesta dinãmica o elemento marginal se define e se
instala na língua articulada. Este fato pode ser testado atra-
vês das formas que se encontram num igual estado de língua; Is-
l7tal cono concebida por TESNIERE quand tenta definir a palavra, concluin- do<mxacs reooruäsque deLümtamê1paLmma.na amkfia.são,1wús que inpre- cisos, inprecisäveis.
139
to porque a interjeição (e a onomatopëia), primitivamente, ê de
um suporte formal muito pobre em relação ã grande quantidade de ~ 4 ~ matéria/significaçao. Isto e, a interjeiçao faz parte do~ jogo
representativo da linguagem. Essa quantidade grande de informa- ção mais está diretamente ligada ao conceito de interjeiçãomen- cionado pelos nossos gramáticos. Isto ë explicável, uma vez que
os elementos imitativos são responsáveis pelo relativo equilí-
brio entre atividade e passividade do sujeito se apropriando de sua linguagem (Cf. TESNIERE). A relação sujeito-mundo (eu-ele),
evidenciada na onomatopëia (palavras-frases representativas ou imitativas, em ÍESNIERE) apenas parece suprimir o sujeito enun-
ciador. Porém isto não se verifica na tipologia de TESNIERE,pfis a onomatopêia, para ele, ê um tipo de "phrasillon" afetivo, po-
dendo perfeitamente levar o rõtulo de INTERJEIÇÃO, orientada para o mundo envolvente.
Realmente ê possível atribuir ás chamadas onomatopëias o acento apreciativo, desde que o sujeito lhe imprima mais ou
menos expressividade. Este fenômeno ê muito bem ilustrado (gra-
fismo especial) pelas revistas em quadrinhos (grafismo especi-
al), apesar de os ruídos não serem produzidos pelos falantes
ou atores, na maior parte dos casos.
Ora, um dos pontos críticos de nossas gramáticas tradi-
cionais ê a deficiência em mostrar que a língua ê um processo,
apesar de admitirem que algumas formas variantes funcionam
contemporaneamente, seja lexicalmente, ou numa construção maior~ já concebida como sintática; como também em nao mostrar a con
vivência entre meios de expressão e expressividade, conforme
quer GUILLAUME, estes (meios de expressividade) fazendo, de
certa forma, uma má sintaxe, marginalizando-se e instituciona-
I
lizando-se
140
em não mostrar ainda que os elementos sistematizados estão em equilíbrio guagem que contrário, da língua,
precário (como já dissera SAUSSURE), pois que a lin-
vive tudo está em processo. A norma (explícita), ao
estabiliza, e fossiliza, preconiza o congelamento do idioma, da linguagem.
ao aproximarem-se de seu põlo negativo [- expressãol;
CAPÍTULO Iv
PEDAGOGIA DA LÍNGUA MATERNA
l. Discutindo a Pedagogia-
Questões como: Que português ensinar? Que nível de lín- gua admitir em classe? Como corrigir erros lingüísticos? É pos- sível mudar a língua do meio ambiente? estão vinculadas, inevi- tavelmente, aos objetivos e orientações no ensino da língua materna.
A primeira questão ë, de alguma forma, a questão da NOR- MA, pelo que remetemos, inicialmente ã discussão concernente
~ - dentro deste trabalho. Admitimos que nao ha uma norma apenas, e observamos que o que se concebe como língua e como norma le- vam a uma orientação específica na pedagogia da língua materna.
A partir de uma caracterização do currículo de 19 e `29 graus no ensino regular, o Plano Estadual de Educação 1985-1988 para Santa Catarina, elaborou diretrizes para a proposição de currículos e programas de ensino - aí consta, como delibera- ção, entre outras, a que preconiza que o currículo de 19 grau terá a preocupação de formar e informar, devendo-se buscar o
142
desenvolvimento das seguintes capacidadesá
observar, pensar, discernir, refletir, criticar, criar, redigir, expressar, raciocinar, agir e nao so repetir (Deliberação 0058, p.30).
Quanto ao ensino de Língua Portuguesa, especificamente, ~ 4 _.. f uma das deliberaçoes e a reformulação dos conteudos, de modo a
serem "mais voltados às necessidades vivenciadas do cidadão".~ (Deliberaçao 0070, p.32).
Embora o CFE preconize, para a área de Língua Portugue- sa,
o cultivo de linguagem que ensejem ao aluno o contato coerente com seus semelhantes, (Resolu- ção n<2 8, de 1<.>/12/1971, Art. 39)
embora as orientações anuais da Secretaria de Educação no Esta- do, para o desenvolvimento de atividades didaticas estabeleçam objetivos que parecem concretos..
- compreender mensagens com eficiencia, ouvindo, lendo e observando; transmitir mensagens com e- ficiëncia, atravës de linguagem verbal-oral e escrita e de linguagem não verbal; conhecer as possibilidades de expressão na linguagem verbal e não verbal; valorizar a linguagem como ins- trumento de integração social e auto-realização e como elemento de conservação e transmissão da cultura brasileira; depreender as principais re- lações sistemáticas inerentes ã língua_»
a questão de ensinar a língua materna, a partir dos objetivos propostos, ainda não ë coisa simples. Na verdade, acaba-se des- cobrindo que não hã definição precisa. Defrontamo-nos, primei- ramente, com o problema da variação lingüística; ë preciso ex- plicar como se dã a intercompreensão; ë preciso saber para que
' (por que ensinã-la?), e como se dá o desenvol- s erve a lingua vimento da linguagem na criança (que papel a lingua assue na aprendizagem escolar em geral?)
_ GAGNÊ (1983) coloca estes pontos como essenciais para
143
situar o problema do ensino da língua materna - associado ä norma.
Ora, nós temos não só u português ito e um portu- escr guës falado, que diferem sob muitos aspectos, estando implica- das aqui as situações de comunicação. Assim, conceber-se-ã, no mínimo, ua norma para o escrito, outra para o falado. Como provavelmente em todas as línguas que têm um código escrito, em princípio reconhecem-se, para o português, normas ortográficas e gramaticais de um sô tipo, quer dizer, uma NORMA, em sua. É verdade que esta norma única tem sido ultimamente bastante qma- tionada, até mesmo por alguns gramãticos (Ver, por exemplo, LUFT, 1985).
Em compensaçao há os que, salutarmente, alertam para o fato de, numa tentativa de privilegiar o uso oral, espontâneo da linguagem, chegar-se a repudiar os níveis mais formais. Ve- ja-se, por exemplo, BECHARA (l985:l4): '
Hoje, por um exagero de interpretação de "liber- dade" e por um equívoco em supor que uma língua ou uma modalidade ê "imposta" ao homem, chega- se ao abuso inverso de repudiar qualquer outra língua funcional, que não seja aquela coloquial, de uso espontâneo na comunicação cotidiana. Para BECHARA, a tarefa do professor de língua materna
será possibilitar ao aluno
escolher a língua funcional adequada a cada mo- mento de criação e até, no texto em que isso se exigir ou for possível, entremear várias línguas funcionais para distinguir, por exemplo, a moda- lidade lingüística do narrador ou as modalidades praticadas por seus personagens, (ibid., p.14). O problema em que o desenvolvimento de nosso trabalho se
assenta ë também reconhecido por BECHARA, e se resume em_ fazer da educação lingüística uma educação centrada na linguagem (re- memoremos o objetivo geral previsto na resolução referida atrãs
144
.. II "" do CFE: "cultivo de linguagens ), nao mais na língua:
centrado como era o aprendizado na língua ver- bal escrita e nas suas regras de estrutura e combinações, punha-se de lado o complexo e ri- co papel da linguagem no ato de comunicação entre pessoas que vivem em sociedade (BECHARA, l985:l9).
Dai a pertinente polêmica entre "ensinar portuguêsyšabar português" e "ensinar gramática"/"saber gramática".
Falavamos da norma única reconhecida para o ensino da lingua. Ora, se ê relativamente fácil admitir esta norma (na realidade, muito indefinida, nos dias atuais), em contrapartida a homogeneidade do português falado não ë um fato. Cbmo afirma BECHARA (1985), o falante conhece e usa ua variedade sintõpica (um dialeto regional), ' ' “ (um nível social) e sinfási- sinstratica ga (um estilo de língua) - ele não conhece toda ua língualús- tõrica. Em termos mais gerais, temos variaçoes de ordem geo- gráfica, de ordem social, de registros. Supõe-se que as varia- ções sejam mais notáveis nos níveis fonolõgioo e lexical, _(so- bretudo quando se comparam dialetos regionais, no Brasil, a di- ferença ê bem visível). GAGNÊ (1983) adota uma denição de re- gistro que se distancia do que se poderia chamar variações de ordem estilistica: um con'unto de variantes assíveis de ocor-P rer com freqüência em determinado tipo de comunicação - ê de- pendente da situaçao total de comunicaçao, que integra:locutor, interlocutor, intenção, codificação, canal mensagem, interpre-
Id . taçao, contexto, referentes.
Qual seria a norma para o português falado? GAGNÊ (1983) constata que o francês oral standard (o bom
uso), na medida que se lhe dê cidadania, seria definido como "aQ intersecção de tres conjuntos: a variedade parisiense, a varie-
dade "burguesa" e o registro formal" (Cf. p.467). Para o por-
145
tuguês, se ë ” possível registrar um local do país tomado como "' ' - n padrao, poderiamos, contudo, admitir ainda que a variedade bur-
guesa" e o registro formal entram em língua de conto na carac- ~ _ terizaçao de um portugues modelo para o oral. O que acontece,
subseqüente e conseqüentemente, ë uma avaliação negativa, hie-
rárquica, dos outros usos orais (falado errado...)
Afirma GAGNÉz
O fato de que nao existe gramática ou dicionário normativo da língua oral ilustra a dificuldade de estabelecer nesse domínio uma norma prescri- tiva, (ibid., p.468).
O que vale, nesse caso, ê a eficácia da interação verbal em de- as
terminante ambiente social. O que ocorre aqui ë a obediencia
natural inconsciente, ãquilo que chamamos norma implícita - o
que não significa que esta norma seja única: a adequação, num ._ contínuo que vai do mais espontaneo ao mais formal (até certo
nível), se verifica mais ou menos espontaneamente com a mudança
das situações de interaçao verbal.
Parece razoável, assim, que um dos objetivos do ensino
escolar seja trabalhar esta adequação, admitindo, como princí-
pio, que cada pessoa possui u repertório lingüístico "passivo",
mais extenso que seu repertório "ativo" - estender o repertó- A ~ ,
rio passivo, faze-lo aflorar para uma expressao mais precisa,
mais criativa: criar mais opções de expressão concreta ("aumen-
tar a com etência lin üística como se tem encontrado em manuaisP de orientação escolar.
Fizemos, no capítulo II, ua longa discussao sobre a
questão das funções da linguagem, discussão relacionada ao pon-
to-chave expressidade. Será conveniente, agora, identificar
funções de ordem ' ' ' ' e funções de ordem ' ' '”.Tam- individual p
comunitaria
bém para este ponto GAGNÊ (1983) ê explícito em maximizar a im-
146
portãncia do tema para aclarar a questão da norma e, conseqüen- temente, encarar as implicaçoes numa pedagogia da língua mater- na.
A língua, diz, ele, ë "u elemento essencial de identi- ficação nacional" (l983:47l). Como tal,
desempenha o papel de suporte e de catalisador na expressão da cultura e dos valores de uma coleti- vidade, (ibid., p.47l). ›
Como bem coletivo, ê preciso protege-la e desenvolve-la. As nossas instituições reconhecem isto, pelo menos no discurso legal.
Na ' " (entendamos ` " num sentido lar- comunicaçao comunicaçao go) individualizada encardremos o ato pessoal do indivíduo em interação com seus semelhantes, ozando ai de relativa liberda-9 de uanto ãs variantes ue domina. Na comunicação instituciona- q q lizada o elemento pessoal se dilui: o ato se torna mais ou me- nos impessoal e mesmo anônimo: a instituição comunica com indi- víduos, grupos ou outras instituiçoes. Nesse caso, restringe- se a liberdade de uso de linguagem - 'chegamos aqui até o limi- te da norma explícita estabelecida. Lembrar-se-ã também, neste caso, que as formas individualizadas privilegiam as comunica- çoes orais; as institucionalizadas, as comunicaçoes escritas (linguagem formal oficial). Contudo, ë pertinente sublinhar que o que se chama "função comunicativa" (informativa, referen- cial, cognitiva) não ë exclusividade de uma destas formas. Em- bora se retenda ue o discurso oficial deva ser informativo‹fl> P q
z
`etivo utilizando lin ua em neutra (com certas normas es ecí- 3 z 9 9 P ficas, denotando tratamento impessoal), ele pode, na verdade, esconder atrãs dessa " lacidez de lin ua em", atos ersuasi- z P 9 vos e ataques mais ou menos pessoais, considerada, no contexto
147
total dessa produção, a situação "extralingüíStica". Colocar em seu devido lugar o aspecto normativo (explícito) da lingua- gem ë uma conseqüência da consideração (essencial) das funções a que serve a linguagem. Cada apropriação de linguagem É um a- to. Por este ato, o homem entra em interaçao com seus próximos, com a sociedade e com o mundo.
Por outro lado, sem entrar nos detalhes das discussões psicolingüísticas (que se revelam de importância máxima na op- ção de metodologia de ensino), ë preciso colocar como essencial que, no desenvolvimento da linguagem infantil, ë exatamente a interação verbal que vai determinar, nesse processo evolutivo, a adequação e a posterior aceitação (progressiva) de ua norma
~ mais ou menos bem definida nas múltiplas situaçoes comunicati- vas dentro da sociedade. A linguagem infantil não pode (isso tem sido demonstrado através de pesquisas especializadas) ser considerada desviante em relação ao um pretenso padrão que se- ria de uso normal nos adultos.
i
Isto leva a concluir pela revelãncia das interações ver- bais no processo de ensino e aprenizagem, a partir do diálogo
Q simples e da conversação espontanea, feita inicialmente, no ambiente de sala de aula, entre professor e alunos --e que de- ve ser representada, pelo aluno, como continuação natural das atividades de linguagem que já exerce fora da escola.
Isto posto, aproveitaremos ainda a excelente contribui- çao de GAGNÉ na caracterização do que ele chama as duas orien- _____________. tações principais de pedagogia lingüística que sintetizam as
Q atividades de ensino da língua materna, com referencia á norma lingüística. Veremos, imediatamente, que em nosso ambiente es- oolar há predominância do que ele rotula "pedagogia da língua"; a outra perspectiva (oposta) será chamada "pedagogia da fala"§
â
l48
Observemos de imediato que, no plano teõrico, estas duas orien- tações correspondem ã clássica dicotomia saussuriana - lan- gue versus parole.
A pedagogia da língua privilegia o código, pois, e se define, no ensino, como prescritiva; tem caráter normativo ex- plícito e se orienta para a escrita e o purismo; o código, na medida em que ê sistema homogêneo, ë um objetivo superior e neutro, que iguala os homens. Nesse ponto, GAGNÉ coloca a ques- tão de como normatizar o uso oral. Acontece que, através de "critérios" muito fluídos, acaba-se caracterizando o bom uso
f ~ oral como 1, uma especie de oralizaçao do escrito (uma leitu- ra em voz alta) - sem dúvida, 'd 'z d . Promove-se a sacra- 1 eali a o lização do escrito -«de u certo escrito, em detrimento das outras variantes, em detrimento da expressividade, em detrimen- to da criatividade - embora, ë certo, os manuais escolares,co- mo os analisados neste trabalho, registrem um discurso sobre
~ ` ._ sua elaboraçao as vezes bastante esclarecedor sobre a conscien-
cia das falhas dessa pedagogia. Pretende-se, assim, nesse dis- curso, que o ensino não ignore a realidade circundante, quando, de fato, em maior ou em menor grau, a ignora.
-` Seriam conseqüências dessa pedagogia:
1) a im sição de uma norma artificial ä lín ua oral im-9 pede o domínio das funções e dos usos diversos da língua falada;
2) tal norma restringe a aprendizagem da leitura, dada a distância e o falar espontâneo da criança e o texto escrito uti- lizado: na busca de um oral padronizado, a criança certamentexmw terá oportunidade de tentar compreender o sentido do texto; isto
¬K
149
também ë verdade para a redaçãol;
3) alienaçao social do indivíduo ou rejeiçao ã escola,no primeiro caso, se a escola consegue que o indivíduo rejeite sua realidade próxima: os falares de sua comunidade imediata, jul- gados "incorretos"; no segundo caso, se esta tentativa for fa-
lha;
4) discriminação social, com prejuízo imediato para as
crianças socialmente menos favorecidas, que estão, de regra,
lingüisticamente mais distantes do bom uso que as outras.
O centro das atividades escolares nessa orientação ë a
gramática da língua: as formas lingüísticas são privilegiadas en _» detrimento do sentido textual e das funçoes específicas da lin-
guagem; por outro lado, esquece-se que o indivíduo que entra
na escola é portador de uma competência lingüística "impressio- nante", como diz GAGNÊ; no final de vãrios anos de estudo, en-
tretanto, constata-se que o aprendizado gramatical não aumen- .- tou em quase nada essa competencia. A escola em crise.
A pedagogia da fala, por sua vez, elaborada numa pers-
pectiva sociolingüística e funcional, procederia pelo privile-
giamento imediato da fala, da utilização de linguagem pelo in-
divíduo. Admitiria acoexistência de variedades de uso em rela- ção ãs vãrias circunstâncias: geográficas, culturais e sociais,
e situações c0mun'i¢a1;j_vas_ (Estas preocupações estão presentes,
como jã vimos nesta mesma seção, quando comentarnos BECHARA) ,en-
volvendo intençoes, locutor, interlocutor, tema, variedade oral
Jvem a propósito, aqui,.o quediscute Werfiell JOHBSON no antiçp "Impossível redigir redaçao" (In'T.Bo“e'mau usoda linguagem, ensaios selecionados por HA AKA WA, SP, Pioneira, 1977 (p. lOl-13) , enbora se trate de_un professor de inglè, preocupado ccm a língua inglesa usada por aluros de pos-graduaçao(!).
150
ou escrita da língua.
Como não temos, pelo menos ã nossa disposição, em termos ' ._ de ensino nacional, resultados de experiencias de ensino de
língua através de uma pedagogia da fala(institucionalizada),co- locaremos as dificuldades potenciais que tal abordagem poderia
apresentar, a partir de experiências jã verificadas no exte-
rior, segundo apreciação de GAGNÊ.
l) Seria extremamente importante uma fundamentaçao teõ-
rica explícita, o que não se tem atualmente, e pensada em ter-
mos de aplicação pedagõgica. Essa bagagem teórica incorporaria
elementos de pragmática, teoria da enunciaçao, análise de dis-
curso, modelos psicolingüísticos de aprendizagem da linguagem.
Esse terreno teórico já aparece como potencialmente produtivo
para aplicação no ensino, mas ë ainda fluido.~
2) Uma dificuldade de ordem ideológica: esta orientaçao~ poderia mostrar a necessidade de promover "maiséalibertaçao da
~ _. palavra e a emancipação das classes populares do que a aquhfiçao
da língua padrão", segundo GAGNÊ (l983:484). Observamos' essa
preocupaçao em BECHARA (1985), de que citamos um trecho mais »- ~ atras, nesta seçao.
3) Haveria dificuldade suplementar na identificaçao de
objetivos de ensino da linguagem, nos diversos níveis (como gnv duar os programas?). Por outro lado, certos objetivos que pare-
cem atados ã realidade social, em nossos dias, escondem outros
que levam imediatamente ã pedagogia da língua, continuando a
centrar-se na norma explícita. De u modo mais ou menos Claro
ë esta a situação que se nos apresenta atualmente.'
Como ultrapassar o código? É necessário fazë-lo?
Ora, bem pesadas as duas orientações, parece que ultra-
151
passar o código não seria necessariamente abandoná-lo, mas che- gar a uma síntese (no sentido dialético). É isto que nos pro-
póe GAGNÉ, e a que se chega, aliás, de um modo mais ou menos lógico: "ultrapassar a oposição aparente de uma pedagogia da fala e de uma pedagogia da lingua" (GAGNÉ, l983:486).
Para este trabalho, que deve ser pensado e repensado em
termos de objetivos que a escola se propoe no ensino da língua~ materna, ë preciso a conscientizaçao de todos aqueles envolvi-
dos no processo.
Tentemos, pois, associar ou relacionar o que seria dese- jável atingir em termos de objetivos gerais àqueles que assi-
nalamos anteriormente, no início desta discussão, propostos pe- la instituição nacional.
l) A interaçao oral, bem como a leitura e a escrita sao
meios necessários de ensino e aprendizagem de outras discipli- nas (processo interdisciplinar).
2) A língua ë um bem coletivo, que se consubstancia a-~ través de suas funçoes comunitárias. A alfabetização, a trans-
missão de valores e dos conhecimentos, toda a bagagem cultural
passa, de alguma forma, pela língua.
3) É preciso garantir a eficácia das comunicações insti- tucionalizadas --atraves do código escritoeáb código oral a
nível formal. '
4) No plano individual, deve ser assegurado o desenvol- vimento de habilidades relacionadas às funçoes individuais da linguagem (informação, descoberta, poesia, expressividade, me- talíngua), pelo aumento gradual do repertório do indivíduo, adaptando-se-o ás várias situações comunicativas (variação lin-
güística). `
‹L
152
Se tudo isto nos parecer lógico e realista, concluiremos ... ~ ‹~ pela nao aceitaçao da atitude extremada (uma tendencia quando
se combate uma teoria, u ponto de vista, ua pedagogia,... )
que seria impedir que a escola tenha como (um) objetivo a aqui-
sição do código escrito, a partir de uma norma prë-estabelecida e do código oral formal, mas também, por outro lado, pela não
aceitação da atitude de impedir que a escola ou o indivíduo exercite ou faça~exercitar variedades dialetais existentes na
comunidade.
Diz silvio ELIA (1978=77)z
Saber escrever não consiste [...] numa escra- vização aos ditames inapelãveis da "Senhora Gra- mãtica", mas também não estã numa atitude ridícu- la de soberano desprezo aos cânones da língua.
.. Mutatis mutandis, e a atitude pela qual se propugna aqui. Resumindo os objetivos de ensino numa síntese das pers-
pectivas normativa, descritiva e funcional, GAGNÊ (ibid.,p.488)
chega ao seguinte:
... pode-se afirmar que, em geral, uma per- formance lingüística ë de qualidade quando se trata da utilização, em função dos objetivos vi- sados e seguno as circunstâncias ou as situações, de elementos lingüísticos conformeg ao código, ã variedade ou ao registro apropriado. '
~ , , Ou seja, nao se pode ignorar nem a gramatica, nem a lrn guagem, ne a língua, nem a fala. Seria um grande projeto, para a escola, realizar pedagogicamente este ideal, meditando sobre os aspectos teóricos implicados, em seguida sobre os conteúdos
lingüísticos, na sua modalidade de compreensão e de produção.
O material lingüístico, para isto, ê superabundante.
No que oancerne ã compreensao oral, as atividades leva-
rão, gradualmente, ã integração de novas palavras (que passa-
rão, provavelmente, ao seu repertório passivo e gradualmente ao
l53
~ - ativo), ã estruturaçao de campos semanticos de seu dominio, ã
compreensão de estruturas, de frases e de textos completos cada vez mais complexos, mas sempre a partir das estruturas e dolé- xico já compreendido; ë dessa forma que se irá desenvolvendo a
1» habilidade de ouvir e adotar atitude critica. Nao_se efetuarã~ um corte brutal entre as atividades de linguagem espontaneas
do aluno e aquelas ditas institucionalizadas. Nesse primeiro
momento, ë evidente que se trata de tirar o máximo proveito da- quilo que chamamos norma implícita.
Quanto ã leitura (compreensão do escrito), sobre o que LI. gp U1 (D tem, atualmente, muitos trabalhos especializados, sali-
entar-se-ä, de acordo com essa orientação, que os textos terão
linguagem sempre próxima daquela que a criança já domina, ê im-
perdoãvel esquecer que a leitura só tem sentido com a compreen- são. Depois de um trabalho deste tipo, em que algumas habilida- des fundamentais foram adquiridas, os textos selecionados va-
riarão grandemente e se tornarão mais difíceis, mais abstratos - todos aqueles que fazem parte da vida do individuo deverão aparecer e merecer atenção - inclusive, ë claro, os textos literãrios, de caráter nacional e regional.
~ f ~ A produçao lingüistica serã sempre mais complexa: nao se produz sem compreender, e, além dos aspectos individuais consi-
derar, sabemos que o repertório ativo do indivíduo ê mais res-
trito que o passivo. Além de tudo, considerar-se-ã tanto a pro-
dução oral como a escrita, e nesta, todas as implicações rela-
tivas a existencia de uma norma fixada.
Todo tipo de mensagem deve ser exercitado na escola, do~ mais breve ao mais longo, do mais espontaneo ao mais elabora-
do, do mais expressivo (no sentido de expressividade que discu-
154
timos aqui), ao mais intelectivo (simples expressão). Os dis- cursos especializados, ê claro, terao seu lugar privilegiadoxos níveis mais altos da escolaridade.
As atividades de produção oral, que darão seqüência ás ú. '
atividades totalmente espontaneas da criança, fora do ambiente escolar, deverão permitir a ampliaçao do léxico e a aquisiçao ativa de estruturas que os adultos normalmente dominam. Impres-
cindível, oontudo, ê que sejam fornecidas, favorecidas as oca-
siões para que sejam utilizados os elementos ouvidos e compre-
endidos. Em todo caso, tentar-se-á determinar_ o que ê adequa-
do e desejável tendo em vista a comunidade social.
2. Análise Ilustrativa
Inicialmente, nossa preocupação foi selecionar,dos mui- Q ~ tos livros didáticos circulantes, tres coleçoes (Sê a 8? sê-
ries), com o propõsito de averiguar o status do valor interjec- tivo e'da expressividade - com as implicações discutidas no
decorrer deste trabalho - no contexto lingüístico. Porém, não
deixamos de verificar em outras coleções de mesmo objetivo a
ocorrência do aspecto que nos propusemos a estudar. › \
Autores Como: SARGENTIM, FERREIRA (1977), MESQUITA e
MARTOS, CEGALLA, PERSUHN, entre outros, não incluem o estudo da
interjeição (nem mesmo como classe gramatical) nas quatro últi-
mas sêries do 19 Grau. Estranhamos este dado, ua vez que nossa pesquisa inicial com professores constatou que a interjeição ê
assunto abordado na 6% sêrie. Em decorrência disso, concluímos
que a falha está, em princípio, nos autores de livros didáti-
155
cos, já que a maioria dos professores de Língua Portuguesa têm por hábito adotar um livro texto. Isto explica, em parte, o
quase concelamento do assunto em debate nas sëries de 19 Grau.
Apesar de FERREIRA (1977) não trazer a interjeição como
titulo ou subtítulo de unidade de ensino, ele a deixa suben-
tendida quando mostra as diferenças entre frase, oração e pe- Í' ¬ riooo:
Quando dizemos alguma coisa que os outros enten- dem, temos frase. Quando a frase não tem verbo, dizemos que ê pa- lavra-frase. '
Quando a frase tem um verbo, dizemos que ë gra- sše- Quando a frase tem verbo e termina por urna pausa longa (marcada na escrita por ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, idizemos que e PirL<×1_°-
(FERREIRA, l977:20l, Sê série)
Caberia ao professor abrir u parêntese em sua aula e
introduzir o assunto, adaptando-o de acordo com o grau de en-
tendimento dos alunos.
MESQUITA & MARTOS chamam de frases nominais ao que FER-
REIRA chamou de palavras frases. Continuam o estudo, mostrando a diferença entre os diversos tipos de frases: declarativas,de- clarativas afirmativas, declarativas negativas, interrogativas, exclamativas, imperativas. De posse destas observações, propõem ao aluno o seguinte exercício:
Agora, leia com expressividade: a) Você era a garota mais elegante da festa. b) Algumas pessoas não atenderam ao convite. c) Quem ê aquela moça? d) Como você está linda! '
e) Traga-me um chã, por favor! (MESQUITA és. MARTOS, 1982=13, sê série).
CEGALLA (1980) e PERSUHN (1982), e linhas gerais, apre-
sentam a mesma metodologia que os mencionados anteriormente,is- » -.› . \ to e, o estudo dirigido, que, atualmente, nao satisfaz as ne-
156
cessidades do ensino.
Incluíremos SIQUEIRA & BERTOLIM, na relação das exce-
ções, pois no final do livro de 5% série dedicam uma página ao
estudo da interjeição, introduzido pelo poema de Bastos TIGRE:~ 2 . . "OH!..." , seguido de noçoes elementares sobre o assunto e fi-
nalizado com um exercício do tipo: V
'
Coloque as frases no imperativo (modo de verbo que indica ordem ou pedido): Psit/ fazer silêncio. Psit! Faça silêncio! (. . .) (SIQUEIRA & BERIOLIM, (s/d)=195, 5% série).
quando o texto-base da unidade - "O Socorro", de Millôr FER-
NANDES3 contém todos os dados para explorar: interjeição, locu-
çao interjectiva, onomatopëia, enfim, a expressividade. Esta
divisão proposta pelos autores mostra-nos o campo restrito de atuação da interjeição, enquanto expressividade, cedendo lugar ` ~ ~ - a classificação gramatical. O texto utilizado como motivaçao e
um texto metalingüístico com o objetivo, cremos nós, de apre-
sentar a definição e uma única interjeição: "ohl" (Ver anexo
v,.p.2o4-8). -e ~ As tres coleçoes de livros didáticos selecionados por
nõs para este trabalho, conforme mencionamos no inicio desta
parte, são e de scARToN a CUNHA (1982), CAMARGO et alii (1982)
e a de FERREIRA (1984).
Faremos, primeiramente, uma mostragem dos objetivos con-
tidos em cada uma destas coleções, passando, em seguida, aos
textos, observando compreensão, produção e sua interação com os
conteüdos gramaticais.
Zlnz Racitãlia, Eli. Mirerva Itda., Rio.
3Fãbulas Fabulosas, E1. bñrdica.
l57
1.1. CAMARGO, Gessy et alii (1982). Comunicação em Lín-
gua Portuguesa, Së a 8? séries.
Entre os objetivos enfocados nesta obra está o de
levar o aluno a pensar e raciocinar [...] atra- vés de técnicas de composição, de interpreta- ção de textos, de atividades, de trabalhos de discussão em grupos, de debates, (ibid., p.II).
Cada unidade da coleção é iniciada com um texto-base,se- guido de: estudo do texto (vocabulário, compreensão e interpre-
tação); estudo da lingua (niveis fonético, morfolõgico e sintâ-
tico); estudo da composição; técnicas de composição.
As autoras sugerem uma seqüência de atividades prepara- tõrias para início de cada unidade, tais como: motivação, lei-
tura silenciosa, leitura oral. Feito isso, os alunos serao con-
vidados a trabalharem com o texto, numa tentativa de explorar ovpcámflãrLo,de compreender e interpretar o texto.
av Ao selecionar os textos para a coleçao, as autoras Se preocuparam com os aspectos:
_
~ atualidade; adequaçao ã faixa etária e aos inte- resses do aluno; qualidades estruturais e artis-‹ ticas,
procurando~
~ abranger todas_as funçoes da linguagem, desde a referencial ate a poética, e os diferentes usos da lingua, (ibid., p.III).
Também foi preocupação das autoras diversificar os tipos de exercícios e as técnicas, transferindo ao professor a tarefa de dosã-las para ocasionar um bom equilibrio. Igualmente, cabe-
ria ao professor explorar os textos complementares da forma
mais 'conveniente.
1.2. FERREIRA, Luiz Antônio (1984). Aulas de oomunioação
158
em lingua portuguesa, 5% a 8? séries.ø Sem muitos comentarios, coloca-nos o autor a necessida-
de que tem o professor de Lingua Portuguesa em penetrar no mun- do do pré-adolescente, reconhecer seus valores, estudar suas
tendências, para, então, introduzir o ensino da Lingua Portu- |
› ' H
`
guesa, cnm.o intuito de descrevê-la, como fator sumamente im-
portante na relação individuo/mundo e com o propósito de
evidenciã-la como fenômeno dinâmico e, sobretu- do, vivo (FERREIRA, 1984z1, Sêsêrie).
Cita, o autor, como objetivos gerais: . o desenvolvimento da habilidade de comunicar-se no grupo so-
cial, ajustando-se e participando através do dominio da lin-â
guagem oral e escrita; . a auto-realizaçao, pela satisfaçao pessoal na comunicaçao,*na integração e na busca de seus valores ideais;
. a passagem da linguagem oral para a contextual, sobretudo es-
crita;u
. maior compreensao e valorizaçao do povo e da cultura brasi-
leira (Cf. p.II).
Cada unidade ë introduzida por um texto-base, seguido de exercicios exploratõrios sobre o mundo das palavras, depois o
bate-papo sobre o texto, o mundo das idëias, o mundo da comuni- ~ r ~ caçao, o mundo da gramatica, a redaçao.
1.3. SCARTON, Gilberto & CUNHA, Regina Flores da (1982).
Comunicação oral e escrita em Lingua Portuguesa, 5? a 8? séries.
Os autores citam entre as muitas características desta
obra a de estar
de acordo com as propostas dos Guias Curricula- res quer no que diz respeito a seleçao de tex-
159
tos, quer no que diz respeito aos conteúdos gramaticais e às recomendações lingüístico- pedagõgicas que devem nortear o ensino da lingua, (ibid., p.3),
oolocando sempre em destaque o título da obra comunicação oral e escrita (dando-nos a entender que só por isso atende às dis-
posições dos Guias Curriculares). No entanto, sugerem aos pro-
fessores de Língua Portuguesa que usem seu "talento e criativi- dade" com o intuito de "selecionar e adaptar este instrumentode trabalho".
Uma segunda característica da obra ë a
rigorosa coesão interna entre unidades, tex- tos, assuntos gramaticias e ortograficos,(ibid., p.3),
Q sem menosprezar a experiencia do aluno, valorizando-o, uma vez
que a afetividade "afasta a impessoalidade e a frieza".
Os autores são a favor do princípio de que "a pedagogia ë uma arte lúdica", por isso o ensino da ortografia, quase todo
Q ø ele, e explorado atraves de jogo de memória, dominó, caça-pala- vras, etc.
Todas as unidades estao divididas em:
a) texto-base; 'b) trabalhando com as palavras e com o dicionário;
c) explorando o texto; di desenvolvendo as habilidades de falar e redigir;
e) as palavras de nossa lingua (gramätica);
f) u cantinho para a ortografia;
g) atividade complementar.
Na seção de letra (d): Principahnente, a preocupação dos
autores está voltada para "o princípio da variação lingüística",
possibilitando ao aluno um acréscimo de recursos lingüísticos
160
sem pretender "erradicar simplesmente oonstruçoes tidas como
incorretas", em favor das ditas "corretas". O importante, in- forma-os, SCARTON & CUNHA, ë "desenvolver no aluno a competên- cia de utilizar" esta ou aquela forma, sem fugir das circuns- tãncias em que o aluno está inserido. Ciente disso, o professor saberá que "a norma não ë nem pode ser sempre a mesma" e fala-
rá, conseqüentemente, em adequaçao da linguagem.
A preocupação dos autores na seleção dos textos foi a de
evidenciar as potencialidades expressivas da língua; criar condições para a aquisição de no- vos comportamentos comunicativos; estimular a leitura extraclasse; desenvolver a sensibilida- de e o gosto literário, (ibid., p.5).
A constante na seleçao de textos e a utilizaçao de notí- cias e reportagens, pois, de acordo com SCARTON & CUNHA, a lei-
tura de jornais contribui para o desenvolvimento de uma cons-
ciência comunitária mais apurada. O estudo de poemas tem o ob- jetivo de despertar
o amor pelo idioma, o amor pela linguagem, o gosto pelo jogo ou pelo desvio lingüístico, o gosto pelo prazer de fazer, de criar, (ibid., p. 6);
a tal ponto de contribuir para o desenvolvimento da emoção e do
gosto literário. Igualmente, incluem as histórias em quadri-
nhos, na 5ê e 6? séries, pelo fato de tais leituras contri-
buírem enormemente para despertar o amor ã leitura.
Tiveram, os autores, cuidadosa atenção ao elaborar os
exercícios para que o número de questões objetivas ficasse bem
aquém das que exigem respostas elaboradas, apesar de as ques- tões objetivas serem, segundo eles, oportunas para o desenvol- vimento da
capacidade de discriminação, de análise, de ra-
l6l
~ ciocínio, de compreensao, de crítica, de julga- mento, (ibid., p.6).
É uma coleçao que, segundo eles, "faz do ensino da lín-
gua um ensino descritivo e produtivo". Descritivo porque está
preocupado em mostrar como a língua está estruturada e como~ funciona. Produtivo porque possibilita a realizaçao de enuncia-
dos lingüísticos, dando condiçoes ao aluno de adquirir "o maior
número possível de estruturas que a potencialidade da língua o- ferece" (Cf. ibid., p.7).
r Q Pretendem, além de propor inumeras experiencias com' a
palavra, com a frase, com o parágrafo, com a criaçao de textos,
dar grande ênfase ás atividades relacionadas com o FALAR, OU-
VIR, com o LER e com o ESCREVER.
SCARTON & CUNHA concluem a apresentação de seu trabalhoA reafirmando o principio de que aprender portugues é aprender a
ouvir, falar, ler e escrever com habilidade.
Um outro aspecto que faz parte de nossa análise foi a
interação conteudo gramatical/texto-base. De modo geral, houve
preocupação dos autores em explorar o conteúdo gramatical atra-
vés de alavras, frases, até mesmo ríodos_retirados do texto-P base, conforme vemos em "A espingarda de Alexandre" de Gracia-
no RAMOS4.
Aparecem como básicos, nos programas de Sê a 8% séries
nas três coleções tomadas como modelo, os seguintes conteúdos
relacionados ao aspecto da linguagem que aqui focalizamos:
4111 "z×_1e×.enize e outros heróis", 18.ed., me de Janeiro, E-1. Record, 1979, p.88-90. Este texto atá como texto-base rf? l da coleção de livros dida- tiODs de CAMARGO et alii, 7? Serie, 1982. (Cí. aEBXD n9 VI, p.209-20)-
162
Sê série COMUNICAÇÃO: Processos de comunicação
Tipos de frases Pontuaçao Discurso direto e indireto .,r .Niveis de linguagem Sentido figurado.
REDAÇÃO: bilhetes, descrição, diãlogo, narração, esquema, jor-‹
nal-mural, anúncio publicitário, dramatizaçao.
Tudo o que se encontra sob os rótulos: morfologia, sin-
taxe e fonëtica tem carãter gramatical estrito.
6? sêrie COMUNICAÇÃO: Emprego da virgula
Onomatopëia Pal av ras v az.i as Ruídos na comunicação Uso de mal/mau, vem/vem Uso do parênteses, reticências, aspas, tipos de pontos,
Li nguagem fi gur ad a Uso dos tempos verbais Regência do verbo aspirar.
REDAÇÃO: Pregão, "jingle", discurso direto e indireto, entre-
vista, descrição, narração e diálogo, teatro-encenação, prosa e verso, recibo, lenda, linguagem telegrãfica,jo-
gral.
7ë série -
COMUNICAÇÃO: Linguagem verbal e não-verbal
163
Linguagem formal e informal Dialetos Registro formal, informal e semiformal Uso da vírgula Concordância verbal
›~ Concordância nominal Emprego de há/a Uso de iniciais maiúsculas.
REDAÇÃO: Contos populares, literatura de cordel, romance,des- criaçao, carta, diario, dissertaçao, roteiro de te-
lenovela.
8? série OOMUNICAÇÃO: Padrões de linguagem
Ortografia _» Acentuação gráfica
Estudo do parágrafo Publicidade Registros Oonotaçáo e denotação Funçao emotiva, referencial, conativa, poética, fática e metalingüística.
REDAÇÃO: Correspondência oficial, falhas na comunicação, ver- sificaçáo, dissertação, propaganda.
SEMÃNTI CA; Esti lísti ca.
Considerando a programação de conteúdos elaborada e di-
vulgada aos professores pela Zê UCRE (Micro-região do Vale do
Rio Tubarão), em 1982, os livros didáticos realmente atendem á
proposta programática (Vide anexo VII, p_22l-28).
164
SCARTON & CUNHA colocam entre os assuntos de 5? série, mähsprecisamente, na gramática: a frase e seus tipos; a inter-
-z jeiçao, um tipo de frase. O assunto é retomado na 6? série com
o enunciado: a frase e seus tipos; na 7? série com: Língua- frase-tipos de frase, e na 8? série com: A comunicação e a fra-
se (Vide anexo VIII) p.229-48).
De posse desses conteúdos, tentaremos analisar a explo-
ração de texto proposta para "O pulo do gato" de Lindolfo GOMES (In Çontos populares brasileiros, para 5? série), constante da obra de SCARTON & CUNHA)5, com base na discussão teórica- aqui
feita._
A unidade segue o seguinte roteiro:
19 passo - Êrabalhando com as palavras e com o dicioná-
rio - predominando questões objetivas e sempre buscando no tex-
to-base dados, uma vez que o objetivo é o estudo do vocabulário.
29 passo -'_ lorando o texto - sempre predominando as _ u, EXP r
questões de assinalar e com dados do texto da unidade.
39 passo - Desenvolveno as habilidades de falar e redi-
gir - vem praticamente só com exercícios estruturais sobre o
emprego de tempos verbais.
A segunda parte da unidade é a destinada ao que chamamos de gramática, passando, em seguida, á ortografia e á atividade
complementar.4
Analisando esta unidade, observamos que:
a) o aluno aparece apenas como destinatário de imperativos que anunciam exercícios:
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 1) frase declarativa ( ) Pois sou lá capaz dis-
~^ -__..==-. S01... 5viâe arezzz VIII, p.229-48) .
W U T
165
2) frase interrogativa ( ) Ensine-me agora to- dos os truques!
3) frase imperativa ( ) Tomara que eu agar- re o gato.
4) frase exclamativa ( ) Mas como, você não sabe saltar?
5) frase Optativa ( ) O gato foi muito es- perto.
(ibid., p.32, 5? série);
O exercício, ê claro, vem respondido para o professor.
b) predomina o esquecimento da atividade lingüística espontânea da criança.
Siga o modelo e leia com expressão:
£°?“9P'°'
A onça pulou. A onça pulou? `
Pule, comadre onça! A onça pulou! Oxalã a onça pule!
a. O gato venceu. b. . . . . . . . . . . . . . .. c. . . . . . . . . . . . . . .. d. . . . . . . . . . . . . . .. e. . . . . . . . . . . . . . ..
(ibid., p.32, 5? série):
c) ë dada enfase ã programação atomistica e artificial dos ele- mentos a ensinar;
~ n zw
4
d) a conversacao e o dialogo estao relegados a segundo plano;
o presente texto, no entanto, apresenta um diálogo, como de resto um bom nfimero deles nos manuais;
e) a metodologia ë errada: indo das convenções lingüísticas às
intençoes de comunicaçao (por sinal artificiais e sugeridas
pelo mestre). Hã sempre uma tentativa de classificação:
Numere a segunda coluna de acordo com a primei- ra: l. Tomara! silêncio 2. Psiu! desejo
oo
\l
ox
U!
.rs
w
I
I
O
I
I
O
%%%%%Z%% íííšíiíí
-- Ola! dor Ótimo admiração Puxa! espanto Ah! saudação Cuidado! advertência Ui! aplauso
(ibid., p.33, 5% série).
O to
'
166
Também não aparece, aqui, nenhuma ligação entre a inter- ~ 4 _,
jeiçag, que e tratada na segunda seçao - como u tipo de fra-
se - e o texto interpretado. Em se tratando de livros didáticos para o l? Grau (Sê a
8? séries), verificamos que apenas os nomes dos livros e os
enunciados dos exercicios ê que mudam, sendo que a metodologia,
os tipos de exercícios, o conteúdo programático, a distribui-
ção dos assuntos por sêrie,... ê praticamente a mesma. Predomí-
na uma preocupação exagerada com a estêtica e a seqüência dos
enunciados, tornando-os (os livros didáticos) maçantes e cansa-
tivos a ponto de causar monotomia e desinteresse flnas aulas de
língua materna.
Dos muitos livros didáticos observados, o de FERREIRA
(1984) ë o que traz exercícios sobre as Funções de Linguagem.
A estilística, também citada por ele, se restringe ãs figuras
de linguagem, de palavras, de construção e aos vícios de lin-
guagem (na 8ê sêrie).
Olhando os indices dos livros didáticos, observamos uma
divisão bastante rígida de assuntos. Lê-se: Morfologia, sinta-
xe, fonêtica, redação, comunicação,... quando esta separação
de assuntos nao deveria existir, uma vez que a sintaxe ê tam-
bëm um problema de comunicação, assim como a morfologia e a
fonêtica. Todo contefido deveria constar como problema de comu-
nicação e assim ser rotulado. Mais estranho ainda ê encontrar
o vocativo incluído entre os assuntos de sintaxe (na 7% série),
quando, para os gramãticos, ele nem faz parte da estrutura sin-
tática.
Entre as muitas colocações feitas por Maria Amélia GOLD-
BERG (Presidente da Fundação do Livro Escolar de São Paulo),nu-
167
~ ma entrevista ã revista Interaçao (n9 5, ago/set. de 1984), a
respeito do livro didático, destacamos, por oonsubstanciarem nossas conclusões a partir da discussao técnica:
- o livro não deve chegar ás mãos dos alunos - somente textos. É bastante significativa a organização de um banco de exer- cícios com a ajuda dos alunos.
- O livro ë guia para o professor e não substitui a experiên- cia.
- No entanto, o livro consubstancia um processo industrial, onde a classe fica aprisionada em tarefas de reprodução de conhecimento, e nao de produçao.
- Na compreensão de texto - o aluno pode ler a pergunta e dg- ppiã, sem ler o texto previamente, procurar a resposta. "A
aprendizagem torna-se um exercício de esperteza", diz GOLD- BERG.
- O livro didático não desafia a reflexão. Dá a noção de que nada mais há a fazer: exercício padronizado -- a resposta ê
inevitavelmente encontrada. - O livro didático subestima a capacidade do aluno, e, pior,
também, a do professor. Não aborda sempre os temas da reali- dade imediata do aluno.
- O livro didático ë um veículo de preconceitos: contra a mu- lher, o negro, o índio,...
- O ideal seria livros escritos com a criança e para a criança - investindo nos problemas cotidianos do aluno (e pensando nas soluçoes,na transformação).
- Os livros didáticos proliferam - sem qualidade: 19.000 títu- los em 1984 para o 19 Grau.
Consideramos oportuno observar que a linguagem da crian-
ça que chega ã escola ê, muitas vezes, desvalorizada (o profes-
168
sor fica amarrado ao livro didático - que lhe traz respostas -
e tudo o mais ë errado), quando o professor deveria aproveitar os multiplos modos de realizar linguagem para introduzir os di- ferentes níveis de fala, inclusive convidando os familiares pa-
ra ua visita ã sala de aula, possibilitando a todos um contato~ mais direto com os diferentes registros da regiao.
_
É tarefa do professor de Língua Portuguesa, antes de tu- do, transformar as aulas ditas maçantes, monótonas, em aulas
práticas, agradáveis e, de fato, em língua materna. Daise muita importância aos erros gráficos em relação ã norma (tanto para crianças como para os adultos) e pouco estímulo ao que está conforme á norma (minimiza-se, assim, a importância do conteúdo e das funções que a linguagem tem), seria preciso, antes, pen-
sar em adequação e eficácia no uso da linguagem.
Não cabe ao professor condenar as expressões dialetais, pois todos os tipos de discurso (informativo, reportagem, en-
trevista, discurso lúdico, histórico, quadrinhos, publicidade, receitas, cartazes, etc.) e não só o literário têm direito de cidadania na escola (realizaçao das diferentes funçoes da lin-
guagem).
Preconiza-se: aprendizagem pela utilização da linguagem ~ ~ em situaçao de comunicaçao (afinal, ê como a criança aprende a
língua materna antes de ir á escola). No entanto,/
a escola quer que ela [a aprendizagem] se faça a partir de uma aprendizagem explícita de re- gras de gramática e de um raciocínio hipotéti- oo-dedutivo cuja inutilidade para a criança do primário [19 Grau] aparece claramente (GAGNÊ, In La norme linguistique, 1983. p.428).
Maria Elizabeth Motta Zanetti BAPTISTA observa, em seu trabalho "Gramática" (l980:7):
169
Ao longo dos anos a gramática vem sendo carre- gada pela escola como parte fundamental do en- sino de lingua e o hãbito de considerã-la im- portante tem feito com que raramente seus ob- jetivos sejam sequer explícitados.
É, por isso mesmo, inapropriada ao desafio, uma vez que "as respostas precisam ser padronizadas" (p.7). Ora a busca do
conhecimento, trabalho a ser feito com o aluno, exige' procura, esforço, recriação, invenção e reinvenção. E, neste caso, a
gramática serã mais identificada com o espaço e o tempo do alu-
no, que serã o sujeito de seu processo de aprendizagem.
Toda aula deve estar centrada no aluno, que ë o corres-
ponsãvel no processo ensino/aprendizagem. Evitar, semprer que zw ` 4 possível, excesso de informaçoes gramaticais. Este fato tera
sucesso se a seleção de objetivos for adequada às necessidades particulares de comunicação dos usuários da lingua - aqui, so- bressaindo a figura do professor, ajudando os alunos a usarem adequadamente a língua. Para isso, acionarã meios verbais e
não-verbais, tais como: jogos, palavras cruzadas, músicas, re-
ceitas (aula com huor), criando clima para desenvolver tarefas que favoreçam o contato psicossocial.
\
A língua desempenha papel importante no desenvolvimento psicológico e social da criança, do pré-adolescente e do ado-
lescente; logo, isso deve ser levado em conta nos procedimentos didáticos. Daí usos da língua. Por isso a prática, ao lado de atividades de comunicação (informação), de atividades não to-
talmente comunicativas. Essa ë uma orientação pragmática dos
problemas de ensino-aprendizagem.
Não se trata, pois, de aprender uma gramática como tal,
mas de adquirir habilidades que darão ao estudante condições de
se tornar um usuãrio da língua: aquele que, dominando certas
170
habilidades lingüísticas, ë capaz de fazer uso adequado‹ delas, assumindo papéis: orador, interlocutor, ouvinte, leitor, autor, solicitante. Deslocamos, então, o centro das preocupações didá- ticas - do funcionamento da língua para o usuário e para a
adequação de uso da língua, conforme objetivos, intenções, in-
terlocutores, situação imediata e mais ampla.
Não se tratará, contudo, de um discurso abstrato,. que não pretenda mudar nada. A pragmática pressupõe ação transfor- madora de realidade. Aqui entra especialmente a persuasão, a
.- argumentatividade (retorica). Temos propriamente u processo dialõgico (ideológico).
O professor não se centrarâ, na aula, no complexo certo
versus errado - observará as atitudes comunicativas e expres-
sivas. A atenção deve estar voltada mais para a aprendizagem que para o ensino (do sistem@,‹xm1avaliação centrada, ideal-
mente)na auto-avaliação feita pelo aluno.
É oportuno lembrar que, no desenvolvimento da criativi-
dade, as diferenças individuais devem ser especialmente res-
peitadas, estando a carga criativa de uma pessoa diretamente relacionada ao feixe de experiências dessa pessoa. Igualmente, não hã, em termos criativos, textos certos versus textos erra-
dos. Precisamos ser leitores destes textos seguino os.critë-I
rios: agrada/não agrada.
É de se esperar que o aluno escreva quando o que escreve se relaciona organicamente ã sua vida. Gosta de escrever para
os outros (correspondência), texto para dramatizar, poemas - uma vez feita a desmistificação do ato de escrever (escrever
não ë coisa somente para alguns privilegiados).'
Linguagem ë vida, ê ato, sempre ligado ãs circunstâncias
171
e ao fazer (tudo). Assim sendo, a prática da linguagem sob ori-
entação da escola deve ligar a linguagem com o mundo circun -
dante.
Antes de o professor solicitar dos alunos uma entrevista como exercício textual (apenas sob orientação didática), por
exemplo, deve observar junto com eles como os jornalistas fa-
zem isso - já ê um primeiro exercício. Serão verificadas asas-
tratëgias do entrevistador - que dependem do momento, da si-
tuação social, do interlocutor, do tema, do objetivo: pedir
informação, opinião, esclarecer pontos,-insistir em pontos,
pedir confirmação, apresentar idéias de outros para contras-
te,... Nesta modalidade configuram-se, muito oportunamente, z ~ ~ varios modos de interaçao verbal (funçoes).
REFLEXÕES FI NAI s
Neste trabalho, focalizamos alguns aspectos teóricos
que embasam a discussao do tema expressividade na Língua Por-
tuguesa. Discutimos, inicialmente, toda uma problemática em
torno do ensino e aprendizagem da língua materna, apoiando-nos em coleta de dados obtida entre alunos e professores de 19, 29
e 39 Graus. Paralelamente a esta pesquisa, constataflmos a mar-
ginalização da expressividade no que se refere aos elementos
concebidos pelos gramãticos como expressivos (entre eles a
interjeição e a onomatopëia). Concluímos que a grande maioria dos professores não leva em consideração os aspectos pragmá-
_. ticos e semanticos da língua. (Atribuímos esta falha a dois
fatores: despreparo do professor e comodismo diante do que ë
tradicionalmente normatizado. O aluno, por sua vez, não está
habituado nem ë induzido a um trabalho reflexivo, pois está
acostumado a receber quase tudo pronto nos livros-textos.)
Em relação aos aspectos teóricos nos referimos, no iní-
cio da segunda parte, ao ' ' e sua dimensão ideo- texto e discurso
lógica, uma vez que a nossa realidade educacional - ensino
173
institucionalizado - exige que o professor promova e ofereça oportunidades para desenvolver a espontaneidade com o objetivo primeiro de possibilitar o surgimento de pessoas livres ecnns-
cientes, já que ele (o ensino institucionalizado) ë, por prin- cípio, um mecanismo de pressão.
É tarefa do professor de Português propiciar situações-~ motivadoras ã expressao oral e escrita, articulando as diver-
sas situações criativas nas suas diferentes modalidades dialõ- gicas e não-dialõgicas, visto serem as reações pessoais influ-
|-J. Q (D\ i-I. Q! U1 enciadas pelas intrínsecas individuais. Assim sendo,
a aquisição de conhecimentos lingüísticos provoca de certafbr- ma, ua "lavagem cerebral", uma vez que o aprendizado requer mudanças de comportamento; portanto, somos controlados pela linguagemjem maior ou menor grau.
Foi-nos imprescindível rever aspectos gerais da lingua- gem. Entre eles localizamos a linguagem humana e linguagem a-
nimal, já que no limite de ambas está, segundo alguns autores,
localizada a interjeição, auxiliando-nos na exteriorizaçáo de ~ ' emoçoes fortes (involuntárias), equiparando-se ã linguagem a-
nimal. Ê nessa exteriorização de emoções que BALLY coloca a.
expressividade resultante do estudo dos processos lingüísti- cos (como fato de língua), fundamentado nos aspectos vocais da linguagem, principalmente na fala diária.
A linguagem vista como um todo,nas&mHiiplas utilizaçoes que fazemos dela, desempenha vários tipos de funções. Consta-
tamos que a interjeiçáo e as expressões de valor interjectivo localizadas no extremo da expressividade (segundo GUILLAUME)es- tão inseridas na função emotiva, oonativa, fática (nesta or-
~ ~ dem). Na funçao emotiva está a interjeiçao exteriorizando o
estado de espírito do falante; na função oonativa, exprimindo
174
-› admoestações ou provocando satisfaçao de desejos; na função fã- tica, está estimulando o inter-relacionamento e a solidarie- dade. Na medida em que se caminha para o pólo oposto (expres-
são), perde-se em expressividade e ganha-se em expressão. Nes- te ponto temos a "interjeição" já como meio de lingua, norma- tizada, desempenhando a função referencial, metalingüística e
poética (segundo JAKOBSON).
Impossível foi-nos deixar de rever o problema da norma- tividade escolar, uma vez que reconhecemos a existência de um
.- condicionamento lingüístico-sócio-ideolõgico: as instituiçoes sociais são a fonte, a origem das normas sociais, onde o "es-
tado de consciência" do indivíduo ë, sem dúvida, condicionado pela sua experiência objetiva (situações imediatas e media- tas). Dai afirmar-se que a norma se impõe ao indivíduo, condi- cionando-o, reduzindo sua expressividade, alienando-o pro-
gressivamente no estabelecido pelos padrões tradicionais.
Entre outros objetivos de nossa pesquisa o de diagnos- ticar a situaçao do ensino direcionado para o põlo da expres- sividade - formando um inteiro com a expressao - numa tentati- va de avaliar os resultados em termos de objetivos de ensino institucionalizado - daí a enfase que fizemos nos elementos: expressividade, norma, estilo, estilistica, afetividade...Foi em atenção a estes mesmos fins que visualizamos expressão. e
expressividade sobre uma linha contínua com os dois extremos, assinalados por estes conceitos:
+ EXPRESSÃO + EXPRESSIVIDADE - EXPRESSIVIDADE ' - EXPRESSÃO Dado o direcionamento (numa das abordagens do problema)
para o põlo da expressividade, procuramos dar ênfase, em pri-
175
meiro lugar, a u dos aspectos da língua marginalizados pela análise lingüística e, por isto mesmo, pela gramática que'Hrm- maliza" a língua - a expressividade marcada na INTERJEIÇÃO. Porém, como preconiza DUCROT, na Õtica de ua teoria dos atos
de fala de linguagem, ela (a interjeiçao) marca a interação dos indivíduos.
_ O professor Celso Pedro LUFT (1985) reconhece:
Nada se presta melhor como instrumento de ire- pressão e opressão do que a língua materna, cerne do nosso eu pensante, através do qual e- xistimos enquanto seres racionais (p.lO9).
E, no final de seu trabalho, admitindo agora nao ter importância o conhecimento de regras explícitas pelo aluno,pa> ooniza o desenvolvimento do espírito crítico e da criativida-
de, atravës de u ensino que deseja "libertador".
Não menos motivador nesta pesquisa foi o estudo de pa- lavras-frases realizado por TESNIÊRE, que, partindo do concei- to genêrico de palavra-frase, estabelece uma tipologia que se
assenta na relação EU-TU-ELE, apresentada num processo expres- sivo global.
Todo esse aparato teórico revela-se extremamente neces- särio na discussao da pedagogia da língua (nu estudo mais
profundo, seria necessário considerar elementos da sockflimjfis- tica e da Psicolingüística), de que partimos, para realizar nosso projeto, e onde chegamos, através da análise da expres-
sividade. '
Nosso trabalho ë bastante limitado, no que se refere ao aspecto pedagógico, pois não era nossa intenção imediata esmiuçar esta parte. Concentramos nossa atenção no desenvol- vimento dos elementos de valor interjectivo. Mesmo assim nao
176
esgotamos o assunto.
Pesquisas interessantes e de grande importância podem
ser feitas nesta ãrea, como, por exemplo, um estudo anível de I e II Graus, enfocando o aspecto Funções da linguagem - tra-
balho prãtico. Ou, então, dar continuidade ao IV capítulo des-
te, explorando a Pedagogia da língua materna, propondo um es-
tudo de texto que atenda às necessidades do professor e do
alunojdentro dos parametros desta pesquisa.
'BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ALEONG, Stanley (l983)- "Normes lingüistique, normes sociales, une perspective anthropologique". In: BÊDART, Edith & MAU-
RAIS, Jacques (org.). La norme linguistique. Québec, Publi- cations Gouvernementales du Ministëre des Comunications, p.
255-80.
ABREU, Cecília Ramos de (l984L "Criatividade no ensino de lín- guas". In: Interagão nÇ 8, dezembro, p.l7-8.
ALMEIDA, Napoleão Mendes de (l983L Gramática metõdica da lín-
gua portuguesa. 32.ed. São Paulo, Saraiva.
AUSTIN, J.L. (1970). Quand dire, c'est faire. Paris, Seuil.
AZEVEDO, Milton M. (1976). O subjuntivo em português: um estudo transformacional. Petrõpolis, Vozes.
BAKHTIN (Volochinov) Mikhail (1981). Marxismo e filosofia da
linguagem. São Paulo, Hucitec.
(l985)_ Ensino da gramática._Opressáo? Liberdade? Sao
178
~ BAPTISTA, Maria Elizabeth Motta Zanetti (1980). Qramática. Sao
Paulo, Cortez: Autores Associados (Coleção Educação Contempo-
ránea; Série metodologia e prática de ensino).
~ , BARBÕSAI Osmar (s/d). Gramática simplificada. Sao Paulo, Gra
fica e Editora EDIGRAF S.A.
BARTHES, Roland (s/d). Aula (aula inaugural da cadeira de Se-
miologia Literária do Colégio de França, pronunciada no dia~ 07/01/1977. Sao Paulo, Cultrix.
BECHARA, Evanildo (s/d). Moderna gramática portuguesa. São
Paulo, Nacional.
Paulo, Ática (Série Princípios).
BENVENISTE, Emile (l966)_ Problëmes de linguistique générale I,
Paris, Gallimard.
(1974) Problémes de linguistique générale II Paris -_ ____,_ __ _ r r
Gallimard.
BIDERMAN, Maria Tereza Camargo (l978)- Teoria lingüística: lin-
güística quantitativa e computacional. Rio de Janeiro, Li-
vros Técnicos e Científicos.
CABRAL, Leonor Scliar (1979). lntrodugao ã lingüística. Porto
Alegre, Globo. `
CAMARA JR., Joaquim Mattoso (l974). Princípiosgde lingüística
geral. 4.ed. Rio de Janeiro. Livraria Acadêmica.
(l977)_ Qicionário de lingüística e gramática. 7.ed. Pe-
trõpolis, Vozes.
179
CAMARA JR., Joaquim Mattoso (1979). História da lingüística.3.ed Petrõpolis, Vozes.
CAMARGO, Gessy et alii (1982). Comunicação em língua portuguesa; 5? a 8? séries, 19 Grau. São Paulo, Ática.
~ CEGALLA, Domingos Pascoal (l98OL Hora de comunicaçao: comunica-
ção e expressão em língua nacional; 5? a 8? séries, l9 Grau.
São Paulo, Nacional. .
(1984), Novíssima gramática da língua portuguesa. Sao~
Paulo, Nacional.
~ CHAUCHARD, P. (1967), A linguagem ego pensamento. 2.ed. Sao
Paulo, Difusão Européia do Livro.
CHOMSKY, Noam (l977L Linguagem e pensanentq. 4.ed. Petrópolis,
Vozes.
CIRINO, Argus (1982). Este chao que eu amo. Sao Paulo, Editora
do Escritor ' ~.
CORREA, Nereu (l983L A_palavra: a arte da conversação e da ora-~ tõria. 2.ed. Florianópolis, Editora da UFSC, co-ediçao Edi-
tora Lunardelli.
COSERIU, Eugénio (l979L Teoria da linguagem e lingüística ge-
ral. São Paulo, Editora da USP.
CQUTINHO, Ismael de Lima (1958). Gramãgtica histõriça. 5.;ed. Rio
de Janeiro, Livraria Académica.
CUNHA, Celso (l97lL Gramática do portugués contemporâneo. 2.ed
Belo Horizonte, Bernardo Álvares, S.A.
180
DASCAL, Marcelo (1978). Fundamentos metodológicos da lingüísti-
ca. vol. 1, São Paulo, Global.
DONADON-LEAL, José Benedito (198M).”A fbnção dos estudos grama- ticais na escola". In: Interação n9 O8, dezembro, p. 16%17.
~ DUBOIS, Jean et alii (1978). Dicionário de lingüística. Sao Pau~ lo, Cultrix.
DUCROT, Oswald (l980).' Les mots du discours. Paris, Les éditions de Minuit.
ELIA, Sílvio (1978). Orientações da lingüística moderna. 2.ed. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S/A.
FÃVERO, Leonor Lopes & KOCH, Ingedore G. Villaça (1983). Lingüís- tica textual: uma introdução. São Paulo, Cortez.
FERREIRA, Reinaldo Mathias (1977). Comunicação: atividades de linguagem. 5? série, 19 Grau. São Paulo, Ãtica.
‹
FERREIRA, Luiz Antônio (1984). Aulas de comunicação em língua Egrtuguesa. Sê a 8% séries, 19 Grau. São Paulo, Ática.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda (1973). Pegueno dicioná- rio brasileiro da língua portuguesa. 1l.ed. São Paulo, SE- DEGRA, Nacional.
FONSECA, Fernanda Irene & FONSECA, Joaquim (1977). Pragmãtica lingüística e ensino do português. Coimbra, Livraria Alme-
_
dina.
FURLANETTO, Maria Marta (1978). Unicidade mecânica da frase: um princípio de gramática geral? UFSC (inédito).
(1978). Guillaume: sintaxe "vertical"? ANAIS DO MUSEU DE ANTROPOLOGIA. Florianópolis, UFSC, julho, i__1_z59-73.
(1979). A frase ë ou não ë um sistema? UFSC (inédito).
l8l
GAGNÉ, Gilles (1983). "Norme et enseignement de la langue ma-'
ternelle". Inz BÉDART, Edith et MAURAIS, Jacques (org.). pa norme lingüistique. Québec, Publications Gouvernementales du Ministëre des Communications, p.463-509.
GERALDI, João Wanderley (1985). O texto na sala de aula. Leitu-
ra & Produção. 2.ed. Cascavel, Assoeste Ed. Educativa.
GOLDBERG, Maria Amërlia (l984). "Livros para desaprender". In:
Interação n9 5, agosto/setembro, p.32-3.
GONÇALVES, Virgínia M. (1981). "O texto literário e o processo criativo no l9 Grau". In: MARCO, Valéria de et alii (org.).
Língua e literatura: o professor pede a palavra. São Paulo,
OOIÍGZ , ÀPPL:SBPC.
GUILLAUME, Gustave (l973). Principes de lingüistique thëorique. ._ ø , ~ Coletanea de textos ineditos preparados sob a orientaçao de
Roch, Valin. Québec, Presses de l'Universitë Laval.
GUIMARÃES, Eduardo (l983). "Sobre alguns caminhos da pragmática"
In: Sobre pragmática. Série Estudos - 9, Uberaba, Fiub.
GUIMBRETIÊRE, André (1973). "sur le rëfërent". In: Degrë, ne
3, Bruxelles.
GUIRAUD, Pierre (1978). A estilística. 2.ed. Trad. Miguel Mail-
let. São Paulo, Mestre Jou.
HALLIDAY, M.A.K. et aiii (1974). As ciencias lingüísticas e o
ensino de linguas. Trad. Myriam Freire Morau. PetrÕpolis,Vo-
ZGS.
HALLIDAY, M.A.K. (1976). "Estrutura e função da linguagem". In:
LYONS, John. Novos horizontes em lingüística. São Paulo,
n
182
Cultrix.
HALLIDAY, M.A.K. (1978). "As bases funcionais da linguagem".
In: DASCAL, Marcelo (org.). Fundamentos metodológicos da lin-
güística. vol.1, São Paulo, Global.
HAUY, Amini Boainain (1983). Da necessidade de uma gramática-
padrão da língua portuguesa. São Paulo, Ática.
HJELMSLEV, Louis (1971). Prolëgomërus ã une theõrie du lan-
gage. Paris, Les ëditions de Minuit.
~ HOLESTEIN, Elmar (1978). Introduçao ao pensamento de Roman Ja-
kobson. Rio de Janeiro, Zahar.
IORDAN, Iorgu (1982). Introdução ã lingüística romãnica. 2.ed.
Trad. Júlia Dias Ferreira. Lisboa, Fundação Calouste Gul-
benkian. Or. Alemao.
JAKOBSON, Roman (1963). Essais de linguistique gënêrale I. Paris
Les Êditions de Minuit.
(1973). "As características fundamentais e específicas
da linguagem humana". In: Revista de Cultura Vozes, n? 5, Pe-
trõpolis, Vozes.
(s/d). Lingüística e comunicação. lO.ed. São Paulo,
Cultrix.
(1978). "O que ê a poesia?“ In: TOLEDO, Dionísio (org.).
Círculo lingüístico de Praga: Esturalismo e Semiologia. Porto
Alegre, Globo. .
JOHNSON, Wendell (1977). “Impossível redigir redação". In; HAy_
AKAWA (org.). Uso e mau uso da linguagem. São Paulo, Pionei-
ra, p.l01-13.
183
JOTA, Zëlio dos Santos (1976). Dicionário de lingüística. Rio de Janeiro, Presença.
KLOEPFER, Rolk (1984). Poética e lingüística: instrumentos Se-
mióticos. Coimbra, Livraria Almedina.
KRISTEVA, Julia (1974). História da linguagem. Lisboa, Editora 70. '
LARA, Luís Fernando (1983). "Le concept de norme lingüistique". In: BÊDART, Êdith et MAURAIS, Jacques (org.). La norme lin-
güistique. Québec, Publications Gouvernementales du Ministëre des Communications, p.l53-78..
LEITE, célia coelho Pereira sz PAGLIUCHI, Regina célia (1982). ~ ~ Gramática de texto; as relaçoes/valores. Sao Paulo, Cortez.
LEROY, Maurice (1971). As grandes correntes da lingüística mo-
derna. São Paulo; Cultrix. '
LINS, Osman (1977). Do ideal e da glória - problemas gincultu-
rais brasileiros. São Paulo, Summus Editorial.
LOPES, Edward (l980).' Fundamentos da lingüística contemporânea. São Paulo, Cultrix.
LUFT, Celso Pedro (1976). Moderna gramática brasileira. Porto
Alegre, Globo.
~ (1985). Língua & Liberdade: por uma nova concepçao da língua materna e seu ensino. 2.ed. Porto Alegre, L & PM.
MARTINET, André (1970). Élëments de lingüistique gënërale. Pa-
ris, Armand Oolin. `
(1975). Elementos de lingüística geral. 6.ed. Trad. de
184
Morais-Barbosa. Lisboa, Livraria Martins Fontes Editora Ltda.
MARTINET, André (1976). Conceitos fundamentais da lingüística. Lisboa, Presença.
MELO, Gladstone Chaves de (1967). Gramática fundamental da lín- gua Egrtuguesa. Rio de Janeiro, Livraria Académica.
(1976). Ensaio de estilística da língua portuguesa. Rio
de Janeiro, Padrão - Livraria Editora Ltda.
MESQUITA, Roberto Melo & MARTOS, Cloder Rivas (1982). PAI, Ero-
cesso auto-instrutivo: comunicação e expressão. 4.ed. reformu-
lada, 5? série, l9 Grau. São Paulo, Saraiva.
MORIN, Yves-Charles & PARET, Marie-Christine (1980). "Norme et
grammaire générative". In: BÉDARQ, Édith et MAURAIS, Jacques (org.). La norme lingüistique. Québec, Publications Gouverne- mentales du Ministëre des Communications, p.l79-202.
MOURA SANTOS, M. (l932). Notas de gramática para anãlise grama- tical e lógica. São Paulo, Coleção humanidades.
MUKAROVSKy, Jan (1978). "A denominação poética e a função esté- tica da língua". In: TOLEDO, Dionisio (org.). Círculo lin- ___..___..;._í__._....
güístico de Praga: Estruturalismo e Semiologia. Porto Alegre,
Globo.
NOGUEIRA, Rodrigo de Sã (1950). As onomatopéias e o problema da origem da linguagem. Lisboa, Livraria Clãssica Editora.
OLIVER, Reboul (1975). O slogan. São Paulo, Cultrix.
ORLANDI, Eni Pulcinelli (1983). A linguagem e seu funcionamento - as formas do discurso. São Paulo, Brasiliense.
185
PAUL, Hermann (1970). Princípios fundamentais da história da
língua. Trad. Maria Luísa Schemann da 7.ed. alema. Lisboa,Fun-
dação Calouste Gulbenkian.
PÊCHEUX, M. (1969). Analyse automatique du discours. Paris,DUNOD,
(Collection Sciences du Comportement).
PENNA, Antônio Gomes (1976). Comunicação e linguagem. Rio de Ja-
neiro, Eldorado, Tijuca.
PENTEADO, J.R. Wchitaker (1982). A técnica da comunicação huma-
na. 8.ed. São Paulo, Livraria Pioneira Ltda. .
PERSUHN, Janice Janet (1982). Escrevivendo: comunicação e expres-
são Sê a 8a séries 1° Grau São Paulo Editora do Brasil. ~ ' ° 1 ' 1 r
PRETI, Dino (1974). Sociolingüística: os níveis de fala. Sao
Paulo, Nacional.
(1984). A gíria e outros temas. São Paulo: T.A. Queiroz,
Ed. da Universidade de São Paulo.
RAMPAZZO, Gilson (1981). "Duas 'teses' sobre o ensino da reda-
ção". In: MARCO, Valéria de et alii (org.).) Língua e litera-
tura: o professor pede a palavra. São Paulo, Cortez:APLL:SBPC.
RIFATERRE, Michael (1971). Essais de stylistique structurall,
Paris, Flammarion.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da (1976). Gramática normativa da
língua portuguesa. l8.ed. Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio Editora.
ROSSERL, Eddy & BARREIRA, Neyde (1985). "O professor da aula
comunicativa". In: Interação n? 12, junho/julho. Revista do
Instituto de Idiomas Yázigi, São Paulo. -
SAID ALI, M. (1964). Gramática secundãria e gramática histórica
da língua portuguesa. Brasília, Editora da Universidade de
Brasília.
T
186
SAID ALI, M. (l97la), Gramática histórica da língua portuguesa. 7.ed., rev. aum., com notas e índices por Maximiano de Car-
valho e Silva. Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica.
›(l97lb)_ Meios de expressão_e alterações semânticas. Rio de Janeiro, Fundaçao.Getülio Vargas.
SARGENTIN, Hermínio G. (s/d)_ Montagem e desmontagem de textos. 7? sêrie, 19 Grau, São Paulo, IBEP.
~ SAUSSURE, Ferdinand de (1977). Curso de lingüística geral. Sao Paulo, Cultrix.
SCARTON, Gilberto & CUNHA, Regina Flores da (1982), Comunicacao oral e escrita em língua portuguesa. 5? a 8? séries, 19 Grau.
2.ed. São Paulo, Saraiva. '
SEARIE, John R. (1972), Les actes de langage. Paris, Hermann.A Or. Ingles.
SIQUEIRA, Antônio da Silva & BERTOLIM, Rafael (s/dk Português dinâmico; comunicação e expressão. 5? sêrie, 19 Grau. São
Paulo, IBEP.
SOUSA, Marcondes Rosa de. `Ideologias no ensino de português. Brasília, ano 2, nÇ 12, janeiro 1983.
SOUZA FILHO, Danilo Marcondes (1984). Filosofia, linguagem e
comunicagão. São Paulo, Cortez, CNPq.
SOUTO MAIOR, Mário (1980), Qicionãrio do palavrão e termos afins Recife, Editora Guararapes Ltda.
~ SPENCER, John et alii (1974), Lingüística e estilo. 2.ed. Sao 'Paulo, Cultrix.
187
STAUB, Augostinus (1981). Hermann Paul, F. de Saussure e K.
Bühler na lingüística moderna. Brasília, Thesaurus.
TERWILLIGER, Robert F. (1974). Psicologia da linguagem. são
Paulo, Cultrix.
TORRES, Antônio (1980). Essa terra._ 4.ed. São Paulo, Cultrix.
VOGT,-Carlos (1977). O intervalo semântico. São Paulo, Ãtica.
(1980). Linguagem, pragmática e ideologia. São Paulo,
Hucitec.
"Reforma do Ensino" - Lei n9 5.692/ll/1977. in: Revista Educação e Ensino de Santa Catarina. PROMOVEC, Junho/1972.
Plano Estadual de Educação 1985-1988. 2.ed. Secretaria da Edu-
cação, Estado de Santa Catarina, 1984.
189
ANEXO I
Questionário l PROFESSOR: ESCOLA:
l
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Como sabemos, a Interjeição ê um item da gramática portu-
guesa, embora seja apresentada de forma muito superficial. Ela ë valorizada nesta série? Como se apresenta em aula?
Qual o tempo utilizado?
Ao empregar o ponto de exclamação as crianças são lembra-
das de sua relação como uma expressão interjectiva (do tipo
"socorro", que ë uma palavra-frase) e de que esta ê espe-
cialmente expressiva, "um colocar prá fora" de sentimentos
e emoções? Ou a preocupação ë o uso correto do ponto de ex-
clamação?
As crianças sentem dificuldades em empregar o ponto de ex-
clamação?
Qual a motivação utilizada para as aulas sobre interjeição?
É dada muita importância ao aspecto criativo, expressivo da
linguagem? l
`
É dada uma listagem das principais interjeições? Para quê?
Palavrões e gírias são usadas na escola? As crianças se ex-
pressam através de tais palavras? Qual a sua relação com
interjeição? Qual a sua reação, como professor, diante des-
tas expressões?
Você sente dificuldade em expor este assunto aos alunos?Con
sidera-o marginal?
A interjeição, atualmente, ë bastante usada no processo dia lógico? Qual sua função nos textos?
190
A Lingua Portuguesa como disciplina ë uma "cruz" para os
alunos? Ou eles fazem as atividades relacionadas a ela
com motivação? Eles se dedicam ã Lingua Portuguesa como o
fazem com Ciencias, Estudos Sociais...?
Como ë considerada a interjeição em termos de análise sin- tática? Por quê?
Existe preocupação em dar este assunto através de técnicas especiais ou segue-se simplesmente as gramaticas' normati- vas? Por quê?
É possível fazer uma relação entre vocativo e interjeição?
Observações.
191
Questionário 2
ALUNO:
SÉRIE:
l. Como você gostaria que fossem apresentadas as aulas de Lín- gua Portuguesa (se, eventualmente, elas normalmente nao lhe agradam?)
2. Gosta de fazer as tarefas de Português? Como você gostaria que fossem as tarefas? Por quê?
3. Você acha bom e importante estudar Português? Por quê? (LÊ
var em conta o que os professores conseguiram inculcar em
você e outras experiências pessoais.)
4. Qual o assunto que você mais gosta e qual o que não gosta de estudar? Por quê?
5. Já ouviu falar em interjeição? Cite alguas.
6. Quando você usa interjeição? (Considere a expressão oral e
escrita). Para quê as usa? Qual o papel delas na fala e no
texto escrito?
7. Você já pesquisou em algua gramática? Lembra o nme dela
e de seu autor?l
~-1-‹›~ fz' iv- ~¬- -f --f--I-Í --¬ fu-fllçf ~¬fl‹ -Y f f ¬ «M-f
ANEXO II.
nf --‹ -~ _ ._., __,
A
*-a
_Í_.--
_.
_:
U *
'7TRAu:›qREs! |NGRA'ros! JÁ sa! o Roe:-«A vAz ' uu~\..rws õg/'So sw MAS NAO vou DEs|sT|R! ¬- ADoRA_›=E\JoADA! APARECER LA De y, _
sÁBAoo sem ¡=E1JoAoA TODO SABADQ A Ros As/ÀNANDQ! TENHO Mn~ E
_ __ E s¿=e¿Wa4-F£/RA./ __ NHA FAZ uMA PRA
_ NHA o|sN|oAoE! 034.1- ¿ - aelvoumfcavw- Que some! __ z
‹ ‹ ¢ ›'._»-_-_ me PRO Auwoco! _ »
_ë ,1-_' _\,»='_;â
`
- -
_ _.~_ 1.;-¬§'__ _ 2›'._ ._
'~¬- _'
_
' ,g'.«-- ~›f-,'22-*.
_.
‹ .
7¿` Í-4... _.r'~'~_.¡‹‹ ,¿_`:h;_ _ \\ v :.:._, _‹¡=f:~‹
* Z'$__r:;`fv;,
_.- zw _"›.
~~~*§› .__ 'P' 'zz._ _._~z_-._~ ,- -._;«,_.›z -
_ ~
» U U éââ ~ ë _ U - À»
› š 1; » ¬
~” '* - *g ff "
`f '
3
f.‹'*:'u LÊ' _
__¿.`:›¿ *>'«'§:.r-*.T.'H-I” 11.:
\
|\":`; 'I' ¡ - ow I
_ -'.$@\~
' ` ' ETA umoemo sem ooLocADo!|sTo Í
-z, H, L ¡
AQu| EPRA A_¿:__1_¿|¬DARNAcA|P|RxuHA% f z
U
<~ ~ mf” *
1 f ~f>`>›M¿Ê'e*"«í “ šššãfiê ê- L «
_ 1 : V
›' . `“\
A
/J _\_"-I - Ir -A `
__›_¡-.«TV`:¿L'
-Kz
v'
V
,. '
` '!.>"§.' z -,
¬i~ "
_
E .'
\', `:°": " -.-
i I^
1 __~
. ` _/-' \=š
Í " WW- \¡ "!› \ `
èšxzrr ›
ú *7 “~3Í”'!;ê~'1 ›‹.z-"--~.-_ “I-'f'-". ~-*T _. " Y- ` 'K “É .f'< ‹
ä í_= tfzz. _? _ _ ;{¿:iÊ_›" -i:Í",'z'.f.ll';'|n ¡¡.'›¡`-y- "" _ z-›____~ vê. V
'
- ¬z::.z.zz-' E z. __:+_«.-:: H;:.:z;,.~:*í¿âf-,úê`.*z~:~“ z _, . . ._..,~ _ .- ' -"f .~ rã* _ -“
-
z ¬ 11-. zzzr A
› k- ~,‹,;:.;›¬-,-.t¡ z._,.,,,_,-g.;T,*¿s3._`.` --é>-?~.›.+~..«-._ . ____=i›.~ ,/_§'¿. ~_
I "*-'I-É-~ 1 ' É `
(ig
êg fvÉ
f .(1
N
&/laimj
.
.
Í\\\
*í"\
~v
'ê*
ãç
z\
\\I t/`
W `
` PRONTO. AGORA Nmeu EPA. AQuEn_Ec›-vam noz sA1.o .
HV! . Pooe D\zER Que Eu ESTÁ Nç PONTO DE Omaus! _
. ~ oor~rrR1BuÍ! Í' Í
' `~"f Í ff. ~ Z: ,_ vz- »‹.' f .-'_ ‹ ~ Q» ;"-.í '
-fi ,
~` 2-:U
ii ::*'ê-aí A* -~.' « ¬'..«.r»~" _-..?.¢;-*.**=.'.=.""'»›¬-s.«.*:f§*-z.zí'?'=_›‹*"›' -"--‹'.z\_é -Jf.¢~ ‹ -. ' - - I . «U-._
` "'¬"~'›'ä~:"*^" ._ ~ ' `
_
..-- _
_» -' ._ f ,_ __ __..<' ‹ :if .z€_:«â ›_ ¬-..:°;,s\_-
*='.'-zc‹f.** '
-› ‹_z .
' I ' 1; '~1'*-'~.--;=L“.=.×' T;-- "` J* ~ .. .
_ ›.( -d _ ë _? _.~_ _-‹,-~ .›_,,: .¬ _ __ø__.,_T§,';-;'f--'=.'°
W
. â§&.,_, U z.zz :~}â . z » -__'
Ã. 1;;
-
.~
,¬.-
zé ,.
gm 'fšx 'í'¢ê
_
Hz
1
Í* ~ 31' ~ . _,....‹zâ%
'
'az ... ..|-_-¬.._~ "-.¿ ‹‹ ..~- ' - ___ -_ __-.-5 .-' _;'4í:""a -,_.""'_ ~-_ __
z . '*'›“-,:";`.';:'§¡z- -= 'â.›zz¿s:.=1=~'úÃiš'~.-_=""*"f***'?$§.`f',^~ ¬¬«'.:.väÊ-.%,-'<.=
1`
H
HUM...SERÁ QUE B_E VAI PRO `.|_ BAH! ESSE PAPAGAIO INTROMETlDO!SERAÉ \- MESMO LUGAR QUE EU?
V
QUE ELE VAI PRO MESND LUGAR QUE EU?_
'Í' W '
Ei
U
;i U
§ 5 _
U-U
_-‹.-_- _ _
~~=.~~ -'-=:.¬.;-:-¢_â-- .:.':.›.-*zzf:'.~':§¬‹ -f ‹;. ¬ ,,.
- šf=i.;--“I-` ="*ív`-¬fi*.í*›'?f' ' `
“l'?]ff . '-1. " Í'-`›'z'.'_'¿`,_'7ƒ°-..., « Í' " "".."'~›‹¡Í"~:" ;i
¡
5 -_; "'.. " :_-_f'
IHL |`ê ¬
~.,.,: " ~=¿.- U _.z_z;;'=:«¿.f.~-
_
:-it. V
. .sl-z1¿:cÃR|ocA '
_
_;
[L
_
.-
\v'\
il.
Ú
"% r`
\
Zë Carioca n9 1653
Ed. Abril, 1982.
l
U! 55* 'U âã ....
ze ITI
*šêI
EH,EH'vouAomARAo‹\NÃ NÂQDIG' Ass¢s^nRAo.JoeoDeHoJE' oaoeoë TE SAO ONZE DA MA-z
.z-
EI 'fl *-1
ã*E 'W
"~ N H:aAr`1!>‹1?ANTAD1NH0 ~____M . -_§›¿_.‹_.-:=::;*:;_zf,‹z¿'É1 ¬‹~
.an
zé. I» ‹ ~ sz . ~-zf°- fi=;§§:
_ ~‹;2_`~› .~ ,§ñ@\ .-_ 1. -Ê' '41 \\\fiäI» I 'ÔÃÉII 'I1
, J
oLÁ.zE' GALO!7
gÊk0OD¿A.HE|N? DE _.. _ _ wovemmox- ESTÁ woo? “É ~~ ~
` É-eu
:- ~ ~ f-' ~‹.. ii
CEDO PRA PEGAR ESTE AQUI' EH EH' FAR! (GURCI) ADORO FARI- HÂ...QUERO CH I/SACO9 QUE SACO AH' DESDE CRIANCINHA'
SE!...E ÊSE DURANTE rf" (cnompfl) Q Josol vo come .z_. ,_‹=;f=¡¿,_¬, _ _~ F^âLs°*à^ESDEP“ z- : - 24 _, `_;__‹¢.
I-z
- -L» 1_u<àAR! _ NHA TORRADA PRA com NHA PURA' `
S^°zÊ‹z›u â'š~9›
lã- \ 1 \
_ WQ' ,,=~=~~
-â»---- 5 " -5'-
«mf
. | ›.
* ,5
4 'Í ,A1 -3 _ Z.. ãñ \S.`}~‹""_;Í_ 5;‹z_-É 4” - ¬=›, ':š.=z ¬‹f§¿_. ..¬...`
Tfv --, of
/5' Wal! *sw JI
_ šší n\\"`Q
IÍI4
ü*
`%@;êW W' Iggy mv *
T E PODE ME DIZER PRA QUE ESTÁ E NO MINIMO \/DCE VAI PRO MARACA-
í. P‹ \
CARREGANDO ESSE LIMAO AÍ9 NÃ GUARDAR LUGAR PRO JOGO CHTTD9\ 3- _.
_
*Í ' " › oRA_.EH B4' Eu A00-
z~ __z - Ro cuuPAR uMÃoI _,,. _.
E
'A
2 _' ARc››‹L'QuE _,-_ ~. hm
¬,_¬ ,_ -Q, " ~ š§"'W”@?*&\\\
I.
É Pol QUE Am/1NH0u°\ "Y" "¬ = ‹›o|sA I
..____ _ _,.- ¬.,‹¬ '2._-..í-je W* :via . _-.à ~¶ šfz, ‹_' _ ¡,,¿_,__/`_ _›. ,¡¿__,..
fr š ë‹ l R; És _ Í«.zz_'.-.'_;_¿-_...°r. ¶ iv: t~ I mã n .`\ T l É
M \ 'FJ iIÊ 1 -w.~.PEm==`fff£'ÍF:'%::‹2â*;‹fi'›fz‹ _._.¿ 1
z ~: .., '
-~ ` * -'-1» _ É -_ - _ -JÍ vs ¢-x <. ‹ Y- , , :.,›_z-,z O-' .'
. _,_‹ ¢~
Ézz _ .› `¡Í- ' `
. » gd ía P1'
1
=~,=Í-'f›~, '
~ ou‹Aoô~|Bus ~""""”` - * CHEGAM '
:À
___ 3»I
S5' .-. ' ~-_ , '“ - -z...,›=~ ~~- *
É!,
E
A E *~‹?‹~›2 _ _ -,__ .~ 1"' ~ ~ ¿ ,¿_,,g ,__-L;¡¡\ -_ Ê =\_ _ 1:-,',‹_‹.~`.
_ AE., n g _ ‹'*;›ê* 9 ‹= C .Q _): '%'z.'.É..'-fl ‹' “ra
if __ ' ›
I .
'
_
" -~,. _
" ' ._
“ii 2% ~q
ZE CARIOCA
'Í
¡_'.¡.r-
›
‹
O
i .
I
1
í
P"_'-"“'*""
_.
-"___.
I\
/0,/oww vvu › -
z _
f '
` 4
' svooçêo QUE? ` o cosuêwe uV
- Qz,-f'› --í_'_. _ FEZ. .¿__
~
A
š.'â'E.Tz'šà (55% `~"
. _ '¿-›_.` __ _,..`“ _. _:`_ ¿-_f› -zzfr \-- _
.›
.rf -..- -- ' _
...› z=..z;~â. . - z ~
êffiê Y Ê % fwf' 'Â ›
, z ih.: ' F
f f0~--' í AW `Íe«§_Íš-;':~;`--_ Í' .Ê fi _
ri' _';=.,á- "¬if':=~- ›. ~`-'Ê *>j«.-~. -.
'~-~'^1' -='* ,__,,,¿~‹ê I-"* --âw :.~.«-e=.~f=z'fi,“-'›1=¬fl-z-z.‹.. z,.
4:;-~.í> - Q»-"”~ zw **-"`*':›`-“"` -~
í.
, _
mëi
âm
jf _.. .:.
'- . 4 ..,_.z-fz. ._ ›- - fã =.~ .~ -. ..- _
Ê; f H N? .-*Í*3Í°Íz$t:¬-`=*:fi:*§<`1::^;.ê-*kiv _ ‹`~ .~-.; . Ê| - =:».»~2»-.~z*.I°^-°-;=\';ffFë›.--Lfl-=.¬~=_:?- zJâ:zâ.P›Ç:f'-`,.~'~;_»_.f -“
.
.-É ; QUE 1 ‹*-~*'~' f . »'-› ,,.z . _f_r-.‹___¡.~ ._ ___¿›_ 4z›À~;_ '.f¬ _ _“. 1-;‹._z. ¡ ¬_..›r..A _ "'= ' 'eso'
1 " '
. ~:-à'>>f:.â‹à;«.':L:"z- * '
f1:›;›=..-. , fz í ~`__. 1z;< f-==' ,`¶,,,1.›..' z',-,É-_:-. ~ ~ '\ “J/` Í Y
- : ' -~f, ,› _~§‹-._-*_ ' '§_*.:rz ._'_'
¡; ` " .';LvI›`, ` -./'Í _
"."`*~ ` \ ~
J › - .
f.'_~:=é- ~ ~ . . ¬-:;:-
› z_;., z, 1 - Qt - Y ' -o›‹!«.‹z‹-‹~›- asus. \,( . ~=--z~\ } ¬ L
_ ` ^"à
I / Kííjší _ Í . _
«. ‹~'- .- L ̀_` ~¬_ ._____-_ -:Íí 'I -à
Espana, peco! Leve O oo1:›oNE|_ .qoM\a×:s~NA¢>:euA! com vocE!e1.E vA› mewoen E._zMEu~\OQ‹=E,u U2
L Esses HOMENS! *" -*z -'
f Poczcàue? _
á, 7* 11-,Ê4 "$‹ \\ . Ç _
F. I'
-5,.
l |~='r-M1
_/I
ga
¿§ mw:
É ._~}._¡f
_ Í .'.
“kw V
~ ' '-ë'-'
4' '
Y - " P*
_ .;.¬ z¬<29` Ê* -' *':Í~ .. '. ‹¿_.-_-_.¡ ;.,,,._ `.`_` __ _\-:-¿ __? '
_". __ '_v -*- swf. . -‹"
, « - 'lflh - › 4-v ~ - ~ -_-ff" -. _._.«._..., _ z
* *f- ^ ‹ Í' `
. .. f _ ¬_›,,___ \ K. r._¿ K w _ ~¢_.¡._‹z..› - › 4.,
~ _
šilrrz ,Íffãl
*ii
"*
Bm, 1;
_ ,z ._ - _; UQ ._> _ I
1. _ 2 _"
DQA comgçàn, ELEÇ5 f5Ao os '¿_ z ›`. você c>e\×AQ,coQoNEu -¡ DêsDoN9×>~vE|s DELA 1>o1_u1c,:Ão * Eu vou ATQÃQ DELES!
-~ .. -Do LAGO! -~.:-z.~f ~ Q Do .J,`_,'_. _ '____ _ í ` __1___ ___` _` _ O GEN!-IO OE
â:--,_ A _ í, -xš ~ DQENIDEQ os -
"‹' HE|N- '.'_'1Í"j-'¡›,;"'- Í‹ -ÊÍ,-'JÍQ§_›'€\`Ê.f§¿<f;*.1_í*' '‹j ' › _: z___,__ PÍLANTÊÀQ F:
, ,,.› ' 5.* z›í"¿z.‹..‹ 51 `›5.;-_-;"*€.~é'-f.?_'.j.»›»"-
_
F*--, -f. UEpo\sI l§__'f_ ~'*` `›i¿f- 5°* f'1¬;'..z'.~‹;›'z- f;.`-z.-.*"¿~`-'‹\.*¿2'_-~:*§ ¬ ' "- «Ê
' ~' b "fiz-. '
›é*'“**"¿ ~
. Í-'Í f Ã.šJ`š`:"' - '." -‹ . §,`;.-V -_ ,ÂL `
ef* "-';-,x=- Hz,-.zv. ° Á .â-z~.T'-,Êfi-_ _‹‹_..'ƒ ,4 Ê _
- ;_:;z ‹«_ ¡ ~
7:';É'¿: É3_f.~_;_ '*.-'."".~3` '/Í -- > €"*." ¬
" W 1 ..' _¬ Í. ¿ I ZÉ'
7 y ea _ - ' ¿~1_--á_g_~:¿..~¢‹_f`. Í ¬ '›' 4 1.7? ,
I 1 vg,
\:* " 14.1 ;`\:"_""* , . z
.Â-. ; :`›‹Z›-~..~.' _' `_-_, : vqá ¬.z.‹ _ z.-. = 5 . ~Í _z
,
- , O W § <':¿'1¬-.-.f -.- V,-'
›.f.~¬. â ¢z -~«- z-z~: -z uu) _ ‹.~~ _
-~'~“- . --__ _._`__ _ _‹- - __› ›
.-‹ _ - ,Zé - ff... \v‹..»
__
"'...=.:. ' .é ~_'¿.=.^‹i.f;,*~›.
“' ~‹ 'f >«_._z: -
..-
{;;:;;: ,i É -“ *..;¿._-,__ Ff* ¿;`__;
I
_'-».‹_)_z| I. P rá 7”'.Í>"^ - '*;P;Ê Â 24 -zé càmocâ
\\ ih-
194
MAQ Ames ' BOA ¡vêm! MÀQ como vou FAZEQ oo/v\ Êëããè/ão Co1§r1âf:5)<Cš»>UC\)R _¡¿-~_..
Que UMPEM QER ~ o LAGO' , LAGO? *Z-.1'-1
-3, Í vaso E coweo, _ _;:':¡'-
1 co1=2oNE\_!DE\×E .'r-j¿_:-'z_.:;_‹f¿:¬
-«- Dor: Mn×n¡u.\ , 1; ;_‹;..;‹¶-¿¬_‹~..~v_.
_ ,_ - CONTA. ~ _. _
I,-_* _.. 5 Í' zššäflz; z- ¬ _ _”-fÍ~Í;' '
V Cí: ›~ _* -*___ Tá* `Í
ii. .z-› ' `~""‹ aa
Ê? '* ¬~v0
.H
V
TK
«rf-_
¡¡Ê","`~*~Yè wifa. ' :
7
Ass/M, M/c/‹E›× ¿/5,4 0z:›1¢:-7000 GM/E JA CONHECGMOSI- ''
l'›
‹* \1_~>- - _ . Merzeuuàe neso mms ' -É _ _,\ ~ DQA L/><! " " rf- \ - "..Í*'/ NÂO DE\×EM
0 '* ooenàn .. ` ~É NADA. «Ê (' \‹
J
\\ v-
` \ ¿_?( É Q” Duzevro! ' .
Í ::é=' Ê1 ..äâä~ flâzfšfo f ~¬%mÍ“ (!- - fl? J _-, v - dfi* “gl ¿'_í;}'í/¶ ^~ , Êf 30J
O QUE ACHA D!SSO'7O LAGO EQTA '.
s=|C/ÀNDO \_w\Do De Novo' /x/.VJ DARECE QUE EQTÃO v\NDo DQA CA'
ã..~í Y* \9§=;.
-›:
IMW *Q
.J ~ -
.¿'›¡‹ '
`~':.:,,:.
. DesL\‹5uE " -3'
o/v\oTox2, _ A
‹¿.__=
. DATETA! __.›,?z :›_-` ,_ . .Í
-É-l_fÍ1.‹'=Í~í4*‹-š?Í¢;`«::¿'^ "f`*-'f`1Ê.?
*ifz“ ía íêz -\
/zw, \
Aoul Eemâo Euês, vAM0s 0o::›c›NE‹.' DODE ANQÀNDO! ua/AQ os '
V
c>u.ANTt2/Às! -f `
r.. K" " f
.. «-74 ›' _
Jú Â É Í
* 375* “
'= 'Ã O Ê/-f/~4'S_>
W..
*v f
\,¿, .¡aÀ.!,.¿ '-3:”
?'r< ._ . .- ~Z*-z-*'-*' '~.~.\ -"93 `*
Ai"^' '*2z.£§š`*"* " ”" -~ SR" "Z"¢-aruzn èíw 1* *za
xzšsk \ M1 . :Í _
_ A
ZE CARIOCA - 25
EN
ge
°_mm__m_
_N_
.C
N og
_m____šm
_O_š‹
Em
!~
`
¿_`____
_¿_____
_
}
:_
:_
__
_
zé
___
___?
:gr
,_:_›_
~!"É
N
%_____ã3
omäE__%
É
3__“_>S_UEu<
_mo“_E@;N
MQEGOU
EU
°__WomP2_°O
N
ã£3US_
Qu
“gi
mw
__£3__^__ã
U
3¬š__8
Emšzflg
2
mwãš__â
na
3__owm¿°__ñ_
mo
gv
_m_____ã___
w
_omg2_5E8
sã
m__£__õ
g mE__U
332
_ggmãBQ
šg:
N E3
_____ã
EU___wH__âE_
EU
m3ã__ã___g
¡
^_3m_
`8__w_:_ã
°W08____um_
`_Eâ_°U
ommgaä
_°b$:
o2g_°_E8
ones
3 äöää
mogãu
mg
803%
'gsm
FMOUDH3
ma
mew:
mí
Êomgs
W
___w___w__:___5__~_oU3
É
_g_9___U
___°mw
àaä
m__°mo8_šE8`_
N
:ago
N nega
gv
m____g§õ
% ag:
O8
_E§_:___U
O
`__šS|_U_>_
g EWE
E3
`°_u¬_;58
_2šgE__Mw
_o_88_C
_¬_E8
N
Dgcgmae
o_mEm_
gv
EOQQ
23
monsãg
owäm
O5
3%
mo
_`Eä___ãäE
Wm DEE
O:
___N
_
ÊUCWÍÊÊ
__°___E
gv
8EE¬__%__
gv3
352
_“_E_Ém
_:ã_"EEE:v8`;`Êê
giga
mg
U
Em%N_`b_`_E%
mñ
giga
mg
`°_%_Êgg
mb
m__`E°=8_u
mb
Sbsaaq
Uh
`°_W“8_E:E8
mb
“Sã
8
3U__g`š
3_m°_°mÊ
EQ
`__m_>
38€
N
äggnms
_m8m¬_B
3mQ_wE__2mC_Ê
na
mgsëoe
¬_om3>_š_w
_%_äg
88%
É
_mW¬_m::â
mí
ñšmg
O
E'
W°2<
WOZ
WE'2<Z__2ODmI^_
m<_Oo|_omD_
_N
_m
3
'ma
gãg
É
$:m3_oa
ou
Emomgä
W mtoaa
gv
flëãm
gv
__wë_WV__U
Ê”
2mO_°%_
25
na
omosãä
N S3
mm__CE_°UC8
£_W__u_
gv
OHCÊLOO
E:
OE8
g__w;E_ëm_
3ãE3_QE_m
¿___'š__â
_W
OWQCSE
< _%%__
àns
ma
oWg_P_
gs:
â_'w____m8___m
3°
m_~__wN_¬__U__NaE
:___¬õ°ä
`BC2M_š
.E
_Ea
COÊE
EUCW>m_e
au
E828
“OC
gv É
_m_on_
`mOE8mC°_g_2U_
_
_o__wã§U___8
8F_S__3__g
go
_§mo_o%_
353%*
29
_w_ëm:___E
3 :tg
E oãegg
O
hgãsaãg
:WEB
“OE
¿C°_Uc2
_o`_
sã
mg
g_NDB__
8____©ö%
“E8
EDC
_o___Êc8
o<
gv
__wUw2
3u_Jm2_Om
gg____
8
9ãEB__â_ë
OU
“_
sua
ä____§__5>
3:3
av
°:aEm___m%O
OD
__°ä_°_¿
._
_8
_8__¶:m__u>E¬_
m8ãF_¬_8U__o9
_mw_N`_d
_
52
_m___¶N_m__u¿c3
m2u__uE_
_S~_
_8__°"_
éšm
“__”
9 WN
_
°_
um
28;
É
_sm__á¬_:â
m¬_mc___
mv
Ocficv
O eng
ug__õE_â%
u
Om×w:m__
HEUÊQ
__m×2___“__
“E3
u_u
mai
Em
ëu
°___8___m____
_
_g__wâ8
gv
gm”
ÉS
M6
3š__:m8
D
:šãä
OWOSMWEDS
m_ä
mz)
'gugu
W om:
°m9__8:_
N _Ê_gg
332
_%%2UOm
amo:
8Ú
EOUÊ
,WM
_8C
%
8__§m_£
omgçte
EU
omcg
Em
_WU__3šC8
_$$_aEOU
Emâoš
E3__g_v
msg:
EQ
_WW_aš__oQ
OU
o____mg
ou
0332
O
_%mõ;>
Em
ágã
mov
°WU_8_`Eš
É gv ou
_g23
mãg
gõgšëog
`°Pa,_WN_`E__°_`UE
U uma
_a3m
EQ
WINE
_BUCggÉ8
EU
¿m_o_ëã_§_8
¿EU__Êo_UE
gv
ga
omuoça
% mãe
3_E%m____8
_E_m3
g>šUš_m¬__
3%
3
_`_E“_c@$Q
_E8E__
g
OWUEOC8
25*
25
°U__BEN
gás
_gC_wE2CäUNš
_%
É 95°
Ba
___3_o$$9Q
gcgä
“OU
gta:
M “om__š_U
O °_aEm
wmmég
an
ÊSC8
w
___ë2m_w__
_ošÉ
EGO
_%mÊ:5
QUDOQ
“WD
ógsã
oc
_8___¿U9_8
_mW_`_m=:â
gv
OEÊO
OU
33€
8
___w__Úm_ES
_8EB
063€
em _@
_8šoCm_m_U
28
_8>_H8__Qä
moësta
2%
mag
Bag
ššo
V
_
_3_°mm3oã
8:35
“OU
850
aa
E
U
u_hEBä__
äšeoãv
_õ__°_u__õ>C°U
3
gv ou
_W_UCggÉ°U
OE8
É
n®F__U__U
E:
Egušcg
3 E Näo:
gv
`£>_“8cš¿
“gn
% 2:2
Q D2
o_u8m_ea
OEM
E2
93%:
13
_3_om3__°a
Q
gõusag
BEM
ÉUCWU
_8%
E__Ê°C
EU
_wm_SH_`_°Uã
“Egg
33°C
EQ
_mw:m_¿__on
% OEÉU
O
O‹O¬õOEZ_
_F
*jmmsom
vv
sem
gvcosmã
ñ
*
wwDw?__mO^_
WD
ošwzmw
oz
w<_OOJOmõ_
_
___'_:_v_L____'.___¡‹_\
_'\¡,__4I`_.¡_
rfriryflär
i"`¿¡`
___¡¡\_
__.$_¡,‹¡__›.___l
__q_____¡
___
it
›_
`_"'l_._
._",'
¡_
.¶"__'
_›¡'_,_'
'_¡'¡
5 `
_¡.___
__
ig
_
I
`
9
I
_
ã
_
__,`_¿___¡¿'_¡`¡'
1
¡""|"._
¡:_;__¡__.,
_:`__
›¡`_,
!___
.I
__r"
,_
1,
?
1!
'_¿_7;
›___'_t_‹
_¿
Vl!
Ep
`_
1;;
_l
¡___!
,M
_;
.
_
I
~
Hm____2UE8
gm
%_23
Lsamšóu
Lg
m°E_w___~E__8
__8E___5mc__
Eägm
_E_
M 3_m_r__N
agua
M
ägaãtoa
gmC___
mv
ošmã
OC
_3Eö:°U2
°<
_8z__äQ$
°_88°>
NED
EB
065
kgs
âggfiom
“EDC
da
g
38363
3Q
5:3
¡
2:95”
ED
UU
|
Na
_Eägã__C
06€
O
_š%_mCoU
ON
¿Ê_____“š_
ga
Egggaa
om:
gw W
_w3Dm_¿_oQ_
g9____
Qu
meomwgoa
mo
._¿___8o
OWC
ÉWCOQ
_owm_
_Eäg_wC__
yu
QE
›o>o__
®o_C__U°_UN_
Ê 8;
go:
_°Wä8__ä
mn
8:
go:
Ea$>_o>ãm%
`__8m__§mw
S?
NU
0:9”
O now
moggg
_8C:_m
3 26
Lsää
na
% Em
¿owm£EQ
B3
wgëšão
g>_gC`_2_HW
X E8
EUEE
O
gv
am
N
ga
àâ
“EE
gã
¿E__e
_gm_
OU
_oWu_moQE8
< _8mH__õ
W _m_m8C__m
M _%__Wã
W CEE
EC:
_8EmU>
NE:
__?/BUÊU
6225
oc
_E3
_wm_mš®_Qš
% :O
$wäE_£E
% :Noca
_2U_tg_:m
8
gèesma
mgxg
EU
°mä$__e£C_
< úmñã
M5
gvcggm
25
O
_‹ã>Ê_mwE8
ÊWE
3
geo
ãmmë
“uu
cmg
Iâgma
Sgt
G mg:
_`_2ãE;_ä
M5
Ê_L____
25
g
°Emš_>_o>___3%
O _$_mE
¿>m>;Bo
3 mãe
omz
___$_____
hštg
na
ovãgä
Egg
_m8
58
mg
_EBEã
woUš__%C__
moça
3:35
WO
.Ê_83
mw_Q_š_E
Qu
gmššc
mã
252
É om:
gcgd
šuflcgg
`_`mo£E_g___U:
mou
8520
__Eg
SEXBCOU
Ê
;__a¬53
3 Q
Eggmëg
_£E_Q_Um_U
3:30
EU
3°
sgO2__â
gmC`__
EU
Joga
wOT_%__Q
3 šgg
É
¿_UC@_UgmCoU
Em
_
_mgmgmE_
äëg
mg
äÉ8m___na
8_;Em___8
ëä
Eme
N
3.3033
osmã
gw
É
_gE3õ>C_
_m
___gU___m
eããpõe
Q
°___%C_õa
Eng
M
%c_N¬_3_
ämo*
|
mCQm_m:mC__
mëtg
mg
3_m^_u_°E2m_%
Nmšé
058
%_WE8
am
gv mw;
É om
I
°_QEw
ëš
Oošëš
BXSC8
E:
EU
g_šmã
Bãëggš
¿Uš`5m_____
Eäm¬_mC__
<
_£¬_m¬_toa
OU
Emomgä
É
mgcšoä
W833
___mw%_
:Êwã
Lg
DOEEÊ
253
__:
`S_£__QE_
DO
§°`__aã
mE__£
8
_š__mg
%
gcãge
mg
mg¿_ugm
mg
Q sua
'ÊE8
on
__w___¶c5
Eägmš
8
_mo£C___g:U_EQ_~T_9m___
g
âšãwšâ
8
äõggš
Sã
_ä2___
SEE
gm
oncmcovcgm
___o__UcwQF_8__
%
E9
O
gcwgä
É °ã__mSD
oU_H¶U_Ú
0;:
O m ___B_oE
Em
2_Ê_E__2
BMW
_°Eš___oO
oo
Jose
sã:
meu
gmšg
tçšš
gãN¿
_°ëWEU
O;
___
O
_ÊN_5$mvQã:§_m`Q
;£>$ã5
oämã
gw
áãg
gw
mo_U___wQE°u
mogâ
3
age
__g
¿____v3
go:
gv
DEO:
EQ
_¬§u_£
_?°UEü__U
no Lg
OWC
2 3;:
DUUÉCOU
0::
ga
¿_83
asc
m _o__>__
OU
25€
N _u_ãE
_8_C9m
_8C28U%
me:
8___w>
OEU3
2>Ê
E :E3402
_8ã
mmšwz
_
_§_š
_3
ÉÊC
mg
°_UC__%_w
_Eägm£_
29
Egg
ea
Egg
¿°____:¡
3 __8
ICSE
Eflsã
3
_3_°mm£°__a
3
“8_gg_"_ä
°___¶_°_8
O
2c%_>m_
Em
_mãgE_
8
%%_ës__E__mm
8 oãa
E2
___m8§°E__
aa
__8_šE8
3 U
Ewcä
_;nm9_ä
ea
movgšö
02%
E2>2_
ggâ W
3U__n_5m_____
WOEMWEMEUOLQ
8
E2Uã__Qm_
om:
“OCDE
mo»
Um
_22W6;5_w
3§___
3:
lã
O
_g2âE8
O
_3__E__g¬_U.Ev__wm__ñ_š___
E
_o_¶_>m__3
Ba
_3_g__â3
8
“m__BC8:o
mí
og;
O na
mogctg
_3__9Ea
3 “mogi
U “Sou
ügoä
N35
gcgmmxmd
Egm:mr___
g
BECOU
O
23:93
Em°_°%_
mam
_ __
ommemoa
cv
ggzs
_£
g g___v°ä
EQ
_mW>C_
em
_°mm_
_°Emã
g
__:5___S
Even
3 uma
83°
W
____mS>_N_ä
E8
omgamz
NE;
emu
g_¿ã>¬__
N 8
“Orgão
E:
duas
lã
oc
_£â_|_
_%8_õ___¿C_
gv
3:8
ggãešš
gv
3_E_~_gÊ_
dê
Em
_$__om$v_oa
53
U
°__:E_`E_ñ
gia
E:
2:2
wggmšõn
sms:
<
_Êm___$__£
°m“š_8
23
ggcvašäb
am
___à__w__2
_c_wr_3U$_
gv
ëmp
3 E8
EUCWÊOU
EU
__äâ
“www
__`_2_o_U_Ê
omosmgš
gv
BgEmã__
O ___:
“EE
_wE>%
om:
_šã3_8
gmC__._
qgâ
imgm
oz
_°>O_Q_
9:2
2::
Om:
É 3_:__%
_C__
Eägg:
N
gv
EU
_`_8__§mH
_š__
2
WOEEEEU
_m_m_š°5____w
su
Lgš
eng
%35E_Ua
____g°_m
2%__w___
25
N _g¬__
Egg
:QBC2
_¬õ
gv
_w_׶_ä_`
< _mñ_____
mu
Bããsãëzv
__ã>8_šE8
3 U
Egacä
_F_mv53__â
__2šâE8
O W
omgãä
N
EQQEEOUSQ
“EDU
3 “EE
_°Wo8_ãE8
na
355
mgoc
“OU
3š_Ê_
3
8582
EEE
_°EB_g
_m_ošE
8302
__N__šÊm
80
%_ö_:§___
Ê
_gg__gm_>
%_8_šEW__â
3 ng
8Ú__¬_šC°Q
_2g_ü___E°__U_
U
o_C__U2uS
¿Wâ8_â
N>Êo_U_E_oo
_%UEW_Emm
£r_E_
ga
E8
ácsaem
G
ga
pa
80%
1
__9B5__õ
gv
_“___×W_mm__
mv
Ewg
N S3
025
3_ã>Émw
Écã
Eua
33:53
%
Q
°_c`_8_UE
Qu
_°Wâ3_mQ
na
oa:
O
ÉCOÊUC8
ao
m_äc_Eš
m_UcW____
É SEE
Eu
29:
O
_%___U%°m
_wE___
Em
_`_EägãE
E w 22:
°__
_gU
~,
__¡`_`1¡_:_5_`
`¡..r_¿__¡
*¡`
___*
'
y__‹_"
_
É ___:
_Í
`_
_'À__
l_
'_
17
~I
QN
__
“mg
0:22
_N_
____
_N
CC”
_3_`_3_m
_°__B<
Em
~ `
I
_
_
`__
____;_`1`
:__
__¡_
Í
"_
c'
_
`_"_`___y
_,___:_"_
_¡_ç¡`¡
-_
If
"11
_,'_.¡__~_;I_~
_:m;_š°`8_¡Q`_
São
me:
Lg
_§U_w>E
Ê E¡_%5
283
N dh
8%
mg
_gg%
“S50
EU
ea
“E2
=Q___3\N
O m EOUMQ
Qu
Db
ÊQU
O:
_
_
¿>_38m9_ñ_
°WO_m_8a%_gm
Q E3
ogtgcg
E3
oë
w
_m_8ãEgCe
m8:m__%C__
_£_2:šm_
gw
owmcgaëg
25
aa
^__“š__8¬_w
om:
__Éo_“šä°
OEÉ
ÊEEM
O E8
omgugflosa
m m_m__J_N:g__
_m_°Q
Jwsmatoa
Qu
osmã
O
gts
3°
%ãgE_Ê_
_m__HEm_mm_8
M__m___Egm_mw
CS8
En
'om
$%_wE_ot___
N
§__šm_ä
ovcgg
vWu_8QE8
N
ugcwaoto
meme
mg
°Wo_w×_u_
w
8ãE3_a_Ew
ao
mecëtuaoa
mcsmã
g
8:WE3m_mâ
°__“š__Q×m_
W _8_HWC__Em
N “ocê
cv
“E
ë_ä_\_m
m_õgE_oš
mmE¬_m__w
g
°Wu8EHc%_
w DO
3mm3__ea
£E¬__%
M6
Lmmcëe
2
m__m_:_N:8_
8:2
g gšg
O _:_E_8$
_ä_H_gE__
ë 2:2
EU
39336
gv
OWOSC8
'eg
Ea
om:
gcgc
_mgC__g:v._EM___ë_B¶_£
__3%_>%
%mÚ__gU
gv
äãäš
Êgmsn
šâoa
__öE_E
gv
`_£_š___
Ba
8:¶hg__
wgxg
mov
°W°ã_:gm
N
250%:
mmáosg
_°_ãCâ
_mw¬_m_šâ
ou
ocê”
O2
__Ê°§gb
____ê_WHB___m
“EJ
S2
Eäâ¬_°__
%
gcgšc
O
dmäš
_°aEm
M Ê
QMUCWSUQWCOU
<
_m3ãN___:o_w£°ä
âgšgéz
E8
oëã
E:
Ba
3__ã>~N___DmÊ83_
¿U;__3n_$
oW"_š_W%__Q
E8
ga
3535
3
EEQ
Jwäztca
mu
OEÉU
Ma
_g°_°__Ug
m¿_ë_w_E:c
ogêe
šW_>_E
M;
ga
_g_°mm£°a
8I
"%%5m_nE__
E5
même
_EW__â
_°UB
922
__`oC_m___°
cv
°WomNmã`_UoE%__
23%”
Ê;
mu
msg
Em
_3_g8__Em_wE
_2ãN:_E°E:°ä
BEÊ2
àoãm
mv
Em;
Egg
38:
__g:<
_2__¶_8__
omgmoaeoo
g N m_8_;E
Ém
mgãšvaoa
mg
_“___g_ãmã
8
`_m8_mm__m_Q__
m9_S¬_¶__
mg
Ovas
2
___šm8_U%
3 mega
“gm
gv
E8
ag*
¡
283
8
°Eë__m_
% Wâçš
sc
OE8
¡
EEUOQ
OMC
m@¬a2__oQ
U:
gõmmaoä
3
_9×mš_8
832
ü
_
_°š%E
-usa
__o__š
SU
$N_šc
g 825
EO
8>_;B°
33
3
__Ê°_mšE_U8
W
8550
3_____>
E352
ge
_8_mg
_š_aë:u
9:8
_%2Êb$
58
_m_____õ
83%
gm
ga
em
om:
ga
¿$_à_¿__oQ
gmc___
N
gãegaã
Em
Éã
2ãN__Ê°ã:oa
Em O
_gSm
ONQ 2 mõ
ogwã
g
gta
SU
OZ
_2g_ë%
8_É__9
__:°_Ee
m_mW¬_m2
__oQ
M5
3_om§_oa
Ê
omäcta
< _w___õo__Q
__o__WE
mñ
mogg
EU
9$__mc_
Sã
£U___@:8c8
N Lgcg
EgmgCoU
OWC
ga mo
og
__g_m
E____
ga:
g gmšo
“oc
°UC_äEmC_
0.83
ea
35%
mo
`%%__g_
Em
_°UCm_¬_U
óa
E:
O
go
°C____mw
QD
8:
8 85*
ao
ggzgv
%
ggsg
EW;
dg
gs N
âëm
_§$|_
nã
8
2ãE_â_UC___a
_P_¬š_UgU__
g 3:3
3:
_.__H__š
Egg
3 as
g
%ñ§_2ãE
Sat
mošm
_8UmmB
8g__
_%_Éou
mg
__NU_:m%š__°u_EU
`°mm__H3am%
EDC
_A3_g_oS2
_zS¬šC
mñ
8
2ãE__OÊ
m2CmN__Ê2wm:°a
2ãE2_~_Um_E_
3U__šm_
ãëwga
__8
EÉEEÊ
°_§_wED
CCE;
2
g__ã_kÊ
8_ãF_%__a
OWWSEE
gm
_m:SmoN
Q E % O
EBES
_8_6
S3
nom
_3ãN___W___o_wšoä
0:35
3
_gg_2
`°tWš;>E:
osmã
ou
_____m_<
_°wmãE;U
33:
cães:
_S_Q8
8
°mäE__£
w msm;
E8
mëtes
3_ESz__8__
¿š_;2n
Omggg
E/_
_
_3ãE
às
8m_____g__
mov
Saogsn
U
:EE
ggêwas
Q E8
omäeõosa
N E3
gv E _°moS__2_n8
nã
Põãwš
2:2
má:
EU
ig
_a_fl>2S_r
__2Uom,oU_E©coUm_
9gE_>_°>cg%
8 2933
ong
E3
N
2__Wm3Uë
m_5o_%_omE
8
omosãea
Põe
nã
JOFE2
W950
EU
5°
OEQEÊE:
335;
g
OWOEOC8
N
2¿>$3`_QEmw
_BC8ã
oc
_o___Ê__¿
EE8
O
_oãE___r_
_§%U
EU
omäõm
N Sã
gãE_.___HmC_
EJ
9:8
gsmuacou
am
N
So?
gama
"_°NSQ
082
N
9gE:3>c_
E3:
088
2%;
oww
_ã
Em
_oWU8¬_E
_mE__2
säo
__mã_gC
2cmš_>_°>C3%
M6
casca
ou
ogia
M omggg
&
_8°_8
SU
Emi
____
l
_š_EmÊm>_°>C3%
gs
_ã
mn
m__£3E;
QE:
Uã___Qm8
m__â
O
ovãã
¡
oh
8%
mg
°_U__c_
oz
_`°ãEš
\8_ã8
go
omugg
Mo
°_W`¿8%m__
_N_N
__mvãE
__$ëCmm`_
gv
gëa N
EBE2
_õE39_%_
8_V__%c__
Ox
Éh;
g :za
NI
Ota
“EE
O¡ w
_^oU_mWšcm_H
Q
00%:
gia
os
$_8____m
ma
M
gua:
8 ig
Joepšwm
_m_cg_`_`mm:_"
E _.
Bag
8:
I~
I:
M`
iu
7
__
›_
____
_,
_;
2'
:_
'____¡_¿__:_`¿¡_
¿
¿\___'_›
\
_¡¿__
¿V__\__;
“~
`
I
_
wN
'_'
:_
`a_:_¿_IJv¡J,¡
_¿_¡__¡
¿l_____
__.¡$`__`V,`_1¿¿¿
___`_v'_'
¿_
:ll
›_'¿_::~
_'_^,`____.
_'___'‹_`_____;
___,
_
¿__._\
__v-\__y`___¿¡__
¿_¿
l
_]
__,
I
__;_¿_
~
_
_8____%
“ga
__ãm_wN_v
_
N
_`_$__°Sgš__
ga
_S__%
gv
WOMÉUE*
8 ea
fl>_;U_t:3_
NED:
__3_§__°U
3 Em
___°EE_&
'gm
_m8_5m3
8
u__£_%_WN
_fi_£`_
2:8
ägäuã
_3__m_Emä
3
“_g°___
EBES
gv O
`_`_Owm£O__Q
ou
850
W _%ã__%
ow:
OCDEO
*__
gd
gvN
aa
aaa
U
_8_š_>
omgë
g_____
_°g3c8
Du
3öu3_°__Q
m
3__°mEä
6:30
g “CEEE
DU
ommgams
gv
mas
3:
_$__omm£oã
SU
3_g_8_a
5”
eg;
_o_g_2mC_
352
6:50
332
_3;>'8_>
U
oëcsäa
g____9_
oWäN__Êo_UE
2%
088
:WCOBCE
Lg
ãsša
SU
O
`_____'_W5mEC
Q
___":
ošëg
O _`E_c
am
N
:ago
põqw
U DEE
Põ_m___ã
O “3__°_g
M6
ow
gg
Sig
Egmšc:
gv
8 mw
éš
E3
“Wu
šgëgš
mEwU_
*ÉS
_;>c_
25
_E_mm_~
_g¬_°I
__N_ë__šn:m
g oêg
g É Eng
Ba
ommãä
àäm
__8
_o____wã
O
mm_§_c@_â
8:;
3828
3U
%E__ë°QE_
355
5%
.nm
gv
$gU_>š
mg
E_fl>_2mE
NE:
3.30%
ššm
ONU 2 Su
283
NZ
¿N_UC2%
W
3_:9$äF;
_9_M_š
EGO
_°__5`___:gm%
EU
$E_w;Ê__8
_
_ã
_m3C%cmâ%_2C_
3wm8°__Q
_EväNmUg_%
G
955
__“_C__`_£
_gm_
UD
632
___8
2
252
8c_w__:m3
S3
0535
_m8šU_Ú
“3____"š
O
3vo;E
DU
_
Eämšvãšm
3;;
053%
owëmk
3
gcicg
E:
__%gE
Eng
& U
sãwmgä
233
25
gv
258%
O :Z
A
W
;_§_¬_g
E
Doëwn
_°WHã
___°mw_¿°__Q
am
_`__Ê_wC_U
usa
635
3__°_
EQ
_B_wm
ogscou
O B3
Ego:
__gU
N
oucäa
__°_š____w
W Samoa
E
_2___2Lâ
_8|w©Qm_Ê°U
_°___¿8__%
NDSE
8U
%_wE__%__°W
gv
3__§__`_>
Eg3>E_NE
OWC
mgãgzugoä
2%
3 3 058
'I
__g_m_;
São
O au
N
333
__g_mã
mà
O 3:
ou
SCÊOQÊ
222
_°ëWEU
9385
8
___wÚ_:_ä_N__ÉoU
EQ
_oWgN__ñ__W>;%m
25:
_g¬_§c8
O
3_=°N__o__šm_o
_omU_š
.
_mc_
na
BÊ8
EU
MEE
ga
_Sã__°
Ê 882
É
ga mg
MOBEO
8
°U_`~_%_ñ
oagošrahg
QREÊB
Paãk
É
Snow
EOS
ig
Fa
ía
SSE
O Q __w_83
É
¿aN¿
8š_m
3 `°D_Eg
.
33:
5%
8:8
ou
__¿C_
8 gq
O WI
28 mg
EE_m_m___¬5___g
omšš
É:
M6
ÊÊÊ
É
CSDDU
2:58
2003
WMQÊ
fl
3_:2;>C_
`3__°gu=_g
3 8:;
dg
"Egg
_Ew__°Q
_8ã
3E:_¬___
82
_°Wgšc_
23
isa
N
Nomägg
23
3_m>s___n3C83_
___o_Ê_
:Sm
EQ
__~___MwE__a
N
šonš
ÉU
mW____E£
N mšcmw
omršcg
058
E:
_H____m_×m_
_o_E©C_D
amv
°_5`___:U3%
8
oëgu
oWgEfl_UE
G
Sã:
1 ___á_Efl
BONÉ
NZ
_°W“_v¬_šc_
gflg
ow»
_8¬_B
HOWÊS
São
EU
Sana
É
Qm_%Cgš
3_°_m>
nã
°W&m_>D:m
gm
Êzã
N
$%_ÉN__g__
_°r_____m__omm£°_ä
3wä_?_
3
3_E__:2_“wšw
___~_`×_ñ
_
`ëM5_mE_`
GU
E285;
__°__
sã
N E8
2£_EoU
EU
_°£mã
EU
m3_Sm_
U
WOUBWE
M6
9__õE_>_o>___Mmm__U
O E8
omugãoga
_2_m__m_
E8
_Q>¬_°I
_g___wE_E
“EE
:OSB
N 3:
___°ãE
oE“___8__8ã
EU
Ê__m_u
E:
283
33:
ãëäcg
_°C:_N
om
gs
32%
N E8
ga
_NmQc
ga 3 Ómz
_o2_2C8
Qu
35
_8ã%_w_Uä
om:
3:0
25
_£UcW~
_B¬_m
838
mvU
__oEäom__NgQ__
SSE
g 283
25
ëE__mm5
283
Q
23%
3 áog
gta
ga
Em
Ê;N É
m_m°_o%_
E ma
m__U___g_UgSU
uoãã
8
93005
g
m3___gš
ämwcs
âeâ
|__w
gs
°___n______gm%
E:
DÊO8
_g3%
N
89
aa
__om£__m
583
33:
EN
ga
___°Em_m°_°“_â_`
g_šmm×m_
E:
mv
_Ew__â
_2___Ê°8o
_
¿>_§__w
3_š¬_mš
Êägm
g
2ã_nE_w
EU
EwmmN__u
_mW¬_m_¿__°Q
mí
mgsmoa
E3:
8_äš____E
am
Egg
gv
mogscg
3 :Eu
N sp
__
__`m¬õE__
o>_wmë8
O E8
mo.%ã>_;_UN
_3__gw8°a
mg
3HEe__2
É
_ëom_>__ä_¿
“__omgUE
g oãg
QC
šm__EgQ$`_
gègwggoa
_õä__U3
Egg
EE
ga
oW°8%m_
EU
mogzusm
gm;
ECS
_:S___;c
2%
M8580
Em
_3_°m_?_ä¬_m
êä
agua
38
au
°Wä>C_
N Egg
mšmã
W
_g__wCmm
gw
3š_gmšmm8°__Q
8 mšcw
_9Cmš_W____mš
M6
9:6
E3
imã
ON
gv
mmšgtoa
gv
3__omm£o_Q
ea
__8ëC_E
gãggãgm
_
_°£mã
ot
ggzgv
N
_2mš°_¡_F_8
ea
EEB
___8__8
ga
_g__w>
šgwš
__m_N_w___
Mô
305%
om:
_3csã
É
`__2m_m°_
óU_a__
°3_ë89a
W
HOUEÊÚ
°äU°__u
ow
2_o___g_
N ea
EE__ã___
'C8
_2mo_8â
w
83383
¿_83
É
Jgäg
WSOEE
_%g__g_
Em
2;:
ÍI
__¡__7
¡ _
£¿__'_¡
¡__'___-_¿_._
›:›¡_`¿
__:_
_l___.¿
S.
__.
¿`_¡¡__
, ___._
,__
v
_
__
J
_ _
__?
_
__
_;_›_._
I
___4
_
~
NN
°__MUCm_
_NF
_:
`N
ocfl
_fl:`_"9_m
_°:OD<
Em
~|
¿
K
¡_`__
,¿___¿
'_
J 5
__
_
›
___:
__
_:
›____
11;_¿_____,:__¡__l¡__'_š`
›`l›_›'_r,'__ë§ä
'Dm
UD
8253
mm
___mC_b3__
ga 3 OE
ig
_og§_
gw
_fl_:U_W_U_:
%
D
omšmgš
8 gmflšs
Egg*
_20____g
E:
gv
3__mEga
m°m__g_U
mg
u2___9___Êš
_묚šm_
“gm
mšcm
_3_šš$
mgãšgfloä
Eu
%më_§_
_____ñ_
ga:
__sãEg_C
ga 3 om:
_:šm_m
E:
2:8
_šO_§c_m
O mg
_§__°toE
_m8_g_°ãt
ëëäa
% ao
w_ÉoEm§šãE
Q
šO_ã__3
O
w8m3__
mgcãoa
3_3_____;___
äceã
gv
MESWE
E:
w gmC___
ME:
_
_
gamntoa
NU
052;
O E3
Sostgfl
momgg
gäuú
em
gv
__gEã
_w_m°_oUã
8 mg
'êoaflg
ëög
EU
mg3__8___w
as
Exu
m8_HW__a
O
_$gHš
g 2___¿
às
E:
583
38€
Em
iosãcga
_Sc_fl
dh
“og
mg
250
oz
__~W;UC3Cm_
Nossa
Sã
gq
W 058
_°__%c3ã
3E_àmw__8
_8__WH_m;¿___¬_
imã
ENC
Um:
"¬_8Mš_U3
__NE_B
8
355355
O
8C_šm_äš
__w___¬_¡
E5
guga
La
OWC
N
_°Wm¬__U__8
G _w__uC8ã
omz
___¿or_
M6
“Saga
3
äcš
om:
8
_g3
P__2____°_>_
M6
Eäm:mE_
_m__
"E_m________UC8
8š__w
8 _E___ã_
Pãeã
N moh;
dašm
EU
°_'WUã3
3EQ>_°Më
_3ãE8_H__õ
o__Wg§_
888
ga
ama
_8__Ê:E____'_
om:
eg
_°__2_U_UC_
6535
E_mm<
_
_
_EgE_c
_8
omz
_3B3
°___8__°_>_
QD
¿__U__c`g_mš
ab
Qg
Ê m_`\_šm_
Emm8r_CoU
3 öwuã
_gP___h2C__m___ä
___%E%
__U`_¬_p`
E823
EÊESI
áã
ON
g
_m_>`____
EQ
mg_gE_g
m8_“WE9_m
äë
mag
_3EsoU<
úcše
W Ê cmo
¿E_~_8__
< _8:`_E%
%g_m___%
age
gv
8:30
aa
3_UcWäE°U
“E
_°mHã
_8Eg____>_
___3g
EEE:
°__W____
gq
3;
eg
_`m__Ê%
__U`_:_u__
OESC8
nã
šä
3;:
mas
gd
Ew_=_mC_
m°__5__m
3 _om__.¬õ
OU
CEE
O2
_8_ë%E_
233
gv
3;:
mšm__w
fl__3_U____
£__á°__n5
<
_3uš__%
___:
m°EÊ_g_______
mg
N¬__ m 838
E___
pa
°_fl___3c_
N gv
EQ
§_wEEm
% _NE_ã°a
E:
N>fl_š_EE
mf;
sã
É:m_<
__2mom%g_`
gv
ÊSCOU
g
gmmgoãš
°E°;__
33
__gg__
_~___%8
gv
_N_UCw_š_×w
25
25
_%_§m;>______
É
_3gm_§â
Sac:
g __°w3__°__Q
058
äãE_ã_3_:£
____Em
2 8
_`$ã_¬_mm____
85%
N
m%___5EN
La
Eggoa
ga
EB
amava
ia
85%
WOESESE
_m_gU_m_m_>_š
dz
__2°
__°2_š_p_
ou
omosšuoug
gv
%_§_52
ÉU
3:03
OWOÉQE8
É
omgaoa
838
E :So
owmgää
N
Mess
G mãã
W ä____E2
g
Uu_§Omñ_B
8
gãâ
O
ëää
_°Em2_
Q w __3_°>m_
om:
ímã
N :Pa
ma
U Êwm
N
gw”
EU
_8g_N
83°C
M5
°O_Hm___UmE_
Êcäëgä
°
gv
og;
_Ê°E%
EW;
Eägcom
3E¬_m_N
áã__$U
mama
WND E8 283
flz
_;UC$_%
__O>__:
gm
EU
_E£_m;%
ga
“OU
__`šc8
8 ö>_8g
ea
__°mU_E°a__
EEC2
om:
3__5_W
3
gd
`25E
ÔE
gs W
áëghšg
U
gpëgëge
DO
3§_g__šä
E8
Bu
35:
h$>s
SCBOU
Egas
<
_%__wU_m__g_C¬_
Mw
:Bm
E ou
:EE
E M5
0:9
ÓCOE
E:
EQ
ipa
N :Em
äšm
_~_2_w_m
_3_°UCš%_
_88c___š
omgv
__Sm
gm
EE%__ä_3UšEP_gä
WOUOSCOU
mo
_w8_¬_g
Q
mwggëovm
_30____~_ö
E3
_3CQE%_§_m__3_UE
_oU__Ê_š
3
ESE
moušpv
ane
_§_
ócmmã
ou
m_g__c
meošaa
8
_m_Uc%8%
ä owwgoã
EU
E822;
_%_:âgc8
Em
daog
BEUE
33:
EU
$¬õE_°__m___g
Lm_°8u_w__fl_
O
_°Wg3_w
332
_m_gU_wE>_C3
ÉO m____“___m
muN H:
oc
_ä_oU3_wa
oc
__m8__ã___U__
__mNãC8
N
3____°Emmâ
dmfiã
_3__°mm£o__n_
___3%__U
8 cmo
____ë8__
g oäõoa
E:
EQ
3___Ê:C°U
N
_°U_g_oE_$
OÊE
gm
EU
OE8
_¬_8_°>
__N_m°m%ä_
m __°c¬__p
_`oÚc8:g_
W
a_ãN_E_C°C_m
_EUE
Ô:
0:35
O
gt
__E®E9_
OU _g
O:
OE8
gcäfl
OMC
Sm;
smN sega
gãš
G
_8g_m
êä
Nugšg
8:2
8 _3%_E
É
_H_šg_É2C_
E8
_a_ESp_Hc8
_gE2
9_¬__E
__â
_w_go_U3:8
3:03
3
ägãa
Ji
àmgoa
8 owgës
mã
Egg
32
__£m°m%ä_
gv
gmscg
O
¬__E___m3
_3U2
35
Masc
ää
32g_oEš
Éäto
“gn
N E;
äeg
aa
own
.EEMU
Q É 5%
25
_Ep__m__3m
ëmo_gU_
mg¬__°
___Eä_z_¬V__š%\°c_m
_ã__b
__°U_HwEU
omM8oä\°gUE°u_`
gwmcs
mg
2ãE_Q_____o_
8 Ewã
__
ima
om
gv W;
U ON
E gv
283
É
_$š$E
%E%
mg
35
_mW_J_m3_om
M6
35%
OMC
nšmã
O 8%
wscgg
W
__E:3a
mm
:UE
W as
OE8
Owgêm
252
_`_wW_mE
gceã
_
_
_
gas
omzz
“mts
8 tao:
O ENE
_£_U_
83
__EUã>_`
gv
šmg
gv
023
E:
gv
°U_=__UCgâ°_Q
N3__8
E:
E8
8c|°EP_g%
éã
360
_
_
_
Lmušâ
mwwgwaä
OMC
SU
Omã
ces
°_U__uC3ã
OE”
E2
ig
_;_oã__a<
_EmU_¿3
ow:
avg
8
ègu
0535
ëgãam
BEBÉ
38
MEU
Eggëg
OMC
ovãã
M0228
$Emm_¿_°H×3c°U
83:
_$_°3$o__a
“BEE
_°W×wš__
M6
Q
0823
UU
o_U:mam_¬YomC
_oWgE2ã
Uwaamgä
__%ã__%
__P_ä
EU
_3c¬__m
3E
_£
_____ä_¬_u__
gv
Wššoa
E:
N
955
ou
case*
O
E3¬_B__
Emi
gm*
~ ,__
L
'5_
_
_
vv
1;
_
___
:__
4
-
¡
I
«___
y
_,
_¡'(___›___
gd
¡›__,l__‹'_¿
.__"_,v_,_,l__¡:__;__
1›_'___'___;l¡
Éä"~
_
-__
`
I
I.
¡_‹
¡
I
`
1
\
`
.
E
_|€_`¿_!¿_¿_¿;¡_,__
___`__¿
š
`
:Ã
K
_
L
_
`
iv
__
__m_>`_c
ogšg
OC
çgaoä
Q _$\
cam*
¿__\5°
gv
ggmwn
gggñg
mg
ogcmaëag
Ogkäg
O
__ãa>š°
om:
dê
Lg
_Q
m@_Jm¬šoQ
OU
°Oš`_%E_
W832”
O
_%_L$__%
8š__w
8
›§N___ã3ãU
`3___m_EÊ×m_Ê
EQ:
`m>_H____š
E2/_
_2m___$
3 OE
Gg
_9CBg
O2
_mšgE8`_âEoU
8>šB°
3m____mg_ä
m___ö
__WCõ>
gmC___
8 OEÉU
O
gv
E8
Nä
_wm_m°_°EE__2
gv
2C_p_â°E
OUCEQ
E:
N om:
0236
JOHEUCOU
uv
Êmw
“E3
Q
Hm_mE_£
msg:
g
°Um;Eo_g
E:
N __N_°U3
É
_gm:_m3_g
m¬__m______
N
_e_mš
E8
¿_U
3Nã
'Ê
__mC2OÊ
oU_Hm_5mC__
GEBE
ou
owoggä
N O
ogmã
O
;N_E9_W
__°Q
DOSELB
_°Wš%
_Wm8_l_
EQ
_S
Moã
“OC
ga
oU_g_8U_
oëgw
O ämm
oM`w__:U2OU
_”
_
_§__äc9_H$
mgm_L___
% ogmã
O
_Eäm¬_mC__
Eng
ë__°g
8 OWm_mE_2
N
_mm>EE_a
mgmC___
M5
DO
3582
mv
OmO_äm_u
N
uoëã
_°
OWC
gv
m_g___o
g©g%gmš_
gw
OU:
E8
fo?
W;
â__g|_À
EU
E3§UC8__
gv
8_¬õ__:3
gv
Êmšo
ÉU
058
_%g_šm
___2ä$
3 mí
Em
9:8
__ä°_go;E
flE__Eã:
_°H
_ãEoE
O mg
_mm5m___t8
Mô
°____mg
g :og
om:
_oÚ3c8
_8š_%C__
<
_
_9_m_Q
ovãmg
Em
38:
03:00
O E8
°mgn¬õ8__Q'<
_g__°_g
gv
283
Na
393
`mm>%_E__oC
mgšoa
:Ea
É _w_;>%
idem
ONQ 2 Nú
283
É
ga
_g9__`__
8 0:65
O _2E°___
gO 98
OU
_8m_____8C_
Q
OHMÊ8
ou
_%Pš
ou
U Ota
ou
W833
3
$EE__U___2ãU
_2U____gU$___8
Em
'^oOš___UmC__
_3_;>mÊ
§ãEö=_
O
Q _g_U
E gmc:
2 §_a_5£°
m___%%_gm
3 _m_83
É
_3_Ey___ur__¿co"_
_$ë>_€Um%
3Ú_§_E__8
8_Hm`__Um_____
N
_2ãE2___H___gm___a
_oÚc_E_š<
_§g_
owgcmëo
mü
gv ou
MEE
äëgã
$moN_u°wâ
nã
aê
_wHC_m|8mg_
omomcêongm
% 8_v___`_
933
E8
___N_ucggm
Bãegãc
__Eo¬šQ
sššm
omosãsšm
gv
_°ã__U_3¬__U
ON
OHEMMÇ
O:A_í_')__8o>
2”
__~UE_WE2
ggëg
S38
M5
mgmgtoa
E:
E8
_£ã%
_2"š__8
EQ
Eësgõ
8__¬__m
83°C
gv
E8
Na
OE
m
_E__EU_H°:_U
EägmC__
EQ
w8___U$
DO
8mo_¶__U
_£%m`__mC_g
mãmcgg
EägmC__
8 __w__°
:ob
_w_ã___
gm
mv
OWÊE
EU
_Ê_oU8
Um
N
ššmwâ
ga mw
moça
8 “maca
_m_U
mg
EO
Êcäggg
ou
ogëštg
O ea
o¬š_°>
2:2
ä 23
_W___;>
gmc:
8 0:65
O gv
omz
étsm
N mšom
gmbšüo
mv
gmE___n_
O '_
äüamjtoa
gmc`__
gv
ocmwã
Ê _3_u___QE_
_2_=23:ãE
2385
Nu_“m`5mE_
8
EUCWUCS
25°
___°Ew____°öEm__
Sat
_g>_B
_2___“_°__°U
_8c__%°E
3_2¬__w
gv
3:3
%&
3____N¬_g__
¿__8$
É
_E2_mw_
_N_a9_a
N
u8_:__%E_
Bomgág
3
£__¬_;b3
gv
gas
ON
3_2mc___“$_r__
_°_“š2>g
__°EuE°__Uc_m__
__:
gv
$ãC_Es_c8
_8g
33%
_Eg_
N
_mwä_¿__OQ
gv
oršã
O U3
W ea
O
_§_2mE
°mg_oã
gm
g
BEEOE
gs EO
_:_Eš3
mã5_
33
ga
“Buss
MOEÊU
no
ow:
U
Lg;
“W¬_mB__°Q__
O
äãã
_2ã__U
É!
EQ
ägsã
3 g ea
23
Jun
gv
:8šE_ä
g oãã
°___%a
3
NU_%E2m_mwm
EEE
23
Nmšg
2_¡_2m_m
gv
mštaää
OWOOC
G SC8
EU
:OE
3 om:
ggâ
`2a`_UEa
g
ugmsoëv
_8
Ec°__g__m
w ããa
___;
3 Og
°¶_>
M
öëgã
oz
_gm___¿3
am
GU
___°×_%
__§__2u____
3:
_¶EEm__
gëego
G
äamatoa
ou
__¡UW_`___5mC___
_E_;_
O sem
ONU na
g
°_aÉã
ou
3'ä___;__
ägmgtca
on
8Eo__U2U
Eägõfi
N
3______o%
_8°%
as
330
_3_%
E:
M2
2___°_¬_šU
E Eng
Eflohšm
8 °g_______a
O
AK
3%
8:
¿_8g
38:
EQ
_agm2_â
sã:
É
msšgu
ggšg
š___%°
gv
Efl_ã×_%
omc
_8_3E2ãU_ša
_3g__š8
53
8
m_5m__w
_gCsg`ã
_2gE_8ag__£
gsm
ONO 2 nã
283
É
gama
__8
8 ocê;
oc
muëoäfl
_m§_
mg
_%E_w
É om:
dm “og
8:
_g_;¡_
g 826
mg
ogmgt
2:2
°w___
__Ê_
m oc
_8š__%c__
2Uc%
N
sgew
`_£_`Sg_ë
gs m Ešs
_`__
_v_N
_ __
× an
äëm
o Q Omgg
Ba
8ãEg____ä
O
¿8_aUE
an
G__¬_%_
__
_EE~
_3_°u___8
Les
_g5m3_g
gmC___
É
°mo¬_š____ö
G ãwg
ga
g
_°Uã__°_°E3Ú
___
aa
EEÊ__E3
owgzmä
gv
gššu
W
WOUBWE
`3>_;_n°
I
8%
¿_"_Êg
°_flšëc_
DU
I'
oëgc
E “U
obcg
_°ëm__%c__
°_"_____B
ou
“Egg
mom_m_>E
3
gã
2:_"ã;_r_
3 W
owgasš
gv
OWQOC
Q U;
au
LÊ
_£¬__U_ä_8
m°“__Hm___UmC__
w8ãES__gE8
“vv
%%___w__¬__n_
25
:U
om”
_3_ëä
É
`__`ãNEÊ°N5U3__
3 vv
:B
JOE
wošg
aa
gamatoa
gv
osmã
O
ymoëifio
ë
mW_EoCo_×2:
ao
3__2
2533
26
_3n__§
Ê 8388
O
g_;_äE_
Eäë__
ÉS
gv
_Ew_â
¿E°__
Em
¿_U:__ä
~›
«ai
__
_,
_____'___
_
Í!
:__
¡__›
_
` ›_¡
¿:¡__››___4
4_¿›_¡___¿\'
_?
F
_¿›¡_:__
`
Yi
I
J”
V
__'
'__
_),
_;
:__¿
\¢
_›
E:
F'
___
_'
:__
I
~
GN
~
“we
ušci
_N__
___
_N
02
¿____=õ
`°__B<
Em
_
_
__.
_
'_
_"
._
_
1
"'_`_
_"_:\._¡
__
“_`›¡
_
`__¿v;'
_›"__`¡,
I
'_`
¡__
r
›Í__
_‹_'
5,
_'_"`_:
_
__`_‹r
__
"_"__'›À__,__\¡l
m_"_
_`
¿_83
38€
EQ
Nggä
`E_š_5g_`\
Q
Sãsa
'gq
mb
gwšã
G
___šQ:g_
M
_8_BU
3 Wang
dmwã
_;
äã
âgmatoq
ou
oãã
O ea
^83_____:c_
oggm
U5
8U_g_%o;E
8_%oE
šä
OUCEC3
ôswã
E8
“EE
¶_3___N%Uñša
_mS;|_
mí
32282
mg
_8
__;___“_mC____
N gv Eu
SÊ8
N
383
m __2_wE
Rag
%g_"_5&_g&_E
28
ã “U
“E208
mm
Q
_`°EMš°`°u_;_Q_`
O
°g__¬šm
gcgã
3 2
_E_u%šš
U_°ÊmEm__Éä
OÉCNUECOU
_§ä_5mr___
%gšE¿°__a
SEE
Eu
g_____;b
Ig
Ea
$_gC%_w
O
%_mU__2U:Éa_¡
Ú
š__°Uã£
gm______
8 ogmã
O
Egg
¿N3__8
E8
_8m_
Eco
_âE8
oc
_mw>¶H__°%Cm5
Põšhš
855
ggñäã
¿h__:___
O U Maga
O ea
ogrg
“EE
__°CmEÊ
_§Q8_`
8
23:00
E:
Egawâ
E omggg
Ê moušg
no
_3Pg>E
:E2
ga
gv
%flU___°__£c_
2”
m2___M_ë_u__š
8
Emšgã
gmc:
g
$_83_°a
3
gv
sw
mag
áwmg
ommãmäêou
N ema
o_%oE
O 20%
BMW
w `Éän__à
_E_
mgã
g
8_$E__ša
ä_E___m3
gv Lg
__m_>_>P_now
S3
_%
WWE:
o<
_mgmgmE_
äeg
gv
8_m©_oEë_%
NÍÊE
9:8
9:2
G E 2m°_°____õm
< ___o_g
_E__O_u§m_;
gm
SMEUCOUE
8š_5mE_
Eägmš
< _E
“og
3
Egšëg
gv mg
gmgëä
3_E_2šuc8
Eää
eo
gv
ëm°_°%_
É
ášmâ
gswv
gv
OBCWE
gU
§__Eo"__U__
:EU
O E8
ëgcg
E0
'I
oêã
OO
283
G
¿mäg_g
N eng
BCUEÊEEBU
3:35
E:
WM
$B"_E_
_m®:m2__o^__
g oãã
3
Bass
OC
dm
8%
35:
gzšuä
*W
3
gçowm
gãšuo
_E
8%
M3
OESU
oww;
ão:
W
smmçzäa
Qw
lr:
'
_!
E
:__
__
Í
`;;_
P.
*X
1::
1
,_
V'
5 ri
___
_¡_.L____T°_
V7!
¡
'_1'_x_
`,_
_?
~
_
_
_
_
ä
_
A
_
_
_W
.Q
5
I'
_
1
Ii
_ [_
_1¡_|¡'
||
`
`
I
l
'_
_¡|`_|_|¡
i
M_
_Ê_ T1WW mwwlO
I
I
`¡
|-¡||
r
`
¡!__¡_'\
_\
I
I
I
_`
“qse
__
9
'_'
A
1
N
__;
¬¡;
IN
X
Í
\
Í
MM _
_
_
_
.
_
_
.
_ __
_
_
_
_
`
'_
`|'_›
_'
1
¡
"
`
'
'_
_
'_`¡ÀI_›
`
h`_
¡:_
|||
`_›
I
I
`
UI:
`:_¡
I
_`¡l__"¡_"`_|`|_|,¡|'_"__.|
`
›
_ _L
I
|_"`
_
II]
V
A
I__!||_
J
'i¡|__"|¡||¡|__¡_
_
`
`¿|`
I
A
__
_
i __
O
_
_í
__
O
O
Í
I '
.
A
_
À
_
a
_
O...
`
í
_
í_
_
'
_*
_
M
_
_
_
_
_
H
I
:_____'__¡'_
Ç
Ir
.___
_
H _
_
_
Q
_|,__¡
_'
¬"_
_
À
_
__
›
_
_
v
_
_
__
_
__
x
W_
«_
W
nv
__
W
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
É
_
_U
u
._
A
_
_
_
__”
_
_
_
_
_ 2_
'_
_
H
H _
_
__
H_
M M
_
i
Ú _
_
À
U
_
T
_
_
_ W
_
_
N
_
_
~
_
_
Q
_
_ __
_
_
I
F
_
_
__
M_
A
W _
_
›
`
m
_
.
“_
M
_
_
_
“Hw“_4_
_
_À
_
___
4
_
_
_
_
¡\¡l¡
t;_|:|¡
1',,
'I
`-_
¡¡
I
`L_
l
TI
H`
‹
l
_
_
À
_
|_I
ll
,I
_
_
I
,`
I
_
_*
À
_
í
_
_
_
_
N_
* m_
___
_
_
_
U
A
"
'__
\
_ M_
_V
O
_
_
ä
_
ü
.
~
V
_ _
_
_
›
'
_ _
_
_
\'¿"_|¡
'_
_`
L
W _w
W V
_M
M
h
W
N
r
`
¡
_
`_4_
V
_
`
____'
_
.
v
M
H
V
_H
X_
_
_
À
_*
v_
__
H_V
__w_
Q
O
'
.
Mk _H
_
_
H
H
›
V
H
A
H
,
›
_
_
_
_
_
`
_
`
V
I
_
__ _
_
_
_
T_
_
H
_
_
U
K
_
1
_
D
_
í“
_
_
_
›
_
_
A
_
_
H
_
_
" _
U
A
_
U
H_
H
_
_
_
%
J
A
›
_
_
_
_
_
H_
v
4
_
_
H
v
_
_
_
“
H
_
ill?
E
Ill
|_|4
`¡`.___,
"`
¡:`
¡I!
1
V
"
`_
I
|
¡
_||¡
`_l|_
;.¡{:¡|l
"
`|_;`I[`
:|!‹_|_`
__”
Í
"|¡\||:¡_;íH||,
¿`
_|||‹
_¡¡|›]_
||_
›_H›_:_|
ll.
I
|_.|'_
`
_
_ H
ll
,¡
"_
_;
¡..|1`
¡_
.
_ñ
_
ñ
"‹||%
H
À
`
I
`
fI'_._
¡_
I
Ú
V
_
_
_‹
_
_
_
_
_
_
_
_
l
_'
`_`_¡II¡_
__;¡`I]
l
`
_'
'¡
V
r
¡¡-`_
:›_l
'rx'
_
_
_
_
_
_
_
I¬
Í
À
_
_
.
W_
A
.
_
_
;1_
|,_¡¡||'¡`|L|||
¡|"l“|
¡_¡¡l_¡;¡|._
],¡_;__`
r
._
`
_"`{!|`
1
__
¡L!
_'
I'
|_'|¡I
_
I__`›-]_
'Ill
,:_Í`_¡¡Y
Í
`11¡_||
I
_
L:
_[__
`
¡
,I
›
_
_
_
_
_
`
_
A
_
_h_..........'.
ÍII
›
_¡¡_
IA
_
__
__
_
{
“|I¡___¿¡¿
¬
V
À
_
›
À
_
_
_
_
_
4.....
W
___.
_.
“_
_
_
W
š
_
_
_
À
_
A
H
_
V
H
_u_
»
M __M
.`..°...
_
W
_
1
›
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
_
_
_
_
_
_
H
. '
``. ..
_
~%
_
¬k~W
Â
'
.
_
M
�
Q
�
_
VM____M
_W__
_
__
Hí
vi_
_
_
_É
__¿
M
W
¶
É¡¿¿¿
_
W
%
_
_
__
_
i
`
,__
N _?
l›||¶¡`:¿
_
_
¬
›
__
ñ
_
_
_
M
_
_
‹
__
_
à
_
V
_
_
ü
í_
»“
_
`
|
ill
"
1
'_|1¡›¿U`\_`
`
`
_
_
\
I
_
'
'
›
_
1
`
I
I
_
_
`
_
T
__
I;
l
`
_
Ill;
l_;¿_||¡
¡4_¿|_¿¡
_
›`
i:
_,__
_
_¡
_
`
:V
_
I
`
_
“4
AA
.'....
_
_ __
_
w
_
_
_
_
H
_
¡_!
I
I`
ll'
___
`
___]¡
_'
'__
`
Í
I`_'¡_
`
`
I
'
I
¡
||I__'¡I'|YI›`V
Ifuyi
_
'_
_
_
A
¡_
"
_
_
_.
_
›
_ _
`
›
:_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
W
_
A
_
_
A
y
‹
W
_
_
_
_
_
_
_
__
___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_“
_
_
_
›
_ _
_
I”
M 2
_.'..'_..”...
Z
_
_
_
›
É
h
›
_
_
_
_
_
'_
_
_
4
_
H
_
M_í_
_
__"
:___.'_
.O
.
WA
L
¡
1
¡
V
`|
¿
|¡,
À
M __!
M!`
_
_
`|_|
I
X¡
À
`
_
_
M
_
_
%
HA
_
_
'iii
:l¶:|¡¡[fš_
_
_|_
%¿¿h¡¿¿‹h?:LI__!
¬M
_;V¡¿`4L|yhh_11,[~¿[_:Ii\iL|f
_
_
_ __
_
_
_
_
_i
_
A
_
_
H
n
_
h_
M_
_
_
_
_
_
“`
_
_
_
_
_
_
_
_
__
¡_|
\M`
_
_
_
_
_ _
¶í
_
_
“__
¬_
_
_
â
__
_¿
_
4
.
í%_u__M
À
7_
_
_
»_
u||_
:_“W_i
_
_
_
J
W
›
A
.
í
% _
h
.
I
Í
_¬
W
I,
M*
¿_¡_'_,_¡__š
___ _
_
_
A
_
_
_
W
_
_
_
›
_
Ã
_
É
__
A
_ HH M _U
W
.
__
_
__
_
_
_
_
_
__
A
T_
`
M
3;'
_
_
N
_
_
_
_
M
H
_
_
_
_
_
_
Mü__
W
_Í
ú_V‹H_
A
l
.›
_
_
š
M
mf
_
__
.
_ _
_
_
_
_
_
`
‹
_
¡`__
I
__¡À
.¡
`
¡|l'¡¡"¡_`:
I
_ WmwW__ml
VM
__»
_
_à}¿
É
_
_ _
_
W _
_U
_
I
__
_
W
W
_ À
°
H
__
I
¡
I
¡¡›
_
I
\_:š
'Lil
Ki
_
`
`
W_¡|:¡|
V-
_Wm
_
_
_
_
_
n_
›
t
¡_
A
_`|
¡|_
Êämël
gm~š_\_m
__
ëxpøeñwqâë
i
Ê
“EN
%
ëäunq
H
gëšá
Í
V
Êšëä
›
mv
_uã__5a§8¡
oswgššã
5 'SQÊQ
`
mg
§G`Ê_
2
`__¡§Êãš_`ê
°:_QGE`‹eSä
`
ññqssuq
__;
zw
ÊN
Qu
*ÉEW
m¿_____
383
Q
ëgëä
__ú_
_
N _
_
U
m
mg
05%
_
À
›
_
_
V
_
_
›
_
Ú
_
_
_
Í
V
M
_
_
_
1
_
ll
`
I
ílt
`;¡€I¡_
`_Y
":|_¡_›_
-`
`
_
_
_
_
'
_
_
_
_
_
_
_
Q
›
_
_
_
_
_
_
W
I
í
_
_
_
Z
_
_
__
LI*
__
W
_
u
¡_I\,'[¡
4-'
`_`}
_|`I¡_,¡|¡
E
H
¡I||›_I¡`|¡|`fi"'IY
_
›
_
í
_
_
1::
mããšgz
W
_
_Eëšh
|
ãëõ
_
A
p__G`G_š
í
~q
__
E Nam
__
ms
ãdë
m"___š___Êš
m mau
WÊM
$¿¿%uL¿¬:¿¬¿_¿|¿¿}Í¿¿¡¿š¿~%
%
_MH
_`_
_
4
_
_
_
_
U“_gV
4.
_
_
_
_
_
¬
_
_.
.c
.
L
I
`_
'I
!¡
`_|.`__
'_:_`¡`
_
.
_ H
I
\_
V
'__
I
\
\
_
_
.
U
_
_
_
_
V
Ú
H
r
N H
I
'_
“IA
'_
:AI
:_
V
'__
M
_"|
M
_ H H
à
_
_
H
H
_
_'
_
_
H
›
_U
1 ‹
,_
Ú
_
_
_
M
Q
_
_
¡
N
Gai
I
gšfi
_
Í
i
\
I
:_
pzmšuwäfië
Í
_
_*
À
.› N
gwššh
I
mâãë
Z
šã
Q QWM
Qi
ʧš_ Qflëwsä
¶_uaW`UEs_ flšääã
_
_W¿_$^šW¬
0%
EÊ@_
'
gi;
_E___š|M
Qšãšâ
_
V
A
_
H
W
š
I'
›
«QM
_
›
__
_
_
_
_
H
V
_
_
wššëm
PE
Ssë
_
_
l
I
_
`
`
V
›
_
V
W _i_
Ê'
V
mÊn`_šn§_c_
°0~°_:__Wä
_
À
_
"
`
4
\
›
`
I
_
1
4
xi'
_|!:`
1
_
š
_
“.___..._.
_
_
dN“H_`
___`__š_WcG\_ë
Àw_"
_
_
4
“._"_
_
“_
_`
|¡_¡_|}|`¡_
'll
:I
I
A
_
__ _
_
_
H_
U¡_
_
,|4|m
¡_!
4
|¡¡¡`W
VM
4_
›
`_
___:
__
“U|_`N¡J:%
W
_
g
_
_
H
_
_
I
_
_ %Ú
_.
. ._
.
_
H ›
_
M
V
›
í
M
_
A
lí
_
_\
_
_ _
_
_
_
_
›
H
_
_
_
M
L
_
_
M
_
_
Ú
N
_
_
__
V
ú
;_
“_
“N
Jú
_
_"
,_
__*
_
.`_mM_
¶_»
¿
}
2š_ë
|
gšã
Onamm
'
Qlmä
e_z_m=êE$_U
«icms
I
eããšämä
:sos
2
s_M__:_g
MQCQM:
WZC
DO
038€
<_~mMš
WM10'WJW0 'I
O9 HVWOO
l
Ill7
IGÚJ
%flmu" HHLWV U
fl
0°O W
!
U 'I
Q H
I
J
Í
I
V3
L FW
W!OI
I
0UUWHVN9VW .____
N W_MVW H _/
MlSN W_ 'I
_
IN
¡
¡\
J
C
0
GU
fida
MWWMMNWWW/wmymw
3
J
n .
_
I
WM ¡¡V
¡_!
_
V
/¡__J
_/
W
VW
_,
//W
_/
mv
wO
Í
Í
§dULN
MMWQWW 30%
X
W H
0 _/
/
W
HHW¡
Àfiu www I/
'WI
3M //*V
,_
_
_
_
.I
9
_
_/
0'
JIW0 ¡Í!
`”
I
WLI
W MWMH
//$//W
MmwOaI
/
mwWøywjywwmgwmmmmpmwmwmwwwwwymmwgmüww
S
X ul
H
yfl
_?
S
yfiiy,
V
WVHW
gl
n
%H3
l3?_/¡¡_O¡0U
f.G
/Wíãš
WJVONS
V
S
_¡_m_:__
_,¡
3
HW”
_,_//0_,/
¶__V/
V_!F1_
_,/'I
_,S
_/
-3
I
W//,Í
/Í
_¡,__
/M
%_
I
I
0
“_
WW
_/
_
If/
__
/I
í%
_
VWLM
%W
i
M~ø
0W _'
VGM ___I
00nI
W flv
M3
/Wmwwww
0
_W_¶.
WWW” 1¡_0
V,OI
m0
OUO
M3
l¡%”WW'%M,u%
,UW'lII.'
Q__VaV
ÂW9
d
Ow
ipi
1
Tmmmüm
~m
flwmy/“_
_¡
n
W,wW
9!/
¡¡
0
I
E
“_‹_
,N
_
4
A
`
_
W
_
_
_
1
_I¡_
›
_ _
_
N
a
_
M
_
293 wma
W
Y
N
_
n
___
mm
M
9
I
:I.I°
'I
Ii,
W V
_,
_
_
M,
‹
_
A
“
H __
_
W
W/
_
`
_
_
M
_
_
_
_
_
_
Q_
_
_
_ I J
_
_
UHI
V_H /_
I
I
“_
I,
_
_
_
_
_
_ _
_
_
_
_
_
_`
_
.
_
'
É
_
_
_
_
_
_
_
_
J í_
_
_
_
_
_
J
dl.
_
_
_
A
_
_
C
_
_
_
_
_/_
_
_
_
_
_
_
"__
J _
_
_
_
_
.lt
_
|\
`
J
L
ll
`L
L
_,
š ox
mš,
N
I
í_
m_
io horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite -
15
.Q ~ P ~ . ..
~
20 ooitadol” - condoeu-se o bebado - Tem toda razao _ -
' 204 ANExo - v
SIQUEIRA, Antônio da Silva & BERTOLIN, Rafael (s/d). Português dinâmi- 22= 00m11I1iCaÇaO e expressão. 5% série, 19 Grau, São Paulo, _{BEP.
I* ' * ' Y f W z
'-4 .
._-- ¡ Y-‹ . 1-7 ›x,". 1 ' _ »_~, V W Í
(1 __'-¡_'_;_,‹fl-"*_.. _ ä ~ ;:f `!J_ -0. ' \ 1 ~¬¡.-É-_
_ ` “-' _;` >--‹› - . _ Y O-¬ V 7 V f' rw -d!§f _ -gvfiff __
_ _ _. ›`,_._.;n;_:. gm... %)¿.=›-.â?“.,;: ...iu 'Ji-^ -z.I_3 Pa -›-4 vg. -' - uu .`
f.:-'UQÍÍ'-fr H "'- _"'¡'“*` `
_ 72:.: ¿ ° ' .*"' */ - ` ' "1- V - -
.w -¡¡¡_ ‹_1`.;._.::?¡:$` _ __. -._ __ 0 ti ‹§,'-;_¡¡›\:'.. 1.- . ;___'7__ _~ 4`
rw ~- ” f-'~'..-¢:`£:*-:eíf-z .P i`:Ê~'f›fi"~”`â'~.
" - Í ~:‹í-----. '.«~z'~- . . W ~ . ..._¡-_...___.¿'_l.+z_»": ,.,'.J._.;_¬_›.:~!,;:_¿-;.›_›¿_.V
.- H_-;~__,._f›,¿__:_, -‹'.› .¿`:?_ :'§__fz_ ii _,.§',__À¿'-,_
O "'.'í1"'l!*:'v\*u=:~11.L}:.-,Jrz _ ¬ - ~¡" ~~‹›- ¬,¬ ^t"I.‹..,,, ~. - ` ¬ H - ~ _»>- -
","*':›' ¬ `
_ ff'¬. _* :z."z'Í ¬*_f¡,~,." nz", "¡'f'¿.:"¿`?'›_-3* . . ` ~ 'z' ¬._'."“‹“'?êf __' . Í' . ' _:""°^ .'!._¡.~*";`°.'.f.'Í 'T1'
I "~ z' tt -z _. :;..‹›-"-*-'_¡ féf “*~:1-F* `¬
- = T1 ' '. " › "'*~= - .
' -.›- -..^-. .'-›-. \ _ ›- =¬ f› ~-'-
\L '_ . "'7Y-'34' 'i*' '.'.~›`›-"'¿. --_* A "' "
. "' ' “lg "" ';..- .Â-' Í. Í..
- ¡ f -z ','›.;;¬v › --z '^_. 2\` ' -v' ¡fig! .- rs.-› ..:',<' ' '
'.-.
s _' , __ N . _ .. ._ '“ Í* _ , _:H›:"§-" -.Px ^ " " - -e "` " : ¿~ *_ - 1d
-v-› ,.=.- V» _..- EL-,‹-:› "¬ ¡-- ,` .~.¢7*"* - I '- * .
-< 3 ' -__ r
ti _* , z _‹.T_.~.~. ..-~zz.' " .-. _. _ P ` > _
›-'W .'-' Í; *_-_-\ -f*.;Í'Í.-»-_--_-_f.-zL.~~ .-. :Â Ê;-_ - ztã"-.-.' - -
`^-' Í _), sf _.f _..--
. ___ 7 '-1 , ~,¡__. :fig 1 ¡¿;'_. ..:.'_'_- . _z g
' _
.‹-_* _,- . _.: _ ~
4
d.,.- , › `
-f¬.¿ z`_ E --;" _L¿':T“' "'¬<_,_"_.f'q_j.: \'_¿_.- _,
` '*~'. ~..‹É-' e- `_ - ._ ; . ›-L - '_ _'
_ ,_. ¿.¬_. _ _i__ _ ›.,_..`__,_,,. ___,
z- , ;~ '
. _- ¡<.›;..._ .._...T.' 2 .' " › '¿-._ . ._ _ _ _ _ _ ¡ _ ,. V*
*8 Y. Í mv ¬\_'*.^ ;._. _ __; :_/( z I I
.' ¡- ̀ ¿š ~_~ "
¡
' ' - -
~ - . 1+» vz '- -. ..' .› \*-._.;›.~:~_ ¬ , _ › *-
l ¿. ¡ >>- - -~›- -- \ .-.z- - .. _. __¬._ , ~ Í ' \,-‹ v I. r
'-vii' e-tz-~ . _
I
_ .ƒ¶›;, ~ -
'hi i' ' -.L ~ - › ~ ff? .. .';;_“ ;;":"z z * ~‹, J,-‹;; - z .»,..›.z.'.- vt '_ ""~- ' V' -.-L* ' ,-›< Í- -Í» -- -' ` :"_" .Z _..
' _""_`ƒ “_ Í --'
- " - - -_i¬. 'JI ¬ .';.'r -?-^-~-'.- 13-' Q ¬ - .›'=== ,- - «_ -_`¡ -z....,..1.l ›
._...- I V
-gl--_ _ ~_~_›;'¬. T' ¿,. u '›, df' - IM. « `\ _
¬ ...ef - ,F __,_,' _, ‹_.._¡._
¬‹~› -- §`<'~(›Ê*,;_\;2..;¿*¿"“;*..° ~ ';. - ;,& , -* I; 3:* .'_..-'X `,
P -›*'"~:" .
.=~~ i `
f' z' «_ z'-É x ~ 5-21- '
f._.;;- V..-
~ ' -"-1-:*e..~;~-.`=“~ - ~ .fšíäi ._
" -` ~.~_: .«Ê...;.'¬.'r-Í'fzä='-'.=-"'"~ -›~.›“.'.¬;'.'. .'
- _",_ _ _ 3...... ~__ _ ` ‹›` ._ Ç 'Í
_. .
._ , __` _=;__ . v- 9. ,,,3z..ݤ-A _;-. _-vz
V.
' ”"'* ` '-“-¬.¬=~^' ~-›_ >, 'I-:Í 5 .
=~ "'-fàe f'*Í'¬>ÊÍfÍ'-Ê 'z"_“-` ` 3' "
' ' ___; Í.” 7 "~ 2' › r " ' _; '¡Í 'Í '.";¡5š_;.›:;-F4' .Í*'-' __' _""I"` .- . .K-.~`_ . ` ..- ,__~ _ :F Z. \:_.:“-_ 55-? _
3 ›~ , ‹'§fz..J _ _
“ .i.‹..~ .- _.‹ -z f- _
.
'\ › . ¡~" ' ` ` :.^ ` '. 14'; - '.
× ' ` `
‹-.› ví.. ›¬;¡,; W -`*§'. `ÍÍ"`- ..â¿ Í
1 ›=`z'~ .›
'Y “af” .ff i. ' ' .‹ Í -
' *=;_._ . ,
.z' f'‹_,- - z...- .ii _
' ‹ '“*°-*é‹: .P""- »
if' `^f
_ .
.¡ «L Í .
M ,
< ii
1,.
É
ii 'l
9 »...«.J
o.,\h`
...J
›P¿,¿š,,}i
tz/
zu. vn
W
'if _~_”
L
4*
Í.
Ql
i1".‹i~f~
wa fl
OI/ ×\1
HL
i‹ ,‹;_:\¡y_Ê.ií
';=:-af* }‹*_'=l.-.
) 31?
f i., A ll
ÍÍ
i
Í
,xt
.T
gv'
.
,
W
vi
lí
ep
W..
z
°"
y?
~.=ii;'$«
-
,
“ li
fi*
.
ii
'i
.Ê I.
içli
,_
-f-c ` ~‹ ` ¿»1~_ & _, __ ,_
L ¡7 ~_*>~_/ ._
|
:z¬¿'Í~§ \., _ É "¢:$'&“ vv .._>_.í....__í_¿_ à _` . : ;¡n~ Qfiz
- -›-_-.¿_.__ _ . ` ¬
'- 1m~_~` _ Xâ
“'\ ›. -3_ ...M HT _ ii J..
rfä* '_-
_ sw» l.: _':-'.f-,:-J .
"= W - ~_.z,. ~...¿z.-.`~'"*'éf, .
*`~› - 'if
. .z z i
f ré. _ -~z 2 .-¬ àz.‹›, e
. _/ f..zf__..t._.__.__,.;Q;?f\'? -_-__ Ê- __- _~ _;\7 z .-_r__.._‹:. '_ Mn'
"“ ~` ré.-;=~‹ff' ,I
O soco rro ff »
Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profis- _.Ê=ʧ';_ K* são - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na distra» ,-¬
A -
ção do ofício que amava, percebeu que cavara demais. -.».`.__gz$gz;, fzgff-
Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar_Í_ʧ§~'ʬ. 5,5, .;:*,¿»
5 para cima e viu que, sozinho, não conseguiria sairfifj ._.~ -V
Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém gr. - ".
veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, de- _, __
sistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, deses- . \\\¿ '=
perado. A noite chegou, subiu, fez-se o silencio das ‹.~‹~- _~ ' ^
X L' i,~â**i`
'
ii'
r ll
-
'lj'-li;
.
ui
klfifi
Ii
'
'
1 ‹‹
; -Í;
:
.
Viçiff.
~
~.
ff
âzi
n¿¿¿
«gw
zz..?@
W
`*~"
"¬
z‹~'
~"
'Vi'
›~
.ii
'fz-i
¢
üíílfãi-;
fz
Í*-¬
,.:
~iilw›¬
escura não se ouvia um som humano embora o cemi- ~*<='- " -
i ,
Í, tério estivesse cheio dos pipiios e coaxares naturais dos _~
matos. Só pouco depois da meia-noite é que là vieram ""
uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro gritou.
-~.
ú
'it
`“*`i§ii**Õ
i*'**iÊ*~l;~›r».*$*i:âi
A,
.
'.,
".'....‹u,›
1
\
G2
\ .,
.
2,,
._
1.
(Í:
'V
'~f-'‹¿;:T(Êl¢
receu lá em cima, perguntou o que havia: “O que '
é que há'?” _
'- _;
O coveiro então gritou, desesperado: “Tire-me '
da ui or favor Estou com um frio terrívell" “Ma_s, ._ L-.
de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, ,_-,_ _
meu pobre mortinhol" E, pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.
»‹. .q
. .. . afiflaäë' ~`i
f
Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem W" Í ,
' ,My para quem se apela. És _¿
Millôr Fernandes. Fábula: Fabulous, Editora Nordica. -`-'›'¢-=v_z__,.‹/' ~
Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apa- - ~
«ff- vr _,
ve Êflyfi.
p .r5U;llfÍl¿,¿› ea «fl@@@›@®zâ›<2.@@e rw
Escreva as palavras abaixo cada uma diante de seus significados. Para isso, basta escrevê-las em ordem alfabética:
o - esbraveiar -- horas tardias - pipilos _ coaxares -- ébria ¬ condoeu-se - apelar chamar, pedir auxilio.
: vozes dos sapos e rãs. : teve dó, compadeceu-se.
í___i_ . bêbada.
____i____ . gritar alto e com fúria. horas avançadas da noite.
` ..'.» . . _.. ...L ..._
: função, cargo. as : píos de aves e insetos. è 1 CE ÉÍTTEHÔEU BEFFT Q ÍÍQQQÊCQO 'E3
Releia o texto e responda oralmente: uantos personagens aparecem no texto? ual o mais engraçado?
dentifique duas frases que demonstram o desespero do coveiro: ) “Ele foi cavando, cavando. .
`-) “Enrouqueceu de gritar..
ft) "Cansou de esbravejar. .
) "Tem toda razão de estar com trio."
D ébrio estava plenamente consciente do que estava fazendo? D bêbado demonstrou algum interesse em resolver o problema do coveiro? Ou ficou indi- erente? Explique.
Dê sua opinião quanto à história:
) Trata-se de um caso freqüente, normal. ) É algo impossível de acontecer. ) É algo muito dificil de acontecer.
Due outro titulo você daria à história?
\ história é: ‹_ ) cômica e triste.
) alegre e divertida.
Explique com -'fifris próprias palavras a moral da história. '
205
'S .cf . ¡- _ ~ '-f"?&"Í7'.¢¢- -an
206
'4¿6sí°7‹ me/séc/z az êóaézaóz íázzçøaz ,
›'
OH./. .. O - H. . . oh! interjeiçäo Que tanta coisa em si contém E mal nos sai do coração A boca rápido nos vem! Na sua ingênua singeleza Pode exprimir a mágoa, o dó; É todo cheio de tristeza: `
Oh! . . .
Ííiií'l
L Q
F»-›' *z ,Í ._. .J -..a--_... za _›¬_ -._,._,, ` _ ,___,_,_____ _ ___ :_ ,_ _ ___ g
Eis algumas interjciçõcs-¡
dor: ai! ui! alegria: ah! oh! eh! admiração: ah! oh! eh! animação: eia! sus! coragem! aplauso: bravo! apoiado! bem! muito ' bem! aversão: ih! chi! che! apelo: ó! olá! psit! psiu! alô! socorro! desejo: oxalá! oh! tomara! silêncio: psit! psiu!
Mas eu, por mim, odeio o pranto E vivo a rir comigo só, Se solto um "oh", é um oh de espanto:
Oh! . _ .
ø ‹ - - ‹ . . . - - . . ¢ . - . . . - . - . - . . . . . - . . - . . . . . . . .
Vê~›se um amigo endinheirado, Outrora pobre como Jó -
Nosso “oh", então, é um oh dobrado: Oh! . . .
Ce.: to político eminente 1
Um dia, zás, rolou no pó. Dizia ao vê-lo toda gente: 2 Oh! . . .
Mas na desgraça, dando o fora Mudou camisa e paletó E o povo diz ao vê-lo agora:
Oh! . _ .
3
4 O “oh” tudo expressa e tudo exprime O bem, o mal, o contra, o pró, Desde o banal até o sublime:
Oh! _ . .
5
Bastos Tigre, Recitália, Editora Minerva Ltda., Rio. J 6
‹~~°¬:'¬ : ” iol Í _-aging.- .gs ts 7
As palavras oh!, zás exprimem senti- mentos súbitos da alma. 8
_.
~‹
V1
.¡.~.........l.:_
As palavras que exprimem sentimento súbitos de dor, alegria, aplauso, admiração etc. chamam-se interjeições. -11 W* P1
9
As interjeições classificam-se pelos senti- 1° møntnc nun ¡›YnrirnPrn
A interjeição aparece, normalmente. seguida de ponto de exclamação: Ah! Ui! Olá! Coragem!
Veja o modelo e coloque as frases no imperativo (modo de verbo que indica ordem ou pedido):
. Psit/fazer silêncio. Psít! Faça silêncio!
. Socorro/vir aqui. ~ - . ..l ¿,.¿_-.-.~~~-.
Í l.z'. -.-lx.: cm...
_ Bravo/continuar sempre assim. É.'¬.fz-.- Cr .'T‹';:t¿£ se-'~'~S'.¿ af- ×'
. Coragem/não desanimar. -O-!¬_¬_-2~=~! 'J'-Í: :1r:.za.1¿-'›';Í
. Ei/levar isso embora. :." ~'..--`~-.--
..Oh/vir ver que bonito.. -. . .
-
, ., . ,-z.
,~__ !_ '::.t,1i',- ~\' ',"_ .',.L.I". D..zL( .._ Í
_ Ih/deixar isso para lá. . . _ "v
lí!! §¿‹.\;e f..1~§-_" !3~~`~~`~ U1- _
_ Psiu/não fazer barulho. - ` '_-z ..¬'--.'
PL1_¿¿f ,\'_'z(- »Í.';§C1 Lo.'L.t,z.-.
_ Ai/não me machucarf _¿_¿{ _'__`z_-- -~; -.¬.;1:a:f..â;Í
. Alô/falar mais alto por favor. ~ “I P.`¬ ...z ¬ 7. .'-' ` __' /\~_'. if.-- -~-V-'L"(-~-|1'*" `
207
* ' 5. O caroço se bota sobre a toalha? I
_z›.;3~_.š' -
t
- eai?? z
_
=' , xr* '
. _ _ ` ( ) Sim.
_
W "¿~ ( ~) Nâo.
' '\~ _ .
v
I l -__-f _ _ '
_ 6. O que a mae drz ele ouve:
-;-:,.';_i Í \ "t `
1 _ ( ) de vez em quando. ( *l) sempre.
'~."'1=`~;-`š.*..lT-5:4 * . --, *
'
f._~*¿_¡:_¿,.___ k - ~ 7. De que modo ele ouve o que a mae lhe
' ' A A - . diz?
. ez - 1 ç ¿--:'z.e,; ,, , J _
v- ; `~^› agir .
' ," . "'¬^"'›
"' `¿ i I
_,. - -. _ .I _ 8. Onde toda pessoa educada poe o osso ou o caroço?
l
6 ._ *Z
_:-~:-.l._ :!!!i__
'““
t»
r ràuwço L
-
u Comi. rmtem rw fllflwçv. 9. De que modo e rirhe responde à mâe? . azeitona de uma empada; epois botei o caroço ( ) Devagaf- abre a toalha engomada. (
, ) Deprešsa
i
- a mamãe logo nota 10. Ele pede à mãe que repare de que modo? me ensina com carinho: O caroço não se bota
0?-?7'€ 0 ÍOU-UIQ, meu benZÍnh°- 11. O prato tem cantinho? Que ela repare ' '
_
A '
_
_ . 4
› que ela me (fiz eu ouço empre, com toda a atenção; perguntei-lhe: - O caroço Observet amãe, onde boto, então? _
Í. Eu comi ontem. T°da P855” de linha» A palavra ontem acrescenta uma idéia
e educação, de recato. › -
. osso, O caroço, a espinha' de tempo ao verbo. E um adverbro de tempo. õe num cantinho do prato. 2. O que ela me diz eu ouço atentamente. eu depressa lhe respondo; EU OUÇO ÔB quê IUOÕO7
Eeršãgƒãíiâägešâäânzeg' Atentamente. E um advérbio de modo. 8Clë C8.1'1l3Í111'10'? N50 tem- . 3. Prato não tem cantinho.
Bastos Tigre, Recitália, z - z - z- _
Editora Minerva Ltda" Rm ' A palavra nao da uma ideia de negaçao. E um advérbio de negação
- 4. Comi muito ontem no almoço.
V
A palavra muito dá idéia de quantidade, ¡:¡ete¡a a p0eS¡a e ¡eSpOnda¡ intensidade. E um advérbio de intensidade.
âou*¬z Í5 › vp, -›-.
I'\ `4'
1. Quando 0 garoto comeu a azeitona? 5- Talvez Venha h0Í¢-
.,-f_-‹- ›;:- ata..-cr. A palavra talvez sugere dúvida. É um 2 Onde botou o caroço? advérbio de dúvida i
I ~ f -- - Observe que todas as respostas do exer- cício anterior contêm advérbios.
3. A mamãe demorou para perceber o caroço sobre a toalha? -
Advérbio é a palavra que modifica oz
,
N50' ela "°l°“ ' verbo, acrescentando idéia de tempo, lugar, 4. De que modo a mãe ensina ao filho? modo, afirmação, negação, dúvida, intensi-
- __ .. dade. etc.
208
' APRENDA US ADVÉRBIÓS ' 5. Vós/andar/com rapidez,
de lugar: aqui, ali, aí, cá, acolá, além, I.-' - ---:I
1` 5.-¬ / -‹-
. _
aquém, longe, perto, diante, atrás, ¡ 5, Ejes/enganapse/com ¡ac¡¡¡dade_
dentro, fora, onde, abaixo, acima, de- '
_ _ _ , ._ _, ,
baixo, aonde, defronte, etc.
de tempo: hoje, ontem, logo, amanhã, 7. Elas/conversar/com delicadeza.
cedo, tarde, nunca, sempre, ora,¿ '~ " 3' r V “ "`" `
agora, então, antes, depois, ainda,_í presentemente, atualmente, já, outro-5 Escreva a oração no pretérito per- ra, imediatamente, etc. ~ feito, colocando um advérbio de
de modo: bem, mal, assim, depressa, de- vagar e em geral os terminados em mente, formados de adjetivos. Exemplos: confiantemente, calma- mente, etc. -
de intensidade: muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, algo, quase, demais, excessivamente, etc.
de afirmação: sim, deveras, certamente. W de dúvida: talvez, caso, acaso, porventu-
ra, possivelmente, decerto.
de negação: não, nunca, jamais.
Advérbios interrogativos de lugar: onde? de tempo: quando? de modo: como? de causa: por quê? de preço (e intensidade): quanto?
Observação: O advérbio também pode referir-se a um adjetivo: muito alt: ou a outro advérbio! muito mais alta.
Ú Escreva as orações, substituindo as expressoes grifadas por um advérbio de moda-. Coloque os verbos no pre- sente do indicativo.
1. Ela/ensinar/com carinho. Ela ensina carinhosamente.
2. Tu/escutar/com atenção. ".. `¡,¬.._--vi -'z~› f-~-,¬›~-'
L _-..,_&\A\«.¡ . .I i v' '
3. Ele/escrever/às pressas. .' - ¬.-......»~ ¬.-..¬‹‹---'--
4. Nós/responder/com educação. -_. ._¡..,.._ - ._ ._ . ___ _,_. _ .. -_...._ .
negaçao: 1. Eu trabalho hoje.
Eu nao trabalhei hoje.
2. Tu trabalhas diariamente. T. ..-. _›.-..¬ 2., 1:... › ›,. ,‹._
3. Ele trabalha bem. " .L ›fl«.-nh_ L¬,
4. Nós trabalhamos à noite. ~-.‹, ----. --‹-vt-\¬¿›¬-1;-‹.-.r ›- --.I--‹.
_ _ ,_ ... . ._. .. -z _
5. Vós trabalhais longe. ' "
À tr ' -* '~ ~”:.";;1‹ 21.4: - *
6. Eles trabalham demais. " .z I -_L"§ ¡7.7" l`._'(L`~.'-'.'_r`-.7..?
`
8 Escreva as orações no futuro, colo- cando o antônimo (o contrário) dos advérbios grifados: `
perto/longe - cedo/tarde - nunca/sempre - bem/mal - depressa/devagar - muito/pouco 1. Ele fala bem do amigo.
Ele falará mal do amigo. 2. Tu andas depressa.
_.. . -
, --‹-›-~u ~..-1›_,‹~
3. Nós moramos perto do clube. _ . _ .
__ __ >.,...-_. V-,-, .- -nu f ›-..-::.:.^-~..~: _ .~
4. Ele nunca tem dinheiro. z- -_¿_., _,¡','¡._,,¬,.‹,. .¬ _..
5. Eles chegaram cedo. _.. ¿ _; .f fr .~.:.¬f..1t.1." ‹.'I*r..«'.
6. Elas escreveram muito. z`‹;as r'.\c.':;;vf.>.uí0 ~*‹~i':^.
209
.ANEXO .VI
CAMARGO. cessy et. alii :(1982) . ' -comuniicamão' 'em -língua P°1“tu9ueSê-f 7?
serle, São Paulo,& Ática.
TEXTO 1 UNIDADE I
O texto que você vai ler faz parte do livro Alexandre e Outros Heróis, do escritor alagoano Graciliano Ramos.
O autor. um dos mais importantes da literatura brasileira. escreveu inúmeras obras como: Caetés, São Bernardo, Vidas Secas. Angústia.
Muito da paisagem e dos costumes nordestinos é percebido através da narração viva e engraçada do texto que você vai ler agora.
 Êstâairêzganrâfšét de Ašexéarâršrc Um dia destes acordei ouvindo gritos. Cheguei aqui ao copiar e avistei
duas araras, uma voando muito alto, outra mais embaixo. Corri mais que de- pressa, fui buscar a espingarda e atirei nos bichos. Vinha amanhecendo, ainda havia um resto de escuridão, era difícil enxergar as coisas afastadas. Mas, como já sabem, este olho torto vê tudo. As araras morreram. A que voava mais baixo caiu ali no terreiro ao meio-dia; a outra chegou às seis horas da tarde e esbagaçou-se na queda. Eu não tinha intenção... - Quer dizer que a espingarda junta o chumbo, não é, Alexandre? per- guntou mestre Gaudêncio.
_- Por que, seu Gaudêncio? Que lembrança foi essa? -- É que as araras estavam longe. Se o chumbo se espalhasse, não havia
pontaria que servisse. - Perfeitamente, seu Gaudêncio. O senhor entende. Faz gosto a gente conversar com uma pessoa de tino assim. A espingarda junta o chumbo. E não respeita distância. Só falei nas duas araras para mostrar aos amigos até onde vai um tiro dela. O que agora me ferve no pensamento é o caso do veado. Conhecem, nâo? Pois foi aquilo mesmo. O veado apareceu acolá, em cima do monte, espiou os quatro cantos, desconfiado, depois sossegou e pôs-se a comer. Percebi todos os movimentos dele. Um animal bonito e fornido. Peguei a espin- garda, examinei a carga, limpei o cano por dentro com o saca-trapo e mudei a espoleta, já velha. Dormi algum tempo na pontaria, puxei o gatilho e - bum! _ vi nafumaça o bicho dar um pulo, correr algumas braças e amunhecar. -- “Aquele está esfolado e comido”, pensei. Saí de casa, andei muito, dezessete léguas, pela conta de Cesária, e achei o corpo já frio, com dois caroços de chumbo, um na cabeça, outro no pé direito.
-_ Que está dizendo, seu Alexandre? exclamou o cego. O senhor garante que o veado tinha um caroço na cabeça, outro no pé? _ Que pergunta, seu Firmino! Pois se eu tirei 0 couro dele e mandei fazer aquele gibão que está ali dentro, pendurado no tomo! - Mas, seu Alexandre, insistiu o negro, o senhor nao disse que a espin- garda junta o chumbo? Se a espingarda junta o chumbo, como é que os dois ca- rocos estavam tão separados? Creio que houve engano.
.‹›
'
,
i
JI'
'11'
¡
u
[A
'W'
~'~'.*,.':_f›
.'.§.~,
.
~_
\I›\›.'
i
_'
¡_!
-.
_
:.
_
-
_-
-'›:
`
,~
`-N.
.
:~
'
.u_:
_
~'
i
¡ ,›
».°"-
›
'ff :.;v'
._
_..'_
_'¿
.~"í¬
~'
1É
v-_
ú...
A Í- '
Ê'
.
.
‹
-.'.:'
z.
:
-
-
-.
_
.
1`.-*i-'..'."_=.'.'”
‹¡-'.
"
_¿›.
~_;|
¡¿‹-
_
,
WI-
'
.ny
2
'
_
'T\'.\*
-1
.f
'
.z'
-
ir
.
..
_'
1-..,'
Q
'››.
-_
_-,_-›
.
`
'
n\`
i
°
B*
..
.
-V
.A
_”.
'l
IRQ,
.›__‹
.
FI.
_
.`,
M
:,
~_
¡
'lie
V»
,li
.
.
'Lv
“Q
-
_.
_
¬ ;
.
_`~'
.
_
“
"
-:'
=.
.
'
r
'
'
~
ZL
4'-,a
rl*S'?..
`¿lÍ.\"
.
_
,_
_
_
if-
'I
.L
210
4499
11
ygfifg
záäã*
"‹›\*®\\w
\€#fiø
li
J
\N
if-'Z¿¿¡
sw*
ll/)¡""'
tim” \§§¢ šêâv. gzgägããfi
"' ~ §e=e9// i eíálúâ//ø
afff/ ` ' eflybwlf ~ Jg zg,-.‹i¿ É 5
_* _\ ___, _ _
, »-- 'Ii ;-> _ _, z. . - ' À' ...,_'-ar* .r z
' .-' z
__ ~ .'=*_¿='¢.=~›¬;-;*^~=> :z ~
.
- _» - .r . . -z .
.z- a, ' _'='~.ãí.2à=-.=›» - z» =.~. -
. ',___l__, _› -- =_;¬z;*:¬-='ta...:_'.-“_¡_~;5$z- ¬°_z~.¿š=-¬-z; -zâàwà.-,¿a=.~* ¬ _- f ' ¬
- - _. , '~r'sf'¿-¡_--_ ¬¢.j:,3,_-›§›'__‹-É-3=;2=,.¿š..-_¿t?-rfp. - =»:=,‹-_¿;'=.3'“.._:'_-' I
. ¿ i
¬ _ 4,;-Iii "'‹'*'~f‹ ..- › - › . - ‹.›~ ".-__ .. ._ '.. sä.-L "'~ _' t›*-*r --'-\'“.. ' . ra
( _ f _ _` Í' _., ...`,2_~_-3-›1g,,` za-gang-:E_ /~ .` . . ,.. V
_
._ ._ - -- 1: - *~'>v-sa '¬¬i~f ñ‹ ~- wi ~,. ..._ z ._.×.~_¬ ' .'.›-- -. __., ~ '
.~
« °--« z-...Í...;;';*._._.s~... ~Í›-‹¬Í-(3.-.-_-7:--‹~»‹'-.~.f-+ :`-3.'-`-'-`-Â`i` .;-: 1-.ff ¿¿“1Ê°z^`Í ,Ç.'_?2;*“"¬' ̀ - " A .› › _- .- ~. ~. _.
“'*"4' - Q . .~ ~ - .‹ - "'“\'¬' 1' ~**»,.. ._ ¬¬"' ,¬. .z ‹ 7-";..r*' ‹ - .- sf:-'¿:»-1--fz .. .-=<?ÍÍI:« z, --.-.\1..~.- .
I..- ...~‹-¬.‹~ - - .-MJ.. » ~ ~¬¿:U...-¡:_¬2¿2.;-:___ " " _`_j.'7‹\;-.›f‹Jͬ',‹ ;_~- _,g '....¬.-w--gr-‹...._ _ . ¡T:..¡'Q_-Aa; _
~_
_ -z-*.‹.›-"' -=z‹‹=_.. m» ,._, t :-›7.»*2 ~ ›.¿i‹,f:;_.-¡. - -""`v~¿-Q*-`;1 ?';¬~;~;'z';-'Í`~ -.~
.r_.,-,¿ ~›v -`5~-v-p-v-1.-0-----›-.'_\_^0,v fivz'-T'- × ~ ~*'~ _* [1 _'” '-_' '^
. ;""°<._ . ~ ' ”;E_', '~`
_ F: ` `
_ -ez ___ _,_ ,f , _.¿ ‹__J,.`_ z›,__.-`_,- k - _ ;'¿_'¬*'>.._.f`__- `..,¿ . _`__ _,;v-‹ - .f à'-¡¢"-__Q;¡.;_.?'f*{_ `_
~ f u ¬ .JF-É-.T1 ;¡"¡-`='«= *C '*--:r 4 --1_^?.f3¿-'*:- i “-f_,=ÊY- < "=*-*-.-T-.;'¡Íl' ' -
--- - _- -‹ - .' --- . -‹= - -fr* _ . - vw ' - *
, ¬- _
-f.--í'>.~: : 2-* -‹-=^ -::r*--- > I
fz as .ê --I-§ä_?f=v¿3.ä'z1*-â'»._ zf-Ez-*.€›;; ~ ~ z- _
`- ,_ -V ¡- -~ =. ' - - ~'-.~ '- _. ' _ ~‹ _' -' f .
'
-.... _ , P- ' --"› “'- - ..:.§.* f 'Y-"'.r úysšv. ' 6 ,
__ _; _ z» a-_:",: _'-_» /-'=`~f.'=- ¡ '-1, - .~~.. ~ _ 'wlf _~. .
-‹-. - " '_'-.;.¿~‹' ' 15. -_ . ' › _z';.. ~¬fz.D-;:: _; 'z
�
vv- - ._ . _ - -. - ~v_ _ ‹› - --¬,_i›z~_.- , .
' ~ ' ' f ..- ‹¬-Q ^!'_..._§~: k ^.›.
1" ~‹r.*- I - -'F _ . - J f 'L-Ç. - *
` ;"-§';,5?fãÍ'I›=`i"' .`~' '_ Í
_ _
. - _' _ .
.fif I _
;___'_ _lF_ ,J .
_ Q " Im. .. `
.2'‹`.-":.`.' -' l-;,.¿**'×__'-r'“?íà¬l- '~ Í mz) ~=n¢€"' ¬ _-‹ az _
.‹~.z \‹.-' -`;_`v = 9. "-.1
~ .a `=°"'”.-c. - °°-*é-' - . ‹ ,___--;¬-›_‹-ë -.- .
- "'
,4_,;~,$_ eg ;__€;`_~ :¿_,_;.v,___ . z.~_,,.z __
L'
1 H i
» =_;:=,f;.,*›.-_-›â.,~°v¬~°':._ 3:1 ,ig-' _ *-=.~..=".z;»z: .. ;*¿ *;
. . . "_ .x ›. . _. V
_ __z;¿ ___). ,.,` -‹-‹L__.‹J" ` r_, -I Y .Mv .~ * ' ' ' Ê Ç: ;` iš*-z _,
Y - -_ Ji'
49-ag ~ ~ '-ui; "_~fl"-if--
��
% ~~- ¬-:â:::
��
Êâ z._ 1 :_ --›‹~ë'¬_.z'›"›.* É Ê 5 \§%%"è ..-'¬"“ ¿,;~;-¢°;”.;;â=e:= .a.:‹T
��
_ _. ~- _._-__`‹_`:~=4 ._?7`___._› -..
_. -.:z»àê%âe:z§fi.:z~eâf‹z1s ' ^ «^ ->~';'â*‹f_~.°‹-;f_z‹'â›~;.'r=-¿-_~;‹›«›`x~;-':"-.›~.‹:
�
'\ "'- -|.'- ' z
�
lê
giz
'l N1 ÍI
ii 1/,ÍlI|
Í1
Ê A . z -. `
,Z L-›_~' 5*-`~"-' r Y-. '›
_: '°¬¬».s -z Ê*-' .....›-vi? '= ' ` 'P' ‹ ."". . ~ i. .
r' _-_;5Ê':`Ç,‹1= Ê^'=_7;.*;f..Í-_'-{“¡.~,.,¢"¡.~,3;_sá~*_lÇ`Í'~;~Â5Í;Í'§~ _
'-
_¿-›‹.`=`:'.yz.__¿'.2^~`;_,‹_1.~ Ç:_;_'_, › =r‹
_
F
' ¿:e§i;L53~í?¿.}:&'¿::?ãÍ¿‹'$~,=;+;tÃff;;\*'.;¿t¬'rí- '
.-;.;=Á-.'; .í¬-;¬T3P.«z:,;: g-l':,`Í “Fã «_ _ z
A .-›.¬.=r;=›‹‹_.. '1~'-ff.-1-§1.i~“«,-1;. -“`”“›z-..z-`~.“$«+.-~=›=-«r;'›^=.“í'~' ›--'ize “ ' ' - «-;›.~*€'°'=".-' ».~~ :rir *rf '~ i
=
«I ‹ 'vi ~^- -ó. "›*;.¢ Ã*-=.*=¿' ~"' "»-F' _ ""-'. Í- """‹'‹ '
. - . . --_"-¿ - *='2^‹ " . - '. _».””""-' -is ~`
. ..éz. ~ «e ‹- “Q _-*z3= ~ . - F» ¬-Q . ....f›'‹>‹.i ~. ~
¿ .i Pr.-. "““ 'H K9'-' `
, --z. -3- -.›.›-z- ' ~ ' ='-2' _-“z,'.~»..::-3' '»1.›‹' .=.*=.× '¬ --' : i
.
- ' '°-fiawf z¡,›_ ._ .
.2'¬~*¬f^5*'='_-~.~› ~:<.,¬. ->~§-‹,5z;_~;-`~'^~~ -.~::- 3-'f>×€=_ ,-~; fz -
_-~,5'_..,›¢-r.-xi,-. --.›=›`="'.-zzfzl-e-zé' ~ __~‹_¿-z›.4'f-¬¿.›-¿,_.»;?' .'=¬=~: z¿z.::- i
._-L-1:' J. t›".:-‹`=›‹-;.' - _; ›- -~- ~;>z.~*.?*"'l;...'-- `-=: -_É'fl€ .~_l,-.;=.' '_' 'íz i 'i
- ,. - N -2 -"=- :,~ ` N “-5 ' ~~-'L-`-":3:à«f;~1' -.~-'~.:; l
- ,-5 ;*-~-
- ~ ~~-- ' ‹f~f.~;@:-,t~t=^-"‹ =-›¬f' sz?="`f-_f,~' =
= '› `,_¡3›~.---_*€ _,. _
_.
. 4!
QM ~\
�
i - 3:- ', ä
` ` X . fp . - ~¬› l Q- 2 ,:',,-¡(_
` -.-‹-'-šz.-vz az zä ll» vaâf
~'
51* É
-'_ -_' .C àz-;‹ '› _- ~'-¬‹-¡` . >'
. _. _
.~_'.- -. .- __ _.-.~- ~-zf. ; . '. _
- '-, '-. -~ '. --.
---'z ".` -_`.'."".:v.- -'›=~ 15.3--.".:z'.-..'.'-" - 'Éfl .nf-°` z..._._ '_ ;-Lfl; ' _ _ «__
="-I`-"*›`.'~“l"'~`I»¬`.-5;-t=»^. 2-”. Íâíêfë-'›¢°-*r - fl " --_-zí .í _ » .
.'--~.. -fez -.~-' “'“f. Ji' z~ *-3 .»'¬^=':=.*l'_-_ -P-É ,.~‹.- ...wi .. '-fz “' 'is '--.~ f'-'¡.3“ ..-'. ›":.+'“'E*"5T"`* “ .. ~ ~ .- ~-_,__....-.›.'-z__'°._`-. ..'*,¿.;¿.«.- _ _
" z›~' ' - _
“ ' _ ~,>." _
' 1:- --.,' ' - **@*" - - -^ ~ '\.¡,- ._ -f,_.~._~,__ 'S.__,‹ 7_ - __-, _z,. , .Q . .-_ . ~ ,J ›.` . _-°› .z.¬. z « f
. _ ' .__ , -z -__-N _J`_ _ _ _›.¶_,.¡'x`¿U_¡`___ _\_?e-- pr; -¡,›_:Ê_;_.\‹ mi .`;_.~\ _ -51 _ in _ _» ›
_~-f _ ~‹- ' -.- _'-'-_^-,. =;r*¬ . ._-§.¿.~ '¡"'~=:. '~'›~ "-“`~ '~' ^
.
' ' ' -~
f- _. .~ '_-'..-' z':'> ` ~ 4* Íäiã--äfi' _ ".:'_ ~;fš.¿T<{”¡-:<z.c, '*:.:z.';.':`-I.^<';~_.,---.- -f. ^.«-4-“:.*=Y',1›=- z... _ z
_
i - ~- -
�
. _ _ › .S . _ . ._ _ _.-`-I... -uma. :P . ‹ _
.¡*-¬ ~ - . » s ~= -_.› ~_ (_-¿¿:¿-,_>lw9~›¬~_-__-,: Í :__ 4,, _.Y,›_~`ç:`¡\-'~Í _{; ,__.`,; _ _' _ _
. _ _ _ . ›_ - .. _.,,.. ._ -.-_ ._-_ _ _ _ ¬À:._‹, __ _ “__ :_ 1* _ :_ '..__¿. :J .
› . ¬
Í-_: É. .
:_ ___ "_'?\¿: ,_ ".
.ya r .__ `. f-._‹__._¡ _‹`_\ . _ t _ _ ›
«‹ ._~$". _: ›‹ _.._. _? __ m¿›._ _._. .__ r, _._-¬,› . _,_
^ r- T ¿"'¡~.'7 Í ›.-°.1-I* ›-fr ..*LRv\_.....=›iI'0'* .› e `_(.-._._,.. 2 ÊÍI- f.'Ã,;5§$*“ fãs. f".Í~;- -:_ z.J§.: = *jr-*-,_ 1 . ,_ _ . __ ..l.~.f> ., uz `, 1-f'^f_~=I __
~~ -~‹. '-; _ ‹› '
_ - --.›‹‹~'_~ , ~:`1`›?‹-- -frfl. * :SCI-rs.,-af:-1 É: *'°" 2 ‹-*' :
-«c * * -' ' ‹ "' w "' "' ` 1 ~-:_ ^ ...z-=`~.. "_ - ~ v4* _.`
_ _ . .- ¬-___.-. _
.gi ,fa š ›
-ÊÊ-f..~ \
Alexandre baixou os olhos, tirou do aió um rolo de fumo e palha de milho, ` do a desembainhou a faca de ponta e fabricou lentamente um cigarro, procuran
3 resposta, que não veio. - Seu Firmino, o senhor duvida da minha palavra? _ Deus me livre, seu Alexandre. Quem é que duvida? Estou só pergun- tando.
it bem gritou Cesária, salvando o marido. Seu Fir- - E pergunta mu o , ` '
1 o Deus o fez. Quer saber 40 mino gosta de explicações. Esta certo, cada qua com '7 ' es alhou não seu Firmino: o veado es- por que o chumbo se espalhou. Nao se p ,
tava coçando a orelha com o pe. R/unos, Graciliano. “A Espingarda de AIcx`andre." In: Alexandre
2ll
.-- .
-" K '‹. vi
~s
y'\
‹
‹
l
t W _ _, W
f s' "Ê ÉefzteiÍ
am.: Q/J í¡ãT-.IF Fúpwyã
f tz, É r"
ri Vw? €"')
ni: '\š' _.
l
VOCÂEEULÀRIOi
l. Você notou que este texto possui muitas palavras caracteristicas do falar nord-;-sttirio? De 0 signi- ficado de alguns desses regionalismos. (Se sentir dificuldade, consulte o glossário no final do livro.) a) copiar - ,OÁOJ//ZQÍPÂ ~
b` amunhecar _- _/Êáäg./,/'¿¿2/2 _ [Q/}: Ú" Í/ ')
c) gibão -` Lú/.f¿z¿¿>'.¿/¿/2/zÊ“
d› zió _- _./Êfi/14» fa/¬;¿L., /«Z/Íz. fl_¿a'(Íw<f. t
Forme novals frases empregando asjgalavras acima relacionadas. ~ za faz ana/ aí? 4 À/fizâír
\ i‹\
'2. Troque a expressão destacada por outra de sentido semelhante. “O que agora me ferve no pensamento é o caso do veado." Úáéózi mam flzéb” /me /mó' da Mfimz Jú" /4/Jú' /¿zv,¢»/aaa??? V
ú zf .
* . ,
3. Seu Gaudêncio é uma pessoa de tino. Isso quer dizer que ele é uma pessoa de 4 W/›'z7' / ,om ' Se fosse o contrário, Seu Gaudêncio seria uma pessoa~
^ .
â zâršféméz, ~,
4; A visão .desempenha papel importante numa narrativa. Neste texto, ela é mesmo fundamental para o desenvolvimento da história,
A
Procure ret'rar do texto todos os verbos que se refiram ao sentido da visão /2/6". /.mf/zÁf¿, I /
5.' Os verbos relacionados no exercício anterior apresentam diferentes modos de ver. Reescreva-os ao lado do seu significado correto. 4
i
0 conhecer ou perceber pela visão: /2/ü i i
O analisar com atenção ou minúcia: ~. 0 ver a custo; entrever: ~ÚÂ o conhecer por meio dos sentidos; entender; distinguir, notar: //JI?/àáãéríól
e ver ao longe: 9 espreitar; observar com atenção ou secretamente;
6. Retire do texto duas palavras que signifiquem medida de comprimento.
_É¿¿/Jú/1 ,ez os
7. Alexandre era mesmo um caçador. Veja quantas palavras específicas sobre o assunto ele empre-
gou: espingardazchumbo, cano, saca-trap0. CSPOIEI2. POHIHFÍZ1. g2I¡lh0-
Empregue algumas dessas palavras num mesmo período. /.›w‹,âa'c” da âsák/em i
212
MPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO Quem é o narrador e o personagem principal das histórias do texto? Jfófáam/zzâíz/'. mm/ama úzzz_/2/wwe só úéâzzzzéâr/ Ç
. r .
I /I 1 '
///M, ff./4/1, ví/‹íÃÉ”'/.Q/J..
O narrador não determina com exatidão a época em que as histórias ocorrem. Que expressão do texto confirma essa declaração? "?Am. zzízzz ‹ø*/1¿i1,."
Por que ficava mais difícil para Alexandre acertar nas araras quando amanhecia? _”Ã22§¿¿/1: z/mv aêfzúzíaâb* 1 ma, ,wfaw/4/¿
azézzázáaf.. . -
' ' y ' ~ . . . - , .
. .Que caracteristica a espingarda devena ter para que mestre Gaudencio acreditasse na historia das araras? Por quê?
AL fizmg, Qzgzíñ, , Q ggl
ic ¿Qg¿/Aff' 1,. A
-Alexandre atribui ao seu olho defeituoso a visão extraordinária que afirma possuir. Que frase ,nos revela isso claramente?
'
' Í'/X24, /âf/.zâv/¢'â,'/zzävg MÀÉ " se
O que nos conta Alexandre para demonstrar que os bichos se encontravam a grande distancia? Na história das araras: '
z'›ø%,z.`1/.L ,éez/'¿ zzâàazé. No caso do veado:
@z gó/1,//afz/úøózó má: ú¿¿eøó¿¿Í pmâz â»
_¿¿2';,Qø/¢'â1/.¿z¿`â'4'óY/aim ›
Qual a prova que Alexandre apresenta de ter acertado no veado?
Úfiéáší gar mw/zzózíaavéf/Êíøi zâf/2 óyzôzf.//ââaá/mfúaéf. Que contradição Seu Firmino aponta na história do veado?
A "%a~/¿øzÁzâ~, ¿â77zä,e'ø‹ó¿ârIz¿s›øó'â/¿ó>ç25›;¿_ / ... 9 ,z .
Ú
Quem salva Alexandre do apuro? Como se encena a questão? '
:Ê/f/zzóä éh!/z'zc(/Mzâz óz,%¿¿//1¿z>*@úz~.1zzš>v¿øz¿.â'fúeaâá× Jaiáfi/ú Áózca/f¿@”,âz zzaóíâzzâmór/mei
O texto pode ser dividido em duas grandes partes. Indique o início e o fim delas dando-lhes um título. 1_a Pam; Desdc ,â' zøzócóâ' até "âøzaá /zfaó' uma ,ãzâuzzc/à .
rfzuizz fizézgiäuäz da ú/êzz/24/1 2.2 pzfzzz Dzsóz 'figé úfâw me iázzzzf fizô* mw;/14/zfwzíf zié Ú ¿?/'W W I I É
-r‹...i... z-/M/r n//9' nffn///r A _
213
1
9
i
.
l l. Voqê acha que as histórias de Alexandre poderiam ter acontecido como foram contadas? Por quê? .
~ , /* ~ . , .f .
-zíâazä /az /.zzã //.mze.af×42>1 /a‹.›zfiáz×2‹.<.~2íf;/zzmrr Z/Í» z¿úfz2/}'›Í»zzzrf.- zzzzw /~ú:'‹íÍ~.:. zfâzâzø l
'
/V .
/ ~ V .
' I
' z» `
,-7/¿41zf~ /.Má/¢*'zQ!ä xfíá;/ífdâíf .~f2‹*z~§iQ`Á@'.Wú/f@2›/4/ _/É/2;://Í“ÃÉ~2>_:.c›z.<* ,W f,›_z›,z~'z¬ .z~.'×s×›~/z.a‹~,¿
Á fi I ~ 1
/ ' ¬¿ / /1 /Y
,¢?./az/c‹9éÓ_-rzmz .éfzz úflíaááwíáwíf .f¿z.a24__‹2.fzÁú,z ,âf~zzf~›,^./sz.,».›› ze.
/ / _
'Às
l2. Seguindo o modelo do texto, conte, através de um narrador-personagem, duas histórias f::ntásti~
cas, ligadas entre si por um tema comum. Na segunda história, o narrador se contradiz mas é ajudado por um dos ouvintes a o
caso de forma surpreendente. f A
t
f7Ít ' ,
z .
,.f5<;f.â.-dôózíãe /ea-.~f;,f¿¬fiJ À./4//vâzff. , /
.O C na D U O tv ”1 -1
z-`, _ ....`. ..-Ê
ššnz .z ' ._ _ :Y . › . u ~ -. ›. `.` ~., \` ¡
_ Í a-=.ann:_`~,.-4» .-/_§: ._
~› \/\ \ _)~¿"À ff . ._ *V Í ---\¡¡. \..'°' t
_ ~ 4' - 11 * ~ › . . Í2. 0 _ Ç .ga ¿ 5-'z .r fa
âçƒfifjêi 1 j É zfšl _t~*e§
\~t
L
1
cx:
q
:ii ø'
sf 3:21 iflši 13; “213 @ Íàšfi ""'iZ;fi CID §í'f¬'ã
/3
_ .
CONTOS POPULARES Graciliano Ramos, autor de Alexandre e Outros Heróis, adverte logo no inicio do livro: “As histórias de Alexandre não são originais: pertencem ao folclore do Nordeste, e é possivel
que algumas tenham sido escritas". ` '
Alexandre é um personagem que foi criado tendo como base os inúmeros tipos anónimos, seme- lhantes a ele, que existem pelo senão. -
Nas_.h_istÓrias de Alexandre, a realidade mesquinha é superada pela astúcia do narrador e pela
intervenção de objetos e animais dotados de faculdades extraordinárias. As histórias de Alexandre são inverossímeis, isto é, impossíveis de acontecer. Alexandre, auxiliado por Cesária, entretém seu restrito auditório com o maravilhoso dos seus
contos populares. '
'
C O N T O 'narrativa fictícia, anónima, onde o real se confunde com o maravilhoso, po-
dendo seu conteúdo ser de fundo humano ou fantástico, com a finalidade de P O P U' L A R divertir ou fixar experiência humana.'
MELO, Verissimo de. O Conto Folclórico no Brasil. Rio de la-
neiro, Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. I976. p. 4. (Cadernos de Folclore. ll)
iOs contos populares começam, geralmente, com algumas fórmulas usuais: “era uma vez. ..", “diz-se que era uma vez. . .”; “houve um tempo que. _
Você conhece outras?
Inúmeras também são as fórmulas para encerrar a narrativa:
“Entrou por uma porta E saiu por outra Manda el-rei meu senhor
H I
Que me conte outra .
214
“Casaram-se e foram muito felizes. Houve muito doce, muita música, uma festa de arromba. Eu trazer uns doces e repartir com vocês, mas quando ia passando na ponte, os cachorros do vigário
ârreram atrás de mim e derrubei os doces n'água”. Guiwutizs, Rute. Lendas e Fábulas do Brasil. 2." ed. São Paulo,
Ed. Cultrix.
PUCAÇÃQ Você conhece as histórias de Pedro~Malazarte'? Ele sempre consegue se sair bem das situações,
raças a sua astúcia e inteligência.
Escreva no seu cademo uma história em que a astúcia e a inteligência saíram vencedoras. (Sepnao : lembrar de nenhuma, procure nos livros de contos populares ou com quem as conheça de cor.)
Não se esqueça de começar e terminar a história com algumas das fórmulas usuais desse tipo de arrativa.
E
Troque sua história com elementos _do seu grupo, de modo que cada um leia o que os outros SCYCVCYBITI.
O grupo fará a escolha do melhor conto que servirá como texto para o concurso do melhor
ontador de histórias.
CONCURSO _DE MELHOR CONTADOR DE HISTÓRIAS 0 Cada grupo escolhe um elemento paraáparticipar do concurso. 0 O aluno participante deverá contar, diante da turma. a história selecionada pelo seu grupo.
'fz s
ç ~ vasos Taâsâtfiâa com A uêâtâuâ l
NIVEL FONÉTICO - NIVEL FONÉTICO - NIVEL FONÉTICO - NIVEL FONÉTICO - NIVEL FONÉTICO - NIVEL FONETIC
FONEMAS E LETRAS _l.ETRA --› sinal gráfico FONEMA -> som -¿
E '_ l1234sõ7'a_______" aLEmAszv|A|o|u|lE|||R|o
fllvxxouemol '
1 2 3 4 5 õ 1
_
7|=oNEMAszv|A|o u|E|||R|o '
1 2 3 4 5'
sLErnAszH|o|M|E|M b1HoMEM _ 1 2 3
3 FONEMAS: HO I M
I Ê (o m aqui é apenas sinal de nasalidade da E g _. _ _ g _ __ g
vogal anterior. equivalente a um til.)
«F
l. Coloque, no quadrinho apresentado, os dígrafos que '~ -›= '
aparecem nas seguintes palavras: cachorra, velho, fa- g
I
nhosas. pessoas. guia, pequena, nascendo, exceto.
2. Observe:'
.a) sertão: 6 letras, 6 fonemas
E C7 ao AFOS
215
àss ši 3”
/.Lc
fiwšlíó
b) mulher: 6 letras, 5 fonemas (lh -_ dígrafo)
Prossiga:
0)
d)
‹=)
f)
)
i)
g h)
” , \ _ J
hâbàzoz 6 &.ZÔ›4zf,,5//éazz/>mz.a¿L` /_-íg, - Éiašâúál ,
ú × / ×
espingarda:ZÚ.&éA¿.L_,_o9 ~W 02 Wã~_l `
¿- QZQZZ /émíãm, *f/Â,/f fil achava: fu , 'Í .. - /ÍÂÂÁÔ/z _
1 / z "
.
I _ z
interessantes: /Í,/É/;0Á,_. /Ú *_/:fg ~ Ú/,¿ú,Q4%Ã9'\`
antigamente: //J././É/ÊÚA, 9 -/4/5972/W720/1 /z? A/hfi/Ú? nascido: 3/,ÂZ/Í>fiA_. G ~
i
-
cigarro: y~-, É/~ /_/241 -
3. Dos vocábulos abaixo, apenas um não tem 8 fonemas. Assinale-o:
a.. ( ) histórias d. ( ) discorria
'b. ( u) espumando e. (X) fabulosas
C. ( ) Alexandre
PONTUAÇÃO Observe: *
“Um dia destes acordei ouvindo gritos[:]“
“Que lembrança foi essa” “Que pergunta, seu FirminolI|"
El
Elø
\
Ponto final -› indica 0 término de uma oração declarativa.
Ponto de interrogação -› indica uma pergunta. ainda que não exija resposta. , 1
` ' `
l `
l d Ponto de exclamaçao -› indica uma exc amaçao de espanto, surpresa, co era ou or.
Pontue adequadamente, esta “conversinha mineira", de Fernando Sabino:
Não tem leite? Hoje, não senhor. Por que hojenão? Porque hoje O leiteiro não veio Ontem ele veio? Ontem não-
l Í
¬
- 216
_- Quando é que ele vem -- Tem dia certo não senhor.Às vezes vem, às vezes não vem.Só que no dia que devia
em geral não vem.'
_- Mas ali fora está escrito "Leiteira" Í
- Ah, isto está sim senhor .
_- Quando é que tem leite ?
_- Quando o leiteiro vem .
Susmo. Fernando. "Conversinh_a Mineira". ln: A Mulher do Vi-
zinho. 7.* ed. Rio de Janeiro, Ed. Record. l976. p. l37-39.
JIVEL MORFOLÓGICO - NÍVEL MORFOLÓGICO - NIVEL MORFOLÓGICO ~ NIVEL MORFOLÓGICO `- NÍVEL MORFO
.l.
2.
3.
LUBSTANTIVO, ADJETlVO, PRONOME, VERBO Observe:
°
l 3 l 2 .J IF I I - z - ll z - ln Alexandre contava historias notaveis.
1. Substantivo 2. Adjetivo 3. Verbo
Marque e numere, como no exemplo anterior. Í .5 1
r--¬ ~,í-;\ a) “Um dia destes acordei ouvindo gritos."
3 4 ri-¬ri-*-'¬ b) “Eu nao tinha intençao. .
5 1 3 1 `
,â__ 1 _
V
c) “- Ouer dizer que a espingarda Junta o chumbo, não é. Alexandre'?"'
. 5 1 Í
02 [3 d) "Mas, como já sabem; este olho torto vê-tudo."
1 .2 ‹›2 r--$¬f--¬ C) "Um animal bonito e fornido." Relacione, de acordo com o texto. os substantivos com os adjetivos adequados:
(3) Coisas à
(Oz) afastadas
(bl olho (C) bonito (c) animal (fiz› mo (Cl) espolcta (%×) direito
(e) bicho ( ff) torto
(f) Corpo (Hz) esfolado
(gl pé (dz) velha
Naã frases abaixo, empregue o verbo adequad~o texto.) M
' fer!
3) O senhor §g¿QZ@ . que o veado __ _ _. _ um caroço na cabeça, outro no pe.
b) "Que pergunta, seu Firmino! Pois se eu ~o couro dele e 07Zäfl2¿Z2¿ /W aquele gibão.
z C) “Seu Firmino, o senhor~da minha palavra?" dl "O veado estava~a orelha com 0 pé.” C) “Perfeitamente, seu Gaudêncio. O senhor~."
Y v- v ¬
4. Circule os pronomes pessoais. demonstrativos e indefinidos. a) @olho torto vê b)'"Achegou às 6 horas da tarde."
¢) que ferve o pensamento é o caso do veado." (Q _-z
d)~está esfolado e comido." e) ®tirei o couro +
5. Agora. coloque os pronomes do exercício anterior adequadamente no -quadro:
Pessoal ' Demonstrativo Indefinido
gíä 6422. záééz/ó» (9, .
6. Observe:
a) Este olho torto vê tudo. este = pronome adjetivo tudo = pronome substantivo
Continue:
b) _ _avistei duas araras uma voando muito alto outra mais embaixo."
217
c__) “Dormi algum tempo na pontaria."
d) . .mandei fazer aguele gibão."
.age/záz -Y fiâsmzâfiaö 1»
e) “Aguele está esfolado e comido." -› /04/fivzmzzfz
7. Faça de acordo com o modelo: a) Todos rodearam o velhocaçador.
_
~-má h) Os moradores da redondeza ouviam Alexandre.
áf da ~z af* áfm//Ann. //A //77/9244/zfiâéd» afâz, 4/a§>r%í.›Q, z9é‹¿z¿r;0/×?7- úvfif
c) 7Cesária e Alexandre viram o veado d/aquela distância.
%/afã/a ¿ fama/2? afaâaóôáía 42;!/É/zv/zé» `-fã 1 ø
` ' Í . ¿ _
íffvzâza/2/zw / á/Ím//Y/252; 21//max?-/×z×.rfl22f/as/Á, @&féz/nf/4.. 8. Siga o modelo dado:
'
a) Todos vieram rodear o velho caçador.
,mlzziéúâzf ¿>.@ó¿-Albv.'
b) Os moradores da redondeza vieram ouvir Alexandre. (Í4 //.vmmdvá/41, z/ú, À/zz.j;77z1íe¿a, «mma//'22 âzazz'-/âr.
c) Cesária c Alexandre foram ver o veado daquela distância. _ͧ”¿4âÍ¿¿Qz / 7/ÚÚÁÁ//ÁÉ/. /Âfififlií afff- É 4/dá//já
.. ,
218
M
EL SINTÁTICO - NÍVEL SINTATICO - NÍVEL SINTATICO - NIVEL SINTATICO - NIVEL SINTATICO - NIVEL SINTA
RIODOS SIMPLES E COMPOSTOS Cheguei aqui ao copiar. (Período simples. Oração absoluta) Avistei duas araras. (Período simples. Oração absoluta) Agora. observe com atençao: "Cheguei aqui ao copiar/@)avistei duas araras." (Periodo composto _ 2 orações)
Sublinhe os verbos e diga se 0 período é simples (uma só oração) ou composto (mais de uma oração). -
a) "A espingarda jgitlo chumbo."^_.~}/.I/Í7_7fizé<íz b) . .depois flsossegou epôs-se a comer."_, %¿Ã1É' - ¿9¢ú*(Á=?¿/.
c) "SQL de casa, a_n_g_lgi muito." Q?/9?Q{Í¿í?'Az d) “Seu Firmino g_o_st_a_de explicações."~4Ú?Ê@áfz i
Numere corretamenteí_
(I) Sujeito simples claro (3) Sujeito indeterminado (2)_Sujeito simples oculto (4) Oração sem sujeito ( 4) "O veado apareceu acolá.” ( 4) Alexandre tinha um olho torto. (L) "Amanheceu." (3) Contavam histórias incriveis. (4) “Ainda havia um resto de escuridão.” ( 4) “A espingarda junta o chumbo. (3) Nunca duvidaram de Alexandre. t
(‹›?,) "Conhecem, não?" Preste atenção ao esquema:
Í'-_i¶~\_ ~~` SUJEITO .Í VERBO TRANSITIVO DIRETO ' OBJETO DIRETO) L_____,...~*'¡ v f' Ã I, -]'dí_`%"" SUJEITO _?
I
VERBO TRANSITIVO INDIRETO ~ 5 PREPOSIÇÃO ( OBJETO INDIRETOI *Ê §__,/f - -cm / `~ JEITO l .VERBO INTRANSITIVO
Agora, observe os exemplos:
1 2 z - I' "` f`°_'í'_.'_"¬
a) Cesaria salvou¬o marido.
3 ' 4 b) Alexandre falava aos moradores da região. I. Verbo transitivo direto I 3. Verbo transitivo indireto 2. Objeto direto '
4. Objeto indireto_
Marque e numere: 1'‹ ,z 13 1+
1_
'Of _ _¬z \ C) Possuia uma espingarda. e) Assisti a a gumas açoes notaveis. F4 ,
Ó) Descobriam casos interessantes:
l
|
l
219
l ._ PREDICADO-VERBAL
D l
l
AÇÃO DO SUJEITO O
E «_R
-.ef/;=_-.--z» --a-. .~--;‹‹z-'f' Y-›~= .. ‹».-›‹=¬.;... ' '‹.. `šE'›.'-Yn-'“"'-
PREDICADO NOMINALV. _' '
l
ESTADO DO SUJEITO _ É
5. Procure, no texto predicados verbais para os seguintes sujeitos: SU9@Stã° de resposta a) Alexandre ,âí '
.
_
_
tz) seu Fimino-çwâ dá c) O veado d) A espingarda ~-P -
6. As frases abaixo são do texto. Faça aconcordância do verbo com o sujeito. _ z) As zfzfzs~(mowzr) ~
~ b) A espingarda~chumbo._(juntar) ;-_
_
- c) O v ado~os quatro cantos. (espiar)_ ~
d) ~Cesária. (gritar) ` *
-
e) Os dois caroços~ separados? (estar) EXPRESSÃO ORAL _ Dramatização. de Contos Populares
O _seguinte conto popular é muito conhecido. Leia-o e veja se.não se recorda dele ou de alguma de suas variantes:
-` O MACACO E~O GRAO DE MILHO D
_ .›
Um macaquinho estava comendo milho numa árvore, quando derrubou um grão. que foi
- cair no oco de um pau. Não podendo tirâ-lo, falou: _ Pau, me dá meu grão de milho! O pau respondeu: _' Não dou.
j _
-
O macaco retrucou: - › _ Se você não me der meu grão de milho. eu vou falar com o machado. c ele corta você! O pau respondeu: '
_ _ Pode ir! _.
~ _ Machado, vá cortar o pau, que não quer me dar meu grão de milho! _ Não vou!_ _ Se você não for, eu vou falar com o fogo, e ele queima você! _ Pode ir! _ _ Fogo, vá queimar o machado, que nao quer cortar o pau, que não quer me dar o meu
grão de milho! _ Não vou! _ Se você não for, eu vou falar com a água e ela apaga você! _ Pode ir! _ Água, vá apagar o fogo, que não quer queimar o machado, que não quer cortar o pau, que não quer me dar o meu grão de milho.
_ _ Não vou! _ Se você não for, eu vou falar com o boi e ele bebe você! _ Pode ir.
220
_ Boi, vá beber a água, que não quer apagar o fogo, que não quer queimar o machado, que não quer cortar o pau, que não quer me daro meu grão de milho, _ Não vou! _ Se você não for, eu vou falar com o açougueiro e ele mata você. _ Pode ir.
i
._ Açougueiro, vá matar o boi, que não quer beber a água, que não quer apagar o fogo. que não quer queimar o machado, que .não quer cortar o pau. que não quer me dar o meu grão de milho. _
~ _ Não vou!V _ Se você não for, eu vou falar com a rainha e ela manda enforcar você. _ Pode ir!
No palácio da rainha: ` _ Rainha, mande enforcar o açougueiro, que não quer matar o boi, que não quer beber a água, que não quer apagar o fogo, que não quer queimar o machado, que não quer cortar o
que não quer me dar o meu grão de milho. _ Não mando! _ Então eu vou falar com o rato e ele rói a sua saia! _ Pode ir. _ Rato, vá roer a saia da rainha, que não quer enforcar o açougueiro, que não quer ma- tar o boi, que não quer beber a água, que não quer apagar o fogo, que não quer queimar o ma- chado, que não quer cortar o pau, que não quer me dar o meu grão de milho. _ Já vou!
Aí, então, o macaco foi ter com a rainha e disse: _ O rato já vem vindo! A rainha falou: _ Diga a ele que não roa a minha saia, que eu mando enforcar o açougueiro. O macaco foi falar com o rato, e ele concordou. Foi ao açougueiro: _ A rainha já vai mandar você ã forca. _ Diga que não mande, que eu vou matar o boi. Foi falar com o boi: _ O açougueiro vem vindo aí matar você! _ Diga que não me mate, que eu bebo a água. Foi falar com a água: _ O boi vem vindo aí para beber você. _ Diga que não venha, que eu apago o fogo. Foi falar com o fogo: _ A água vem aí apagar você. _ Diga que não venha, que eu queimo o machado. Foi falar com o machado: _ O fogo vem vindo aí queimar você! _ Diga que não venha, está aqui o _seu grão de milho! O macaco pegou o grão de milho e saiu pulando, muito contente 'da vida.
V
(Folclore brasileiro)
pau,
JcAçÃo Faça, com sua tur_ma, a dramatização dessa história. Para tornar mais animada a representação, as falas deverão ser ditas em ritmo acelerado, acom- panhadas de gesticulação exagerada.
Você e sua equipe poderão criar, agora, uma historinha que, à semelhança do exemplo, vai acumulando elementos.
ssor: Câmara Cascudo no seu livro Contos Tradicionais do Brasil (Ed. Ouro, Leão 1442) chama esses contos rde ulativo5_
_
:sia 'Ouadrilha', de Drummond. que também pode ser chamada de acumulativa. serve como sugestão de trabalho: 'João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
'
que não amava ninguém. '
João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia. ~¡°aQUim suicidou-se e Llli casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na h¡stÓria'.
ANDRADE. Carlos Drummond dc. “Quadrilha". ln: Szlem em Prosa e Verso. 4.' ed. Rio de Janeiro, Liv. José Olympio Ed., 1976. p. 150-51.
ANEXO VII
PROGRAMAQÃO Do 19 GRAU . _/I QNTEÚDO Paodmúaaíco gë SERIE
V
_
J
- 1
comUNIciÇÃo Processo Elementos envolvidos no processo de comunicação Códigos
- FONOLOGIA na Divisao silábica
Q _~ Tonicidade
:) Acentuação gráfica
P O
L)
O
:) Verbos Rggulares
D
SÚ 1.
1)
. monossilabos tõnicosI
. oxitonas
. proparoxítonas
MORFOLOGIA Substantivo . flexão de gênero ~ Concordância Nominal . flexão de número Pronomes pessoais . Retos . Oblíquos . Tratamento
. Flexão - Modo Indicativo
Adjetivo
- Tempo - Concordância Verbal - Êessoa
' genero - Concordância Nominal . número
vv Artigo - Identificação _» Preposiçao
SINTAXE Tipos de frases . aiirmativa . negativa . exclamativa . interrogativa
221
b) Período simples c) Sujeito
. simples ; composto
d) Predicado verbal , objeto direto , objeto indireto
_5 - PONTUAÇÃO a) ponto fianl b) Ponto de exclamação c) Ponto de interrogação d) Vírgula (casos simples)
6 . 1-:~2.I-1¬Ufà_.1»'¿
a) Compreensão do texto: . idéia central . sequencia lógica dos fatos , exploração das persongens
b) Leitura oral: . entonação . pronuncia correta das palavras . fluência
7. REDAÇÃO a) Estrutura do texto ~ ow
, Noçao parágrafo (Identificação no texto)
, Noção de começo, meio e fim . Exercéicios de estruturação de textos
b) Redação Erática . bilhete . telegrama . carta familiar
c) Redação criativa . Descrição . Ambientes . Objetos . Gravuras
8, Ortografia
222
I
PROGRAMAÇÃO DO 19 GRAU
zonirüno Pnosfiimámlco õê SÉRIE
E ~ Comunicação a) Meios de comunicação
›-_;
9) Meios de comunicaçao de massa
2) FONOLQGIA'
a) Encontros vocálicos . identificação
`
4* “ - 013SSiliC3ÇãO 2 ditongo, tritongo e hiato
b) Encontros consonantais . identificação
c) Acentuação gráfica ¿ Revisão - 55 série . Paroxitonas (i,r,x,i,u)
3) MORFOLOGIA .
a) Numeral b) Pronomes:
possessivos demonstrativos indefinidos
c) Adjetivo (locução) d) Verbos regulares ' ..Flexão: Modo Subjuntivo
Tempo Pessoa O
ou . Conjugaçao dos verbos: ser, eestar, ter, haver, ir.
e) Preposição - Crase - casos simples f) Àdvêrbio . Classificação .
g) Interjeição
4. Sintaxe Frase Oração Diferenciação Periodo b) Sujeito . indeterminado c) Predicado _
. verbal _. - Identifica ão e di*erenci "
. Nominal Ç * .
açao
223
Predicativo do sujeito e) Adjunto adnominal Í) Vocativo g) Aposto h) Adjunto adverbial 5. aofiruicro a) Vírgula (de acordo com as necessidades gramaticais) b) Dois pontos c) Ponto e vírgula d) Travessao e) Reticencias
6- Leitura
Idem 7Ê série av 7. Redaçao
a) Estrutura do texto . Emprego de parágrafos . Exercícios de estruturação de texto
na b) Redaçao prática . Resumo . Recibo
‹
. Diálogo
Ortografia
224
Y.
- ¿¿:›
IEUDO 1>RoGRm\zu&T1co «7â SÉRIE
oo;-.fmfiígâcão ou
a) Influencia dos meios de comunicaçao_ -_ . ao
b) ratores que interferem na comunicaçao;
FONOLOGÍA Ditongos . Classificaçao
. Crescente _ Orais 8 n a. Decrescente as 15
Acentuação gráfica '
. Rpvisão (õë série) L Acentuação das palavras terminadas em ditongos. . Acentos diferenciais .
.Outros casos de acentuação ( inclusive trema) Crase F contraçao com os pronomes demonstrativos nas locuçoes,
diante dos pronomes relatifos. MORFOLOGIÀ Substantivo:
_,¬; av Clssiiicaçao Adjetivor Classificação Graus Pronomes . interrogativos L relativos Verbos - Regulares e Irregulares . Flexão - Modo (Imperativo)
TempoH
Pessoa . Formas nominais do verbo . Vozes verbais Conjunções coordenativas '
Az _ Locuçoes adverbiais Locuções prepositivas SI1'iT.›lDšÍE
Sujeito (Toda a classificação, incluindo oração sem sujeito)
Fredicadoz Verbal, nominal, verbo-nominal com predicativo do sujeito
e predicativo do objeto; ~'
Agente da passivaA
Complemento nominal Identificagfic oclassificação de todos os termos da oração no perío-
do simples. Beríodo composto por coordenação
` '
226
Colocação dos pronomes o 'ú`\ Cf' Q T3 O U
?ONÍÚACÃO Virgula (emprego)
...ú Revisao LÉITURÁ Compreensão do texto . Exploração do vocabulário _
.
. Idéia central, principais e secundárias
. Persongens (i¿@nÍiÍi05ÇãO das características físicas e psicolšg /-É
C!- (P . Ambiente mpo e espaço) . Narração e descrição no texto . Sentido denotativo e conotativo das palavras.
Leitura oral . entonaçäo . pronúncia . fluência
REDACÃO Estrutura do texto . Emprego de parágrafos
' I - _ _ , qa '
_L . Exercicios de estruturaçao de texto.
zw Redaçao prática . esquema -
. Requerimento Redação criativa . Elaboração de textos descritivos e narrativos.
fx
227
1-mto 1»¡aoc,1w."z.z‹íf1'Ico " aê 5533 COMUNICACÃÊ a) Modalidades do lingua . cientifica . literária - (Figuras de linguagem - cinco + ou -)
b) Níveis . Lingua coloquial . Lingua culta . Língua vulgar . Lingua regional . Gíria
FONOLOGIA - Aparelho fonador ~ Distinção entre fonemas e letras - Identificação dos fonemas da palavra - Revisão - acentuação gráfica
.ø - Revisao - crase. MORFOLOGIÀ - Classes gramaticais
~ '
. aplicaçao - verbos . classificação . emprego do verbo haver - Conjugação subordinativa , introduzindo os vários tipos de ora-
ções, principalmente com as integrantes , sem necessidade , sem neces sariamente mostrar a classificação das orações.
SINTAXE A) termos da oração
. essenciais ..».- .I _. , vv-
. integrantes Identiiicaçao e distlnçao
. acessórios
b) Identificação do periodo composto por coordençaõ e subordina -
ção'
c) Classificação das orações coordenadas'
d) Classificação das orações subordinadas advergiais e) Concordância verbal e nominal .
f) regência verbal e nominal
PONTUAÇÃO ..__..
Trevi ešñ
EEPHEGO DE: . aspas . asteriscos i
R0 parenteses
Lfllcmm.`
~ Compreensão do texto fu ‹¬
. nxploraçao do vocabulário . idéia central, principal, secundária
. personagens - caracterisiticas físicas e psicológicas
. ambiente - tempo e
-. narração, descrição e dissertação no texto.
Leitura oral 4»
. entonaçao
. pronúncia . Fluência
_r`~ 'HÍJÍ/1'z\zA0
Estrutu:¬ do texto
espaço
I
. emprego de paragrafos uu
. emprego da pontuaçao _ estruturação de textos
pv Bcdaçao prática . relatório . oficio Redação criativa . Elaboração de textos descritivos,
narrativos e dissertativos.
.O,. 0.0.0.0.0.0
228
f ff ffzffv-m--‹-í-v v ¬-_v`¬.f
b rto & CUNHA, Regina Flores da '(
' São Paulo, Sa-
_ ~ ¬~w‹~1¬-
ANEXO, VIII
229
5e SÉRIE
1982). Comunicação oral e SCARTON, Gil e _
_ _
escrita em- -lí_ng'ua“po'rtug*uesa. 2.ed_.r,-~ 8% série, 1? G1‹'=U_~1z
UNIDADE 1 raiva.
' ATRAVÉS Dos A coMui\iicAÇAo ^' oPui.AREs ovFÍR5ios E EXPRFSSQFS P
›-;`\¬›f".__ _ _ " \.. -f-:›«\-_-'Q-`‹¿_~"".__ -:_
¿`-Ia;-._L¬r ¬~¬~5t4¬_>¿:_z--_-:w_¿__ _ ___ `
_` Í .,` `¬,.:f_-`-._
_-¿ ~.›_.._._....`__`)c›¡P__`,1-`_\,-”_-V -~ , ~.v=-.k _\.¡""- . -
:_ 375
ir
À €:,i2¡\" i if '.~--¡~`-_, -xe,
,`-;¬ \'Z' ¬ Í`-L: -_ -
`_; --¿..¿.'_`¡‹- Í-É..zL-¬~ _ .” =.`¬-- - _ -`__ ____¿¡
4 (1
5_\f ..: - I ..:`<"\< ~ _,-`_r-,¬`.._..-; \..
.~»,. \_,.*"`-<ÍC:~.»‹~ ~ `~-.__-- ~.. -.~ ›-'-. ` -.‹‹-4ê__ _. “'* _--.¬.- ,___-f.. _
-
.,- -r
.';:‹1:.”- :*¬.;`I§Í.-›~:=§>~_. _
- _-_' ` _ \u_'\ ~› "" `_ ~"" ¬__,
: ` _, '_
_,-_¬.
.
¡"f
I “› J_\...‹‹
x !~` __:
'i af ,›
^¡zr
Ji
1 N ,¡
__.¬'-`_ -_ _"_\:- '-_-___ _. `-*'q¬'- -¬..
` Í*‹ _ -~_- - i _ Q.. ~-"~"›_~ -""-_. _' ‹ f-_`
1":-.¬ - - _- -« ¬¿3*`*. _-`_* fz» `-.-1. _'_-_1'__ _, ‹___¡\._`_f- _-_`.__“°\__'_ -',' - ‹ _ ~-......~›. ~~¢-.- -fz
_ Q- --- ' -_ _ - _ ' f .- - -»-. ¬....*:.-~.~›~-_-- _~-`.--I-;›~ _-__ _
- “\ .« '
-L ._ J-'¡'~ __ ›=- Í -- ` He*-É-_ ` .›.~\.......¡ 3
x..
J
`-=`ll"/`\ ,_ ×f_:f~;<_ í.__.. Ç
@z!‹z¿¬ÍÍ ii ÍÉ _¿f,,_§f§.
E ,_.., š.~~'J "_“~`›': "-z -
r
Í_'ài“?
¬ âhfit
_
Mr.
1! '‹
.ÃÂ AV' Í
4
*ff ̀ -T.. :J "fr
2» ".-'
~..~ )à›- _
\»-«_ M."
.`**~" ` _ _
-Ç . ;"'-,z "'~-'__ . --~¬-~ z‹ _ " ~-_
_ -¬- _. -¬`*~;.';.'-.- Ie-\ _
,I _ *,\` ._ . .~ f- _' r _ . _›r - 1-_-`~~ qe '--¬ ›;..' ›
' - . ¡¬..› _ .-- ~ - --z . :`››-._ -_ . ._
_ _ _~ ›_..› . `-" *- f 1:*_‹-T4 ;'_,':_- ..----›___ ~._ ;-É' «_-_~-2 _¿ -__›L_v. -' ` L `. 'I' “~'-- '->\_`_,~_ _,-f‹^_".'“ _ 'ti-2.`_*`-'_:\|__ _
`- Y
_ - _ _ _ ¬ _ ._¡_..
. _ _, _: x
_ z- ` ` _ r- ,_
$-
-zz - :_-\ _, . _
": .¬"' _.._.›.. _~~* ` ~-~ _ ›
_ ` ` " ~°~-.---^›.`_ _.. ~ . « .. '~" `-"C.`.'_` -\~
5
iii 4K
Ú
‹››d
I`
rir
-~ “- "' ¬~="--:_'*“~f<::r:'z:-Z*`f__ f ~^ -_zan_` : flw1v>\;w_ér~§-~ -' v_-¿_.`.¿_›_- -‹ ____` -_- _* - ~" ' ----- »- ...._.i'
' _.¬.›-hà Í2-J-_ --‹r:~ ~. ` " `_ °:;_\:.»-.*' "`_`Íf_$¿\."›¬f- _7`1¬^*E\_"~1»-_-',_~‹
- ' -_ _ _ _
~ - ¬._+_› _¢__&¡.%_,\_, ¿¿.~¿-1 -.... - _ ____›_ _): _z_,_ ~
_ -_____ ._ - __ - ¿
ii
\ 1»-¡ÍF~___
É
› "`_\ ---'-.f‹ _., . -~ \.-z. _ I ¬_ .‹-¬^_~*¬~-
,v›4
Úd
I
z_._
_ .Gg
I,
¡?.L
I 3”
-_~ --.-. __.. -«izfi--~--~ ‹~..._,=;~_.¬¬-_.»¬-_¬-_ ._ -.‹z;¬P¬-;`--13" ,_.- `i.- \~«§-` -‹-- -- .."_t,:" ` _,._-i-`¿*_¬..
_ ¬3'¿--5.'-Q~,_:§q_~`_ ,~"J'..\~__~‹_::. '\ ~-c- __ ~.-_`__ ' ...L __-¬ _ _
__ ._ __ _ - "';*:1'-..›1'í*.~"'-'.'.":;.`\;.;-_._¬-_-¿- ____*\._*‹. _. ~. - .,.. -'xš *¿_='fl`-;~"1¬¡.f\. -'_ '_ *
_ `_` Â ̀}*.,... -'~__~__`_ ~*~ ,.i`_. ~ `. -_...
-. `_.._ , ` -^*'¬ “ 's í.‹f`)¡`».. --.'¬*‹¬ "¬~ _
'_ . \ " ` _...- ~__ . _..__`_ _ "` Ê`\.`__¿a,_‹":::\v.",§ _ -`‹ -_ ×..\_` 3 ___~_ _ \ _ ` › ~ _ .._._~_._ ~,, . _.-~ `._ ‹-~` `-\ ‹›'~.* .
` `. *""' __ _ . __\_ `
,fz V
`2::`iSd`w..`.'$_¬-›_r:-*;-¢¬ »` _` _
i. ..`_. -;~. - ;_`__¡_..___,-..'-..._.`_.._ vQ~.`_›-_x`.¡\, `-~¶¬›-‹- _'
*_ :_ .__~~ _ __¬`:`_“,_ ».
.`~._ ~ _..
_ _§~.-_ .~ _ ... - ._ ~i- - f-` »\-¡,€' ‹- s _ _ ._
if; P/¡4à `/ I
'*_`,_` --~._~ ' ` '>--.
-'
J 1
fã.-
:~J-~. ¬ ‹~¬.,¡. -w _- ‹._
\ f . .,, '* _ _ _ _ `__
'Z
clore.
Qt 'fit
ii ` _
'
` :L'7›‹J' :'- ‹:~ fi: 19??
'i _êf~›.z-<¢._;f-'=~z,¬_.›;.;~ _. _ _ _ “ i ¬-'‹--_àH=~s_4š‹Kâ.v›s>~~f._.:›.-;-__;_z:z:¬z';-_ _ _
_
.
_"¡u-`\‹*`d" _-1: ' ` ‹"1›"`_" '
-_ _‹ :_.›"ã~- 8 On
(1
wz~‹`‹=~::-›z~
lá fu* :W
___,-¢_z_..n. É _ __ ‹ ~- _. _ U
__ .ÃO ›-×'~\..$¬"-r'r ›4:‹.suøQ~_. -'_'$\f-_'Í`._.¡. °-,=!^_ ›-
¬..¡_.z _. -«_ - __,
. . _ um -¬ -
V _›\~--e. _
~ ` ' '
~ -'I~:¬z-_í¬~.::?i _ _
. * ‹
." _›".¡;` "-;"._,. É 7
_
-
I
.
Í i¡I_`.:;:\`:.4\
_. ›- "\~¬¬;Y\`šrx;g `_
L É \ _i
`
_ \\'.`Í_= "-*.`:~`§
_›F:_;l_3-:al Ê--_ -
i // ` _- I
'
v
' ' _~a¿4í_ `-1;-
' 'I *lx -I:-...:`.`~`.`V!:.;. ~i¡".:-:_ .:~"- -
°-*~~›› '“'~-àiie' I -,- _ _ _ .`.___.,- ...._,__ _- ‹-s¬ -Jz*~,~ç\.z- › -- - .f › _ __ __ _ ri "I" ...z-›==-::.-'--_ `¶nnz -
.*.~-_‹Ír>.LZ-* -. .__-_-~.›~.,:~.`- zf _ _ _ ~‹ ~~ ‹-›-¬~-.›:.-. z_f. ¿.;›-¢'»~. '.-;r*_¬.-.›-¬›¬*;..«›.'.T.›`z';>*.";ʧë“. _z"¬..__;:..-_ ` - ` '
_ :*¬ '- ~ - » ~-‹*z~*.--=-~<×.-'â~.z~_ _ _ __
.i ‹~ r
° “ ~ ~‹.~~zârf‹‹.i.eff~i=-ê~:~i1;.<~fsEIe É amigod ~
' ' . .Jr - ' "" › d "¿`1=›=..':'=_|=;='.J¿¬z
_-:'~ ‹ - ~. '--f._ ~_¬ ._ - -_-‹....; LAl
' " empregou ou ouviu
Iáí, š .rg '_:_.t;' ~.".à›i _; _, _ _
_ . .'¿`¿.¬_.-_4 ‹`,_`.;__J 1 _ _ _
¬¬2f_'-§_3-;;.~‹*›`f:¿1Ê;.:'.~*.'~?TÍ~,=_* Um dia e da caça e outro e do caca or. '- '~¬ -*~'›~”"f_'~*;2¬";'-.?Íi›~:*.'›>:*' -i-_' '--.-' -_'-...f
_ ~ _ _ ¬
'
' '
~
' 'O feitiço virou contra o feiticeiro. r
_-__`\ ‹ ~ zf-' ;-\~‹-_-__ _,_'_ medo de agua fria. ' ff” `)¡~"**`¬`*°=""7~Gato escaldado tem I, hj.:-›.›e. K _'
Ele não ensinou o pulo do gato. Cada macaco no seu gal ho. Filho de peixe, peixinho é.
` f osos provér- ' ` acão diária. Sao os am Certamente voce ia essas expressoes na comunic _
` ertence ao nosso " o ulares
história que se coma e que p os e expressoes p p _
' ' uitas vezes, surge de uma Têm um sentido especial que, m
Você vai conhecer agora a origem da expressão O pulo do gato
230
...Ã-~"¬~
`~"~"._
_
:
Ê*
_->;.-
-
¡.›:›-'-,›¡b-
z¬. HÁ.
.
'*z\'.'
~‹
¿_
ir
.F
.
"'
A
`›»:t'ÍÍ:
.~â-tz/
f
›l,¿Í4
-
/xi
.'f.
.
fa'›rFÉ.{wÍ`:_l`_¿_
.I
*Í
-.'zi-“.*‹r.›‹-'‹¢~*'."'
.'~.
;:ff”1>f
1-.`;§='›ÍÂÍ.'§~
__._...-*"Pl""°\`_
="
'
..v.‹"›.'.*Ê5~"~'-
M'
I.-
,ir
._
'
~.
'~':'.
I
.5“'.V
"\
rz lj
1)
, _'
-
'nv
'.Ê"'
_
1
,
_
p .
1
.
EJ,
~\
,.'¿.::'
_
~
.
K-Ú-,`z7“\
`\_
Ú í:,:‹>.Í“›-~.'.
IÍÍLQYT-
Lx'
;¿
'‹L""“¿J5I:
0
¡r«››
.,~_y×-._
_
.V
i
-fr'
`
I.'
.
'
›
n-
'mf
'
~
'-13.-.À
___,_,_
Í'_›
f› v
:J
-
.¿,
___
¿c,.‹v=-n
'
i'W"`1^.,
¡`Í
‹~
-Jr'-F'
,F
~:
JV_
~
›Cro 9 TE N 1 2- W _
. \
_
x ` '\\ K.
'_
\ h 11 i `
f\_. â
-`°' ,Í f .' _ L- 6
' HE- _
\ l eai",
M
Êiëzà " -
i ~
M
da
. ,Ç ñ " 5° 7 .fra . - . z ‹ `, 2-
- '»-J »_‹Éj««"z›"*¿¿.zšl.-'›í_z.*=?` _ ~‹;_" \'
E¬ - _ _'
` ` " `_;'è
"'“ E '31 _~.‹` 12::-}`
. .`f ..; '~"Í-: ¡ -zV`.
" áv
Ê*
:V*¬“IL:n:¬
"‹'..¡~;;'..1‹z'«.
mae-^‹n
*ƒz
*Í'.',íÍ-R
ic W'-`J
,Q
~.‹.¡
~.'§~"3*
,~f-la
4-;
ÍV
i-
"'ff/51::
flzê it» ¿fiz‹ aff
i
-"“
§\,,.íš.*.z›› ~:
/' /(I
\I
.az
›.'Êf*fl1.:f
;
/«rgfl
.››
*wa
›Í'."
)fl\~°ri.‹'§'°'
fi
L1"*~›:`"=-'w"`
'ii
.
)=s1.-If
..(_._›‹¡-1»-f¡l~.fv«rf'1
.
f"'‹-
`
4'
qr
..
*l}?›ç,¿,**_*:
äñši -pa
g- _.
_ x Jšrx -l_¬-: .. - ‹;¡
- .'_~›f_'›..›~Q › ¿_ ~_
«Ii
é ~›- * -_.<ír=-"' f..f-I;í§f--*~`~E-r-* zé* ff-*‹»'-_...^z_.:«.›~-¿;:~~z,¢'f..-.Ê-'*“'‹1.~%~,-» P»_#.- - - '" _ . «aí ×. .
~ ¬'- ,›"››‹I:`:*..1 _".-'> 1. *MÊS .§¿;--z- ‹*›-.- -~ 3: '*.‹“:“* »';Í.*z- ¬"* ¬. '>‹ .;¬f* "'
L ` ›z;;_~r¿;w\~ __ "_"E4`_ ., :_'¬.-_ä\:*{:;!;.f'Í\\- },“ tá ._';-.n~_-¡"×››.‹í. ‹ E `_š~;&.¿ M
, - _
*¡'›“i -»,_ ‹:-.= _ _, ,_. ._-f ‹ `*;;'\-«_ *_ g¬~ ¬;..›z' “3 ,_› *:¿í"¬-» ›,_-.»'$.›#:z1.
_ , -› -.V '\_
_ - › _ ¿. _¿=_;:
" ¬ ià.-. _ É .
_- .,
6 .z
__ __ '¿_..*$ƒ
_ ~ . ,z_,.›Y›_›*«‹ « af -z _
~ ~ f .fz ¬'f- » Í? *fi ~ ‹~z»ÍTzé%4f›› ~ Ê.
_
` fz -=«____}¿_t,._z.,
"ía"-: ¿,_ '_¿.
1 Í]
`
I
Íí;\`::f,$,'°'Ê(¡zz4
'+flafl'»
,4
ir
.
J if* ¬
siri» Ô *J
. «ir
",fií;rf?
H'
'~'
U,
,,. afiflâk
“
,<w._ glíiaâ `-
“rx”
šüuzr iazzsf
¬¡
*Íf¡J_}Ê¢flz*_;'.g*:Ê
}"`~'é%_r
gif/
6'
-4*
" ,,iÍíÊ~*¢f%,“-*
` ii zé,
,t
'øj_Í'_'{y;5,u"
_
.¡r.‹*‹z;f¿,.
5
re;
ft; -v › _.. _` '_ 'i _. }` `h€-`›~..
-*--z-E: 7;~=f¬é t.?.°.‹š‹'z ” “ ~
z i.@~ *¬':=r~ ~"`~Ê?r=‹§~¿Ê K.. `*'"*"*°-~ 1 _ g;"' za* Ji
_ _; À
~_¿_ Á» . '_ ~ 1? . '4_ Q-..._ '¡›_.,.__V. _v .'_ __ '_' _ __ ~.¢ --:_-.›` 7 ~
__' _:` -
- . ._
._`;.-" ;Í_,z›+:,.-f~z¡¬-¿",. £Ê,3?Y1_ê¬.'-_;-._gz5`¡z“,-íif'¬Í'.: *3f*,.ÊÍ'_.»-_-:°~,.I.
-_gÊ'š'-:gr *TE ~ "¡_¬¬- .
-.=._§›~é-;-_;'-Ê.'_ê-›z-,‹~'_›- -:_-à¬z...";.-*‹:.*‹.z_^í` 1' “~'E.<__›‹ if- ,
` `~.*-‹'››,_-.~...f'1* ~:*¢';'-“-'¬¢‹':_-.-I. z
._ z .,.,-›:-=~......'“*'*`¿ -"* ~:‹›`Z.‹~'¬2fT»¬ *vã-_=,
v -._-Ç'-' ~-_» - ..¡;*"'5°¿'ç.. g£°¶'‹^If" _ , _.. z-\›› _.,
u., - 2 . .. ., . z
¬*::'.=-'-'*'¬';....'..'.i:‹›«.»›-2-eši'--i . ..'.¢éz* _; fr* -'~~--.cs-›-`*"7"`* '+›.'_¢f- ----= nr. -~"'=Ê'.`:..."-f'Í">5""' ` °“""'*T5"""`“'1'i7
1, Ê*'P"¿~ í"'-._ 2,, E _- -f' '= """_` -_- -_-sz-Í* " "“ _ ¬'~'” _ _;›~-'H-3-. ` ›
` ,;¡ :- ~ `
_
›
.z ¡_~=~<,~ z .. ____»- -__ ,__..--›ç:_-,z-‹..;_¬~¬P-'!=.::.›_,_ `_,,..£_:::,z,,_¿› ,;___f"_:` __f: ̀ :__V_,šE,,_~ _ 'Í-__
1'
lá)
zw ci lã
mis' *Í
C 3'
¢{.¬
,bl
*›.ti.f~,
1'›iW‹
"â'Ê›^'.Í¿ §~;;~'f..'z'
“III
K'
.Í-z'
*ijiši
ri]
fr.
E* zw»-Gi
lfšâfã
Jrty vã?
'xr
x xi”
x `
¡(/'A'
.š
¿r.
.*¿
iiârââ sz;
'
.
. J. rw:
WI]
W ëfib
ml -\ -¬',;'_,'‹; ""_ ._ _
' Í-*"_;;._, ' -
_ ' ~-.- . -' ' '
. fz ' . . - ___
->~ '-;“._*`_Ç, '~ f""›".~*-_ .1.T_;;z*_f':¬1.` Í* 3 _ ..'_?'°`=-›_,.-"fflèffzsflëffi-›-¬_,,_-€`*4~---¿.i€L›_~.». 'J "' Í", E P€"$\‹nL_¿_¿_
. - - :_ - .. 1%- _ __
- _§«-›>'^'<ãf ' Y
g`J _ _ _ I»
. _ §¿.._,,_ ¬_ ,_
`
I _-_..-_“_'_ H /)“` .` ,IA _ .
.- ' .z_...,¬--‹- -g¬,,_.~)- - ~b _ "'," »~,_-`¬›‹~_-f-_' `_,'_:j .. ~'- _ v*-~›--`.^
. "'~ ' ' ___... ~ -"*""=~~‹¬ __ . ._ _
. _ ‹ _ _
_ _ -. ._ _:›_..,_ _ _
_.. ..._ .. `.__ _
› _ ›z_- _ à
. _ _.. - _`- L`_`__ ---~s....1 ._
Q peão do gaia Comadre onça encontrou-se com compadre gato e flcou a vê-lo saltar,
pasmada de tanta agilidade.
Chegou-se com muito bons modos e pediu-lhe: - Compadre gato, você há de me ensinar' a saltar. - Nessa não caio eu, comadre onça - você era capaz de me apanhar e de me
engolir de uma
VEZ. A onça pôs-se muito macia: _
- Eu, compadre, pois sou lá capaz dissol... Pensa então que me satisfaço com um bichinho tão
pequenininho e quase parente como você?l Mais acomodado, mas ainda um pouco ressabiado, o gato começou
a lição.
'Pula daqui, salta dali, recua à direita, avança à esquerda; pinoteia, desce pelos galhos, rola na
poeira, grimpa nos troncos, atira-se pro ar, sempre imitado da onça que vai aprendendo todos aqueles
manejos com certa facilidade; o gato termina a lição, dando-se a discípula por pronta.
Vai daí disse a onça: - Compadre gato, quero agora repetir tudo quanto vi e aprendi, a ver se já estou mestra na sua
arte. E começou a reproduzir todos os saltos do gato. Em certo momento,
deu um pulo sobre o mestre
para liquidá-lo de uma vez. Mas o gato, que não nasceu hoje, deu de improviso outro pulo que a onça
não o tinha visto dar na lição e com que não podia contar tão a tempo.
A onça, desapontada, disse-lhe: - Este você não me ensinou ainda hà pouco, compadre gato. Ensine-me agora, que desejo aprender tudo 0 que você sabe,
para vencer os meus inimigos.
- Desse cavalo magro é que eu não caio, comadre onça. Não era tolo que ao menos não reser-
vasse este pulo para me livrar de suas garras. E, dizendo isto, o gato desapareceu, num outro salto
de mestre, deixando a onça a olhar por um
óculo. Contos populares brasileiros - LINDOLFO GOMES
"' 7* ' _* - * ea '¬r v-mf -_ _
1 _
,
-\\
Í
.-`.\ ' '. |'f \ ¡\ " `
1' ll i / ~ * ”
~ .'37 ` - É?-' ~.'$_
.Ur . . .Ezzz °..- 3 .. ._ `_
J'.;-_l'\‹`Í'g~»` - Ag: I
§‹.f“,___`1_À¡.š.
d` L `›“°\› Y. “Â K
`f .':š.1` ' AT _. Ç =_ ',".» -
f.f,,~C.Í'-ft;v'‹`..,'
1-V
1?
'\W`fi¬t-
I'
v~l..tff
_
exit*
¬‹"`i”'*'¬'
I ,¢,'¿
z'-;.'
.
:-
^.'
¬‹r`n
.
__
i
i'¡`¡'
f_v:1¬~á_..
Q
f_'f,°'‹*fY
..;\_,,..,.‹-==-"T'
t
_.
._
_
‹
oúflf/
‹';fi---¬""i
._
I
\.___
_,.›-
..-'l
.§fJ.,,»~_.___;______
q*'r¿1'¡;),/'
Wvvp
.
Í
fi"_¿§¢:l:._
_`_¬¡
‹
>..
_‹/
r
'Í' O
n'
\`
__..»J'¡
-~;.;`Í"‹^¬"”_
v_
n
'I' Lá
ä
.
ef.
_
'-àr
-
.
Ê":
;..___""
.
`__¬
--
_.
'..
-Nf.
S3'
l."¬'~=L_-
~;\
._,`
_
-¡J4-`~'
_
f.<.*,°.~›_-J-"'~z.~
-«--
,iv
`
\
¬...';
-Á
~
-
.
«
\
-J..
_'
""_.`_\
Í '°';.¿Í(›f.`
`~
'*-”‹";.'f"-
'
'-1
«
,:z.'."'¡'fY'f^.
Ç
_
"
Çgl'
_:.¿`,
.
_
"-›\aI~
_.
'~‹.._
.
â.'
_.
-'J.__
.-~
-
J
nvlí.
-:'¡*«'‹'zI`~
-
_
-/`
i
›::'.zz-'.'L›~z›
-
.
Q
¡.¡¢1
__
_-/°
'~
_;A:»-n....
âñi:
.
_
-L*
,
"
dirá...
Ç›:""
'P'-y‹››
wi:
'
_|,,.
..“›'_
._.
~¡_¡¡..¡,
"N
-dl
_
“jlf‹;.›*:Í'-¡7zÍY'~'‹'I›‹
'*-
~
~.*_':'~“.";“
'
\
. ä ` "~ ̀~¡ i _
`-.Í.Ê›:-4 '~_
3.' '\_`›-2' 1-; .'\__- \-`1 - \ z '›'›.›\v _
__ ': `
:v Q u : `€'\°€ T"{¬"›"\=_';' è_..~Y'\J
/Yi
'_'
iz~°.}›.f f*lc".:I" Ki) I.'›
rfzyf'
ä¡lá/1
4'
0
`-
'!l*-:¬..'fl‹
"A
",l‹'Í=fÍ~iø
*F`
‹
I ¡I
.¿'_,n_
1L /",`v
Iftftlfifv
É '‹"`,Í_'§Í'
á
I-
U
,'
fkhulrd
'
'ré
li'
¡§.i.-šäí'‹;íâ'z'"fÉ
z
"*`Ê^.3l~z¢;í¿›'Í
* ‹Í
-'1š?
*é?1'”};f~f.
`
fil, 3~.f'Í.,f}
-9'
_-
‹4
M'
,z
1 f:Ef€.Í-ii”.
.J
153 ‹fl
.-‹
K'
V
._ .Í ' ~ :r'_: ¿::;›'{ -Ê” - ,. _ -_z'›:_,,..êf*,v:Í" ~ ~..‹z _-
- _ V. -. __ ._ z ._.,;. .'\.;_¡ s z. ;~. :_
:Q-z,-L: * ; =.;'1.Í_: `.›:.'._' › E-í"~_§`_ ` gm _ _`_'(~. "~__:_ - ç ' { °;'f; fz. `-*.'_'.' ' ff' 'Í `
~.;›f. ' '
=›;¬.¬.;.-.‹~x_
g'~.^:v*~ lu .. '-. ~',~;: Ç* -'›_~
,
*' rg, ;;~» .`f~.-.$.- ~‹-..›-~~ .z
's'i..ZÍ`fiz‹2.›7›`Y*'+""'t:¡""*-"'i 'J ' `*‹`£, .`¿~';`â.'= - - °\;z'*;I›- -F' 'ffl'
_ z.zf›‹ « ~ -- ¬..f~ z» . .z .~z~ zzz.-. ~ -_ É Ft › nz . Js. .‹\ , .. _. __
'* "' -zfv ¬ *"'.:». - :._.. _ V ‹-='-."›='=_«~"- .~ * '
'¬ “ Â
2' ...dt-1 vê .› ~'!^'_;^°.›‹¡.'»rt..,' _
' ãt *X _., ,
' »'ff¿¿ 3;.. ,-.¿'.;...__. .
' z ;_. k; _
'¿_,}."'-¡~.1 _. :_ ^" `~
.. 'l-_ '- .í". ›z' `* f.-¬v' -
` ' 3.» ; já Y'-'l;~›'1¬~ ," À
'‹'- «_ __ .» $ffÂíz'šf>‹',f'*Í ' _.-'Í~>r~ ;“~'1_'g; 323 - ..›.;;_.=-"-z~Í-~,:›~*-`*~'
i "sz,z›z=.1 J-rf~;‹-"*~í;fl" '¬›› z ›- =›¬ as »«-fii~ «tz-_ _ ~ ~.,~z~ -- ~s.f.:»~f--..:..*“==-...- ›,-z.âà¬z,~;: :~1¬-~'=7.*`
_. =:-
.._¿›.
rd *fm sl;
I".
-4 .
_r¿
QI
¡,‹-.fi
dl i`,_,,.-'
flf =Í1`i‹“3z.
J
.
z 'Ê'
46"
!'f
3;
.Er
V- z`1~ 42
'“I1]*¡':`*
¿.› T'
šlf tw*
:~*iÍ"
Gn 1
~i*×
z
.,
F'
.
' I
zu
É-W' J-‹f*¬¡:'=.Ê»_Í.~;;;'__r -¿;àL:v.,-:5'~,'-z-.ff-ig:-fvs..' ` "'-› Lz- ';1¬`. ¡` ' :=,z›-«›z' ~
' ' ‹“ ` ' › ~-
I' ..z='.'1-.‹¬§=Ê››-.-.¢_ '“*"`---` ¬_':..z~ ° .zzrué ai. f-z .
" ffš-'s=_=-É.~- 'r . -kf-'=~ .:~~ ...¡- ,.......-›.~~ ¬¬^ -«gp '
- -
: __
-'z*<.::; s-.. ~...**~F'~.r_.;_.*'§,`.f;-.3;-_‹.‹z.=;~à*_f.~”* 9: 5. ”7"f;'.~ - *I ::..\z¿-_._;¿_;¬,-_:¿ ~¡--.'°*-nz-'z¬ £l:«`‹.`r=.‹.s~I¿›>?.'=`&z'.;&Ê:;`*...ÉÍ”z'f.¬ _ , ,
- '~;\¬ .- .am ..---.- 4' ~ -
' ^ › ¬» À _ v;_-f-_.- _ -\. ¬ ', -- ' -' A' _' ^ """ ` '“
. -' - -^~.=«e›.'f‹_,,..,,z.-z.-. «vw :í _'>*§;;Q^ . ...zz -
_ ~- › z _. _ ms. T..-sz Pia. z,¬‹¡____ ,fã _ _____,____, __ _ . _
~ ' '
_
~- _ _ t /'P -«- - __... _ ..-.. .
._ 4 , “_
F `_p
-_.-. 5_*¬'*" -~:"";, _
-.-"` 5* ,nm
' °-- \ _ ..
_ _ #4-
TRABALHANDO COM AS PALAVRAS E COM O DICIONARIO 1. Faça um x na alternativa que contém a palavra equivalente àquela em destaque na frase:
a. Comadre onça ficou pasmada de tanta agilidade. ( ) sabedoria l l esperteza ( ) fragilidade (><) ligeireza
b. Comadre onça ficou pasmada de tanta agilidade. (X) admirada ( ) humilhada ( ) invejosa ( ) desconfiada
c. Ainda um pouco ressabiado, o gato começou a lição. ( ) confuso ( ) malicioso (><) desconfiado ( ) cansado
d. O gato termina a lição, dando a discípula por pronta. (X) aluna ( ) parente l ) companheira ( ) colega
e. A onça, desapontada, disse-lhe: Este você não me ensinou. ( ) triste, melancólica ( l orgulhosa, arrogante (><) decepcionada, desiludida ( ) inteligente, esperta
2. A expressão olhar por um óculo, que aparece no fim do texto, significa: (X) ver de longe. ( ) ver bem. ( ) ver por meio de um Óculo. ( ) ver de perto.
3. Escreva novamente as frases, substituindo o que está em destaque por palavra ou expressão equivalente: a. A onça vai aprendendo todos aqueles manejos com certa facilidade. Ú ›o×›{,9t, 7/~p,‹,› a7¢;¢.ffl'LDL€,'›'›13‹z‹7' z‹'ÍÇ>c¬'.z‹z3 zúcz/z,az'úQQ;t -00-nz ¢zaz,¿š,
b. Já estou mestra na sua arte. _
ñ¿fl._.mIzQfl fmz ng, mw c. Mas o gato, que não nasceu ontem, deu de improviso outro pulo.
231
232
EXPLORANDO O TEXTO
1. Fleleia o texto e responda à pergunta abaixo, observando as ilustrações;
_ . .. .
""
I. _-_': '^-Y, ° ° -'‹_". -.y_:»"_,-'; 71 `\ | /I ~ ~ ...fp-
f~'rz;f¿~*›‹"* .' t
1-\">T' ›.¬-
\- .^- ›‹'ú_g;- ~:‹~z.› -;:;.>-z . *rw---1.';_
'Y-‹ - z -'\*~~?:='›:.
fl -.\ '›
/“' -" ^*=
'ij /' ”""' T ' ' f'°'¿`¿'-À*
34
li ,fir
st..
\\ .-~T'_<_¡z~v
,_
É 9 (lí.
s . I-_-z
'
__ .z :ly 1
.
\ 'K ¬z _ ›. _ . __.-
/5 ~1/...EQ " "~.-'=“z ãël *J '
i 6
V;-/2» z , 1° '_ - -' ~_.¡ _
° › §_-`?f`_ ¿ .
~. .
/ z /,
f K, :ÍH 3 5 *Á 1"
it té ff . ». ,zr
\_ ;;¿v*.'; ` `
‹ -_'.› U I ' ›› *z -
/' 'j
J: \ -_* ._ __ _ . _›J,,_____
:A ¡
_
'
L ,\4
ÍÀ
À 'r
«.
lyfvd \'
'
N/
\'
-‹ ×›.
*Ô _ _ ,¿¢› ~-~ ~~ ~-f- - __~.›-.z_:f‹z~z~f-~
Qual dos quadrinhos corresponde à história que você leu? ` ' /- - r ou ,¿.z.z.â75"9*r.éa, fledâz e. z_<» dz- vv.-2,_
2. A onça apresentou-se ao gato muito: l lcorajosamente. ( ltimidamente.
(>-‹ l gentilmente. ( l arrogantemente.
3. "Transcreva a passagem do texto que justifica sua resposta anterior. ~-M mm -wwfiêøz r /zeá/z_‹.-zëãff “~. .?.aZ'É*¡ í: ÃQ.'¬‹.2íø 'mf 1/›w¬/}×›o/c. za ,óâ.%¿rÍ-
4. O gato, nesta história, se revela: ( ) descontente. (><l esperto.
( )malvado. ( leducado.
5. A onça, nesta história, se revela: bl) traiçoeira. ( l corajosa.
( l orgulhosa. ( l tímida.
6. O pulo do gato, que serve de titulo ao texto, significa: ( ) uma ação planejada. i><) um truque escondido. ( ) uma armadilha. ( l uma reação inesperada.
DESENVOLVENDO AS HABILIDADES DE FALAR E REDIGIR __/
1. No texto que você leu, aparece a frase: \'
l
E, dizendo isto, o gato desapareceu. \
Podemos transmitir a mesma idéia com a frase:
\ E, ao dizer isto, o gato desapareceu. J
2.
3.
b
Transforme as frases abaixo de acordo com o modelo.-
E, ao aprender os saltos, a onça se julgou esperta.
233
~.mm.Q§¢,» mç@&~ a. E ao ler a história, sabemos que o gato foi mais esperto.
I/fo.,‹°'1/zrwfør az Az‹¿¿o®‹za,,,›a,Z¿vf›o= võ»zzz,‹`â
. E, o frazer os exercícios, compreendi a lição. g _ _ _,
c. E, a dar um pulo inesperado, gato surpreendešl a onça /§,_¡¿az›¬df¬.‹o~;rz¢‹Â" zznaí/>'f ,ø Í,'r‹z»Q›',/su//z,f›».1Lv~,dz«, azzøwzøb
d. E, ao repetir a lição, onça a rendeu o salto.
e. E, a dize i_sto, o ato desapareceu num salto de mestre. ,iz
A frase: I
O gato enganou a onça.I
equivale a O gato enganou-a.
Transforme as frases abaixo de acordo com o modelo: O gato venceu seus inimigos. @›2o;2'Zs› ?¿‹'?u«G¿‹z¿»-61/3.
a. O g to reservou seu truque. d. O gato ensinou muitos truques. íâzyazã/=l×10›zvo›‹z¢~›0'1/_ M ?¿áf4m4¿-zzgyzzoíz.
b. Ogãato dei ou a onça confusa. e. O gato enganou a raposa. ,?:pzz£ zc¿¿é7‹.op‹,-q/ zøvrlzluôa/ (Ú §g,ü',(/rní_.ø.'›1v1›<~'zQ-
c. A onça repetiu todos os saltos. '
of ,Q-n‹<;a,¿;g»,zz€dz¢»Áo5›
Observe a passagem do texto que nós reescrevemos: ~
O gato pula daqui, pula dali, recua ã direita avança â esquerda, descelpelos galhos e
rola-se na poeira.
Nela aparecem seis ações praticadas pelo gato: o gato pula, pula, recua, avança, desce e rola-se.
Escreva uma frase contendo pelo menos quatro ações praticadas: a. por um jogador de futebol
b. por um motorista de táxi
c. por um salva-vidas
4.' O espaço é todo seu...
234
Carlos Drummond de Andrade fez um texto com frases ou expressões utilizadas a toda hora em nosso dia- a-dia. Ele começou assim:
O QUE SE DEZ QUE FRIO/ QUE VENTO! Que calor! Que caro' Que absurda'
Que bacana' Que tristeza! Que tarde! Que amor! Que besteira! Que esperança! Que modos' Que noite! Que graça! Que horror! Que doçura' Que novidade! Que susto! Que pão! Que uexame!
r -r dr r Que mentira. Que conƒusao. Que ui a. Que coisa. Que talento' ' Que alívio! Que nada...
Vocë pode continuar. É só lembrar a frase ou a expressão e escrever. Assim: Bom dial Desculpe! Que horas são?
Que tal o texto que você criou? Troque-o com os colegas e peça opiniões a
respeito. Em seguida, leia-o para a classe.
AS PALAVRAS E AS FRASES DE NOSSA LÍNGUA Na comunicação falada ou escrita, utilizamos palavras. Palavras que escolhemos e que vamos or-
denando de acordo com nossas preferências e de acordo com as situações. Há palavras que empregamos mais vezes; outras, menos. Algumas não podem ser dispensadas
da frase; outras são mais ou menos desnecessárias e funcionam como enfeite. Há, ainda, palavras muito novas, que estão surgindo agora e que nem chegaram a ser registradas
no dicionáiiü. Vamos penetrar agora neste mundo de palavras?
Ir. orcar' ( riizi,›ui ou a dr.r/'rem fm inrifm. 3. lyi.ialar_ ziusiar; comparar. 0 r i› rn /iu r a r n rrnrrrnvrum as det/rrmt 4. icluir (nnipurnu (ur drlrm rnrfr 0' _- pffia dr nimir lDzl'eciivo- Não c us nas
ÍIIU) IILIIIIIII \.\.Ild\|\J) IIIUIIU l\-¡|')'\¡› `“' "'-"“'V' gomplztzndg _ z e 0 m u n h à o perfeita das suas almas." (Eça de Queirós. Ox Maias. Il. D. Zbl) S.
Con¡untn daqueles qui €0mU"E3f“ "°$ “"“m°* ideais. crencas ou oplfliöcs. C0mUmd-°fÚ¢~
. _ › .¬
do mz, md›| fomuntll 1” -
'
_ Ad, 2' Out pod: ̀ C' cnmpu¡¡do_ (ri Í .ÊIÚÍÕL UBÍIOBOL' us. Ó! r*C"flunicavel S nr I. Kquele que organiza o comput ff-. ”
_ _
l.irisla.1. O encarregado de recchcr re (0IflU"I¡I<lU- IDG lar. rrrmmunirarrnnel S I I. ÀIO Dt- : apostolica i' Du Ia:_ rrzmpuru I S ni I. (`mnaI Córäuto o. 2. Contapem. 3. (`álculo(ll Ô fôgputo ›. Crannl Serie de regras pelas o_-.i¿-s se 'H '45 datas das festas moveis das cjas I* K dir stmpiesmenic rómpurol fl ddr \`.mi-iiruru (I). 441 c 1. nr \`. mmiism 5 P1 Posrtuismo 45/ 2 z. I. Pertencem: ou relativo (omte lt-_ ¡›¢›;i¡ii¬mi›igl_ ou proprio dele.
efeito dc cornunicar(-stl.1~ ^\0 0" =Í""" Ú' "ml"- transmitir c recchcr mensalffim PC" "“"°'d' "'“°d°5 c/ou processos izomcncionados. Qu" 3"” U d¡ |""' guagem falada ou escrna. quer de outros sinais. HP' nos ou simbolos. quer de aparzlhamento tecnico zspccialiudo. sonoro c/ou visual. 3. I' :xr A ação oz utilizar os meios necessarios pill Irilillr Dl comunicacao 4. P. rx! A mensagem recebida por msgs mzi°¡_ 5, O i:on¡unto de conhecimentos relati- sns a comunicado (Bl. DU QUI? 'fm """l"¡'f-'U'
m ela. ministrado nas respectivas faculdade
if POÚC COTTIUIIICIY. Â. CIPBFISIVO. II'3I"|L`O
Comunidade. IDo lat. ‹¬r›rnmunrmle.I S.ƒ. I. ( ou estado do oue e` comum. comunhão: Hd r n m u ri ida dr dr ¡nrnr_ur_r. 2. Concordai Íormidade. identidade' ro m u n ida dr de rar 3. Posse. ohriyacão ou direito em com corpo social; a sociedade: As leu armpri r 0 n-i u n ida de . S. Qualquer grupo soi membros habitam uma refiào determinada mesmo |.›o\erno e estäo irmanados por un' herança cultural e historica. 6. Qualquer *populacional considerado como um todo. c ie aspectos geográficos. economicos e/ou iomuns. 0 r o ni u n ida de Iarino-amu irupo de pessoas considerado. dentro de tação social complexa. em suas caracterist
Á-ificas e indisidualiranles a r n ni u n r d mmnnunrrr 8. Grupo de pessoas que ci u_r*;a mesma crença ou ideal n rum ni rardlim 9. Grupo dc p‹ssoas que vivem subi
eira seção A frase e seus tipos
/
uando nos comunicamos através da linguagem verbal, selecionamos algumas palavras que me-
pressam o que queremos transmitir. _
s vezes, com uma só palavra conseguimos transmitir uma idéia, um sentimento. Outras vezes,
itamos de mais palavras para transmitir nossa mensagem. Tudo depende das circunstâncias e
sa vontade. bserve os dois conjuntos de mensagens:
/¡ \ Pfest
Ç\3\ÔaÔo Atenção! e are“Ção!
P‹'=1f3bé"si Tenha mais cuidado! 3 VOCÊ ‹esef\Í0
Meus Dalabénsim
=, responda:
al a diferença entre os dois conjuntos?
r .z._1¡l../a 14. IIÍÍ4 -Í 44_4 .I. l-l..4. Í ll 4.4 I*
I '
,
frzz.y›'¡¿J0 /'/›2¿!/ âfl-Á7' 'O07'¿1/ J¿á22Q/ /QO' 4 '
fee 7 z ›e¿°-
4-4 ,___¿/›«z.?.,¢._/zzzzila' mo/ ,~,- -zzozzzz, -›z,~‹zzú;.4¿ ÚLL -U/›nza_- ;z›.,az_Ã/1/r.›»›/.z,_
de-se dizer que há semelhança entre os dois conjuntos?
fi ‹¡nofzz?4.a¿z -zzzz.za.-.ezaaó
\\\
,_f~- -._ '
-w '- - ~.__-_›^_ ,_
' __ -- --- ..'_z;‹ ..2:':I',"..._....:.
{ .__Frase é,:pois, uma_ mensagem transmitida através de uma ou mais palavras. J -~-' .»_.,..‹'.,.-w. ;..;‹ ..›_-~.. --¡,..-.:z..';_;_...~__: 1 _.'..-.~. _ f-_' ›,. ›-1-4, ___|..._z;_- -\ ' -
és da frase: declaramos algo a respeito de alguém ou de alguma coisa. Ex.: A onça ficou pasmada com tanta agilidade. perguntamos algo. Ex.: Você acha que sou capaz disso? mandamos alguém praticar ou deixar de praticar um ato. Ex.: Espere, compadre gato.
I exteriorizamos nosso estado de alma (admiração, medo, desprezo, irritação etc. ...l
Ex.: que salto perfeito! I exteriorizamos um desejo.
'
Ex.: Que a sorte te auxilie! Então, quando fazemos uma frase é para Resultam dessas situações os seguintes tipos de frase
DECLARAR oEcLARAT|vA PERGUNTAR iNTERRot;AT|vA
ORDENAR iMPERAT|vA e×cu›.MAR e×ci_AMAT|vA
DESEJAR oPTAT|vA
235
~Í'f" f -A _ H 236
Exercícios
1. Siga o modelo e leia com expressão:a bc
de
a bc
de
A onça pulou.'
ÁfÍz9r›,ç,azfi¿z&uz.7 _ É¿&+~ z9»¿z¿ç¿2../
&1_@n,§c1z¡o‹¢‹,,›”×S*<»~'«./
_Úz<_aiaí
O gato venceu. a. O gato enganou a onça. ‹.9 vf/›aúc‹z¢, P b. C0 Q, â-wgaz?
¿Ú.‹/floa-.-00' zewbrzo zâkøldf ¢_//27%/»2»oá,o¬,1,0¢z, z;,t,&fÍ ' ny, f 0 ~ 1;” `
(Úz;zgzC0' 7»m»z,czuz‹,/ d.
2. Complete:a
b
c
d 8.
f.fl.X>(.~J?\7
As frases de letra a são As frases de letra b são ~? 4/5/1'fv\.¿l/'
. f _
As frases de letra c são /fi'f'2;f:z(/1/2» ‹/V~Olz4/
As frases de letra d são
As frases de letra e são _
F
.._____í...-,._..v_, __ -....__,_..-...___ __' ___... ___ .._,__ - ._ f___ V ¬.,_.__ ____,.___ A, _ * Observação: Todos os tipos de frase, como você pôde constatar através da leitura,
tëm uma melodia lentoação) característica, tanto assim que, mudando a melodia, " mudamos o sentido da frase.`f“"_ ""`Í" Í`_"*`" "`”'°`”""""""` " '”` "'
l
' A melodia ou a entoaçãofda frase é assinalada na lingua escrita, pelos sinais de II
Í
'pontuaçãot' M' '_*'Í."`""Í “.'.“Í*_f'__ "_".`”M "_ `"` `"' " `
`l` . o ponto - empregado fundamentalmente para indicar o término de uma r oração declarativa. _
~'
n o ponto de interrogação' 'Ê-“empregado no fim de qualquerinterrogação.
l 1 o ponto de exclamação - empregado depoiside qualduerienunciado de
' J entoação exclamativa. É empregado, pois, normalmente, nas orações excla-
;
matrvas, rmperatrvas e optatrvas. _. .~ ,z _¢;^z'~-. sz f ~ _. " ' 4' - _
L... _-.-- . _-_» __..__.._» -._.¬._...__,._._....-....f.¡.. “_ _.›..z,._._____--.__.,__,___,___,__ *. V
X
3. Numere a segunda coluna de acordo c/:om a primeira: 1
`
l l Frase declarativa 7' Pois sou lá capaz dissol...
Frase interrogativa ( 3) Ensine-me agora todos os truquesl
Frase imperativa ( 5) Tomara que eu agarre o gato. Frase exclamativa ( 21) Mas como, você não sabe saltar? Frase optativa ( 7) O gato foi muito esperto.
4. Escreva 2 frases declarativas e 2 interrogativas.
-gw-w ' ""*?7 * '
gunda seção ' A interjeição - um tipo de frase/ Quando queremos exprimir sentimentos ou emoções súbitas, muitas vezes empregamos ape- ma palavra que, naquele momento, equivale a toda uma frase. São as interjeições.
«gi ÂULIXQÍ QQ.. f É/; I' fia S?
Ê Ah! . âoüo ce* Alô! ow*1
.
_ -__ _ , ____.1 lnterjeições são palavras que exprimem emoções ou sentimentos re-
pentinos_ ‹
.___._,_.__.._.___ _. _.- ..._í_. _...__..__i._.._ _ _._-.-. .__ _.____-______,-.._.,_____ ..-_..¿ __ _
s vezes, porém, empregamos duas ou mais palavras que equivalem a uma interjeição. ssim:
í
r
` l
"" Muito bem' .mofdam ,, diga!
O5 me N00 Macae Que
Ora bolas! aflçaj 881961*
ão as Locuçóes WTERJÉHVAS.
s interjeições, entre outras coisas, podem expressar:
desejo admiração advertência aplauso
espanto dor saudação áändo
'CÍUÍO
Psiu! ( / Olá! ( V
Puxa! (6 Ahl (5
-umere a segunda coluna de acordo com a primeira: Tomaral ( 2,)
)
)
Otimo! l 5) )
)
Cuidado! l 7) Uil l 4)
silêncio desejo dor admiração espanto saudação advertência aplauso
237
- v 238
UM CANTINHO PARA A ORTOGRAFIA
A conquista das letras
Durante muitos e muitos anos, a hum nidade viveu não sabendo se comunicar através da lingua
escrita. Nossos antepassados, então, vivizšn de maneira pouco diferente dos animais: habitavam ca-
vernas que a própria natureza abrira nas rochas e alimentavam-se de ervas, frutas e carnes, que conse-
guiam em perigosas caçadas.
Iáíífl ššvë -<l~4 se ›-<9\<)°›\`lIEl2?'¿
i:~:::5:i “17$ozr«q>qw›‹
“é” si Á~
rt se 1 ¿<z aa <ci>virivs=rt›im-it WW frjy 1 Ba 6; 2. Az C®§=PRiMVí-NÀVAL
E«M'fl)EÍÍ(Ê\/iif ÊFÍÍLÀ LL Ê5 7 Ê O » $ENiim\1¢‹›tuIEm2rzL
A invenção da escrita trouxe enormes progressos para a humanidade. Como você já sabe, todo o
conhecimento, todas as descobertas e experiências - de hoje e do passado - chegam até nós atra- vés do livro, do jornal, das revistas, enfim, da lingua escrita.
É a escrita, pois, que torna possivel o acúmulo de conhecimentos de todos os campos e sua
transmissão fiel de geração para geração. Assim, não precisamos redescobrir o que os outros já têm
descoberto; podemos avançar a partir do ponto onde eles chegaram.`
Responda: \
1. Todos os conhecimentos, todas as descobertas ou as invenções poderiam ser transmitidos fielmente sem a
escrita? Por quê? _
-*Í/_1 />,a¿_7,0`b1× zwzfa -flvM×0Éfi/.v,- 1/z-»%z‹z óáfiw zpozzíw-fz, /M/›× zzakíãzzdafà/ L/ .
--' aí/ Q4,‹za/›¬.¿(za¿az¿2Í(, 69-›øz¡,,,-,QO ‹0¿¢ QOr›/›~¿p¿-,›‹r›zo-rzzããçx/, -øíz/.r»oOÓ~Q.\z¿ã/_`.l/.¿
az QO-/›v%,,,.¿, /.za o6¿fl»@1zçø‹›z/ø-zz‹zøiz¿¿‹7/›Afi»‹z/a/.1/
or que a escrita foi uma grande invenção?
éw
zzzz zzz fzwl ››«;¿×1 wzzz z,¿z¢zz.~z~2 ',¿ __/,cgzzói/,_ L/›iJ_Q§_/,.\»<'z/~ú¿¿
zc‹_)r›Í»&ú¢`7fzzo-›:=-IQ5'.<›/ -04 fzóf/rív
zíífi/›f›@:fW'¿f }¿0_^f>* _Lf»_¿; /C* _;›~»0f.1~w;2f1;0' - .
Ú -os _ __ .
I VIDA DE COÀVÍPLE/WENTAR Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
-I
ogooo×4cnu¬_1>wro...
Nao entender patavina. Por urn triz. Ser como o cão com o gato. Morder os lábios. Andar com a cabeça no ar. Surdo como uma porta. Não ter nada com o peixe. Ficar de nariz torcido. Arriscar a pele. Ficar com os cabelos em pé.
Custar os olhos da cara.
‹4_› ii 2/i
té) iõi
f› 5)
Q
'fi
U0) (5)
(Fl
Dei×z‹ alguém de boca aberta. (5)
Falar pelos cotovelos. Ter cara de poucos amigos.
‹5› ‹*×›
Lutar com unhas e dentes. '
( 5)
Saber na ponta da lingua. (5) ( /i
Bicho de sete cabeças. Quebrar a cabeça. ( Õ)
‹ 7 ›
Ficar de braços cruzados.
Não entender nada. Estar sempre em briga. Ficar contrariado, com raiva. Andar distraído. Por pouco. Ser muito surdo. Zangar-se, mostrar na cara. Não ter nada a ver com o caso. Ter muito medo. Expor-se a um perigo.
Pensar muito. Não fazer nada. Lutar com todos os recur. as.
._____íi__ _ .____
Ser carrancudo, estar de mau humor. Saber de cor e salteado. Falar muito. Custar muito caro. Causar grande espanto. Coisa muito complicada.
Agora, você, juntamente com o seu grupo, irá compor pequenos parágrafos com as expressões que o pro-
fessor distribuirá. Em seguida, um representante do grupo lerá para a classe o trabalho realizado.
A respeito da validade da utilização dos quadrinhos em livros-texto, sugerimos
ao colega as obras sobre o assunto que constam na bibli0graf¡a_
239
240
õê SÉRIE
”_=›¿z§¿-.l;›._~_` :»*~- _ z, 8 sf ,."~' '›¬.¿_-_?
_T.`Ê,:_ ,. .
› ) .I ~~____{'¡_
lfirfl .z =
-i;". "\`à › / .'.
`
. f
_ ._.-,ff:â{_*`g`,_ rat..
g '-."§_`f_i!:* fl 3 '-' ':.‹.-:ff-j;-¬-'zcz
~ -
. z~
E» -- ~~.zz.-z-z§',fà-â-~- ~ \ -.. H=E=@'! *
.. -';§‹=;:~.‹§~' , A .
'
- › ¬. q 21;” '_=¿¿;_z 1, ,›' z
" ' ~__~ - . ':= -.»z¬.' â_
. -u_u 'T ._-V
A
'<f;¿;'¡-¡;.z“°*','¡_-_~:z ¡._.'¡: ;.. f -.`__,_,/ .Ã ~ 55.3 _-,
_
T _ ~ ', ` >'_ '- " : É . ,
~
, _ , .' 'z _2. ~:Í7¿ - ' ' '-_ ~ ;,1?Í;¡
.l;›`,L; ` ` _
_ ff '
(Í` ›' - `-1~_'_§¡ ›_\_§'¬ ~‹.\_ -sz-1
. ~~-.z- -~ ff'--A z ; ~-;.T‹=é V z>z.}=
A A z z .. ¿ z :.¡_
(Í)
,
“Í
x -HÁ-ndláøflfldúih
fl] 11'? WH “T”
i ll'-G
¬
Wi)
:_ K* I. _ ,J
' ~ ,.'.'; -V '..~Íf- Í'_;;;__.-Ê._.'Í`.l“Í`.".;:-I › `;_"'
Chefe de Saquarema falando Chefe de Morretes ouvindo
.›‹
z
Lu
1-:STUDANDO A GRAMÁTICA DE NossA LÍNGUA . A FRASE E seus TIPOS
ÀO homem é um ser de linguagens Por onde quer que nos voltemos, encontraremos o homem comunicando-se através de lingua~
gens que ele próprio criou. E por isso que ele pode ser definido como o animal que se comunica. o criador de meios de comunicação, 0 criador de códigos, o ser de linguagens.
As linguagens utilizadas pelo homem, como você já sabe, podem ser divididas em dois grupos: u o da linguagem verbal
e 1 o da linguagem não verbal. Como você estudou, na unidade anterior, a linguagem verbal é a linguagem que utiliza palavras,
escritas ou faladas. Quando nos comunicamos através da linguagem verbal, isto é, através de palavras, selecionamos
aquelas que melhor expressam o que queremos transmitir. As vezes, com uma só palavra conseguimos transmitir uma idéia, um sentimento, uma ordem...
Outras vezes, necessitamos de mais palavras paratransmitir nossa mensagem. Tudo depende das cir- cunstâncias e da nossa vontade.
Observe os dois conjuntos de mensagens:
Faça silêncio!
Silêncio!
Socorro! \~ imediatamente! Rua;
Como se pode ver, entre os dois conjuntos há uma diferença: as mensagens do primeiro estão formadas por uma única palavra, enquanto as do segundo, por
duas ou mais palavras,e
há uma semelhança: ambos expressam a mesma idéia, a mesma mensagem.
|\ Ajudem-me por favor!
`241
As mensagens dos dois conjuntos da-se o nome de frase. - \-fvwriiz' "' ' ._ ,¬._ _ _¬ rd-vt ' f - z z _ _ _
' ' 'f ,I-~ › ¬ '." _-' ;‹ .. ~~' z. -'~›¬-_ '_ . '.‹- "¬~3`>¬-;-;;.¬ ¬¬.7. I. ¬ " '
Y. Y _~ ›f¬ ---›f-la-'f-.¿.-'fz Q
›, .-..z› _. A ___ ¿ .__ .-.-››'r__,_',_ WH. __ _ _,-_,-,___,..,_-...___ _
E;-`i;aše_e¿uma mensage... transmitida atraves de uma ou mais pa`lavras.`
' ` f“""'r"^f"¿›**`*""'fi U""'^""-'W' *LL *'f<^_'¿"'›'r` '*-._.-__~..¡.i;4 -_-`.\ f ` -"!=`-n-`-9: ` _-*_ .í›._-'_'~;: - _
As frases são empregadas em nossas mensagens com diferentes finalidades: rn declarar algo a respeito de alguém ou de alguma coisa; n perguntar algo a alguem; n mandar alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa; n exteriorizar um estado de alma; I exteriorizar um desejo. Vamos comprovar o que se disse? Observe os quadrinhos e preencha as lacunas:
';.;¿."'§-fz» , _;';¡‹§;~‹jz~;z;‹¬_f--* b~ j:~› VOCÊS VlRAM " _.› _,_._.. 1-_'.:2§'z
' -V
Ff ›'*._}`¢~€¬~ ._ _' \r{,K`!`
' 7* '”?. '-‹-.-.:".~.”~_Ê.Íí` : _.
1. u vw 'z_.-' `l"Ê`; :C3 ..í .
~~ -¬ ~ ' ~' ~_‹ -- _
›=,- ~¬-z=›-"›--> H--1 """ "")`°5'~' 'Í ~°"°# Í" ri Ô MÀÍÊCÊUNHU PGR "*T-`i*=Ê~`¿¬'~"a*1‹"'~=Í?*f;1:-?f'*~f‹-'-75
P” ~~ -
' Li; ÍÍÍÍ'-¬~‹Í'S-`¬.f -2' -à T-`~_"¬`?¬›-f4.Vl
oc. , _ ..._ .
-'-*.?.?..Í -3. -
;... ¶:~_Ê‹›-;-;¬-_
~,'.-¿_-P. - .-_--.- 3% \s› Ç;
2!; `šš`>..
*GilW~ `\.
^ ` ':-_ 7 _ .__._ƒ'-*Í ~
'-~=' .\¿` óa (Na `-" 1».,~›'*` _
°~ä`‹ ~ê
z ~ o
-_ . .- 1'-12 \~-_.~~,. ~;-_
'_ \\<\ OQ t- _.šñ..,..À_ `_!_š_.;V‹'_› 4 \ - "\ ¡.¿_L¡fL~.
*ri
tÍ`.f.fj_ “_ _ _
_
` '
` "
o' -iz'.' ^z' ~- ›-_ _
fi i
\0' U' ,
' ' *Í › -'_ P ~.~¿ _ .'›
‹°° ea ó<*'° 6° ' rf.” 4 *za-. -"
_--
os \4\zø\`z®5 5 z‹›°€5<,z*° ,_ ii
_ “¿¡.¿›,›_~ ¿¬f
_ .-.-_.. .
‹° ea wa' z° : Tí fl-_»--' .zífzzez-'=,»'z~;z¬._
`
~ Wawz GGOQQB ;›'1_'\“ ›' .- _ ' ri;-2 .¬;r-›r.F.'- gf à,-4;;-_.`¿¿'
\i
:-`f‹f`> -~*~ _ mir _ _
Através da frase, ~_fl¿;fl¿¿'a¢ 4/_ Através da frase, ~'@ 1
ÍI
zu/1 padgz É . ,az
_ --‹..v.› ._- ~<¬':°~1= -- .
- .':,""v¬- ~,._'- _
-__ '-.'.'..›. _.
'z'}L.Ífzz*. ¡".1'Í›;- ,Y >*‹=Ê›5¿Ê..-="5-fa.-_ _
.,_~__,_,..›-«_ ;_._--'=-:fr _.,, __
/ ~;~ i.¿¿.-;¿~:f:~*¬¬'- i - .¿;¿.~-,- -_ -;
if
_.. .Nu
‹ .1-í ' ":~z"
Sus~ ,i
%`%
W. PARE- - _
.g.,_-é '
-.z.;.__,
f _ «â z. ,
“ -. 51'
A ~ ii\\ _ \§¬,,` 3% 1A VK'_
_
W' a,,,,a ; as
5,; W- .
i" -t ›
_
Afraves da frase, _
M' Através da frase, ¿~ /'LC' W/'*"'4'Ê :ii
4'?3Êëš` -_`
0 PROTEJAM! » raw-'f Í"°"“^¡'r _`Í"*¬"ÍFš"Íš'_.ÍÍÍ:.-_
M ifs A
;
Í /`ä /“mi_
‹
_
4 .
'
. '
~ - ~~ -. «_-~ .,.$.~ ze-z
...'....,.-;z5 ._-_.j«_- -- ._;, z_7_^=_.._. _ - =›-‹ "*¬-*-u _. ~-¿~f~:›,_ -"~*ê_›"-.$z~'z:='›'_-',.z*=Êf°“* zz
'
' 1'-^ ' f ”~ mz øçr - r-I*
z F D
1 if `‹`~'ÍÇ: _ __ ` ` -‹.~.,
..-'°z› Í'~~:›é=:- - .
. 7. _. › ._~-;‹~~" .
.- Hr. " i ` '
a,¿¶,«/›¬‹»v ¢0‹»‹1a., .U .
a'
9- ~_- `-¬¡.--'* z- __z§:›
ouêosmiaos _
Através da frase, -zac. 741/ ¿““7“° `
O
Você completou corretamente as lacunas? Confira lendo o esquema abaixo: declara-se algo a respeito de alguém ou de alguma coisa; pergunta-se algo;
,,__,,...- manda-se alguém fazer algo; frases m exterioriza-se um estado de alma (admiração, emoção, medo, surpresa etc.l;
exterioriza-se um desejo. Através das
Das situações há pouco observadas, resultam cinco tipos de frases: oecLARATivA -
_ iNTEP.RoGATivA FRAsE -._ iMPsRAT|vA m EXCLAMATIVA
oPTAr|vA
<ercícios
Classifique as frases abaixo, colocando nos parênteses:
,`z~z-.`,`
D, para frase declarativa l, para frase interrogativa IM, para frase imperativa E, para frase exclamativa O, para frase optativa
Q l Perto do quilômetro 36, um carro quase foi atropelado! 5 l Que susto! Um trem fantasma! /~7l Abram a linha, abram a linha! 0) Que Deus te proteja, Marcelo! / l Como terminou a aventura?
\
Escreva duas frases: Vimperativas:
exclamativas: u
optativas:
IM CANTINHO PARA A ORTOGRAFIA
ité.
Uma dificuldade_para a grafia: um mesmo som representado por letras difefemeg
Um som, várias letras... É isso que complica a nossa grafia. Muitas vezes hesitamos ou erramgs Jibóiaé mesmo com j? Não é com g, não? E gesto é com g mesmo? E faxina está bem assim? O
eito (com il, não poucas vezes, é consultar um dicionáriQ___ Nesta seção de ortografia, vamos ver mais alguns casos de um som representado por mais de
ima letra. São casos bem simples, como voce verá. l. O som nhe, cujo simbolo é /ñ/, e transcrito pelas letras nh, conforme os exemplos:
ganho, lenha, ganhe. 2. O som lhê, cujo símbolo é /I/, é transcrito pelas letras lh. conforme os exemplos:
velho, folha, bclha.V
3. O som rrê, representado por /R/, é transcrito muitas vezes pelas letras rr conforme os exemplos' carro, guitarra, aterro.
242
l
__-Q
243
7a SÉRIE
.I
ESTUDANDQ A GRAMÁTICA oe rzfossA`1.ír‹euA ^
__, *fra-_°›‹a ¬f¿zv;'."-`-""..`1':'”` Í5`f*~1¬^_ ^ -W” *=':r"~;'"'""'Z """¬"`_ ‹›-_ -. . _
.k _ ..._ ...fi\<,~:¬r1,›a~H. _. ;~.~,-vb .~ "-=-. . .f _ ; . -. ~-;, z :_ ›
`--f›- -:.'=f.-1.‹..f-›.._*-¬s.-Çrif .“*‹›=-. 4:. ~‹ z .-'-=. - -';.:~; *- . .-‹ -.=:~‹.:.~L<'.z ri ~' .ê -- homem é_¿_o`;anâmal¬da¬¡mgua_gern_,~.o orcirzo-comunicaçao; .-
_';í'- ^-1-¿~.'__›:'›_'¿'_r>-_.°f"'l'.'._:z.;'=1*}'= .,-z,-1,=§¿-."2.-v*;;_-5;-.riu-:'.. ..*;~:z*.'~z f:,:,›'."..'-_?-` L---'.','. L;;.':¢z; "°fz›-1”-f *-1 ~
*ze '
_ a`fl:n¬=?!;a,f3¢â.5§¬==f%:seue.§sn.ãee9êâ;fi>ê;â.r.õfiS5r Gm., .-É-4* ›
' '›:'-'ff-i--.~~.-z-.-‹ '‹ =_ :_.¿ =-_.:'¬`;‹»-*Í
_:.šz‹í:;;.1A ngua_g emáä tinseparayej.,§Q§š¬9mem,¿seguindoàogm .toi ¿ ~“~ff*"~*»: rf-I-‹'~-~**-'-1 › *fi-= .z âfffi :› z. i- 1 - *fé -z; .~. “ci osos 15BUS;§tQ§¿r'-‹I<_”f.w=-.,e~¿¿+.ê¿Pâzz i ._¿=3›».._..¿._J_¢_---s=,1;*:.'.-$.¬< f;=z¬vç_-\-z--9 '¿_~.~..,.¿-r-*.r: ¢-' ;\~:'+›'--`-_,*..§_f.t';×âé:.-¬¿›f‹¿~-95:*-:'~-3 -_.z-f~.,›,- _-. .sff .iç
_ ‹¡ .linguagem e o_¿n§,trumento,-gregas.ao quero homem ex-,fg “ \i"~¿_,_-}'~~^'¬:z.›z,‹›_',-:_.1-.훧-...%›*?z={!.‹:Í:'!__z;¡= glif;'iT'Ã'=Z'3Ê`*?§.3.‹'.';I›¡**-¿€?..*.=-33.'¬51`&.-. `,;›‹, :__ _.'
" ;, ii; 3:' '-'
.
~ T . r`f',o'rešsa zseuspensamentos;aSeL;s_;;sen;imemos; suas _
emoçoes..-z,-` .-¿_,_¿.`,,~z_._.¿¡.'5_¡¿--__e~f.;~. .zz rz- -'=z.f.,›¿¢:;f;'f-Y:-¡.‹»¬zz =_>',i«;“_i*if‹-fi¬=¿f¿›ã:*T.›;.:$z>..-,‹;;.~;;.:¿;.:1'.- :3-~-er °:f:_; “_ -‹ :.; ,_- ¿-.›. -' ‹ ~ -3
-. 5925 vøntaõe§;¬~z~9~mSf:vm.Bnf0,;Qrâ‹;2sêeéâuflele :m§_i_u.õr›_‹êIe.B.šz ›-:
^'rgfff~'.-í*z‹f§J›.;;‹v-fz3@f;‹,-.;¬_ƒf*Í5'2§TÊ`f-§7'fÍtf..*.`<?='§F;¿?¬v:*: ~'.~I_';Í_¿f›:n.<:-.f_-.~'›"~ `“'.Ê›f .1.`z'-Yë..-1,'-~"› ';>."` _-,_`_-É influenciado a base ultima emais pro unda da sociedade~-
xx.-fu s-_~_--_;--;¿ ;~_» ~_;ͬ1=¬--1.r»' 'sr-4.-' ze,-'~';'_4-;»;¢-_--_-; ;.~I;-'<›‹¬'.-'-`:~'_ \4››_--Á_- ..._ z l-~s_z¬_z-__Í*~z;~`.;§
M
`.'f
~¬e.=f›*.°
d.-4.
‹›i'.
É
Se a linguagem é um bem incomparável, por que não dedicar algumas horas para estuda-la? `
Você não estuda a história e a geografia de seu pais, conhece-lhe os costumes, as tradições...? Por que não saber também um pouco mais sobre a língua portuguesa?
1. Que é uma lingua?1
Uma lingua pode ser considerada como um conjunto infinito de frases diferentes - 0 que possibili-É ta a transmissão de um conjunto infinito de mensagens. Mesmo que falássernos ou escrevëssemosf a vida inteira, não esgotariamos o número de frases possivel numa lingua. ›
Os sistemas de comunicação utilizados por outros animais não são assim. A-linguagem animal, que se processa através de frases-gritos, permite a transmissão de um número bem pequeno de men-; sagens. Os chimpanzés, por exemplo, dispõem apenas de vinte ou trinta gritos-frases que corres-l pondem a mensagens diversas: grito de alarma, grito de mando, grito do filhote que quer ser acari-§ ciado etc. _
¡
` `
l
Vamos sintetizar e reter as informações que você leu há pouco? Responda: *
a. Que é uma língua? `
_
/ ‹ ' - - ' P '
b. Qual a diferença entre o sistema de comunicação utilizado pelo homem e os sistemas de comunicação utilizados pelos outros animais? L
£ó›7,¬' M-4 , '
i
2. Que é uma frase? Língua = um conjunto infinito de frases. E frase? Observe a resposta de Josué Guimaraes à pergunta:
P - A gente nasce escritor ou se torne escritor? R - Também não sei. Creio que vocês vão continuar na dúvida. Pode ser que a
gente nasça escritor, mas se não trabalhar muito, se não escrever muito, ja- mais virá a së-Io. .
A resposta está formada por partes ou conjuntos, isto é, por pequenas mensagens ou informações que formam a mensagem maior, que é a resposta. Observe:
(Também nao seÍíC_reio que vocês vao continuar na dúvida. Pode ser que a gente nasça escriÍ (tor, mas se não trabalhar muito, se não escrever muito, jamais virá a sê-lo;-('*"'_'_J
t cada
la
.a
iu
uma das mensagens ou informações cercadas dá-se o _nome de frase.
¡,.__.._-......,›....-.T.w W* ¬1¬.z-.`‹.~,--¿_ _.. _ ___-. __ ›__ _ _ _.___,~ , _. _. _.. __-¬..._ . _... _ _ _ _ _ _ _
. .Ã
Êrasia é, pozs, afmener mensagem traz~.:'mš?id_e DE-r n;fz1}¿rzs¿._
lingua falada, ela tem uma entoação ou melodia particular. ' lingua escrita, ela inicia por letra maiúscula e termina por ponto, ponto de intarrogaçao
de 'exclamação ou reticências, dependendo do tipo de frase.
/amos sintetizar e reter as informações que você leu há pouco? Complete:
l.
I.
F¡35e鬢t/-,zf»(/rn??/-›-nz/:za-ø2.?,6'rfv
azg/z.a/.vfiz G/fztzu/17-z,ø.z 1v›f6~.a._¿a'l<» z‹s«u,-›-zz.›,¿a-õ¿¿zz,-¡^.zzz/zLL¿‹.c- Na lingua falada, /W. .
.
Na lingua escrita, zlfgaf ,'Í°*77/ *¿U;Â'“ 4/
4,-›«9»z~‹»¿Í:›×,7:ztrr\Í0"zo¿L ~V&w)>fÃl- ~I~LdO'/ rcício
_o‹.opo`¡mu14›‹.«›t×›¡-
Leia as frases com a entoação apropriada a fim de exprimir o que se pede entre parênteses: W
Oueridinho) (pena) Oueridinhol lzombaria)
I Que guriazinhal (admiração) Oue guriazinhal (irritação)
. Bom dial (entusiasmo, alegria, disposição) Bom dial (mau humor)
. Bom dial (ironia) Josué Guimarães escreve romances. (tom declarativo)
. Josué Guimarães escreve romances? (tom interrogativo) Josué Guimarães escreve romances! (tom exclamativol
`ipos de frase ~lá cinco tipos de frase:
declarativa - com a qual enunciamos um juizo a respeito de alguém, ou de alguma coisa: Desde garoto senti inclinação pelos livros. O autor não gosta de vida social intensa.
I interrogativa - com a qual perguntamos alguma coisa: Por que você escolheu ser escritor? Na escola você era bom aluno? imperativa - com a qual atuamos sobre alguém levando-o a praticar ou deixar de praticar al- guma coisa: Meia volta! Escreva mais depressal
I exclamativa - com a qual exteriorizamos admiração, irritação, desprezo, surpresa, ou outro estado de alma: Que absurdo! Puxa! optativa - com a qual expressamos um desejo: Bom fim de semanal `
Deus te abençoe!
244
ExercícioV
J
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: `l. frase decfarativa (
*U
(4/) (5) (3) (/)
2. frase interrogativa
3 frase imperativa (5 (5) (I) (21) (7) (1)
4. frase exclamative
5. frase optativa
4. Frase, período e oração '
_
~1J~u,_
A frase pode ser formada ~' = sem nenhum verbo:
Fogo! Socorro! J _,
I com um verbo: H __"'f S "“' 'ty
Faça fogo! ~ ,'
Socorra-me! r -- Í @ h
I com mais de um verbo: _
f- .__- ,I __
Mandei que fizessem fogo! 1? fz z « =-› f :_ -I" - *`-'_“'”
Ah! senhor, que grande escritor! Que bom!
Q
Seja bem-vindo, senhor! Rua! Suma daqui! Ele joga futebol muito mal. Abra a porta e jogue fora esse cigarro! Deixe de fumar! Fumar prejudica a saúde. Quem falou? Todos já falaram. Ele não se preocupa com a crítica.
245
Espero que você me socorra.
x Se a frase estiver formada sem verbo, recebe o nome de frase. _
I Se a frase estiver formada com um verbo, pode receber o nome de frase, periodo (simples) o
�
oração. I Se a frase estiver formada com mais de um verbo, pode receber o nome de frase e
periodo
Neste caso, o periodo é composto, formado por tantas orações quantos forem os verbos
Como você pode observar, o termo frase é o termo mais geral, mais abrangente: todo periodo
ou oração pode receber o nome de frase.
Exercicios
1. Complete adequadamente as lacunas com os termos frase, período e oração: a. Não escolhi ser escritor, aconteceu. ( ¿//mzzvczz ;..,‹/..‹',‹›‹‹›¿v* l
_
b. Desde garoto senti inclinação pelos livros. ( 7/,W.z.z‹, z 7zzzzz,¿›zzw/- ,ou-‹,.¡Àío')
c. Que infância! ( í)‹,,a/.\-C, )
d. Para escrever, os autores se baseiam naquilo que os jornais publicam. ()
e. O autor confessou que ler é importante. f. Redação: bom. ( ,íøzacózc )
g. Matemática: péssimo. ( .¿*'is«z›‹_, ) V
_
à
h. Josué Guimarães sentiu medo e responsabilidade quando viu seu primeiro livro publicado. ffiazu 7-=‹×›‹
��
i. E como são suas notas? ( ?«,,‹z,zz¢ _ 824955. i
2. Construa uma frase a. declarativa:
b. interrogativa:
C. imperativa: d. exclametiva: e. optativa: _
¿4b 8,? -SÉRIE
rsruoarzfoo A. GRAMÁTICA or; NossA LÍDJGUA av A CGMUNICAÇÂO E A FRASE i
1-sff:§‹*g¬=.r-:sr :=_f':=¬"".-_.: *rg :._LJ1 11.;-~ L.- fila ..'...=..-'::_‹.1..:
_ÉPritrieira seÇ_ãq§_¿f_¿.š introdução
_ \ ›- -. i.- - .‹ -
O homem é um ser de linguagens. Por onde quer que nos voltemos, nós o encontraremos comunicando-se através de linguagens ,
d d`d ie ele próprio criou. É por isso que ele po e ser efini o como o animal que se comunica. o cria- ›r de meios de comunicação, o criador de códigos, o ser de linguagens. "
l b d As linguagens utilizadas pe o homem, como você já sa e, po em ser divididas em dois grupos:
~ 1 o da linguagem verbal; '
n o da linguagem não verbal. `
g
K: Quando nos comunicamos através da linguagem verbal, utilizamo-nos de frases. -.
. '-:‹_ ;-›.-z_.. _~‹.~ _. _ _... . . .. ..~. 3.» .. -. ._ . ,.. _.. ,. .'
K ,.¡z(¬ Lr _`¿,_“,.. _»._ _, _. .¡ L -ff u,- ,,i ¿_`7~_¡ v 11,. r i < ii...-_¬_ __ -\,L_`__¿__,, ä`›3,j, IM:
‹ ›, ,_
z I 5 ;i,zÍÊ~Í.'ZFra's*eÍ.:ê fijma palavra' Íiiš-1”,
. -;°^__'_!›.›,_‹_.__¬ '~.~. '_ " .‹-r ... «_ 1- 'z
. 11' - '~.^§.'ë."f¬._: `;;.'.:'..»';'!`~;'-7 -À Ç1 * .1›':~¡.;;::.._'2-` ¡z^,=‹'1.'.1~'1' -“ 1_';_'_' '›'¡‹-_;_*_~-` ¡'_',, `,:f_5_‹ ',q _›~_.r,;;_¿'¿ _
_
~ ».‹'r.:z9@m -mem. como içqracieflshcës.PfIn¢1.pHIsi=aa%.=zÊ;-gr ' ~
. -' '.;‹»._›_;,.;í;'^›, ‹â^'.p›~.:'.“a-z' :i '-- Á"-›:'‹.~ ~ '_-_~.! "' ` :^.. - ¬,~;^.;'1~'_- À-;-g. ~~.›.'«›=°›-if. -,-”f~_ »~1"'.'-*‹¬=-'.^°.› ƒfb. .. .='~‹',_-1.-:ff -z ¿,à..5 ." 2;- *^"'¬=r,;‹¿
. z-zfz'¿z,_,.~ ›¿,-_›_¡ z, _zuma_.entoa<;ão¿definida,gque.¿§f_marôãdazná_zlingu_a ¿escrrtã_z_p_eios sina|s;'iie;¿§§ ¿.'¬¬i- r=.¿!.~¬=‹.:'â^~';f;2'
° ~ ' ~ ' :' 1. f'
.
~-
~ l;"f'uma"funçäo *ouafinal|dade,¿que,se_rvegpa_ra1;ç`ieclarar;¬ou§`pergunt'ärf;'älguirià'§ä›¿%`
.;*:'#"ff'-'?- ~ I Y ' " " “ "`" fz*-¬f';~.*Í.%*izí;šff¡›1~'L*~í.*í*×`›7>`*šfšfëifä'55â.§=-i#v3****ië2Y¬?š¢`
_ . ._-..»_›.;.-. ¬ cão ou um desejo.. ,.,... ..¬._ ^.›.z_._f¿._g,«,i¿¬¿.:;¿¡¬{.¡,` `.,‹‹f;..
. `._-. _.__... ›-'_'-1 z_›¿__` _:_ › .. _ H _ YL. _
› ._;¡§V.:.'~ 1
. :¿.z¿y§:\. ._ ¿_.‹ 1¡›_¿-Ai. _ '_›-Í»{'_ __f'.'_ '_¡'-,._
. l2:Í*).~.“1Ê`..a-9 ~=^ T › *.,_='¬'-' _. › -13;?-'>==z~ ~.=‹`.-'_-'1~Í_'~_.."ͧ.› '.:.'= r..'.‹=-'4' _-.-4.611; .'?-sf:
.
'
V
z
ç ú XGFCICIOS .
11.» Coloque os sinais de pontuação que foram retirados do texto: ¿
l ' O colégio
2 . :~ Íf`*~`%.
.. .'.".`....zF.~.`.*š='.”§*"S`.‹i 'fz
4
Eglantino, em início de alfabetização no MOBRAL, não é de perder tempo. Logo esteja de posse de conhe- cimentos básicos - do ferramental, diz ele -, pretende matricular-se em colégio. '
.* Que colégio é esse, 'Eglantino -7
g
" Bom, esse... ' Ouvi dizer que é muito simples e muito bacana Como ainda não está funcionando, deve ter vaga pra gente.
'
Então eu pensei...
-
" O Colégio Eleitoral O senhor não leu .7
' Mas esse colégio não é de ensinar, Eglantino-Não vai ter professores›Ou antes, vai ter, sim, mas eles não darão aula» '
Então pra que serve abrir mais um colégio, fazer uma despesa dessas, se não é para dar aula ? _
l " Num certo sentido, eles darão aula, mas não vai ser de Português, nem de Geografia, nem de Matemática E
. acho que a aula deles não deve interessar a você, por enquanto -
" Pode haver aula que não interessa-?Nesse caso, o professor (sem querer ofender quem não conheço) é in- competente-
' Engano seu, todos serão altamente competentesCompetentissimos- "Essa eu não manjei- "O Colégio vai ser constituido por senadores, deputados e... " Continuo por fora. O que é que esses distintos vão fazer num colégio?
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
l
É
,..._.-_?_
zi
i
‹
..-_-_.-.
san...-.,.«-»_.-‹¬
.
..
�
1 * 247
2. Leia a frase com a entoacão apropriada a fim de exprimir o que se pede entre parênteses:
r.__-. -.._. _.. _.. , -.-_ .__ ._._-l
a. Ministro! (pena) b. Ministro! (admiração) c. í/rirršstro! (zombaria) ó. r~.~'zr.¬¡sz‹0i iimzõçâól e. Ministro! (carinho) (_ Ele foi, e e sera sempre Ministro. (tom declarativo) g. Seu filho é Ministro? (tom interrogativo) h. Seu filho Ninistro chegou a Ministro! (tom exclamativó)
Segui-.cia seção Frase, p e oração (U :IllO D. O
Observe 0 gráfico:
Frase
sem verbo com{verbo(
frase periodo
com um verbo com mais de umverbo '
l ( período simples período composto (oração absoluta) '
Complete de acordo com o gráfico:
`l. O termo frase é o termo mais geral: aplica-se a mensagens sem verbo e a mensagens _'Í°í_1"'__l`f_/_"_”[_^:___.
2. Se a mensagem estiver construída sem verbo, recebe simplesmente o nome de ~__í__I
3. Se a mensagem estiver construida com verbo, recebe o nome de
4. Se o periodo contiver apenas um verbo, recebe o nome de ~ e a oracao /a,Ô1<››C‹.‹Ã, ' I
de .
5. Se o período contiver mais de um verbo, recebe o nome de _ÍÍ`°“*'°í¿`”/
Exercicios1
`l. Escreva, nos parênteses: 1 - para frase 2 ~ para frase - período simples (oração absoluta) 3 ~ para frase - periodo composto
a. (3 ) "Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas." (Tagore) b. (3 ) "Os homens fariam muitas coisas, se não julgassem tantas coisas impossíveis." (Malecherbes) c. (~'¿) "O homem otimista tem bondade no coração, amor no olhar, silêncio nas palavras e sorriso nos lá
bios."_
d. (QI) "O fracasso é também crescimento.” (Rosário Curado) -
e. (5 ) "Grande homem é aquele que não perdeu 0 coração de criança." (J. Wu) f. (3) "As grandes dores são mudas." (A.C. Jesus) -
g. (3) "Grande é aquele que sabe esquecer-se a si mesmo para fazer os outros felizes." (S.T_) h. (5) "Tudo vale a pena se a alma não é pequena.” (Fernando Pessoa) i. (2 ) O sorriso é o idioma do amor universal. j. (3 ) "Nada do que é feito por amor é pequeno." (C. Lubich) r. ‹' l carma! m.(1 ) Cuidado!
1
*Transforme o período simples em frase sem verbo. Siga o modelo: Os alimentos foram ingeridos pelas crianças.
l
,QO1 z>;¿z?/2-:fz/,I/_
a". O dinheiro foi extorquido pelos desonestos.u
b. Os caminhos foram obstruidos pelos trabalhadores.
`,á zo»Õ3§¿¿.5_,_-,},‹' 4,92/ c;ó:›/z~›-‹/,if-J1,‹5/.ëz ,
c. As palavras foram transcritas pelos alunos. _
i
fz? aLa/.\/;›aa,¿âz‹_›~2ø.×.»/ 7»-óéóíl p‹,L(,‹/rvifáf-.
id. As licenças foram concedidas pela direção.
e. Novos alunos serão admitidos pelas escolas.
I,
Transforme o período simples em frase sem verbo. Siga o modelo: . O amigo não foi fiel.
a. O texto não é legível. '
(/
b. A lei não é flexlvel.I
c. O decreto não é legítimo. / 1/
d. O cre or não foi senslvel
7
e. O alu o não tinha capacidade.
/ V -
Transforme os dois períodos simples num período composto. Siga o modelo: Eu conheço uma pessoa. Esta pessoa faria o trabalho.
a. O jogador pensava na torcida. A torcida gritava ruidosamente. _
frzzvri/Í.
b. Eu ouvi a música. A música está nas paradas de sucesso. /¿Q‹z‹,z9»‹×‹×¢/1 W 'rr›‹z‹/.»‹zca.›<a›»r,‹.¿ u1‹CÉz,'~›1za,ó»;¡.;›.ózz›zez..z¿a=×.›×d.z,z‹,‹,¢‹¿›4f9”.
D .
l
c. Vocês participarão da exposição. Ela se realizará amanhã. I -\ f ' Z '
“ “W” ““ “fm” WM Mem* d. O prãessor conhece alguns livros. Os livros tratam de energia nuclear.
-yvfizofè/ywfz ‹=›«>~^›~'^~'×°¢~ L‹'zw›z‹91;- ‹šz‹,‹..‹, @azÁ_×››¬z z/z¬1/z» '
Í ,
eu
apdz '-/1‹»(,‹ze(,â_/V .
1/ e. A moça veaia um casaco. casaco combinava com a saia.
\:¢ -rfvôfiflf vfzx/fiaz =‹/nv C4/yazze' ø¡z‹z‹x. z,0¬-‹›~¿¬.1z,óz,.›9._, Gowv az 7/Szancaz .
248