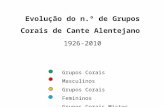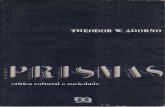edital de processo seletivo público n.º 10/2022 – nível médio
ESTADO, DEMOCRACIA E INFORMAÇÃO – Anotações ao art. 28 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil...
Transcript of ESTADO, DEMOCRACIA E INFORMAÇÃO – Anotações ao art. 28 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil...
1
ESTADO, DEMOCRACIA E INFORMAÇÃO –
Anotações ao art. 28 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
Jucemar da Silva Morais1
Resumo: Neste capítulo será feito um estudo sobre o Marco Civil e o impacto que essa nova lei, considerada a Constituição da Internet, gerará em toda a sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito aos desafios que o Estado passa a assumir para que seja garantida, com igualdade a todos e respeitados os direitos fundamentais, o uso consciente e responsável da internet. Depois de feitas reflexões em torno de temas que buscam contextualizar o cenário atual, caracterizado pela cada vez maior inserção das chamadas tecnologias da comunicação e informação (TIC) em praticamente todos os setores da sociedade, o estudo focará sua análise no art. 28 da Lei n.º 12.965/14 que trata da atuação estatal no fomento ao uso e desenvolvimento da internet no país.
Sumário: 1. Introdução. 2. Direito, Democracia e Internet. 2.1 Regulação e colisão de interesses no âmbito do Marco Civil. 2.2 Privacidade e segurança na rede. 3. Estado, fomento e planos de uso e desenvolvimento da internet. 3.1 Estado e planos referentes ao uso da internet no país. 3.1.1 Universalização do uso de internet e inclusão digital. 3.1.2 Marco Civil, Código de Defesa do Consumidor e diálogo de fontes. 3.1.3 ‘E-Government’ e participação popular pela via digital. 3.2 Estado e planos de desenvolvimento da internet. 3.2.1 Banda Larga e melhoria de serviços digitais e de acesso à rede. 3.2.2 Cidades digitais: utopia ou realidade possível?
Palavras-chave: Marco Civil da Internet – Estado e Democracia – Uso e desenvolvimento da internet.
1. Introdução.
Jean-Jacques Rousseau, ao buscar explicar do que se trata sua mais célebre obra, Do
Contrato Social, relega-nos a singela e também muito conhecida frase que, de certo modo, ainda
tem muito a instruir: “o homem nasceu livre, e em toda parte encontra-se sob ferros.”2
O que provocou ou provoca aquilo que o eminente pensador contratualista suíço, pré-
revolucionário, então chamou de mudança (do estado puro ou natural de liberdade para o estado
convencionado ou civil de liberdade3) ele próprio diz ignorar. O que releva, em verdade, é o que,
também em suas próprias palavras, a legitima. E, então, tivemos, a partir da ideia de liberdade
como um valor supremo, uma dos maiores contribuições para a filosofia política de todos os
tempos, essencial para as outras mudanças que moldariam a sociedade a partir de então:
transparência científica e o fim das barreiras ao conhecimento e à comunicação4.
1 Doutorando em Acesso à Justiça nas Constituições na Faculdade Autônoma de Direito – Fadisp/SP. Mestre em Direito pela Unesp, campus de Franca/SP. Professor de Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Direito Constitucional na Libertas Faculdades Integradas de São Sebastião do Paraíso/MG e Fafram – Faculdade Doutor Francisco Maeda de Ituverava/SP. Advogado. 2 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Trad. de Rolando Roque da Silva. Edição eletrônica (e-book). Ridendo Castigat Mores, 2002, p. 9. Disponível em: www.jahr.org. Acesso em: 13/06/2014. 3 De acordo com Rousseau, a adesão ao contrato social demanda perdas e ganhos por parte dos membros da sociedade. É certo que o aderente não mais terá a liberdade natural que o permitia fazer de tudo de forma ilimitada, de acordo com seus desejos e possibilidades, mesmo que para isso tenha de atingir outrem e dominá-lo. Por outro lado, o homem torna-se, em sociedade, verdadeiramente livre pois se vier adquirir bens, estes ficarão protegidos pela convenção estabelecida com todos. Por suas palavras, substitui-se “em sua conduta a Justiça ao instinto e imprimindo às suas ações a moralidade que antes lhes faltava.” ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 30. 4 Lembremos que foi Jürgen Habermas que, ao quebrar com o paradigma da consciência, propôs sua teoria da ação comunicativa, mais adequada à modernidade e ao que nesse capitulo será abordado. Para Habermas, o agir comunicativo “não é a relação de um sujeito solitário com algo no mundo objetivo que pode ser representado e
2
Ao menos em tese, claro.
De fato, sem liberdade, não há como se iniciar nada. E se não se pode retornar ou
mesmo conceber, hoje em dia, uma sociedade fundada naquele estado de liberdade natural, que
então seja escolhida a melhor forma desta ser exercida em sociedade, mesmo que limitada,
mesmo que “sob ferros”, sejam estes o contrato, a convenção social ou, porque não, o Direito.
O tempo que vivemos é outro, evidentemente. E muitas foram as revoluções (e pós-
revoluções) desde as contribuições trazidas pelos ideais iluministas. A sociedade em que
passamos a viver, especialmente a partir da segunda metade do século XX, trouxe desafios muito
mais complexos para se compreenderem os limites, bem como as mudanças pelas quais todos
passam para o legítimo exercício de suas liberdades individuais.
Tal como fez Rousseau ao delimitar o assunto que pretendia tratar, aqui também não
nos ocuparemos de buscar explicações acerca dessas diversas transformações ocorridas na
sociedade que emergiu a partir do século passado. Ao invés disso, buscaremos analisar como essa
era, por alguns denominada pós-moderna5, por meio dos seus diversificados graus de
complexidade, influencia, cria e transforma os canais pelos quais o indivíduo manifesta sua
autonomia.
E não há dúvida que, hodiernamente, uma das mais evidentes formas de se verificar
isso ocorre por meio das chamadas tecnologias da informação e da comunicação (TIC)6. Esta
nova (e definitiva) linguagem7 coloca a sociedade em rede, modifica as formas como se mobilizam
a vida econômica, política e social contemporânea e, dessa forma, reduz as barreiras de acesso ao
conhecimento e à informação. Em contrapartida, portanto, pode-se afirmar que os elementos
manipulado mas a relação intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam, assumem quando buscam o entendimento entre si, sobre algo. Ao fazer isto, os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social comum e em seu próprio mundo subjetivo.” HABERMAS, Jurgen. Teoria do Agir Comunicativo. Racionalidade d a Ação e Racionalização Social. Sao Paulo: Martins Fontes, 2012, Vol.1 p. 392. 5 De fato, não há consenso algum na utilização da expressão pós-modernidade. Alguns a adotam com tranquilidade, como é o caso de Boaventura de Souza Santos, outros a rejeitam, como Marshal Berman. Outros, ainda, preferem suas próprias denominações para representar a realidade contemporânea, como Bauman e sua concepção sobre a sociedade líquida. Para os fins do presente capítulo, ficaremos com esse conceito, muito embora, no decorrer do texto ele não se repita. Sobre os autores acima mencionados, cf., na ordem citada: SANTOS, Boaventura de Souza. Pelas Mãos de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade. 7.º Ed. Porto: Afrontamentos, 1999; BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. 1.ª Edição. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007; BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. 1.ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 6 Marcelo Thompson demonstra muito bem o cenário em que nos situamos: “Em seu seu livro Tecnopolitica, Stefano Rodotà argumenta que as novas tecnologias de comunicação proporcionam o surgimento de uma democracia contínua no tempo e no espaço.75 Nessa democracia, segundo Rodotà, o acesso às novas tecnologias promove a distribuição de poder de uma forma que, diversamente do que pregavam modelos teóricos anteriores, não acarreta a fragmentação política e social.76 Ao contrário, a redistribuição de poder promovida pelas novas tecnologias enseja uma conexão entre os diferentes sujeitos políticos e, com isso, possibilita um permanente reequilíbrio no qual repousa uma nova forma de estabilidade política — e uma diante da qual modalidades de autoritarismo perdem sua eficiência”. Cf. em THOMPSON, Marcelo. Marco civil ou demarcação de direitos? Democracia, razoabilidade e as fendas na internet do Brasil. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 261, p. 203-251, set./dez. 2012. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2101322. Acesso em: 08/06/2014. 7 O uso do termo é proposital e nos ajuda a compreender a relação entre o agir comunicativo habermasiano, já citado, inserido na realidade moderna, sendo a internet uma clara manifestação e concretização do brilhantismo de sua teoria.
3
caracterizadores da sociedade contemporânea (racionalização, cientificidade, tecnologia,
transparência, etc.), foram essenciais para que essas transformações ocorressem, ao passo que,
ao mesmo tempo, ficam cada vez mais evidentes os influxos que a própria sociedade sofre a partir
deste avanço e, dessa forma, também é transformada. Em síntese, juntamente com Manuel
Castells, esta sociedade apresenta como principal característica “a transformação da nossa cultura
material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da
tecnologia da informação”8.
Como facilmente se pode perceber, para uma melhor compreensão desta nova
realidade e dos impactos que surgem a partir dela, será então necessária uma abordagem que
permita uma compreensão mais clara e, preferencialmente, que simplifique a forma como todos
esses complexos e distintos fatores (sociais, tecnológicos, políticos, jurídicos, etc.) se interligam e
se intercomunicam. Podemos encontrar a concretização desse sentir em Niklas Luhmann, ao se
observar que em sua concepção da sociedade contemporânea, dentro de sua teoria dos sistemas,
esta pode ser compreendida como a unidade entre sistema e meio, ou seja, como um sistema
social que contém todos os demais sistemas (ou subsistemas) e todos os meios e que teria por
função principal reduzir a complexidade do mundo de tal maneira que ela possa ser entendida. A
partir dessa ideia, Luhmann nos conduz, de imediato, ao problema das contingências que, ao
nosso sentir, trata-se de característica intrínseca da realidade pós-moderna (múltiplas
possibilidades, pluralismo ideológico e cultural, realidade multifacetada etc.), enfatizando a
necessidade de um alto grau de liberdade na tomada de escolhas diante das várias alternativas
de atuação existentes9.
Mais uma vez ficamos diante da questão em torno do princípio da liberdade, de onde se
deu início a esta introdução. Fato é que, na sociedade contemporânea, de complexos sistemas e
múltiplas escolhas, a liberdade há de ir além da simples libertação ou retraimento na consciência
individual e alcançar um patamar que permita ao indivíduo lutar contra a lógica dominadora de uma
cultura de massa. Para Touraine, produzir e defender a diversidade dentro desse contexto é o
maior desafio da democracia na atualidade10.
8 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v.1), p. 67. 9 Para os fins do presente capítulo, considerando que a teoria dos sistemas de Luhman pareceu-nos uma referência obrigatória, essa apertada síntese se presta a demonstrar, de um modo racional, como a ideia de escolhas liberais continua presente, mesmo dia da complexidade intrínseca da sociedade contemporânea. Luhman, em sua obra Teoria do Sistemas Sociais, lança uma pergunta, exemplicativa do contingenciamento da sociedade moderna e que demonstra muito bem o dilema de se discutir a liberdade na sociedade contemporânea: “como é possível educar para a liberdade, se isso requer a influência do professor sobre o aluno?” Cf. LUHMAN, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoria general. Trad. Silvia Pappe y Brunhilde Erker. Barcelona: Anthropos; México: Universidad Iberoamericana; Santafé de Bogotá: CEJA, Pontificia Universidad Javeriana, 1998, p. 122. Sobre a teoria da sociedade como sistema, leitura obrigatória, evidentemente, para os fins do que aqui propomos, cf. RODRIGUES, Leo Peixoto et alli. Niklas Luhmann: A sociedade como sistema. 1.º Edição. Porto Alegre: PUC/RS, 2012. 10 TOURAINE, Alain. O que é democracia? 2.ª Edição. São Paulo: Petrópolis, 1996, p. 24.
4
E é nesse contexto que, a partir de então, começamos a nos aproximar do verdadeiro
objeto que guiará a análise que aqui faremos: a internet, a possibilidade de sua regulação e o
papel do Estado como garantidor e fomentador do seu melhor uso e desenvolvimento no país.
É esta a diretriz que se encontra positivada no art. 28 do chamado Marco Civil da
Internet Brasileira (Lei n.º 12.965 de 23 de abril de 2014), que por alguns vem sendo denominado
de Constituição da Internet, dada sua importância como marco regulatório originário dos
princípios, garantias e regras aplicáveis para o devido uso e desenvolvimento desse sistema que,
como todos sabemos, possibilita a estruturação de inúmeras redes em escala mundial e que,
inegavelmente, constitui importante meio para alavancar o desenvolvimento e expansão
tecnológica do Estado brasileiro.
E é sobre esse tema de grande premência que pretendemos, a partir daqui, tratar.
No sentido do que até o momento foi exposto, a internet é o sistema11 que representa
uma das mais vanguardistas e revolucionárias mudanças na forma como as tecnologias da
comunicação e informação influenciam e transformam a vida em sociedade (e por esta é
transformada). É também, disso não se pode duvidar, o espaço em que, dentre tantas formas de
manifestação (econômica, cultural, política etc.), é possível a todos (desde que todos tenham
acesso a ela) o exercício de suas liberdades individuais.
A internet é, em suma, um reflexo da própria sociedade. Nela são manifestadas todas
as vontades, todos os desejos, todas as virtudes e vícios próprios dos seus usuários. Não se trata,
simplesmente, de uma ferramenta para transmissão e recepção de dados, da mesma forma que o
computador (aparato do qual ela depende, mas não exclusivamente, considerando a existência,
hoje em dia, dos mais recentes aparelhos smartphones, smart TV, tablets e videogames que
garantem pleno acesso à rede) assim não mais pode ser considerado. Tal como a própria
sociedade concreta, a virtual, a rede das redes, representa uma infinitude de possibilidades, usos e
interações comunicacionais que, praticamente, não traça limites para o seu avanço contínuo, uma
vez inexistentes, por exemplo, fronteiras geográficas tal como ocorre no mundo físico12.
“Quando se vê um defeito em uma imagem refletida no espelho, não se deve consertar
o espelho, mas sim aquilo que nele é refletido”, disse em entrevista Vinton Cerf, vice-presidente da
Google, considerado um dos pais da internet13. Evidentemente, essa constatação vale para todos
11 Nos termos dispostos na Lei n.º 12.965/14 (Marco Civil da Internet Brasileira), art. 5.º, I, a internet é “o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes” BRASIL. Lei n.º 12.965 de 23 de abril de 2014. Estabele princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 08/06/2014. 12 Nem mesmo a língua é uma barreira, considerando que a cada dia se aperfeiçoam mais e mais os aplicativos de tradução simultânea. 13 Tradução livre a trecho de uma entrevista à Radio BBC, Vinton Cerf disse, falando sobre regulação da internet, que: "Most of the content on the network is contributed by the users of the internet," he said. "So what we're seeing on the net
5
os sentidos que se pode dar ao termo sociedade. E, assim, se de fato, pode-se considerar a
internet como uma versão virtual do mundo físico e dos indivíduos que nele vivem, evidente que
todas as transformações que se pretender fazer em seu ambiente, também deverão refletir as
mudanças que se puder e for possível de serem feitas na própria sociedade.
Apresentado, de forma breve, esse cenário, vamos às questões que aqui serão
discutidas: sendo a internet um reflexo da sociedade, logo, um ambiente de convivência humana,
embora virtual, e tendo nascido e se desenvolvido de forma livre, poder-se-ia considerar a
possibilidade de ser esta contida “sob ferros”? Como um sistema de múltiplas e indefiníveis
possibilidades e escolhas, ou seja, contingências próprias, de que modo será possível se garantir
um acesso que seja, a um só tempo, democrático e inclusivo? Qual o papel a ser desempenhado
pelo Estado e de que modo esse papel há de ser exercido sem que se desnaturem as
características intrínsecas que sempre marcaram a rede? Finalmente, de que forma o Direito há de
lidar com todas essas questões?
É a partir desses conceitos iniciais que passaremos, em seguida, à tentativa de
elucidação de referidos questionamentos, tendo-se por dispositivo norteador, como já se adiantou,
o art. 28 do Marco Civil da Internet Brasileira. No momento apropriado, estabeleceremos, a partir
do texto do referido artigo, os pontos que consideramos de maior relevância e que guiarão nossas
reflexões nesta temática.
2. Direito, Democracia e Internet.
Antes de partirmos para uma análise dos questionamentos deixados no tópico anterior,
ocupar-nos-emos, nesse momento, de ampliar um pouco mais o debate e buscar entender, de uma
maneira geral, a relação possível de ser estabelecida entre o Estado (considerando sua finalidade
preponderante de atingir o bem comum) e as condições de que este pode dispor para contribuir
com o progresso tecnológico e científico, em relação aos quais, todos bem sabem, guarda direta e
estreita relação com o uso e o desenvolvimento da internet14.
Fomentar estudos e o desenvolvimento da internet, em larga escala, no país não nos
parece possível sem a efetiva participação ou, de qualquer outro modo, incentivos e estratégias
por parte do Estado (em todas as suas esferas de governo, diga-se de passagem, como prevê o
is a reflection of the society we live in." "Maybe it is important for us to look at that society and try to do something about what's happening, what we are seeing He added: "When you have a problem in the mirror you do not fix the mirror, you fix that which is reflected in the mirror. Cf. em http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6968322.stm. Acesso em 15/05/2014. 14 Para aprofundamento na temática, cf. FLORES, Jaime Muñoz. El Papel Fundamental de Internet para el Desarollo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje y su impacto en la brecha digital. Revista Mexicana de Investigación Educativa – RMIE. Enero-Marzo, 2010. Vol. 15, n.º 44, pp. 17-33. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662010000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 11/06/2014; WOLCOT, Peter. A Framework for Assessing the Global Diffusion of the Internet. Journal of the Association for Information Sustems. Vol. 2, November, 2001. Disponível em: http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/rp/Wolcott_2001.pdf. Acesso em: 11/06/2014
6
art. 1.º do Marco Civil), tendo em vista a necessidade de ampliação e investimento em estrutura
científico-tecnológica de forma sólida.
Antes de mais nada é preciso se estabelecer que essa, digamos, obrigação do Estado
não deve ser entendida simplesmente a partir de um ponto de vista utilitarista da produção, ou seja,
que visa apenas um retorno financeiro e econômico, pois se assim fosse, poder-se-ia alegar que
essa atuação do Estado somente traria vantagens e ganhos a alguns poucos grupos isolados e
privilegiados por meio de financiamento estatal. Ao contrário, conforme já buscamos advertir no
início do texto, não podemos deixar de considerar que o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, não importa em qual ramo do saber, é também expressão e reflexo da criatividade e do
intelecto humano que se convertem em interesses ligados às liberdades individuais (e coletivas), ou
seja, trata-se da efetiva concretização de valores socioculturais que são essenciais para a completa
experiência humana em sociedade.
Por isso, talvez já tardiamente, cabe ao Estado manter-se, no mínimo, próximo a tais
mudanças nesse importante cenário.
Mais uma vez, devemos ressaltar e retornar ao ponto essencial da discussão, as
tecnologias da informação e comunicação, muito bem sintetizadas e sem dúvida alguma
imbricadas com a internet, são o melhor exemplo disso hoje em dia, o que faz da aprovação do
Marco Civil, no campo jurídico, um passo essencial para que esse compromisso estatal, de certo
modo natural para o desenvolvimento econômico, social, político e cultural, como já enfatizado,
torne-se, de fato, algo com maior notoriedade e que deva ser promovido também como aspecto de
efetivação de direitos fundamentais. Isso fica, aliás, bastante claro com a expressa previsão contida
no art. 2.º, II da Lei n.º 12.965/14, ao se estabelecer como fundamento do uso da rede o respeito à
liberdade de expressão e, além disso, aos “direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade
e o exercício da cidadania em meios digitais”.
A partir daí, considerando que a dignidade humana historicamente é entendida como
um valor democrático supremo15 elevado à categoria de fundamento constitucional da República e,
por essa mesma razão, um postulado a ser observado na maior medida possível para a efetiva
prevalência dos direitos humanos, temos então estabelecido o ponto de partida ideal para se
demarcar não só a aplicação do Marco Civil aos fatos que a partir dele se desenrolarão como,
ainda, essencial para a compreensão do contexto em que foi elaborado e, finalmente, aprovado.
15 A dignidade humana, inobstante sua inegável relevância, por vezes é alvo de intensos debates. Não nos ocuparemos deles aqui. No entanto, apenas para demonstrar como a entendemos e a razão da posição assumida no texto, socorrer-nos-emos da lição de Ingo Sarlet, para quem a dignidade humana é “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. Cf. SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 4ª. Edição, 2006.
7
Isso se deve, antes de tudo, aos temores de restrição e censura que muitos
consideraram possíveis assim que se começou a falar em regulação ou mera imposição de regras
de uso e das formas de expressão16 pela internet no âmbito da realidade brasileira, sendo “comum
ainda hoje ver a internet como um espaço de liberdade absoluta, irrestrita”17. Por outro lado, havia
(e há) também uma considerável parcela de vozes interessadas em estabelecer critérios rígidos de
controle sobre o que se deve ou não veicular via internet, meios de se buscar a responsabilidade
civil daqueles que atingem direitos de terceiros mesmo que no campo digital (utilizando-se dos
próprios padrões de anonimato e relativa segurança que a rede oferece no que diz respeito ao
sigilo de dados pessoais e etc.).
Controlada, ela deixa de ser um valioso instrumento de cidadania e efetiva participação,
para além de quaisquer fronteiras físicas ou ideológicas. Libertária, converte-se em panaceia
desarticulada e desintegradora, escudo para atividades escusas ou, simples e paradoxalmente,
mais um indesejado, porém poderoso, mecanismo de controle de massas. Como muito bem
adverte o professor da Faculdade de Direito de Hong Kong, Marcelo Thompson, e conforme acima
já destacamos, a internet será aquilo que dela fizermos; “remove, sim, ditadores, e deve fazê-lo.
Mas não pode, no caminho da democracia, extinguir-lhe a razão de ser — o igual valor, a dignidade
de cada um dos integrantes do povo.” 18
Eis porque, mais uma vez, devemos ressaltar o caráter de prevalência de valores
democráticos e, acima de tudo, ligados aos direitos humanos na análise das normas trazidas pelo
Marco Civil que, para muitos, inclusive esta razão, de fato, constitui-se (e traz normas constitutivas,
a seu turno) em uma verdadeira Constituição da Internet (denominação, inclusive, estampada no
título da presente obra).
Nesse sentido, mais uma vez com muita sensatez e razoabilidade, Thompson leva-nos
juntamente com ele a questionar o tipo de Constituição que o Marco Civil pretende ser no Brasil19.
Será possível, por meio dele, que efetivamente tenhamos um caminho seguro em direção à (re)
16 Será retomada, ainda nesse capítulo, a discussão em torno da liberdade de expressão até mesmo porque talvez não existe outro princípio fundamental que mais esteja relacionado com tudo aquilo que envolve o uso da internet. No entanto, somente para, desde já, ilustrarmos como as questões em torno dele são complexas, lembramos que no julgamento da ADP n.º 130, em que o STF julgou a inconstitucionalidade da lei da imprensa, o Min. Ayres Brito, relator, chegou a afirmar que os direitos relacionados à liberdade de expressão deveriam ser considerados com prioridade sobre outros, como a intimidade, a honra e a imagem. Para ele a lei não poderia estabelecer, sob qualquer circunstância, limitações constitutivas à liberdade de expressão ou imprensa. Se assim prevalecesse, como se poderia falar em regular a internet em particular? Que tipo de controle, então, se faria ao conteúdo nela veiculado? E, finalmente, seria então a liberdade de expressão algo absoluto, superior hierarquicamente a todo e qualquer outro principio? Posição, no mínimo, bastante conservadora e que não foi acompanhada pelos demais ministros na referida ação. Cf. em BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei de Imprensa. Adequação da Ação. ADPF n.º 130. Relator: Min. Ayres Britto. 30 abr. 2009. DJE, Brasília, v. 208, 6 nov. 2009. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 19 de junho de 2014 17 THOMPSON, Marcelo. Op. cit., p. 18 Ibidem, p. 206. 19 Remetemos os leitores à excelente análise feita pelo autor, impossível e desnecessária nesse pequeno espaço, especialmente sua comparação entre o seu texto e o da Constituição, numa visão contextualizada pelo momento atual do constitucionalismo brasileiro, especialmente no âmbito da Suprema Corte. Cf. THOMPSON, Marcelo. Op. cit., p. 207.
8
descoberta dos valores democráticos e de cidadania plenos? E nesse caminho, qual papel caberá
ser exercido pelo Estado, se é que de fato deve ele estar presente e intervindo, de alguma forma,
na maneira como a qual a internet tem sido usada?
A partir desses questionamentos, sem assumirmos o compromisso de se alcançarem
respostas definitivas, tentaremos estabelecer um percurso reflexivo sobre alguns dos temas que
consideramos relevantes para a compreensão do papel do Estado que, como agente fomentador
do desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação, contribui para a melhor
utilização e aprimoramento da internet no país. Tal caminho será essencial para, então, finalmente,
conduzir-nos ao estudo especifico do art. 28 do Marco Civil, objeto principal do presente capítulo.
2.1 Regulação e colisão de interesses no âmbito do Marco Civil.
Abordaremos aqui, mesmo que de forma sucinta, o debate que se tem estabelecido (e
que já havia ocorrido mesmo antes de sua aprovação) em torno do que consideramos como
fundamento-chave das normas constitutivas da regulação da internet brasileira, a liberdade de
expressão.
Sem nos perdermos em detalhes acerca de especificidades a respeito desse tema
trazidas pelo Marco Civil, até mesmo porque provavelmente já foram devidamente abordadas em
capítulos anteriores, imperioso retomarmos um dos pontos que mais foram discutidos (e ainda o
são) em relação às demarcações legais fixadas.
Falar-se em internet e em liberdade de expressão em uma mesma frase chega a ser
praticamente um vício de pleonástica. Já afirmamos isso e repetimos que o ambiente virtual nasceu
e se desenvolveu graças a essa abertura e somente pode se expandir e continuar a crescer em
razão da inexistência de bordas físicas e à sua natureza elástica e maleável, (re) configurável,
(re)programável.
Isso, todavia, como nada nesse mundo, não há de ser visto de modo absoluto, quiçá no
âmbito da sistemática e da teoria constitucional. E se o Marco Civil, conforme foi dito alhures,
pretende ser o modelo Magno da regulação da rede em território brasileiro, haverá ele de se valer
também dos procedimentos que são prelecionados pelo constitucionalismo pátrio para lidar com as
normas de natureza constitucional.
E assim se dá com os princípios ligados à liberdade, sob pena de serem tidos por
hierarquicamente superiores, o que não se considera possível, de acordo com os parâmetros
atuais de hermenêutica constitucional adotados por unanimidade nos Tribunais do Brasil que não
acompanham o pensamento de Otto Bachof20.
20 Muito embora não aceita sua teoria, é de sua lavra, a seguinte frase: "Se a aplicação pura e simples da lei nos levar a um resultado absurdo, devemos buscar um princípio que faça com que se obtenha a justiça no caso concreto." Analisada
9
Trazer novamente essa discussão à baila é de suma importância pois é sobre ela que
se estabelecem as bases de toda a relação possível de ser concebida entre a atuação estatal, os
valores democráticos (uma vez ser a liberdade o primeiro deles, sem que, com isso, se esteja a
falar em uma hierarquia de valores ou princípios) e a forma como se dá o uso e o desenvolvimento
da rede.
Tal questão apresenta-se como premente no caso de surgimento de conflitos
envolvendo, por exemplo, a liberdade de expressão e a intimidade de pessoas que, porventura,
venham a ser expostas na rede. Exemplos que bem ilustram esse embate existem aos milhares,
sendo os mais rumorosos aqueles que envolvem pessoas conhecidas do público, evidentemente,
como ocorreu há algum tempo com a atriz norte-americana Scarlett Johanson e, para ficarmos com
dois dos que mais geraram polêmica no Brasil, os que envolveram a atriz Carolina Dieckmann e a
apresentadora Daniela Cicarelli.
Como se daria a solução de casos como esses à luz do Marco Civil, recentemente
aprovado? E, para não fugirmos do objeto principal do presente capítulo, que relação uma colisão
de direitos como essa guardaria e em que nível ela se estabeleceria para que melhor pudesse
contribuir para o debate a respeito da atuação estatal na regulação da internet?
Inicialmente, com relação à primeira reflexão, o que se observa dos dispositivos que
constituem o Marco Civil, conforme antes já se anotou, é uma certa preocupação e, talvez até,
certa preponderância do que a lei chama, logo em seu art. 2.º, caput, de fundamento21 do respeito
à liberdade de expressão sobre outros que com ele possam conflitar, já que estes ficariam
relegados aos incisos do mesmo artigo. Da mesma forma, ao considerar os princípios que norteiam
a lei, em seu art. 3.º, o Marco Civil trata de trazer a liberdade de expressão logo no inciso I, sendo
que os demais, como a privacidade, surgem em seguida.
Não obstante, há de se ter em mente que uma leitura assim apressada e com base tão
somente na localização topográfica dos termos grafados pela lei jamais poderá ser levada em
conta como forma de se estabelecer certa ordem ou preponderância de um dado valor, fundamento
ou principio sobre qualquer outro. Sendo assim, em casos de conflitos de direitos ou colisão de
dentro de um contexto da Teoria Geral do Direito, muito tem a dizer. No entanto, novamente, não dispomos de espaço suficiente para investir nessa discussão. Cf. BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? 1.ª edição. Coimbra: Almedina, 2008. 21 O Prof. Otavio Luiz Rodrigues, em sua coluna no Conjur, ao expor, possivelmente em primeira mão, suas primeiras impressões sobre o Marco Civil, no mesmo dia em que sancionada a lei, enxergou ambiguidade no uso dos termos princípios, garantias, direitos e regras. Para ele “não houve uma maior com as distinções terminológicas entre fundamentos, princípios e objetivos”. Não discordamos do eminente professor e renomado colunista. Apenas consideramos despiciendo esse tipo de observaçãoo até mesmo porque quem verdadeiramente há de ocupar com tal distinção é a doutrina. Evidente que se há essa preocupação, também, por parte do legislador, muito melhor. Mas sabemos, todos nós, como são feitas as leis no Brasil, sendo desnecessários maiores comentários. Para a íntegra da execelente análise feita pelo Prof. Otávio, cf. em RODRIGUES, Otávio Luiz. Primeiras considerações sobre o Marco Civil da Internet. Revista Consultor Jurídico. 23 de abril de 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-abr-23/direito-comparado-primeiras-consideracoes-marco-civil-internet. Acesso em: 12/06/2014.
10
princípios que porventura ocorram, tendo o ambiente virtual como meio de exteriorização ou
concretude da lide, dever-se-á observar os mecanismos hoje já bastante difundidos para a solução
do caso e que se encontram muito bem estabelecidos no âmbito da hermenêutica constitucional.
Nesse ponto, de muita aceitação tem sido as teorias de Robert Alexy e Ronald Dworkin, muito
embora não sejam exatamente semelhantes22. Fato é que esses dois autores tem ganhado cada
vez mais notoriedade no estudo a respeito de como solucionar o conflito envolvendo princípios,
especialmente com a aplicação de critérios de ponderação e proporcionalidade, o que, de certo
modo, tem sido bastante aceito pelos tribunais, especialmente os superiores23.
O que interessa ficar estabelecido aqui é que, sendo o Marco Civil considerado uma
norma constitutiva e originária, logo, uma autêntica Constituição, uma vez que destinada a regular
e estabelecer os parâmetros de uso da internet brasileira que, por sua natureza, envolve interesses
fundamentais, não se poderá admitir que suas normas sejam aplicadas e interpretadas de forma
diversa de qualquer outra Constituição. Essa é a visão contemporânea do Direito Constitucional.
Nesse ponto, deve-se ressaltar que, ao estabelecer a liberdade de expressão como um
principio, em seu art. 3.º, I, o próprio Marco Civil também deixa claro que esta seguirá os
parâmetros estabelecidos na Constituição. Não bastasse isso, o parágrafo único do mesmo artigo,
com redação praticamente idêntica ao § 2.º do art. 5.º da Constituição da República, diz que “os
princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio
relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte”, deixando bastante evidente, ao nosso sentir, que neste rol de princípios não somente
estarão incluídos aqueles outros que estejam fora do seu texto (porque expressos em outras
fontes), assim como aqueles que puderem, implicitamente, deles serem deduzidos24.
22 No que se trata de distinguir regras de princípios, ambos os autores seguem, praticamente, o mesmo raciocínio especialmente por considerarem a força normativa dos últimos. Para ambos, princípios são normas jurídicas vinculantes, sendo que essa posição é adotada em todo esse capítulo. Quanto às técnicas para solução das colisões possíveis de ocorrerem entre princípios, é Alexy quem afirma que os critérios de proporcionalidade derivados da ponderação trarão o fundamento para, racionalmente, solução da contradição entre principios sem que, evidentemente, um elimine de forma definitiva o outro. Eis porque, dentro dessa visão contemporânea da hermenêutica constitucional, soa de forma um tanto deslocada a posição anteriormente já citada e que foi adotada pelo Min. Ayres Brito na ADPF n.º 130 que tornaria a liberdade de expressão uma espécie de “super principio” que, a priori, teria mais peso que qualquer outro. Para aprofundamento na temática, Cf. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3.º edição. São Paulo: Saraiva, 2011; DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 3.º edição. São Paulo: Martins Fontes, 2011; DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Sobre a proporcionalidade aqui mencionada, cf. a nota abaixo, de n.º 23. 23 Lenio Luiz Streck tem criticado, com bastante veemência, o mau uso que, em sua visão, tribunais e juízes tem feito de tais teorias. Para o eminente jurista, a forma como muitos juízes decidem não passa de mero solipsismo e que tais teorias seriam invocadas, sem uma precisão exata de suas origens e fundamentos, para justificar e ocultar, em verdade, decisões arbitrárias: puro decisionismo. Como muitos sabem, o referido jurista possui uma coluna semana na Revista Consultor Jurídico, onde podem ser encontrados inúmeros e interessantes artigos embora, quase todos, tratem do mesmo ponto. Diversas, ainda, são suas obras, todas elas com forte teor e senso crítico no âmbito da teoria do Direto. Para os fins do que aqui foi dito, Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 11.ª Edição, rev.,at. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 24 Exemplo de um principio que muitos afirmam estar implícito no texto constitucional de 1988, porque decorrente de outros nele expressos, sempre muito lembrado, é o da proporcionalidade, mencionado anteriormente nesse mesmo texto. Como contraponto, consideramos importante lembrar do interessante posicionamento adotado pelo Prof. Willis
11
Finalmente, quanto ao segundo aspecto que acima buscamos enfatizar, qual seja, a
relação que se poderia estabelecer entre esses conflitos jurídicos que a cada dia migram (e se
originam) de forma cada vez mais vertiginosa no mundo virtual e a atuação (ou mais ou menos)
interventiva do Estado em relação à criação de regras para o melhor uso da internet, trataremos
abaixo, oportunamente.
2.2 Privacidade e segurança na rede.
Da mesma forma que fizemos no tópico anterior, antes de partirmos para os
apontamentos específicos da atuação estatal em relação aos usos e ao desenvolvimento da
internet, tal como previsto no art. 28 do diploma em estudo, é preciso destacar, dada sua
relevância, o ponto que acima se aventou e sobre o qual se tem concentrado boa parte das
discussões em torno das finalidades e alcance do Marco Civil e seus reflexos para a realidade
brasileira: os conflitos que envolvem privacidade e segurança na rede.
Mais uma vez, supondo que a questão já tenha sido melhor e amplamente debatida em
capítulos anteriores, o que se fará aqui será uma reflexão voltada mais propriamente à atuação do
poder público na tentativa de se criarem meios efetivos de conciliar eventuais soluções em torno
desse problema, o que daria um real sentido às normas trazidas pelo Marco Civil.
Chama-se a atenção, mais uma vez, para esse debate, porque o que podemos
perceber é que esse tipo de conflito nada mais representa do que um reflexo claro da forma como
se vem transmutando (e gerando ainda mais complexidade) os fenômenos jurídicos, decorrência
da própria e incontornável evolução da sociedade, como tanto se tem aqui tratado. De certo modo,
isso não é bem uma novidade, salvo pelo fato de que esses conflitos surgem e se desenvolvem em
razão da ininterrupta ‘virtualização’ das relações jurídicas, tratando-se, portanto, de uma
consequência natural e decorrente da própria transformação do Direito, como aqui se tem falado.
Tais reviravoltas se dão, aliás, como antes se deram com os chamados novos direitos,
com a observância de que os meros conflitos singulares, embora não deixados de lado, cederam
espaço para aqueles que atingem grandes grupos e coletividades de indivíduos25. Ainda, outro
Santiago Guerra Filho que, primeiramente, observa que a tradição latino-positivista não consagrou a proporcionalidade como parte do texto constitucional. Afirma, todavia, que em verdade, em razão de sua natureza “aberta” seria mesmo incompatível sua proposição normativa e, pela mesma razão, não seria correto e nem necessário considerá-lo uma decorrência de outros princípios que já se encontram explicitados na Constituição, como o do Estado Democrático de Direito. Essa concepção, portanto, desqualificaria o principio da proporcionalidade que, na sua lúcida visão, trata-se de “princípio dos princípios”, um verdadeiro ordenador do Direito. Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 1.ª Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999. 25 Antonio Carlos Wolkmer descreve esse fenômeno de mudanças e incertezas, inclusive no campo jurídico, como um “projeto da modernidade ocidental passa por um profundo processo de questionamento e redefinição: vive-se o deslocamento de modelos de fundamentação e a transição para novos paradigmas de conhecimento, de representação institucional e de representação social. Os impasses e as insuficiências do paradigma da ciência tradicional entreabre lenta e constantemente, o horizonte para as mudanças e a reconstrução de paradigmas, direcionados para uma perspectiva pluralista e interdisciplina”. Cf. WOLKMER, Antônio Carlos. Direitos Humanos: novas dimensões e novas fundamentações. Disponível em: https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/viewFile/768/490. Acesso em: 18/06/2014.
12
fenômeno típico da evolução da ciência do direito, que é o debate em torno da linha tênue entre o
público e o privado, cada vez mais relativizado. Também aqui sofre seus reflexos a partir do
momento em que todos, inclusive governos e, colateralmente, líderes mundiais de praticamente
todos os Estados, tem os seus dados registrados e arquivados em rede. Desse modo não são
apenas ‘Cicarellis’ e ‘Dieckmanns’ (versão mais atual e abrasileirada de ‘Caio’ e ‘Tício’ dos crimes
virtuais) que tem seus segredos mais íntimos devassados.
Portanto, em realidade, não poderíamos ver esse diálogo entre normas constitucionais
e infraconstitucionais, propriamente, como exclusividade trazida por essa nova legislação. Sendo
assim, o modo como haverão de ser enfrentados e solucionados tais conflitos, sobretudo no âmbito
do Judiciário, será estudado a partir dos parâmetros que, a seguir, estabeleceremos.
3. Estado, fomento e planos de uso e desenvolvimento da internet.
Até o presente momento, buscou-se, de uma forma mais ampla, contextualizar e
pontuar determinados temas que, de modo geral, tem concentrado as discussões em torno da nova
sistemática normativa trazida pelo Marco Civil. Buscou-se, também, demonstrar sua vocação
natural como norma centralizadora e originária para, a partir dela, se alcançarem as melhores
soluções para os conflitos que envolvam o uso e a aplicação da internet no Brasil. Com isso, por já
prevermos que alcançaríamos esse momento para um debate direto sobre a atuação do Estado no
estabelecimento de planos, metas e estratégias para o melhor uso e aproveitamento da internet,
aqui e ali também se tentou chamar atenção para a imprescindibilidade e, de certo modo,
onipresença dos interesse público (tanto o primário quanto o secundário), na ótima abordagem e
tratamento das questões políticas, culturais e jurídicas em torno da internet.
Por essa razão é que não poderia faltar ao Marco Civil, como bem inspira a ideologia
constitucionalista26, a disciplina jurídica em torno da atuação estatal, em todas as suas esferas, no
desenvolvimento da internet. E é isso o que encontramos nos arts. 24 a 28 do Capítulo IV, da
citada lei. A norma que servirá de norte para as derradeiras reflexões, sugestão específica para a
abordagem do presente capítulo, como alhures já se fixou, é aquela prevista no art. 28 da Lei n.º
12.965/14 e que traz a seguinte redação:
Art. 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País.
Evidente que, sendo analisado de forma isolada, esse dispositivo pouco tem a dizer.
Apresenta-se, claramente, como norma de natureza programática e, como tal, deixa evidente um
26 A partir da clássica citação de Karl Loewenstein, segundo o qual “história do constitucionalismo é a busca do homem político pela limitação do poder arbitrário”, muitos autores passaram a sintetizá-la sobre a ideia de que o Direito Constitucional se assenta sobre o principio de limitação do poder e, por essa razão, muitos autores consideram que a garantia de direitos fundamentais, a organização do Estado e os mecanismo constitucionais de contenção do poder seriam ideias centrais que perpassariam toda a história do constitucionalismo.
13
alto grau de vagueza e generalidade. Afinal de contas, inclusive a serem considerados alguns dos
diversos temas até aqui abordados, não restam dúvidas que o Estado, no mínimo, haverá de se
ocupar na formulação de estudos e planos para o amplo desenvolvimento da internet, sendo
também notório que tal obrigação passa pelo adequado tratamento legislativo da matéria.
Por essa razão, não há (nem deve haver) condições de discorrer sobre o referido
dispositivo sem relacioná-lo, de forma sistemática, com os demais que o antecedem e, sobretudo,
princípios previstos na Lei n.º 12.965/14, assim como normas contidas em outras legislações como
a Lei de Telecomunicações (Lei n.º 9.472/97), algumas das mais recentes resoluções da Anatel
(relativas ao plano de ampliação e melhoria da banda larga fixa e móvel, respectivamente Res. n.º
574/11 e 575/11) e a também bem recente Lei do Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/11),
conforme se verá a seguir.
Antes disso, todavia, devemos reforçar um posicionamento, já aventado em tópico
precedente27, com o fim de não deixar qualquer margem de dúvida sobre a possibilidade ou não
de intervenção do Estado, de forma direta, em assuntos relativos à internet. Muito embora,
acredita-se, já tenha ficado bastante esclarecido esse ponto, isso se faz necessário por conta dos
termos que expressamente constam do dispositivo supra, em particular, o verbo fomentar.
De fato, o termo é bastante peculiar e tem sua razão de ser quando se discute
especificamente o papel do Estado quando intervém, de algum modo, em determinados campos de
atuação da sociedade. O uso mais comum, como muitos sabem, se dá no campo do direito
econômico e financeiro.
A esse respeito, muito pertinente é a lição de Eros Roberto Grau, à qual desde já
remetemos28, no sentido de estabelecer uma clássica distinção das formas pelas quais o Estado
pode vir a atuar em dados setores relativos à economia, sendo uma delas (a que verdadeiramente
importa aqui) a que ele denomina de participação por indução. Trata-se de uma modalidade de
intervenção estatal, indireta, que se pode dar por meio de medidas positivas (incentivos fiscais, por
exemplo) ou negativas (como ocorre com elevação de alíquotas em determinados tributos) e que
guardam relação com atividades de impulso e incentivo ou, a depender do caso, o desestímulo de
determinadas práticas em dado setor econômico29. E o mesmo pode se dar, para além do campo
econômico, no âmbito da cultura e lazer e, porque não, da ciência e tecnologia, ou seja, no “uso e
desenvolvimento da internet no país”, exatamente com propõe o art. 28 sob comento.
Resta a dúvida: de que modo isso poderá ocorrer, quais os planos, projetos que
porventura já se encontram em andamento ou virão a se desenvolver?
27 Cf. o tópico 2. Estado, Democracia e Internet, supra. 28 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8.ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2003. 29 GRAU, Eros Roberto. Op. cit, p. 58.
14
E, justamente, para se responder a essa pergunta e, eventualmente, outras que dela
poderão decorrer, é que nos esforçaremos em levantar alguns apontamentos, inclusive baseando-
nos nas discussões feitas antes de chegar até aqui. Por outro lado, buscaremos também propor a
análise de dois pontos que consideramos importantes de se discutir: o uso e o desenvolvimento da
internet.
3.1 Estado e planos referentes ao uso da internet no país.
É característica intrínseca da internet, desde os seus primórdios, a interação mais
aberta possível e a massificação do acesso à rede pois quanto maior a sua base permanente de
usuários, maiores as possibilidades de desenvolvimento e, naturalmente, aproximação da
realidade.
Notório, acima de tudo, que essa expansão seja consciente e progressiva, tendo em
vista que se isso ocorrer de forma muito vertiginosa e descontrolada, o que resultará disso serão
serviços que não atendam as necessidades contratadas, perda da qualidade na experiência do
usuário, prejuízos de toda ordem.
Além disso, a cada dia crescem as necessidades de uma maior aproximação entre
governo e cidadãos, aspecto de relevante consideração para Estados que sigam os princípios do
republicanismo democrático e, justamente por essa razão, considera-se que o processo de
digitalização e acesso às informações, projetos e planos governamentais deverão se desenvolver
no mesmo ritmo do crescimento dessa importante demanda.
Por tal motivo é imprescindível que constem das metas do Estado incentivos em
relação à efetiva democratização do acesso à informação, permitindo, com isso, discussões mais
amplas acerca das políticas públicas, dinamização e melhoria na gestão de serviços públicos. Tudo
isso, perfeitamente praticável por meio de modernas tecnologias de informação e comunicação,
possibilita uma efetiva interação digital entre os governos (federal, estadual e municipal) e seus
cidadãos, empresas e entre seus próprios órgãos. Esse tipo de política é o que se tem
denominado eletronic government (ou, simplesmente, e-government ou, ainda mais reduzido, como
é comum na linguagem eletrônica, e-gov que, em tradução literal já oficialmente adotada no Brasil,
resulta em governo eletrônico30).
Sobre esses pontos, falaremos de um modo um pouco mais detalhado, sob a ótica do
Marco Civil e legislações correlatas, em seguida
30 O endereço da página oficial do programa governo eletrônico mantido pelo governo federal, para quem se interessar, é o seguinte: http://www.governoeletronico.gov.br/
15
3.1.1 Universalização do uso de internet e inclusão digital.
Como já se adiantou, interação e massificação são características intrínsecas e
diretamente relacionadas com o mundo digital, o que ocorre de uma forma especial e natural em
toda a ambientação ligada à rede mundial de computadores. Justamente por isso, a diversidade e
multiplicidade de interações possíveis de serem feitas virtualmente são infinitas e se modificam e
se moldam a cada dia, a cada clique, a cada acesso.
Todavia, quando se observa a realidade brasileira em relação a esse ponto, muito
embora tenha se registrado um gigantesco crescimento em relação ao acesso e uso da internet no
país, o que se percebe é que ainda há a necessidade de um imenso esforço por parte do Estado
para que a inclusão digital se universalize e atinja o maior número possível dos cidadãos
brasileiros, o que demanda investimento maciço e diversas outras medidas31.
Nesse sentido, o Marco Civil estabelece, em seu art. 4.º, que a disciplina do uso da
internet terá por objetivo a promoção do direito de acesso a todos. Não bastasse essa previsão, de
forma ainda mais clara e direta, o mesmo diploma legal, dentro das diretrizes de atuação do poder
público, traz um outro preceito. Dentre as iniciativas de fomento que vierem a ser tomadas em
relação à cultura digital deverão constar aquelas que efetivamente busquem a promoção da
inclusão digital e que tenham por meta a busca pela redução “das desigualdades, sobretudo entre
as diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu
uso” (art. 27, I e II da Lei n.º 12.695/14). O mesmo dispositivo, ao traçar tais objetivos, considera a
internet como uma ferramenta social e que também deve contribuir no “fomento à produção e
circulação de conteúdo nacional” (art. 27, III), o que, evidentemente, depende e se complementa
com a ampliação do acesso.
O que não se deve perder de vista é o fato de que garantir a universalização significa
promover a igualdade no acesso a todos, o que, por outro lado, também gera o compromisso, nos
dias de hoje, de lidar com a diversidade. Isso porque a internet está (ou deveria estar) presente na
vida de todos, desde crianças que se encontram em fase inicial de alfabetização até a mais
lucrativa corporação multinacional, desde o cidadão que deseja simplesmente conferir seu extrato
de cartão de crédito no site de seu banco até o investidor que necessita de conexão ininterrupta
31 E se deve lembrar que a exclusão digital pode trazer diversos significados. De acordo com Carolina Teixeira Ribeiro, Daniel Merli e Sivaldo Pereira da Silva, essa falta pode ser dar nos aspectos tecnológico, infraestrutural, financeiro, cognitivo, instrumental e linguístico. Segundo os autores, “Os oito aspectos mencionados são elementos inevitavelmente entrelaçados e que nos servem, sobretudo, para atentar acerca das diferentes faces que a exclusão digital sustenta e que devem ser observados pelas políticas públicas neste campo. Nota-se que alguns elementos são pressupostos, enquanto outros são evoluções que só se tornam possíveis a partir da garantia de condições básicas de acesso. Deste modo, programas de inclusão digital não se resolvem apenas com medidas funcionais como a disponibilização de um computador, uma conexão e treinamento primário em um software, ainda que a ausência destes passos elementares impossibilite de antemão o início da jornada.” SILVA, Silvado Pereira da; RIBEIRO, Carolina Teixeira; MERLI, Daniel. Exclusão digital no Brasil e em países emergentes: um panorama da primeira década do século XXI. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012.
16
para acompanhamento do mercado de ações, do professor que resolve criar um blog para
diversificar o conteúdo de suas aulas até as instituições de ensino que hoje disponibilizam milhares
de cursos por meio de seus núcleos de ensino à distância (EAD). São múltiplas as finalidades,
distintas as condições sociais e econômicas e, ainda, ideológicas de quem estuda, pesquisa,
trabalha e se diverte com a internet.
Há, no entanto, uma consequência lógica e natural e que, inclusive, já se nota na
atualidade, ao se falar em expansão da base de usuários: aumentam-se os riscos, os problemas e,
inevitavelmente, os danos que podem ser causados por meios digitais.
Nesse sentido, nos termos do art. 26 do Marco Civil, ainda dentro do capitulo da
atuação estatal, tem-se que “o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da
educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas
educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet.” Logo, as metas e, ainda,
os incentivos a serem adotados pelo Estado no incremento do acesso universal deverão considerar
esses importantes aspectos de segurança e responsabilidade no uso da internet, sem os quais
esta falhará “como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o
desenvolvimento tecnológico” (parte final do referido artigo).
A verdade é que, para todos os atores envolvidos com o uso da internet, dos órgãos
governamentais ao cidadão que lida com a rede no seu dia-a-dia, o acesso há de ser garantido e,
por acesso, não se pode entender tão somente a disponibilidade de um ponto de conexão ou meio
físico para tanto (computador ou celular ou qualquer outro eletrônico com tecnologia de
transmissão e recebimento de dados). Há de se preocupar, acima de tudo, com a qualidade do
conteúdo veiculado na rede e que, inevitavelmente, chega aos usuários e como cada um desses
nichos, da melhor ou pior forma possível, lida com isso.
Assim, uma vez que tais questões possam se relacionar e, por consequência, migrar
para um aspecto que também diz respeito ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da rede, como
os serviços de prestação e fornecimento de acesso por banda larga, deixaremos para abordar os
aspectos correlatos em momento específico, logo adiante.
3.1.2 Marco Civil, Código de Defesa do Consumidor e diálogo de fontes.
Na esteira do que foi exposto em tópico anterior, e independentemente dos usos e
incentivos ao desenvolvimento da internet no país, não se deverá perder de vista a prioridade na
garantia, promoção e defesa dos direitos dos consumidores que, em razão de seu inegável caráter
público, sempre merecerão uma atenção especial dos agentes e órgãos oficiais do governo.
Se, anteriormente, enfatizamos as possibilidades de riscos e danos em virtude do
(necessário, porém temerário) crescimento do acesso e da inclusão digital, reflexo direto desse
17
fenômeno é possível de ser vislumbrando, diuturnamente, nas relações de consumo que ocorrem
na via digital. Trata-se de um ambiente que, como já se afirmou, exige uma precaução redobrada;
os riscos não se referem apenas aos negócios jurídicos firmados pela internet, como a compra e
venda de produtos e serviços em sites, nacionais e estrangeiros, como Mercado Livre ou
Amazon.com. Podem ir muito além disso. Sem mencionar que, muitas vezes, os problemas e
prejuízos aos consumidores começam justamente no momento de se contratarem os serviços de
internet em dado provedor, seja para o uso fixo ou móvel. Tem sido cada vez mais comum a
constatação tardia de que o serviço contratado, especialmente quanto à sua qualidade de conexão
e velocidade na transmissão e recebimento de dados, ao final, não corresponde com os valores
avençados em contrato32. Noutros casos, especialmente naqueles em que a opção é pela rede
móvel, muitas reclamações chegam aos órgãos fiscalizadores porque os serviços sequer atingem o
mínimo de viabilidade.
Assim sendo, resta saber se o Marco Civil tem condições de, por meio de suas normas,
evitar que tais transtornos aos usuários-consumidores ocorram, se estes se encontram em
conformidade com as disposições constitucionais sobre a matéria e se poderá ser considerado
mais um elo no diálogo das fontes33 que estabelece o microssistema de proteção das relações de
consumo.
Quanto a esta última preocupação, verifica-se que a Lei n.º 12.965/14, por dois
momentos, faz menção expressa aos interesses dos consumidores. No primeiro deles, em seu art.
2.º, inciso V, estabelece a defesa do consumidor como um de seus fundamentos. No segundo, em
seu art. 7.º, inciso XIII, diz textualmente ser assegurada ao usuário a “aplicação das normas de
proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”. Com isso,
ficam afastados, de forma tranquila, quaisquer entendimentos impeditivos de sua aplicação
complementar às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, demonstrando, com isso,
que as peculiaridades decorrentes das negociações feitas na internet receberão o devido amparo
e, da mesma forma, haverão de ser albergadas pelos princípios, fundamentos e remédios legais
previstos no CDC.
Nesse sentido, ao relacionarmos a específica proteção trazida pelo Marco Civil aos
usuários de quaisquer serviços que sejam prestados via internet e sua expressa menção às
32 A Anatel mantém, em seu site, gráficos e estatísticas a respeito das reclamações de seus usuários. Essas informações encontram-se disponíveis em http://www.anatel.gov.br/consumidor/dados-e-rankings/reclamacoes-na-anatel#2-servi%C3%A7os. Acesso em: 18/06/2014. Como se pode ver, confirmando o que foi abordado, a maior parte das reclamações se concentram, no que diz respeito à banda larga, à qualidade do serviço prestado. 33 A já consagrada teoria do diálogo das fontes, idealizada na Alemanha pelo jurista Erik Jayme, professor da Universidade de Helderberg, em suma, busca afastar a ideia de que as leis seja aplicadas de forma isolada, devendo o ordenamento jurídico ser visto de forma unitária e, dessa maneira, interpretado. Tornou-se conhecida no Brasil pelos trabalhos de Claudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo também muito difundida por Flávio Tartuce. Nesse sentido, cf. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 2. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012; TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 2. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.
18
normas que garantem os direitos dos consumidores, dois interessantes dilemas da atualidade
surgem como de inevitável abordagem nesse contexto.
O primeiro deles é o direito ao arrependimento, já bastante conhecido no ramo das
relações de consumo, previsto expressamente no art. 49 da Lei n.º 8.078/90. De fato, claramente
se apresenta como um conflito típico das práticas comerciais que crescem e evoluem, com o
passar do tempo, de diversas maneiras, evidentemente, mas que nunca deixam de criar novos
métodos e formas de abordagem (das mais eficazes possível) para atrair um maior número de
interessados (especialmente os incautos) na aquisição de seus produtos ou serviços. Na redação
original do CDC, o direito de desistir ou de se arrepender de um determinado contrato é garantido
para aqueles consumidores que contratarem em algum local que seja distinto do estabelecimento
empresarial, enfatizando de forma especial os casos em que esta se dá por telefone ou em
domicílio.
Tai modalidades de contratação, se ainda não extintas por completo, são extremamente
raras hoje em dia. Todos sabemos que, na esmagadora maioria dos casos em que tal direito é
invocado, o arrependimento ou desistência se dá por conta de contratação feita na internet. Os
tempos são outros e, o mais interessante, a vulnerabilidade do consumidor, dentro desse conflito,
sofreu uma espécie de mutação. Isso porque visitar um site de compras coletivas, por exemplo, e
clicar na oferta que ali está sendo propagandeada é um tanto quanto diferente daqueles casos.
Antigamente, a pessoa se via incomodada em atender quem batia à sua porta, muitas vezes, em
horário inconveniente, tendo, então, de ouvir do vendedor de enciclopédias ‘Barsa’ que em seu
produto estava reunido todo o conhecimento que um filho (que talvez o comprador nem tivesse) iria
precisar em sua vida. Muito possivelmente, o conteúdo de uma Enciclopédia ‘Barsa’ não alcança,
hoje, um décimo do que seja possível ser acessado com uma mera palavra no campo de buscas
do Google. Nos dias de hoje, quem acessa uma página de pesquisa ou de compras é o próprio
interessado e não o contrário.
Com isso não se quer dizer que a vulnerabilidade do consumidor seja colocada em
dúvida, mas sim que ela se manifesta de outras formas, notadamente, pela necessidade de
conhecimento básico em informática e outros tantos requisitos nesse sentido. Naturalmente, esse
tipo de raciocínio também não pode ser aplicado ao usuário médio, já acostumado com os
meandros da rede, como ‘spams’, e-mails falsos disseminados com a finalidade de furtar senhas e
outras ‘e-práticas’ nefastas e que tendem a induzir o usuário a fazer algo que ele, talvez, não
deseje. Mas, evidentemente, não deixam de caracterizar a vulnerabilidade, inerente à condição de
consumidor, as circunstâncias e condições em que se encontram determinados grupos de novos
usuários, isso se nos lembrarmos que o acesso universal e a inclusão digital ainda estão em fase
de expansão. E isso significa que, um grande e indeterminado público, que ainda está a se adaptar
19
e conhecer as novidades do mundo virtual (nem sempre boas e saudáveis), continuarão a merecer
o reconhecimento das garantias inerentes à sua condição de consumidoras34.
Quanto ao segundo tema a que nos referimos, trata-se do que muitos vem chamando
de direito ao esquecimento (right to be alone)35. Trata-se de interessante tese que, em linhas
gerais, advoga o direito de determinada pessoa garantir que os atos por ela praticados no
passados não perpetuem no tempo. Por esse direito, qualquer pessoa poderá exigir que sejam
apagados (ou deletados) de eventuais bancos de dados, cadastros, publicações e quaisquer outras
formas de registro, de fato, sejam esquecidos da opinião pública. Os primeiros casos em que tal
direito foi invocado foram recentemente reconhecidos em dois acórdãos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça36.
Vale ressaltar que, em doutrina, o direito ao esquecimento tem a natureza dos direitos
fundamentais e, portanto, essencial a todo e qualquer ser humano que, porventura, não seja
obrigado a viver ad eternum com lembranças do seu passado e, portanto, decorrente do seu
inegável direito à intimidade (art. 5.º, X CRFB). Seguindo esse entendimento, a edição do
Enunciado 531, da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF) optou por
adotar interpretação da norma contida no art. 12 do Código Civil e, dessa forma, reconhecer o
esquecimento como espécie de direitos da personalidade que, como todos sabem, nada mais são
do que os direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa.
34 Mais uma vez, socorremo-nos das lições de Marques, segundo a qual: “efetivamente, a distância física, a imaterialidade do meio eletrônico, a atemporalidade e a internacionalidade eventual da contratação, dificultam a eficácia do uso dos instrumentos tradicionais de proteção dos consumidores, quais sejam, o direito à informação redobrada, o direito de arrependimento ou rescisão sem causa facilitada, a garantia legal do produto e serviço, quanto a vícios e defeitos, a imposição de prazos para o cumprimento das obrigações pelos fornecedores, o combate às cláusulas abusivas, a proteção dos dados pessoais e privacidade, a lealdade nas cobranças.” MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. 1.º Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 35 Recomendamos o interessante artigo, a respeito do tema, de autoria de Antonio Rulli Júnior e Antonio Rulli Neto. Cf. RULLI NETO, Antonio e RULLI JÚNIOR, Antonio. Direito ao Esquecimento e o Superinformacionismo: apontamentos no Direito Brasileiro dentro do contexto de sociedade da informação. Revista do Instituto do Direito Brasileiro – RIDB. Ano 1 (2012), nº 1, 419-434. Disponível em: http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/RIDB_001_0419_0434.pdf. Acesso em: 12/06/2014 36 Os casos que aqui mencionamos e que levaram o STJ a analisar e, judicialmente, reconhecer a referida tese, colocavam em conflito os princípios da liberdade de expressão e intimidade, uma vez que se tratavam de fatos noticiados pela imprensa jornalística. No primeiro deles, o pedido foi ajuizado por um dos acusados, mais tarde absolvido, pelo episódio que ficou conhecido como a Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. O outro, pela família de Aída Curi, estuprada e morta em 1958 por um grupo de jovens. Os casos foram à Justiça porque os envolvidos das notícias (no caso de Aída, fora os seus familiares) não desejavam mais que tais acontecimentos (já distantes da memória pública) continuassem sendo lembrados e recontados, pois seriam esses uma fonte inesgotável de sofrimento. Todavia, o que nos leva a trazer o tema a esse debate é a reflexão que suscita quando pensamos que as informações que, porventura, desejem que seja esquecida estiverem arquivadas em bancos de dados virtuais ou, mais grave ainda, espalhadas por toda a rede. Se, nesse caso, formos pensar nos registros de dados e cadastros de consumidores, temos então, mais uma vez, um exemplo da conexão que pode ser estabelecida entre as normas trazidas pelo Marco Civil e pelo Código do Consumidor. Os acórdãos de ambas as decisões acima mencionadas podem ser acessados, respectivamente, nos seguintes endereços: “Chacina da Candelária”, disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj.pdf, acessada em 19/06/2014; “Caso Aída Curi”, disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf, acessada em 19/06/2014. Cf., ainda, CANÁRIO, Pedro. STJ aplica 'direito ao esquecimento' pela primeira vez. Revista Consultor Jurídico. 5 de junho de 2013. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-jun-05/stj-aplica-direito-esquecimento-primeira-vez-condena-imprensa. Acesso em: 19/06/2014.
20
Com o reconhecimento obtido pela via judicial o tema ganhou ainda mais notoriedade e,
por essa razão, não poderia deixar de ser aqui relacionado pois, como dito, trata-se de um conflito
que tende a se tornar ainda mais rumoroso com a realidade dos dias atuais em que todos se
encontram, praticamente em todas as vinte e quatro horas do dia, de algum modo conectados em
rede, com uma infinidade de informações e dados pessoais disponíveis, sendo o exemplo mais
claro e crítico disso a bilionária rede social Facebook.
Mais uma vez, para que tais dilemas melhor sejam equacionados, consideramos que as
diversas esferas de governo se ocupem de buscarem, com fundamento no art. 26 da Lei
12.965/14, estratégias para a adequada capacitação dos usuários da rede que, a todo momento,
por estarem inseridos em uma sociedade de massa, são, a um só tempo, potenciais consumidores.
Como já se afirmou anteriormente, tais planos deverão ser aplicados de uma forma que possam
ser devidamente integrados a práticas educacionais para que todos se conscientizem de seus
direitos e deveres quando diante da tela de um computador ou tela sensível ao toque e, com isso,
possam ter uma experiência segura e responsável com o uso da internet.
3.1.3 ‘E-Government’ e participação popular pela via digital37.
Talvez o que de mais interessante possa ser incentivado e estimulado pelo Estado,
considerando todas as suas esferas governamentais (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
respectivos órgãos de administração indireta), para a efetiva democratização e integração da
sociedade nas políticas públicas, sejam formas de conciliação entre governabilidade e cidadania
por meio dos recursos que hoje são disponibilizados por meio de tecnologias da comunicação e
informação.
Portanto, quando o Marco Civil, em seu art. 28 diz que o Estado deve formular
estratégias referentes ao uso da internet no país uma das práticas que mais poderá gerar retorno
em termos de acesso à informação e participação da sociedade serão projetos que tornem
realidade o chamado e-government38, o governo eletrônico
37 Interessante trabalho sobre o tema pode ser conferido em CHADWICK, Andrew; MAY, Christopher. Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: “e-Government” in the United States, Britain, and the European Union. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 16, No. 2, April 2003 (pp. 271–300). © 2003 Blackwell Publishing, 350 Main St., Malden, MA 02148, USA, and 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK ISSN 0952-1895 Disponível em: http://wiki.douglasbastien.com/images/4/4a/Interaction_between_States_and_Citizens_in_the_Age.pdf. Acesso em: 11/06/2014. 38 Segundo Diniz, “pode-se afirmar que a expressão governo eletrônico, ou e-gov, começou a ser utilizada com mais frequência após a disseminação e consolidação da ideia de comércio eletrônico (e-commerce), na segunda metade da década passada (Diniz, 2000; Lenk e Traunmüller, 2002) e, a partir daí, ficou completamente associada ao uso que se faz das TICs nos diversos níveis de governo (...)”. Ainda segundo o autor, “entre as causas determinantes da adoção das TICs de forma estratégica e intensiva pelos governos em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade destacam-se: o uso intensivo das TICs pelos cidadãos, empresas privadas e organizações não governamentais; a migração da informação baseada em papel para mídias eletrônicas e serviços online e o avanço e universalização da infraestrutura pública de telecomunicações e da internet. Outras causas estão associadas às forças provenientes do próprio movimento de reforma do Estado, da modernização da gestão pública e da necessidade de
21
O que podemos entender por e-government ou governo eletrônico? Para os fins do
presente capítulo, trata-se de uma forma de os governos (tanto o federal quanto o estadual/distrital
e municipal) utilizarem, como tanto tem-se aqui falado, das inovações trazidas pelas avançadas
tecnologias de informação e comunicação, em particular as disponíveis] via internet, criando-se,
assim, um canal de contato entre cidadãos, setor empresarial e quaisquer outros interessados em
obter fácil e conveniente acesso a informações e serviços públicos. Com isso, além de serem
proporcionadas maiores oportunidades de participação cidadão no aprimoramento de instituições e
processos democráticos, o governo eletrônico poderá se consubstanciar em importante mecanismo
de melhoria da qualidade e eficiência dos diversos serviços ofertados pelos órgãos do governo e,
acima de tudo, gerar um maior incentivo à participação popular para a ótima consecução das
demandas sociais.
No Brasil, seguindo-se basicamente esse modelo, podemos observar que essa política
de maior aproximação dos cidadãos por meio de mecanismos digitais, disponíveis via internet,
segue três diretrizes fundamentais consistentes em: a) transformação das relações do Governo
com os cidadãos e empresas; b) melhoria de sua própria gestão interna visando o aprimoramento
da qualidade de seus próprios serviços; c) incentivas a criação de mecanismos de integração com
parceiros e fornecedores39. Todas essas frentes, conforme já se afirmou, visam, acima de tudo,
fortalecer a participação cidadã por meio do acesso à informação e a uma administração mais
eficiente.
Nesse ponto, importante ainda considerarmos que o chamado governo eletrônico não
poderá ser confundido com o que poderíamos chamar aqui de governança eletrônica, embora
essa distinção não pareça ser comumente encontrada em obras que tratam do assunto na literatura
jurídica brasileira que, no entanto, é muito bem explicada por Fang, da seguinte forma:
A governança eletrônica não se refere apenas à disponibilização, por parte do governo, de websites próprios ou fornecimento de e-mail oficial. Não se trata apenas da prestação de serviços através da internet. Não se trata apenas de acesso digital a informações do governo ou transações eletrônicas com este. A governança eletrônica vai além disso e busca mudar a forma como os cidadãos se relacionam com os governos, tanto quanto ele muda a forma como os cidadãos se
relacionam entre si. Ela busca trazer novos conceitos de cidadania40.
maior eficiência do governo. Consequentemente, temas como desempenho, eficiência, eficácia, transparência, mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de contas, relacionados ao processo de modernização da gestão pública, foram associados ao processo de construção de programas de governo eletrônico. O desdobramento desses temas em políticas públicas e iniciativas concretas, explicitadas nos programas de governo, requerem o uso de tecnologia, tornando os programas de governo eletrônico elementos alavancadores de novos patamares de eficiência da administração pública”. Cf. DINIZ, Eduardo Henrique et alli. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. Revista de Administração Pública – RAP. Número 43, Vol. 1, p. 23-48, Rio de Janeiro, jan./fev., 2009. Disponível em: Acesso em: 15/06/2014. 39 Cf. http://www.governoeletronico.gov.br/ Acesso em: 15/03/2014 40 No texto original, traduzido livremente pelo autor, ele diz que: “E-governance is beyond the scope of -government. While e-government is defined as a mere delivery of government services and information to the public using electronic means, e-governance allows citizen direct participation of constituents in political activities going beyond government and includes E-democracy, E-voting, and participating political activity online. So, most broadly, concept of E-governance Will
22
Nesse sentido, uma política de governança eletrônica estaria muito além da mera
disponibilização de ferramentas eletrônicas para facilitar a comunicação entre governo e cidadãos.
Seria uma política capaz de permitir a participação direta nas atividades políticas do governo (em
todas as suas instâncias, esferas administrativas e poderes, ou seja, do âmbito municipal ao
federal e, ainda, passando por órgãos que componham o Executivo, o Legislativo e o Judiciário,
inclusive) e, com isso, poderia se desdobrar em formas de democracia eletrônica (e-democracy)
que poderia ser exercida por instrumentos como o voto eletrônico (e-voting) e que, no nosso
entendimento, não se resumiria ao uso de urnas eletrônicas em eleições, mas possibilitaria
escolhas por meio de voto popular por meio de acesso direto em processos eletrônicos que
poderiam ser disponibilizados online41. A própria urna eletrônica, embora seja um exemplo dos
mais bem sucedidos de uso de tecnologia à serviço do governo e da agilização e eficiência
administrativa, tornar-se-ia, talvez, um instrumento obsoleto, pois a própria internet, desde que
tomadas as devidas precauções, poderia servir como meio para todo e qualquer tipo de exercício
da cidadania.
Evidente que algo dessa natureza encontra-se, ainda, muito distante da nossa
realidade. O próprio modelo, em tese, de democracia direta (ou seja, que dispense o mandato de
representantes políticas) encontra-se envolto em controvérsias e esbarra no ceticismo de seus
próprios defensores. No entanto, se prosseguirmos nessa caminhada, em que a cada dia a
realidade do mundo digital se torna mais presente em nossa vida, pode ser que isso venha, em
algum momento, se concretizar.
Os primeiros passos, é bom ser ressaltado, já estão sendo dados e as políticas de
governo eletrônico brasileiro são exemplo disso, embora também tenham muito a evoluir.
Por ora, além das normas imperativas previstas no Marco Civil para garantir a presença
do Estado no fomento de estratégias e planos de uso da internet, no que se refere às políticas de
governo eletrônico, imperiosa é a conjugação de suas normas com outras duas legislações, quais
sejam, a Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12,527/11) e o recentíssimo Decreto n.º 8.243 de
23 de maio 2014 que trata da Política Nacional de Participação Social (PNPS). Em ambas
existem normas que criam mecanismos que viabilizam, facilitam e estimulam a participação social
cover government, citizens participation, political parties and organizations, Parliament and Judiciary functions. Blake Harris (2000) summarizes the e-governance as the following: E-governance is not just about government web site and e-mail. It is not just about service delivery over the Internet. It is not just about digital access to government information or electronic payments. It will change how citizens relate to governments as much as it changes how citizens relate to each other. It will bring forth new concepts of citizenship.” Cf. FANG, Zhiyuan. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol. 10, N.º 2, 2002, p 1-22. Disponível em: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan016377.pdf Acesso em: 14/03/2014 41 FANG, Zhiyuan. Op. cit., p. 2
23
em diversos campos da atuação estatal e que, para tanto, demandam o uso da internet, devendo-
se levar em conta, para tanto, tudo o que até o momento já se expôs.
Vale aqui, um destaque especial, para o denominado ambiente virtual de
participação social, disciplinado no art. 2.º, X do PNPS, definido como um “mecanismo de
interação social que utiliza tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet” e
que, sem prejuízo de quaisquer outros meios disponíveis para tanto, tem por finalidade “promover
o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil.” Ademais, para a consecução desse
e outros objetivos, diz o inciso VI do art. 4.º que o PNPS deverá “incentivar o uso e o
desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas formas de expressão e linguagens de
participação social, por meio da internet, com a adoção de tecnologias livres de comunicação e
informação, especialmente, softwares e aplicações, tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou
os disponíveis no Portal do Software Público Brasileiro.”
Merece também menção, nesse sentido, a Lei da Transparência (Lei Complementar
n.º 131/09) uma vez que para sua eficácia social a internet é meio imprescindível, sem o qual seria
praticamente inviável fazer chegar à público as inúmeras informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira.
Iniciativas como estas, até bem pouco impensáveis para a realidade brasileira, quase
sempre em descompasso com o que ocorre no âmbito do desenvolvimento tecnológico em outros
países, demonstra que as mudanças estão cada vez mais sentidas positivamente e com grande
velocidade em nosso país. A realidade é que a existência de um governo eletrônico brasileiro
demonstra que o uso de tecnologia de informação no setor público pode ir muito além dessa
dimensão e, em alguns casos, garantir efetiva modernização de importantes setores
governamentais gerando, indubitavelmente, maior eficiência na prestação dos serviços públicos e
estimulo à participação popular, imprescindível para a manutenção de um ambiente saudável de
democracia.
3.2 Estado e planos de desenvolvimento da internet.
Nos termos do art. 28, fica estabelecido, ainda, que o Estado deve periodicamente,
formular e fomentar estudos, fixar metas, estratégias e planos referentes ao desenvolvimento da
internet.
Como já discutimos acima, no que se refere ao uso da rede mundial de computadores,
verifica-se como imprescindível a atuação do Estado para se estimular a ampliação e
universalização do acesso e promover a inclusão digital. Além disso, em decorrência das
consequências provindas de tais transformações, seus inevitáveis reflexos na sociedade e
necessidade de que se busquem meios urgentes para que, de fato, adentremos à Era da
24
Informação, inclusive com medidas que protejam os usuários quando na condição de
consumidores, já não mais se pode falar em exercício da cidadania e democratização das políticas
e serviços públicos se estes não estiverem ao alcance de todos. Trata-se de medida que não
apenas traz transparência para os atos dos governos como, acima de tudo, garante a efetivação de
um direito fundamental, que o do livre e amplo acesso à informação.
Nada disso, todavia, será concretizado se a tecnologia disponível para tanto mantiver-
se arcaica, obsoleta e incapaz de entregar com rapidez e precisão a informação que porventura
esteja sendo buscada. Da mesma forma, pouco se resolve quando os melhores recursos e
estrutura estiverem concentrados tão somente nas capitais ou grandes centros urbanos o que,
além limitar o acesso e fazer com que se descumpra o já citado principio de universalização do
acesso, faz com que tenhamos uma sociedade virtualmente dividida em territórios, ou seja, uns
poucos com a capacidade de navegação de ponta, por meio de fibras óticas e tecnologia wireless
e, de outro lado, uma infinita parcela de excluídos digitais ou que ficam na dependência de
conexões discadas e que levam uma eternidade para se possibilitar o acesso à rede.
Por esse motivo é que propomos, nos dois tópicos finais do presente capítulo, fazer
alguns apontamentos sobre os programas de banda larga e cidades digitais que já se encontram
entre os projetos encabeçados pelo Ministério das Comunicações e que, com a aprovação do
Marco Civil, ganham ainda mais destaque e fundamento jurídico para serem ampliados.
3.2.1 Banda Larga e melhoria de serviços digitais e de acesso à rede.
Ter uma internet com qualidade e velocidade de acesso é algo imprescindível hoje em
dia. Não pode ser considerado mero luxo ou privilégio daqueles que podem pagar por um serviço
dessa natureza. Portanto, é de extrema urgência e imperiosa necessidade que as tecnologias da
comunicação, especialmente as relacionadas à internet, evoluam o mais rapidamente possível
nesse sentido, tornando a banda larga não apenas uma realidade concreta mas, além disso, um
mecanismo fundamental na dinâmica social e uma ponte estratégica para o desenvolvimento do
país42.
Não por acaso, em muitos Estados em que esta já é uma realidade, porque tais
estratégias adentraram suas pautas políticas décadas atrás, os frutos já vem sendo colhidos43,
42 Segundo dados do programa federal Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), “a infraestrutura de telecomunicações repercute em todos os setores da economia, pois propicia ganhos de produtividade e acesso a novos mercados, produtos e serviços. Esse fato é comprovado pelo Banco Mundial, cujo estudo também busca demonstrar o impacto do acesso à banda larga na renda per capita de países menos desenvolvidos. O estudo revelou um impacto bastante elevado: entre 1980 e 2006, para países de renda baixa e média, estimou-se que cada 10% de crescimento na penetração de banda larga reverteu-se em um crescimento de 1,38% do PIB per capita1. A pesquisa comprova ainda que o impacto positivo da banda larga sobre a renda per capita é o maior em comparação às demais categorias de TIC”. Cf. o documento base do programa Nacional de Banda larga, disponível em: http://www.mc.gov.br/publicacoes. Acesso em: 18/06/2014 43 Possebon, nesse sentido, informa que “pode-se observar que enquanto em alguns países como Canadá e Coreia do Sul as políticas de universalização foram iniciadas ainda no começo dos anos 2000, e hoje já se discute como vencer a barreira de 2% ou 3% da população ainda sem acesso, ou de como universalizar super velocidades e de tornar a Internet
25
sendo os desafios atuais o aprimoramento do que já se implantou, como novas gerações
tecnológicas e alcance de metas qualitativas e não quantitativas.
Seja qual for o caso, sabe-se que os desafios e escolhas são difíceis. Não se deve
desconsiderar que a implantação de uma infraestrutura sólida e robusta, sobretudo a se considerar
a imensidão do território brasileiro, demande altos investimentos, otimização dos órgãos de gestão,
escolhas de matrizes tecnológicas que melhor se adaptem à realidade nacional e, não se pode
olvidar, elaboração e adoção de políticas regulatórias que garantem legitimidade a todo o processo.
Devemos, ainda, nos lembrar que não basta, simplesmente, a ampliação desordenada
e desigual do acesso. Todo esse processo, e nisso se incluem os planos de desenvolvimento dos
serviços de banda larga, devem ter como finalidade maior contribuir com a democratização do
acesso da população de menor renda, buscando-se reduzir as desigualdades regionais e
promovendo, assim, uma inclusão digital que também esteja preocupada com a qualidade dos
serviços disponibilizados.
Nesse contexto, há uma outra questão que chama atenção por conta dos desafios
peculiares que suscita. É que universalizar e expandir a banda larga não se trata, tão somente, de
investimento material em aparatos de tecnologia, equipamentos de ponta e pessoal com alto grau
de especialidade técnica nessa área. Trata-se da neutralidade da rede.
Segundo esclarece Possebon,
Hoje, dado o papel central desempenhado pelas redes, a maior parte das atenções quando o assunto é neutralidade recai sobre o tratamento que é dado pelos provedores de infraestrutura e acesso e seu inegável poder de decisão sobre o que e como pode trafegar nestas redes. Essas empresas, por sua vez, argumentam com as crescentes necessidades de investimentos e apelam por modelos econômicos mais sustentáveis do ponto de vista empresarial. Mas a questão da neutralidade se coloca de maneira ainda mais ampla quando lembramos que hoje a Internet, pelo menos para a imensa maioria de seus usuários, é dominada, na prática, por um número limitado de provedores de conteúdos, sites de busca, plataformas de vídeos, comércio eletrônico e redes sociais. Assegurar que não apenas as redes, mas também todo o ecossistema de empresas e serviços de conteúdo tenham sua parcela de responsabilidade dentro dos princípios da neutralidade também é um desafio novo44.
Para dar fim a impasses dessa natureza é que ganha ainda mais relevância e
notoriedade um marco regulatório que, então, defina, de modo imperativo, a forma como a questão
deva ser tratada. E, nesse sentido, o Marco Civil, em seu art. 9.º, estabeleceu que: “O responsável
pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer
pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.”
ubíqua, em outros, como é o caso brasileiro, as políticas de massificação (é esse o termo usado por aqui) estão apenas dando seus passos iniciais, com resultados ainda pouco mensurados”. POSSEBON, Samuel. Prefácio. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012. 44 POSSEBON, Samuel. Op. cit.
26
Não obstante, mesmo após expressa previsão, acirrados têm sido os debates e muita controvérsia
tem gerado45.
Finalmente, considerando o também relevante papel desempenhado pela Anatel, na
condição de agência reguladora e que, por delegação, ocupa-se de se responsabilizar pelo
desenvolvimento das tecnologias de comunicação, imperioso a análise da Resoluções n.º 574/11
e 575/11. Ambas resoluções foram editadas com o objetivo de regulamentar a gestão da qualidade
dos serviços de comunicação, especialmente os serviços de banda larga, no caso da primeira,
sendo a última destinada a, especificamente, tratar dessa melhor forma de prestação de serviços
móveis de qualidade. Como já enfatizamos, as maiores insatisfações dos usuários está
relacionada ao quesito qualidade do serviço46.
Para os fins deste capítulo, acreditamos que a norma que maior impacto causará na
busca por melhoria dos serviços de banda larga é a do art. 16 que busca estabelecer porcentagens
mínimas de velocidade a serem garantidas pelas operadoras e provedores de internet. Se, de fato,
a fiscalização for séria e eficaz (a resolução determina seja nomeada uma entidade aferidora de
qualidade para essa tarefa em seus arts. 33 37), ter-se-á, sem dúvida, um ganho indubitável na
melhoria dos serviços e acesso à banda larga, onde esta, evidentemente, já se encontra
disponível47. Semelhante a essa resolução, porém com ênfase nos serviços de internet móvel, a
segunda delas, Res. 575/11, também demonstra uma clara prioridade na busca por melhorias na
qualidade dos serviços e na relação com o usuário, demonstrando que a Anatel, de fato, pareceu
se mobilizar diante da má qualidade que ainda hoje se oferta nesta seara.
45 Como se trata de um assunto que foge ao a escopo do presente tópico, sobre a ele não nos debruçaremos. No entanto, podemos aqui deixar registrado que a “a ‘neutralidade de rede’, que consiste no transporte de dados sem interferência por parte dos operadores. Como a tecnologia digital converte qualquer tipo de conteúdo em números binários, aos detentores das redes não haveria diferença se o pacote que está sendo transportado é de texto ou de vídeo, por exemplo. Essa dinâmica passou a ser ameaçada pelo uso por parte dos operadores de recursos, que identificam a natureza do conteúdo e permitem ações como o retardamento e até mesmo o impedimento do tráfego. O objetivo seria prejudicar o acesso a conteúdos comercializados em outros serviços pelo operador, como vetar o carregamento de vídeos, uma vez que uma empresa também oferece serviços de TV, ou dificultar o uso de aplicativos de voz sobre IP para impedir a redução do uso do serviço de telefonia. Essa forma de discriminação pode ser promovida de duas formas: quanto aos usuários e quanto às aplicações (Verhulst, 2011). Na primeira, um provedor pode privilegiar o tráfego de um cliente determinado, como uma empresa que faz uma contratação vultosa e que exige em contrato determinadas condições de prestação do serviço, como velocidade mínima. No segundo, o tratamento diferenciado é pelo tipo de conteúdo, como no exemplo anterior. Por vezes, as duas modalidades podem ser executadas de forma combinada.” Nesse sentido, VALENTE, Jonas Chagas Lúcio. Regulação do acesso à Internet no mundo. Modelos, direitos e desafios. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012, p. 51-78. 46 Cf. nota 32, supra. 47 Nos termos do referido art. 16 da Resolução n.º 574/11: “Art. 16. Durante o PMT, a Prestadora deve garantir uma velocidade instantânea de conexão, tanto no download quanto no upload, em noventa e cinco por cento dos casos, de, no mínimo: I - vinte por cento da velocidade máxima contratada pelo Assinante, nos doze primeiros meses de exigibilidade das metas, conforme estabelecido no art. 46 deste Regulamento; II - trinta por cento da velocidade máxima contratada pelo Assinante, nos doze meses seguintes ao período estabelecido no inciso I deste artigo; e III - quarenta por cento da velocidade máxima contratada pelo Assinante, a partir do término do período estabelecido no inciso II deste artigo.” BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel. Resolução n.º 574 de 28 de outubro de 2011. Aprova o Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM). Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/57-resolucao-574. Acesso em: 23/06/2014
27
Não se deve olvidar que “embora a definição do acesso à banda larga como direito
ainda seja uma realidade para poucos países, ela é um referencial importante para as políticas que
tenham esta tecnologia como objeto, uma vez que reconhece a importância dela para a garantia
não apenas do direito à comunicação, mas também de outros direitos humanos”48.
3.2.2 Cidades digitais: utopia ou realidade possível?
Considerando que estamos tratando da presença Estado e seu papel como fomentador
doo desenvolvimento da internet, uma vez que já se demonstrou a extrema necessidade de
investimento para a implantação da banda larga em todo o país e também promover uma maior
aproximação entre governo e os cidadãos por meio das políticas de e-government, deve-se
também ter em vista que essa realização deverá atingir a administração pública em sua esfera
mais próxima do cidadão que, sem dúvida nenhuma, é a municipal.
Quando se fala em expansão da banda larga e em implantação que venha a ser cada
vez mais crescente do governo eletrônico, o que se observa é que
entre os serviços eletrônicos mais cotados pelas pessoas que nunca utilizaram serviços de governo eletrônico figuram vários serviços de âmbito municipal: pagamento de impostos e taxas municipais, emissões de certidões, obtenção de licenças e permissões, consultas sobre o andamento de atos processuais na justiça, elaboração de boletim de ocorrência, matrícula escolar, informações sobre empregos, etc., o que pode indicar oportunidades para serviços eletrônicos
municipais49.
Importante ser ressaltada essa iniciativa, além do que consideramos, porque em um
modelo federativo por cooperação, é muito importante que as ações governamentais se façam de
forma integrada e, por isso, a articulação entre todas as esferas e estas com a sociedade há de ser
cada vez mais ampliada e isso não deve ser diferente com as políticas de governo eletrônico.
Neste sentido, Souto, Cavalcanti e Martin mostram bem a dimensão dos fatos e dos desafios a
serem enfrentados:
Nos últimos anos, em diversos países, os setores locais de governo, negócios e comunidades, embora apresentem objetivos distintos, vêm buscando um alinhamento de interesses que tem motivado a busca por soluções compartilhadas para superação das debilidades na oferta de banda larga. Uma estratégia frequentemente adotada é a agregação de demanda, seja de comunidades, de governo, ou empresas, com vistas a viabilizar os investimentos necessários para a disponibilização ou ampliação de infraestruturas e serviços de telecomunicações em regiões distantes dos centros de consumo. Tal estratégia permite a obtenção de benefícios econômicos que dificilmente seriam obtidos por meio de contratos
individuais.Combinar serviços municipais eletrônicos de governo, como de educação e saúde, além de serviços privados e de comunidades, é uma maneira eficiente de se agregar demanda que pode contribuir para a implantação de infraestruturas em regiões atualmente desprovidas50.
48 Ibidem. Op. cit., p. 68. 49 SOUTO, Átila Augusto et alli (Org.). O Brasil em Alta Velocidade. Um plano nacional para banda larga. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/banda-larga. Acesso em: 12/03/2014. p. 98. 50 Ibidem.
28
Implantada51 e, assim como se espera, ampliada essa política com as determinações
previstas no Marco Civil (ao estabelecer o Estado – em todas as esferas – com fomentador do
desenvolvimento da internet), acreditamos que em um futuro não muito distante possamos
testemunhar a existência de modernos modelos de gestão, amplo acesso aos serviços oferecidos
pelo governos e, como decorrência, a promoção do desenvolvimento dos municípios brasileiros por
meio dessas novas tecnologias. Iniciativas como estas, que já demonstram resultados positivos
onde implantadas, estão muito além da dimensão tecnológica. Constituem-se, sobretudo, em meio
catalizador, dentro de um processo social dinâmico e contínuo, que permite o debate e o
envolvimento direto de lideranças municipais e seus cidadãos, colocando-os como agentes de sua
própria transformação, individual e coletiva.
REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3.º edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? 1.ª edição. Coimbra: Almedina, 2008.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. 1.ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. 1.ª Edição. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007.
BRASIL. Lei n.º 12.965 de 23 de abril de 2014. Estabele princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 08/06/2014.
_______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei de Imprensa. Adequação da Ação. ADPF n.º 130. Relator: Min. Ayres Britto. 30 abr. 2009. DJE, Brasília, v. 208, 6 nov. 2009. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 19 de junho de 2014.
_______. Ministério das Comunicações. Anatel. Resolução n.º 574 de 28 de outubro de 2011. Aprova o Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM). Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/57-resolucao-574. Acesso em: 23/06/2014
CANÁRIO, Pedro. STJ aplica 'direito ao esquecimento' pela primeira vez. Revista Consultor Jurídico. 5 de junho de 2013. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-jun-05/stj-aplica-direito-esquecimento-primeira-vez-condena-imprensa. Acesso em: 19/06/2014.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v.1).
CHADWICK, Andrew; MAY, Christopher. Interaction between States and Citizens in the Age of the
51 Para maiores informações sobre o programa, Cf. http://www.mc.gov.br/cidades-digitais.
29
Internet: “e-Government” in the United States, Britain, and the European Union. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 16, No. 2, April 2003 (pp. 271–300). © 2003 Blackwell Publishing, 350 Main St., Malden, MA 02148, USA, and 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK ISSN 0952-1895 Disponível em: http://wiki.douglasbastien.com/images/4/4a/Interaction_between_States_and_Citizens_in_the_Age.pdf. Acesso em: 11/06/2014.
DELGADO, Silvana Andrea Figueroa et alli.(Coord.). La Ciencia Y Tecnología em El Desarrollo. Uma visión desde América Latina. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.
DINIZ, Eduardo Henrique et alli. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. Revista de Administração Pública – RAP. Número 43, Vol. 1, p. 23-48, Rio de Janeiro, jan./fev., 2009. Disponível em: Acesso em: 15/06/2014.
DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 3.º edição. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
_______. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
FANG, Zhiyuan. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol. 10, N.º 2, 2002, p 1-22. Disponível em: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan016377.pdf Acesso em: 14/03/2014
FLORES, Jaime Muñoz. El Papel Fundamental de Internet para el Desarollo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje y su impacto en la brecha digital. Revista Mexicana de Investigación Educativa – RMIE. Enero-Marzo, 2010. Vol. 15, n.º 44, pp. 17-33. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662010000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 11/06/2014.
GRAU,Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8.ªEd. São Paulo: Malheiros. 2003.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 1.ª Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999.
HABERMAS, Jurgen. Teoria do Agir Comunicativo. Racionalidade d a Ação e Racionalização Social. Sao Paulo: Martins Fontes, 2012, Vol.1,
LUHMAN, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoria general. Trad. Silvia Pappe y Brunhilde Erker. Barcelona: Anthropos; México: Universidad Iberoamericana; Santafé de Bogotá: CEJA, Pontificia Universidad Javeriana, 1998.
MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. 1.º Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
POSSEBON, Samuel. Prefácio. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012.
RODRIGUES, Leo Peixoto et alli. Niklas Luhmann: A sociedade como sistema. 1.º Edição. Porto Alegre: PUC/RS, 2012.
RODRIGUES, Otávio Luiz. Primeiras considerações sobre o Marco Civil da Internet. Revista Consultor Jurídico. 23 de abril de 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-abr-
30
23/direito-comparado-primeiras-consideracoes-marco-civil-internet. Acesso em: 12/06/2014.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Trad. de Rolando Roque da Silva. Edição eletrônica (e-book). Ridendo Castigat Mores, 2002, p. 9.Disponível em: www.jahr.org. Acesso em: 13/06/2014.
RULLI NETO, Antonio e RULLI JÚNIOR, Antonio. Direito ao Esquecimento e o Superinformacionismo: apontamentos no Direito Brasileiro dentro do contexto de sociedade da informação. Revista do Instituto do Direito Brasileiro – RIDB. Ano 1 (2012), nº 1, 419-434. Disponível em: http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/RIDB_001_0419_0434.pdf. Acesso em: 12/06/2014
SANTOS, Boaventura de Souza. Pelas Mãos de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade. 7.º Ed. Porto: Afrontamentos, 1999.
SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 4ª. Edição, 2006.
SILVA, Silvado Pereira da; RIBEIRO, Carolina Teixeira; MERLI, Daniel. Exclusão digital no Brasil e em países emergentes: um panorama da primeira década do século XXI.In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012.
SOUTO, Átila Augusto et alli (Org.). O Brasil em Alta Velocidade. Um plano nacional para banda larga. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/banda-larga. Acesso em: 12/03/2014.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 11.ª Edição, rev.,at. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 2. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.
_______. Manual de direito civil: volume único. 2. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.
THOMPSON, Marcelo. Marco civil ou demarcação de direitos? Democracia, razoabilidade e as fendas na internet do Brasil. RDA – Revista de Direito Administrativo,Rio de Janeiro, v. 261, p. 203-251, set./dez. 2012. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2101322. Acesso em: 08/06/2014.
TOURAINE, Alain.O que é democracia? 2.ª Edição. São Paulo: Petrópolis, 1996.
VALENTE, Jonas Chagas Lúcio. Regulação do acesso à Internet no mundo. Modelos, direitos e desafios. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BIONDI, Antônio (Org.). Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga. Experiências internacionais e desafios brasileiros. 1.ª Edição. São Paulo: Intervozes, 2012.
WOLCOT, Peter. A Framework for Assessing the Global Diffusion of the Internet. Journal of the Association for Information Sustems. Vol. 2, November, 2001. Disponível em: http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/rp/Wolcott_2001.pdf. Acesso em: 11/06/2014
WOLKMER, Antônio Carlos. Direitos Humanos: novas dimensões e novas fundamentações. Disponível em: https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/viewFile/768/490. Acesso em: 18/06/2014.