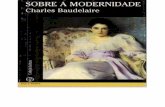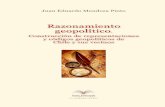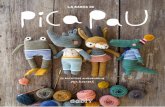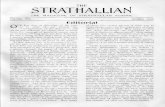editorial - ESPM
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of editorial - ESPM
2R E V I S T A D A E S P M - J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
OEDITORIALproblema do emprego e da empregabilidade de executivos eformandos de graduação é tratado à exaustão, nesta edição denossa Revista. Os especialistas do assunto revelam que as empre-sas estão cada vez mais exigentes, na hora de contratar trainees,ou executivos. Os entrevistadores submetem os candidatos a umasérie infindável de testes refinados que avaliam sua personalida-de e comportamento. Mas, curiosamente, parece que as empre-sas se preocupam menos com o grau de conhecimentos acadê-micos dos candidatos, no caso dos jovens formandos. Tomam odiploma como comprovação desses conhecimentos e não se preo-cupam em testá-los. Isto dá à parte ética e comportamental umpeso decisivo na avaliação. Mas na prática as coisas nem semprefuncionam como deveriam. Uma grande amiga contou-me queseu filho, um formando de Administração de Empresas, passourecentemente por um processo de seleção de trainees numa grandeempresa e foi um dos escolhidos, justamente pelo seu espíritoparticipativo. Os entrevistadores apreciaram bastante as suas in-tervenções nas discussões em grupo. Depois de contratado, ojovem trainee passou a trabalhar no departamento de marketinge logo foi chamado a participar de uma reunião com a agênciade propaganda. Na reunião, participou bastante e deu vários pal-pites. No dia seguinte, o gerente de marketing o chamou e disse:“Daqui para frente, fique de boca fechada nas reuniões, ou vaiser despedido”.
Como se vê, é preciso que os selecionadores dos departamentosde RH entrem em sintonia com os seus colegas dos outros setoresda empresa. Mas é preciso também que os jovens candidatoscompreendam que muitas empresas são forçadas a recusar mui-tos candidatos excelentes, simplesmente porque não há vagaspara todos, na atual conjuntura econômica. A esse respeito, acharge de Dorinho que ilustra esta edição faz-me lembrar da ve-lha frase do filósofo inglês David Hume, que disse certa vez: “sóa arte dá vida à verdade”. Numa época como essa, quando dezmil pessoas (inclusive muitas com diplomas universitários) secandidatam a uma vaga de gari no Rio de Janeiro, é lógico que asempresas procuram dificultar cada vez mais o ingresso em seusquadros. De qualquer forma, lendo as opiniões de tantos diretoresde RH e headhunters, gostaria de dar um conselho aos jovensformandos: acima de tudo, planejem a sua própria carreira. Defi-nam os seus objetivos profissionais e coloquem-nos acima dosinteresses das empresas empregadoras.
FRANCISCO GRACIOSO
EXPEDIENTECONSELHO EDITORIALFrancisco Gracioso - Presidente
Alex Periscinoto
Alexandre Gracioso
Aylza Munhoz
Jacques Marcovitch
J. Roberto Whitaker Penteado
EDITORJ. Roberto Whitaker Penteado
MTB no 178/01/93
e-mail: [email protected]
COORDENAÇÃO EDITORIALLúcia Maria de Souza
PROJETO GRÁFICOMiriam Duenhas
DIRETORA DE ARTEMiriam Duenhas
FOTO DA CAPAJunior de Oliveira
REVISÃOAnselmo Teixeira de Vasconcelos
IMPRESSÃOEditora Referência
Rua François Coty, 228
CEP 01524-030
Tel.: (11) 6165-0766
Fax: (11) 272-6921
REDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃORua Dr. Álvaro Alvim, 123
São Paulo - SP
CEP 04018-010
Tel.: (11) 5085-4508
Fax: (11) 5085-4646
E-mail: [email protected]
REVISTA DA ESPM — uma publicação bimestral
da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Os conceitos emitidos em artigos assinados são
de exclusiva responsabilidade dos autores.
Professores, pesquisadores, consultores e
executivos são convidados a apresentarem
matérias sobre suas especialidades, que venham
a contribuir para o aperfeiçoamento da teoria e
da prática nos campos da administração em geral,
do marketing e das comunicações. Informações
sobre as formas e condições, favor entrar em
contato com a coordenadora editorial.
R E V I S T A D A
PARA ASSINAR, LIGUE: (0XX11) 5085-4508OU MANDE UM FAX PARA: (0XX11) 5085-4646
SE PREFERIR, ACESSE O SITE: WWW.ESPM.BR
4R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
necessidade de entender as reaisdimensões do nosso mercado, en-cerrar as sessões de lamentação epartir para vender com vontade ecom competência. Parabéns pelainiciativa.”
Carlos Sallespor e-mail
• Agradecemos o comentário do leitor ilustre, que
presidiu, durante vários anos a Xerox brasileira e
dirige, hoje, sua empresa de consultoria. (JRWP)
Vocês se excederam na última Re-vista da ESPM. Devorei da 1o à últi-ma página. A entrevista com JoséMurilo, a mesa-redonda sobrecomportamento do consumidor ea pesquisa de marcas foram lapi-dares.
Lançamos um especial na revistaConsumidor Moderno – A Históriadas Relações de Consumo no Bra-sil. Um verdadeiro arquivo históri-co que virará livro no ano que vem.Não hesite em nos contactar paracolaborarmos no que for preciso.
Abraços do amigo,Roberto Meir
por e-mail
• Roberto Meir é editor da revista Consumidor
Moderno. (JRWP)
O número de março/abril está ex-
celente. E, entre tanta excelência,um garimpador de histórias daHistória da Publicidade, como eu,destacaria as matérias do Heraldo– Propaganda Subliminar e outrasLendas Urbanas – e a do SamuelGorberg – Figurinhas de Coleção –Primeiros Passos do MarketingPromocional.
Esta última ficaria ainda mais com-pleta se tivesse registrado doisícones do mundo das figurinhasinseridas em produtos de consu-mo: as Balas Futebol, que polari-zaram gerações nos anos quaren-ta e cinqüenta, e os chocolatesAsas da Vitória (série vermelha esérie azul) que nos anos da Segun-da Guerra ensinaram jovens ecrianças a reconhecer, um a um,as centenas de caças, bombardei-ros, aviões de reconhecimento eoutras aeronaves utilizadas pelosaliados naquele conflito. Seria umainteressante suíte para a matéria.Parabéns e um grande abraço.
Renato Perracini
Em tempo: O que faço para nãomais perder um só número daRevista?
• Nosso colaborador já prometeu um novo
artigo, só sobre figurinhas de esporte. Quanto
a não perder a Revista, com a palavra a nossa
coordenadora editorial: – É assinando que se
recebe… (JRWP)
“Gostei de ler a transcrição do de-bate “As marcas na encruzilhada”.Aplaudo com entusiasmo a idéia deque o mercado brasileiro ofereceimportantíssimas oportunidadesque, por alguma razão, os nossosmarketeiros têm sido incapaz es decapturar. E discordo frontalmentedos que viv em dizendo que, comonação , ficamos mais pobres a cadaano. Basta conferir o Plano de Me-tas de Juscelino K ubitschek, escri-to por Lucas Lopes e por RobertoCampos em 1954. Ali está um re-trato do anão econômico que erao Brasil, 52o PIB do mundo, rendaper capita inferior a 400 dólares,53% de analfabetos. Estou segurode que a Nestlé prefere vender aosbrasileiros de 2003, ao invés dosnossos conterrâneos de 1953.
Também se alegou no debate quea indústria automobilística está emcrise porque não chegou à met ade 2 milhões de carros vendidos porano. Seráque o pr oblema tem a v ercom a pobreza do Brasil ou com apostura acomodada da indústriaem matéria de pró-atividade devendas? Na minha vida devo tercomprado ou participado da com-pra de uns 30 carros. Nunca mevenderam um só carro. Compreiporque sou teimoso e persistente.
Acho que o debatecolocou namesa uma prioridade brasileira: a
CARTAS
ÍNDICE
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO:COMO PROMOVER SEU CRESCIMENTO?
Eduardo NajjarO artigo discute questões ligadas à participação dos jovens universitários no mercado de trabalho nacional, analisando o assunto do ponto de
vista das famílias, das Instituições de Ensino Superior, das Empresas e do Mercado de Trabalho.
8
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA:O TRABALHO SEM O EMPREGO
Hermano Roberto Thiry-CherquesEm que condições as pessoas preferem o trabalho individualizado, não circunscrito às organizações. Há limites de tolerância, tanto do empregado como do
trabalhador. Mas novas oportunidades abrem-se para os intolerantes com as organizações e os intolerados por elas pois as formas de trabalho não presencial têm
espaço crescente na economia contemporânea.
COACHING: SÓ QUEM NÃO É BOBOACHA QUE VAI PRECISAR DISTO.
Marcos Souza AranhaConheça o método do coaching, uma atividade muito antiga. O Coach é a pessoa que deve ajudar outras a atingir seus objetivos através daquilo que têm de
melhor. Saiba separar as atividades como terapia, aconselhamento profissional, counseling , mentoring do coaching propriamente. Decida-se sobre para que,
quando, como, onde, com quem fazer coaching.
VERDADES DO VAREJO – MARKETING ECOMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
Edson ZogbiVários olhares sobre o universo do marketing e da comunicação do varejo que objetivam o mapeamento do momento atual e a indução ao questionamento e a revisão de
conceitos. Um texto polêmico devido ao caráter especulativo e ao mesmo tempo analítico sobre o assunto.
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTODO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
Rodrigo D. de Salvi e Ernesto M. GiglioO objetivo deste artigo é investigar as possibilidades explicativas de três modelos do comportamento do consumidor, quando aplicados ao comporta-
mento das pessoas católicas. Os modelos são tipologia, processo em etapas e influencia social.
DIVISOR DE ÁGUAS – EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM OQUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
Mirela TavaresFazer parte de uma grande empresa, redirecionar a área de atuação ou apenas se aperfeiçoar no cargo em que atua. Tudo isso exige a busca do conhecimento
e a ampliação da visão mercadológica. Quem garante são ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da ESPM, que relatam os resultados de seus
esforços pós-vida acadêmica.
84100112124126128130
MESA-REDONDA SOBRE EMPREGO E EMPREGABILIDADE
ENTREVISTA COM ADRIANA FELLIPELLI E ELAINE SAAD
CASE-STUDY: GRUPO TALENT: DESAFIOS DO FUTURO
LEITURA RECOMENDADA
SUMÁRIO EXECUTIVO
ENGLISH ABSTRACTS
PONTO DE VISTA com Carlos Faccina
18
36
40
58
72
8R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
E
Eduardo Najjar
ste artigo aborda a formação e acolocação de jovens profissionaisno mercado de trabalho brasileiro,na atual conjuntura.
Tem como referência pensadoresda educação no Brasil e pesquisasrealizadas recentemente, com es-tudantes do ensino superior, mascomeça a abordar o assunto pelasreferências pessoais que temos.
A maioria de nós, nascidos até adécada de 70, teve experiências se-melhantes quanto aos estudos ini-ciais, grupo de amigos, primeirasexperiências de trabalho. Fiz meusprimeiros estudos num “grupo es-colar” estadual de bairro.
Professores bem formados, exigen-tes, disciplinados e disciplinadores,nem sempre tão próximos do con-vívio informal com os alunos. Nalinguagem dos meninos e meninasdaquela época: muito bravos!
MERCADO DE TRABALHOPARA O JOVEM BRASILEIRO:
COMOPROMOVERSEUCRESCIMENTO?
Keys
tone
9J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO: COMO PROMOVER SEU CRESCIMENTO?
A escola situava-se numa rua cal-ma apesar de, bem em frente, ha-ver um pronto-socorro cujo ruído es-porádico da sirene da ambulância eo barulho da saída das crianças, aofinal dos períodos de aulas, altera-vam o ritmo da vida nas imediações.
Passando pela mesma rua, dias atrás,notei que a pequena escola aindasobrevive tendo como novo vizi-nho de frente uma faculdade deadministração de empresas. Doisimponentes prédios ... naquela pe-quena rua!
“Devemperceber, comonas palavras de
CristovamBuarque, que
o diplomaconseguido hoje
possui prazode validade...”
empresas que os recebem e, emsua maioria, oferecem formaçãocomplementar a essa populaçãode profissionais, até pela necessi-dade de crescimento e perpetua-ção do negócio propriamente dito.
1. A ESCOLA E O PROCES-SO EDUCACIONAL
“Por mais limitado que seja o âmbi-to de vida de qualquer povo, lá ire-mos encontrar, em gérmen – porvezes obscuras e indiscriminadas –,quatro grandes instituições funda-mentais, que lhe constroem econdicionam a vida em comum: aFamília, o Estado, a Igreja e a Escola.
...A função da universidade é única eexclusiva. Não se trata somente de di-fundir conhecimentos. O livro tam-bém os difunde. Não se trata, somen-te, de conservar a experiência huma-na. O livro também a conserva. Nãose tra-ta, somente, de pre-parar prá-ticos ou profissionais, de ofícios ou deartes. A aprendizagem direta os pre-para ou, em último caso, escolas mui-to mais singelas do que universidades.
Trata-se de manter uma atmosfe-ra de saber para se preparar o ho-mem que o serve e o desenvolve.Trata-se de conservar o saber vivoe não morto, nos livros ou noempirismo das práticas nãointelectualizadas. Trata-se de for-mular intelectualmente a experi-ência humana, sempre renovada,para que a mesma se torne cons-ciente e progressiva.
Trata-se de difundir a cultura hu-mana, mas de fazê-lo com inspira-ção, enriquecendo e vitalizando osaber do passado com a sedução,a atração e o ímpeto do presente. yw
A comparação do panorama anti-go com o novo nos traz estas per-guntas: quantos jovens estarão sen-do colocados no mercado, porano, através dos conhecimentosoferecidos por essa Instituição deEnsino Superior? Com que quali-dade de formação?
A partir da observação que faço,já há algum tempo, sobre a prepa-ração que jovens vêm recebendona família e na escola e seu con-
seqüente encaminhamento parao mercado de trabalho, apresentouma análise de algumas das vari-áveis do processo que resulta naformação do jovem profissionalque será o ocupante, em um futu-ro próximo, de importantes posi-ções no comando das empresas edos governos, no Brasil.
As variáveis analisadas são: o sis-tema de ensino brasileiro, a qua-lidade da formação oferecida pe-las Instituições de Ensino Superi-or, a expectativa e a influência dasfamílias na sua educação, o mer-cado de trabalho atual para essesegmento, a postura e a atitude das
10R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
O saber não é um objeto que se re-cebe das gerações que se foram, paraa nossa geração; o saber é uma atitu-de de espírito que se forma lentamen-te ao contato dos que sabem. Auniversidade é, em essência, a reu-nião entre os que sabem e os quedesejam aprender.
Há toda uma iniciação a se fazer. Eessa iniciação, como todas as inicia-ções, se faz em uma atmosfera quecultive sobretudo a imaginação. Cul-tivar a imaginação é cultivar a capa-cidade de dar sentido e significadoàs coisas. A vida humana não é otranscorrer monótono de sua rotinaquotidiana; a vida humana é, sobre-tudo, a sublime inquietação de co-nhecer e de fazer. É essa inquieta-ção de compreender e de aplicar queencontrou, afinal, a sua casa. A casaonde se acolhe toda a nossa sede desaber e toda a nossa sede de melho-rar, é a universidade.”
Trechos do discurso de Anísio Teixeira na
solenidade de inauguração da Universidade do
Distrito Federal, Rio de Janeiro, 1935.
Desde meus primeiros estudos sobreeducação, a figura de Anísio Teixeira(*) marcou-me profundamente pelobrilhantismo de suas análises sobreo processo educacional brasileiro epor suas realizações em prol do en-sino no Brasil.
Em suas palavras transcritas acima,Teixeira traduz a importância da escolae do ensino superior para um país comnossas condições geográficas, materi-ais e para a conjuntura da época.
Desde aquela época e ainda hojeobserva-se, no campo do ensino su-perior brasileiro, um mercado comcaracterísticas certificadoras por partede sua clientela.
Do ponto de vista das Instituições deEnsino Superior é possível observaro esforço que resultou na multipli-cação desses estabelecimentos, prin-cipalmente após a promulgação danova Lei de Diretrizes e Bases (1996).
Seus clientes em potencial – aspiran-tes e integrantes do mercado de tra-balho nacional – ameaçados por umaconjuntura nacional (e, mesmo, mun-dial) negativa em termos de níveis deempregabilidade obrigam-se a fre-qüentar cursos superiores e/ou cur-sos de extensão em busca do apri-moramento de seus conhecimentos,na tentativa da manutenção de suasposições no mercado de trabalho.Essa pressão faz com que concluamque ao obter o certificado de con-clusão de um curso, aumentarão seunível de empregabilidade.Conclusão errada!Crença referente a um passadolongínquo!
Essas e tantas outras crenças a res-peito desse assunto fazem com quefiquem cegos para a nova realidade(não tão nova assim): o mundomudou ... e continuará mudando avelocidades cada vez maiores.Surgidas da opinião de familiares,figuras de autoridade, do “ruído” domercado, de profissionais formado-res de opinião com vieses em seupensamento estratégico a respeito donovo mercado de trabalho na
economia do conhecimento.
Devem perceber, como nas palavrasde Cristovam Buarque, que odiploma conseguido hoje possuiprazo de validade...
Bem como que as empresas necessi-tam (e muito) do trabalho de profis-sionais que possuam, em seu perfil,um “mix” de competências técnicas,de comportamento e inter-relaciona-mento pessoal com diferentes cultu-ras e níveis organizacionais, habili-dades que permitam sintonizar-secom o constante estado de mudan-ça do mundo, atitudes e posturas po-sitivas na forma de conduzir seus tra-balhos e a gestão de suas carreiras.
2. O SISTEMA DE ENSI-NO NO BRASIL
“... a educação era para a elite e detipo aristocrático. O colégio dos je-suítas, na Bahia chegou, mediantesolicitações repetidas, a graduarbacharéis. Seus alunos graduadoseram recebidos na Universidade deCoimbra para o último ano do Colé-gio de Artes, reconhecidos os trêsprimeiros feitos na Bahia. O Brasilconsiderava os colégios jesuítas comovestíbulos da universidade, cujaformação em Letras Clássicas lheparecia a mais perfeita formação dohomem. Quando, ainda hoje nosreferimos ao gosto da fala no Brasil eà inclinação nacional para a oratória,que poderia decorrer desse tipo deeducação universitária, pode-serecordar o Padre Serafim Leite quecita haverem ficado os padres jesuítasmuito surpreendidos com os índios,tendo um deles chegado a dizer que
Eduardo Najjar
(*) Anísio Teixeira, educador, pensador e administrador. Dentre os inúmeros
cargos que exerceu na área de educação estadual e federal destaco sua
passagem como Secretário da Educação e Cultura do Governo Federal
(1931/1935), a criação da Universidade do Distrito Federal (1935), consultor
da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura –
UNESCO (1946/47), diretor geral do INEP (1952/1964), reitor da
Universidade de Brasília (1963/1964), membro do Conselho Federal da
Educação (1962/1968).
11J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
‘os índios são como os romanos; omais importante dentre eles é o mestreda fala’. De maneira que não seriaapenas a nossa educação retórica dauniversidade medieval que nos teriafeito, por vezes, amigos mais dapalavra do que da ação...”.
Trecho do livro de Carlos Guilherme Mota Ideologia
da Cultura Brasileira – 1933-1974
O ensino superior no Brasil nasceuelitizado, como nos relata, acima, ohistoriador contemporâneo CarlosGuilherme Mota.
Uma das conseqüências dessaelitização: falta de oportunidades queas dificuldades existentes na parceriauniversidade-empresa vêm gerando,atingindo em cheio a formaçãoprofissional dos jovens universitários,maiores e mais rentáveis melhorias deprocessos e produtos, surgimento demuitas carreiras brilhantes no cenárionacional e internacional, redução dosinvestimentos em inovações em pro-cessos e produtos etc.
Há muitos anos venho conduzindotrabalhos em parceria entre universi-dades e empresas.
Reconheço o bom desempenho deprojetos em áreas como “agri-business”, engenharia, medicina e nãoposso deixar de revelar a enorme difi-culdade que existe na realização deprojetos em outras áreas do conhe-cimento, em ambos os lados dessaparceria.
QUE TIPOS DEDIFICULDADES?Falta de sintonia entre os objetivosdas partes envolvidas nosprojetos, adequação das idéias, dalinguagem e do ritmo de trabalhoentre “players” com culturas tãodiferentes.
O IMPACTODESSAS DIFERENÇAS?É tão significativo, que faz comque seja desprezada a relação decomplementaridade que existeentre universidade e empresa, ex-plorada com maestria, comótimos resultados, em diversospaíses do mundo.
CAUSAS PRINCIPAISDO INSUCESSO NOSPROJETOS CONJUNTOS?Desperdício de tempo e energia nocampo das relações, do “aparar a-restas entre os egos envolvidos” ...e assim, o objetivo primordial ficarelegado a um plano de secundá-ria importância.
QUAL É OOBJETIVO PRINCIPAL?Aspectos como os ganhos da parti-cipação de estudantes de nível su-perior no dia-a-dia das empresas, arelação fluida da empresa nos pro-cessos educacionais das Institui-ções de Ensino, gerando amplaspossibilidades de novos projetos erealizações importantes para ambasas partes.
DUAS OBSERVAÇÕES:
Sobre a aplicabilida-de prática da maioriados conteúdos trans-mitidos aos alunos do
ensino superior em diversas áre-as do conhecimento frente à qua-lidade do trabalho que essesfuturos profissionais virão a ofe-recer à sociedade, à possibilida-de que virão a ter para manterem-se no mercado de trabalho –nacional, regional e mundial –nos próximos quarenta anos,tempo médio de duração de suasfuturas carreiras.
Sobre o pensamentoestratégico (“mindset”)que está sendo trans-mitido a esses jovens
pelas Instituições de Ensino. Temoestarmos tentando resolver situaçõesnovas com as mesmas fórmulas uti-lizadas há décadas. Um exemplo éa não massificação da aplicação demetodologias que contribuam paradesenvolver nos jovens as caracte-rísticas empreendedoras, uma ne-cessidade imperiosa frente aos no-vos paradigmas das relações demercado atuais. Historicamente afilosofia que está por trás do sistemade ensino brasileiro faz com quenossos estudantes desenvolvam umamentalidade não empreendedora,mas empregatícia. Não são raros osdepoimentos de pessoas nascidasnas décadas de 50, 60 e 70 que ti-veram – em suas famílias e em am-bientes escolares, mesmo em nívelsuperior – impulsos para que se es-forçassem por tornarem-se empre-gados de empresas governamentaise grandes multinacionais. Com es-tranheza pode-se constatar que es-sas idéias e ideais ainda permeiamgrande parte das famílias e dos am-bientes educacionais brasileiros.
3. A FAMÍLIA E OMERCADO EDUCACIONAL
“Eu sou, virtualmente, tudo o queé humano. Da ginástica à política,da filosofia à engenharia, da culi-nária à música, da espiritualidadeà pedagogia, da juventude à velhi-ce, do masculino ao feminino, doamor à dor, da miséria à prosperi-dade. O humanista jamais será es-pecialista em tudo mas será capazde se interessar por tudo o que en-contrar, de vibrar com todas as to-nalidades emocionais que o cer-cam e o tocam. Somos tanto mais
2)
1)
yw
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO: COMO PROMOVER SEU CRESCIMENTO?
12R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
humanos quanto mais somos cul-tos... A única finalidade da cultu-ra é produzir seres humanos e so-mos, todos nós, não importaquanto sejamos, responsáveis poressa produção, tanto individualcomo coletivamente... Aeducação (e a aprendizagem) éuma atualização da cultura... umacriança que aprende reproduz opróprio movimento da espécie...Sim, aprendemos muitas coisasdesde um milhão de anosatrás...nossa aprendizagem iráagora se acelerar a um ritmo bemmais rápido do que até então... Afim de preparar nossos filhos paraa nova velocidade de aprendiza-gem de uma sociedade da qual se-rão membros ativos precisamosimediatamente conceber e por emação uma educação humanista,do ser integral... ensinemos nossosfilhos a venerar o mundo e a cons-ciência que o ilumina. É o fim únicoda educação tornar a consciênciahumana consciente dela mesma...é para essa educação que devemcontribuir pais, professores,curadores de museus, artistas, filó-sofos, empreendedores, cidadãos,governos, a Internet, nós todos,aqui e agora.”
Pierre Levy
As informações que seguem de-monstram o ambiente de prepara-ção profissional que permeia ocrescimento de nossos jovens e osbastidores do negócio da educa-ção, tática que as famílias brasi-leiras utilizam (ainda que agindoautomaticamente, repetindo pa-drões herdados de seus antepassa-dos, de geração para geração) noapoio à educação e desenvolvi-mento profissional de seus filhos.
AS FAMÍLIASGrande parte da família brasilei-
ra de classe média acredita quesuas crianças e jovens devem serpreparados para o vestibular, des-de os primeiros anos de estudo.
Publicada num veículo de comu-nicação de grande penetração,esta frase define com clareza estasituação: “...Nossos filhos, afinal,não são um depósito dos projetosque os pais não conseguiram reali-zar ao longo da vida”.
São conhecidos os casos de pais quepreocupam-se em matricular seus fi-lhos ainda no período da gestaçãomaterna por terem a certeza de queserão bem preparados para entrar noscursos superiores. Essa atitude podegerar conseqüências negativas, casoo estudante não leve avante a expec-tativa da família, falhando no intentode aprovação para o curso. Além dafrustração pessoal, passa a ser estig-matizado dentro da própria famíliae, muitas vezes, em seu grupo social.
O MERCADOEDUCACIONALDo ponto de vista do mercado, asinstituições de ensino que oferecemos níveis iniciais de formação dosestudantes estão, atualmente, muitopreocupadas com sua sobrevivênciafrente à enorme concorrência nosetor (minha opinião é francamentea favor da existência de concorrênciasaudável em todos os setores).
Até determinada época, esses em-preendimentos surgiam em famí-lias ligadas ao ensino, o que faziacom que fossem administradoscom o amor e a competência deeducadores.
Atendendo a um mercado comdemanda crescente, formado porcasais que trabalham em tempointegral, e têm a necessidade de
entregar seus filhos a estabeleci-mentos confiáveis que possamacolhê-los e também educá-los,surgiu um segmento de escolasque “cuidam” dessas crianças ...e também as educam.
Seus fundadores não são, neces-sariamente, educadores e sim pes-soas que encontraram nesse nicho demercado uma boa chance deinvestimento com taxa de retornorazoável.
Durante muitos anos esses estabele-cimentos cresceram e prosperaram.
Seu sucesso fez com que viessem aoferecer também ensino de nívelmédio utilizando tecnologia educa-cional própria ou, em alguns casos,parcerias com empresas da áreaeducacional que comercializammetodologias de ensino pré-formatadas.
Existem casos em que o grande su-cesso desses empreendimentosacaba por gerar a oportunidade dosurgimento de Instituições de Ensi-no Superior.
4. A QUALIDADE DOENSINO OFERECIDO NOBRASIL
Posição de consenso, defendidapor muitos educadores e profis-sionais de outras áreas do conhe-cimento, é de que nossos jovensnecessitam receber formação deboa qualidade, atualizada e con-tínua durante os próximos anos desuas carreiras.
Esse é mais um posicionamentoque precisa ser analisado comcompetência pelos principaisgestores de Instituições de Ensino,
Eduardo Najjar
13J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
de empresas e pelos órgãos dogoverno, pois nosso histórico deatuação nesse campo recomendamodificação de atitudes em bus-ca de resultados mais positivos.
REFORÇO A NECESSIDADE DEMODIFICAÇÃO DEPOSICIONAMENTO, COM TRÊSPASSAGENS REAIS A RESPEITODO TEMA:
Professor do curso degraduação em Adminis-tração de Empresas emconceituada Instituição
de Ensino Superior, na década de 80,fui advertido pelo coordenador do cur-so por estar utilizando, como recursopedagógico, a visita dos alunos a em-presas para, posteriormente, desenvol-ver um trabalho relacionado com essasvisitas. O teor da advertência informa-va que os alunos“... naquela escoladeveriam concentrar-se nos estudos enão em visitas a empresas...”.
Uma conhecida relatou-me com espanto que,no início deste ano, suaturma, em comemora-
ção dos vinte e cinco anos de formatu-ra no curso de psicologia de uma bemconceituada faculdade paulista, reu-niu-se na sala de aula em que realizouo último ano do curso. Surpresas, asintegrantes do grupo constataram quenada havia mudado significativamen-te no ambiente da sala de aula, e mais:ao solicitarem à seção de alunos o cur-rículo atual do curso, verificaram queainda estavam sendo ministradas asmesmas disciplinas que eram ofereci-das há um quarto de século atrás. Masnem tudo eram más notícias; foram in-formadas de que uma comissão deprofessores estava trabalhando ardua-mente para modificar, em 2004, o cur-rículo do curso de psicologia.
Um engenheiro, em-presário bem-sucedi-do no ramo da cons-trução civil reportava-
me – pouco tempo atrás – sobre suaformação na melhor escola de enge-nharia de São Paulo, na década de70: “...centenas de aulas transmitin-do informações inaplicáveis na vidareal, tratando de assuntos absolutamen-te dispensáveis para o ofício, dezenasde fórmulas a decorar...”
Explicava-me a respeito das necessida-des atuais de sua empresa: profissio-nais com boa formação básica,preferencialmente em engenharia,complementada por conhecimentosinterdisciplinares visando atuar nagestão de projetos. Tais projetos sãoempreendimentos complexos cujosgestores devem aplicar habilidadesque vão da formulação de cálculosmatemáticos (técnicos, de enge-nharia e também de matemáticafinanceira), negociação com bancos,com parceiros investidores donegócio, tratativas com fornecedoresnacionais e estrangeiros, logísticapara projetos de construção civil,engenharia de “per si”, coordenaçãode equipes interdisciplinares.
Após analisar os profissionais disponí-veis na empresa, no mercado, erealizar algumas reuniões comcoordenadores de cursos superioresde engenharia para conhecer oscurrículos oferecidos, concluiu pelacriação de uma escola que formecidadãos engenheiros generalistasque venham a trabalhar em suaempresa e desenvolvam alto grau deempregabilidade para atuarem nomercado nacional e internacional.
As análises dos tópicos 5 e 6 referem-se a jovens profissionais universitáriosque estejam trabalhando ou com umforte desejo de estarem empregados,
com faixa etária entre 20 e 26 anos.
5. O MERCADODE TRABALHOPARA OS JOVENSPROFISSIONAIS
As estatísticas dos institutos especiali-zados em contratação dos jovensestudantes – para programas deestágio e para a contratação detrainees – apontam a existência denível adequado de ofertas para opor-tunidades de trabalho nesse segmento,diferentemente do que ocorre com asfaixas etárias imediatamenteanteriores e posteriores.
Manchete de matéria publicada nojornal O Estado de S. Paulo, no mêsde julho-2003, indicando que aacirrada concorrência na busca deempregos já atingiu o ambiente in-terno das famílias:
“PAI, ENCONTREI UMEMPREGO: O SEU...”
É real a preferência de muitas em-presas pela contratação de jovens,ainda que inexperientes e emperíodo de formação profissional,em detrimento de pessoas mais ex-perientes, com mais idade esalários mais valorizados.
Como apresentado no tópico se-guinte – As Empresas e os Jovens –,esse tipo de contratação não favo-rece a carreira dos jovens, reduz otamanho do mercado de trabalhopara profissionais mais experientes,baixa a média salarial do mercadoe prejudica as próprias empresas quese vêem obrigadas a investirdezenas de horas no redesenho doperfil profissional dos jovens contra-tados para que consigam atender àssuas necessidades organizacionais.
A)
B)
C)
yw
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO: COMO PROMOVER SEU CRESCIMENTO?
14R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Em muitos casos essas empresas,depois de investirem tempo e di-nheiro nesse processo de desen-volvimento, não conseguem reteros jovens em seus quadros. Com aexperiência e o conhecimento ad-quiridos, partem em busca de no-vas colocações no mercado emempresas que tenham maioratratividade para suas carreiras.
6. AS EMPRESASE OS JOVENS
Fato largamente difundido pelaciência, a energia física no corpohumano da maioria das pessoasatinge seu grau máximo entre os 20e os 35 anos de idade.
Esse aspecto também é analisadopor diversas linhas teóricas entre osespecialistas em comportamentohumano. Uma delas – Antroposofia– caracteriza as pessoas nessa fasede vida comparando-as com a fi-gura mitológica do centauro.
Algumas características normais
desses meninos e meninas:• Alto nível de expectativas pes-soais e profissionais• Otimismo• Alta capacidade de dedicação aprojetos de seu interesse• Baixa capacidade de resistênciaà frustração• Alta necessidade de auto-afirmação• Processo de tomada de decisõesprimordialmente emocional• Sentimento de imortalidade fren-te a situações de risco• Modificação de humor constante,ou seja, cumprem o percurso entre océu e o inferno (entre a alegria e atristeza) em menos de um segundo,várias vezes ao dia, por assuntos comníveis de importância completamen-te diferentes.
As empresas, ao buscar talentos paracompor seus quadros, enviam a essesjovens uma mensagem codificada;algo como: “... nossa empresa desejaque venham trabalhar conosco paradesempenhar – inicialmente –funções menos especializadas, masconfiem em: terão um futuro vitori-oso em suas carreiras.”
A)EXPECTATIVA DOS UNIVERSITÁRIOSEM RELAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHOPesquisa realizada no ano de 2002, pelas empresas Cia. de Talentos e Lab SSJ.
Coordenação: Sofia Esteves, presidente da empresa Cia. de Talentos
Universo pesquisado: estudantes universitários matriculados em
23 Instituições de Ensino Superior, cursando diversas especialidades, somente no Estado de São Paulo
Número aproximado de participantes: 3.880 estudantes
Es t ando em pe r íodo deformação técnica, de caráter,com pouca experiência de vidae muita energia “para gastar”,é fácil imaginar o que aconte-ce, seis meses após um dessesjovens assinar contrato de tra-balho com uma empresa, nãotendo 50% (previsão otimista)de suas expectativas atendidas!
Importante dizer que existemsituações em que as empresase os contratados chegam a umótimo termo entre as expec-ta t ivas de ambas as par tes ,qualidade dos projetos ofereci-dos pela empresa e dos servi-ços desenvolvidos pelos con-tratados.
7. OS JOVENSNeste tópico está relatado o resul-tado de duas pesquisas que pro-curaram ouvir e interpretar o pú-blico jovem, suas convicções, dú-vidas, expectativas profissionais eanálise do ambiente competitivocom que se defrontam ao buscaro mercado de trabalho. yw
Eduardo Najjar
ASPECTOS AVALIADOS
AUTO-AVALIAÇÃO
O que facilita a sua entradano mercado de trabalho
O que dificulta a sua entradano mercado de trabalho
Vontade de aprender
Determinação
Trabalho em equipe
Dedicação
Criatividade
Ansiedade
Inexperiência
Domínio do 2o idioma
Perfeccionismo
Timidez
15J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
yw
O QUE FACILITA E DIFICULTASUA ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO
MOTIVOS QUE OS LEVARIAM ATRABALHAR EM UMA EMPRESA
Empresa dinâmica (20%)
Filosofia parecida com a minha ( 9%)
Autonomia, liberdade de trabalho ( 8%)
Melhor localização ( 5%)
Possibilidade de carreira meteórica ( 4%)
Outros ( 4%)
Ofereça MBA fora do país ( 3%)
Plano de carreira melhor (52%)
Desafios constantes (39%)
Bom salário (37%)
Oportunidade de carreira internacional (35%)
Trabalho mais interessante/prazeroso (33%)
Oferta de cursos e treinamentos (27%)
Possibilidade de atuação em diferentes áreas (26%)
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO: COMO PROMOVER SEU
TIPOS DE EMPRESASEM QUE GOSTARIAM
DE TRABALHAR
Grande porte (60%)
Qualquer tipo (19%)
Médio porte (10%)
Negócio próprio ( 6%)
Serviço público ( 2%)
ONG ( 2%)
Pequeno porte ( 1%)
Qualquer segmento (33%)
Indústria (20%)
Consultoria (18%)
Serviços (11%)
Instituições Financeiras (11%)
Comércio / Varejo ( 7%)
SEGMENTO DEMERCADO EM QUE
GOSTARIAMDE TRABALHAR
PORTAS PARAO MERCADO
Unilever (8%) Siemens (2%)
Nestlé (7%) PriceWaterhouse (2%)
Natura (5%) GM (2%)
Bank Boston (4%) Volkswagen (2%)
IBM (4%) Itaú (2%)
Microsoft (4%) HP (2%)
Citibank (4%) Embraer (2%)
Começar com estágio e ser efetivado (46%)
Ingressar em programa trainee (49%)
Iniciar em posição já efetiva ( 5%)
EMPRESAS EM QUE GOSTARIAM DE TRABALHAR
AVALIAÇÃO GERAL
Facilitadores Dificultadores
Características pessoais Volume de vagas
Identificação com a profissão Economia brasileira
Nível da faculdade Experiência profissional
Experiência profissional Segundo idioma (fraco)
Segundo idioma Falta de plano de carreira
Conhecimentos técnicos Integração da universidade
com a realidade empresarial
16R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
COMO DEVE SER AEMPRESA DO FUTURO
•Humana
•Ética
•Cidadã
•Flexível
•Inovadora
•Responsável
COMO DEVESER A SOCIEDADE
DO FUTURO
•Com igualdade
•Respeito ao indivíduo
•Justa
•Solidária
•Educada
•Com segurança
COMO DEVEM SER OSLÍDERES DO FUTURO
•Orientem os liderados
•Conquistem respeito
•Trabalhem em equipe
•Dêem feedback
•Construam soluções conjuntas
•Facilitem o aprendizado
•Superar desafios
•Iniciar e criar um projeto novo
•Função desafiadora
•Conhecer o porquê das coisas
•Inventar soluções originais
•Cooperar e motivar equipes
O QUE O MOTIVANO TRABALHO
QUE VALORES ESPERAENCONTRAR NAS EMPRESAS
•Promova crescimento pessoal
•Incentivo a harmonia
•Mérito por resultados
•Incentive a tomar decisões
•Justa e imparcial
•Pratique a democracia
Ayrton Senna ( 15%)
Silvio Santos ( 7%)
Não Tenho Ídolo (4,8%)
Meu Pai ( 4%)
Jesus Cristo ( 4%)
Antonio Ermirio de Moraes ( 4%)
QUEM VOCÊ TEM COMO ÍDOLOCARACTERÍSTICAS
MARCANTES DO ÍDOLO
•Determinação
•Carisma
•Humildade
•Vencedor
•Coragem
•Paixão
Eduardo Najjar
Pesquisa realizada no ano de 2003 (junho), pela ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos
Coordenação: Nelson Junque (Vice-presidente RH – Am. Latina – Johnson & Johnson)
Universo pesquisado: estudantes universitários matriculados em Instituições de Ensino Superior,
cursando diversas especialidades e trabalhando (Brasil)
Número aproximado de participantes: 150 estudantes
B) JOVENS TALENTOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS
ASPECTOS AVALIADOS
17J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
8. O FUTURO
Estamos num período de transição.E aqui registro meu olhar positivoa respeito de tudo o que irá ocorrernos próximos cinco a dez anos.Esta constatação pode ser feita porqualquer um de nós, com maiorou menor acuidade.
Podemos nos sentir mais confortá-vel ao sabermos que pessoas comoFritjof Capra, Ervin Laszlo, OscarMotomura, Tamas Makrai, PeterUstinov, Arthur Clarke, MikhailGorbachev, Dalai Lama, ZubinMeta, Pierre Lèvy, NicholasNegroponte, Jean Pierre Rampal,Peter Ustinov, membros de asso-ciações como a World BusinessAcademy, Clube de Budapest e doInstitute of Noetic Sciences estão,neste momento, debruçados sobrea análise da transição que o mun-do está vivenciando e que – certa-mente – muito contribuirão paraapoiar uma mudança de consciên-cia nos pólos de poder no mundo,
visando a melhoria das condiçõesde vida de todos nós, nesteplaneta.
Por volta do ano 2010, muito pro-vavelmente, teremos condição deolhar para este momento de nossopaís e constatar se foram realiza-das as transformações necessáriasà melhoria do mundo cujos rumosnossos jovens de hoje estarão co-meçando a assumir nessa época.
CABE-NOS FAZERNOSSA PARTE!Entre inúmeras ações que podemser colocadas em prática paraapoiar o crescimento pessoal eprofissional dos jovens, destacoa união entre empresas, Insti-tuições de Ensino Superior e deuma terceira parte: o governo,em ações que promovam aatuação conjunta destes trêsatores no sentido de criar condi-ções para que:
• As Instituições de Ensino venham
BIBLIOGRAFIA:DIMENSTEIN, Gilberto; Alves, Rubens. Fomos
maus alunos. Campinas, SP, Editora Papirus,
2003.
LITWIN, Edith. Tecnologia educacional:
política, histórias e propostas. Porto Alegre,
Editora Artes Médicas, 1997.
LASZLO, Ervin. Macrotransição: o desafio para
o terceiro milênio. São Paulo, Editora Axis
Mundi:Antakarana/Willis Harman House, 2001.
LÉVY, Pierre. A conexão planetária: o
mercado, o ciberespaço, a consciência.
São Paulo, Editora 34, 2001.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as
abordagens do processo . São Paulo, EPU, 1986.
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura
brasileira 1933-1974. São Paulo, Editora
Ática, 1994.
OLINTO, Heidrun Krieger. Novas
epistemologias: desafios para a universida-
de do futuro. Pontifícia Universidade Católica
RJ, Depto. de Letras, 1999.
REY, Bernard. As competências transversais
em questão . Porto Alegre, Editora Artmed,
2002.
TEIXEIRA, Anísio. Educação e universidade.
Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1988.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como
ensinar. Porto Alegre, ArtMed, 1998.
AUTOR
zx
•EDUARDO NAJJARé professor da UNICAMP eda Fundação Dom Cabral.Consultor de Empresas nas áreasde Educação e Desenvol-vimento Empresarial. Mestreem Educação e co-autor dolivro Carreira e MarketingPessoal – Da Teoria à Prática,Negócio Editora.E-mail: [email protected]
a contribuir com a formação de pro-fissionais cujo perfil – técnico ecomportamental – venha a satisfa-zer às necessidades das empresas(e respectivas cadeias de valor);
• As empresas, e suas respectivascadeias de valor venham a seaproximar mental e materialmen-te das Instituições de Ensino, vi-sando a criação de ações de de-senvolvimento de seus profissio-nais e dos profissionais dessasinstituições, numa mesma linhaestratégica de raciocínio (objetivoscomplementares);
• O governo apóie essas inicia-tivas, ajudando a “tirar as pe-dras do caminho” a partir da es-tratégia traçada pelo conjunto deInstituições de Ensino Superior eempresas.
Que nossos jovens sejam prepa-rados para que possam colocartodo seu potencial inovador emfavor do país!
MERCADO DE TRABALHO PARA O JOVEM BRASILEIRO: COMO PROMOVER SEU CRESCIMENTO?
18R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
S
Hermano Roberto Thiry-Cherques
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA:
ão raras as pessoas paraquem a humanidade é umestorvo. Demócrito, dizem,arrancou os próprios olhosem um jardim para que nãoo atrapalhasse a contempla-ção do mundo. Em Constan-tinopla, os santos anacoretas pa-deceram voluntariamente sobresuas colunas.
Os eremitas de todas as partes se re-
SEM OO TRABALHO
EMPREGO
fugiaram em seus abrigos. Mais co-mum é encontrarmos pessoas a quema sociedade não pode tolerar. Gente
que por razões as mais variadas, emesmo sem razão alguma, não é
aceita na comunidade. Mas aexclusão social é tão penosaque, de uma forma ou de ou-tra, procuramos nos toleraruns aos outros. Hoje a vidaindependente é menos fácil.Os que não toleram a vida
Cor
bis
19J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
yw
possível para os trabalhadores e paraas organizações, em que o convíviose torna intolerável.
As razões da intolerância são de vá-rias ordens. Da ordem do estratégi-co, da ordem do psicofísico, do éti-co. Todas são íntimas , particulares.Variam de pessoa para pessoa. Osseus detalhes são cansativos, o seuconhecimento pouco útil fora do es-trito campo da psicologia. Mas, comonão há exclusão sem inclusão(Habermas, 2.003), as pessoas quese encaminharam para o trabalho in-dividualizado terminaram por formaruma classe de interesse econômicoimportante. Inserem-se nas formas de
social parecem não ter onde se asi-lar. Na sociedade contemporânea, opreço da intolerância é o insulamentosem a solidão.
Tal como acontece na sociedade, hágente que não pode suportar a vidanas organizações, a forma de rela-ção que denominamos de emprego,como há gente a quem as organiza-ções não podem tolerar. Inscritas natotalidade social, as organizações sãomundos em ponto menor. São gru-pos de pessoas que compartilham,voluntariamente ou não, uma inten-ção comum. Diferem da sociedadee da comunidade por terem umobjetivo concreto e não um propósi-to ideal. São universos fechados,orientados para finalidades específi-cas. Nas organizações, como na so-ciedade, existe tolerância e existe umlimite para a tolerância. Mas, à dife-rença da sociedade, o intolerante eo intolerado podem retirar-se facil-mente das organizações. Podemabster-se do trabalho em comum.
Neste texto procuramos analisar siste-maticamente a fronteira da tolerân-cia, o ponto em que a convivênciaentre o empregado e o empregadornão é mais possível, em que as pes-soas deixam não esse ou aquele em-prego, mas o mundo das organiza-ções, em que as pessoas não sãomais aceitas.
O tema da fronteira da tolerância veioà luz na apreciação de dados secun-dários das pesquisas que vimos rea-lizando sobre as condições de sobre-vivência no trabalho (Cherques,1999, 2000, 2003). O que esses da-dos evidenciam é que, se as formasque as pessoas encontram para so-breviver às pressões organizacionaisvariam de muitas maneiras, tambémexistem linhas de demarcação alémdas quais a convivência não é mais
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA: O TRABALHO SEM O EMPREGO
“Na sociedadecontemporânea,
o preço daintolerância
é o insulamentosem a solidão.”
produzir que dispensam as organiza-ções tal como as conhecemos desdea primeira Revolução Industrial. En-tender as razões que as levaram a re-jeitar ou a serem rejeitadas pelo em-prego é essencial para a compreen-são do quadro geral da economia eda sociedade que se delineia no fu-turo próximo.
Ao procurarmos entender os limitesda tolerância, nos deparamos comum tema pouco explorado da teoriaadministrativa. Talvez porque o assun-to não seja agradável, ou, mais pro-vavelmente, porque o ser humanoperdeu centralidade na gestão con-temporânea, há muito pouca coisa
escrita sobre a intolerância das orga-nizações para com as pessoas e so-bre a intolerância das pessoas comas organizações, sobre os intole-ráveis e os intolerados. Por essemotivo, nos limitamos aqui a sis-tematizar e a interpretar as razõese condições que levam ao estabe-lecimento das fronteiras de tole-rância a partir dos dados das pes-quisas a que nos referimos.
Dividimos a exposição em cincopartes, em que examinamos: I – oconceito e os argumentos a favor econtra a tolerância; II – os limites: –políticos, III – psicofísicos e IV – éti-cos da tolerância. Concluímos (V)com uma apreciação genérica dosmotivos que levam à ruptura entreos trabalhadores e os empregadores,as razões que levam ao trabalho quenão é um emprego.
O QUE ÉTOLERÂNCIA
O conceito de tolerância se estendeao longo da história. Podemosacompanhá-lo desde a transigênciacom a “impiedade” dos descrentesda polis grega, passando pela con-
Tolerância é a aceitação de opiniões
e condutas julgadas equivocadas,
falsas ou prejudiciais. Tolerar –
ensina a raiz latina tol, – é suportar
o inconveniente, o malquerido, o
rejeitável. Ninguém tolera o que é
bom. Toleramos ou dizemos tolerar
ou, ainda, pregamos que se tolere o
que é mau, o que é ruim. Toleramos
por interesse, por conveniência, por
dever moral.
20R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
yw
descendência política dos que se in-surgiam contra os césares-divinos deRoma, pela misericórdia com os he-reges medievais até chegarmos àcomplacência com os criminosos daatualidade. Sempre houve algum tipode tolerância e, em graus diferentes,um limite para ela.
Na Antigüidade, principalmente en-tre os estóicos, a tolerantia significousuportar tudo que fosse uma cargapara o corpo humano e, por ana-logia, para a mente humana. Paraos autores latinos, significou a per-severança e a força para enfrentaros males, as adversidades e os ele-mentos naturais. A raiz tollo deno-tou o esforço que fazemos sobrenós mesmos.
O cristianismo nascente associou oconceito de tolerância ao autodomí-nio requerido para agüentar as do-res da existência na Terra. A tolerân-cia era um dos sinônimos dapatientia. Um conceito privado, doindivíduo que é ou deve ser toleran-te. Já com os padres da Igreja,notadamente com Sto. Agostinho(1952), a tolerantia passa a ter umaacepção coletiva: a do autocontroleda cristandade ao lidar com os maus,com as pessoas imorais, com os in-fiéis. A da caridade, que ajuda a su-portar os que são um peso para ahumanidade.
O conceito de tolerância se firma naIdade Média. Embora a religião e osdogmas da época tivessem poucaelasticidade, o mesmo não ocorria napolítica nem na interpretação da lei.Por volta de 1150, o direito canônicojá contemplava situações em que omal não deve ser punido. Pregavaque, quando o mal praticado é secu-lar, pode haver uma permissividadeda autoridade eclesiástica, o que nãoquer dizer uma aprovação (Ecclesia
non approbat, sed permittit). Tambémdeveria haver tolerância ao se preve-nir um mal maior (Minus maluntoleratur ut maius tollatur). Por exem-plo, mentir para preservar a Igreja.Nesse contexto o verbo tolerare éusado com freqüência para contor-nar um problema para o qual não setem remédio, como o da prostituição,ou para ordenar o convívio com gru-pos irredutíveis à lei canônica, comoo dos judeus. (Bjeczvy, 1995)
A tolerância passou a significar a in-dulgência entre os credos após asguerras religiosas dos séculos XVI e
tição e na ignorância, em nome dointeresse público. Dizia ele que de-vemos nos tolerar porque todos so-mos falíveis. Além disso, a tolerânciaé melhor também do ponto de vistaeconômico. Ela favorece o comérciode bens e traz a riqueza (Voltaire,1966). O argumento legalista diz quea intolerância é um mal porque pro-duz a coalizão dos dissidentes (Locke,1959), e porque a repressão aos he-reges é contraproducente porque criamártires (Erasmo, 1999). O argumen-to político diz que a intolerância re-força a convicção dos que discordame gera a revolta (Espinosa, 1999). Oargumento epistemológico diz quedevemos ser tolerantes porque nin-guém pode pretender ter a razão ab-soluta, só Deus.
Na Declaração dos Direitos do Ho-mem de 1789 (1999) a tolerância foiassociada à concessão do erro, àcondescendência, à liberalidade doscostumes, como a das casas de tole-rância. No século XIX, John StuartMill (1963) avançou razões para de-fender a idéia do direito à consciên-cia individual. O argumento liberalreza que há uma esfera de ação queinteressa primariamente ao indivíduohumano e sobre a qual a sociedadenão pode e não deve interferir. Essanoção desemboca nas idéias de com-preensão e de incorporação das di-ferenças, que são o cerne do libera-lismo moderno. A liberdade para Millé a liberdade do indivíduo ante ascoações. O público e o privado sãoesferas distintas, em que a tolerânciaé imprescindível.
Na vertente inversa do pensamentopolítico, o socialista Proudhon (1967)sustentou a tolerância com outro fun-damento: o do argumento crítico,que diz que só com a tolerância com-pleta seria possível fazer aflorar asfalsas idéias, e que isso as anularia.
Hermano Roberto Thiry-Cherques
“Respeitar umconcorrente ou
respeitar umparceiro é
admirar o que elefez ou temer oque ele possa
fazer.”
XVII. Os argumentos a seu favor seacrescentam aos da Antigüidade eaos da Idade Média. Eles se repetemdesde então. O argumento moral(Erasmo, 1999; Locke, 1964) dizque a perseguição é violência eque a violência se opõe à civilida-de e à caridade. O argumento daessência diz que se concordamospolítica ou religiosamente no fun-damental (credo minimum), a ra-zão da intolerância desaparece(Erasmo, 1999; Voltaire, 1831).Voltaire argumentou que a tolerân-cia se opõe ao fanatismo. Que erapreciso esmagar o fanatismo cristão(écraser l´Infâme) fundado na supers-
21J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
“AS RELAÇÕES ENTRE EMPREGADOSE EMPREGADORES NÃO SECONSTROEM MEDIANTE A ALIENAÇÃODAS CONSCIÊNCIAS.”
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA: O TRABALHO SEM O EMPREGOKe
ysto
ne
22R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
O positivismo endossou, comComte (1877), o uso político da to-lerância. Mas só em um primeiromomento, quando ela seria útilpara o “processo crítico”. Depois,quando se alcançasse uma novafase da história, a tolerância com-pleta não seria mais aceitável dadoque pode conduzir à dissolução.
Pela outra vertente do pensamen-to, já no século XX, Gramsci(1974) disse exatamente a mesmacoisa. Ele argumentou que a tole-rância é necessária para que ocoletivo chegue a uma decisãoracional do que o partido devefazer, do seu fim, do seu objetivo.Mas que, uma vez fixado oobjetivo, deve haver intran-sigência absoluta, sob pena dediversão e fracasso.
Mais recentemente, o tema voltouà discussão com o conceito de“tolerância repressiva” de HerbertMarcuse (1970). Ele demonstrouou pretendeu demonstrar que atolerância com os dissidentes nasociedade liberal tem o propósitode servir não para a emancipaçãodos grupos e das pessoas explo-rados, mas para adormecer osimpulsos libertários. Com isso,torna-se repressiva, embora sob aaparência de libertadora.
O argumento desenvolvido porMarcuse é importante não só peloque provocou – ele informou in-telectualmente os movimentosrebeldes de 1968, tanto nos EUAcomo na Europa – mas porquetraz à luz a idéia de que a auto-determinação é viciada pelas ins-tituições. De que a ideologia datolerância favorece a conservaçãodo status quo de desigualdade ediscriminação. De que só as mi-
norias extremistas, isto é, into-lerantes, podem nos livrar dadestruição da liberdade, da re-pressão oriunda da ideologia datolerância.
Ao longo desse desenvolvimentoa tolerância foi variando de signi-ficado. Há mesmo na língua ingle-sa uma distinção entre toleration,com acepção legal de permitir aliberdade de culto, e tolerance, aadmissão do diferente.
No entanto, todas essas acepçõestêm um fundo comum que recaisobre a flexibilidade da consciên-cia perante a vida particular, doindivíduo perante os outros, pe-rante as instituições e, inversa-mente, das instituições em facedos indivíduos, da coletividadeem face do particular.
INTOLERANTESE INTOLERADOS
No campo das relações entre o em-pregado e a organização, o caminhoé o mesmo: do trabalhador consigomesmo, dele com a organização, edela com o trabalhador. As organiza-ções são instrumentos para se alcan-çar objetivos. A tolerância em relaçãoa elas está no quanto concordamoscom os meios de que fazemos uso ecom os seus objetivos.
Do ponto de vista psicofísico, o limi-te da tolerância é dado pelo quãoconscientemente podemos suportar aspenas e os sacrifícios que nos reservao emprego. Do ponto de vista estraté-gico, do quanto nos convém profis-sionalmente alienar-nos ao processo detrabalhar para outros (não seria maisproveitoso termos outra atividade?) edo quanto compartilhamos dos bene-fícios das organizações. Do ponto devista ético, do limite que a nossa cons-ciência aceita e concorda com o pro-cesso de trabalho e com os objetivosperseguidos pela organização.
Um exemplo simples pode ajudar aevidenciar a complexidade da com-binação dessa pluralidade de dimen-sões. Com o que sabemos hoje sobreos males do tabaco, trabalhar na in-dústria fumageira pode ser, ao mes-mo tempo, compensador material-mente, agradável física e psicologica-mente, interessante profissionalmen-te e intolerável eticamente. Ao passoque trabalhar em uma organizaçãoque combate o tabagismo pode sig-nificar um sacrifício financeiro, umcaminho para a auto-realização, umadesvantagem profissional e um impe-rativo moral. Os campos da tolerânciasão diferentes, os limites são indivi-duais. As suas margens também o são.
O mesmo ocorre quando invertemos
Hermano Roberto Thiry-Cherques
“O que elesdemonstraram foique os que têmespírito livre, osque pretendem
mais do quesimplesmentejogar o jogo
banal do dar ereceber, são
incompatíveiscom a vida nasorganizações.”
23J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
NAS ORGANIZAÇÕES,A TOLERÂNCIA NÃO ÉUMA LIBERDADE, MASUMA CONDIÇÃO
a questão e nos perguntamos o que,em um trabalhador, pode ser intole-rável para as organizações. A respos-ta girará em torno do prejuízo que elepossa trazer aos seus processos e àssuas metas. O fraco, o discordante, osabotador são intoleráveis. Os que re-tiram mais do que contribuem, os quequestionam, os que suspeitam, os quedesanimam, os que denunciam a pre-cariedade moral dos processos e dos
objetivos, não se encaixam, não sãosuportados pelas organizações.
Tanto do lado do empregado comodo empregador, é sobre esses três ei-xos – o político, o psicofísico, o ético– que se alinham os limites da tole-rância. O que pudemos absorver naspesquisas a que nos referimos permi-te descrever os pontos de ruptura des-sas linhas, o ponto em que os argu- yw
Keys
tone
24R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
mentos em favor da tolerância nãomais se sustentam. Em que política,física, psicológica e moralmente a op-ção que resta é a da independência.
O LIMITE POLÍTICO
O limite político ou estratégico é dadopela impossibilidade de obedecer àordem vigente, de o trabalhador in-corporar como seus os processos e,principalmente, as metas da organi-zação. Dentre os que pensaram a to-lerância, Locke (1959, 1964) foiquem mais assiduamente tentou con-ciliar a consciência com a obediênciaa uma ordem. Argumentou, porexemplo, que ou bem o Estado é aexpressão coletiva das consciênciasindividuais, ou bem devemos obri-gação maior a nossa consciência doque ao Estado. O impasse se resolvese e quando o Estado se torna a ex-pressão consentida do pensamentoindividual. O que é ambição de to-dos. Infelizmente no nosso campo deinteresse, o das organizações, isso sóé possível em associações devoluntariado. As relações entre em-pregados e empregadores não seconstroem mediante a alienação dasconsciências.
A tolerância como reconhecimentode todos os cidadãos como iguais é acondição do pluralismo democráti-co que, para o liberalismo político, éo sistema justificável eticamente parareger o Estado e a coisa pública. Atolerância como reconhecimento detodos os cidadãos como tendo o mes-mo valor é a condição do coletivismoque, para o socialismo, é o únicosistema justificável eticamente parareger o Estado e a coisa pública. Ne-nhuma das duas posições apregoa atolerância absoluta. Mesmo no âm-bito do liberalismo é evidente, comodemonstrou Wolff (1970), contra Mill,
que a tolerância não pode serirrestrita. Se o for, isto é, se a liberda-de for plena, recaímos na anomia, aausência de leis, descrita porDurkhein (1967), que isola o homemda sua comunidade, da sua cultura.
Esse o sentido político da tolerância,esse o seu limite. Têm sido freqüentesas tentativas de transplantar a tole-rância política para a administração,para a condução das organizações.Tentativas que medeiam entre o en-godo e o equívoco. Nem tudo que éválido para a sociedade o é para asorganizações.
O liberalismo no mundo político éisto: pessoas iguais que têm concep-ções diferentes e encontram uma for-ma de convivência. As organizações
Hermano Roberto Thiry-Cherques
“A ruptura se dáquando o mal do
descrédito setorna maior do
que o de suportara divergência de
interesses.”
são outra coisa. São formadas porpessoas diferentes interessadas emum objetivo igual. A tolerância polí-tica é o reconhecimento voluntáriodo direito de interesses opostos exis-tirem. A sociedade democrática ope-ra sob o conceito de fim último – umfim bom em si mesmo, como a liber-dade. As organizações operam sob oconceito de objetivos mediatos, se-jam eles econômicos, políticos oumesmo religiosos. Nas organizações,a tolerância não é uma liberalidade,mas uma condição.
A transposição de ideais políticospara a gestão tem efeitos impre-visíveis, o mais das vezes nocivos.Tomemos um autor contemporâneo,John Rawls, cujas idéias têm sido dis-cutidas como fonte de orientaçãoestratégica de agências governamen-tais e de empresas. Ao se pronunciarsobre as liberdades básicas, Rawls(2000) se fixa sobre o que denomina“termos eqüitativos da cooperação”,basicamente a boa-fé e o respeitomútuo. Ele ensina que “numa demo-cracia os fundamentos da tolerânciae da cooperação social sobre a basedo respeito mútuo ficam ameaçadasquando as distinções entre ... os mo-dos de vida e ideais não são reco-nhecidos”. Dessas considerações, ede outras igualmente sábias, Rawlsderiva a principal teoria da justiça dasegunda metade do século XX. Masse tentamos aplicar conceitos comoo de boa-fé, respeito, cooperação eideais, às organizações, veremos ime-diatamente que esses são termos dacidadania, não da administração. Porexemplo, é lícito presumir a boa-féde quem negocia, mas confiar nelaé uma ingenuidade. Não chegam a5% os executivos brasileiros que fun-dam suas negociações unicamentesobre a boa-fé do parceiro (Cherques,2003). Fosse diferente, não haveria anecessidade de contratos.
Dos argumentos a favor da tolerân-cia, o do credo mínimo e o da com-preensão liberal não se aplicam àcondescendência política no interiordas organizações. Os argumentos deque ninguém pode avocar a si a ra-zão absoluta e de que a crítica fazaflorar as idéias também não cabem.O respeito em filosofia política é umareverência perante uma razão supe-rior. O respeito na linguagem cotidia-na das organizações medeia entre aadmiração e o temor. Respeitar umconcorrente ou respeitar um parcei-
25J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
ro é admirar o que ele fez ou temero que ele possa fazer. A coopera-ção, se e quando existe nas organi-zações, é condição, não resultadode um interesse comum doscooperantes, seja o interesse do lu-cro monetário ou político, seja ointeresse de evitar perdas. As orga-nizações não têm ideais. Elas têmobjetivos que servem a ideais, legí-timos ou não.
Restam, no que se refere à tolerân-cia política no interior das organi-zações, os argumentos do mal me-nor, da possibilidade de coalizãodos dissidentes, da revolta e da to-lerância repressiva.
Os limites estratégicos da tolerân-cia a partir da alegação do malmenor são dados pelos mesmosparâmetros de boa-fé, do respeito,da cooperação, da adesão aosobjetivos. A organização se tornaintolerável politicamente quando acrença na má-fé do empregadortorna a convivência um mal maiordo que a retirada da organização.Os sistemas de endomarketing es-tão aí para evitar esse mal. Mas porvolta de 18% dos trabalhadores quedeclararam intenção de procuraroutro emprego (Cherques, 1990)disseram descrer do discurso dos di-rigentes e desconfiar dos seus pro-pósitos devido a experiências recor-rentes ou drásticas que provaram asua má-fé. Do outro lado, o do em-pregador, mais da metade dos mo-tivos alegados para demissões sãoreferidos à perda da confiança noempregado. A ruptura se dá quan-do o mal do descrédito se torna mai-or do que o de suportar a divergên-cia de interesses.
A possibilidade de coalizão dos tra-balhadores e de revolta coletiva [arevolta individual tem margem de
“Os limites são aasfixia da
personalidade deum lado e odistúrbio no
processoprodutivo, do
outro.”yw C
orbi
s
26R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
tolerância zero], como no caso dasgreves, é um dos fatores maisfreqüentemente alegados para a to-lerância com faltas e discordâncias.A tentativa é sempre a de liberar osuficiente para que aprodução nãosofra. Com o tempo, essa estratégiatermina por, intencionalmente ounão, consolidar tendências similaresà da tolerância repressiva descrita porMarcuse. Dá-se liberdade suficientepara que a revolta não se justifique.Percebendo isso, o trabalhador, quan-do pode, se afasta. Entendendo queas organizações procedem sempreassim, se afasta completamente.
Temos então que a linha que limita atolerância política nas relações entreempregado e empregador é dadapela da renúncia a cooperar (a co-operação) devida à divergência deinteresses, pela perda de confiança(a fé compartilhada), pelo descrédi-to do empregado ou do emprega-dor, pela ilegitimidade do móvel datolerância.
O LIMITE FÍSICOE O PSICOLÓGICO
A tolerância política, como a religio-sa, se prende à distinção do públicoe do privado. A tolerância física so-bre o que o corpo pode agüentar, apsicológica sobre a liberdade da con-duta, a capacidade de suportar e acondição de ser suportável. A tole-rância pode ser fruto de uma admi-nistração arejada, capaz de absorverdiferenças, pode representar uma fra-queza, pode ser instrumentalizada,como propõe Gramsci. Ela pode sersutilmente utilizada para reprimir,como queria Marcuse. Mas o que,nas relações entre o empregado e asorganizações, limita a tolerância noâmbito psicofísico, excluída a enfer-midade física ou mental, é o espaço
que o trabalhador tem para ser elemesmo. Os limites são a asfixia dapersonalidade de um lado e o dis-túrbio no processo produtivo, dooutro.
O rompimento do limite da tolerân-cia psicofísica se dá quando a relaçãoentre empregados e organizações ul-trapassa o limite da racionalidade, o
irracional, antes de ser ilegítimo.
Essa barreira da racionalidade deter-mina um ponto em que o que se im-põe e o que se restringe ao trabalha-dor não pode ser mais suportado. Deoutro lado, há um ponto em que setorna irracional manter o trabalhadorque se rebela. Esses dois limites à to-lerância ao trabalho são intimamen-te relacionados. Mas a compreensãodo limite físico antecede a do limitepsicológico.
O cálculo do limite físico ao esforçohumano data da Antigüidade, dasnecessidades dos exércitos e do sis-tema escravagista. Era, por exemplo,uma das funções do que hoje cha-mamos de esporte, em especial dosjogos olímpicos dos gregos, e dascompetições do circo romano, o sa-ber quanto podemos correr, saltar,lançar. Na forma que reconhecemoscomo científica, o limite físico dorendimento do trabalho começou aser estudado na segunda metade doséculo XIX, quando a propensão an-cestral a racionalizar o esforço huma-no ganhou impulso. Os fisiologistasde então estudaram a “máquina ani-mada”, determinando o lote econô-mico na alimentação dos escravos ea distância da marcha em função daresistência dos soldados.
A lógica dos engenheiros não era emsi perversa. Era a mesma que os le-vou a criar o avião mediante o en-tendimento da mecânica do vôo dospássaros. Como a máquina, o ho-mem é um “conversor de energia”que carrega o seu próprio motor. Pro-curando extrair o máximo rendimen-to desse conversor, os fisiologistas fi-zeram realizar inúmeros estudos, queculminaram com os de Adolphe Hirn(1815-1890) que definiu o trabalhocomo a quantidade de caloriasconsumidas pelo esforço humano, o
Hermano Roberto Thiry-Cherques
“A ginásticaintroduzida nas
fábricas eescritórios, porexemplo, tem afunção de obter
rendimento físicoseja diretamente,seja pela reduçãodo absenteísmo.”
que nos traz à linha de argumenta-ção de Espinosa. Ele demonstrou mo-res geometrico (1982, 1999) que aintolerância é uma irracionalidade. Oraciocínio é o de que não podemosser privados da liberdade das nossaspaixões, da nossa expressão e dosnossos pensamentos porque não te-mos como controlá-los. É uma impos-sibilidade física, como a de levantaruma coisa muito pesada, não umaresistência a essa ou àquela instân-cia. Por isso, ensina ele, todo sobe-rano que tenta governar as almas eas palavras dos seus súditos se ex-põe à revolta. Trata-se de umareação da natureza humana, nãouma rebelião, um motim. Porquepretender que uma pessoa venha acercear ou obrigar a sua vontade, asua expressão, ou o seu pensar é
27J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
que levou a se buscar o aumento daprodutividade pela utilização idealda alimentação racionada (Vatin,1993). Logo em seguida, com a pro-pagação da transferência do esforçodo homem para a máquina, essapreocupação com o esforço físicoperdeu ímpeto, mas não se esgotou,aliás, ainda não se esgotou. A ginás-tica introduzida nas fábricas e es-critórios, por exemplo, tem a funçãode obter rendimento físico sejadiretamente, seja pela redução doabsenteísmo.
Na atualidade é estatisticamente des-prezível o número dos que alegamexcesso de esforço ou de desconfor-
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA: O TRABALHO SEM O EMPREGO
to para abandono do emprego. Pro-vavelmente porque os que se vêemna circunstância do trabalho penososão pessoas que não têm voz ou nãotêm alternativa, como os trabalhado-res na construção civil ou nas em-presas de fundo de quintal. No en-tanto, há uma relação causal surda,não documentada e, talvez, nãodocumentável entre a intolerância adeterminados trabalhos e as defi-ciências ergonômicas do ambiente,dos equipamentos e dos instrumen-tos. Pesquisas, como a recentemen-te realizada em Israel em 21 organi-zações (Fried et al., 2002), que de-monstrou que 34% do absenteísmoentre as empregadas em escritório
que realizavam tarefas complexaseram devidos ao barulho, sãoindicativas desse limite. Com a es-pantosa ignorância tanto das organi-zações como dos trabalhadores, so-bre as necessidades e benefícios daergonomia, os ambientes de traba-lho opressivos, confusos, tirânicos,decorrentes dos sistemas de baias,dos edifícios tipo aquário, podem sertambém razão para intolerâncias semorigem expressamente declarada empesquisas.
Embora Jules Amar (1879-1935) pro-duzisse, já no século XX, uma teoriafísico-fisiológica do trabalho, e quese sistematizasse o estudo dos tem-
O ROMPIMENTO DO LIMITE DA TOLERÂNCIAPSICOFÍSICA SE DÁ QUANDO A RELAÇÃO ENTRE EMPREGADOSE ORGANIZAÇÕES ULTRAPASSA O LIMITE DA RACIONALIDADE.
yw
Cor
bis
28R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Hermano Roberto Thiry-Cherques
pos e movimentos nos anos 30, aracionalização via o estudo do limi-te fisiológico perder ímpeto ao mes-mo tempo em que na América,Frederich Taylor e Henry Ford ensaia-vam uma outra forma, mais consis-tente de otimização da “máquinahumana”, mediante a racionalizaçãonão do trabalho isolado, mas do pro-cesso produtivo como um todo. Esseé o marco da transição que traz aênfase do físico, próprio do séculoXIX, para a do psicológico, que ca-racteriza o século XX.
Existem quatro fatores principais de or-
dem psicológica que levam à ruptura:1) a percepção do trabalhador de quea organização lhe extrai sobretrabalho,2) os traços de personalidades que nãose encaixam na vida organizacional,3) a tensão provocada pela falta oudistorção das informações, 4) aemocionalidade nas relações en-tre dirigentes e empregados.
Na extração do máximo rendimen-to do trabalho, o primeiro princí-pio da administração científica deTaylor (1947), o do cálculo da par-te humana no esforço de produção,é emblemático de tudo que se se-
guirá. O gerente que se apropria doconhecimento do trabalhador e ootimiza, assinala, simultaneamen-te, o declínio do trabalhador de ofí-cio e o início do apogeu do homem-engranagem, imortalizado porChaplin.
A gestão científica é, de fato, um pas-so decisivo para a nova percepçãodo trabalho. O princípio que reza queo trabalho cerebral deve ser concen-trado na mão dos gerentes, porquecusta tempo e conhecimento estudaro trabalho e somente o gerentedispõe de tempo e conhecimento
“A TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO A ELAS ESTÁ NO QUANTOCONCORDAMOS COM OS MEIOS DE QUE FAZ USO ECOM OS SEUS OBJETIVOS.”
29J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
para isso, cria a gerência científica, esupera o estudo fisiológico. Seus ar-gumentos: 1) de que o trabalhadortentará guardar os “segredos doofício” para si e para seus amigos; 2)de que o simples controle e o incen-tivo direto à produção não funcio-nam, porque o trabalhador tende adefender o emprego, seu e dos seuscolegas, e 3) de que a racionaliza-ção é um atributo gerencial, uma vezque só é possível estudar o trabalhode fora do trabalho, são não sólógicos, como verdadeiros.
Na administração científica, o mo-
nopólio do conhecimento sobre otrabalho pelo gerente provoca umaconcentração de conhecimento emuns poucos e a execução cega do tra-balho por muitos. Os princípios deajustamento das pessoas ao trabalho,via adestramento e especializaçãopor tarefas, terminam por retirar ainiciativa do trabalhador. Isso nãoinvalida a constatação de que a es-colha de métodos baseados em co-nhecimentos tradicionais, em habi-lidades pessoais, na inteligência e nasolidariedade têm uma produtivida-de menor do que os métodos da pro-dução em massa. Mas a execução
mecânica de tarefas, a não-participa-ção no destino do que ajuda a pro-duzir são intoleráveis para grandenúmero de pessoas. Elas, ou se reti-ram do emprego ou reagem – agempoliticamente – com as conseqüên-cias que examinamos acima.
As idéias que posteriormente foramreunidas sob a denominação defordismo: a linha de montagem daprodução em grande escala, a remu-neração que possibilita o consumoem massa, o encurtamento do ciclode trabalho e verticalização indus-trial, complementam a tônica do tra- yw
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA: O TRABALHO SEM O EMPREGO
Keys
tone
30R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
taliza a idéia de levar a capacidadehumana a seu extremo.
A linha de demarcação do limite datolerância a essas formas de admi-nistrar é mais sutil do que a dotaylorismo. Deriva da dupla recusaem ceder o corpo e a mente à ma-quinaria da produção. Pesquisas re-centes (Douglas & Shepherd, 2002)
têm demonstrado que os que buscama independência, i.e., abrir um ne-gócio próprio, têm maior tolerânciaao risco e aversão à desproporçãoentre esforço e remuneração quan-do se é empregado. Não que preten-dam ficar ricos com a independên-cia. Nem trabalhar menos. É a des-proporção do sobretrabalho que nãopode ser tolerada.
No que se refere à intolerância pura-mente psicológica, o que se verificaé que existem personalidades quenão se adaptam à vida organiza-cional. As origens da intolerância eo intolerável psicológico são difíceisde precisar. Muitas vezes não têmuma implicação diretamenteverificável na insustentabilidade doconvívio entre empregados e orga-nizações. Gibson & Gouws, (2001),estudando o efeito do contexto so-
balho racionalizado. O taylorismo eo fordismo, ao dividirem o trabalhoem seus elementos constituintes, in-duziram à alienação extremada. En-quanto a divisão social do trabalhosubdivide a sociedade, a divisão par-celada do trabalho subdivide o ho-mem, com menosprezo das capaci-dades e necessidades. Nesse contex-to o trabalho muda inteiramente defigura. E o que se segue não altera aidéia do homem feito máquina, por-que “... o taylorismo domina o mun-do da produção; os que praticam as‘relações humanas’ e a ‘psicologiaindustrial’ são as turmas de manu-tenção da maquinaria humana”(Braverman, 1977). O que se seguiu:a corrente de relações humanas, ocomportamentalismo e tudo e todosque utilizaram o estudo do corpo eda mente para melhor extrairsobretrabalho, apenas instrumen-
“Poucos se dãoconta de que o
único bomcabrito que nãoberra é, claro
está, o cordeiro.”
31J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
bre a tolerância na África do Sul, con-cluíram que, embora a conjunturaimediata da vida e as questões relati-vas às liberdades civis não deixem deter relevância, a situação de ódio (ra-cial, no caso) pré-existente prevale-ce sobre a situação concreta, desvir-tuando quaisquer possibilidades deracionalização e tolerância. O mes-mo parece acontecer para algumaspessoas em relação às organizações.A fonte da intolerância é anterior eexterna ao trabalho.
Pessoas há, por exemplo, que nãosuportam receber ordens ou que so-frem quando se vêem compelidas aotrabalho em equipe. Algumas a pon-to de serem completamente avessasà integrarem qualquer tipo de orga-nização, ou que as organizações ex-pelem sistemicamente. Seibert,Kraimer e Crant (2.001), em um ex-
perimento envolvendo 180 executi-vos durante dois anos, provaram, con-tra toda expectativa, que a correla-ção entre os que desafiavam o statusquo e as promoções e ganhos é for-temente negativa (t – 2,36 e t – 2,34p > ,05 respectivamente). O que elesdemonstraram foi que os que têm es-pírito livre, os que pretendem maisdo que simplesmente jogar o jogo ba-nal do dar e do receber, são incom-patíveis com a vida nas organizações.
Ainda outra fonte de ruptura de or-dem psicológica é a da desinformação.Adkins, Werbel e Farh (2001),pesquisando os efeitos da inseguran-ça no trabalho durante crises financei-ras, mostraram que a desinformação,a precariedade das relações trabalhis-tas e as ambigüidades quanto à realsituação da organização, têm uma to-lerância limitada e são determinantes
não só da queda de produtividadecomo também da saída da organi-zação. Estão intimamente relaciona-das com a taxa de turnover, com aintenção de procurar outro empregoe, também, com a percepção de difi-culdades de realocação. Os boatose as informações truncadas são gera-dores de tensões comuns em todosos grupos humanos. Para alguns, maissujeitos a se deixarem influenciar oumais sensíveis, tensões desse tipo re-presentam um sofrimento constante,com custos maiores do que os be-nefícios monetários e de segurançaque a organização possa oferecer.Na outra vertente da intolerância, adas organizações, há pessoas quecriam e dão curso a boatos e falsasinformações. Sejam quais forem asrazões psicológicas – mecanismosde defesa, distúrbios de personali-dade –, esses trabalhadores tornam-
“O LIMITE DA TOLERÂNCIAÉ DADO NÃO PELA CONDUTAINCORRETA, MAS PARA QUEMA CONDUTA É SENTIDACOMO INCORRETA.”
yw
Keys
tone
32R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Hermano Roberto Thiry-Cherques
se muitas vezes intoleráveis para asorganizações.
Por último, temos como fonte da in-tolerância psicológica o caráter emo-cional de que por vezes se reveste arelação entre o empregado e o em-pregador. Essa é outra dimensão difí-cil de precisar com dados. O grandeempecilho para se ajuizar quanti-tativamente o limite da tolerânciapsicológica é o seu caráter privado.A tolerância pública é uma indulgên-cia social, às vezes oficial. Em geralligada à abstenção de alguma açãocontra quem ultrapassa os limites. Atolerância privada se confunde coma compassividade para condutas ecrenças dos outros (Meyer, 2002). Olimite da tolerância é dado não pelaconduta incorreta, mas para quem aconduta é sentida como incorreta.
A freqüente e muitas vezes mal-in-tencionada confusão entre o que é aconduta desejável pela organizaçãoe o que é a conduta legítima tem asmesmas raízes da defesa do politica-mente correto no interesse particu-lar. Por exemplo, a idéia de que éimpolido ou inútil queixar-se de ser-viços mal prestados ou de produtoscom especificação aquém do queseria razoável faz parte da nossa cul-tura. O mesmo se passa no âmbitoorganizacional. A lealdade é confun-dida com a subserviência. Poucos sedão conta de que o único bom ca-brito que não berra é, claro está, ocordeiro. O homem cordial, tantasvezes desmentido e explicado peloseu autor, Sergio Buarque deHolanda (1976), é o que coloca o(bom) coração acima dos seus inte-resses. Também acima dos interessesda sociedade. É o complacente. Ummarido complacente entre nós éobjeto de pena ou zombaria. Porquenão se dá o mesmo em outras ins-tâncias que não a do poder machista
é um mistério para os antropólogosresolverem. O fato é que, nas nossasorganizações, a queixa, a busca dodireito, é considerada falta de respeitoe a falta de respeito não pode ser to-lerada sob pena de fazer ruir a toladisciplina organizacional ou a hon-ra infantil de quem não leva desafo-ro para casa.
A ruptura entre a organização e o tra-balhador se dá, muitas vezes, poressa confusão entre razão e sentimen-tos, pela emocionalidade descabidade dirigentes e de empregados. Ora,o respeito e a tolerância são instân-cias diferentes. Respeita-se a lei; nãose tolera a lei. Da mesma forma po-demos respeitar os outros sem tole-rar suas opiniões e atos. O limitepsicofísico da tolerância não é mar-cado pelo desrespeito ou pela agres-são. Ele é marcado pela recusa aoconvívio. A tolerância física e psico-lógica termina por se desfazer nos três
limites, o do esforço, o das paixões,o do pensamento, no limite daracionalidade apontada porEspinosa. Há um ponto que não podeser ultrapassado seja pelo empenhorequerido ou ofertado, seja pela com-patibilidade das personalidades, sejapelas seqüelas do ruído na comuni-cação, seja pelo emocionalismo dasrelações, seja, enfim, por qualquercombinação desses fatores.
O LIMITE ÉTICO
A par da tolerância política e da to-lerância psicofísica, cujos limites sãoelásticos, temos a tolerância ética,que é inelástica. Nenhum dos argu-mentos a favor da tolerância se sus-tenta quando se trata da questão éti-ca. Do ponto de vista moral, a tole-rância é o desrespeito da sociedade,do indivíduo e da própria consciên-cia. Aquele que tolera a transgressãoética aceita que o outro ou ele mes-mo se comporte de uma maneira quesabe errada, falsa, imprópria. A tole-rância com a moral não é um bemnem um dever. É a complacênciacom quem não cumpre o dever. Elanão é uma virtude como a justiça oucomo a liberdade. A tolerância podeser virtuosa no campo político, nocampo psicológico, se e quando au-torizada pela ética. Mas nunca nocampo estrito da ética.
Tolerar eticamente não pode signifi-car uma autorização para violar prin-cípios morais. É uma autorizaçãoque só se justifica no caso de igno-rância, como a da criança ou do de-mente, ou no caso da não-intencionalidade. A tolerância éticanesses casos é uma opção de comoreagir a essas ações, é uma compre-ensão da fraqueza humana, é umareação branda ao desvio não delibe-rado. De resto, a tolerância moral é
“Naadministraçãocientífica, o
monopólio doconhecimento
sobre o trabalhopelo gerenteprovoca uma
concentração deconhecimento
em uns poucos ea execução cegado trabalho por
muitos.”
33J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
viciosa na medida que é fruto de umatentação. Toleramos porque é incon-veniente, trabalhoso ou antipáticoreagirmos à transgressão. Mesmo amais corriqueira das alegações, a deque devemos tolerar as pequenas fal-tas, as faltas sem conseqüência, nãoencontra respaldo em nenhuma dascorrentes do pensamento ético.
Do ponto de vista das éticasteleológicas, como o utilitarismo, aquestão sequer se coloca, porque oque não produz conseqüência nãoé, por definição, moral ou imoral.
Do ponto de vista das éticasdeontológicas, como o kantismo, nãose pode transigir porque o julgamen-to baseado na presunção das conse-qüências é uma adivinhação semsentido.
Do ponto de vista do ceticismorelativista, da idéia de que como nin-guém é dono da verdade, não hácomo reagir ao comportamento quejulgamos incorreto, ainda uma vez aalegação da desimportância ou o ar-gumento da impossibilidade de jul-gar outra cultura não se sustentam.Mesmo o mais empedernido dosrelativistas tem a obrigação do escla-yw
Keys
tone
34R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Hermano Roberto Thiry-Cherques
zx
“A tolerânciadeve ser
transitória,deveconduzir ao
respeito e nadamais, porque, emúltima instância,
tolerar éofender.”
recimento e da discussão. Aceitar queo outro possa estar certo não sig-nifica aceitar o erro, a mentiracomo verdade. Significa analisar,discutir, reagir à sua conduta, nãotransigir (Smith, 1997).
Não existe falta moral tolerável.Ou a falta não existe, ou ela éinadmissível, ou ela deve ser en-tendida como um evento externoa nossa sociedade, o que equiva-le a excluir o faltoso do convívio,a considerá-lo não igual, o que éa mais dura das intransigências.A tolerância só é uma virtude namedida em que referida à aparên-cia e ao costume do outro, à con-duta não referida à moral, às con-vicções, às crenças.
No campo específico que nos in-teressa, o do limite da tolerâncianas relações intra-organiza-cionais, o trabalhador quetransgride a ética ou a organiza-ção que atua fora dos seus limitesou bem são cúmplices ou bem sãointoleráveis um para o outro. Nãohá terceira opção. A condescen-dência é uma figura da política, aindulgência da religião, a atenu-ante do direito. A ética não operacom figuras desse tipo. Opera apartir da razão que elimina o ne-buloso, o duvidoso, o transitório,ou é outra coisa que não a disci-plina fundada pelos gregos hávinte e cinco séculos.
A dignidade é a baliza da tolerânciamoral. A conduta indigna do empre-gado ou da organização não podemser tolerados. É o medo, a fraquezamoral, que informa a transigência,que mantém o convívio quando abarreira moral é franqueada. O medomaior das organizações é o escân-dalo, a quebra da imagem. O medomaior dos empregados é ver a sua
dignidade ferida (Cherques, 1990). Émaior do que a perda de salário. Aforça moral está na denúncia, no afas-tamento, na coragem de enfrentar asconseqüências.
O TRABALHOSEM O EMPREGO
O limite de tolerância da ética éabsoluto. Os limites da tolerânciapolítica e da tolerância psicofísicavariam imensamente. Os argu-mentos válidos para um tipo nãoo são para outros. Os limites sãoindividuais. Por essas razões as
linhas de ruptura entre o trabalha-dor e o emprego são imprecisas.Uma síntese das fronteiras da to-lerância seria dada pela divisaalém da qual os argumentos aseu favor perdem a validade. Oponto em que o mal se tornamaior, o credo mínimo não émais compartilhado, em que adissidência leva à rebelião, airracionalidade leva à revolta,em que a compreensão não émais possível, em que o aflorar deidéias deixa de ser operacional, em
que, finalmente, a tolerância não émais do que o agenciamento doconformismo. Um polígono for-mado por esses pontos delimitarácondições sociopolíticas, psico-físicas, éticas, para além das quaiso intolerante ou intolerado se vêconstrangido ao trabalho indivi-dualizado.
Para além dos limites de tolerância,estão a inatividade e o trabalho indi-vidualizado. O primeiro campo in-clui as pessoas constrangidas a viverà margem da sociedade e os que, pormuito ricos ou muito preguiçosos,preferem não trabalhar. Os párias poropção. O segundo, o trabalhador in-dependente, o empreendimento deuma só pessoa. É esse conjunto detrabalhadores que parecem melhorse encaixar em algumas das formasde produzir que emergiram da revo-lução tecnológica.
O trabalho sem o emprego temsido visto negativamente. Mas nemsempre o insulamento é um ostra-cismo. Ele pode ser conveniente adeterminadas personalidades.Além disso, a persistirem as ten-dências atuais, é possível que otrabalho não presencial venha aser a norma, não a exceção, nospróximos anos. É provável que oemprego, a vinculação permanen-te a uma única organização, sejaresidual em pouco tempo. O quenão é, necessariamente, ruim. Otrabalho inscrito no espaçoorganizacional supõe inevitavel-mente uma margem de tolerância.E se a tolerância é construtiva, elanão é, em si, boa. Foi Goethe(1994) quem melhor exprimiu essaambigüidade. Ele deixou escritoque a tolerância deve ser transitó-ria, que ela deve conduzir ao res-peito e nada mais, porque, em úl-tima instância, tolerar é ofender.
35J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
BIBLIOGRAFIA:ADKINS, Cheryl L.; James D. Werbel & Jiing-Lih
Farh; A field study of job insecurity during a
financial crisis; EUA; Sage Publications, Group &
Organization Management, Vol. 26 No. 4,
dezembro 2001 [463-483].
AGOSTINHO, On Christian doctrine; Chicago,
Enciclopaedia Britannica; 1952.
BJECZVY, István; “Tolerantia”, a medieval concept;
EUA; Johns Hopkins University Press; Journal of
the History of Ideas; vol. 58, no. 3; julho, 1995.
BRAVERMAN, Harry; Trabalho e capital
monopolista; Rio de Janeiro; Zahar; 1977; 0rig.
1974 pag. 84.
CHERQUES, Hermano Roberto Thiry & Paulo
César Negreiros de Figueiredo: PRODUTEC –
Gerenciamento da produtividade e da tecnologia
em organizações atuantes no Rio de Janeiro;
Escola Brasileira de Administração Pública da
Fundação Getulio Vargas – EBAP/FGV; Rio de
Janeiro; Anais da AMPAD; 1994.
CHERQUES, Hermano Roberto Thiry ; Modelos de
sobrevivência – Tese de doutoramento, COPPE –
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2000.
CHERQUES, Hermano Roberto Thiry: Ética nas
organizações brasileiras; Documento de
Pesquisa; Escola Brasileira de Administração
Pública da Fundação Getulio Vargas - EBAP/FGV;
Rio de Janeiro; 1990.
CHERQUES, Hermano Roberto Thiry-; Ética na era
digital; Documentos de pesquisa 1-9; Escola
Brasileira de Administração Pública e Empresari-
al, Fundação Getulio Vargas, 2003.
COMTE, Auguste; Cours de philosophie positive;
Paris; J . B. Balliere;1877.
DOUGLAS, Evan J. & Dean A. Shepherd; Self-
employment as a career choice: Attitudes,
entrepreneurial intentions, and utility
maximization; Entrepreneurship Theory and
Practice; EUA; Primavera; 2002.
DURKHEIN, Émile, Le suicide: étude de sociologie;
Paris; Pr esses Universitaires de France; 1967.
ERASMO, Desidério; Lettr e à Carondelet, 5
janvier 1523, in: Saada-Gendron, Julie; La
tolérance; Paris; Flammarion; 1999.
ESPINOSA, Baruch; Traité théologico-politique,
(esp. Cap. XX) in, Saada-Gendron, Julie; La
tolérance; Paris; Flammarion; 1999.
ESPINOSA, Baruch; Ética; (esp. III, escolho 2);
Madri; Aguilar, 1982.
FRIED, Yitzhak, Samuel Melamed & Haim A Ben-
David; The joint effects of noise, job complexity,
and gender on employee sickness absence: An
exploratory study across 21 organizations—the
CORDIS study; Journal of Occupational and
Organizational Psychology; Leicester; Junho 2002.
GIBSON, James L. & Amanda Gouws; Making
tolerance judgments: the effects of context, local
and national; EUA; Blackwell Publishers; The
journal of politics; vol. 63 n0. 4; Novembro 2001.
GOETHE, Johann Wolfgang Von; Goethe’s collected
works; Princeton; Princeton University Press,1994.
GRAMSCI, Antônio; Intransigeance tolérance,
tolérance intransigeance, in, Écrits Politiques;
Paris; Gallimar d; 1974 [Il Grido del Popolo , 8 de
dezembro de 1917.
HABERMAS, Jürgen; Teoria da adaptação; Folha
de São Paulo; 5 de janeiro de 2003.
LOCKE, John; An essay concerning human
understanding; Nova York;Do ver; 1959.
LOCKE, John; Carta a respeito da tolerância;
São Paulo; IBRASA; 1964
MARCUSE, Herbert; Tolerância repressiva; in,
Wolff, Moore & Marcuse; Crítica da tolerância
pura; Rio de Janeiro. Zahar; 1970.
MEYER, Michael; Two forms of toleration;
tolerance in public and personal life; EUA,
Journal of Social Philosophy; vol. 3, no. 4;
Inverno de 2.002 [548-562].
MILL, J. S.; Da liberdade; São Paulo; IBRASA, 1963 .
PROUDHON, Pierre Joseph, Oeuvres choisies;
Paris;Gallimar d; 1967.
RAWLS, John; Justiça e democracia; São Paulo;
Martins Fontes; 2000.
SEIBERT, Scott E., Maria L Kraimer, J. Michael
Crant; What do proactive people do? A
longitudinal model linking proactive personality
and career success; Personnel Psychology;
EUA; Inverno, 2001.
HOLANDA; Sérgio Buarque de: Raízes do Brasil; Rio
de Janeiro; Livraria José Olímpio Editora; 1976.
SMITH, Tara; Tolerance & forgiveness: virtues or
vices? ; Journal of Applied Philosophy, Reino Unido;
Blackwell Publishers; vol. 14, no. 1, 1997 [32-42].
TAYLOR, Frederick Winslow; The principles
of scientific management, Nova York, Happer
& Brothers, 1947.
VATIN, François; Le travail: économie et
physique 1780-1830; Paris: PUF; 1993.
VOLTAIRE (François Marie Arouet); Dicionário
filosófico; Lisboa; Editorial Presença; 1966
(artigo Consciência).
VOLTAIRE (François Marie Arouet); Oeuvres
complètes de Voltaire avec notes, préfaces,
avertissements, remarques historiques et
littéraires; Paris; Armand-Aubree, 1829-1831).
WOLFF, Robert Paul; Além da tolerância, in, Wolff,
Moore & Marcuse; Crítica da tolerância pura; Rio
de Janeiro. Zahar; 1970.
AUTOR•HERMANO ROBERTOTHIRY-CHERQUESDoutor em Ciências, Mestre emFilosofia, Graduado em Admi-nistração.
Professor Titular da Fundação Ge-tulio Vargas; Professor VisitanteUniversidade de Paris (SorbonneNouvelle); “Senior Researcher”Universidade de Maryland, College
Park. Consultor de agências inter-nacionais (Nações Unidas, OEA,UNESCO, OMS, BID), em-presas eorganizações governamentais, noBrasil e no exterior.
36R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Marcos Souza Aranha
COACHINGSÓ QUEM NÃO É BOBO ACHA
QUE VAI PRECISAR DISTO36
R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Keys
tone
37J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
D
yw
talentos que poucas pessoas con-seguem reunir.
“O bobo da corte era um exce-lente Coach, e o rei sabia que pre-cisava de coaching.”
Faça você mesmo uma avaliaçãodos talentos exigidos para ser oBobo e tire suas próprias conclu-sões.
Ele tinha uma grandefacilidade de relacio-nar-se para podertransitar em todas as
“tribos”, dentro e fora da corte,verticalmente e horizontalmente.
Era um “insider” e ti-nha informações epontos de vista numavisão de praticamen-
te 360 graus. As pessoas confia-vam nele, pois sabiam que elesaberia fazer da informação algoque traria resultados.
Ele era um ótimo ou-vinte e um excelente“questionador”, fa-zendo perguntas e
mais perguntas.
Tinha uma boa capa-cidade de análise esíntese para reunirtodas as informações
e preparar um “relatório” comanálise das informações e síntesedas ações futuras.
O bobo era muito cria-t ivo . E ra um bomreda to r, um bomdiretor de arte, pois
tinha que criar imagens e textos quedescrevessem o que o rei não podiaver nem ouvir. Tudo de uma manei-ra divertida, relevante e persuasiva.
Era um ótimo apresen- tador e vendedor. Ele conhecia seu público, sabia o que queria ven-
der antes de atuar, ensaiava incan-savelmente seu texto, preparava aroupa, conhecia o local, e tinhajogo de cintura para fazeradaptações de última hora.
Poderíamos continuar aqui falandode muitos outros talentos para serum Bobo, tais como conhecer as-pectos de administração, finançasetc., mas prefiro dizer que, se porum lado ele era um generalista, poroutro era um especialista. Umgrande especialista da arte de conhe-cer o Ser Humano, suas neces-sidades, desejos e medos.
Esse paralelo entre o Coach dosdias de hoje e o bobo da corte sefaz necessário, pois muitos dos ta-lentos de antes são muito neces-sários hoje.
Como a palavra coaching se tor-nou um genérico, principalmen-te no Brasil, e diferentes tipos deprofissionais estão fazendo usodela, é importante separar umaprofissão da outra, assim como sefaz no mercado de comunicação.No mercado de comunicação, porexemplo, todos têm claro áreas decompetência. O profissional decomunicação de massa que seatreve a fazer marketing direto ter-mina muitas vezes fazendo algoaté legal, mas na maioria das ve-zes termina vendo sua boa inten-ção virar um gasto e não um in-vestimento de comunicação.
No mercado de coaching ocorreo mesmo; existem profissionaisque confundem terapia, aconse-lhamento profissional, counselinge mentoring com coaching.
SÓ QUEM NÃO É BOBO ACHA QUE VAI PRECISAR DISTO
1)2)
3)4)
5)
6)esde que o Homem é Homem eleaprendeu que o Livre Arbítrio é umato divino e que as decisões fazemparte de sua vida diária. Ele apren-deu também que até a indecisão jáé um ato de decisão em si. Mas àmedida que ele foi vivendo cadavez mais em grupos, e suas deci-sões passaram a envolver eimpactar não apenas sua própriavida, mas também a de outros, osimples ato foi se tornando umpouquinho mais complexo, um atode responsabilidade social.
“Tomar decisões que envolvemoutros é, antes de nada, um ato deresponsabilidade social.”
Há milênios nascia a necessidadedo coaching. Ou seja, a necessida-de de ter uma visão ampliada dopresente, para tomar decisões deações que impactarão o futuro.
Digo isso, pois o Coach é a pessoaque deve ajudar as pessoas a atingi-rem seus objetivos através daquiloque elas têm de melhor. Para isso,ele deve ter mais que uma boa in-tenção, uma boa formação e umarica experiência de vida.
Na antigüidade, muitos líderes pro-curavam pessoas internas e externasa seus interesses, visando conhecerpontos de vista e questionamentosdiferentes dos seus. A figura maisfacilmente reconhecida na Históriaé o “bobo da corte”.
Muitos acreditam que ele era umpalhaço que fazia o rei rir. Naverdade, o bobo da corte era oúnico personagem, de toda a cor-te, autorizado pelo rei a falar to-das as coisas que ele quisesse, ouseja, a sua própria verdade, não ado rei, nem de seus cortesãos.Obobo da corte conseguia reunir
37J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
38R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
você. Durante o encontro, note se elesabe te ouvir, se faz perguntas quevocê jamais se fez, se ele está no pre-sente ou se vive de conhecimentospassados dele mesmo, não seus.
QUINTA E ÚLTIMA:o coach tem que transmitir seguran-ça, confiança, abertura e empatia.
Se você se lembrar de pelo menostrês dessas dicas, terá tido boa chancede ter feito uma boa escolha.
SERÁ QUE VOCÊPRECISA DECOACHING?
Você pode estar se perguntando seprecisa ou não de coaching.
Se você consegue ver sua próprianuca sem espelhos, você não preci-sa de coaching, caso contrário, re-pense sua decisão.
Na verdade, todos nós precisamos decoaching em certos momentos, prin-cipalmente naqueles em que dese-jamos ver o mundo com outras len-tes, além de nossas próprias e oscircuitos internos já conhecidos.
Se fizermos um paralelo com umamarca, ela deve saber quem é – co-nhecer seus atributos, benefícios, va-lores, personalidade, proposta únicade venda e sua essência. Uma vezdefinida quem é a marca, faz-se umplano de negócios para ela: onde está– onde quer estar –, como chegará lá.
Nós também temos as mesmasnecess idades . Todos somosnossa própria marca, todos ne-cessitamos do nosso próprio“business plan”.
Marcos Souza Aranha
No processo de coaching podemosaté recomendar ao cliente umterapeuta, um conselheiro profis-sional ou um mentor, se for o caso.
Mas o Coach que é Coach não énada disso; ele tem claro seus limi-tes e sabe conter sua boa intençãoquando sua formação não permiteque seu cliente avance para atingiros objetivos desejados.
“O inferno está cheio de gentebem intencionada que tentou aju-dar onde não tinha competência.”
COMO RECONHECER UMBOM COACH?
Tenha claro o que você necessita parasi – suas expectativas, objetivos etc.Assim, evitará cair na armadilha da-queles coaches que dizem que sa-bem o que você está precisando.
Tendo suas necessidades mais claras…
PRIMEIRA DICA:se ela for da área profissional, separeo técnico do estratégico.
SEGUNDA DICA:separe o que é relacionado com trei-namento do que é com desenvolvi-mento (assim entendemos:
Treinamento = obter novas informa-ções/conhecimentos + aprender no-vas habilidades para aplicá-las + es-tabelecer regras/políticas para usá-las
Desenvolvimento = usar a experiên-cia de vida individual e única paratransformar as informações/conheci-mentos + definir seus próprios valo-res que serão levados em considera-ção na aplicação das habilidades +os princípios pessoais que traçarãoas regras/políticas).
TERCEIRA DICA:converse com os candidatos a fazerseu coaching. Conheça a formaçãodeles, seus talentos, seu know-how,suas experiências de vida. Note seele trata os assuntos profissionaiscomo quem já os vivenciou ou comoalguém que apenas os estudou.
QUARTA DICA:uma das coisas principais na esco-lha de um bom coach: note se eleestá genuinamente interessado em
38R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Keys
tone
39J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
• MARCOSSOUZA ARANHAEconomista, publicitário, empre-sário e Coach.Trabalhou na Leo Burnett noBrasil e no exterior, na Ogilvy &Mather, BBDO USA. Fundou epresidiu o portal da Internet OSite, que foi um dos raros a abrirseu capital na Nasdaq, eatualmente é sócio da OW4YConsulting, empresa de consul-toria na área de desenvolvimen-to humano www.ow4y.com
Como podemos conhecer melhornossa marca pessoal sem o auto-co-nhecimento, sem planejá-la cuidado-samente? Impossível, já notou isso?
Durante o processo de coaching vocêpoderá ver novas coisas sobre si, quetrarão à luz quem você é, onde está,onde quer chegar, e os caminhospara se chegar lá.
Obviamente, estamos falando de umcaminho de coaching onde o foco éo Desenvolvimento.
Se o enfoque do coaching for o detreinamento, você terá algo mais pon-tual para solucionar, algo relaciona-do a este know-how que busca.
Também, há um outro tipo decoaching, que a cada dia se tornamais e mais importante para execu-tivos de nível alto, e talentos poten-ciais. É o coaching de prioridades decurto prazo, com foco em decisõesestratégicas semanais.
O mercado americano, canadense eeuropeu usa e abusa do Coaching,profissional e pessoal, tanto de trei-namento como de desenvolvimento.Os orientais também usam, mas,como faz parte da cultura milenar atransmissão oral dos conhecimentose sabedoria, o coaching fica maisrestrito a questões de treinamento,com tendência à parte técnica.
No Brasil, há uma miscelânea deusos, pois, embora existam muitosprofissionais, o coaching muitasvezes é confundido com a imagemde Coach de baseball – treinador/técnico, ou com a imagem deaconselhamento profissional – apsicóloga vocacional.
Assim, muitas vezes ele acaba sendousado como algo para aprender técni-
ca e competências, ou para “encon-trar” caminhos profissionais.
Apesar de o coaching ser tão antigona história da humanidade, notamosque agora no Brasil ele está crescendodentro e fora das empresas. Questõescomo a responsabilidade social dasempresas, a crescente e incessantedemanda por resultados cada vez mai-ores, a grande insatisfação pessoal eprofissional com as decisões do dia-a-dia, ele está mais em evidência.
É comum profissionais, em cargosimportantes, saberem que necessitamde ajuda, mas muitos têm vergonhade pedi-la dentro da própria empre-sa, ou não querem confiar apenas emseus colaboradores. Aí, um coach éum grande aliado, não uma terapia,nem um aconselhamento.
“ONDE ENCONTRAR BONSPROFISSIONAIS EMETODOLOGIAS APRO-PRIADAS”
Volte às suas necessidades e verifi-que se deseja algo mais na área dedesenvolvimento – marca pessoal eplano pessoal e profissional; ou nade treinamento específico ou com-petência técnica; ou ainda algo parasuporte estratégico de curto prazo.
Ao contactar os profissionais quepoderão fazer seu coaching, perguntequal é a metodologia que ele iráutilizar. Certifique-se de que ele temum roteiro claro a seguir em termosde conteúdo e prazo. A partir disso,você pode procurar saber qual é omelhor lugar para fazer seu coaching– via Internet, por telefone, no escri-tório do coach, no seu próprio escri-tório, num local público.
Tomadas essas decisões, procure não
AUTOR
zx
conversar com profissionais de sua área,amigos, RH, que já tenham feito ouconheçam coaches para indicá-lo.
Se você tem um headhunter de con-fiança, pergunte a ele. Muitas empre-sas de hunting têm coaches dentro doseu próprio negócio ou terceirizado.
Se você vive longe de São Paulo eRio de Janeiro, a Internet tem muitasopções interessantíssimas (veja nosbuscadores:www.yahoo.com.br e www.cade.com.br.
Escolha pelo menos duas empresaspara entrevistar.
Lembre-se de que a excelência co-meça por você.
Decida-se sobre para que, quando,como, onde, com quem fazercoaching. Escolha um Bobo e divir-ta-se até atingir seus objetivos.
Com bom humor, alegria, compro-misso, responsabilidades e equilíbrio,se chega ao destino aproveitando-sea jornada.
SÓ QUEM NÃO É BOBO ACHA QUE VAI PRECISAR DISTO
39J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
40R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
VERDADESDO VAREJO
EDSON ZOGBI
MARKETING E COMUNICAÇÃONO MERCADO VAREJISTA
Keys
tone
41J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Pirani, Garbo, Casa José Silva,Ultralar, Mappin, Fábrica de MóveisBrasil, Lojas Peter... O varejo a todovapor trabalhando sua comunica-ção, experimentando novas manei-ras de divulgar, de atrair clientes, devender. A comunicação nesse pe-ríodo era feita por profissionais compouca ou nenhuma formação aca-dêmica, mas muito interessados eamantes da comunicação. Vivíamosum grande boom em que comuni-cação institucional e varejo pare-ciam a mesma coisa, aliás, a comu-nicação institucional parecia maiscom o varejo, pois era muito maisvendedora do que construtora demarcas, conceito que, com o passardos anos, se fortaleceu.
Num ambiente informal, formaram-se grandes comunicadores, algunsque ainda estão trabalhando, ou es-tão ensinando o que aprenderam.Conseqüentemente, seguiu-se umhistórico de investimento na cons-trução de marcas cada vez mais in-tensivo, visando fazer da indústrianacional uma grande detentora degrifes, já que os produtos importa-dos ficaram inacessíveis no período
Com o advento do auto-serviço nossupermercados, da abertura às im-portações e dos direitos do con-sumidor, o varejo tornou-se a bolada vez. O fabricante começou a pre-cisar novamente do varejo, que vi-rou um canal de distribuição profis-sionalizado, que passou a venderprodutos, serviços, conveniência eo principal: imagem de parceiro doconsumidor.
De qualquer maneira, o hiato de 30anos sem foco no varejo estava con-figurado. Costumo dizer que comu-nicação para o varejo “é outrobusiness”, porque vejo as agênciasde propaganda interessadas em cor-rer atrás das verbas (cada vez maio-res) destinadas a este segmento, to-talmente desmuniciadas para traba-lhar este “outro business”. Resulta-do: comunicação bonita, cara, in-teressante e que não vende. Foram30 anos preparando profissionaispara fazer um tipo de trabalho mui-to diferente do necessário para umsegmento que cresce mundialmen-te a toque de caixa.
Os profissionais que estão fazendoa coisa certa na comunicação dovarejo são poucos, alguns apren-dizes do pessoal “da antiga”, ou-tros, gente muito interessada no as-sunto, provenientes de áreas comer-ciais. São raros os vindos do mundo
VERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
1960/
COMUNICAÇÃOPARA O VAREJO – O HIATOENTRE A FORMAÇÃOACADÊMICA E A REALIDADEDO MERCADO
70/80
do militarismo, as indústrias tinhama bola da vez, ditavam as regras eposicionavam-se como as detento-ras do know-how de comunicaçãoacerca dos seus produtos.
Nesse momento, a área de interes-se acadêmico seguiu a ordem docapitalismo: onde há capital há con-centração de mão-de-obra espe-cializada. Criaram-se inúmeras teo-rias de comunicação e inúmeras te-orias de marketing voltadas para aconstrução de marcas, e as vendasficaram para segundo plano.
“O varejo, semopção, virou um
‘engolidor depacotes’ de
produtos do tipo‘comprou o
filet-mignon temque comprar oosso também’.”
As indústrias eram donas absolutasdo mercado, trabalhavam com mar-gens de lucro astronômicas e empur-ravam seus produtos aos consumi-dores. O varejo, sem opção, virouum “engolidor de pacotes” de pro-dutos do tipo “comprou o filet-mignon tem que comprar o ossotambém”. E o consumidor, com pou-cas opções num mercado fechado àimportação e cartelizado, escolhiapela marca, porque os preços eramcasados entre concorrentes. Tudo eramotivo para não se olhar para a co-municação do varejo. Afinal, não eramais o varejo que tinha essa função.
1990/2000
yw
42R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
acadêmico atual. É como o apagão:não planejamos e perdemos comisso. É hora de acordarmos para essetipo de situação. Corrermos comoloucos atrás do capital em detrimen-to do pensamento e da estratégia, oque nos faz cada vez mais depen-dentes dos detentores do próprio ca-pital, os países ricos, conhecidoscomo “do primeiro mundo”. É horade investirmos em formar pessoasdeste “outro business”, ou nosso va-rejo vai ter que engolir pacotes, des-ta vez de comunicação, importadose de resultado duvidoso para umpovo que tem um estilo de consumirpeculiar, muito diferente, por exem-plo, do hemisfério norte. Nesse mo-mento, ignorar essa necessidade sófavorece o erro, e o mercado fica vul-nerável ao oportunismo e aoamadorismo. É um nicho que deveser perseguido.
A MIGRAÇÃODAS VERBAS DECOMUNICAÇÃO PARAO VAREJO E SUABOA UTILIZAÇÃO
Todos os dias, lemos nas matériasespecializadas em comunicação no-tícias sobre o divisor de águas queestá se formando no planejamentode marketing dos fabricantes, no quese refere a verbas de comunicaçãopara suas linhas de produtos.
Na realidade, os números não sãonada importantes em sua dimen-são e sim quanto ao custo-benefí-cio que proporcionam, centavo acentavo. Afinal, se o mundo estácada vez mais competitivo, denada adianta trocar os ovos de ces-ta se os mesmos também não vãochocar. A grande jogada é mudarpara melhor, trocar de estratégia ever resultados nos balanços. Daí a
evidente necessidade de fazer a coi-sa certa com o incremento de capi-tal no segmento. Saber como distri-buir essa verba num universo gigan-tesco que passa pelo Ponto-de-Ven-da, pela Promoção, pelos Eventos,pelo Marketing de Relacionamen-to, pelos Serviços, pela Mídia tra-dicional, pela mídia online e mui-tas outras formas de comunicação,é um jogo de xadrez que dá muitotrabalho e muito menos lucratividadedo que a comunicação institucional.É, como repito, incansavelmente,“outro business”.
Referências viciosas trazidas dasfórmulas da propaganda institu-cional só são muletas aparentemen-te utilizáveis sem indícios de erro.Quando comparadas ao plane-jamento detalhado e experiente doponto de vista comercial do vare-jo, são puro lixo em termos de re-sultado. É nítida a reação do in-vestidor no segmento quando eletem um tipo de serviço ou outro.Num ele acha a comunicação ummal necessário, no outro ele inves-te na comunicação como ferramen-ta competitiva e de expansão deseus negócios.
Nesse jogo de xadrez, o xeque écontratar serviços de comunicaçãoexperientes, compromissados comresultados e conscientes do volumede trabalho e do retorno financeiroespecífico do segmento. O xeque-mate é não se envolver com oglamour de comunicação tradicio-nal para satisfação do ego em ne-nhum momento. É como um presi-dente de um grupo varejista de umbilhão de dólares anuais olhar paraum cliente dentro de uma de suaslojas e falar: “Pois não? Em que pos-so ajudá-lo?”
A comunicação para o varejo está
O que era 100%para divulgação
em mídia 15anos atrás hojemudou e deve
estar beirando os60% para mídiae 40% para oPDV, o bom erealista Ponto-
de-Venda.
EDSON ZOGBI
Juni
or d
e O
livei
ra
43J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
longe do feijão com arroz, é com-plexa e deve ser encarada como talpelos profissionais interessados emprestar serviços nessa área. Os oriun-dos da propaganda institucional de-vem adaptar-se a outros timmings,outros ritmos, outras remunerações.Acho dificílima essa adaptação; ali-ás, o que vejo no mercado são pes-soas que não tiveram espaço ouperspectivas de um lado, sendo for-
çadas a migrar para o outro, o quenivela lá em baixo a qualidade dacomunicação do varejo, primeiropela desilusão e segundo pelo des-conhecimento técnico do assunto.
Está provado que investir na comu-nicação específica do varejo ébom; falta-nos avaliar muitocriteriosamente quem vai cuidardesse assunto.
COMERCIAIS PARA OVAREJO E A PERCEPÇÃODO CONSUMIDOR
É só ligar a TV para ver aos montes oscomerciais bonitos, criativos, bem-humorados e sensuais de um lado e, dooutro, os comerciais informativos quenos avisam de alguma coisa que estáacontecendo no comércio, uma promo-ção, uma oferta, uma liquidação.
40% PARA O PDV, O BOM E REALISTA PONTO-DE-VENDA.
yw
Juni
or d
e O
livei
raVERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
44R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
“TÁ BOM, É O MELHOR, AGORA ME DIGA ONDE ÉQUE EU COMPRO MAIS BARATO, EM TRÊS VEZESNO CARTÃO DE CRÉDITO?” PONTO.
Juni
or d
e O
livei
ra
45J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Os primeiros nos causam a sensaçãode prazer estético, de arte envolven-do uma determinada marca, bus-cam a identidade com seu públicoacima de tudo, buscam um espaçona cabeça das pessoas que seja de-cisivo na hora de consumir o bemou o serviço.
Do outro lado estão aqueles comer-ciais esteticamente pobres, que nãoparecem criativos, que falam semprea mesma coisa: Compre, compre,compre! Mas afinal, o público odeiaa segunda opção? Ela é o submundoda comunicação? Não é por aí que acomunicação deve caminhar? Elaestá contra toda a teoria ensinada nasuniversidades?
A resposta é não, com exceção doúltimo item: ensino. Em relação aogeral, os filmes de varejo cumpremde imediato sua primeira função:informar. O consumidor valoriza eutiliza a informação promocional aseu favor ou acha importante tê-lana cabeça para passar adiante, sen-tindo-se útil no seu rol de convivên-cia. Saber “o que rola” é confortá-vel socialmente. Desse ponto de vis-ta, a propaganda do varejo é quaseque editorial, separa-se da propa-ganda institucional e é aceita comoé: diferente.
Definido o seu meio, o seu espaço,partimos para o interior desse tipo decomunicação informativa (alguns fa-lam objetiva, mas a nomenclaturanão é importante). Qual é a percep-ção do consumidor desse tipo de men-sagem? Essa é a pergunta que deve-mos formular; afinal, esse universotem concorrentes muito mais com-petitivos do que os institucionais, poisseus atributos beiram muito mais aracionalidade: preços, prazos, quei-mas de estoque, créditos, sorteios,concursos, pacotes, kits, descontos.
Temos de ser criativos, muito criati-vos. É “navegar num copo de água”,como costumo dizer.
Limites e mais limites são impostos.Não por incompetência e sim porsabedoria em aplicar bem as verbasdo comércio, que são bem menorese amarradas aos fornecedores, quecobram cada centavo aplicado emVENDER, único objetivo das verbascooperadas. É uma tecnologia decomunicação peculiar e nãoformatada no ensino superior tradi-cional. Temos de fazer para testar,estudar o público a fundo, avaliartodo o universo que envolve o seg-mento do varejo que está sendo di-vulgado e, a cada tentativa, apren-der, mensurar, corrigir, não deixan-do de inovar e arriscar.
É um grande jogo, sem o glamour deCannes, sem o tempo disponível, asverbas e as taxas da propaganda tra-dicional. É osso duro de roer só paraquem gosta de desafios e vibra maiscom resultados em volumes de ven-da do que com críticas favoráveis,prêmios e comentários. O profissio-nal dessa área é um híbrido de co-municação e vendas, é raro e serácada vez mais valioso com a tendên-cia de concentração de verbas nospontos-de-venda. Ainda sem títulosdefinidos para suas funções, estes“vendedores” são a peça fundamen-tal para a comercialização de todotipo de produto.
“Pensar globalmente e agir localmen-te” neste caso é traduzido diretamentepara “marcas mundiais, vendas lo-cais”. Consumir um Nike no Brasil édiferente de consumi-lo no Sorilankaou na Noruega, mas a marca é domundo, fala às características emo-cionais das pessoas, que são univer-sais. Difere no que é local, onde com-prar, quando comprar, como com-
prar, quanto pagar. Profissionais demarketing não podem ignorar maisque são duas coisas distintas, mas oosso e o filé andam juntos. Verba paraum, verba para outro, metas atingi-das. Seu Mané da esquina falou: “tábom, é o melhor, agora me digaonde é que eu compro mais bara-to, em três vezes no cartão de cré-dito?” Ponto.
PLANEJAMENTODE COMUNICAÇÃOPARA O VAREJO
Conjecturar, esta é a melhor defi-nição no caso do varejo, prever,imaginar cenários, balizar-se comas tendências. A comunicação parao varejo tem três pilares que a sus-tentam. Primeiro, as premissas psi-cológicas básicas do ser humano;segundo, a onda do momento; epor último a construção da ima-gem. As premissas psicológicas bá-sicas que funcionam no varejo são:amor próprio, amor à família, se-gurança, conforto, medo de per-der oportunidade, medo de perderdinheiro, diversão, pecados capi-tais, status.
Planejar — 1. Fazer o plano
de; fazer planta de; projetar,
traçar, planear. 2. Fazer
tenção de; conjecturar,
planear. 3. Fazer o
planejamento de; elaborar
um plano ou roteiro; planear.
yw
VERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
46R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
A onda do momento está presenteno dia-a-dia das pessoas e da mídia.Cada vez é mais fácil identificá-la.A construção da imagem é o itemmais delicado. Primeiro porquenormalmente não sobra espaçopara fazer essa parte, mas é ela quegarante o valor do negócio no va-rejo. Aí você pergunta: e a inova-ção e a criatividade? Pilares são fei-tos para sustentar algo, nesse casoexatamente isso: idéias. A base dacomunicação para o varejo é in-dispensável , mas a diferenciaçãovem da criatividade, da forma quese dá a esta obra. É, indubita-velmente, a comunicação maisdifícil, mais complexa, mais traba-lhosa de todas.
Poucos profissionais têm veia e ba-gagem para atingir resultados aci-ma da média. É o osso da propa-ganda. É um desafio para quemquer mais do que Cannes, do queClios, do que Caborés e Tops. Épara quem quer construir empre-sas, fazer parte de uma históriaempresarial de crescimento e ge-ração de emprego. É para quemtorce para ouvir: Vendeu! É maismarketing e planejamento do quearte, mas ainda assim é arte. Co-nhecer a fundo o que se vende,conhecer a fundo o mercado e aconcorrência, conhecer a fundoo target, é um bom começo.
Um trabalho que não se faz sozi-nho; só em equipe ele começa atomar forma. Atendimento, plane-jamento, criação, produção e mídiatem de “dormir na mesma cama,comer no mesmo prato”. Aliás, ar-risco dizer que a remuneração de-veria ser dividida entre esses setoresnuma avaliação democrática sobrea contribuição de cada um nos tra-balhos e seus resultados. Bom pro-fissional e bom trabalho é igual a
um bom dinheiro. Contrariamen-te, deixar o cargo do planejamentosob uma única responsabilidade écontar com um gênio trabalhando(loteria).
O ideal é ter um profissionalcentralizador de informações quedistribua as funções e acompanheo andamento dos trabalhos en-quanto monta o quebra-cabeça. Équase um gênio. Certamente é maisfácil de encontrá-lo por aí. Quan-
O VAREJO É AVAL PARAQUALQUER MARCA?
“Aquele senhor de terno no hall dohotel deve ter vindo para a conven-ção, mas não lembro de conhecê-lo.Será que é um empresário novo nosetor? Será que é algum político ouum investidor?” Era o valet mais boapinta do mundo esperando seu pró-ximo carro para estacionar, comaquele exemplar “Boa noite!” Assimé também no varejo multimarcas.Juntamente com as megas e múltisestão os pequenos, os micros, e, nes-se ecletismo que só o varejomultimarcas permite, olhamos paraum, olhamos para outro, vemos pou-cas diferenças, olhamos os preços edecidimos o que comprar/consumir.
Estranhamente, veremos pessoas quevão diretamente à marca conhecidae se abastecem dela, fruto de um tra-balho intenso de criação de hábitode consumo, que os departamentosde marketing das grandes empresasproduzem a duras penas e após lon-gos anos de trabalho. Veremos tam-bém pessoas que ligam o radar nu-mérico, vão diretamente ao preçomais baixo e pronto! Resolvido. Eli-minando os extremos de comporta-mento, estaremos com a maior partedas pessoas analisando, decidindoali, no ponto-de-venda, qual vai sera “marca” que vai comprar desta vez.
Esse processo é o mais difícil de ana-lisar, quanto mais de se fazer uma sín-tese. Como no estudo do varejo lati-no pouco se produz nesse sentido,arrisco divagar, com você leitor, so-bre este momento terrível na vida dequalquer cidadão: a decisão. Mesmoque seja sobre um mero pacote debiscoitos que será devorado no pri-meiro filme que passar na tevê. Sãovárias as situações que vivenciamos:“Tal produto eu faço questão, outro
do falo que a comunicação para ovarejo é “outro business”, preten-do sinalizar que hoje se perde mui-to dinheiro chutando impensada-mente, e a médio prazo se perde aconta. O ideal é pensar, ter o tra-balho real de pensar e gerar açõesde comunicação que vendam, queconstruam a marca e que gerem lu-cros para a agência e para o clien-te por um longo período de tem-po. É trabalho para gente grande.Vai encarar?
“O ideal épensar, ter o
trabalho real depensar e gerar
ações decomunicação
que vendam, queconstruam amarca e quegerem lucros
para a agência epara o cliente por
um longoperíodo de
tempo.”
yw
EDSON ZOGBI
47J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
A COMUNICAÇÃO PARA O VAREJO É INDISPENSÁVEL, MAS ADIFERENCIAÇÃO VEM DA CRIATIVIDADE, DA FORMA QUE SE DÁ A ESTA OBRA.
Juni
or d
e O
livei
ra
48R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
tal não tem diferença nenhuma”.
Este é o ponto: o produto que não“tem diferença nenhuma”. Vamos darum nome para ele: COMUM. Vocênem olha para o COMUM nabarraquinha do camelô da esquina,mas o mesmo COMUM no super-mercado onde você faz compras,onde você encontra todas as marcasque imaginar, aparece! Existe sériorisco de ele, o COMUM, ser digeri-do por você, no mesmo dia, duranteo telejornal.
A obviedade dos controles de quali-dade nas compras das grandes redesde varejo aponta para uma percepçãodo consumidor favorável ao consumodo que está exposto. “Não colocariamporcaria aqui!”, diz um cliente, “Nãoassumiriam tal risco!”, diz outro. E se odanado do COMUM for realmentebom? Colou. Pegou. Virou produto.
Vejam que interessante é a força queo varejo tem de trazer um produtoCOMUM para o hall da fama, numcurto espaço de tempo.
Pergunta. Se sozinho o COMUMnão seria ninguém, e somente ao ladode grandes marcas é que ele se igua-laria, então ele não se sustenta?
P. Existe interesse dos grandes em queo COMUM saia das gôndolas?P. Quantas associações terão de serfeitas para tentar bloquear o espaçodo COMUM?P. E a dimensão Tempo? (Com o pas-sar do tempo, a chance de bloqueá-lo é cada vez menor).P. O COMUM não foi convidado,mas está no baile, e o varejo? Devebloquear a entrada do COMUM, oudeve mantê-lo para controlar os pre-ços dos grandes?
Questões e mais questões, que nun-
ca serão resolvidas. O negócio con-tinua sendo o caminho do meio, oequilíbrio, a democracia merca-dológica. Depuração feita pelo con-sumidor é a regra, ele decide, ele é orei. O varejo não é aval para “qual-quer” marca, mas pode e deve seraval para o trabalho honesto, para acompe-titividade e para a ética. Omercado se forma organicamente, ovarejo não manda, serve. A compe-tência julga. O consumidor ganha.
Todo dia este universo cresce e con-quista mais e mais gente. Ótimo! Dosrecursos modernos da informática,nem se fale. Realidade virtual, fazen-do as pessoas perceberem com maisdetalhes, projetos arquitetônicos, de-coração, roupas, carros, aviões, jo-gos etc. Sensores a laser para contartráfego de pessoas e para sistemasde segurança, monitoramento inte-ligente, leitores de códigos de bar-ras, gerenciadores de pontosmultimídia informando estoques,preços, resenhas de produtos, rádi-os internas nas lojas, iluminação es-pecial para gerar “o clima” sobre vi-trines de produtos e muito mais queainda desconheço, mas já, já, apa-rece por aí.
Hoje, alguns dos itens citados aci-ma são imprescindíveis para lojasque atendem o público consumidorA, B e C. Não conseguimos, comoconsumidores, pensar em filas decaixa demoradas que têm de digitartodos os preços de uma compra desupermercado. Seria totalmenteinviável etiquetar todos os produtosde uma loja com mais de 50.000itens diferentes. Ninguém, em sãconsciência. investiria num contro-le de estoque manual para uma redede farmácias. São critérios estabele-cidos pelo mercado para ser com-petitivo. E as novidades que estãosurgindo tornar-se-ão os pré-requi-sitos de amanhã.
Entramos em pontos-de-venda emoutros países e podemos “sentir”como ficaria nosso novo smokingnuma festa de gala apenas provan-do-o na loja, pois no provador exis-tem telas que exibem filmes e te co-locam no “clima”. No mesmoprovador sua roupa de surf fica mui-to bem numa praia cheia de gatinhase ondas perfeitas. Em outra loja vocêfuma uma determinada marca de ci-
“Eliminando osextremos de
comportamento,estaremos coma maior partedas pessoasanalisando,
decidindo ali,no ponto-de-
venda, qual vaiser a ‘marca’
que vai comprardesta vez.”
MEIOS VIRTUAIS EPONTO- DE-VENDA,LONGE DA RIVALIDADE,PERTO DA PARCERIA
Que a Internet não será o grande deusdominador de todas as mídias já estáprovado. O boom de 2000 não serepetirá, os milionários oportunistasestão procurando outras “corridas doouro”, quem ficou está trabalhandoduro para criar hábitos em seu públi-co internauta, para fidelizá-lo e ofe-recer o que há de melhor em produ-tos, serviços, lazer e informações. yw
EDSON ZOGBI
49J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA O MERCADO VAREJISTAO MERCADO SE FORMAORGANICAMENTE, OVAREJO NÃO MANDA,SERVE. A COMPETÊNCIAJULGA. O CONSUMIDORGANHA.
Juni
or d
e O
livei
ra
50R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
garros “caminhando com outros fu-mantes pelas ruas de New York”, comtrilha sonora. Que tal levar a plantada sua nova casa e “colocar” váriostipos de pisos na sala para ver qualfica melhor? Este é o novo ponto-de-venda. Muito mais interessante, mui-to mais atraente e interativo.
Este é o caminho da integração docomércio com os meios virtuais,uma grande parceria. São infinitasas possibilidades de agradar efidelizar clientes que reinarão peran-te nossos olhos. Não considero esseprocesso excludente, considero-omais um caminho.
Acredito muito na conveniência dacompra à distância, no delivery pro-priamente dito, mas também arriscodizer que consumo no ponto-de-ven-da somado aos meios virtuais agre-ga lazer ao processo, que normal-mente tende a ser penoso edesgastante. Se o tempo da tarefa foro mesmo tempo do entretenimento,todos ganham. É a definição de par-
ceria aplicada no momento deseja-do pelo consumidor, a grande joga-da de marketing desta década.
ESQUEÇA OSPREÇOS. NO VAREJOO CONSUMIDORQUER SENTIR-SE BEM
Calma, não é tão 100% assim; aliás,nada é 0% ou 100%, não é? Masnum exercício de imaginação, vamosavaliar o consumidor utilizando umaloja para comprar um produto queprecisa. Pense nos pratos de uma ba-lança, daquelas antigas, que usam nosímbolo da Justiça. Do lado direitoteremos a emoção e do esquerdo arazão, como no cérebro.
Por mais que nos esforcemos, nuncaconseguiremos equilibrar a balançado racional com o emocional, o ra-cional sempre estará em minoria. Pornossa natureza psicológica devería-mos ser equilibrados entre os dois la-dos, mas quando chegamos ao finalde um processo, no caso a aquisição
de um produto, sobra muito conteú-do racional implícito no mesmo,principalmente porque os produtossempre tendem a ser commodities(ser muito parecidos com os concor-rentes), daí a força da retomada emo-cional no ato da compra ser tão gran-de. É o que diferencia o ponto-de-venda da Internet.
Talvez um dia a Internet chegue per-to, mas sob este prisma está anos luzdistante. O varejo de primeira linhatem mais itens nos pratos do lado di-reito, sempre. É só pegar algumas lo-jas e comparar, é infalível. Deste pon-to em diante estamos desculpadospor comprar naquela loja que é “maiscara”, mas é a loja que “gostamos”.
Cabe agora uma observação muitoimportante: formatar-se da maneiracerta (mais emocional) desde o co-meço é vital para a aplicação destaregra, porque o consumidor forma aimagem da loja da maneira certa.Mudar a imagem depois de um cer-to tempo (da razão para a emoção)também é válido, mas custa tempo e
Só como um breve exemplo, já temos 10 características emocionais
contra 4 racionais.
No prato esquerdo temos:1 – sua função propriamente dita(um furo, no caso de umafuradeira, por exemplo),2 – o custo do produto (valor eforma de pagamento),3 – o tempo gasto,4 – o custo do deslocamento até aloja (combustível, condução etc.).
No prato direito temos:1 – o acesso à loja (incluindoestacionamento, no caso de ir decarro),2 – a receptividade ao chegarna loja,3 – o ambiente completo(iluminação, limpeza, organiza-ção, sinalização indicativa,música ambiente, experimenta-ção de produtos etc.),
4 – a variedade de marcas emodelos para a escolha,5 – o atendimento técnicoorientativo, o atendimento queapóia e incentiva a compra doque realmente queremos,o atendimento que lembrada compra complementar(uma venda competente,digamos assim),6 – a facilidade para pagar,
Agora, vamos colocar na balança as características envolvidas no processo decompra do tal produto.
7 – o apoio no ponto-de-venda: banheiros, berçários,lancho-nete, terminalbancário etc.,8 – informação grátis, seja elatécnica, artística, noticiosa etc.9 – conveniência de horário(24 horas),10 – relacionamento (serreconhecido, apoiado, e poderficar à vontade).
EDSON ZOGBI
51J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
muito dinheiro (e com a equipe cer-ta). Permanecer no formato ultrapas-sado (só da razão), é marcar o diapara abaixar as portas.
VAREJO NAINTERNET,UM BEBÊ!
Uma loja é um uni-verso de sensações, oscheiros, os sons, otato com os produtos,a beleza e a riqueza deinformações novas para osolhos, a convivência com con-sumidores iguais ou diferentes devocê, as perspectivas de bons negó-cios, de presentear-se ou presenteara outro.
E a Internet? Desse ponto de vista, fi-cou lá longe, por mais que sometecnologia com conforto, pára por aí,deixa de lado coisas que pesam de-mais na balança do consumo. E omeio de pagamento então? Quemnão sente um friozinho na barriga aodigitar o número do cartão de crédi-to. Sabemos que milhões são gastospara garantir a sua segurança nestastransações, mas ninguém está 100%confortável, aliás, a maioria não estánada confortável, tanto é que nãocompra NADA pela Internet.
Sou partidário absoluto da expansãoda rede, principalmente no que tan-ge à troca de informações profis-sionais e sociais, masquanto ao comércio ad-mito que a velocidade élenta, coisa para a próxi-ma geração (uns 10 anos). Étriste ter de me posicionar fri-amente sobre o que me seduz,mas todos os balanços do va-rejo virtual são unânimes: pre-juízo (por enquanto). Mas não
podemos deixar o barco passar, a di-ferença é o quanto de investimentocolocaremos nele, o quanto de focoele vai necessitar.
Curiosamente os maiores su-cessos (se é que se pode
chamar assim) de varejona Internet são as lojasque surgiram diretamentepara este meio. As lojasque estavam estabe-lecidas nas ruas e inau-guraram seus pontos na
rede sofrem mais. Sofrem porquetêm de vencer culturas, vícios, li-teralmente aprender a trabalhardessa forma.
E o público? São vários: um que sópensa na net (os internautas decarteirinha), outro que está migran-do (os mais jovens) e o último quedá umas bicadas mas corre assusta-do (os que passaram do tempo). Mes-mo assim, o varejo tradicional estáem constante avanço e nada a fimde ficar olhando da arquibancada aderrota de seu time. Acredito queainda vamos ver um varejo maduroe muito significativo antes de criar-mos esse bebê.
QUAL A MÍDIACERTA PARA O VAREJO?
Só pode ser a TV!
Por ter som, imagem, reproduçãoviva da argumentação de venda,gente falando com gente, a belezada apresentação dos produtos, oimpacto do apelo promocional, omenor custo por mil (medida paraavaliar os custos cobrados em rela-ção às medidas de audiência), amaior cobertura, a maior audiên-cia possível no público-alvo(target), êpa! Nesse caso podemosestar errados.
Existem outras mídias mais bemsegmentadas: revistas, jornais,marketing direto. Quando se tratade mídia, TODA generalização éum perigo. Os estudos e a expe-riência mostram que, no caso dovarejo, cada segmento deve ser ava-liado de acordo com o tipo de con-sumo e o tipo de público. Teremosdiferenças absurdas entre o tipo deconsumo de supermercados, mate-riais de construção e automóveis, porexemplo. Cada segmento exige umestudo.
Aí chegamos num ponto paradoxal:o varejo deve ser dinâmico por defi-nição, e estudar mídias pode ser teó-rico demais para acompanhar essadinâmica. A chave está em ponderarrisco e freqüência de promoções, ex-
plicando melhor: tes-tar. Com a vantagemda quantidade depromoções que ovarejo deve fazer,podemos testartodos os tipos demídia no decor-rer de um cur- yw
VERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
52R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
to espaço de tempo.
No período de um ano, você temuma enorme quantidade de expe-riências para poder estudá-las e me-dir eficiência. A cada campanha po-demos medir diretamente em resul-tado de vendas se a mídia utilizadafoi ou não eficaz e redirecionar astáticas. Desse ponto de vista, o vare-jo é muito mais tático do que es-tratégico. Vale neste pontoposicionar-me em relação à no-menclatura e abrir um parêntesissobre o que é Tática e Estratégiano varejo.
TÁTICA é a caixa de ferramentasque você tem na sua mão, o quevocê pode fazer com elas estáclaro e você não precisa supornada para usá-las, é só usar (ouaplicar). Portanto, se o que vocêprecisa fazer exige um serrote evocê tem o serrote, é tático, masse você não tem o serrote, passaa ser estratégico. A tática, no va-rejo é o que envolverá direta-mente vendas, podendo comalguma sorte construir um poucode marca.
ESTRATÉGIA difere da tática, novarejo, quando para fazer oplanejado você precisa supor va-riáveis hipotéticas, do tipo “e se”,“se acontecer isso, faremos aqui-lo”, “considerando que” etc.Bom, eu não tenho o serrote, masno mês que vem vou comprar ume...., é isso! Estratégico no varejoé aquilo que você idealiza e cor-re atrás, aí entram objetivos paramarca e para vendas.
Relembrando: o estudo dasmídias certas é feito entre o riscoe a freqüência de promoções comuso das mesmas. Obviamente, oque, por definição como mídia,
não servir para o segmento de va-rejo em questão não deve seradotado. Nesse caso não é risco,é desperdício. Exemplo: utilizaruma placa de estrada para o vare-jo. A placa de estrada não tem oconceito dinâmico básico de queo varejo precisa, e o custo paraatualizar constantemen-te uma placa destasseria alto; nessecaso, é desperdício.
Veja bem que nãoestamos falando demarca, e sim devendas. Nocaso da mar-ca, a placa deestrada é in-teressante eentra para a “tur-ma do risco”. A fre-qüência das promoçõesnos dá a oportunidade demedir o retorno da mídia utilizada.Mesmo que você utilize váriasmídias ao mesmo tempo, pode fa-zer uma pesquisa simples de por-ta de loja e detectar o seu retor-no. Falaremos de pesquisa tam-bém adiante.
Estamos, em relação à mídia, nomelhor dos mundos. Podemostestar todas elas (risco) e esco-lher as melhores para o caso es-pecífico (freqüência). Seria comopoder ir a todos os restaurantesda sua cidade e escolher os me-lhores ou como usar todas asroupas de uma loja por um preçopequeno, proporcional a uma ouduas utilizações e só depoiscomprar definitivamente a queserviu perfeitamente. Só utilizamal a mídia no varejo quem temaversão ao risco ou quem estámal assessorado; caso contrário,boa degustação.
VERBAS PARAVENDER OU PARACONSTRUIR MARCA?
Só um sábio separa o joio dotrigo. Esse ditado não vale definiti-vamente para o varejo. Apesar de,na maioria dos casos, ser um idealdifícil de ser concretizado, a gran-de sabedoria na comunicação dovarejo é juntar as duas coisas: ven-das + lembrança (recall) e constru-ção da marca.
Não que não existam situações nasquais você possa fazer uma ou ou-tra coisa, mas a situação ideal doresultado da comunicação é a somaacima mencionada. Dificuldadespara escolher mídia? Fácil. Asmídias são claramente avaliáveisem sua utilidade. Existem três ca-sos. O primeiro, a mídia útil ape-nas para marca, por exemplo, opatrocínio de um time esportivo.Segundo, a mídia útil apenas paravendas, como um tablóide de ofer-tas. Terceiro, a mídia útil para mar-ca e vendas: exemplo, a TV. Quan-
EDSON ZOGBI
53J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
to à mídia, fica claro onde vocêpode priorizar sua estratégia.
O que normalmente acontece é aescolha da mídia que é útil para osdois casos para otimizar ao máxi-mo a verba. A verba no varejo nor-malmente vem da arrecadação so-bre um percentual das vendas, oque a torna justa e variável de acor-do com o andamento do negócio.Como também as margens (markup)do segmento são baixas, por serultracompetitivo, as mesmas nãocostumam deixar folga para sepa-rar mídias específicas para marcaou vendas.
Aí é que, por decorrência, sobrapara a criação a difícil missão dafusão, nas mesmas peças publici-tárias, dos dois objetivos, encher aslojas e fazer com que os consumi-dores gostem do “nome” das mes-mas. Digo difícil, pois são abor-dagens psicológicas diferentes,em se tratando de varejo, que de-vem acontecer simultaneamenteao impactar o consumidor com apropaganda.
O estímulo ligado ao “bom negó-cio” oferecido é tipicamente ra-cional, lógico, tem uma via de en-trada cognitiva pelo lado esquer-do do cérebro (que cuida da árealógica) e o estímulo ligado ao “re-conhecimento e carinho pela mar-ca” é emocional e sua via de en-trada cognitiva é pelo lado direitodo cérebro (que cuida da área emo-cional e intuitiva).
Somente com muito planejamentoé que se chegam a resultados inte-ressantes nas peças publicitárias.Várias tentativas ficam grosseiras eoutras pendem para um lado emdetrimento do outro. Quando men-cionei a TV como um bom exem-
as: primeiro vender, depois fazermarca, porque o primeiro vem ime-diatamente após o investimento daverba e o segundo vem com o pas-sar do tempo, como resultado ho-meopático da freqüência do usodeste investimento.
CRIATIVIDADE EDINÂMICA DO VAREJO
Criatividade: novidade, inovação,ato ou projeto inédito, junção deduas ou mais coisas formando umanova, releitura de uma coisa, rup-tura de um sistema ou processo for-mando outro, implantação de umnovo conceito ou estratégia, apro-veitamento do diferente, do quedestoa do comum, articulação forada expectativa, uso de materiaisnovos, mistura de materiais.
Esse esboço de definição é insufi-ciente para mostrar a amplitude do
“A placa deestrada não tem
o conceitodinâmico básicode que o varejo
precisa, e o custopara atualizar
constantementeuma placa dessas
seria alto.”
plo para se tentar este tipo de co-municação dupla, levei em consi-deração a sofisticação desta mídiapor conter imagem e som reuni-dos com a maior chance de imitara realidade.
Por meio da imagem em movimen-to você pode atingir os dois ladosdo cérebro, o esquerdo pela quali-dade do produto ofertado, pelo pre-ço impresso na tela, pela promo-ção oferecida, e o direito pela be-leza da cena, pelas cores berran-tes, pelo gesto do ator, pelo confor-
to retratado com a imagem da loja.Por meio do som você podeimpactar a lógica com números,vantagens explícitas por comprarem determinado lugar e impactar aemoção pela música, pelos efeitossonoros que fazem, por exemplo,uma pessoa cantarolar um slogano dia todo.
Cabe aos criadores, somados a umbom planejamento, fazer com queessa mistura de ingredientes resul-te num prato digerível (preferen-cialmente até recomendável) peloconsumidor. Prioridades? São óbvi-
yw
VERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
54R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
termo. Mas, como costumo falar,a nomenclatura não é importan-te. Nesse caso o importante é asensação de estarmos vendo (ouusando, ou outro verbo qualquer)uma coisa que nos faz pensar:“que criativo!” Após mais de umadécada trabalhando com o tema,chego à conclusão de que o queimporta é a singularidade do fatocriativo e não as teorias sobre omesmo.
É a mudança, em menor ou mai-or grau que ele causa, fazendoparte da dinâmica da evolução –no nosso caso em particular, dadinâmica do varejo. É aí que ousoincluir a criatividade como sen-do elemento fundamental do va-rejo, ou seja, o mesmo não sobre-vive sem este elemento.
Relacionar o varejo com acriatividade nos parece óbvioquando decupamos os assuntosrelacionados ao segmento: com-petitividade, concorrência, clien-tes, exposição, atendimento, ser-viços, serviços pós-venda, comu-nicação, ofertas, promoções,acessórios, modernidade, siste-mas, visibilidade, lazer, entrete-nimento.
O universo criativo no varejo seexpande porque você estará lidan-do com públicos variados. A gran-de massa de pessoas que se rela-cionarão com a loja é imprevisívele muito eclética. Se falamos numaindústria, o público interno é omaior público e no dia-a-dia émuito mais homogêneo, até peloobjetivo comum. Por mais quevocê conheça o público de umaloja, você sempre terá situaçõesimprevistas de pessoas que trarãonovas reações de consumo, dequestionamento, de vivência.
O universo envolvido no varejo ésempre maior. Até na comunica-ção você pode perceber esses re-flexos. Uma indústria pode seg-mentar ao máximo seu público efalar só com ele por meio de umtelefonema, de uma mala direta,de um e-mail. O varejo tambémpode, mas não pode abrir mão depulverizar, utilizando o máximode recursos para esse fim. O mai-or número de produtos que umagrande rede de fábricas pode fa-zer é menor do que o número deitens do mercadinho da esquina(grosso modo).
ta. São inúmeros os casos que pro-vam os ganhos pela criatividade.Na realidade, o varejo é um meiode distribuição de serviços e pro-dutos ao consumidor. Quem defi-ne o mix, os preços, o jeitão daloja é a vontade dos prováveis cli-entes.
Daí a pesquisa ser a maior armado varejo quanto a suas diretrizes.O varejo é o campo de batalha noqual as pessoas decidem se vãogastar seu dinheiro com os pro-dutos da indústria. Vale lembrarque todas as regras têm suaexceção, mas não é delas queestamos tratando neste capítulo.Se o varejo vai mal, “criative-o”,injete criatividade em todos osseus pontos que ele se levanta ea própria dinâmica dele nos per-mite descartar o que não deu cer-to e ativar o que gerou resulta-dos positivos.
Se as pessoas que fazem o varejosão resistentes à mudança, troque-as, elas estão no lugar errado. Umlíder conservador é uma âncorapara o varejo e, num espaço cur-to de tempo, ele terá uma lojaempoeirada e vazia. A liderançadeverá ser criativa e dissipadorada criatividade como um combus-tível, para a fluidez do negócio.Siga a regra: conceba o varejocom o DNA da criatividade!
PESQUISA —FUNDAMENTAL PARA OCRESCIMENTO DO VAREJO
No mercado é comum que osparâmetros adotados para se con-ceber o pequeno varejo sejamobservativos, ou seja, o lojista ob-serva o segmento, suas principaiscaracterísticas, e escolhe como vai
“Por mais quevocê conheçao público de
uma loja, vocêsempre terásituações
imprevistas depessoas quetrarão novasreações de
consumo, dequestionamento,
de vivência.”
Essa universalidade do varejo exi-ge muito mais dinâmica, muitomais cintura, muito mais aberturapara lidar com o novo e crescer. Éa relação íntima com acriatividade que disponibiliza asarmas para essa competição e édela que não podemos prescindir,pois o custo é alto quandoengessamos uma empresa varejis-
EDSON ZOGBI
55J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
yw
compor seu negócio.
Nessa fase existe um pouco depesquisa fornecida gratuitamenteque é feita sob a óptica dos fabri-cantes de insumos e equipamen-tos para o varejo, sob a óptica dolocatário ou vendedor do pontocomercial ou sob a óptica tam-bém de associações de classe.Mesmo o feeling do lojista con-tribui para essa formatação e ébem-vindo para decidir entre umae outra coisa.
Mas quando o varejo passa a terum tamanho que escapa ao con-trole direto do dono, é delegado aoutros funcionários para cumprirsua missão dinâmica de cresci-mento e as informações necessi-tam de um empurrão para chega-rem fiéis à cúpula. Acontecem des-de distorções propositais de infor-mação (para encobrir eventuais er-ros de funcionários) até comple-mentos da informação que devemser incluídos com o passar do tem-po. É muito simples: um dado so-bre a eficiência do manobrista sur-ge após sua implantação, sobre opreço de mercado da linha novade sabonetes idem.
A pesquisa deve ser tratada comoparte vital informativa do segmen-to e deve ter freqüência etecnologia de aplicação e avalia-ção, não devendo ser deixada acargo de profissionais despre-parados, passionais ou tendenci-osos. Deve-se ter preferência pordelegá-la a terceiros competentesque, via de regra, sugiram novasdiretrizes ao negócio.
Outro ponto interessante é o mixentre pesquisa qualitativa e quan-titativa, em que um lado extingueas distorções do outro. Como
exemplo clássico temos o produ-to que vendia em grandes quanti-dades, mas estava longe de ser oideal do público de uma determi-nada loja e que, com a aberturade um concorrente próximo ven-dendo o que o público esperava,caiu verticalmente em vendas (apesquisa qualitativa sobrepondo aquantitativa). Também temos ocaso de um serviço consideradoruim, que foi adaptado conformesolicitado e depois abandonadopor seus clientes por causa docusto inflacionado após a mudan-ça (a pesquisa quantitativa sobre-pondo a qualitativa).
De qualquer forma, a ferramentapesquisa é arma imprescindívelao varejo e deve ser adotada, oquanto antes, para uma estratégiade crescimento. O que você acha?Desde quando? Tem alguma su-gestão? Mudaria alguma coisa?
“Um líderconservador é
uma âncora parao varejo e, numespaço curto detempo, ele terá
uma lojaempoeirada e
vazia.”
TENDÊNCIASDO VAREJO
Uma tendência pode ser realida-de amanhã, daqui um mês, o anoque vem, daqui a dez anos e ob-viamente quanto mais longe, mai-or a chance de dar errado ou de
não acontecer. Tendências sãocaptadas de duas maneiras: pormeio de sistemas de projeções dedados computadorizados, quecruzam entre si usando modelosmatemáticos complexos, ou pelofeeling do analista.
Defendo veementemente a segun-da opção por vários motivos, des-de que o analista seja especializa-do no assunto. O primeiro moti-vo é que a universalidade de da-dos que devem estar envolvidosno processo é muito maior do queas fontes adotadas para modelosde computador. Essa universalida-de está implícita na experiênciado analista somada com todo ocontexto do momento presente,somada ainda a intuição. O com-putador não tem o mundo dassensações ao seu redor e está lon-ge de ter intuição; portanto, podetentar igualar-se ao analista ape-nas quanto à experiência, masesta base é insuficiente, visto quesó se refere ao passado.
No varejo, então, essas nuancessão mais dinâmicas, inviabili-zando por completo a opçãotecnológica. Fato é que empresasmodernas deixam as ações restri-tas operacionais de marketingcom uma equipe determinada epraticam gestão de marketing emtodos os departamentos.
É muito comum hoje em dia oprofissional de marketing ser omelhor candidato a executivoprincipal da empresa. No varejo,novamente as coisas se poten-cializam, visto que o varejo é o cora-ção do mercado e o marketing já estáimplícito em todos os envolvidos nonegócio. Garras exibidas, vamosàs tendências:
VERDADES DO VAREJO - MAR KETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
56R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
EDSON ZOGBI
Toda explosão exponencial tende àruptura e a uma queda vertical. A es-cassez de recursos naturais os valo-riza, ao mesmo tempo denigre osprodutos industrializados, gerando amaior procura pelo primeiro e o des-prezo pelo segundo. O surgimentodo novo sistema está sinalizado portodos os especialistas em tendências,sistemas, sociologia, política interna-cional e cientistas do ambiente.
A rede mundial é mais do que aInternet, já está estabelecida e cobri-rá o planeta com uma manta de rela-ções humanas. Juntando essas idéiascom as tendências que apontei, vocêverá que não existe incoerência. Oque existe, como mencionei, no iní-cio deste artigo, é o aumento dachance de erro da previsão proporci-onal ao tempo.
Avaliar tendências é um grande exer-cício de imaginação para marketinge comunicação. O mínimo aprovei-tamento que se pode fazer delas éeste exercício. Se você for além, su-perou as expectativas.
LONGO PRAZO
·Mercado: redução drástica doconsumo, migração do ponto-de-venda físico para o eletrônico, ten-dência de extinção do varejo comocanal de vendas.
·Marketing: ponto-de-vendaeletrônico (já mencionado). Preçospara locação dominando, apenas al-guns itens serão vendidos. Produtostotalmente customizados, reciclá-veis por novas versões trocadas au-tomaticamente no sistema de alu-guel. Inexistência de promoções.
·Propaganda: inexistente, restritaa informação sobre o produto.
Quando coloco essas tendênciassob a minha própria óptica, fico as-sustado e a primeira sensação é depuro pessimismo. Mas após o ba-que inicial, digerindo uma a uma asprevisões, vejo que são muito coe-rentes desses pontos de vista: o uni-verso de informações mundial do-bra a cada ano.
CURTO PRAZO
·Mercado: continuidade do pro-cesso de eliminação do médio va-rejista, espaço para os grandes gru-pos e os “artesanais”.
·Marketing: melhoria radical doponto-de-venda quanto ao confor-to, tecnologia de experimentação,redução da área de loja (menos es-toque, tanto visível quanto interno).Manutenção de preços, ainda de-vido à forte produtividade da indús-tria e prolongamento de prazos,principalmente nos meios ele-
trônicos. Serviços agregados aosprodutos por conta do varejista emaior linha de produtos genéricos.Mais promoção de baixo valoragregado (vale-brinde, concursocultural, kits) no ponto-de-venda.
·Propaganda: ampliação do mixde mídia para maior aproveitamento(TV + jornal + revistas + tablóide +outdoor como mídias principais). Pro-gramas próprios de venda direta naTV aberta. Melhoria no nível da co-municação, tanto arte como texto.
MÉDIO PRAZO
·Mercado: segmentação em dezgrandes grupos;1. super e hipermercados,
2. construção e decoração,
3. esportivos, farmacêuticos e cosméticos,
4. brinquedos, educação e universo infantil,
5. automóveis, transporte e viagens de negócios,
6. informática, tecnologia do lar e do escritório,
7. presentes, utilidades domésticas, cama,
mesa e banho,
8. moda,
9. lazer, viagens turísticas, entretenimento,
cultura e arte,
10. serviços, mão-de-obra residencial e profissio-
nal, administrativos e financeiros, profissionais
liberais (médicos, advogados, dentistas, psicólogos,
terapeutas, “personal” em geral)
·Marketing: ponto-de-venda total-mente virtualizado. Preços em ascen-são, devido à troca da matéria-pri-ma por produtos mais ecológicos.Produtos mais duradouros e maiscustomizados. Promoções em que-da, programas de pontuação em alta.
·Propaganda: redução drástica douso de mídias tradicionais, disponi-bilização e impactação do consumi-dor via Internet, telefonia e rádio. Usointensivo do merchandising, inclusiveno conteúdo de conhecimento(Internet, livros, mídias digitais) e dasartes (cinema, música, artes plásticas).
•EDSON ZOGBIConsultor de Marketing na C&CCasa & Construção, especialista emComunicação para o Varejo, Ten-dências do Mercado e Criatividadee Inovação Empresarial. Foi Profes-sor ESPM/SP de 1990 até [email protected]
AUTOR
zx
58R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
NINTRODUÇÃOos últimos anos, grandes batalhastêm sido travadas no chamadomercado religioso1 . Em meio a es-sas disputas entre igrejas e movi-mentos religiosos concorrentes,surgem alguns questionamentos:como uma pessoa opta por um mo-vimento religioso, ou troca um pelooutro? Que benefícios uma pessoaespera receber e como avalia seestá de fato recebendo, ao seguiras normas de seu movimento reli-gioso? Podemos entender o com-portamento religioso (e o consumode itens relacionados, tais como li-vros, fitas, cds) por um princípiosocial? Ou a explicação se tornamais lógica por um princípio dapsicologia individual?
A APLICAÇÃO DOS MODELOS
CATÓLICOSPRATICANTES
DE COMPORTAMENTO DO
Rodrigo D. De Salvi & Ernesto M. Giglio
Q
CONSUMIDOR AOS
Juni
or d
e O
livei
ra
59J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Essas questões remetem a uma ne-cessidade de maior compreensãodas variáveis presentes na pessoaque “consome”2 a religião. Paraessa compreensão é necessárioavaliar qual modelo, entre os exis-tentes, poderia ser mais adequado.
Neste artigo, portanto, temoscomo objetivo apenas indicativo,sem entrar em análises lógicas eempíricas profundas, discutir aadequação de três modelos sobreo comportamento do consumi-dor: o modelo das tipologias, omodelo de processo em etapas eo modelo de influência social.
1. O MODELO DETIPOLOGIAS APLICADOAOS FIÉIS CATÓLICOS
O modelo de tipologia do con-sumidor aceita o princípio bási-co de que pessoas podem apre-sentar características semelhan-tes, podendo ser reunidas em gru-pos específicos. As característicaspodem ser visíveis e mensuráveis,tais como a idade e o sexo, ounão tão visíveis, tais como a ca-racterística de introversão. Astipologias são largamente utiliza-das na Administração, por exem-plo, na seleção de pessoal. A clas-sificação é apenas a primeira par-te da tipologia. Tendo agrupadopessoas, o objetivo do modelo éobter os padrões de comporta-mento das pessoas. Estabelecidosos padrões, podem-se criar trei-namentos para atendentes, oucriar previsões de vendas.
Aplicar o modelo a um organis-mo tão amplo como a Igreja Ca-tólica pode ser muito difícil, ten-do em vista as grandes diferen-ças sociais.
1.1. TIPOLOGIAPELOS CRITÉRIOSDEMOGRÁFICOS
Chama-se demografia ao conjun-to de variáveis de uma população,as quais são passíveis de men-suração. A demografia aplica-se agrandes contingentes, tais comopopulações de países e divide-seem variáveis sobre estrutura docorpo; sobre dinâmica do corpo;sobre critérios sociais; sobre cri-térios econômicos e sobre hábi-tos/padrões.
Sobre as variáveis relativas à dinâ-mica do corpo (tais como asdoenças crônicas, problemas depele, estresse, ...) observamos quea maioria das pessoas que bus-cam a religião católica tem pro-blemas de saúde. A igreja é en-carada pela maioria da popula-ção não apenas como um orga-nismo de saúde para a alma, mastambém como fonte de soluçãode problemas de doenças. Segun-do padres, os maiores problemasque as pessoas buscam solucio-nar na igreja estão relacionadosà saúde.
Sobre as variáveis relativas à eco-nomia (renda, hierarquia de gas-tos, bens possuídos, dívidas,...),comentaremos a renda. No pro-cesso de socialização, são os maispobres que acabam participandodas igrejas. Pessoas com maiorpoder aquisitivo encontram emoutros meios sociais, como clubes,a realização de suas atividadessociais. Sobre os pobres, existeainda a busca por melhores opor-tunidades financeiras através da féno acontecimento sobrenatural.
Sobre os critérios sociais (estado civil,local de moradia, profissão,...), po-demos comentar que os católicosrurais tendem a ser mais tradicionaise conservadores, enquanto osurbanos estão mais preparados paramudanças. Em sua maioria, os fiéissão moradores urbanos.
Sobre estudo e profissão, observa-seque algumas profissões apresentamteorias e fontes de conhecimento quepodem distanciar as pessoas daigreja, como por exemplo a Física, aPsicologia, a Astronomia, entre ou-tras. Em sua maioria, o consumidorcatólico tem pouco estudo e profis-sões técnicas.
“Pessoas commaior poderaquisitivo
encontram emoutros meiossociais, como
clubes, arealização de
suas atividadessociais.”
Sobre as variáveis de estrutura docorpo (idade, sexo, tamanho,peso, cor dos olhos, ...), a variá-vel mais importante nesta reflexãoé a idade: como há diferentes ti-pos de atividades religiosas ofere-cidas pelas igrejas, então surgemgrupos, tais como os jovens volta-dos para a crisma; as crianças vol-tadas para a catequese; os idososvoltados para a legião de Maria,o apostolado da oração evicentinos. Pelas nossas observa-ções, no entanto, a maioria dopúblico é composta por pessoasmais velhas.
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
Q
Q
yw
60R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Sobre as variáveis de padrões e há-bitos (lazer, rotinas, horários, luga-res,...), pode-se comentar que ofiel católico tem pouco tempopara dedicar à religião, habitual-mente comparecendo à noite eaos finais de semana.
Com a tecnologia e uso da tele-visão, somente na grande SãoPaulo temos três emissoras cató-licas: a Rede Vida de Televisão, aTV e rádio Canção Nova e a TVSéculo XXI. O consumidor típicotem o hábito de assistir a televi-são freqüentemente.
1.2. TIPOLOGIAPELOS TRAÇOS DEPERSONALIDADE
Os traços psicográficos, ou de per-sonalidade têm tradição na Admi-nistração, principalmente na áreade Seleção de Talentos Humanos.Trata-se de variáveis não direta-mente observadas e que tendem ase manter estáveis ao longo dotempo. Tal como na demografia,existem subtipos. Os traços de per-sonalidade podem referir-se aos as-pectos cognitivos, aos aspectosemocionais e aos aspectos atitu-dinais. Como forma de simplificaro raciocínio, costuma-se colocar ostraços em pares opostos, tais comoracional x emocional.
As variáveis cognitivas referem-seaos processos de lógica e raciocí-nio, com padrões de escolhas e so-luções de problemas. Algumas pes-soas, por exemplo, têm um padrãode resposta analítico (parte porparte) e outras têm um padrão sin-tético (o todo resumido). Vamos aalguns pontos.
Na oposição pensamento conver-
JUNG CRIOU PARES DE OPOSTOS QUECOMBINADOS ENTRE SI CRIAM TIPOS PSICOLÓGICOS.
Intuição (N)
Extroversão (E)
Julgamento (J)
Pensamento (T)
Sensação (S)
Introversão (I)
Percepção (P)
Sentimento (F)
Q
•
•
•
•
•
•
•
•
Art
toda
yA
rtto
day
61J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
gente x divergente prevalece o pen-samento convergente. Na maioria,as idéias e pensamentos dos reli-giosos são retilíneos e fechados,não proporcionando divergências.
Na oposição pensamento analíti-co x sintético prevalece este últi-mo. Os fiéis participantes na suamaioria conhecem superficialmen-te os princípios gerais da fé, mui-tas vezes se limitando a participa-rem de rituais como o da missa,sem a preocupação de análise maisprofunda de partes.
Na oposição pensamento comapoio no passado (nas causas) xapoio no futuro (conseqüências), ofiel típico remete-se ao passadona igreja, tanto que os três maio-res dispositivos de propagação dafé (bíblia, magistério e tradição)estão baseados em acontecimen-tos passados.
As variáveis emocionais referem-se ao que mais tradicionalmentea Psicologia tem denominado depersonalidade, ou seja, caracterís-ticas emocionais dos sujeitos quemodelam padrões de respostas.Entre as características encontram-se referências constantes a pessoasimpulsivas, ou extrovertidas, ouemotivas, ou rígidas, ou agressi-vas etc. São muitas as teorias euma das mais conhecidas em Ad-ministração, pela sua facilidade decompreensão e aplicação, é omodelo de tipologia construídopor Jung, em 1910.
As oposições ocorrem entreintroversão x extroversão (energiadirigida à própria pessoa x dirigidaao meio ambiente); sensação xintuição (aspectos sensoriais xaspectos funcionais); sentimento xpensamento (respostas mais emo-
cionais x mais racionais); percep-ção x julgamento (abertura de ati-tudes x conjunto finito de atitudessobre o que é certo e errado)3 . Umsujeito, então, pode ser introvertido,pensamento, julgamento e sensori-al, formando o tipo ITJS. Caracteri-zado o consumidor típico, anali-sam-se seus padrões de respostas.
Utilizando a tipologia de Jung, che-gamos ao seguinte consumidor tí-pico da fé católica:
tos. São pessoas que agem muitomais pela fé e pelos impulsos doque pela razão e a lógica das coi-sas. São pessoas suscetíveis a acei-tarem determinações e explicaçõesdos líderes religiosos.
SENSORIAL: religiosos geral-mente são sensoriais justamentepor buscarem na igreja aspectostangíveis, como ornamentações,santos, vestimentas, objetos.
JULGAMENTO: Geralmente o re-ligioso é uma pessoa pouco flexí-vel, principalmente em função dadoutrina muito rigorosa da igreja,que não permite a flexibilidade.“Os católicos são mais tradicionaise fatalistas, crêem no coletivismo eem uma instância externa de con-trole” (SHETH et. Al, 2001:172).
As variáveis atitudinais referem-seaos julgamentos, valores e crençasdas pessoas. As atitudes criam dis-posições a favor, ou contra oscomportamentos, incluindo os deconsumo. Por exemplo, se jovensconsideram “coisa de velho” pen-sar em seguro de vida (considerarcoisa de velho é a atitude negati-va), então não há disposição paraa compra.
As atitudes dos fiéis católicos es-tão diretamente relacionadas como próprio modo de vida impostopela igreja e que acaba sendo se-guido ou não. A doutrina da igrejaapresenta uma série de exigências,que acabam limitando a vida coti-diana do indivíduo, desde aquiloque ele pode vestir, assistir, comer,usar, ler, entre outras coisas. Confor-me SHETH (2001:172), as filiaçõesreligiosas afetam o comportamen-to dos consumidores clientes, in-fluenciando principalmente sua es-trutura de personalidade – ou seja,
“Existe umagrande tendência
de pessoascom graves
problemas desaúde buscaremna fé a solução
milagrosa,ou mesmo oconforto para
seus problemas.”
INTROVERTIDO: no geral, o fielé um sujeito introvertido por reser-var algumas intimidades a seremreveladas internamente e intima-mente em seu relacionamento es-piritual com o divino. Não tem ocostume de se abrir com as pes-soas na sociedade, mas encontraforças e confiança suficiente pararevelar seus problemas a outraspessoas na igreja.
SENTIMENTAL: o religioso temuma maior característica de agirpelas emoções e pelos sentimen- yw
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
62R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
suas crenças, valores e tendênciasde comportamento.
1.3. TIPOLOGIAPELO ESTILO DE VIDA
O estilo de vida é uma tipologiaque consiste num conjunto decaracterísticas de personalidade, ati-tudes, valores e crenças, rotinas detrabalho, estudo e lazer (Giglio,2002:83). Os profissionais de pes-quisas têm criado alguns rótulossobre estilos de vida. O rótulo “sol-teiro convicto”, por exemplo,indica uma pessoa cujo compor-tamento rotineiro mostra disposi-ção para viver sozinho, nãodepender de ninguém e não esta-belecer vínculos comunitários. Éclaro que o comportamento quedefine o estilo de vida tem influên-cia da demografia (por exemplo, navariável economia do sujeito) e nostraços de personalidade (porexemplo, a tendência paraintroversão). O estilo de vida,porém, vai além das classificaçõesanteriores, ao abranger o mundocomportamental.
Em relação aos praticantes da fécatólica, parece fácil verificarmosa constante rotina de cumprimen-to de certos rituais e atitudes queestão enraizados no seu dia-a-dia.Entre as rotinas destacam-se as ora-ções diárias, terços e a obrigaçãodominical de participação das mis-sas. O estilo de vida do católico é“regrado”, isto é, avesso a novida-des, perigos e incertezas.
A quebra de rotinas na Igreja Ca-tólica representaria a quebra da tãosagrada e imutável doutrinapregada desde os apóstolos. Pare-ce ficar claro, então, que as aspi-rações de quebra de rotina por par-
te do fiel são para ele, uma quaseauto-exclusão religiosa, por se tra-tar de algo sagrado e, desta forma,imposto por Deus.
1.4. CONCLUSÃOSOBRE O PERFIL DOTÍPICO CONSUMIDOR
Tendo criado algumas afirmativassobre o católico, podemos anali-sar se surgiu um perfil típico. Con-siderando sempre que o consumi-dor típico é a maioria (mas nãoexclusivo), o perfil do católico é de
Não poderíamos deixar de co-mentar, além desse perfil básico,o acentuado crescimento de umpúblico mais jovem nas igrejas,em função de novos movimentoscomo a Renovação CarismáticaCatólica. Vamos ao perfil básicodeste novo público: idade entre 18e 30 anos; renda entre 3 e 6 salá-rios mínimos; morador urbano;com estabilidade financeira; semproblemas de saúde; buscandoformação escolar; com freqüênciasemanal ao templo; tem na tele-visão seu lazer básico; tem pen-samento convergente, mais analí-tico e baseado no passado; é al-guém introvertido, sentimental,sensorial e flexível; segue algunspadrões da doutrina da igreja; ecom práticas religiosas rotineiras.
Algumas características, portanto,são diferentes do público típico.Talvez se possa afirmar que isso de-monstra o início de um processode renovação dos consumidores dareligião católica.
O modelo de tipologia aplicado aopúblico católico mostra algunspadrões demográficos, psicográ-ficos e comportamentais, o quepoderia auxiliar no raciocínio deações de conquista de novos fiéis,por exemplo, buscando aumentara participação do público secun-dário, os jovens.
2. O COMPORTAMENTODOS CATÓLICOS APARTIR DO MODELODE PROCESSO EM ETAPAS
O princípio do modelo em eta-pas é a aceitação de que a bus-ca, compra e uso de produtos eserviços podem ser entendidoscom um conjunto de etapas pos-
“A própriacultura do
julgamento apósa morte remete
algumas pessoasà preocupação
com o queacontecerá após
seu últimosuspiro.”
idade entre 40 e 60 anos; rendaentre 1 e 4 salários mínimos; mo-rador urbano; sem estabilidade fi-nanceira; com algum problemade saúde; com baixa formação es-colar; com freqüência semanal aotemplo; cujo lazer básico é a te-levisão diária; tem pensamentoconvergente, sintético e baseadono passado; é alguém introvertido,sentimental, sensorial e tradicio-nal; de atitudes padronizadas emconformidade com a doutrina daigreja e com práticas religiosasrotineiras.
Q
Rodrigo D. De Salvi & Ernesto M. Giglio
63J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
síveis de serem separadas e ana-lisadas uma a uma. (Giglio,2002:105). Essa é a principal van-tagem neste processo. Atravésdele podemos separar o proces-so de decisão do consumidor emvários estágios de aquisição, comsuas características peculiares. Omodelo em etapas é particular-mente interessante para situaçõesde compra de alto envolvimento,como a compra de um imóvel, mastestaremos sua aplicabilidade nasituação do consumidor de religião.
2.1. O INÍCIO COMAS EXPERIÊNCIAS
Todo processo de consumo seinicia com as experiências que aspessoas passam em sua vida.Dessas experiências e seus resul-tados cria-se o campo que geraas expectativas do consumidor.Apesar de as experiências seremqualitativamente e quantita-tivamente infinitas, suas origenssão conhecidas. As experiênciasvêm do corpo, ou das idéias, ou dasemoções, ou das relações com ou-tras pessoas, ou das relações comos objetos e a natureza, ou das re-lações com o tempo.
Analisemos os principais níveis deexperiências que determinam asexpectativas das pessoas em rela-ção à religião:
CORPO: O primeiro gran-de aspecto determinante
das expectativas em relação à reli-gião refere-se ao corpo. Para gran-de parte das pessoas, a igrejafunciona como uma espécie dehospital, onde pessoas com osmais variados problemas de saú-de buscam uma solução espiri-
tual para seus problemas. Existeuma grande tendência de pesso-as com graves problemas de saú-de buscarem na fé a solução mi-lagrosa, ou mesmo o confortopara seus problemas. Dito demaneira mais simples: experiên-cias de ficar doente (portanto re-lativas ao corpo) principiam abusca de uma solução.
IDÉIAS, CRENÇAS, VA-LORES E EMOÇÕES: As
idéias, afetos e valores talvez se-jam um componente essencialpara análise de todo o processode criação de expectativas. Pare-ce existir uma forte relação de to-das as experiências dos indiví-duos com suas idéias em relaçãoà religião, principalmente em re-lação aos processos valorativos.Experiências de problemas finan-ceiros, crises conjugais e contatoscom novas idéias (um filme, porexemplo) podem ser o campo ini-cial que gera algumas expectati-vas, tais como “preciso melhorarminha vida financeira”, “precisoestar preparado para a morte”,“preciso adquirir maior sabedo-ria”, “tenho que encontrar umapessoa para partilhar a vida”,“necessito de paz e tranqüi-lidade”, “preciso acreditar naexistência de algo”. Em cadauma dessas expectativas, existea possibilidade de as pessoasescolherem a religião como ocaminho da solução.
RELAÇÕES COM OU-TRAS PESSOAS: A opi-
nião, experiência e relato de ou-tras pessoas podem levar os indi-víduos a visualizarem grandes pos-sibilidades em determinadareligião. A propaganda boca a bocade uma religião é importante meio
para gerar expectativas nos indiví-duos. Por outro lado, existe aindao aspecto negativo de influência deoutras pessoas. Em grupos de ado-lescentes, por exemplo (escolas,clubes, bares ...), pode existir umarejeição muito grande das pessoasem relação aos praticantes de umareligião. As crenças de um grupo arespeito de a religião ser careta oucoisa de idoso podem influenciarno desenvolvimento de expectati-vas por parte dos adolescentes ejovens. Um terceiro tópico a seranalisado refere-se às tradições fa-miliares despertadas pelas religi-ões. Em muitas famílias, tradição efreqüência de determinadas religi-ões é seguida ao longo dos tem-pos, através de uma corrente quedificilmente se rompe, indepen-dentemente das opiniões e experi-ências de seus indivíduos. Existe,nesse caso, uma espécie de ritualfamiliar sagrado de exercer a mes-ma fé da descendência. Muitas pes-soas são influenciadas por essastradições familiares em suas esco-lhas religiosas ao longo da vida.
RELAÇÕES COM A NA-TUREZA E OS OBJETOS:
A experiência de perder objetos(um carro, por exemplo), ou expe-riências de relações agressivas coma natureza (ser arrastado num rio,por exemplo) podem iniciar abusca de alternativas de vida emque o apego ao material torna-semenos importante e a natureza tor-na-se mais importante. Nesses ca-sos, a religião cai como uma luva,com preceitos de valorização dohumano e do espiritual.
TEMPO: Existem pessoasque, ao perceberem o fim de
suas vidas, acabam buscando maiscontato com o divino. A própriacultura do julgamento após a mor-
Q
yw
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
64R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
todas as pessoas, e experiências dedesorientação (como sair de casa,engravidar sem planejamento) po-dem criar expectativas de se encon-trar paz. É nesse momento de buscadas pessoas que algumas religiõesmais extremadas conseguem seus se-guidores, que farão tudo para perten-cerem ao grupo.
A influência de outras pessoas naescolha da religião será maior entreas pessoas com pouca maturidade,como os adolescentes e jovens, doque com relação às pessoas de maior
te remete algumas pessoas à preo-cupação com o que acontecerá apósseu último suspiro. Exatamente poresse motivo é tão comum vermos umacentuado número de idosos nasigrejas.
2.2. O NASCIMENTODAS EXPECTATIVAS
As expectativas que criamos sãofruto do processamento das nossasexperiências em relação ao futu-ro. Quando projetamos a situaçãofutura, ou seja, desenvolvemos aidéia do que queremos, semprefazemos uma ponderação de suaimportância, ou seja, sempre quedesejamos algo, nos questionamossobre o quanto aquilo é importan-te para nós. A expectativa, portan-to, tem um conteúdo ideativo (aidéia propriamente dita do que sepretende no futuro) e um conteú-do afetivo (o quanto isto é impor-tante para minha vida). Assim, ex-pectativas de ter um corpo saudá-vel, originadas de experiências deum corpo doente provavelmenteterão um conteúdo afetivo bemmaior que expectativas de ter umcorpo saudável originadas a partirde um comentário jocoso sobre abeleza do corpo.
Conforme já dissemos, muitos fiéisprocuram na religião um equilíbriocorporal.
Sobre expectativas relativas às expe-riências de idéias, crenças e emo-ções, pode-se comentar que muitasreligiões são buscadas para dar umconjunto de orientações (idéias evalores) que as pessoas não encon-tram em outros fenômenos sociais,tais como a família, a escola e o grupode amigos. Ter um esquema de orien-tação é uma necessidade básica para
as para a morte, ao mesmo tem-po em que procura mostrar quenão há morte. A igreja ofereceuma solução para a experiênciadiária e inevitável da passagemdo tempo.
2.3. A BUSCA DEINFORMAÇÕES,LEVANTAMENTODE ALTERNATIVAS EESCOLHA
Tendo consciência clara de suasexpectativas, uma pessoa inicia abusca de informações que lhe in-diquem o que, ou quem, poderesolvê-las. É aqui que se inicia abusca de produtos e serviços.Todo o processo de busca, análi-se e decisão de uma alternativaleva em conta duas fontes: as ex-periências próprias e/ou o relatode experiências de outros.
No caso dos fiéis da Igreja Cató-lica, a busca realizada é muitomais heurística do que sistemáti-ca. Nesse caso, segundo SHETH(2001), o levantamento e a deci-são partem tanto de experiênciasanteriores como de relatos de ou-tras pessoas.
Aceitando essa premissa, torna-se clara a possibilidade de a Igre-ja Católica ser uma grande alter-nativa. Ela possui uma marcamuito forte e conhecida (IgrejaCatólica Apostólica Romana),principalmente no Brasil. Suas ex-periências anteriores e o seu tem-po de caminhada (mais velha dasigrejas cristãs, com 2.000 anos)podem trazer segurança à esco-lha do fiel. Tomando como baseque a maioria da população na-cional se diz católica, o julga-mento realizado pela maioria
“Umjovem podebuscar idéiasespirituais,
mas se sentir
envergonhadode admiti-loperante seu
grupo, evitandoa escolha.”
maturidade, que receberão mais in-fluência familiar em relação a qualreligião escolher. Os mais jovens sãomais influenciados pelos ideais doseu grupo, enquanto pessoas maismaduras exercem maior proximida-de com sua própria família.
Já para as pessoas idosas, a igrejapode ter de um grau de importân-cia muito acentuado, preparando-
Q Q
Rodrigo D. De Salvi & Ernesto M. Giglio
65J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
das pessoas pode ser favorável aela. Além, é claro, de ser uma re-ligião bem fundamentada em seucódigo de crenças e valores, eque permite ao fiel uma identifi-cação de suas buscas.
É claro que, para a satisfação dasnecessidades, as pessoas podemcontar com inúmeras alternativas,conforme a origem das experiên-cias e o conteúdo das expectati-vas. Vejamos alguns exemplos.
Em relação ao corpo, as pessoaspoderiam encontrar remédiosnaturais que auxiliem no proces-so de recuperação, trocar ebuscar novos médicos, mudarpara um novo lugar que possibi-lite a melhora da saúde do cor-
po, praticar atividades físicas,buscar seitas religiosas, a IgrejaCatólica Apostólica Romana, ououtras religiões.
Em relação às idéias, poderiamfiliar-se a um partido político, en-trar para um clube, organizaçãoou instituição, estudar, realizarviagens, consultar um psicólogo,buscar seitas religiosas, a IgrejaCatólica Apostólica Romana ououtras religiões.
Em relação a outras pessoas, po-deriam buscar grupos de apoio,mudar de grupo de influência, fa-zer parte de grupos anônimos(como fãs-clubes), aderir a outrasseitas religiosas, a Igreja CatólicaApostólica Romana ou freqüen-
tar outras religiões.
Em relação às atitudes, as pessoaspoderiam entrar para um clube,organização ou instituição, servoluntário em causas sociais, re-alizar atividades sociais (cinema,teatro, shows, estádio ...), aderira alguma seita religiosa, à IgrejaCatólica Apostólica Romana ou aoutras religiões.
Em relação ao tempo, poderiam:consultar um psicólogo, freqüen-tar uma seita religiosa, a IgrejaCatólica Apostólica Romana ouaderir a outras religiões.
Muito mais alternativas poderiamser citadas em cada item, mas ci-tamos algumas óbvias.
UMA PESSOA INICIA A BUSCA DE INFORMAÇÕESQUE LHE INDIQUEM O QUE, OU QUEM, PODE RESOLVÊ-LAS.
yw
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTESC
orbi
s
66R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
2.4. O JULGAMENTOSOBRE A ESCOLHA
Uma vez tendo realizado uma es-colha, mas antes de processar aaquisição e o uso, as pessoas seperguntam se o consumo será ade-quado, se é o momento correto, senão há impedimentos morais, ououtras barreiras. Em alguns negó-
cios, como jazigos, perucas e agên-cias de casamento, é nesta fase queestá o maior obstáculo à venda.Aqui entram os valores da pessoa edaquelas que a rodeiam. Esses va-lores podem determinar uma dispo-sição positiva para o consumo, ounegativa. Neste último caso, embo-ra se tenha escolhido o produto, ouserviço, ele não será consumido.
Segundo SHETH (2001), valoressão concepções sobre o que ébom e desejável, em oposição aoque é mau e indesejável.
No caso das relações com o cor-po, padrões de beleza, de gestos,de vestimentas podem criar dis-posições negativas ao consumo.Um diretor de empresa talvez
Para esta religião “as atividadesde uma pessoa determinamseu destino na próxima vida”(SHETH, 2001). Para eles oespírito desprende-se do corpopara unir-se a Deus. Valorizama família.
Segundo SARMATZ (2001),ensina que as coisas materiais nãopodem trazer felicidade, e devemse libertar dos pecados e paixões.A religião baseia-se no livrosagrado Dhammapada.
Segundo SARMATZ (2001),os judeus usam a Tora(Pentateuco), são bastantetradicionais, mas democráticose emotivos. Conservamligações familiares distantes.
É quase uma filosofia de vida,lutar pela retidão e peloaprimoramento do caráter.Cultivam a benevolência,decoro, sabedoria e sinceridade.
HINDUISMO:
BUDISMO:
CONFUCIONISMO:
JUDAÍSMO:
QRodrigo D. De Salvi & Ernesto M. Giglio
67J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
quisesse se vestir mais à vonta-de, mas não o faz para não pas-sar vergonha.
Idéias sobre amizade, amor esexo podem criar disposiçõespara o consumo (por exemplo, departicipar de um grupo de esco-teiros e comprar os objetos queeste grupo utiliza), mas um jovem
Seguem o Corão, fazemmuitos jejuns, são poligamitas etradicionais com as mulheres,combatem os que não pertencema esta religião, chegando aofanatismo extremo. Sua doutrinasustenta-se em cinco pilares:“aceitar que há só um Deus eque seu profeta é Maomé; rezarcinco vezes por dia virado paraMeca; ajudar os pobres; jejuarno mês sagrado do Ramadan; eperegrinar até Meca uma vez navida.” (BURGIERMAN, 2001).
Vemos, dessa forma, que inúmerassão as dificuldades de escolha, prin-cipalmente pela imensa quantidadede religiões existentes. Na maioriadas vezes o que impera na esco-lha são uma maior aproximaçãoentre os valores, crenças e estilode vida do indivíduo e a religiãopretendida.
Após o julgamento, o consumidor pas-sará aos processos de compra e uso.
pode considerar-se ridículo aoimaginar contando para os seusamigos que quer entrar num gru-po de escoteiros. Quanto aosideais de uma religião pode ocor-rer o mesmo processo. Um jovempode buscar idéias espirituais,mas se sentir envergonhado deadmiti-lo perante seu grupo, evi-tando a escolha.
A passagem do tempo e a chega-da da velhice coloca em xequealguns valores das pessoas, taiscomo: o que eu fiz na minha vida?Como posso buscar uma paz paraestes últimos anos? As religiões maisconhecidas têm alguns pontos emcomum, mas também têm diferen-ças básicas. Veja um pequeno exem-plo de diferenças de valores:
Tem um conteúdo mais flexível,mas com muitas exigências deestilo de vida. Proíbe muitascoisas. Os rituais prontos sãobem menos comuns. Seus fiéisnão sentem tantas dificuldades deseguir o que elas determinam.Algumas são mais liberais eflexíveis, como a igreja Renascer,outras ensacionalistas como aUniversal e a Pentecostal, eoutras ainda, mais tradicionais econservadoras como a Assem-bléia de Deus, Batista, Metodista.
PROTESTANTISMO:
São muito tradicionais, conserva-dores e dogmáticos. Conservam ahierarquia papal de forma divina.A religião é repleta de rituais erotinas. Restringe o uso econsumo de alguns produtos.
ISLAMISMO: CATOLICISMO:
yw
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
Art
toda
y
68R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
2.5. COMPRA E USO
O momento da compra é o momen-to da negociação entre duas ou maispartes. Numa situação de consumotradicional, variáveis tais como tem-po disponível, conhecimento do pro-duto, empatia, esforço dedicadopara chegar à situação de compra evenda, autoridade, simpatia; jogamum papel determinante nas condi-ções de compra (volume, quantida-de, forma de pagamento, serviços as-sociados, entre outros).
Utilizando o modelo de negociaçãode COHEN (1999), que coloca asvariáveis citadas no parágrafo ante-rior como importantes, imaginemosuma conversa entre um pretendentea católico e um padre. Existe aí,mesmo que de maneira informal epouco explícita um processo denegociação em que o padre tentaráexpor aspectos de sua religião, a fimde convencer a pessoa a participardaquela religião.
Processo interpessoal: um bomrelacionamento entre o fiel e opadre nessa negociação é im-portante, principalmente paragerar confiança em quem estáaderindo.
Conflito de interesses: neste caso,o padre necessitaria de muita pa-ciência e tempo, a fim de adqui-rir total confiança e convenci-mento do fiel.
Elementos tangíveis e intangíveis:claro que uma religião é repletade elementos intangíveis, maspode tornar-se bastante útil atangibilidade de certos elementos,principalmente dentro da religiãocatólica, com seus numerosossímbolos, imagens e significados.
Natureza da informação: quemdetém a informação é o própriopadre, o que pode facilitar o pro-
cesso de exposição ao fiel.
Legitimidade: neste caso, a legi-timidade é bem relevante, porqueo padre é o comandante de suaigreja. Quanto mais importantena igreja for o negociador, maiora legitimidade para o comprador.
Tendo se convencido dos possíveisbenefícios de um produto, ou servi-ço, o consumidor passa a utilizá-lo.Produtos com complexidade de ope-ração, tais como sistemas degerenciamento de empresas, ou demanutenção rotineira, como segu-rança de escadas rolantes, podemfazer com o que consumidor poucofamiliarizado avalie que o produtonão tem qualidade. No caso especí-fico da religião católica, adequar-seaos seus rituais e regras pode exigircerta dose de mudança de hábitos,o que abre uma fenda para o des-contentamento.
Art
toda
y
69J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
2.6. A AVALIAÇÃOPÓS-COMPRA:
O processo de pós-compra dificil-mente é analisado na Igreja Católi-ca, e talvez aí esteja a solução deum dos grandes problemas encon-trado pela igreja em manter fiéis nes-tes últimos anos. Apesar de a IgrejaCatólica ter uma marca fortíssima,segundo MATAYOSHI (2000), esta épouco explorada, o que vem permi-tindo a pequenas igrejas, como aRenascer e a Universal (que seg-mentaram seu mercado) um cresci-mento espantoso. Por que pessoas es-tão se desligando do catolicismo e mi-grando para outras seitas? Que avalia-ções negativas estão sendo realizadas,que levam a essa decisão? O desliga-mento de um fiel da igreja pode re-presentar uma perda definitiva.
Parece haver um início de preocu-pação e análise do assunto, o quevem resultando em movimentos, taiscomo a Renovação Carismática Ca-tólica, Comunidade Canção Nova,Associação do Senhor Jesus. Parale-lamente às ações, têm surgido algunstrabalhos de reflexão (KATER;1993;SOUZA; 2001;).
Por fim vale comentar que a avalia-ção pós-compra na religião levaráem conta variáveis e acontecimen-tos que se darão num período detempo longo, diferente do que ocor-re na maioria das compras e usos deprodutos.
2.7. COMENTÁRIOSSOBRE A ADEQUAÇÃODO MODELO EM ETAPAS
Como dissemos, o modelo em eta-pas é mais adequado para comprasde alto envolvimento emocional efinanceiro e que se estendem por um
período de tempo longo, ou seja,dias, semanas, meses. Seu uso naanálise do fiel da Igreja Católica, noentanto, revelou alguns pontos in-teressantes. Como o fiel pode ter pas-sado por uma experiência de sofri-mento, suas expectativas são de alí-vio e conforto na religião. Como qual-quer terapêutica, porém, sabe-se queos resultados não são imediatos, oque prende o fiel ao uso longo doproduto, durante o qual sua situaçãode sofrimento pode ser alterada (porexemplo, uma doença que regrideaos poucos). Isso significa que a igre-ja, como um serviço, tem a vantagemde poder contar com o tempo, en-quanto se apresenta ao fiel.
O levantamento de alternativas criaoutra situação interessante, pois exis-tem atualmente muitas expressõesreligiosas, com diferenças nem sem-pre reconhecidas pelos fiéis. Em lin-guagem técnica, pode-se dizer quea concorrência aumentou muito.
Sobre o julgamento, o modelo daIgreja Católica parece atrair commais facilidade aquelas pessoasque aceitam o tradicional, o rígi-do, o imutável.
Finalmente, sobre os processos deavaliação de pós compra, abre-se umcampo interessante de pesquisas de“ex-clientes”, para conhecer osprocessos realizados ao se abando-nar a religião católica.
3. O MODELO DEINFLUÊNCIA SOCIALAPLICADO AOCOMPORTAMENTODOS CATÓLICOS
Todos nós estamos inclusos em umprocesso de relacionamento com aspessoas. Esse nosso relacionamento
com diversos indivíduos pode afetare influenciar o nosso processo decompra. Exatamente por isso, torna-se extremamente importante estudar-mos os indivíduos em seu processode socialização, isto é, que regrassociais estão existindo em seu grupoe como elas podem influenciar pro-cessos de escolha.
As regras que existem em nossa fa-mília, entre os amigos e colegas detrabalho, nos grupos de clubes emesmo instituições religiosas, po-dem ser determinantes em nossa es-colha. Por que seguimos as regras?Porque precisamos fazer parte de umgrupo, precisamos encontrar nossaidentidade, quem somos, e isto épossível dentro de um grupo. O pa-pel que cada um desempenha den-tro de um grupo torna-se sua iden-tidade. Sair de um grupo seria comoperder a identidade.
A Igreja Católica apresenta uma“coerência superlativa em matériadoutrinária.” (SABINO, 2002). Suasregras e determinações são pratica-mente imutáveis. Comenta o autorsobre a doutrina: “Essas questões,para a Igreja Católica, são de umdogmatismo absoluto. Mudar de po-sição implica uma transubstanciaçãoque significaria ir muito além de acei-tar o fato de que a Terra gira em tor-no do Sol, e não o contrário.”
Dessa forma, aquele que aceita fa-zer parte da Igreja Católica está acei-tando uma série de regras rígidas quesão impostas, mas que também lheoferecem uma identidade, uma ori-entação e um objetivo na vida. Éexatamente o que procura todo serhumano.
Em todo grupo existe um líder querepresenta as regras do grupo e con-trola sua execução. Na Igreja Cató-
Q
yw
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR AOS CATÓLICOS PRATICANTES
70R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
lica existe um líder inconteste, oPapa, que determina as regras dosrituais. O Papa João Paulo II, porexemplo, é lembrado como “o papada certeza”, por sua firmeza nas re-gras tradicionais da igreja. Sem dú-vida, João Paulo II foi um dos papasmais próximos do povo. Fez viagenspor todos os cantos da Terra, beatifi-cou 1.288 pessoas e canonizou463 santos. Manteve imutável adoutrina da igreja e conseguiuaproximar muitas nações. Dentrodo catolicismo é apreciado por to-dos. Seu índice de rejeição ébaixíssimo, e sua influência so-cial é mostrada em todas as suasaparições.
Além desse líder máximo, a IgrejaCatólica conta com outros líderes,cardeais, bispos, padres, descendona hierarquia, até chegar aos gru-pos menores das comunidades lo-cais. Na grande maioria das vezes,o bispo realiza o papel do papadentro de regiões determinadas.Essas regiões chamam-se dioceses,que seguem as determinações doVaticano. Os padres são as autori-dades católicas mais próximas dapopulação. São eles os responsáveispor todo o controle das comunida-des e paróquias. Determinam algu-mas ações e culturas populares, se-guindo, é claro, as exigências dosbispos diocesanos. Quase sempreé o maior responsável pelo jul-gamento favorável ou desfavorá-vel que as pessoas realizam so-bre a igreja.
O padre pode ser ajudado peloscoordenadores, que levam a caboas ações comunitárias da igreja,as pastorais, tais como a da juven-tude, a da comunicação. Essaspessoas exercem muita influênciaem suas pastorais, com regras que
têm como conseqüência açõessociais tangíveis.
Além dos coordenadores, ainda exis-tem outras fontes de influências, taiscomo os músicos que participam dosrituais, os assistentes das missas, elíderes comunitários.
O modelo de influência social, por-tanto, consegue explicar sem gran-des dificuldades a adoção da religiãocatólica pelas pessoas, visto ofere-cer uma identidade e um sentido navida, o que é extremamente impor-tante para as pessoas. Como outrosgrupos de apoio, tais como família eescola, vêm-se transformando rapi-damente, tornando-se frágeis (doponto de vista de referência); a igre-ja, com sua tradição, parece ser umporto seguro para pessoas que têmdificuldades de enfrentar indivi-dualmente os desafios da vida.Imersa num grupo (religioso, porexemplo), a pessoa perde sua indi-vidualidade, mas também sua angús-tia de ter que decidir, já que as re-gras estão prontas.
CONCLUSÕESO objetivo deste artigo foi desenvol-ver algumas reflexões sobre oalcance de três modelos básicossobre o comportamento do con-sumidor, quando aplicados aocomportamento das pessoas cató-licas. Cada um deles revelou as-pectos ainda pouco exploradospela literatura. O modelo dastipologias mostrou que há umconsumidor típico fiel, com carac-terísticas demográficas bemmarcadas, com um estilo de vidaregrado. O interessante na aplica-ção desse modelo foi verificar quehá um público secundário, jovem,com outro estilo de vida, que po-
deria ser desenvolvido.
A aplicação do modelo de processoem etapas mostrou que os pontoscríticos do processo de escolha es-tariam no levantamento de alterna-tivas, no julgamento e na avaliaçãopós-compra. No levantamento dealternativas, a pessoa conta com umleque razoável de opções religiosase outras tantas não religiosas quepodem levar aos mesmos resultados(ou satisfação das expectativas). Omomento do julgamento é críticoporque as novas gerações vêem (jul-gam) a Igreja Católica como muitoultrapassada, com regras que são in-compatíveis com as exigências davida moderna. Assim, a renovação depúblico torna-se difícil. Finalmente,a etapa de avaliação pós-uso é im-portante na medida em que pessoastêm trocado a religião católica por ou-tras. Que critérios utilizariam parafazê-lo? Como o artigo é reflexivo, ficacomo um campo de investigação.
A aplicação do modelo de in-fluência social revelou que o siste-ma de regras da religião católica ser-ve aos propósitos de oferecer umaidentidade e um sentido para a vidadas pessoas; tão necessários para oequilíbrio mental. Esse modelo pos-sivelmente é o que mais tem estu-dos, em ciências como Sociologia,Antropologia, Psicologia; mas amaioria deles não está orientadapara o sentido prático do que os lí-deres religiosos devem fazer paraobterem mais fiéis. Nesse sentido,o modelo da tipologia, mais fracoteoricamente, é o que mais contri-bui para ações de mercado, já queexiste boa literatura em marketingsobre como desenvolver um públi-co secundário.
Já o modelo de processo em eta-pas é rico em investigações em
Q
Rodrigo D. De Salvi & Ernesto M. Giglio
71J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
BIBLIOGRAFIA:profundidade e mostra quais itensdeveriam ser pesquisados em in-vestigações individuais, ou mes-mo de grupos.
O modelo do processo em etapas,portanto, é o que mais trouxe itensde reflexão e abriu campos de pes-quisas, principalmente as questõescolocadas ao início sobre como umapessoa opta, ou troca de religião.Nesse modelo, os processos são in-dividuais e a influência social se fazpresente em alguns momentos dasetapas do levantamento de alternati-vas e do momento da negociação.
Já o modelo mais simples, o datipologia, foi o que mais contribuiupara um quadro de ações de con-quista de novos consumidores.
Respondendo ao nosso objetivo,portanto, o modelo de Processo emetapas parece ser o mais adequa-do para uma compreensão dos pro-cessos de escolha dos fiéis, ao pas-so que o modelo de tipologias se-ria o mais adequado para se criarações de conquista.
Se a Igreja Católica objetiva conti-nuar a ter força e influência, na bus-ca de seus ideais, necessita profis-sionalizar sua análise de clientes,para buscar novas formas de satis-fazer suas necessidades.
AQUINO, Felipe - Escola da Fé: Sagrada
Tradição, São Paulo, Cléofas, 2000.
BURGIERMAN, D.R.; CAVALCANTE, R. &
VERGARA, R.- A palavra de Deus; Revista
Superinteressante, São Paulo, 01/11/2001.
DAWES, R. - Fundamentos y Técnicas de
Medicion de Actitudes, México, Cimusa, 1975.
FADUL, Anamaria,- Os meios de comunicação de
massa: um desafio para a igreja, tese de livre-
docência, São Paulo, Escola de Comunicação e
Artes da USP; 1986.
GIGLIO, E.M.- O Comportamento do
Consumidor, São Paulo, Pioneira Thomson
Learning, 2002.
GOMES, Pedro Gilberto, - Cultura, meios
de comunicação e igreja; São Paulo;
Loyola, 1987.
KATER, Antonio Miguel - Marketing aplicado
à Igreja Católica; Dissertação de mestrado;
Escola de Comunicações e Artes da USP; São
Paulo, 1993.
KOTLER, Philip - Administração de Marketing:
análise, planejamento, implementação e
controle; tradução de Ailton Brandão; São
Paulo; Atlas, 1998.
KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. – Princípios de
marketing; São Paulo; Atlas, 2000.
LAS CASAS, A.L.- Marketing: conceitos,
exercícios e casos; São Paulo; Atlas, 2001.
LOTURCO, Roseli.- Carisma: a atração ao
alcance de todos; Revista Veja, São Paulo, 14/
08/2002.
MATTAR, Fauze N.- Pesquisa de Marketing:
Edição compacta; São Paulo; Atlas, 2001.
MATAYOSHI, Leda Yukiko.- Bem-aventurados
aqueles que se comunicam como marca... A
Igreja Renascer em Cristo; Dissertação de
mestrado, Escola de Comunicação e Artes da
USP; 2000.
MELO, José Markes; - Igreja, empresa e
comunicação; São Paulo; IMS, 1984.
MORGAN, Gareth - Imagens da Organização;
São Paulo; Atlas, 1996.
PAULUS, Joannes.- Catechismo Della Chiesa
Cattolica; Città Del Vaticano: Vaticana, 1997.
RUPS, D. - História da Igreja, São Paulo:
Quadrante, 1999.
SABINO, Mario. - O papa da certeza; Revista
Veja, São Paulo, 28/08/2002.
SARMATZ, Leandro - A fé move leituras;
Revista Superinteressante, São Paulo, 01/
11/2001.
SHETH, J.N.; MITTAL, B. & NEWMAN, B.I. -
Comportamento do Cliente: indo além do
comportamento do consumidor, tradução de
Lenita Esteves, São Paulo: Atlas, 2001.
SOLOMON, Michael R. - O comportamento do
consumidor: comprando, possuindo e sendo,
Porto Alegre, Bookman, 2002.
SOUZA, André Ricardo - Padres cantores, missas
dançantes: a opção da igreja católica pelo
espetáculo com mídia e marketing; Dissertação
de mestrado, Faculdade de Ciências e Letras da
USP, São Paulo, 2001.AUTORES•RODRIGO D. DE SALVIMestrando em Administração pelaUniversidade UNIFIEO de Osasco.
•ERNESTO M. GIGLIODoutor em Administração, professorda ESPM e da PUC de São Paulo.
1 — Utilizamos a palavra mercado no seu sentido mais original de troca entre partesenvolvidas, sem necessariamente a mediação financeira.2 — Deste ponto em diante utilizaremos a expressão consumidor, mesmo sabendo que nãohá uma caracterização explícita de troca financeira.3 — A obra de Carl Gustav Jung é extensa e fascinate e não nos sentimos muito à vontadeao realizarmos essas reduções drásticas. Para o leitor interessado sugerimos a leitura deTipos Psicológicos, nas obras completas.
NOTAS
zx
72R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Fazer parte de uma grande empre-sa, redirecionar a área de atuaçãoou apenas se aperfeiçoar no cargoem que atua. Tudo isso exige a bus-ca do conhecimento e a amplia-ção da visão mercadológica. Fato-res que elevam o nível deempregabilidade de um profissio-nal e aumentam as chances de as-censão, seja como membro de umaorganização seja à frente do pró-prio negócio. Quem garante sãoex-alunos dos cursos de graduaçãoe pós-graduação da ESPM, que re-latam os resultados de seusesforços pós-vida acadêmica.
DIVISORDE ÁGUASEX-ALUNOS DA ESPM CONTAM
O QUE FAZEM PARA SEMANTEREM COMPETITIVOS
NO MERCADO
Mirela Tavares
Cor
bis
73J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
GRADUADOSDIFERENCIAL QUALITATIVO
ALAN KUHAR
aprendo.” Ele salienta, no entanto,que a mesma facilidade não existequando se trata de lidar com rela-cionamentos interpessoais, conhe-cimento que só adquire trabalhan-do em grupos, percebendo as ne-cessidades de uma equipe e tendoum pouco de sabedoria própria.“Ter uma postura diante de alguémnão se ensina”, completa Kuhar,que utiliza essa habilidade comocritério para escolha dos estagiá-rios que contrata. Mas só depois, éclaro, de avaliar a boa formaçãoacadêmica do candidato. “Ter umgrande nome por trás é sempre oprimeiro filtro.”
SEM TEMPO FEIO
ALESSANDRA SAADI
DIVISOR DE ÁGUAS — EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM O QUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
R
Formação acadêmica sólida. Esse é oprincipal diferencial quando se tratade colocação profissional, para ocoordenador do mercado de bebidasde trade marketing da Unilever, AlanKuhar, de 27 anos. Formado emComunicação Social, ele está sem-pre preocupado em se especializar econhecer todas as áreas da profissão.
Recém-pós-graduado em Adminis-tração pela Fundação GetúlioVargas, Kuhar está retomando asaulas de inglês e se organizandopara ter tempo de fazer ummestrado, provavelmente em outragrande universidade. “Gosto de co-nhecer diferentes culturas acadê-micas”, diz ele, que faz questão deressaltar, porém, que o nome ESPMsempre pesou nos processos deseleção pelos quais passou.“Olhando hoje para trás, perceboo quanto a formação acadêmicanos ajuda a ultrapassar problemas.”Foi na ESPM que Kuhar diz teraprendido o que de mais importan-te existe para um profissional: o co-nhecimento das relações humanas.“Posso não ser bom em finanças,mas faço um curso qualquer e
Alessandra Saadi, gerente de de-senvolvimento de produto do Dia/Carrefour, é o tipo de pessoa paraa qual os problemas são sempre de-safios. Foi assim que conseguiudriblar a falta de tempo para cur-sar Comunicação Social na ESPMsimultaneamente a Direito na PUC,dar conta de um estágio num es-critório de advocacia e se formarpouco antes de fazer 23 anos.
A idéia de cursar Comunicação sur-giu da indecisão do que fazer. “Sem-
pre gostei de artes plásticas e che-guei a passar no vestibular daUnesp, mas escolhi a ESPM por-que achei que teria mais chancesprofissionais.” A opção acaboulhe rendendo mais satisfação.“Disciplinas que já tinha acha-do muito chatas, como sociolo-gia e economia, na ESPM erammuito legais”, conta ela, que as-sim que acabou a faculdade deComunicação, pediu férias doestágio e começou procurar poroportunidades em agências depropaganda.
Novamente dificuldades aparece-ram, mas nem a falta de vagas,estágios não remunerados e ex-cesso de trabalho foram proble-mas. Decidida a entrar numaagência, ligou várias vezes paraa DPZ até conseguir um estágiona área de planejamento estraté-gico e pesquisa para cobrir fériasde 15 dias de uma funcionária.“Depois que descobri a DPZ nun-ca mais quis saber de Direito”,diz ela, que acabou ficando seismeses na agência até ter a dicada professora da ESPM FláviaFlamínio sobre uma vaga na Sika,onde acabou trabalhando por trêsanos. Mesmo assim, antes disso,foram seis meses estagiando semremuneração na agência de ma-nhã, indo à tarde para o escritó-rio de advocacia e terminando decursar Direito à noite.
Hoje, no Dia, num cargo em quea faixa de mercado varia de R$ 3mil a 7,5 mil, Alessandra é tradi-cionalista na hora de contratar.Formação e experiência são fun-damentais para ela. “Porém, avontade aprender é tão ou maisimportante do que a formaçãoacadêmica”, completa. yw
S
74R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
NA HORA CERTA,COM A PESSOA CERTA
ALEXANDRE BRAGA
multinacional, achei que estava nahora de atuar em agência e aMcCann tinha uma das contas daempresa”, diz ele, lembrando no-vamente ter contado com o apoiode Caropreso.
Entre os fatores que contribuírampara Braga entrar no mercado detrabalho está a visão prática e realda profissão demonstrada na fa-culdade. “Propaganda não era fi-car pensando, com pé em cima damesa”, conta, salientando que osprofessores mostravam a realida-de e apresentavam experiênciaspráticas.
Braga só lamenta, na época, tertido aulas concentradas especifica-mente em Propaganda. “Nãoaprendi Comunicação”, diz ele,que procurou ampliar seus conhe-cimentos com o curso de Comu-nicação Integrada na CarletonUniversity, no Canadá. Ele salien-ta, porém, que o currículo atualsanou a deficiência com aulasque incluem Marketing de Pro-moção, de Relacionamento, en-tre outras áreas.
SUPORTE TOTAL
BÁRBARANARCISO KFURI
Sem paternalismos, mas sempreatentos e prontos para orientar osalunos, os professores que atuamdiretamente com a Empresa Júnioracabam sendo o pilar para que elesentrem no mercado de trabalho.Pelo menos foi assim com a ex-alu-na Bárbara Narciso Kfuri, formadaem Comunicação Social pelaESPM-Rio.
Hoje, aos 25 anos, atuando comoresponsável por toda a área demerchandising e eventos de umadas marcas do grupo L’Oreal, LaRoche Posay, ela lembra que foichamada para estagiar na empre-sa justamente por ser coordenado-ra da Empresa Júnior da faculda-de. “E foi lá que eu tive a sorte deter professores muito competentes,orientando, ensinando como se-guir as regras de mercado, a mon-tar estratégias, começar umplanejamento, enfim nos dar todosuporte para que entrássemos parao mundo profissional com totalsegurança”, afirma.
Bárbara recorda que a partir daí elapassou a se sentir mais segura paraparticipar das entrevistas de traba-lho, desenvolver e apresentar osprojetos da Empresa Júnior e lidarcom profissionais renomados.“Tudo que aprendemos na facul-dade, os professores nos faziampraticar na Empresa Júnior”, dizela, acrescentando que participardesse tipo de atividade extra-curricular acaba diferenciando ofuturo profissional.
“Os professores não ensinam comofalar, como ter postura no merca-do nem como ser responsável, masorientam para que o aluno saibacomo desenvolver essas qualida-des”, afirma Bárbara, que, apesar
Alexandre Braga é o tipo de pes-soa que sempre está no lugar cer-to, na hora certa e com a pessoacerta. Fora o talento pessoal, tevea sorte e a sabedoria de se fazerreconhecer por seus trabalhos,aproveitando as oportunidades deestar com pessoas que tambémsouberam enxergar a sua capaci-dade profissional.
Exemplo disso é o atual empregona McCann-Erickson, onde atuacomo diretor de atendimento. Car-go que conquistou fundamental-mente por conta do trabalho finalapresentado para o curso de Co-municação Social na ESPM, ondehoje, aos 30 anos, também é pro-fessor. “Percival Caropreso, VP decriação da McCann, estava na ban-ca de avaliação e me chamou paraconversar no dia seguinte”, recor-da-se Braga, também formado pelaUSP em Administração.
Ele lembra que o próprio Caropresoo aconselhou a aceitar o empregona Unilever, com a qual já tinhamantido um primeiro contato. “De-pois de quase três anos na
Mirela Tavares
75J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
de não ser responsável porcontratações, está sempre atenta àforma de argumentação, de orga-nização e ao conhecimento de pro-fissionais que ela tem de orientar.Disposta a cursar uma pós-gradua-ção em Marketing ou Gestão deNegócios em 2004, ela pretendeainda fazer cursos no exterior econtinuar investindo na carreira.Um trabalho cuja faixa salarial demercado varia entre R$ 600,00,para estagiários, a R$ 17 mil.
ACIMA DA MÉDIA
DANIEL DE TOMAZO
Há mais de cinco anos na Loducca,onde atua como gerente deplanejamento estratégico, DanielDe Tomazo considera como pri-meiro emprego a própria EmpresaJúnior ESPM, onde se formou emComunicação Social. “Sem essecomeço fundamental para a minhacarreira, nunca teria a oportunida-de de me expor, cuidar de projetos,de gente, de clientes e, ao mesmotempo, estar tão bem respaldadopor professores e pela própria es-cola”, afirma.
Sempre preocupado em investir nacarreria, De Tomazo estudou tam-bém na Miami Ad School, em
Miami, onde também fez oBootcamp of Account Planners.
Para ele, a faculdade é fundamen-tal, mas depois é preciso aprender acorrer riscos. “Sinto que, na facul-dade, as aulas são fundamentais, masse você não vai além, fica na médiae, hoje em dia, estar na média não ébom o suficiente”, argumenta.
Mais do que isso, autenticidade éprimordial. Na hora de contratar,esse é um dos fatores que De Tomazonão dispensa, assim como conhecero trabalho do candidato. “É comumque uma avaliação seja feita combase no que o candidato diz que feze não naquilo que ele mostrou terfeito ou ser capaz de fazer”; afirmaele que sempre precisa ter uma de-monstração prática. “Nem que sejanum exercício”, completa. Fora isso,o candidato se diferencia pela pos-tura, pelo conhecimento e pela pró-pria experiência de vida.
POR MAIS NÚMEROS
HELEN LIMA
qualquer um que atue no segmen-to ignorar tal conhecimento. For-mada em Comunicação Socialpela ESPM, em 2000, Helen Limaacredita que a faculdade poderiater oferecido mais informações so-bre marketing financeiro. “Na mi-nha época não tivemos muitaschances de explorar essa área”; dizela que só teve mais contato coma disciplina durante a realização doPGE, no último ano. “Período emque o aluno não está muito abertoao aprendizado e sim para afinalização do projeto”, afirma.
Ela destaca, porém, que os conhe-cimentos oferecidos na faculdadepara elaboração de planos demarketing de produtos e plane-jamento estratégico foram funda-mentais. “Mas o principal mesmofoi ter feito ESPM, pois hoje a fa-culdade é uma das poucas eleitaspor grandes empresas para buscarestagiários e trainnes”, completa.
Ainda no terceiro ano de curso, elaparticipou dos processos deseleção da Philips e da Serasa, eentrou nos dois. “Trabalhei um mêsna Philips como estagiária de pes-quisa de mercado, mas veio a res-posta da Serasa, cuja proposta eramais atraente”, recorda. Depois deatuar como “estrategiária”, nomedado pela empresa para o Progra-ma Estrategiários, ela foi contrata-da como gerente de Dimensio-namento e Mapeamento Estratégi-co de Mercado, cargo em que éresponsável pelo geomarketingSerasa e estudos de potencial demercado, com foco em CustumerValue Management. Uma área emque a faixa salarial de mercado va-ria entre R$ 5 mil e R$ 8 mil.
Iniciando um curso de pós-gradua-ção em Administração de Empresas,
A maioria dos profissionais da áreade marketing atualmente lidadiretamente com números e esta-tísticas, o que torna impossível para yw
DIVISOR DE ÁGUAS — EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM O QUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
76R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Helen está sempre preocupada emse atualizar e já pensa em ummestrado num futuro próximo. “Te-nho planos de unir o trabalho diáriode executiva com o de professora,trazendo ganho para as duas partesda carreira”, completa.
MEIO A MEIO
JOÃO CASTANHO
Cinqüenta por cento de formaçãoacadêmica e a outra metade deprática. Para João Castanho, geren-te sênior de planejamento estraté-gico da DM9DDB, esse é o perfilcompleto de um profissional. Paraele, o equilíbrio é fundamental.“Sem dúvida, valorizo uma boaformação acadêmica, mas dou pre-ferência a quem já tem vivência naárea, conhecimentos gerais, domí-nio de língua estrangeira, interes-se, curiosidade, comprometimento,paixão por descobrir coisas novas...Afinal, planejamento de comunica-ção é ter um olhar diferenciado so-bre coisas cotidianas, ter a curiosi-dade de descobrir o que ninguémainda descobriu”, justifica.
Castanho só começou a estagiar noterceiro ano de faculdade, na DM9,quando tinha 21 anos. “Só a expe-
riência de um estágio ensina o quefaculdade nenhuma pode ensinar: ojogo de cintura, a interação em equi-pe, agilidade, improvisação, lidarcom relacionamentos...”, afirma. Delá, ele saiu para a Talent e depois foimorar por quase dois anos em Lon-dres, onde fez uma extensão emMarketing pela WestminsterUniversity. De volta ao Brasil, foicontratado novamente pela DM9,onde está até hoje.
A experiência no exterior o ajudou afechar algumas lacunas que ficaramabertas mesmo depois que terminouo curso de Comunicação Social.“Acho que, na época, a faculdadepoderia ter criado mais intercâmbiode experiências”, diz ele, que percebea ESPM mais direcionada para essetipo de troca atualmente. “Ela estásempre se adequando às necessida-des do mercado”, diz.
Preocupado em ampliar constante-mente os próprios conhecimentos,Castanho pretende fazer um MBA naprópria ESMP ou mesmo no exterior.“É importante estar sempre aberto anovos desafios e ávido por novasexperiências”, conclui.
MAIS DO QUEFEIJÃO COM ARROZ
KEN FUJIOKA
O índice de empregabilidade deum profissional pode cair a zeromesmo que ele tenha uma exce-lente formação acadêmica, expe-riências práticas, conhecimentosgerais ou vivências no exterior...Para que isso não aconteça, odiretor de planejamento do GrupoLoducca, Ken Fujioka, acredita sernecessário humildade para apren-der sempre. “Essa é a premissa daempregabilidade, o resto é conse-qüência”, enfatiza.
Ele mesmo, na hora de contratar, dáprioridade a essa característica, semdeixar de lado a formação acadê-mica, atividades extracurriculares,trajetória pessoal e profissional,além de habilidades da área deatuação, como escrever bem, de-senvoltura para se expressar e ca-pacidade de raciocínio.
Formado em Comunicação Social/Marketing, Fujioka desde o iníciodo curso procurou participar dasatividades extracurriculares:monitoria de algumas disciplinas,atuar no Diretório Acadêmico e naprópria fundação da EmpresaJúnior. “É onde se encontram aspessoas que querem ir além do fei-jão com arroz”, afirma.
Ele salienta, porém, que apesar dasoportunidades que a faculdade ofe-rece em termos de prática profis-sional, deveria também investirmais em trabalhos que estimulema reflexão e o espírito filosófico.“Acho que ela deve formar menostécnicos e mais pensadores.”
Sempre atento à expansão dos pró-prios conhecimentos, Fujioka tementre os seus planos fazer novoscursos e descobrir novidades deoutras áreas. “Tenho mais vontadede fazer cursos que dão mais rique-
Mirela Tavares
77J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
za de repertório, como arte e an-tropologia, até mesmo do que cur-sos de propaganda ou um MBA emMarketing”, afirma.
VISÃO DE FUTURO
MARINA CAMPOS
Pode parecer óbvio demais, maspara contratar alguém, a diretorade planejamento estratégico daLowe, Marina Campos, quer saberse o candidato sabe escrever. Ossimplistas não se enganem. Saberescrever para Marina é muito maisdo que apenas redigir um trabalho.“Todo mundo é muito simpático,fez faculdade, fala bem, tem diver-sos cursos, mas na hora em que sepede para transferir seus pensa-mentos para o papel, o candidatonem sempre consegue, e é aí quese dá a seleção”, afirma Marina,sendo ainda mais enfática: “Ou oprofissional aprende a se articularou não dá, porque a propagandasempre vai exigir mais”.
Talento, aliás, que para ela depen-de mais do interesse pessoal do quede qualquer aprendizado em facul-dades. “Não é possível ensinar pes-soas a transmitir suas idéias”, dizela, que acredita ser necessário que
as pessoas saibam aproveitar o queos cursos lhes oferecem. Sobre opapel do profissional, suas áreas deatuações e as técnicas necessáriaspara se desenvolver na carreira, eladiz ter conseguido aprender comuma visão muito prática na ESPM,onde se formou em ComunicaçãoSocial, em 1994. “Na área de pes-quisa, eu cheguei no mercado to-talmente atualizada e uso o queaprendi até hoje”, afirma.
Foi na faculdade também que teveo apoio para entrar no mercadode trabalho. “Sou da primeira tur-ma da Empresa Júnior e isso foivital para mim”, lembra ela,acrescentando terem tido todoapoio para formar a estrutura fí-sica e funcional da empresa, alémdo apoio de professores com pa-lestras e orientações.
Nada disso adianta, se os alunosnão souberem aproveitar o que afaculdade oferece. Até porque, se-gundo ela, é muito fácil passar nocurso. “Tinha aula apenas das 7hàs 11h”, justifica. Hoje trabalhan-do de 9 às 9h da noite, ela aindanão arranjou tempo para fazer umapós-graduação, um MBA ou umcurso no exterior. “Tendo compen-sar lendo muito e fazendo cursosrápidos de dois e três dias”, diz, sa-lientando que a área deplanejamento é uma das que maiscresce em publicidade. “Nós va-mos ter o papel de fazer o clienteentender mais o negócio dele e, naagência, as pessoas entenderemmais sobre as atividades de todos”,prevê. Uma prática que tem gera-do bons dividendos aos profissio-nais, já que a faixa salarial de mer-cado varia de R$ 1.500,00 a R$2.500,00, podendo, em cargos dediretoria, chegar a R$ 20 mil.
A PRÁTICA COMO ELA É
PAULO FONTANA
Entre tudo o que aprendeu na fa-culdade, Paulo Fontana aponta avisão realista da prática profissio-nal como a mais importante. For-mado há três anos em Comuni-cação Social/Propaganda pelaESPM, ele afirma que o cursoconseguiu transmitir uma idéiamuito próxima do que realmenteé a vida de um publicitário.“Aprendemos a entender a com-plexidade da prática profissionale o que acontece por detrás dapropaganda”, diz.
Atual redator da Full Jazz, Fontanacomeçou dando prioridade aos es-tágios e correndo atrás decontratações, o que conseguiu naLoducca Virtual.
Mais do que isso, foi lá tambémque conquistou o seu primeiroouro no Prêmio MSN/MMOnline,dois short-lists e o primeiro Leão(de bronze), no Festival de Publici-dade em Cannes.
Reconhecimento que vale mais doque qualquer salário, queatualmente, para quem estáestagiando ou começando a car-reira, gira em torno de R$ 500,00 yw
DIVISOR DE ÁGUAS — EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM O QUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
78R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
a R$ 1.500,00.
“Para os que ainda estão na faculda-de, o estágio é fundamental, pois élá que se aprende a prática detoda a teoria vista na sala deaula”, afirma. Como publicitárioformado o único plano deFontana atualmente é “trabalhar,trabalhar, trabalhar” e, talvez,daqui a uns dois anos fazer umMBA. “Está difícil saber como tri-lhar a carreira”, diz ele, referin-do-se a crise de mercado. Masnão desanima. “Penso tambémem passar um tempo no exterior,voltar para o Brasil e me tornardiretor de criação algum dia e,por que não, sócio de uma agên-cia”, afirma.
PÓS-GRADUADOSNOVOS RUMOS
CLÁUDIAMICHELETTOBRANDÃO
Atenta às oportunidades de mer-cado, Cláudia Micheletto Bran-dão não hesitou em ampliar seusconhecimentos para conquistarespaço na nova área de marketingque estava se formando na em-
presa onde trabalha, a DeLaval.Formada em Letras pelaPUCCAMP, com bacharelado emsecretariado bilíngüe, ela optou poruma pós-graduação para que pu-desse compreender todo o poten-cial da nova função. “O curso daESPM se mostrou a melhor opçãoquando, junto com meu diretor,analisamos o conteúdo e a qualifi-cação dos professores”, conta.
Cláudia afirma que o benefício foiimediato. “Mas continuo tendoretorno mesmo após dois anos deconclusão”, comenta. Entre ou-tras vantagens, faz questão de sa-lientar como passou a adminis-trar todo o plano de comunica-ção da empresa, entendendo ocomportamento e tendências domercado e a propor ações rela-cionadas às estratégias da empre-sa. “O curso me tornou qualifi-cada para falar de igual paraigual com outros profissionaisdo mercado, independentemen-te do segmento em que atuam”,justifica.
Além da importância do planeja-mento estratégico como conclu-são do curso, atividade que con-sidera a mais difícil e proveitosa,a pós-graduação serviu aindapara ensinar a importância da dis-ciplina, da organização e do res-peito à diversidade.
Diversidade, aliás, que ela desta-ca quando lembra do contato en-tre os alunos e as diferentes cul-turas que eles apresentavam.“Sempre havia contribuições va-liosas, tanto em termos profis-sionais como pessoais”, dizacrescentando: “Network é fun-damental para quem quer man-ter-se atualizado e competitivono mercado”.
ALÉM DO HORIZONTE
ELIANE SOBRAL
Formada em Administração deEmpresas pela FAAP, ElianeSobral optou pelo curso de pós-graduação em Marketing naESPM para ampliar o horizonteprofissional.
“O curso de ADM era muito ge-nérico e eu queria seguir carreiraem Marketing”, diz. Também fezmestrado em Economia nos Esta-dos Unidos. E ela ampliou bas-tante. Vice-president of sourcingfor Victoria’s Secret Direct, Elianemora em Nova York, num cargoonde a média salarial é de US$150 mil por ano.
Sempre aberta a novos cursos enovos aprendizados, sentiu falta,durante o curso, de aulas que pro-jetassem uma visão mais interna-cional de negócios. “Poderiamdar mais ênfase sobre a práticade negócios em outros países”,diz ela. Já sobre a importânciadada nas aulas ao conteúdo téc-nico e comportamental, ela afir-ma que o equilíbrio foi funda-mental. “Um não existe sem ooutro”, completa. Da mesma for-ma, ela afirma ter obtido uma vi-
Mirela TavaresK
lebe
r E.
P. F
ilho
79J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
são bem clara e segura da impor-tância do consumidor, de comoa figura dele interfere em todo omercado e da missão de comotoda a empresa tem de estar pron-ta para atendê-lo da melhor for-ma possível.
Com um perfil profissional que sedestaca pela praticidade e pela fa-cilidade com que resolve pen-dências, El iane está sempreaberta para novos aprendizados.“Com a rapidez do mundo e aglobalização, é preciso sempreestar atualizado sobre tudo: his-tória, culturas, informática...”,conclui.
O VALOR DO NETWORK
FREDERICO EBEL
Engenheiro mecânico de forma-ção, especialista em qualidade epós-graduado em Administraçãoe diretor Executivo da PlautConsultoria, Frederico FonsecaEbel está terminando o MBA emGestão de Negócios pelo ITA/ESPM. Opção que fez principal-mente pelo perfil das duas insti-tuições, pelo enfoque no empre-endedorismo e pelo nível dos es-tudantes. “o que ajudou a formar
um excelente network”, salienta.
A convivência desenvolvida aolongo dos dois anos é considera-da por Ebel como uma das gran-des vantagens do curso. A turmaera formada por colegas dealtíssimo nível intelectual e, aomesmo tempo, pessoas queocupavam cargos-chave emempresas de relevância no mer-cado”, diz.
Ele ressalta também que essenetwork possibilitou uma grandeamizade – “fundamental paravencer as dificuldades do curso”– e também uma série de alian-ças que viabilizaram negóciospara a própria empresa em queatua. Além do crescimento pes-soal, as aulas o ajudaram a teruma visão estratégica de comoconduzir a empresa em um mer-cado tão competitivo como é ode consultoria de negócios detecnologia.
“Obtive uma visão sistêmica dasestratégias corporativas e comooperacionalizá-las por meio dogerenciamento por processos, oque é fundamental para o suces-so da corporação.”
Ebel gostaria, porém, de que ocurso oferecesse mais aproxima-ção das empresas com a faculda-de, ampliando o número de ca-ses, o que ajudaria a consolidaro conhecimento didárico. Mesmoassim, pretende não sair mais dassalas de aula.
“Gosto muito de utilizar o con-ceito de Peter Drucker que dizque todas as pessoas devem vol-tar à escola a cada três anos, poiscaso contrário tornam-se obsole-tas no mercado de trabalho.
CONHECIMENTOCONTÍNUO
JADYR PIVA DE SOUZA
Disposto a dar um up-grade na suavida profissional, Jadyr Piva de Sou-za decidiu redirecionar a suaatuação na área de vendas paraárea de marketing. Para isso achouque seria necessário ampliar suabase de conhecimentos e recorreuà pós da ESPM. Engenheiro agrô-nomo de formação, Souza contaque os dividendos apareceram tãologo concluiu o curso. “Foi muitorecompensado inclusive financei-ramente”, afirma ele, que tambémpassou a ter uma visão mais am-pla do mercado.
Trabalhar em grupo, com pessoasdesconhecidas e em um tempobastante curto ajudou-o a desen-volver-se profissionalmente, atéporque, para ele, essa dinâmicareflete bem o que ocorre na maio-ria das empresas atualmente. Maisque isso, Souza afirma que a trocade experiências, as visões diferen-ciadas, as boas amizades e aschances de novas oportunidadesde trabalho também são experiên-cias agradáveis ao longo do curso.Atuando numa área em que a mé-dia salarial é de R$ 6 mil, mais yw
DIVISOR DE ÁGUAS — EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM O QUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
80R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
benefícios, como carro, seguros, prê-mios, convênios e cursos, ele já pre-tende aumentar seus conhecimen-tos. “Quero estar sempre o maisatualizado possível, além de atuarem diferentes áreas mesmo que sejana mesma empresa”, diz ele, ressal-tando que o desenvolvimento pro-fissional diante da competitividadeatual não pode ser interrompido.
PRONTO PARA TUDO
LUIZ ROBERTO RUAS
Quando decidiu fazer a pós-gradu-ação em Marketing na ESPM, em1997, Luiz Roberto Ruas não ima-ginava que sua vida mudaria tan-to. “Eu acho que passei por umatransformação”, diz ele, que acre-dita ter se tornado uma pessoacompletamente diferente em todosos aspectos. “Mais maduro, maisseguro, com uma visão mais am-pla e sabendo me relacionar me-lhor, ou seja, um profissional maiscompleto.”
Na empresa, não ficou por menos.Na época, gerenciava as operaçõeslogísticas da 3M e tinha como pla-no de carreira atingir a gerência deuma área de negócios. Hoje édiretor da Divisão de ProdutosElétricos e de Telecomunicações da
3M, cuja faixa salarial varia entreR$ 15 mil e R$ 20 mil. Nos planosfuturos de Ruas passam aindaatuação em outras áreas de negó-cio locais, uma diretoria internacio-nal e a presidência de uma subsidi-ária. “Falando do mercado brasilei-ro, estou preparado para assumir apresidência de uma empresa naci-onal”, afirma com a segurança dequem conhece a própria capacida-de profissional.
Além de atuar na 3M, Ruas, que éengenheiro mecânico formado pelaUnicamp, é pós-graduado em Ad-ministração pela Fundação GetúlioVargas, pós-graduado em Marketingpela ESPM, concluiu com um MBAem Administração pelo ITA/ESPM e,ainda, faz parte do corpo acadêmi-co da própria ESPM, onde é profes-sor de logística e planejamento es-tratégico. Mesmo tendo recém-con-cluído o MBA este ano, ele já se pre-para para fazer um mestrado strictosensu em 2004. “Tenho estado emcontínuo aprendizado a partir deentão”, diz ele que procura sempreestar atualizado para manter altos ospróprios níveis de competitividadee empregabilidade.
PARA FAZER DIFERENÇA
MARCELOLOBIANCO
Formado em Comumicação Socialpela Helio Alonso, no Rio de Ja-neiro, e pós-graduação emMarketing pela ESPM, MarceloLobianco é o que se pode chamarde um profissional de múltiplascapacidades. Qualidade que vemaperfeiçoando, sempre preocupa-do em ampliar seu conhecimentonas diversas áreas em que atuou.Lobianco começou a carreira há13 anos, na agência da loja de de-partamento Mesbla, Provarejo, eposteriormente na própria loja.“Depois caí na estrada publicitá-ria, trabalhando na McCann-Erickson, Young & Rubicam e V&SComunicações, do Lula Vieira, edepois voltando a trabalhar comvarejo, dentro de um escopo com-pletamente diferente”, diz ele, re-ferindo-se a Shoptime, empresamulticanal e multimídia, que ope-ra a distância, onde é diretor deMarketing.
O interesse pela pós-graduaçãocomeçou depois de alguns cur-sos de extensão. “Depois, che-guei a dar algumas aulas comoconvidado e passei a sentir-meatraído pelo ambiente”, recorda.Por já conhecer os profissionaisque trabalhavam e o compromis-so em transformar em uma dasmaiores escolas de negócio doBrasil, ele optou por fazer a pósna ESPM-Rio.
Maturidade, conscientização,networking e, como não poderiadeixar de ser, aumento de conhe-cimento são alguns benefícios queLobianco enumera por ter feito ocurso. O network está também en-tre os mais importantes. “São di-versas experiências convergindopara o mesmo ideal”, diz ele, lem-brando do aprendizado, da forma-
Mirela Tavares
81J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
ção e da aplicação de todos estesconceitos no próprio mundocorporativo de cada um.
De aluno, Lobianco passou a pro-fessor, mas não deixa de quereraprender. Pelo contrário ou atépor isso, uma das metas dele écontinuar ampliando seus co-nhecimentos. “Quero continuaraprendendo, para assim po-der fazer diferença no mundocorporativo.”
TROCA COM TROCO
MELBA PORTER
Jornalista, formada pela Facha (Fa-culdades Integradas HelioAlonso), Melba Porter não estavafeliz com a profissão. Como já seinteressava por Marketing e rece-beu ainda o estímulo de umaamiga que indicou a ESPM, nãotitubeou, foi atrás do prejuízo ehoje aponta o curso como umdivisor de águas.
“Minha carreira se divide em an-tes e depois da pós-graduação”,diz ela, que já durante o curso foiconvidada para trabalhar na novaárea. “A pós me levou a conquis-tar conhecimento, empregabi-
lidade, network, enfim, só bene-fícios”, afirma Melba, que atuanum área cujos salários variamentre R$ 4 mil e R$ 5 mil.
Entre o que aprendeu de mais im-portante estão a atitude e ocomportamento.”Mudei comple-tamente”, diz ela, que acabou setornando também professora daprópria ESPM-Rio. O gosto pelavida acadêmica cresceu tanto,que Melba, em setembro, come-ça um novo curso. Dessa vez,Mestrado Profissional em Siste-mas de Gestão.
“Meus planos são consolidar mi-nha carreira executiva e crescerna carreira acadêmica, o quepode parecer impossível, mastanto minha pesquisa e segmen-to que leciono, quanto o merca-do no qual sou gerente demarketing estão na mesma área”,diz, acrescentando ser possívelconciliar as duas coisas. “Tran-qüilamente”, garante.
MARKETING REAL
SÉRGIO FUX
A necessidade de estar mais bempreparado para aproveitar as
oportunidades de mercado levouSergio Fux à pós-graduação emMarketing na ESPM-Rio. Apesarde ter passado no curso de Enge-nharia da PUC e se formado emEconomia pela Candido Mendes,Fux continuava insatisfeito coma carreira. Até que surgiu a opor-tunidade de trabalhar na Xerox doBrasil, no projeto piloto detelemarketing. “Foi aí que decidique tinha aprender”, diz ele, lem-brando que além de conhecimen-to, o curso ampliou sua visãomercadológica, permitindo-o atuarem diversas áreas, desde joalheriae indústria plástica até Internet.
Atualmente, Fux trabalha naNasajon Sistemas, software de fo-lha de pagamento e financeiroadministrativo para pequenas emédias empresas. A seu ver, umadas principais vantagens do cur-so foi aprender a fazer marketingna prática, lidando com gente.“Tudo que nos ensinaram, utili-zo hoje no meu dia-a-dia”, afir-ma Fux, que já chegou até a con-tratar outros ex-alunos.
“Na minha época, no entanto, adivulgação das necessidades dasempresas deixava muito a dese-jar e muitas oportunidades nãochegavam até nós”, conta ele,que atua numa área onde a faixasalarial é de R$ 150 mil por anoentre salários e benefícios.
Tendo concluído o MBA em Ges-tão do Conhecimento pela UFRJ,em 2000, Fux vai adiar por en-quanto os projetos de novos cur-sos. Os planos para a carreira, po-rém, são muitos e incluem socie-dade em alguma empresa em for-mação, sempre apoiando oempreendedorismo. yw
DIVISOR DE ÁGUAS — EX-ALUNOS DA ESPM CONTAM O QUE FAZEM PARA SE MANTEREM COMPETITIVOS NO MERCADO
82R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
ATITUDE POSITIVA
VALBERTO DUARTE
O conhecimento está sempre àd i spos ição de quem que raprender. Com isso em mente,Valberto Duarte da Silva, gra-duado em Adminstração deEmpresas com especializaçãoem finanças e diretor presiden-te da Plaut Consultoria, nãoperdeu tempo para aprofundarseus conceitos de negócios epreparar-se para novos desafi-os – correu atrás de uma pós-graduação. A opção pelo cur-so do ITA/ESPM deu-se pelapossibilidade de integrar avan-ços tecnológicos à visão mo-derna de marketing. “Que so-mados a minha experiência,iriam completar-me como umprofiss ional preparado paraenfrentar os novos desafios domercado”, justifica.
Na rotina profissional, Duarteconseguiu alinhamento dos con-ceitos com a prática, maior segu-rança para enfrentar desafios,acesso a novos conhecimentos,atitudes e valores que fortalece-ram a capacidade de análise dosproblemas. “Na verdade, o que
de mais útil aprendi é que o co-nhecimento está sempre disponí-vel, basta ter uma atitude positi-va”, diz, acrescentando que aconquista de objetivos está inti-mamente relacionada a essa mu-dança. “Creio que a ESPM fez oseu papel e eu me esforcei parafazer o meu.”
Ele faz questão de deixar claroque conhecimento não se resu-me a informações técnicas. Porisso a importância do aprendiza-do comportamental e donetwork , já que o compar-tilhamento de informações aju-da o indivíduo a entender e con-viver com o grupo.
OLHAR ESTRATÉGICO
JOSÉ RENATO
Médico veterinário formado naURCAMP de Bagé, José RenatoSalim Moraes acabou seguindocarreira comercial. Aos 31 anos,é coordenador de vendas no RioGrande do Sul e Santa Catarinada Allvet Química Industrial,onde desempenha função geren-cial, em um segmento cuja faixasalarial é de R$ 5 mil, maisbenefícios.
Por ter uma formação puramentetécnica – apesar de extensa –Moraes foi atrás de mais infor-mações para crescer no novoramo. “Escolhi a ESPM de PortoAlegre pela imagem excelenteque tem no mercado e pelo cor-po docente.”
Para ele, a principal vantagem docurso foi o olhar estratégico queas aulas lhe proporcionaram.
“Um MBA oferece uma visão domercado que levaríamos anospara conseguir se dependêsse-mos apenas da experiência pro-fissional. Mais que isso, o cursonos ensina a encarar um proble-ma e fazê-lo virar uma soluçãolucrativa para a empresa, para osclientes e para você mesmo”,afirma.
Nada disso traria nenhum retor-no, no entanto, se não houvesseuma necessidade própria deMoraes em estar sempre se aper-feiçoando. Criado em fazenda,ele passou a adolescência traba-lhando com gado.
“Quando decidi entrar na áreacomercial e seguir carreira cor-porativa, já trabalhava na áreatécnico-comercial da multina-cional Coopers Brasil, subsidiá-ria da Schering Plough AnimalHealth e tinha iniciado o MBA”,lembra ele, que pediu demissão,trancou a matrícula, juntou todoo dinheiro que conseguiu e foiestudar na Austrália. A expe-riência ampliou a visão dele so-bre outras culturas, o tornoumais flexível e garantiu conhe-cimento suficiente para rein-gressar no mercado e manteruma visão de es tar sempreaprendendo.
Mirela Tavares
zxFoto
s: a
rqui
vo p
esso
al
84R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
N
Mesa redonda
ele, Farhat alertava contra o perigo dese crer que um assistencialismopaternalista poderia resolver os séri-os problemas econômicos e soci-ais com que o país se defrontava –e ainda enfrenta. E escrevia: “Umanação deve amparar os doentes,mas não premiar os ociosos. Devefortalecer o espírito e os instrumen-tos de justiça, mas não transformar osentimentalismo – e não o mérito –em medida de valores.” E completa-va, com uma frase de efeito, quaseum slogan: “Uma nação não é umagalinha com uma ninhada de pintos”.
Ambos os candidatos à presidênciaacenaram aos eleitores com a pro-messa da criação de empregos. Ga-nhou – por coincidência ou desíg-nio – aquele que prometeu maiornúmero deles e que fundou e che-fiava um partido que representa ostrabalhadores, embora isso seja oque somos todos e não apenas umsegmento da sociedade.
Empregos, contudo, como o traba-lho, não se criam por decretos. É ne-
seleção, treinamento e consultoriaem recursos humanos.
Ao cabo de quase duas horas de dis-cussão, às vezes acalorada, foi recon-fortante constatar que, apesar de ha-ver algumas nuvens sombrias amea-çando o futuro profissional dos jo-vens que, hoje, estão deixando osbancos escolares dos cursos de gra-duação e pós-graduação, existem –também – muitas razões para espe-rar uma melhora.
Mas, para isso, será necessário umesforço conjugado de diversossetores da sociedade. As escolas de-vem rever os seus objetivos, méto-dos e conteúdos de ensino. As em-presas e instituições profissionais en-carar o seu patrimônio humanocomo um insumo precioso, facilmen-te depreciado ou perdido. E os pro-fissionais – estes – deverão aprender,desde o início, a ser capazes degerenciar as próprias carreiras e va-lorizar as suas “marcas” pessoais,num mercado em que a competi-ção será cada vez mais acirrada.
JRWP
MESA-REDONDA SOBRE
EMPREGOEMPREGABILIDADE
Há cerca de quatro décadas, um publicitário com alma de jornalista e crítico social, Emil Farhat,publicava um livro que teve sucesso rápido, porém efêmero: O País dos Coitadinhos.
cessário, principalmente, que asatividades geradoras de riqueza sejamestimuladas, ou – ao menos – que nãosejam prejudicadas pela ganância fis-cal e pela burocracia do estado.
Para constituir a mesa-redonda parao seu já tradicional debate, a Revistada ESPM convidou alguns profissio-nais de destaque nas áreas de
&
PARTICIPANTES
Fátima MottaESPM• Francisco GraciosoESPM• Marcelo MariacaM&M Mariaca & Associates• Maria Tereza GomesVocêS/A• Nelson Junque Johnson & Jonhson• Sérgio Pio BernardesESPM• J. Roberto Withaker PenteadoModerador
Foto
s: V
erid
iana
Wie
gel
85J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
EMPREGO & EMPREGABILIDADE
yw
“Como podemosajudar os nossos
alunos àempregabilidadenum mundo tão
confuso?”
JRWP – Nosso tema é emprego eempregabilidade. Para muitos, a fun-ção principal de um curso superior éa especialização na área escolhidapelo aluno. Para outros, vem, em pri-meiro lugar a formação generalista,a capacidade de pensar e tomar de-cisões. E, para muitas empresas, im-portam também o comportamentodo candidato, sua ética, atitudes ecapacidade de ajustamento ao gru-po. E para os participantes destamesa, o que é importante? O que fa-zemos e o que deveríamos fazer paraaumentar o grau de empregabilidadeou o potencial de promoção de nos-sos formandos, seja na graduação,seja nos cursos de pós-graduação?Um outro aspecto será o futuro domercado de trabalho. Mais trabalhoe menos emprego? E, a cada dia, cres-ce a pressão para que os cursos su-periores preparem os seus alunospara essa nova realidade. Na ESPM,o sonho de quase todos os formandosparece ser conseguir emprego emgrandes empresas. Na pós-gradua-ção, os alunos querem progredir ra-pidamente em suas carreiras. Estamos
reunidos para mais esse debate, egostaria de que o Prof. Gracioso lhedesse início.
GRACIOSO – Não sei se é o me-lhor momento para essa discussão,já que vivemos um período atípico -de estagnação econômica, receio ge-neralizado de mudanças, de perdade renda. Tudo isso complica aindamais, o problema dos formandos emesmo dos jovens executivos quenão têm mais as oportunidades quetinham. Entretanto, é um mundo decontradições. O Prof. Sérgio Pio, res-ponsável pelo Cintegra, nosso orga-nismo que ajuda os formandos de
graduação a obter o primeiro empre-go, estava me dizendo que, aparen-temente, as grandes empresas estãopedindo mais gente do que de cos-tume. Deve haver razões para isso, eesse pode ser um momento tão bomquanto qualquer outro para discutirnossa pauta. Qual deve ser o princi-pal papel da universidade? Comopodemos ajudar os nossos alunos àempregabilidade num mundo tãoconfuso? Já ouvi gente de RH definiro perfil ideal de um jovem candida-to como, acima de tudo, atitudinal -comportamento, ética, atitudes pe-rante o grupo. O preparo especializa-do que uma determinada faculdade,seja de engenharia ou de adminis-tração, fornece é, como diriam osnorte-americanos, “taken for granted”.Passa a ser o mínimo que se podedesejar. Dão alguma importância aonome da escola que assina o diplo-ma e aí submetem o candidato àque-la bateria de testes impiedosos, quevocês conhecem. Outro ponto curi-oso é esse do empreendedorismo.Está na moda. Aqui, na Escola, temosum Conselho composto por empre-
86R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
sários, homens de propaganda, ve-ículos que, volta e meia, afirma:“Temos que preparar empreende-dores. Os jovens devem sair daquiprontos para montar seus própri-os negócios”. Não sei se isso é vi-ável e, acima de tudo, plausível.São coisas que gostaria de ver dis-cutidas, não só em benefício daESPM, mas da maioria das facul-dades, do Brasil, pelo menos deAdministração e Comunicação, ede muitos cursos de pós-gradua-ção. O que dissermos será lidocom atenção por centenas de edu-cadores pelo Brasil afora.
SÉRGIO – Acho que a questão doestágio no Brasil está sendo bastantepolemizada, porque aumenta o nú-mero de estágios e diminui o núme-
ro de empregos. Grande parte dasempresas tem utilizado estagiárioscomo empregados. A lei é muito an-tiga – de 1977, depois 82 –, e muitoelástica. Há razões que poderiamexplicar isso. Primeiro, a questão dosencargos. O estagiário não tem,necessariamente, fundo de garan-tia, 13
o salário e ganha menos.
Também proliferam as agências deintegração. Só no estado de SãoPaulo, hoje, são mais de 65. AESPM é até privilegiada, nesse par-ticular, porque as empresas comquem temos convênios têm bonsprogramas. Posso citar o Citibank,a Multibrás, Coca-Cola, GeneralMotors, Volkswagen, Bank Boston.
FÁTIMA – Você citou só multi-nacionais.
SÉRGIO – Elas predominam.
FÁTIMA – Mas a Natura é uma em-presa nacional e tem um programade estágio muito bem cuidado, con-corrido e valorizado. São 800 milcandidatos, às vezes, para 10 vagas.
SÉRGIO – Temos que separar ojoio do trigo. A ESPM é privilegia-da porque fazemos uma triagemde empresas com as quais temosinteresse em fazer convênio. Oestágio – por definição – é de en-sino e aprendizagem para habili-dades e competências. Nesse sen-tido, podemos levantar algumas hi-póteses para o aumento de está-gio. O que poderíamos fazer ain-da melhor é a aproximação entrea empresa e a universidade.
Mesa redonda
87J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
JRWP – Gostaria de ouvir alguém so-bre mercado de trabalho.
MARIACA – Nós trabalhamos nor-malmente com empresas de grandeporte – de 500 empresas-clientes,mais ou menos 250 são ativas, e sãobrasileiras ou multinacionais em to-dos os campos. Acredito, por obser-var nossos clientes – e até por ser pro-fessor da Business School São Paulo– eu lido com alunos que vêm deempresas e sinto claramente que nãohá antagonismo entre emprego eempreendedorismo. Não se exluem.Na maioria das empresas modernas,o funcionário precisa ser mais em-preendedor. Não por razões teóricas,mas é para ter sucesso. O que querdizer empreendedor? É ser maisautônomo e habilitado a gerenciar
sua própria carreira, mesmo dentroda empresa. Embora nossa empresalide com a mudança – principalmen-te de executivos mudando de empre-go –, eu prego aos meus alunos quedevem crescer na mesma empresa,porque estamos num mundo que fi-cou muito perigoso...
JRWP – Um parêntese: vocês ten-dem a falar de empresa como aempresa grande.
MARIACA – Não. Pode ser pequenaou média. A mensagem que eu tentopassar aos alunos, e aos funcionáriosdas empresas-clientes é que é possí-vel gerenciar a própria carreira naempresa. E é mais seguro permane-cer na mesma empresa, porque, nes-sa era de constantes reinvenções emquase todos os ramos de comércio,indústria, com todas as fusões e aqui-sições, mudar de emprego é muitoperigoso. Especialmente no Brasilonde você tende a formar um certopatrimônio se for demitido um certonúmero de vezes. A auto-demissãono Brasil é abrir mão de umpatrimônio que, depois de 5, 6 anos,
“As pequenasempresas
oferecem maisde 50% dosempregos.”
yw
EMPREGO & EMPREGABILIDADEEMPREGO & EMPREGABILIDADE
88R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
torna-se importante. A mudança deuma empresa para outra tornou-seainda mais perigosa. Novas pessoas,novas políticas, novos produtos, no-vos fantasmas, nova cultura. Muitasvezes, meus alunos se espantam edizem: “Prof., já estou há 7 anos noBanco de Boston. Será que não é horade mudar?” Eu pergunto: “quem en-fiou isso na sua cabeça?” “Osheadhunters vão achar que eu souacomodado.” Pois nós somos umadas principais empresas de talentos– somos headhunters – e nunca tiveque explicar ao presidente de umaempresa quando chega a hora deanalisar cinco finalistas por que al-guém ficou muito tempo no Bancode Boston, Citibank ou na Johnson& Johnson.
MARIA TERESA – Concordo com o
Mariaca. Essa questão de em-preendedorismo é uma atitude notrabalho e não algo que exclui oemprego. Ser empreendedor é umaatitude em relação ao que você temque fazer, as suas responsabilidades,o resultado que você deseja.Empreendedorismo não é apenascriar um negócio próprio e ser donodo próprio nariz.
GRACIOSO – E, como tal, é útilpara todos.
MARIA TERESA – Outra coisa queacho importante é a pequena X a gran-de. Acho bom lembrar que as peque-nas empresas oferecem mais de 50%dos empregos formais existentes.
JRWP – Esse era o ponto que ques-tionei quando o Mariaca falava.
MARIA TERESA – Mais importanteque isso são, de longe, as pequenasempresas que mais estão criandonovos empregos no Brasil. Enquantoas grandes corporações estão enxu-gando, diminuindo, são as pequenasque estão gerando novas vagas. A idéiade que o bom emprego está na grandecorporação precisa ser revista.
JRWP – Queria passar a palavra aoNelson que, afinal, é o único que re-presenta a categoria de funcionáriograduado de multinacional. Comovocê vê essas questões?
NELSON – Sobre empreende-dorismo, meu enfoque é um poucodiferente. Não que eu discorde doque disseram, mas para acrescentar.Recentemente, coordenei um fórumde jovens, onde havia estudantes de
Mesa redonda
89J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
yw
34 diferentes universidades, cursan-do 22 diferentes tipos de graduação.É um trabalho voluntário que faço,com outros executivos, para a Asso-ciação Brasileira de Recursos Huma-nos. O tema que escolhemos paraesses jovens – que vieram de 6 esta-dos diferentes – foi a inclusão do jo-vem no mundo de trabalho. Uma dascoisas que foi discutida foi justamenteo empreendedorismo. Esses jovenstendem a pensar em emprego, emquerer uma oportunidade na empre-sa. Como vejo o fenômeno doempreendedorismo? Creio que podehaver melhoria, mudando o enfoque.Em vez de dizer a ele: “Vai lá, sejaum bom aluno que estarão à sua pro-cura”, uma alternativa é dizer ao jo-vem que seja empreendedor da suamarca pessoal. Nada nesse mundo émais importante do que a minhamarca “Nelson Junque”. Se eu nãocuidar dessa marca que recebi aonascer, ela morrerá, antes que eumorra, fisicamente. E isso, normal-mente, não é enfatizado, porque osobjetivos estão voltados para “con-seguir um emprego”. Se eu fosse umeducador, tentaria ensinar as pessoasa preservar a sua marca, a cuidaremdela, constantemente.
GRACIOSO – Talvez, o que oMariaca chama de gerenciar a pró-pria carreira.
FÁTIMA – Muitas vezes, os alunosquerem trabalhar numa empresa,sem parar para pensar – e questionar– os reais objetivos de vida que têm.Quando o Nelson fala de marca,acho fundamental, mas há uma per-gunta anterior, que é “Quais são osmeus objetivos de vida? Como voupoder fazer diferença nesse mundo?Que significado encontro a cada si-tuação em que eu me colocar? Vouser estagiário de Administração ouComunicação para quê? Como pre-
tendo colocar a minha marca?” Nonosso pós-graduação, há uma maté-ria chamada “Fator humano como di-ferencial competitivo”, onde um dosaspectos importantes é discutir comos alunos quais são os seus objetivos.O que eles querem, para que que-rem. Aí discute-se o que se entendepor sucesso. Sucesso é ter dinheiro,é ter coisas ou é ser? Tudo isso é im-portante porque cabe à universida-de discutir qual o significado de cadacoisa, de cada cargo. O porquê deele ser gerente, de ser um diretor, o
as que mais geram empregos. E aí sefalou da questão da autonomia. Egrande parte desta inovação fica porconta do próprio empregado. Sãopoucas as empresas que têm um tipode programa de inovação.
MARIACA – Por isso, nós, educado-res ou executivos, temos que ensinara responsabilidade de gerenciar aprópria carreira. Antigamente, davapara olhar para cima e perguntar: “Oque a empresa vai fazer para mim?”Mas só cargos empresariais, porqueo médico nunca fez isso, o dentistanunca fez isso. São as profissõesautônomas. Por que há tantos diplo-mas na parede do consultório domédico? Porque ele sempre estevenuma profissão de mudança muitorápida de tecnologia e ele tinha quese manter atualizado. Isso está come-çando a acontecer conosco, funcio-nários de empresas, com nossos cli-entes e nossos alunos. Antigamente,você se formava, guardava o diplo-ma (os norte-americanos penduramna parede; aqui se enrola e guarda.Diferença cultural). Mas, com essediploma, a empresa boa cuidava dasnossas carreiras. Empresas boas ain-da fazem isso, porém, o próprio alu-no precisa aprender a gerenciar a suacarreira. Se a empresa não tem, porhábito, ou chefe não gosta de fazeruma avaliação de desempenho, elepode e deve pedir. Deve dizer: “Che-fe, faça-me um favor? Gostaria de re-visar as minhas principais responsa-bilidades desde que entrei. Estou aquihá 13 meses; não tenho um feedbackmuito exato. Dê-me quinze minu-tos?” E fazer anotações, mandar e-mail, confirmando.
JRWP – O subordinado é que devepropor isso ao seu superior?
MARIACA – Sim. Uma boa empresadeveria ter umas duas horas por ano
“Muitaspessoas
escolhem oemprego pelo
nome daempresa.”
porquê de ele querer ser um presi-dente, ou ser um técnico. Às vezes,o conteúdo é passado sem que o sig-nificado de cada coisa seja clarea-do. Uma discussão importante é dis-cutir a missão de vida das pessoas.Fica simples falar em carreiras, pen-sando na carreira que meu pai fez.Acaba acontecendo o “vou seguir acarreira do meu pai” ou, então, “voufazer aquilo que meus pais esperamque eu faça”. É uma pena, pois aca-bo encontrando, no curso de pós-gra-duação, gente que chega aos 40anos, dizendo: “Estou fazendo algoque odeio. Mas estou numa carreirae como dá para voltar?”
SÉRGIO – O empregado deve serempreendedor, também porque gran-de parte das pequenas empresas são
EMPREGO & EMPREGABILIDADE
90R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
para cada pessoa.
JRWP – Não é isso o “coaching”?
MARIACA – Não. É um processo deavaliação de desempenho. Ao invésde se queixar de que a empresa, ouo chefe, não avaliam o desempenho,de não saber exatamente o que seespera, ou existir num limbo: se ochefe sorrir, tem futuro; se não sorrir,é melhor não comprar aquele auto-móvel. Temos o direito de sabercomo estamos e podemos pedir. Nãohá nada errado em dizer ao chefe:“Um dia, quero ter o cargo do Nel-son. Tenho 24 anos e, daqui 15 anos,quero ser vice-presidente de RH. Oque preciso fazer para tornar issopossível?” É um exemplo bobo, mas
muitas empresas respondem. “Vocêteria que ser promovido três níveis,morar pelo menos 3 a 4 anos namatriz”. E começa o chefe a dar omapa da mina. Em empresas peque-nas, isso é ainda mais necessário,porque a probabilidade vertical émenor. Então, as pessoas têm queenriquecer-se e podem se auto-gerenciar horizontalmente.
GRACIOSO – O Mariaca mostra oponto de vista da empresa. Como eladeve ajudar os funcionários nesseproblema. Mas, e as escolas? O queestão fazendo e o que deveriam fa-zer? O módulo que você, Fátima,citou – “Fator humano como diferen-cial competitivo” – foi planejado sobo ponto de vista da empresa. Como
a empresa utiliza o seu RH – seu fatorhumano – para ganhar diferenciaçãocompetitiva. Em momento algum,pensamos no aluno, no funcionário;pensamos mais no que ele poderiafazer pela empresa. Ousaria dizerque, ainda hoje, a tônica é esta. Namaioria dos cursos de graduação epós-graduação, naqueles semináriosespeciais do último ano, um dos tó-picos sempre é a carreira. Como vocêvai se portar, o que deve fazer. Mas éum tópico de 20 horas-aula num pro-grama que tem 3.200. No pós-gra-duação, há um consultor que ajudao candidato a montar o seu currícu-lo, mas nós ainda não pensamos se-riamente neste problema, que pare-ce estar na cabeça de todos vocês.Planejar a própria carreira e, de cer-
Mesa redonda
91J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
ta forma, considerá-la mais importan-te do que as empresas para as quaistrabalhamos. Creio que nós, da aca-demia, deveríamos também revernossos conceitos.
NELSON – Queria continuar nessatrilha que o Prof. Gracioso abriu,porque sou um apaixonado poresse tema e procuro analisar o pro-cesso como um todo. Por exem-plo, vamos falar da inclusão dojovem no mundo do trabalho. Essaplataforma é constituída poralguns pilares: o dos jovens, o domundo acadêmico, o dasempresas, dos prestadores deserviços ou dos facilitadores daentrada dos jovens no mundo dotrabalho. O mundo globalizado
pede e incentiva interação. Há di-ficuldades de diálogo entre osdiferentes grupos que estamosanalisando. Se analisarmos ascompetências que estão aí – téc-nicas e comportamentais que oaluno é o principal cliente, que vaiabsorver o conhecimento geradopela academia – fica menos difícilfazer alguma coisa. E as competênci-as preponderantes, no processo de es-colha, são as que vocês menciona-ram – as comportamentais. Namedida em que me fortaleço – saben-do quais são as minhas fortalezas efraquezas –, eu irei para o merca-do de trabalho levando o nome daentidade acadêmica que me pre-parou e sabendo como vouparticipar deste processo.
MARIA TERESA – Acho que muitaspessoas escolhem o emprego pelonome da empresa. Claro que estamosfalando de profissionais qualificadose bem treinados aqui na ESPM. E,muitas vezes, a empresa não satis-faz, não tem a cultura com a qualvocê se identifica, ou o cargo em quevocê quer se desenvolver, ou que lheoferece as oportunidades de carrei-ra, ou o projeto de vida que vocêquer. Então, trabalhar no Bank ofBoston é diferente de trabalhar noBradesco. São do mercado financei-ro, mas têm culturas diferentes. E tudotem que casar, como disse a Fátima:você tem um projeto de vida, sabe oque quer fazer, aonde quer chegar,mas tudo tem que casar com a cul-tura de uma organização. yw
“Para criar 10milhões deempregos,
bastaria admitir10 milhões depessoas que
trabalham para ogoverno.”
EMPREGO & EMPREGABILIDADEEMPREGO & EMPREGABILIDADE
92R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
FÁTIMA – Esse é um ponto impor-tante. Quando eu, como profissio-nal, sei e vou buscar o que quero,com certeza, darei para a empresao melhor. Torno-me um fator huma-no com diferencial competitivo, nasempresas, quanto mais apropriar-me daquilo que realmente quero edas minhas competências, das mi-nhas forças, fraquezas.
GRACIOSO – Portanto, você não vêcontradição.
FÁTIMA – Não. Eles são comple-mentares. A partir do momento emque defino o que quero e vou bus-car, vou-me colocar na empresa comtodo o vigor, com toda a minha for-ça porque estarei vendo significadono que estou fazendo. Se simples-mente procuro o nome de uma em-presa e não alguma coisa em que,de fato, eu possa fazer diferença, es-tarei sempre pela metade, procuran-do o salário adicional, o bônus, e te-rei dificuldades para verificar qual oreal valor daquilo que eu faço. Vejoisso claramente, tanto nos clientesquanto nos estagiários, que os me-lhores são aqueles que estão fazen-
do o que fazem por escolha, por seruma escolha verdadeira.
MARIA TERESA – Publiquei, no anopassado, na Você S/A, uma capa,“Sucesso, a paixão faz a diferença”,e citei uma pesquisa feita nos Esta-dos Unidos, que incluiu 1.500 ex-alunos de MBA das melhores esco-las e perguntou a eles: “Há vinteanos, por que você escolheu o pri-meiro emprego, depois do MBA?”. E1.245 disseram: “Escolhi porque eraa melhor oferta financeira”. Os ou-tros duzentos e poucos escolheramporque era o que queriam fazer navida. O que aconteceu, vinte anosdepois, com essas pessoas? Nessegrupo de 1.500, havia 101 “milioná-rios”, gente que tinha ganho mais deum milhão de dólares. E, desses 101,somente um vinha do grupo dos1.245 que tinham feito a primeiraopção de emprego por causa de sa-lário. Então, se o que a Fátima diz éque se você escolher pelo que vocêquer, terá mais chance de sucesso –há uma pesquisa que comprova isso.
SÉRGIO – Será que o sonho das pes-soas é se alocar na empresa e a ques-
tão da paixão no trabalho é a ques-tão do sujeito? Na verdade, os alu-nos não se vêem como sujeitos; mascomo objetos de que a empresa vaise apropriar. O estudante que se co-loca como sujeito tem muito maisprobabilidade de ser um desses mili-onários do que aquele que optoupela melhor empresa. Percebo issona prática quando oriento os traba-lhos de conclusão de curso e pergun-to ao aluno o que ele gosta defazer.Uma vez, um aluno respondeu:“Gosto de passear em shopping”. Eaí perguntei se ele tinha alguma coi-sa com varejo. Esse aluno fez o TCCsobre shopping e hoje trabalha naProvar. Exatamente o que você colo-cou. Primeiro, nós temos que darautonomia para o aluno. Fazer comque, na aprendizagem, ele seja o su-jeito do processo; e não objeto. Em salade aula, ele deve ser colocado comoalguém que vai buscar conhecimentoe não só informação. O que eu achoque a escola poderia fazer – e já temfeito, mas poderia otimizar – é: pri-meiro esta questão do ensino-apren-dizagem. No Brasil, também é maisdifícil fazer pesquisas como essa,porque a nossa cultura não está aber-
Mesa redonda
93J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
ta para que a academia esteja pre-sente dentro das empresas. A partici-pação dos professores em pesquisaé fundamental para que os cursos te-nham as empresas como objeto deestudo e não como algo irreal.
GRACIOSO – Talvez, haja nas pró-prias escolas material de pesquisaque está esperando para ser utiliza-do. Por exemplo, sabemos que, noano passado, 69% dos formandos donosso curso de Administração con-seguiram o primeiro emprego emempresas multinacionais. Aqui entrenós – isso é uma aberração, num paísonde as pequenas e médias empre-sas – vocês acabam de dizer – ofere-cem mais empregos do que as gran-des. A área de serviços está totalmen-te esquecida pela maioria dos nos-sos alunos, que procuram o quê? Nãosei bem, talvez a segurança, a ima-gem fabulosa que tem a multina-cional. Talvez devêssemos – daqui acinco anos – tentar descobrir o queaconteceu com esses alunos que fo-ram para as multinacionais, e os queforam para pequenas empresas. Nun-ca nos preocupamos muito com isso– a empregabilidade. Porque, atéagora, nas boas escolas, como anossa, pelo menos, não era tão di-fícil para os alunos conseguir bonsempregos. E está ficando cada vezmais difícil. Mas, fale um poucomais da pós-graduação, Fátima. O queacontece com os executivos de 30anos que querem – não o primeiroemprego – mas melhorar na carreira?
FÁTIMA – Na pós-graduação, tenhoprofissionais que estão em grandesempresas multinacionais e estão fe-lizes e outros infelizes. E há profis-sionais em empresas nacionais mui-to felizes. Encontro pessoas felizes einfelizes dos dois lados, e encontrotambém muitas pessoas desemprega-das, nos cursos de pós-graduação,
tentando conseguir mais competên-cias para se empregar. Porque hoje,ter um curso de MBA já é comum;não é mais um diferencial. Mais umavez, o que diferencia não é a forma-ção da pessoa, mas o comportamen-to que ela tem. Muitos profissionaiscomeçam a pensar em ter o seu pró-prio negócio, porque começam aperceber que nas empresas sãodescartáveis – porque não desenvol-veram as competências que deve-riam ter desenvolvido. Então, fazerum MBA, um pós-graduação, sem terum planejamento claro da própriacarreira, não adianta. É mais um títu-lo, mais letrinhas no currículo masque não têm significado. A questão,hoje, que devemos discutir, e discu-tiremos muito mais, é: “Por que vocêestá fazendo isso? Qual a compe-tência que você quer acrescentar?”E não só em termos de conhecimen-to, mas de sabedoria, onde você uneconhecimento e compreensão –para fazer diferença.
NELSON – Uma alternativa que nós,de fora da academia, percebemos éestabelecer gols realmente men-suráveis. Se sou professor e dou aulasno pós-graduação, tenho que atingiralguns objetivos e não só atender àshoras que me foram concedidas, parafalar as coisas que tenho que passare concluir o curso. Tem que existiruma medida de valor agregado, nãosó para o estudante como para aempresa que está por trás doestudante. Se trabalho na Escola erecebo alunos que querem partici-par do pós-graduação, antes deinscrevê-los, devo entrar em contatocom a empresa e verificar qual é oprocesso de gestão de talentos e osplanos que a empresa tem paragerenciar aquela pessoa. Às vezes,cria-se ilusão, fantasia. A empresa, defato, não sabe o que fazer com aque-le indivíduo. Como não houve con-
versa, a pessoa fica frustrada e, depois,vai criticar a academia e vai voltar paraa empresa sem produzir aquilo queera esperado. O que está faltando émais entendimento, porque compe-tências, nós temos.
MARIACA – Concordo, mas, quan-do falei sobre a necessidade de ensi-narmos os nossos jovens a serem maisautônomos e gerenciar a própria car-reira, é porque acho que empre-gabilidade precisa significar renda efelicidade. Empregabilidade não éapenas ser empregados de algumaempresa; é ter renda para cobrir asdespesas, até o último dia de umavida, que está cada dia mais longa.Há 100 mil norte-americanos commais de 100 anos de idade, e o nú-mero está crescendo a 9% ao ano etodos os fundos de pensão – privadosou públicos – estão quebrando porcausa disso. Então, empregabilidadequer dizer renda para cobrir nossasdespesas, a felicidade merecida etranqüilidade, que pode vir da apo-sentadoria e/ou de um salário, e/oude uma segunda carreira, e/ou de umnegócio próprio que precisa ser pro-tegido. Podemos herdar, podemoscasar com alguém rico, mas tem queser protegido – o mundo está cheiode ricos ex-casados. Podemos pedirapoio a nossos filhos, podemos fazerbicos e trabalhar como assessores,consultores, free-lancers. A misturadisso envolve para muitos – especial-mente os formandos de uma excelen-te escola como esta – uma longa fasecom salário, salário e benefícios atéem boas empresas. Porém, acho im-portante ensinar que renda e felicida-de não são somente oriundas do sa-lário, mesmo porque está mudandoo mix. Se olharmos um dado do de-partamento eleitoral dos Estados Uni-dos, como exemplo: é assustador verque, em 1900, 50% dos norte-ameri-canos “empregáveis” eram autôno- yw
EMPREGO & EMPREGABILIDADE
94R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
mos. Caiu drasticamente, até o pontomais baixo em 1977 – apenas 7% dosnorte-americanos eram autônomos. Omeu sonho, quando me formei em1969, era ser presidente da Du Pont.Entrei na Du Pont para ser presidente.A partir dos anos 60, isso começou amudar com terceirizações, temporá-rios, produtividade, menos camadasgerenciais etc. Chegou o ano 2000, e26% dos norte-americanos empregáveiseram autônomos – e acredito que vaiestacionar em 2010, em 41%. Querdizer, quase que um ciclo de 50 até 7e voltando a 40%. Isso está aconte-cendo porque estão sumindo os em-pregos? Não, necessariamente.Mas as empresas estão se reestru-turando para eliminar averticalização – porque não é corebusiness – estão terceirizando e, aí,entra uma série de fatores: casais po-dem ter filhos, porque a mulher podeser a vice-presidente financeira e o ho-mem pode sair e, através da Internet,ter um negócio próprio em casa, aju-
dando a criar os filhos ou vice-versa.Existe um mundo de inter-conectividade que facilita muito umtrabalho autônomo.
GRACIOSO – Isso é real ou équimera?
MARIACA – É absolutamente real.
JRWP – Nesta Revista, temos sem-pre uma mesa-redonda e uma entre-vista. A dessa edição foi justamentenuma grande empresa de RH e im-pressionou-me o que disseram sobreessa mudança, no mercado de tra-balho, que você está descrevendo.Há uma tendência “maniqueísta” deachar que as pessoas ou são empre-gados ou são autônomos. E, no en-tanto, as pessoas, hoje, são empre-gadas, são autônomas, têm umaatividade familiar e cria-se umapluralidade na intervenção individualno mercado de trabalho. Não deve-mos ficar tão presos a uma única
opção: carreira como empregado oucarreira como empresário.
GRACIOSO – Minha dúvida é de queisto seja realmente significativo, noBrasil. Esta situação não será mais tí-pica de economias mais avançadascomo a norte-americana? Será queestamos mesmo caminhando paraesse paraíso, aqui no Brasil?
MARIACA – Não é um paraíso. Temmuitos pontos negativos, incertezas,inseguranças. Mas, se olharmos parao Brasil – como a Maria Teresa – paraver que 50% do emprego está nasempresas pequenas – às vezes, bempequenas – e 62% da criação da ri-queza nacional é no setor de servi-ços... Se isto está acontecendo, é re-flexo do que acontece no mundo. Asempresas grandes continuam, aJohnson & Johnson vai continuar sen-do um diamante, só que boas carrei-ras existem dentro e fora de diaman-tes e até para fornecedores autônomos
Mesa redonda
95J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
de diamantes. E há muitos diaman-tes. Nós temos duas atividades há ca-torze anos. Somos uma das principaisempresas de headhunters, e somossócios da Lee Hecht Harrison, que éa maior empresa global que ajuda nasaída de executivos – o outplacemente coaching. Muitos dos executivosque saem das grandes empresas sereempregam e muito bem. Outrosformam negócios próprios, outrosenfrentam situações interessantes. Vi-mos, por exemplo, um diretor de umafundação de renome passar a ocuparo cargo três dias por semana, porquea empresa quer ter essa pessoa comodiretor estatutário com essa bagagem,mas não quer e não precisa dele cin-co dias por semana. Então, os outros40% do seu tempo ele dedica a ou-tras atividades – uma carreira parale-la ou não. Temos que preparar os jo-vens para que gerenciem a sua pró-pria carreira dentro ou fora de umaempresa grande, ou dentro ou forade uma empresa ou até dentro da
própria empresa. Porque lidar comincerteza e ambigüidade é uma dascompetências técnicas mais im-portantes hoje; não só as com-portamentais.
FÁTIMA – O autônomo tende a cres-cer muito, no Brasil. Não precisamos– e não devemos – entrar nessa ques-tão dos custos trabalhistas, mas comoas empresas estão procurando alter-nativas ao custo trabalhista isso tam-bém gera crescimento para osautônomos. Conheço uma empresaque está na lista das 100 melhorespara se trabalhar no Brasil, e 90% doseu pessoal são pessoas jurídicas; nãotêm carteira assinada. O vínculo des-sas pessoas não é formal; é afetuoso.Eles gostam de trabalhar naquela em-presa, mas não têm carteira assina-da, e nem os benefícios garantidos.Mas é uma alternativa que se está cri-ando, no Brasil, ao emprego formal.É algo com que vamos aprender aconviver. E, também, esquecer a
questão da carteira assinada ser oúnico ponto de estabilidade; a esta-bilidade nada tem a ver com umacarteira assinada.
JRWP – Embora seja um símbolo po-deroso, que ambos os candidatos àpresidência usaram nas suas campa-nhas eleitorais.
NELSON – Esse processo de migra-ção das pessoas, do ambiente em-presarial para a prestação de servi-ços, também tem a ver com a mu-dança global que estamos vivendo.Quando você avalia o processo pro-dutivo da sua organização e verificaque o seu coração de negócios estácheio de outras atividades que po-deriam ser desempenhadas por pes-soas mais especializadas, você fazcom que essas pessoas saiam desseambiente e coloca foco no seu ne-gócio. Porque o seu concorrente tam-bém está fazendo isso, e, se é comer-cialização, vamos nos especializar
“Comoprofessores,deveríamos,
cada vez mais,incentivar os
alunos a pensar.”
yw
EMPREGO & EMPREGABILIDADE
96R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
em comercialização. As atividades fi-nanceiras, jurídicas, de RH, infor-mática – que são as mais tradicionaise que poderão passar por processosde terceirização ou de prestação deserviços – se elas tiverem pessoas quefazem aconselhamentos e orientamesses indivíduos, pois o mundo dotrabalho não está restrito à empresa,a vida vai ser melhor.
GRACIOSO – Curiosamente, Nel-son, nossas leis trabalhistas estão to-talmente em desacordo com essa ten-dência. Como é que no mundo real,na prática brasileira estão conseguin-do conciliar as duas coisas? Porqueo INSS, o FGTS e outros organismosque se julgam com direito às suaspartes estão atentos, para entrar emcena sempre que há alguma coisadiferente acontecendo.
JRWP – Até considerando, ilegal,essas estruturas como a que vocêdescreveu.
FÁTIMA – É ilegal. Qualquer pessoaque trabalha lá pode sair e processar.
GRACIOSO – Como uma empre-sa pode enfrentar a lei se 90% deseus funcionários não têm vínculotrabalhista?
MARIACA – Eu me orgulho de serparte de uma empresa de 50 funcio-nários e ter 50 registrados com todosos impostos e carteiras assinadas.Mas, acredito, que somos uma aber-ração e quero...
MARIA TERESA – A Abril tambémestá nessa situação.
MARIACA – A Abril é muito grande.Estou falando de empresa com 50pessoas que fazem isso, é uma aber-ração. Certamente, muitas outrasempresas de consultoria têm bicos,
novos conhecimentos. Como ensiná-los?
MARIACA – Acho que a escola pre-cisa ensinar uma série de práticas e,às vezes, isso não acontece. Porexemplo, um engenheiro estudandono MBA; dei aula – a convite do prof.Júlio – no MBA que vocês têm, emparceria com o ITA, e acho uma mis-tura maravilhosa. Foi uma das me-lhores aulas das quais participei navida. Um engenheiro com um MBA,há muito anos, é considerado umamistura ideal porque o engenheiroaprende a aprender – é uma peneirade inteligência acadêmica muito boa– e o MBA lhe dá, em um ano e meio,dois anos, de maneira concentrada,tudo o que acontece dentro de umaempresa. E engenheiros não perma-necem engenheirando. Possoprepará-los para serem cientistas,gerentes ou donos de empresas.
JRWP – Isso não seria verdade, hoje,em todas as profissões?
MARIACA – O que estou dizendo éque isto é altamente prático. Um MBAnão deveria admitir formandos recen-tes. Um MBA de Harvard, Wharton,só aceita profissionais que tenhamtido, pelo menos, cinco anos de su-cesso, chegando a um cargo quaseque de direção para ser aceito. Por-que essa é uma maneira de garantirque vai haver um comportamentoprático e vai atualizar um desafio.
JRWP – Mas quando você fala deWharton, está falando de um pe-queno percentual e, hoje, a socie-dade do conhecimento está em to-dos os níveis.
FÁTIMA – Acredito que nós, comoprofessores, deveríamos, cada vezmais, incentivar os alunos a pensar,pequisar e fazer o que o Nelson fa-lou, que acho importante. Hoje em
“Aempregabilidadeestá associada
ao preparoconstante econtínuo.”
informais, contato, por fora etc. O“como” no Brasil grande é absoluta-mente conhecido e palpável: é bur-lando a lei. É como nos anos da proi-bição no Estados Unidos. Era ilegal,mas todos bebiam.
JRWP – O Jefferson disse que: “seuma lei é injusta, os cidadãos devemderrubá-la”. Foi lá que nasceu a de-sobediência civil.
MARIACA – Acho que é uma ques-
tão de tempo. E vai acontecer de for-ma natural. Há exceções e novosadendos, até porque, para criar 10milhões de empregos, facilmente,hoje bastaria admitir 10 milhões depessoas que trabalham para os go-vernos federal e estadual “por fora”.
JRWP – Gostaria de propor maisum tema. Há algum tempo, vive-mos a “sociedade do conhecimen-to”. A escola é fonte de conheci-mento. Como é que vocês vêem opapel da educação continuada?Será que nós, escolas, estamos fa-zendo a nossa parte?
GRACIOSO – Sabemos que háuma polêmica, não só no Brasil,como no mundo, em que sequestiona o papel dos MBAs, doscursos de pós-graduação...
JRWP – Todo mundo já tem MBA, maso conhecimento continua evoluindo, há
Mesa redonda
97J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
dia, não são só as escolas que traba-lham com conhecimento; nas empre-sas, há uma grande produção de co-nhecimento também. Então, essainteração é importante. O que aca-ba acontecendo, por vezes, com osalunos, é que querem receber pratosprontos, receitas e, aí, a produção deconhecimento pára. Também porparte dos professores, acho que hánecessidade de mais pesquisas,contatos entre escolas e empresas.
JRWP – Você está falando de con-teúdo, teoria...
FÁTIMA – A partir do momento emque as pessoas aprendem a pensar,elas estão produzindo conhecimen-to, apropriando-se do conhecimento.
GRACIOSO – Ou, pelo menos, Fá-tima, conceituando o conhecimentoproduzido nas empresas. Comovocê, não acredito que o conheci-
mento seja criado só na academia.
NELSON – Conhecimento, paramim, é como um cartão de crédito.Todos têm. O banco nos dá o car-tão, a gente usa e se chega no fimdo mês e não se paga a conta –pode até dar uma “enrolada” maisum mês, mas depois, perde ocartão. E o conhecimento éexatamente isso. Precisa serrecarregado. Por isso, que há um“buraco” – para não ficarmos usan-do palavras dos gringos – gente vaipara a escola, faz o curso de for-mação, o MBA, vai para outros lu-gares, para aprender mais algumacoisa. Mas, essa geração é, mais oumenos, perdida. E a vida é cíclica.Se analisarmos o que acontece comum jovem de vinte e poucos anosque se forma aqui, e comigo, quejá decidi qual é a próxima carreiraque vou ter, são desejos e aspiraçõestotalmente diferentes. E – na ponte
que existe entre esse jovem que vai mesuceder e eu que estou saindo do mer-cado – a escola não está aproveitandoesse nicho. O cara que tem entre 30 e40 anos é um outro indivíduo, que queroutras coisas.
JRWP – Não vamos esquecer os quetêm entre 50 e 65.
MARIA TERESA – Agora não se falamais em múltiplos empregos como sefalava antigamente, mas em carreiras.Quantas carreiras você vai ter ao lon-go da sua vida, porque a vida útil estáaumentando. O Nelson já estápensando na segunda, depois ele vaipensar na terceira.
JRWP – Ou simultâneas. Eu me lem-bro que quem dava aula à noite eramuns caras esquisitos, que durante o diaeram executivos e, à noite, eram pro-fessores. E, hoje, isso é até uma van-tagem curricular. yw
EMPREGO & EMPREGABILIDADEEMPREGO & EMPREGABILIDADE
98R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
GRACIOSO – Desculpe o meu com-portamento, um pouco anárquico.Mas, na semana passada, li no Esta-do de S. Paulo um artigo curioso emque se analisava o fosso que se estáaprofundando, entre as gerações –jovens e velhos – justamente porqueos velhos estão ficando mais tempodo que deveriam, e os jovens estãoinquietos, não vêem a hora de tomaraqueles lugares que deveriam serdeles e ainda não são. Como vocêsencaram isso?
NELSON – Quando eu falei sobreminha próxima carreira, o que esco-lhi ainda não existe no Brasil e preci-sei aprender nos Estados Unidos.Hoje, sou um coach executivo pro-fissional, para orientar pessoas jo-vens, de meia idade e pessoas queestão com idade mais avançada, ori-entar empresas e entidades. E vejoisso como uma possibilidade deminimizar toda essa polêmica. Tenhotrabalhado com as duas pontas – osjovens e as pessoas que já estão com-pletando o seu ciclo. O maior pro-blema não é com os jovens porqueeles têm a vantagem que esses nãotêm. Eles podem fazer alguma coisaerrada, tentar novamente. Os maisvelhos entram, enveredam na carrei-ra de dedicação total à empresa ondeestão trabalhando – isso não quer di-zer que eu não despenda de lealda-de com a minha empresa, mas é ex-cessiva. As pessoas colocam 901%do seu esforço, dedicação naqueleobjetivo. E o mundo não é mais as-sim. O mundo está se transforman-do. Então, a pessoa precisaria teralgum suporte, que viria daquelespilares que eu mencionei, na talplataforma. E, através dessainteração, haveria contribuição vo-luntária de pessoas que têm algu-ma experiência e querem passar essaexperiência da academia fazendopesquisas.
JRWP – Gostaria de propor uma ro-dada, para que cada um de vocês ten-tasse conceituar quais são as condi-ções, agora, de empregabilidade.
MARIACA – Depende de como sedefine empregabilidade. Se empre-gabilidade é renda até o último diacom o máximo de felicidade, achoque nossos jovens têm uma luta durapela frente, porque, no mundoglobalizado, muitos deles vão con-correr com a Índia, o Paquistão, por-que planos de engenharia podem serfeitos e transmitidos pela Internet. Ea capacitação é baixa, Brasil grande...Porque nós, ESPM, somos Whartonpara o Brasil. Dentro dessa realidade,temos que liderar uma situação deuma economia que os jovens,mesmo saídos da Wharton para o
essa capacitação, são pessoas queviajam, participam de programas so-ciais, têm a parte artística – são aschamadas habilidades. E essa ques-tão da técnica é uma questão de vocêbuscar uma informação que tenhaembasamento teórico. Porque há adiscussão sobre qual é o papel dauniversidade. Ela é muito mais do queadestrar as pessoas para o mundo dotrabalho. As empresas começaram ater suas universidades corporativas.Como as universidades não faziamseu papel, de aproximar, as empresascomeçaram a formar suas universi-dades corporativas. Então, acho queo papel das universidades vai alémdo adestramento para o mundo dotrabalho. E as condições de empre-gabilidade passam pela questão darenda. Um curso de inglês, informática,espanhol têm custo. Estamos falandodesse pequeno universo que poderá terum efeito multiplicador. Hoje, temosestudantes que se preocupam com asolidariedade, com a ONGs.
JRWP – Mas, eles não precisam tra-balhar de graça nas ONGs.
SÉRGIO – Não, necessariamente.Isso é uma profissão. Esse pequenogrupo tem habilidade e competên-cia, e a parte emocional, que é mui-to forte hoje, porque o estudanteentra na faculdade muito jovem. Es-sas três questões: técnica, emocio-nal e a capacidade de inovação, sãoas condições básicas para aempregabilidade.
NELSON – Penso que a empre-gabilidade está associada ao preparoconstante e contínuo da pessoa. Seum indivíduo tem consciência de quea renda é conseqüência do nível deconhecimento que uma pessoa vaiter... Isso é difícil porque a gente temque começar a plantar isso não nauniversidade; mas nos cursos médios.
“As empresascomeçarama ter suas
universidadescorporativas.”
Brasil, têm competência de entrada decarreira menores e custos maiores, im-postos agravando. E esse é um proble-ma muito sério.
JRWP – E empregabilidade? Quaissão as condições?
SÉRGIO – É a técnica emocional e acapacidade de inovação. Como oProf. Gracioso disse, acho que de-pende das condições e de qual reali-dade estamos falando. Se falarmosdos alunos da ESPM, acho que tra-balhamos bem com isso. Eles têm
Mesa redonda
99J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
É em casa que temos que dizer: “Meufilho, a vida é difícil, não é feita demilagre. Você quer ter sucesso, renda,mas há um caminho difícil a ser trilha-do”. Nada cai do céu. Há as pontas:os muito pobres e os muito ricos. Masas pessoas que fazem parte da norma-lidade têm que desafiar e serem desa-fiadas e têm que procurar. E só há umcaminho: o conhecimento. Existemalguns indicadores. Por exemplo, se apessoa, além de ter o conhecimentoformal, for boa na competênciacomportamental, alguém vai olhar paraela e dizer: “Acho que essa pessoa seadapta a esse grupo”.
MARIA TERESA – Quero acrescen-tar algo. Empregabilidade tem a vercom tudo isso que vocês falaram, mastem a ver também com fazer tudo aomesmo tempo. Ou seja, trabalhar,estudar e ter lazer, prazer em tudoque se faz, porque você não podemais dissociar seu tempo de lazer doseu tempo de trabalho, senão vocêenlouquece. A maior parte do nossotempo acordado é passado dentro dotrabalho. Então, o trabalho tem queser uma fonte de lazer, uma fonte deestudo e uma fonte de inspiração efelicidade. E a Internet ainda leva otrabalho para a nossa casa. Então, sevocê estiver fazendo um trabalho quenão lhe dá felicidade e não lhe ensina,você está perdendo empregabilidade.
FÁTIMA – Acho necessário falar emampliar a consciência. Quer dizer, aempregabilidade está associada aquanto de consciência nós temos emrelação às nossas escolhas, ao que omercado quer, para onde vai, ao queme dá prazer, às minhas competên-cias, onde vou investir meu tempo,meu dinheiro, para estar ampliandoas minhas competências. E, a partirdaí, empregabilidade é algo com queo jovem tem que se preocupar, oadulto tem que se preocupar até a
morte porque eu quero ter a minhamarca até quando eu morrer. Queroque a minha marca fique no univer-so também depois da minha morte.Para isso é preciso ter uma consciên-cia ampliada. Qual é o seu papelno universo? Ser empregável é in-vestir nas competências que sãoduráveis, permanentes e, ao mesmotempo, vão sendo flexibilizadas nodecorrer dos anos.
JRWP – Passo a palavra ao Graciosopara tentar a difícil missão de somar.
GRACIOSO – Não seria nem neces-sária essa súmula, porque vocês fo-ram muito claros. Com palavras di-ferentes, todos disseram algo mais oumenos assim: empregabilidade é acapacidade de nos mantermos atuais.E isto, portanto, tem mais a ver coma gerência da carreira pelo próprio
portanto. Conversando com o Prof.Eduardo Najjar – que também parti-cipou desse fórum que você descre-veu, Nelson –, ele me disse que umdos temas discutidos foi o quê fazercom os trainees, em muitas empre-sas. Naturalmente, não em todas, poisdeve haver muitas empresas com ex-celentes programas, que não desper-diçam o talento que têm nas mãos.Mas, outras perdem-se, desvirtuam osprogramas de trainees e perdem ex-celentes oportunidades de burilar osdiamantes brutos que têm nas mãos.As escolas também ainda não com-preenderam bem duas coisas. Primei-ro, temos que ajudar os jovens – e issovale também para os executivos depós-graduação – a planejar e respon-der pela sua carreira, e não culparninguém a não ser eles próprios. E,segundo, temos de prestar maisatenção aos aspectos comportamen-tais, que não sei até que ponto po-demos ajudar. Porque a pergunta queo Nelson fez, com outras palavras, é:“Será que a universidade pode influirno comportamento do indivíduo, ouele já vem com vícios e virtudes deformação que o tornam imune a tudoaquilo que tentarmos fazer?” Enfim, éuma pergunta, não é nenhuma afir-mação. As universidades e as escolasde modo geral, e as escolas de van-guarda teriam de compreender me-lhor esse fenômeno, teriam depesquisar mais, com a mesma serie-dade que pesquisamos as vantagenscompetitivas das empresas e outrascoisas desse tipo.
JRWP – Acho que as palavras fi-nais do Gracioso foram muito ade-quadas, já que um bom debate –como uma boa aula – não devecriar certezas, mas sim levantarboas perguntas. Vamos encerrar,certos de que todos continuarãoprocurando a resposta a essa e aoutras perguntas.
“Você não podemais dissociarseu tempo delazer do seu
tempo detrabalho.”
indivíduo do que qualquer outra coi-sa. O Mariaca pôs a mão no pontocerto. Vocês foram também precisose objetivos, ao identificar falhas nodesempenho tanto das empresasquanto das escolas, admitindo-se queo ideal seria ajudarmos o indivíduoa caminhar nessa direção. Nem aempresa, nem a escola ainda com-preenderam bem do que se trata emuito menos se decidiram a atuarseriamente nisso. É um desafio duplo, zx
EMPREGO & EMPREGABILIDADE
100R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
P
Entrevista
ara a entrevista dessa edição, cujotema é emprego e empregabilidade,pesquisamos, entre as empresasespecializadas em RH, uma que pu-desse unir a amplitude de uma pre-sença internacional com o conheci-mento específico do mercado brasi-leiro. Quem acabou nos orientando,durante uma visita sua ao InstitutoCultural ESPM, foi Hilda UlbrichtSchützer – no passado uma publici-tária famosa pela competência epioneirismo entre as primeiras pro-fissionais brasileiras – hoje se dedi-cando full time à área de recursoshumanos. Hilda é consultora daRightSaadFellipelli, empresa brasilei-
ENTREVISTA
ra com 5 anos de operação, hoje as-sociada à Right ManagementConsultants, uma das maioresmultinacionais do setor.
A indicação resultou em outra sur-presa. Nosso habitual entrevistado –ou entrevistada – transformaram-seem duas. Adriana Fellipelli e ElaineSaad dirigem essa empresa interna-cional, no Brasil, como suas princi-pais sócias e concederam-nos a en-trevista em dupla. Tratam-se de duasjovens executivas que representamquase perfeitamente sua clientela emercado de trabalho. Ambas gradua-ram-se em psicologia, especializan-
do-se, depois, em administração.Adquiriram uma experiênciadiversificada no mundo dos negóciose são, atualmente, requisitadasconferencistas em encontros e semi-nários, tanto na sua área profissionalcomo na acadêmica.
Trafegando com naturalidade entreesses dois mundos – o da empresa eo da escola –, Adriana e Elaine pro-piciam-nos, com suas respostas edepoimentos, valiosos insights sobreas importantes e urgentes questõesno mundo do trabalho e do empre-go no Brasil.
JRWP
COM ADRIANAFELLIPELLI EELAINE SAAD
ADRIANA ELAINE HILDA
Foto
s: JR
WP
101J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
Revista da ESPM – Trabalho ouemprego?
ADRIANA – Essa é uma questão quetem vários lados: o lado do merca-do, o lado do profissional e o da eco-nomia. A coisa está caminhando paraum a solução de trabalho-renda –que é a própria definição deempregabilidade –, em vez do em-prego formal. Para o mercado, preci-sa haver uma flexibilização da lei tra-balhista – uma reforma trabalhista.A mensagem que o mercado estádando é: trabalho e renda. Mas ogoverno diz: “Não. Tem de haver em-prego”. É complicado ter um funcio-nário que ganha mil reais e custa doismil. Isso faz com que o empresariadodiminua a geração de emprego e so-brecarregue quem o tem.
Revista da ESPM – Isso é uma coi-sa brasileira?
ADRIANA – Não. Mas é bem maispesada aqui no Brasil.
Revista da ESPM – Como é quefunciona nos países que a gente cha-ma de desenvolvidos?
ADRIANA – Nos Estados Unidos,por exemplo, quando se vai demitiralguém, não tem que pagar os 40%obrigatórios, como aqui no Brasil.Eles podem demitir a qualquer mo-mento. Na carteira profissional, po-dem abaixar o salário. Há muita in-dependência.
Revista da ESPM – E vocês achamque isso contribui para o progressonorte-americano? Porque, quando sefala sobre isso no Brasil, dizem quevocê está a favor dos patrões e con-tra os empregados.
ADRIANA – O que acontece é quequando o benefício dado é muito,
ele se torna prejuízo. E eu posso di-zer porque sou mulher e sou mãe.Ter uma licença-maternidade de 120dias é ótimo. Mas, às vezes, mulhe-res são preteridas em empregos, por-que vão dar esse tipo de ônus para aorganização. Aí, dizem: “Mas tem naNoruega, na Europa. Em alguns paí-ses da Europa,, a licença maternida-de é de dois anos”. É até verdade.Mas, nós temos que decidir qualmodelo vamos seguir.
Revista da ESPM – A populaçãoda Noruega não chega à da cidadede São Paulo.
toriadora, mas, ao longo do tempo,acho que houve uma migração des-se papel, que deveria ser do gover-no, para a empresa. Por isso a cargatrabalhista ficou tão alta. Porque osempregados não têm o apoio que ogoverno deveria dar. Então, além dosimpostos, você tem que pagar a es-cola particular, segurança particular– hoje – a previdência particular.Tudo particular.
Revista da ESPM – Nossa consoli-dação de leis trabalhistas é talvezevoluída, do ponto de vista social,mas na realidade que vivemos aca-ba atrapalhando.
ADRIANA – Prejudicando o empre-go. Isso pode ser constatado em to-dos os níveis, instâncias, até o em-pregado doméstico. Há uma parcelaque seria de responsabilidade delepagar e, se você fica com pena dapessoa, você paga os 100%. E a lei aprotege absolutamente. Você pode-ria dar também aquilo, mas não podeporque também a lei é unilateral, sópara os funcionários. Acho que os be-nefícios, quando excessivos, são pre-judiciais.
Revista da ESPM – Em São Paulo,fala-se muito do emprego na grandeempresa, mas essa não é a caracte-rística dominante no Brasil. Comovocês vêem o mercado de trabalhobrasileiro?
ELAINE – Acho que não mais do que8 a 10% dos empregos formais estãona grande empresa. De 90 a 95% dasempresas são pequenas e médias.Com exceção dos profissionais libe-rais, os alunos que se formavam ti-nham a expectativa de trabalharnuma empresa grande, para ganharos benefícios e para fazer uma car-reira. Hoje em dia, estão mais aber-tos para ter o próprio negócio. O
E“Não mais doque 8 a 10%dos empregosformais estão
na grandeempresa.”
ADRIANA – Temos uma colcha deretalhos, com benefícios norte-ameri-canos, benefícios da Europa. Se va-mos ter uma coisa mais protecionista,como na Europa, teremos que ter ou-tro tipo de abordagem, de legislação,de cultura. Se optamos pelo modelonorte-americano, uma economia maiscapitalista, mais voltada para os Esta-dos Unidos...
ELAINE – Nos Estados Unidos, o go-verno assume e muito dessa cargatrabalhista. Por exemplo, o norte-americano tem um auxílio-desem-prego maravilhoso, tem escola gra-tuita para os filhos, tem condução.Isso o governo norte-americano ga-rante e o nosso não. Não sou his- yw
102R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
emprego na grande empresa está ra-reando, ela tem vinte vagas e qua-renta mil pessoas inscritas. O can-didato olha isso, e pensa: “Loucura issoaqui. Se eu insistir nessa tecla, não vouter condição de empregabilidade”.Creio que o jovem de hoje está maisaberto a uma carreira de autogeren-ciamento do que há 10 anos.
ADRIANA – Como a Elaine falou, amaioria dos empregos não está nagrande empresa. Mas acho que aclasse média criou a expectativa deque os filhos façam uma boa univer-sidade – hoje em dia, um bom MBA– e que vá para uma grande empre-sa. Isso acabou criando um fato so-cial em que as pessoas querem estarinseridas. Há programas fantásticosde trainees, onde o ponto de elimi-nação é o inglês fluente. Mas há queperguntar: “E a qualidade de vida dosexecutivos, hoje?” Com quadros cadavez mais enxutos e uma pressãomuito grande, esse é o preço de umavida de executivo. Da mesma forma,o empreendedor é empreendedor namedida em que queira correr riscos– e não acho que a maioria da popu-lação queira correr riscos. O que sevê é a organização com uma estru-tura que dê suporte para os funcio-nários trabalharem. Esse tipo de or-ganização produz um determinadonível de qualidade de vida, que hojenão é boa. Não conheço nenhumexecutivo que tenha, de fato, umaqualidade de vida fantástica.
Revista da ESPM – Você fala deSão Paulo ou Brasil?
ADRIANA – Acabo falando umpouco mais de São Paulo, porque éonde tenho contatos, mas os execu-tivos vivem sob pressão...
ELAINE – Executivo de alto escalão,você não encontra muitos fora de São
Paulo. Há empresas, indústrias,que têm filiais fora de São Paulomas o pessoal de nível superiorconcentra-se aqui.
Revista da ESPM – Vi uma estatís-tica que dizia que o Brasil é o paísque tem o maior número de empre-sa em todo o mundo, fora os EstadosUnidos. O brasileiro não é um povoempreendedor?
ADRIANA – Com certeza. Tem jogode cintura, sabe lidar bem com aadversidade. Quando se fala em ter-mos de qualidade de um executivo,ele tem de ser criativo, inventivo, temque ter um jogo de cintura incrível,aprender a lidar com os problemas
isso faz com que ajamos rápido.
Revista da ESPM – Tenho um ami-go que trabalha nos Estados Unidosque me disse: “Eu não tive dificulda-des aqui. Sou um executivo compe-tente para o mercado norte-america-no”. Só que ele acrescenta: “Aqui, omeu segundo escalão é bem maiscompetente do que o segundo esca-lão que tinha no Brasil”. Ele está fa-lando de competências da secretá-ria executiva, de um gerente médio,uma assistente, e afirma que têm me-lhor qualidade lá do que aqui.
ADRIANA – Lá eles são mais bemformados, têm uma formação melhordo que a nossa. Agora, há duas ca-racterísticas que formam o profissio-nal de alta performance. Uma é o queele sabe fazer e tem a ver com a for-mação dele; a outra é como ele exe-cuta aquela formação e que tem aver com o jeito de ele ser. O que obrasileiro tem de melhor é o “como”ele faz. Isso é a natureza do brasilei-ro. Mas a formação dele fica preju-dicada. Hoje estamos correndo atrásdo prejuízo. A nossa estrutura esco-lar tem falhas que precisamos rever.Ainda são muitos os que vão estu-dar nos Estados Unidos ou em uni-versidades famosas da Europa. Lá,eles realmente obtêm melhor pre-paro. O que a gente tem a nossofavor é esse “como” que vem dapessoa e nenhuma universidade for-ma. Mas as universidades de lá dãomelhor formação.
Revista da ESPM – Então vocêsacham que as escolas – as universi-dades brasileiras – poderiam estardando uma melhor formação.
ELAINE – Não devemos responsa-bilizar só a faculdade. As pessoas pre-cisam de boas escolas desde peque-nas. O que ela vai ser, como adulto,
“E com tantossobressaltos e
problemas - issofaz com que
ajamos rápido.”
com prontidão. Isso torna o execu-tivo muito bom – e faz também comque as pessoas sejam empreende-doras –, ter sido treinado para lidarcom a dificuldade. O tipo de socie-dade que temos hoje, formada nadificuldade, inclusive de segurança,faz com que a gente tenha reaçõesrápidas, seja criativo, preventivo.Não só “remediativo”. Há povoscom uma estrutura de sociedade tãoestruturada, que acabam sendo maisremediativos, porque demorammuito para ter reação, para mudaralguma coisa. Como nós, aqui, te-mos tantos sobressaltos e problemas,
Entrevista
103J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
é o resultado de um longo investi-mento na capacidade de se desen-volver. Num país desenvolvido,como os Estados Unidos, as criançaspobres ou ricas têm mais ou menosas mesmas possibilidades de estudo.Então, elas chegam bem preparadasà universidade. Além disso, há umaquestão cultural. O norte-americanotem características de personalidadediferentes do brasileiro. Eles são umpovo realizador. Eles fazem aconte-cer. O brasileiro é mais criativo, maisinovativo, adaptativo – mas tambémdispersivo. Quando se tem uma ca-racterística realizadora, o trabalhoaparece mais. Mas nós temos pesso-as, em nível bem operacional, quetêm uma criatividade, uma adapta-ção, que você não vê lá fora. Lá, oesquema é: Qual é o meu trabalho?Então, entro às 9 e saio às 5, e pron-to. Nós vimos em uma reunião, naFiladélfia, disseram-nos: “Nunca vi-mos executivos tão criativos e inova-dores quanto os brasileiros”. É essahistória de ter que “se virar”. Já o povonorte-americano, desde pequeno,tem tudo muito estruturado: a esco-la, a casa, o carro...
Revista da ESPM – Uma expec-tativa de que as coisas ocorram decerta forma e é assim que elasacontecem.
ELAINE – E o governo garante. Oser humano é produto da naturezamais ambiente. Como ele vem de umambiente estruturado, quando foradulto, vai ser uma pessoaestruturada. Acho que é a isso queseu amigo se refere. Você vê a ques-tão da realização num escalão me-nor. Isso faz uma diferença enorme.Agora, se você precisa de uma coisafora do padrão, é complicado. A gen-te vê isso aqui no dia-a-dia. Às ve-zes, você liga e diz que precisa deuma coisa diferente e as pessoas se
assustam porque precisam de umtempo para entender como vão fa-zer, porque saiu da rotina. Não es-tou criticando, dizendo que é bomou mau, só dizendo a constataçãode uma característica.
Revista da ESPM – Quando a gen-te contrapõe empreendedorismo Xempregabilidade, será que nãoestamos propondo uma falsadicotomia?
ELAINE – Acho esse um dos pontosmais importantes da sua pauta. A uni-versidade não está fazendo o seu pa-pel. Acho que a maioria delas vê oseu trabalho como começar no pri-meiro ano e terminar no quinto. E aíjoga no mercado profissionais nãopreparados para uma construção decarreira. Tem um autor chamadoCharles Handy que escreveu sobremercado de trabalho futuro. Há umateoria dele que ele chama de “A or-ganização em trevo” (vide Fig. 1). Eletem a seguinte teoria: A organizaçãodo futuro será composta por quatro
quadrantes que se inter-relacionarão.Num primeiro quadrante vão estaras pessoas que fazem parte do core-business da empresa. O que é isso?São pessoas que trabalham full timepara a organização e que defendema estratégia dela. Eu não posso, porexemplo, trabalhar para a Right SaadFellipelli e trabalhar para o concor-rente direto dela porque detenho aestratégia da organização. Só queesse quadrante está e será reduzidoa 30, 40% do que ele já foi. Ou seja,se eu trabalhava com 100 pessoas nomeu core-business, vou poder traba-lhar com 30 ou 40, porque eu tenhoos outros quadrantes. No segundoquadrante estão os meus clientes eos meus fornecedores; no terceiro, asempresas terceirizadas e quarteirizadas;e, no quarto quadrante, eu tenho fun-cionários temporários ou interinos atéem nível executivo. Essas empresasse inter-relacionam, ou seja, existemfornecedores, que servem a dois tre-vos, ou executivos temporários quetrabalham em mais de uma organi-zação. Apenas o primeiro quadrante
A ORGANIZAÇÃO EM TREVO – CHARLES HANDY
“CORE BUSINESSDA EMPRESA” CLIENTES
E FORNECEDORES
PROFISSIONAISTEMPORÁRIOSOU INTERINOSEMPRESAS
TERCEIRIZADAS E/OUQUARTEIRIZADAS
B)A)
C) D)
Será 30% do que é hoje
Profissionais
trabalham full time
pois detêm a estratégia empresarial
Prestam serviços
para diversas empresas
yw
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
FIGURA 1
104R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
que permanece fechado em simesmo.
Revista da ESPM – Esse é um mo-delo para o futuro ou já estáacontecendo?
ELAINE – Para mim, ele já aconte-ce. Eu acho que a universidade temque chegar para o aluno e dizer:“Amigo, são essas as suas possibili-dades no mercado de trabalho. Sevocê quer estar no core de uma em-presa, você vai ter que ser muito com-petitivo.” Como a Adriana estava fa-lando. Você tem que ter formação,falar idiomas, trabalhar sob pressão,levar trabalho para casa, porque essaé a característica desse quadrante.Então, isso aqui é emprego formal.Primeiro quadrante. “Porém, amigo,você não precisa necessariamente teremprego formal para ter trabalho erenda. Você pode, por exemplo, serum fornecedor da organização, pres-tando um serviço que você gosta defazer. Ou pode ser um profissionalinterino – você pode prestar serviçopara várias empresas, ou ter umaempresa terceirizada que ajude a suaorganização.” Quais são as diferen-ças de competências? Se eu queroestar aqui, preciso ter tudo o que eufalei; se quero ter a minha empresa,ser um empreendedor, vou precisarassumir riscos, ter algum capital degiro, ter um tempo de investimento
– eu não tenho um retorno acelera-do desse capital; vou precisar traba-lhar muito. Não que não trabalhemuito aqui também nos outrosquadrantes, mas aqui vou ter que sairpara a rua, vender, fazer contato por-que não tenho o cheque no final domês como tenho aqui. O que queromostrar é que não há uma posiçãoque a universidade deva assumir, di-zendo: “é melhor você fazer isso, ouaquilo”. Mas dizer: “Existem essaspossibilidades. As diferenças de quevocê precisará para cada uma estãoaqui. A opção é sua”.
também devesse, em módulos sepa-rados, seguir esse modelo: este é ocore da faculdade: passar conheci-mentos técnicos de engenharia...
Revista da ESPM – Aliás, vocês jáestão convidadas a fazer uma pales-tra, na ESPM, sobre esse assunto.
ADRIANA – Como da área comer-cial, de marketing, já fico pensandonuma grande oportunidade: umaempresa, como a nossa, que possafazer esse papel para as universida-des, porque este é o nosso foco. Nóssomos especializadas em cargos, pro-fissionais, informação e em dar ex-celência a esses. Somos especia-lizadas em melhorar o ser das pesso-as e não o saber. Quem dá o saberpode ser a universidade. Esta partenão anda sem a outra. Como é quepodemos ser uma fonte ótima , paraque ela consiga unir as duas coisas eter uma alta performance? Pode-sefalar de felicidade, também, porquevocê não vai ser feliz se não tiver acombinação das duas coisas, se nãotem o saber de uma forma que res-peite o seu ser e vice-versa.
ELAINE – Você se lembra que nósfomos juntas a duas universidades,fazer esse tipo de palestra? Já faz uns5 anos. Hoje, com a maturidade queadquiri, o que percebo é o seguinte:naquela época as universidades não
“O povonorte-
americano,desde
pequeno, temtudo muito
estruturado.”
ADRIANA – Pensando até dentrodesse modelo que a Elaine está colo-cando, por que a universidade, naengenharia, por exemplo, tem de re-presentar este papel da formação ouda escolha profissional? Talvez ela
Entrevista
105J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
estavam preparadas para isso; hoje,estão mais sensibilizadas. Mas seique a universidade é um business, aescola é um negócio e o seu papelnão é o de conseguir emprego.
Revista da ESPM – Até certo pon-to. Não se esqueçam de que o Bra-sil tem 2/3 escolas particulares e 1/3escolas públicas. A escola públicaainda não se considera um business,e mesmo as particulares só agoracomeçaram a pensar assim.
ELAINE – Pois acho que a escolatem que ser administrada comobusiness e isso é um argumento demarketing para a universidade, aodizer aos clientes – os alunos: “Nãoestou só preocupada com o seu sa-ber. Estou preocupada também emlhe dar pelo menos os primeiros pas-sos para você ingressar no mercado”.
Revista da ESPM - Os alunos co-bram isso da escola.
ELAINE – Quando estivemos naUniversidade de São Paulo – que épública – os alunos tinham essa mes-ma preocupação. Muitos têm aban-donado o curso, até no quarto ano,porque acham que não vão conse-guir emprego. “Então, é melhor sairdaqui e me virar”, eles pensam. Aí ogoverno cobra: “Você tinha trintavagas, e, no quarto ano, dez alunos
foram embora. O que está aconte-cendo?”
ADRIANA – Fizemos um projetoexaustivo para a UFRJ. Nós íamosajudar os finalistas, do ensino médio,– aptos a entrar na universidade –para que a universidade não tivesseaquele peso que a Elaine mencionou.Eles queriam a ajuda de uma empre-sa especializada nisso, para fazeruma triagem e ajudá-los a fazer umaorientação. Era um projeto fantásti-co – até um projeto social – porquevocê tem a questão das favelas, o pro-blema de droga no Rio de Janeiro,onde há um mercado paralelo deemprego, de renda. Quando elesnão conseguem emprego formal,começam a ganhar um dinheiro fá-cil, não porque queiram, mas pornecessidade.
Revista da ESPM – Nem é tão fá-cil, mas é dinheiro e é muito.
ADRIANA – Esse é um trabalho queiria ajudar as pessoas, primeiro, a terchances de desenvolver as suaspotencialidades. Depois disso, ia di-minuir fortemente a dissociação como emprego, entrar na faculdade ecursar um curso que ele não quer eacabar saindo. E a faculdade perde avaga porque não tem gente entran-do no terceiro ano. Torna-se anti-econômico. Acho que há um mer-
cado aí para definir o investimentoque vão fazer, para ter o curso cheio.Essa é uma decisão empresarial.
ELAINE – Os alunos do ensino mé-dio têm dificuldade para decidir acarreira que querem, de fato seguir.Ele presta vestibular para Direito e,se consegue passar, ótimo. Se entrouem Economia, a mesma coisa. Elefica cinco anos focado em fazer afaculdade. Ninguém diz a ele que,dentro de cinco anos, ele vai ter queganhar o dinheirinho dele. Quandotermina a faculdade, recebe o diplo-ma, tem a festa de formatura, pron-to. Mas o fato é que não há diferen-ça entre a hora em que ele escolhe acarreira, a universidade, e a soluçãoque ele vai achar no mercado – oprocesso é contínuo.
Revista da ESPM – Vejo que vocêstêm algumas ansiedades – até angús-tias – em relação ao papel da escola.
ADRIANA – Fico pensando quantonós temos que responsabilizar tam-bém a universidade, a escola, poralguns papéis que deveriam ser dafamília.
Revista da ESPM – Falem sobreisso, que é muito importante.
ADRIANA – Há coisas em que a es-cola não pode substituir, a família, a yw
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
106R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
educação familiar, que os pais têmque assumir. E até pelo esquema daElaine, os pais estão investindo mui-to tempo na sobrevivência – e qual éo tempo que resta para dedicar àeducação familiar? Como psicólogas,nós sabemos a importância das figu-ras paterna e materna – o peso queisso significa para o resto da vida dapessoa – liderança, por exemplo, co-meça por aí. Então, você tem quefazer determinadas coisas que vãoinfluenciar a sua família, o seu filhonaquele momento de vida. A socie-dade brasileira é em geral muitocolaborativa, mas alguém tem depuxar o trem. Quando tivemos pro-blema de energia elétrica, todos co-laboraram, mas alguém tem que daro tom. Os pais têm uma responsabi-lidade que não é delegável às me-lhores instituições educacionais. Eletem que ser modelo, dentro de casa.Como o filho vai tratar bem os pais,se eles não tratam bem os avós? Pa-rece bobo, mas não é. Mostra comonossa sociedade é complexa, comoas coisas são interdependentes e agente não pode tratar os problemasde forma isolada. Quando digo queo sistema profissional é massacrantee não dá tempo, as pessoas têm deestipular prazos. Por exemplo, às 7da noite, estou na minha casa – façachuva ou faça sol – porque priorizoa minha filha. Se tenho que respon-der e-mail, vou fazer isso depois queela foi dormir. Mas, aquelas horas,
vou ter que ficar com ela. Tenho quetrabalhar? Sim. Mas há um aparte queé indelegável e pertence à minha fi-lha. Por mais que eu tenha babásmaravilhosas, há coisas que as ba-bás não tiveram na formação e queeu tive.
Revista da ESPM – Curioso queesse tipo de coisa é pouco debatidopublicamente.
Revista da ESPM – Nós estamosfocando a discussão em managers,quadros, lideranças, mas foi bomlembrar essa questão da mãe. É deinteresse para os leitores da Revista aquestão dos sexos na atividade pro-fissional. Gostaria de ouvir sobre essaquestão das competências dos sexos.
ELAINE – O mercado de trabalho,para simplificar, divide-se em dois.Um é a parte do management. Nes-se pedaço, a mulher era mais discri-minada do que hoje, ganhava me-nos e dificilmente ocupava papéis deliderança. Hoje, mudou. Não chegaainda a fifty-fifty. Mas a mulher estásendo reconhecida por competên-cias que o homem não tem... Nessaparte de gerenciamento, as coisastêm corrido bem. Na parte opera-cional, a gente vê a mulher –como água – infiltrando em todasas posições...
Revista da ESPM – Até juízes defutebol. Três mulheres na primeiradivisão.
ELAINE – São frentistas de postosde gasolina. Acho que a mulher –quando falamos daquela classe so-cial que, às vezes, não tem o quecomer – é mais “mão na massa”do que o homem. Ela sai à rua efaz o que precisa ser feito, não temaquela coisa machista: “Ah! Isso eunão faço”.
“Uma parte éindelegável e
pertence àminha filha, por
mais que eutenha babás
maravilhosas.”
ELAINE – Acho que temos que to-mar cuidado quando a gente fala deBrasil. O exemplo que a Adriana deué perfeito, mas é de classe média. Nopaís, 90% da população é a mulherem casa e o homem vai para a rua,pegar a condução às 4 da manhã parachegar ao trabalho e voltar às 10 danoite para comprar o pão e o leite dodia seguinte. Precisamos tomar cui-dado para não generalizar uma situ-ação elitizada.
Entrevista
107J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Revista da ESPM – É comum ohomem de classe social mais baixaque não sabe cozinhar.
ELAINE – E aí vem aquela questãoda jornada dupla da mulher, porquea América Latina é muito machista.Então, ela vai ser frentista de posto,mas quando chega em casa, tem quecozinhar, lavar roupa, pois não temempregada. Mas, mesmo nooperacional, a mulher tem galgadoposições. Aliás, na Expomanagementda Argentina, uns três ou quatro anosatrás, estava o Tom Peters num audi-tório com cinco mil executivos, e umdeles perguntou: “Se o Sr. pudessedar uma característica importante domercado de trabalho daqui a dezanos, qual seria?” Ele respondeu:“Daqui a 10 anos, vou estar nessamesma exposição, e nesse mesmoauditório estarão sentadas 80% depessoas do sexo feminino.” É algoque não tem volta. Há uma coisa in-teressante. Na pré-história, o traba-lho era braçal. Então o homem evo-luiu porque o homem é fisicamentemais forte. Mas quando o trabalhomigrou da situação braçal para a in-telectual, a mulher começou a pas-sar à frente. A mulher tem umaintelectualidade, uma competência...
Revista da ESPM – Essa adminis-tração do conhecimento é recentís-sima. Algumas décadas apenas, emmilênios. Adriana, fale sobre as com-
petências masculina e feminina.
ADRIANA – Concordo que a Amé-rica Latina é ainda muito machista.Mas é também da mulher a respon-sabilidade de mudar essa questão,porque o machismo também é esti-mulado pelas próprias mulheres. Amãe diferencia o filho... Ele não lavaa louça, mas a filha sim, ou ela arru-ma a casa e ele vai ajudar o papai.As mulheres são as grandesperpetuadoras do machismo. É com-plicado falar sobre isso, porque te-mos dificuldades nas nossas própri-as casas, por uma questão cultural.
Revista da ESPM – Eu tenho aquia edição do Economist, afirmandoque os cargos de direção ainda sãomajoritariamente masculinos. E nãosão mais de 50%; são até 90%, emcertas áreas. Queria que vocês falas-sem um pouco sobre isso. Temos re-lativamente poucas mulheres emcargos de direção, no Brasil e no res-to do mundo.
ADRIANA – O que a gente vê é quehá algumas competências que sãorequeridas, hoje, para um novo esti-lo de relacionamento entre lideran-ça e subordinado. Uma pesquisa feitapela Right mostra os fatores de re-tenção de talentos dentro das orga-nizações. Um desses fatores á a pró-pria relação com os líderes. Porque,às vezes, você está até numa marca
boa, mas as pessoas não ficam por-que o relacionamento com a lideran-ça mais próxima é, simplesmente, in-suportável.
Revista da ESPM – O que vocêquer dizer com “marca”?
ADRIANA – Marca é o branding.Por exemplo, você trabalha naVolkswagen. É um orgulho trabalharna Volkswagen, na Mercedes Benzetc. Antigamente, minha mãe, porexemplo, achava o máximo ser fun-cionário do Banco do Brasil. Quan-do você escolhia determinadas mar-cas para trabalhar, elas significavamum determinado status, uma garan-tia de desenvolvimento profissional.Hoje, essa marca, por si só, não re-tém mais, porque a liderança tem umpapel fundamental no desenvolvi-mento desse subordinado. Se vocêtiver um líder que é preparado, elevai fazer com que essa empresa sejamais engajada, mais comprometidae, conseqüentemente, dê melhoresresultados. Aí, a gente volta na ques-tão do Perfil Psicológico, diagnosti-cado pelo instrumento MBTI – MyersBriggs Type Indicator. Isso tem a vercom sexo? Acho que não. Hoje emdia, acho que tem a ver com algu-mas características que podem sermais encontradas por uma estimu-lação cultural nas mulheres. Isso nãoquer dizer que pode ser assim peloresto da vida. São essas característi- yw
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
108R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
cas pessoais que fazem com quevocê desenvolva determinadas téc-nicas de liderança que são mais pro-dutivas e vão fazer com que as pes-soas se sintam melhor e mais com-prometidas com a organização.Hoje, essas características aparecemmais nas mulheres por uma questãoeducacional, de formação, que a so-ciedade perpetuou. Mas, isso nãoprecisa ser assim, necessariamente.Há homens que aprenderam a de-senvolver essas competências.
ELAINE – As tendências de com-portamento são diferentes para ho-mens e mulheres. Isso não quer di-zer que se repita para todos os ho-mens e todas as mulheres. Tantoque uma das ferramentas que agente usa para medir o nível de QItem tabulações diferentes parahomens e para mulheres. Os ho-mens têm tendência a ser mais ra-cionais e as mulheres mais senti-mentais. A mulher consegue, po-liticamente, gerenciar uma situa-ção de conflito de forma maisequilibrada do que o homem, por-que o homem tem tendência adizer: “Não, eu que decidi.” Eleentra mais facilmente em conflito.E acho que a mulher ameniza. En-tão, alguns desses padrões de com-portamento estão fazendo comque as mulheres assumam mais de-vagar alguns cargos de direção.
Revista da ESPM – Nesta matéria,
o Economist está sugerindo que cer-tos cargos de liderança – principal-mente o “chief executive” – exigemconfronto e aí o homem estaria maisbem preparado.
ELAINE – Em algumas indústriassim. Por exemplo, banco é uma in-dústria muito “dura”. Tanto que é di-fícil ver uma mulher presidente debanco. Isso não quer dizer que elanão possa ser, no futuro.
ADRIANA – Quando você vê que– historicamente – havia mais de for-ça numa liderança e, depois, mudapara uma questão de inteligência, aprópria sociedade vai reconhecendo
tipo de inteligência para ganhar. Ogolfinho, por exemplo, é o únicoque vence o tubarão, porque não épela força. Ele é mais esperto, usao bico na barriga do tubarão e con-segue chegar ao ponto fraco dele,usando a inteligência e não a for-ça. Eu acho que a mulher é maisgolfinho, não tubarão. E golfinhoque faz outros tipos de alianças. Eo homem, em alguns momentos,precisa ser “tubarãozão”. Mas nãotemos que lutar pelos mesmos es-paços. Considero desconfortávelessa questão de disputa de territó-rio. Prefiro que cada um ocupe seuespaço, com as competências quepreenchem melhor. Vamos serdiretoras de hospitais, prestadorasde serviços, de empresas como anossa – como a Elaine e eu somos– que ajudam pessoas a se encon-trar. E deixemos a questão dos ban-cos. Você não precisa exercer umaliderança masculina para ser umbom líder.
Revista da ESPM – Mas, daqui apouco, 80% do mercado de traba-lho vai estar ocupado pelas mulhe-res, porque são essas competênci-as que o mercado pede cada vezmais. Na Escola já temos mais alu-nas mulheres do que homens. E háalunos que perguntam: “Onde estáo nosso espaço no mercado de tra-balho de comunicação do futuro?”
ELAINE – Qual é o setor que mais
“Muitosabandonam ocurso, até noquarto ano,
porque achamque não vão
conseguiremprego.”
que, como você não é forte para bri-gar com o outro, tem que ter outro
Entrevista
109J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
cresce? É o de prestação de servi-ço. A mulher é boa nisso, porqueela acolhe.
Revista da ESPM – Tenho, ainda,uma pergunta na pauta. Vivemos,hoje, numa cultura que aplaudequem demite para tornar a empre-sa mais rentável. Da minha parte,isso me deixa meio indignado.Como vocês vêem essa questão?
ADRIANA – Acho que o própriomercado responde. Quando vocêvê o escândalo da Arthur Andersen,outros escândalos etc., como é quevocê vê isso? Se você só olha nú-meros, você estimula determinadoscomportamentos dentro das orga-nizações que, por vezes, fazemcom que as pessoas priorizem so-mente os resultados e deixem delado a ética e seus valores; passa avaler tudo para se obter bons resul-tados. Tudo que é extremo não ébom, já dizia o ditado popular,como também só se pautar em re-lações e acomodações sem pensarem resultados, não funciona. De-vemos buscar atender o equilíbrioe bom-senso.
Revista da ESPM – Mas esses es-cândalos não ocorreram porquemandaram as pessoas embora; maspor terem sido desonestos e foramdescobertos.
ADRIANA – Uma coisa está ligada
a outra, porque, na medida em quesou aplaudido quando demito pes-soas para ter lucro... Eu tenho váriasmaneiras de conseguir esse lucro. Aquestão é o que está por trás. Por queuma ação sobe se estou abrindoempresas na América Latina inteira?Mesmo que o mercado não estejalegal, não vai dar lucro. Não faz mal.Se eu colocar umas estrelinhas naAmérica Latina, as ações vão valori-zar. Então, eu dirijo a empresa paraquem? Para o mercado de ações?Onde estão aqueles “statements” demissão bonitos tipo da Johnson &Johnson, ou outras empresas, quevemos e são fantásticos porque fa-zem com que as empresas cresçam?A gente tem de perguntar quais sãoos valores que nos vão nortear. Fazertudo pelo ídolo do dinheiro e valetudo, ou a gente vai ter outros valo-res? Aí entra, de novo, a questão damarca, pois vou dizer: “Eu, profissi-onal Adriana, me identifico com qualmarca? Uma marca que luta pelodinheiro e faz qualquer coisa parasubir a ação na Bolsa ou por umamarca que tem outras visões de mer-cado?” Hoje é uma tendência dosjovens escolher marcas que tenhammais a ver com seus valores, sua iden-tidade pessoal, com as quais eles sen-tem orgulho de associar o próprionome e a carreira.
ELAINE – Esse assunto é meio com-plicado. A organização não precisa
deixar de ter valores. Mas qual é amissão de uma empresa, de um em-presário? Para que o empresário pos-sa defender valores, ele precisa quesua empresa seja financeiramentesaudável. Então, ele se vê numa situ-ação de: “Não estou vendendo”.
Revista da ESPM – Quer dizer, seeu não mandar pessoal embora, aempresa fecha.
ELAINE – Pois é. Tem gente quemanda embora por mandar? Achoque até tem, para aumentar o lucro.Aí, concordo com a Adriana. Querdizer, ao invés de eu gerar mais em-prego, fico só preocupado com omeu bolso. É a história do empresá-rio rico, empresa pobre. Com issonão concordo. Mas também nãopodemos deixar de lembrar quemuitos dos papéis que o governo bra-sileiro deveria estar fazendo não está,e isso não pode onerar o empre-sariado. “Amigos, tenham menos di-nheiro, dêem menos lucro, mas nãodemitam. Porque o Brasil precisa deempregos.” Isso não está certo. Háempresários, como políticos – bemintencionados, mal intencionados –como em qualquer grupo. Mas a em-presa tem que sobreviver. Muitas ve-zes, você vê empresários que têmque demitir e sentem-se mal por isso.Mas é uma decisão que ele tem quetomar, caso contrário, todas as pes-soas que lá estão vão ficar semyw
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
110R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
emprego. Não só as mil que eledemitiu; mas as cinco mil oumais. É uma decisão difícil, emque o governo deveria tambémestar desempenhando o seu pa-pel. As pessoas estão sendo eli-minadas também em função datecnologia, e isso é um problemasocial.
Revista da ESPM – Como resol-ver isso?
ELAINE – Não se deve esquecerde que, no Brasil, o mercado in-formal é imenso. É só você legali-zar o fato porque o fato já existe.
Revista da ESPM – Mas, e a car-teira de trabalho. Nas últimas elei-ções, os dois candidatos veicula-ram comerciais com a carteira detrabalho. É um símbolo, um ícone.
ELAINE – Se os vários atores dasociedade – que são o empre-sariado, o governo, a academia –pudessem trabalhar numa equa-ção conjunta, onde eu recolhoimpostos que são devidamenteusados, tenho uma livre negocia-ção trabalhista com quem eu qui-ser contratar. Se, a partir de ama-nhã, a gente não precisasse pagartudo que pagamos de imposto, emfolha de pessoal.
Revista da ESPM – Nesse senti-do, talvez o presidente Lula este-ja em melhores condições de fa-zer esse tipo de negociação.Como vocês vêem o futuro doBanco do Brasil, nessa questão doseu mercado de trabalho?
ELAINE – Sou otimista por natu-reza. Acredito muito nesse país eacho que há muita oportunidade.Se se quiser fazer e tiver um pou-co de bom-senso, organização,
tudo é possível. Mas o mercadode trabalho vai flexibilizar. Vaichegar uma hora em que não ha-verá o que fazer, porque o desem-prego vai subir a uma taxa tãoalta, que vão abrir o portão e di-zer: “Gente, vamos lá. Faça o quevocês quiserem, mas é precisogerar emprego”.
Revista da ESPM – Está aumen-tando a desempregabilidade.
ELAINE – Não. Acho que es-tão aumentando as relaçõesinformais.
Revista da ESPM – E há a difi-culdade cada vez maior de cum-prir a lei.
ELAINE – Acho que o momentoem que estamos é intermediárioentre os dois. Entre um, onde aúnica solução que vinha na ca-beça de qualquer pessoa era:“Preciso arrumar um emprego”,estamos num momento de transi-ção para um momento que a pes-soa vai dizer: “Preciso ganhar di-nheiro. Como vou fazer isso?” Eeu acredito muito no Brasil e nobrasileiro, nesse sentido. Achoque nós estamos mais preparadospara fazer isso do que os norte-americanos. Eles têm padrõesmuito fortes, e para quebrar issovai ser difícil. Sou otimista, nessesentido. O jovem de hoje estámais aberto a se virar do que nósestávamos há vinte anos. Como aAdriana falou: a mãe dela queriaera que ela fosse funcionária doBranco do Brasil e ficasse lá 30anos. Hoje, ela não quer isso paraa filha dela, como eu não queropara os meus. Porque sabemosque se forem qualificados para sevirar, eles vão ter sucesso de al-guma forma e não vão depender
dos outros.
ADRIANA – Otimista, se é, nosentido de que temos esperançade que a coisa modifique. Masacho que temos de ser realistas,por exemplo, em relação à ques-tão da segurança. É algo que mepreocupa. Isso tem a ver com ge-ração de emprego, educação.Tudo se relaciona. E a soluçãoserá assistencialista? Esse governo,com o fome zero, por exemplo.Muitas empresas começaram ausar a bandeira do fome zerocomo uma ação de marketing. Eaí, parte do dinheiro que era des-tinado a instituições antigas – queeram positivas – saiu dessas insti-tuições. E agora elas estão comproblemas. Há também o aumen-to de criminalidade. Então, pre-cisa ver o que vai se fazer de umaforma mais geral para que possa-mos continuar sendo otimistas.Acho que a natureza do brasilei-ro é otimista. Mas precisamos serum pouco mais realistas para nãoficarmos só acreditando que vaimudar sem colocar a mão na mas-sa e fazer alguma coisa mudaragora.
Revista da ESPM – Por maissimpático que seja o presidente,a verdade é que representa umpartido basicamente interven-cionista, que acredita na maioração do Estado.
ADRIANA – Mas até para conti-nuarmos sendo otimistas, mas te-mos que ter mercado consumidor.E para ter mercado consumidor,ter pessoas com trabalho, dinhei-ro na mão e a economia girandode uma forma saudável.
ELAINE – O Lula é uma pessoainteligente e está agindo inteligen-
Entrevista
111J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Desde 1988, a Saad FellipelliOutplacement e a Coaching GestãoEstratégica vêm trabalhando com odesenvolvimento dos profissionaisdentro de ambientes organizacionais.Essa é uma tarefa em que devem serrespeitadas as diferenças individu-ais e realçadas as potencialidades,de acordo com as necessidades detransição e gerência de carreira, embusca, também, de vantagem com-petitiva.
Essas empresas brasileiras uniram-se,recentemente, à Right ManagementConsultants, empr esa internacionalde consultoria em recursos huma-nos, fundada em 1980, com maisde 200 escritórios na América doNorte, América Latina, Ásia, Orien-te Médio e África, oferecendo umaresposta rápida e competente denossos serviços, com consistência,simplicidade e flexibilidade, apoia-dos pela compreensão profunda da
cultura, dos idiomas e do mercadoglobal. O grupo é líder mundial emtransição de carreira e consultoriaorganizacional.
A missão da empresa é a de ser umaconsultoria global especializada emajudar organizações a gerenciar olado humano da mudança, aumen-tando sua rentabilidade, eficiênciae maximizando os seus valores hu-manos. A Right-Saad-Fellipelli acre-dita que os melhores serviços detransição de carreira e coaching sãouma mescla de tecnologia com altograu de envolvimento. Significa di-zer que os clientes recebem umagrande quantidade de informaçõesatravés de meios tecnológicos, alémde treinamento individual e perso-nalizado, oferecidos por consulto-res especializados. O compromissoprincipal é com o desenvolvimentodo indivíduo, aumentando suaperformance profissional.
RIGHT SAAD FELLIPELLITRANSIÇÃO DE CARREIRA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
temente. Creio que o PT faz faltaao país como oposição, mas acre-dito que o governo Lula não vaiseguir à risca tudo o que o parti-do idealizou.
Revista da ESPM – Vocês são pro-fissionais bem-sucedidas numa áreaque eu chamaria, em termos gerais,de Recursos Humanos. Como vocêsvêem a evolução do mercado de tra-balho nessa área?
ADRIANA – Acho que não exis-te boa estratégia, boa produ-t iv idade, se você não t iverpessoas que estejam engajadase compromet idas . Es sa é a
grande descoberta: investir naspessoas porque elas fazem a di-ferença. Nesse sentido, o RHteve uma valorização; não sim-plesmente aquele RH que é umdepar tamento dent ro daempresa. Não é a esse que estoume referindo.
Re v i s t a d a E S PM – E e s s emercado é crescente? Vocêsacham que e le va i recebermais profissionais?
ADRIANA – Acredito que sim.
Revista da ESPM – O que de-vem estudar esses profissionais?
ADRIANA – Business e pessoas.
ELAINE – É uma base, mas achoque o profissional de RH, hoje,está mais estratégico. E a ter-ceirização, nessa área, também égrande. A organização do futuroterá pessoas-chaves e o RH serámuito terceirizado. Mas ainda éuma área de prestação de servi-ço. O estudo da Psicologia ajuda– e a Administração – mas comoem outra área qualquer, valori-zam-se mais as pessoas com vi-são estratégica: como alinhar asexpectativas da pessoa com suaempresa e o que fazer para issoproduzir resultados. zx
ADRIANA FELLLIPELLI E ELAINE SAAD
SÓCIOS
ADRIANA [email protected]
ELAINE [email protected]
MIGUEL [email protected]
ENDEREÇO DE SÃO PAULO
Av. Brig. Faria Lima, 1.800, 10ºandar, São Paulo, SP, 01452-001Tel: 55 11 3819-2727Fax: 55 11 3813-3632e-mail: [email protected]<mailto:[email protected]>
SITES
www.right.comwww.saadfellipelli.com.brwww.coachingpe.com.br
112R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Case-Study
GRUPOTALENT:DESAFIOS DO FUTURO
Este case descreve o surgimento e desenvolvimento doGrupo Talent, que controla várias agências e ocupa lugarde destaque no ranking de agências brasileiras. O grupoprefere manter-se 100% nacional, contrariando a onda defusões entre agências locais e multinacionais. Mas oavanço da globalização cria novos problemas e desafiospara o grupo, que são descritos a seguir.
Este case foi elaborado por Michelle R.
Higuthi, sob a orientação do professor
Alexandre Gracioso, com base em
publicações editadas no período de
janeiro/98 a setembro/01.
Nota Importante: ESTE CASE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO ESTUDO E DISCUSSÃO EM CLASSE, SENDO PROIBIDA A SUA
UTILIZAÇÃO OU REPRODUÇÃO EM QUALQUER OUTRA FORMA. DIREITOS RESERVADOS ESPM/EXAME E GRUPO TALENT.
Juni
or d
e O
livei
ra
113J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
AGRUPO TALENT
1.INTRODUÇÃO
partir de um determinado mo-mento, as agências de propagan-da, assim como todos os setoresde comunicação, viram-se inse-ridos em uma nova realidade, ada globalização.
Para atender a essas novas neces-sidades criadas pela globalização,muitas agências se aliaram a gru-pos internacionais, por meio defusões, compras, e joint ventures,para adquirir know-how e garan-tir o acesso a clientes globais. Po-rém, algumas agências não ade-r i ram a esse processo deinternacionalização, dentre asquais destaca-se aqui o GrupoTalent, foco de estudo deste caso.
O que se põe em discussão nestecaso é como a Talent atua nessenovo cenário sem o apoio de umgrande parceiro, e as alternativasde que pode lançar mão paramanter-se com 100% de capitalnacional, atendendo ao mesmotempo aos requisitos do merca-do — oferecer aos clientes umatendimento à altura do novo am-biente global de negócios.
2. TALENT –ORIGEM EDESENVOLVIMENTO
A Talent foi fundada em 1980,por seu atual presidente, Julio Ri-beiro, e trouxe para o mercadoum modelo inédito de operação,cujos objetivos eram “oferecer ta-lento” e “alugar inteligência”.Adotou uma estrutura modular decrescimento, ou seja, novas agên-cias seriam criadas à medida queas existentes atingissem o limitede 10 clientes.
Assim, em 1989, surgiu a TalentBiz com uma estrutura indepen-dente, mas utilizando o mesmoconceito de sua irmã: o de “usaro tempo pensando”. Dirigidaspelos mesmos sócios, as duasagências estabeleceram, poruma questão de ética, não aten-der a contas conflitantes, ou seja,empresas do mesmo segmento.
2.1 ASCENSÃO EDECLÍNIO
Com uma estrutura organizacionalcentralizada na figura dos sócios,a Talent era considerada, por al-guns especialistas em comunica-ção, como uma agência mode-lo, mas não possuía processosestruturados de divulgação daagência e de prospecção de no-vos clientes. Os sócios tinhamparticipação ativa na operaçãoda agência e no atendimento aosclientes.
A Talent, a partir de certo ponto,acomodou-se ao modelo criado,não acompanhando as transfor-mações que ocorriam no merca-do. Com a visão voltada paradentro, a agência ignorava anova real idade t razida pelaglobalização.
Em 1997, a Talent caiu do 7o
para o 17o lugar no ranking deagências do País. Com o sustovieram as mudanças. A princí-pio, chegou-se a pensar emuma internacionalização paraobter tecnologia, know-howetc. No entanto, chegou-se àconclusão de que a Talent te-ria potencial para realizar mu-danças sem o capital estrangei-r o , de sde que consegu i s s ecrescer.
2.2 EXPANSÃO
Para crescer, foi necessárioreestruturar e reposicionar a em-presa. Os sócios adotaram umnovo foco de prioridades e pas-saram a concentrar esforços nodesenvolvimento de novos negó-cios, diminuindo sua participa-ção no dia-a-dia da empresa.Suas principais medidas foram:
•Mudança na estrutura operacio-nal, antes muito concentrada nafigura dos sócios.
•Busca de novos clientes e au-mento da exposição da agênciajunto ao seu público-alvo.
•Aumento da estrutura de profissi-onais em todos os departamentos.
•Qualificação das equipes no re-lacionamento diário com seusclientes.
•Utilização de incentivos finan-ceiros por bom desempenho notrabalho.
A estrutura organizacional da em-presa foi horizontalizada; osdiretores passaram a controlar to-das as funções operacionais e ossócios assumiram o papel de em-presários, responsáveis pela ex-pansão do negócio e pelo contro-le de qualidade. Com as mudan-ças, a Talent ampliou sua carteirade clientes e conquistou contascomo Tigre, Açúcar União, O Bo-ticário, Sudameris e Intelig.
Ao contrário do que se cogitouanteriormente, a Talent cresceuatravés da aquisição de outrasempresas (ao invés de ser ela aempresa comprada por outramaior). Em 1998, foi negociadauma participação na QG, agênciatambém com 100% de capital na-yw
114R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
cional. Nos anos de 1999 e 2000, aTalent cresceu ainda mais, através dacompra de participação majoritáriaem três empresas: a Triade-comm,empresa com seis anos de know-how em Internet; a Lage & Magy,uma das mais respeitadas agênciasbrasileiras; e a Art Company, agên-cia de promoção (no-advertising).
Em 2000, a agência ficou em segun-do lugar no ranking das agências bra-sileiras (de capital nacional ou estran-geiro)
1, com receita de quase R$ 92
milhões, um crescimento de 120%em relação ao ano anterior. Grandeparte desse crescimento se deve aomaciço investimento publicitário rea-lizado pelo seu maior cliente, a Intelig,que chegou a investir R$ 197 milhõesem mídia no mesmo ano, conseguin-do com isso o primeiro lugar noranking de maiores anunciantes.
2
No segundo semestre de 2001, a agên-cia divulgou a união da Talent Biz àTalent, mudança esta atribuída aosnovos desafios do mercado. Os profis-sionais das duas agências serão dividi-dos em dois grupos “operacionalmenteautônomos”, que atenderão a cerca de10 clientes cada. Cada grupo terádiretores de criação, atendimento e es-trutura de mídia próprios. O quadrode profissionais não será alterado coma reformulação, mantendo-se em 196funcionários (Talent e Talent Biz). Ao todo,o grupo possui aproximadamente 400profissionais.
Iniciando uma nova fase, o GrupoTalent busca agora um parceiro es-trangeiro, para formar uma jointventure na área de no-advertising.Recentemente, o grupo chegou a ini-ciar conversas com o grupo interna-
EMPRESA
QG E LAGE MAGYTALENT
TRÍADE-COMM• Bosch
• Colliers
• Jafra
• Avon
• Max Blueby Deutsche Bank
• Serrana(pertencente ao grupo Bunge)
• Fraudas Chicco Lastic
• Western Union
• Yakult(Taff-Man-E/Hi Line)
• Insitel
• Intelig (consórcio entre a inglesaNational Grid, a americana Sprinte a France Telecom)
• Semp Toshiba (mix da brasileiraSEMP com a japonesa Toshiba Corporation)
• Banco Real ABN AMRO Bank(banco Holandês)
• Brastemp e Consul da Multibráspertencente ao grupo Whirlpool
• Bandeirante Energia (participaçãodo grupo português EDP-Electricidade)
• Santista (do grupo Bunge)
• CPM (estrutura acionária compostapelo Bradesco e o fundo internacionalde investidores liderado pelo DeutscheBank Capital Partners Latin America)
EMPRESA
EMPRESA
CLIENTES DE CAPITAL MULTINACIONAL
Case-Study
3. MERCADODE PROPAGANDANO BRASIL
O mercado publicitário brasileiro nosanos 60 e 70 assistiu à ascensão e aoesplendor das agências nacionais, que,em 1965, totalizavam 16 das 20 mai-ores agências do país. Essa proporçãofoi mantida até meados dos anos 80,
cional Ogilvy, mas não houve acor-do; a proposta da Talent era de quecada uma das partes teria 50% departicipação na joint venture, poréma estratégia da Ogilvy era de com-prar uma agência local.
2.3 LISTA DE CLIENTES
O grupo possuía, na época da ela-boração deste caso, ao todo 65 cli-entes. Muitos destes atuam em ou-
tros países ou apresentam estruturaacionária com participações deempresas estrangeiras. São eles:
FIGURA 1:
TALENT
O GRUPO TALENT
ARTLAGE &QG(1988) MAGY
(2000)COMPANY
(2000)(1980)
115J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
JWT adquiriu no começo de 2001 40%da gaúcha DCS Comunicações.
Por outro lado, no mercado publicitá-rio brasileiro, existem agências que bus-caram um caminho inverso ao daInternacionalização, constituindo gru-pos de comunicação “made in Brazil”.É o caso das agências DPZ; FischerAmérica com operações na Colômbia,no México e Venezuela, controladapelo grupo Totalcom; W/Brasil que per-tence à holding Prax; e, é claro, Talent.
Outro foco de atuação dos grupos decomunicação hoje é a diversificaçãodos serviços prestados aos anuncian-tes; muitos grupos já possuem depar-tamentos ou agências próprias em áre-as como marketing direto, Internet epromoção. Essa abrangência de servi-ços é considerada por grande partedos anunciantes o principal aspecto po-sitivo da propaganda atual
3.
No ambiente econômico do setor pu-blicitário, para evitar a ameaça daretração, viu-se obrigado a tomar al-gumas atitudes, e pela primeira vezveículos, agências, associações e enti-dades ligadas ao setor uniram esforçospara realizar campanhas deconscientização das empresas da im-
FIGURA 2:O crescimento das agências internacionais:Número de agências internacionais entre as20 maiores agências no mercado brasileiro
4 3 5 11 161965 19751985
19952000
portância de anunciar.
Contrariando o que aconteceu no anode 2000, as empresas de telefonia nãolideraram o ranking de anunciantes noprimeiro semestre de 2001. Nesse pe-ríodo, em primeiro lugar ficou a GessyLever, em segundo a Lopes Consultoriade Imóvel e as empresas do setor auto-mobilístico General Motors, Renault doBrasil, Volkswagen/Seat e Fiat. A Intelig,que ocupou o primeiro lugar doranking de 2000, não ficou entre os 30maiores anunciantes da primeira me-tade de 2001.
As últimas informações indicam que ofaturamento total de propaganda em 2001foi 10% menor do que no ano anterior,quando atingir cerca de R$ 12 bilhões.
3.1 LIGAÇÕES PESSOAIS
Uma característica interessante domercado de agências de propagandabrasileiro é o seu aspecto pessoal. NoBrasil, grandes nomes da propaganda,como Nizan Guanaes e WashingtonOlivetto, levam clientes com eles emcaso de troca de agências. Em outrospaíses, essa relação tende a ser me-nos pessoal e dar prioridade à empre-sa que presta o atendimento.yw
Fonte: Estudos ESPM, Revista Marketing No. 321
quando teve fim o regime militar, o qualprivilegiava as empresas nacionais.Com isso, muitos grupos internacionaisde comunicação passaram a investirno país, por meio de aquisições de agên-cias nacionais. Esse processo alterou sen-sivelmente o setor brasileiro, que pas-sou a ser dominado por grandes gruposde comunicação, como: WPP Group,representado no Brasil pelas agênciasOgilvy & Mather, J. Walter Thompson eYoung & Rubicam; Interpublic Groupof Companies, que controla as agênciasMcCann Erickson, Lowe Lintas&Partners, Lodduca e Contemporânea;Omnicon, que detém as agênciasDM9DDB, AlmapBBDO; e outros.
Atualmente, as multinacionais respon-dem por 75% de todo o volume pu-blicitário global, que somou US$ 40,5bilhões em 2000, os outros 25% res-tantes foram gerados por agências in-dependentes, as quais no Brasil mo-vimentaram US$ 929,4 milhões nomesmo ano.
Na corrida por aquisições e fusões,grupos estrangeiros, como J. WalterThompson, Grey Global Group e FCB,voltam suas atenções para as agênciasmédias, que tentam sobreviver em umsetor dominado por multinacionais. A
116R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
4. O PROCESSO DEINTERNACIONALIZAÇÃODO SETOR DEPROPAGANDA
4.1VISÃO DOSANUNCIANTES
Em uma pesquisa realizada peloInstituto InterScience Informação
e Tecnologia Aplicada com os100 maiores anunciantes de SãoPaulo e Rio de Janeiro foi consta-tado que 56% destes considerama tendência de mega-agênciascomo a principal transformaçãoocorrida no mercado publicitário.
Esses anunciantes buscam agên-cias com maior leque de serviços
e sinergia de esforços, nos quaisa comunicação esteja inserida nomarketing, ou seja, uma visãomais abrangente e é claro comfoco nos resultados.
Com uma estratégia global e en-tre os vinte maiores anunciantesdo ranking brasileiro de 2000, amarca Coca-Cola recentemente
Juni
or d
e O
livei
ra
117J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Grupo TalentCase-Study
divulgou o realinhamento de suasagências, passando a destinaruma verba global de US$ 600 mi-lhões para os grupos Interpublic,com a empresa desde os anos 50e WPP com quem nunca haviatrabalhado.
A escolha dos dois grupos segun-do o anunciante deveu-se aos
seus recursos criativos e estratégi-cos mundiais, forte infra-estrutura ealcance global em 200 países.
O que se pode constatar é quedo ponto de vista dos anunci-antes multinacionais a unifica-ção de contas, proporcionadapela internacionalização dasagências, permite a racionaliza-
ção de custos e maior uniformi-dade da condução da campa-nha, respeitando a estratégiaglobal da marca.
4.2 VISÃODAS AGÊNCIAS
Acompanhar o processo de yw
118R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
globalização passou a ser requisitopara as agências continuarem sendobem-sucedidas em um mercado cadavez mais competitivo e centralizadoem grandes grupos. As agências in-dependentes do capital estrangeirosão obrigadas a buscar formas decompetir e se expandir; ainternacionalização é uma delas.
Nesse processo, os benefícios maisprocurados pelas agências locais emgeral são acesso a marcasglobalizadas, apoio aos clientes atuaiscom estruturas internacionais, aportede capital e transferência detecnologia; no caso dos grandes gru-pos estrangeiros o principal benefí-cio parece ser a rápida penetração demercados em crescimento.
Porém, na opinião de algumas agên-cias brasileiras, como a DPZ, a
internacionalização não oferece sóvantagens. Na sexta posição doranking das maiores agências, a DPZvem sendo cobiçada por grandes gru-pos multinacionais da comunicaçãohá bastante tempo. Na visão dessaagência, as principais desvantagens dafusão com grupos internacionais sãoa perda de identidade geral, criativae de planejamento; a perda de even-tuais clientes em função de alinha-mentos internacionais e uma maiordificuldade para ações personalizadase locais. No meio do ano passado,chegou a ser anunciada uma possí-vel incorporação da DPZ pelo grupoDM9DDB, pelo valor de compra es-timado em US$ 50 milhões, porémo negócio não foi concretizado. Oprincipal motivo para recusa daproposta foi a preservação da iden-tidade da agência.
Tanto a DPZ como também a agên-cia W/Brasil já fizeram parcerias comgrupos de capital estrangeiro. A DPZteve participação de 50% na DDBNeedham, enquanto a W/Brasil já foiparceira da Young & Rubican. Noentanto, ambas decidiram voltar aatuar sozinhas.
Com um ponto de vista semelhan-te, a Fischer América, pertencenteao grupo Total, formado por oitoagências, optou por assumir o pa-pel principal na internacio-nalização, baseando-se no concei-to que chamam de “glocal”: pen-sar globalmente e agir localmente,que tem como foco de seus esfor-ços o mercado da América Latina.A Meta da Fischer é fortementeapoiada na convicção de que nin-guém conhece melhor a casa doque o próprio dono.
Juni
or d
e O
livei
ra
119J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
4.3 VISÃODA TALENT
Para a Talent, o processo deinternacionalização, através de ven-da de participações para grupos in-ternacionais, não possui benefícioclaro. Segundo José Eustachio, só-cio da empresa, o cálculo para defi-nir o valor de uma agência é emgeral feito a partir da projeção deseus resultados nos próximos três oucinco anos, com base na importân-cia da empresa no mercado e seupotencial de crescimento. O paga-mento é parcelado e o valor das par-celas varia com o desempenho daagência. A agência nacional acabatendo dificuldades para investir emsua expansão, pois permanece de-pendente da receita, comprometen-do-se com o retorno do investimen-to estrangeiro, podendo resultar emperda da identidade da agência e atéalinhamento de contas que prejudi-quem contas antigas.
A principal vantagem, ainda se-gundo Eustachio, na interna-cionalização é o fato de simplifi-car o contato com clientes pre-sentes em várias partes do mun-do, como por exemplo aMultibrás (Brastemp e Consul),cliente que atua em 40 países, alémdisso possibilita prospectar contasinternacionais. Mas vender partici-pação não é a saída buscada pelaTalent. Para atender a essa exigên-cia da globalização, a agência man-tém-se firme na preservação de seucapital 100% nacional.
5. CONCLUSÃO
A Talent faz parte hoje de um pe-queno grupo de agências que opta-ram por seguir o caminho contrárioao do mercado e manter seu capital
inteiramente nacional. Porém, asagências não podem ignorar as no-vas exigências do mercadoglobalizado, onde a concorrência éalta e cada vez mais centrada nasmãos de grandes grupos internaci-onais, que atuam em diversos paí-ses e atendem a clientes globaiscomo a Gessy Lever que opera em150 países ao redor do mundo. OGrupo Talent, para oferecer aos seusclientes contato global, preferiuestabelecer alianças com agênci-as fora do Brasil.
No ano de 2000, a agência Talentobteve ótimos resultados, com umcrescimento de mais de 100% nasua receita. Este grande salto foiproporcionado pelo alto investi-mento feito por seu principal cli-ente, a Intelig. Porém, em 2001 aIntelig reduziu consideravelmen-te seus investimentos em comu-nicação. Será a Talent capaz demanter o crescimento, apesar dadiminuição de verbas e sem con-tar com a participação do capitalestrangeiro? A Talent pode dar-seao luxo de não crescer continua-mente no mercado de propagan-da? Para atingir esse crescimen-to, a participação do capital es-trangeiro pode ser dispensada?
Além disso, várias outras questõesprecisam ser discutidas neste mo-mento. Será possível garantir oatendimento a clientes globais so-mente através de parcerias comagências estrangeiras? Por que asempresas internacionais não se-guiram esse modelo no Brasil?
Se você fosse negociar um acor-do de aquisição por um grupoestrangeiro, como você tentariaposicionar a Talent, a fim de tor-nar o valor da venda o maiorpossível?
6. DESAFIOS
Acima de tudo, o maior desafio doGrupo Talent é posicionar com maisrigor as diversas agências que pos-sui. Em sua origem, a Talent origi-nal estava muito associada à perso-nalidade de seu fundador, Julio Ri-beiro, e era vista pelos clientescomo uma agência com excelenteplanejamento e uma criação volta-da para resultados. Nesse sentido,ela se distinguia de agências comoa DPZ, W/Brasil e DM9, vistas comoessencialmente criativas. Por outrolado, batia de frente contra as gran-des agências internacionais, cujoforte é justamente o planejamentoe a segurança criativa.
Com o surgimento de várias agênciassob a égide do grupo, esta percep-ção pelo mercado se enfraqueceu enão foi substituída por nenhuma ou-tra conotação mais relevante.
Olhando para o futuro, o GrupoTalent parece estar certo ao duvidardas vantagens de uma fusão com umgrupo estrangeiro. Mas resta saberquais alternativas poderá surgir. Vol-tamos aqui à questão do posicio-namento que nos parece ser es-sencial. Que imagem o Grupo Talentdeveria projetar, para apresentar-seaos grandes anunciantes como umaalternativa válida para as agênciasmultinacionais? E que medidas deve-ria tomar para garantir a oferta ao cli-ente de serviços condizentes com aimagem projetada? Se esta novaimagem tiver de ser ligada àcriatividade, você crê que o grupoconseguiria fazer a transição?
Por fim, caso a melhor escolha seja afusão com o grupo estrangeiro, quemvocê recomendaria como parceiro doGrupo Talent? Quem ofereceria maisvantagem e mais sinergia nessa fusão?
GRUPO TALENT
yw
120R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
McCann – Erickson
Publicidade Ltda.1 200.470.000 153.421.000
Multinacional
(Grupo Interpublic)Coca-Cola,Gillette,GM, Gessy-
Lever, Mastercard, Nestlé, Sousa
Cruz
1
100% Nacional2Talent
Comunicação S/A91.779.731 41.762.489 10
Intelig, Banco Real
ABN AMRO Bank
3
4
DM9DDB
Publicidade Ltda.90.645.437 78.086.775 2 Itaú, AOL, AMBEV
Nacional com
Capital estrangeiro
(Grupo Omnicon)
Nacional com
Capital estrangeiro
(Grupo Omnicon)
Antarctica, Havainas, Volkswagen,
UOL, Visa, Embratel460.996.82877.376.839
Almap/BBDO
Comunicaões Ltda.
6
Multinacional
(Grupo WPP)Coca-Cola, Terra, Motorola*—76.324.000Ogilvy & Mather5
100% NacionalItaú, Souza Cruz, Telesp Celular,
Alpargatas, Coca Light559.673.00071.683.000
DPZ Duailibi Petit
Zaragosa
Propaganda Ltda.
9
100% NacionalGrupo Total —
Totalcom. Comum.
e Part. S/A
7 70.045.973 62.425.395 3Telesp, Skol, Brahma,
Toyota, LG
Nacional com
Capital estrangeiro
(Grupo True North)
Sansung, Kraft Food,
Rede Globo754.726.57267.629.425Giovanni, FCB S/A8
Multinacional
( Grupo WPP)Nestlé, Ford, Gessy-Lever*32.463.20065.894.000
J. Walter Thompson
Publicidade Ltda.
10 100% NacionalTelemar, Nokia845.945.58663.004.945Organização Propeg
Multinacional
(Grupo WPP)
Young & Rubicam
Propaganda57.812.000 54.800.000 6 Bradesco11
Nacional com
Capital estrangeiro12
Newcomm Bates
Comunicaão
Integrada Ltda.43.534.225 32.600.000 12 Casas Bahia
Carillo Pastore
EURO RSCGNacional com
Capital estrangeiro
AMBEV, Embratel, Guaraná
Antarctica, Pão de Açucar943.276.94042.499.45313
Nacional com
Capital estrangeiro
(Grupo Publicis)
14Grupo Publicis
Brasil41.405.768 34.669.019 11 Nestlé, Carrefour
15
Nacional com
Capital estrangeiro
(Grupo Saatchi & Saatchi)
Brahma, Skol,
Procter & Gamble, Telemar1330.273.75741.327.757
F/Nazca S&S
Publicidade Ltda.
Fonte: MMonline
7. ANEXOS7.1. RANKING DE AGÊNCIAS
Principais ClientesRank2000
Receitas(R$ — 2000)
Receitas(R$ — 1999)
Rank1 9 9 9 Situação AcionáriaAgência
121J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
Principais ClientesRank2000
Receitas(R$ — 2000)
Receitas(R$ — 1999)Agência
Rank1 9 9 9 Situação Acionária
16Multinacional
(Grupo Interpublic)Banco do Brasil, Nestlé1429.381.42139.386.163
Nacional com Capital estrangeiro
(Grupo Lowe Lintas/ Interpublic )17Loducca
Publicidade Ltda.29.271.954 20.859.223 15 Coca-Cola, BOL
Lowe Lintas &
Partners Ltda.
100% Nacional18
Lew Lara
Propaganda e
Comunicação Ltda.23.714.783 13.852.082 19
Nokia, Banco Real
ABN AMRO Bank,
Schincariol
Nacional com capital
estrangeiro (Grupo McCann
Erickson/ Interpublic)
19 Contemporânea Ltda. 21.814.866 16.016.999 16Bob’s, Fundação Roberto
Marinho, Petrobrás, Sara
lee, Souza Cruz
Nacional com
capital estrangeiro
(Grupo JWT/ Grupo WPP)20
Master Comunicação
e Marketing Ltda.18.712.237 14.899.534 18
Itaú, Ericsson,
Ministério da Saúde
Nacional com
capital estrangeiro21
SMPB
Comunicação
Ltda.18.578.822 10.377.261 17 Ford do Brasil
100% Nacional22Grottera Comunica-
ção S/C Ltda.16.442.590 7.887.700 23 Rede Globo, Governo
Nacional com
capital estrangeiro23 Neogama Ltda. 15.069.000 2.307.000 *
BCP Telecomunics, Eletro Grupo
Pão de Açúcar
100% Nacional24 DNA Propaganda
Ltda.14.331.768 10.122.082 20 Banco do Brasil,
Governo de Minas Gerais
2125VS Comunicações
Ltda.13.962.043 10.075.304
100% Nacional26Q.G.
Comunicação S/A13.412.705 4.641.043 29
Arapuã, Droga Raia, Fininvest,
Meio e Mensagem
Nacional com capital estrangeiro
( Grupo JWT/ Grupo WPP)27
DCS
Comunicações Ltda.10.388.266 — *
100% Nacional28 Age Comunicações
S/A9.195.000 — *
Lopes, Prima do Brasil, Valor
Econômico
Volkswagen29 RC Comunição Ltda. 8.842.688 5.634.405 27
30Prime DBBS
Publicidade Ltda.7.750.455 3.702.620 *
Governo de Santa Catarina,
Prefeitura Municipal de Itajaí
Nacional com
capital estrangeiro
122R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
* Não participaram do ranking de 1999/ dados
não fornecidos
Do ranking de 1999 participaram 54 agências e
no de 2000 foram 84 agências
Grupo Total: Fischer América (São Paulo); Fischer
América Rio (Rio de Janeiro); Fischer América
Heads (Curitiba); Fischer América Sette,Graal
(Brasília); Fischer América Sul (Porto Alegre);
Upgrade (Agência de Publicidade); All-E (Marketing
e Licenciamento nas áreas de Entretenimento, Cul-
tura e Esporte); Spirit (Marketing de Incentivo); e-
agency (Marketing de Relacionamento e
Fidelização) Grupo Newcom- mbates: Newcomm
Comunicação; 141 Brasil; NewDesign; Newcomm
Institucional; NewSports Grupo Carillo: Carillo
Pastore EURO RSCG Com. Ltda.; EURO RSCG
Interaction Ltda. Grupo Ogilvy: Ogilvy & Mather
Ltda.; Denison Brasil Publicidade Ltda. GrupoPublicis: Publicis Norton S.A; Nort/West Publici-
dade Ltda.; Publicis D&M Ltda.; North South Com.
e Mark. Ltda.; Internort Informática e Publicidade
Ltda.; Dialog Brasil Ltda.; Global Event System do
Brasil Ltda.; Conseil do Brasil Ltda. Grupo Talent:Talent; Talent Biz Grupo Young & Rubican doBrasil: Young & Rubican Comunicações Ltda.; Ener-
gia Y&R Brasil Ltda.
** 1 Intelig 21.425 108.080 40.523 197.584
6 2 Embratel 72.189 99.567 132.192 182.469
1 3 Gessy-Lever 105.610 92.630 193.519 170.192
10 4 Itaú 64.750 85.771 118.927 156.641
3 5 Volkswagen/Seat 80.129 84.193 147.502 154.560
7 6 Liderança Capitalização 67.045 82.756 123.943 151.739
9 7 Ford 65.144 82.177 120.798 150.782
2 8 General Motors 82.418 79.263 151.585 144.718
5 9 Lopes Consult Imóvel 72.713 77.116 134.354 142.092
4 10 Casas Bahia 75.157 73.759 138.128 135.588
15 11 Pão de Açúcar 46.209 72.078 85.214 132.410
13 12 Fiat 50.054 70.920 92.309 130.462
8 13 Procter e Gamble 65.527 64.443 120.012 118.464
16 14 Banco Bradesco 45.266 63.254 82.902 116.011
12 15 Nestlé 52.043 62.835 96.117 114.597
24 16 Banco ABN AMRO Real 34.836 57.232 64.347 104.917
11 17 Globex Utilidades 57.439 54.293 104.248 100.356
14 18 Coca-Cola 46.348 53.008 85.479 96.941
** 19 Terrabrasil Networks 19.413 51.831 36.252 93.661
** 20 AOL Brasil 5.248 46.389 9.688 85.572
18 21 Telesp Celular 44.056 45.643 7 9.063 83.918
** 22 UOL 24.572 45.514 44.750 82.608
** 23 Casa e Vídeo 25.892 44.654 47.628 82.567
25 24 Abyara Planejamento 33.619 44.644 63.300 82.885
28 25 Antarctica 30.042 41.574 55.073 76.066
22 26 DM Farmacêutica 38.152 40.953 69.962 75.865
27 27 Souza Cruz 31.890 40.778 58.295 74.798
** 28 Renault do Brasil 25.657 39.799 47.193 73.303
** 29 Unibanco 25.596 37.966 46.853 69.831
** 30 Kaiser 13.029 35.054 24.147 63.418
7.2. INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO – RANKING DOS 30MAIORES ANUNCIANTES – 1999 X 2000
Ranking Anunciante Valor em R$Valor em US$20001999 2000199920001999
Fonte: IBOPE Monitor.
**Não estavam classificados entre os 30 maiores de 1999.
Case-Study
123J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 – R E V I S T A D A E S P M
7.3. INVESTIMENTO PUBLICITÁRIORANKING DOS 30 MAIORES ANUNCIANTES
4 1 Gessy-Lever 44.473 42.874 80.010 93.964
7 2 Lopes Consult. Imóvel 40.043 40.755 72.072 90.443
5 3 General Motors 43.405 39.509 77.738 86.325
* 4 Renault do Brasil 15.247 36.889 27.317 80.975
8 5 Volkswagen/Seat 39.826 35.000 71.418 76.377
18 6 Fiat 31.582 34.408 56.716 75.374
12 7 Casas Bahia 34.607 32.467 62.067 70.769
2 8 Embratel 53.723 31.015 96.513 67.684
3 9 Itaú 48.272 30.322 86.455 65.975
16 10 Coca-Cola 32.112 30.305 57.446 65.217
11 11 Pão de Açúcar 34.741 28.018 62.243 60.637
6 12 Liderança Capitalização 40.582 26.549 72.685 56.875
17 13 Bco. ABN AMRO Real 31.687 25.049 56.618 54.975
14 14 Nestlé 33.809 24.793 60.732 54.562
20 15 Procter & Gamble 28.791 23.911 51.515 51.338
9 16 Ford 38.035 23.448 68.273 51.087
* 17 Telemar 16.530 21.790 29.639 47.443
21 18 Globex Utilidades 24.694 19.285 44.372 42.018
28 19 Casa e Vídeo 18.439 18.425 33.117 40.150
* 20 Coelho da Fonseca Empr. Imobil. 11.155 16.662 20.016 36.355
25 21 Abyara Planejam. 19.252 16.543 34.599 36.783
26 22 Antarctica 18.748 16.211 33.487 34.886
* 23 Mc Donald’s 13.395 14.836 24.064 32.191
23 24 Telesp Celular 22.849 14.823 41.012 32.530
* 25 DM Farmaceutica 15.489 14.757 27.961 32.153
19 26 Bco. Bradesco 31.210 14.701 56.169 32.168
* 27 Brasil Telecom 7.357 13.477 13.154 29.181
* 28 Unibanco 17.324 12.935 31.158 28.615
* 29 Citroën 3.530 12.736 6.325 27.904
* 30 Brahma 12.761 12.690 22.958 27.212
2000 2001 2000 2001 2000 2001
Fonte: IBOPE Monitor.
Base utilizada pelo ranking: 1o semestre de 2001 em dólar.
* Não estava classificada entre as 30 maiores de 2000.
Em função da variação mensal da taxa de câmbio utilizada, pode haver alteração nas posições do ranking entre as duas moedas.
1 Fonte: Agências & Anunciantes.
2 Fonte: Ibope Monitor.
3 Dado retirado da pesquisa feita pelo Instituto InterScience em 2001.
RANKINGANUNCIANTES 1o SEMESTREVALOR EM US$ VALOR EM R$
GRUPO TALENT
COMPARATIVO DO 1O SEMESTRE 2000 X 2001
zx
124R E V I S T A D A E S P M — J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
Leitura Recomendada
MICHEL FLEURIET/RICARDO KEHDY/GEORGES BLANC
O MODELO FLEURIET – A DINÂMICA FINANCEIRADAS EMPRESAS BRASILEIRAS
EDITORA CAMPUS
192 p. – R$ 36,00
O modelo de análise desenvolvido por Michel Fleuriet constitui-se numa prova de viabilidade da elaboração de modelos própriospara o contexto nacional, em vez do puro e simples transplantede uma tecnologia “alienígena” para o ambiente das empresasque atuam no país.
Partindo do princípio de que as finanças de uma organização nãopodem ser encaradas puramente sob o aspecto contábil, mascomo poderoso instrumento de gestão empresarial, o criador doModelo Fleuriet elaborou uma abordagem única. Sintética eglobalizante, permite a tomada rápida de decisão, exigida por umambiente sujeito a rápidas mudanças. Incorpora os parâmetrosde uma inflação endêmica a taxas elevadas e considera umaeconomia em crescimento permanente.
O Modelo Fleuriet se apóia em dois conceitos básicos –Necessidade de Capital de Giro e Efeito Tesoura. Ambos ajudama refletir a política de distribuição de dividendos e a fatia doautofinanciamento e de recursos de longo prazo, que devemser alocados para financiar as operações da empresa. Tambémpossibilitam a realização do planejamento financeiro a curto elongo prazo com rapidez e flexibilidade.
Resultado de um trabalho desenvolvido de 1975 a 1978 junto a empresasbrasileiras com a Fundação Dom Cabral, o livro foi atualizado por umgrupo de acadêmicos da FDC e de profissionais da Serasa. Dois autoresda primeira edição – Michel Fleuriet e Georges Blanc –, com o apoio deHaroldo Vinagre Brasil, participaram da edição de 2003.
Michel Fleuriet é membro do Conselho Curador e professor visitanteda Fundação Dom Cabral e da Wharton (University of Pennsylvania).Georges Blanc é professor da Fundação Dom Cabral, mestre emDireito e Ciências Econômicas pela Universidade de Paris e consultorde empresas na Europa, AL, África e Ásia. Ricardo Kehdy éengenheiro mecânico pela UFMG, MBA pela Business School daUniversidade de Columbia, Nova York.
PHILIP KOTLER/GARY ARMSTRONG
PRINCÍPIOS DE MARKETINGPEARSON EDUCATION
608 p. – R$ 79,00
Nesta nova edição, o livro Princípios de Marketing foi totalmentereformulado para acompanhar as alterações que estão influenciandoo marketing moderno. Um exemplo é a revolução digital: além de umnovo capítulo inteiro sobre a crescente utilização da Internet, o livrotraz desde aplicações de realidade virtual até opções de banco dedados para comércio eletrônico.
Kotler e Armstrong trazem também para esta edição as mais recentestendências em gerenciamento de clientes, patrimônio de marca e
posicionamento de valor, sempre com exemplos reais. O livro contacom dezenas de cases, dentre os quais exemplos brasileiros como oda empresa Gol e dos caminhões Volkswagen, além de análises domarketing societal e do varejo no Brasil. Completa a obra umCompanion Website, com dezenas de casos adicionais e outrosrecursos para professores e estudantes.
Philip Kotler é professor de marketing internacional da Kellog GraduateSchool of Management, da Universidade Northwestern. Foi presidentedo College on Marketing do Institute of Management Sciences e diretorda American Marketing Association. Gary Armstrong é professoremérito de graduação na Kenan-Flager Business School, daUniversidade da Carolina do Norte. Trabalhou como consultor epesquisador para muitas empresas nas áreas de pesquisa demarketing, gerenciamento de vendas e estratégia de marketing.
KAREN HUFFMAN/MARK VERNOY/JUDITH VERNOY
PSICOLOGIAEditora Atlas
816 p. – R$ 120,00
O objetivo desta obra é estimular no estudante a apreciação dapsicologia como o estudo empÌrico da experiÍncia humana. Afinal,atenção à diversidade é crucial na psicologia, mas é tambémimportante reconhecer que um século de pesquisa psicológicapermitiu um tremendo avanço em nossa compreensão docomportamento humano.
Demonstrando as vantagens do método científico sobre aespeculação e o senso comum, o livro apresenta várias sérıes esugestões que visam ao melhor desempenho do estudante, bemcomo discute várias estratégias e as ferramentas mais importantes
para seu sucesso na faculdade. Essas seções também sugeremformas de se autocondicionar para o êxito e oferecem dicas paramelhorar a memória, o desempenho e a realização.
Presente em todos os capÌtulos, a seção Destaque Científico chamaa atenção para temas recentes e de grande interesse que sãoexplorados de forma a explicar o tópico e manter a atenção doleitor. A seção Resumo permite visualizar e organizar os principaisconceitos de capítulo. A seção Tente Você Mesmo dá aos alunos aoportunidade de aplicar princeipios e conceitos básicos.
Por fim, com base no conteúdo do capítulo, os exercícios deaprendizagem ativa visam ao desenvolvimento de habilidadesespecíficas de raciocínio crítico.Karen Huffman, Mark Vernoy e Judith Vernoy são professores doPalomar College (Califórnia).
ORGANIZADO PELO PROJETO MEMÓRIA DAS ORGANIZAÇÕES GLOBO
DICIONÁRIO DA TV GLOBOJORGE ZAHAR EDITOR
940 p. – R$ 59,00
Este primeiro volume do Dicionário da TV Globo reúne todos osprogramas de dramaturgia e entretenimento produzidos eexibidos pela TV Globo desde a sua inauguração, em 1965, até opresente. Os verbetes foram organizados de modo a permitir queo leitor acompanhe a evolução da maior emissora da televisãobrasileira e reconstitua as principais características dosprogramas ao longo do tempo.
A pesquisa para elaboração deste Dicionário contou com aparticipação de profissionais das áreas de história, comunicação,
antropologia e sociologia que levantaram informações emjornais, revistas, livros, vídeos e fitas de áudio. Além disso, foramgravados mais de 200 depoimentos de profissionais – atores,diretores, produtores, jornalistas, técnicos e executivos, entreoutros – que falaram sobre fatos, acontecimentos e os maisdiversos aspectos de seu trabalho nas empresas das OrganizaçõesGlobo. Dados antes dispersos em diferentes mídias foram, assim,sistematizados, analisados e transformados em verbetes.
Ao traçar a história da Rede Globo – do ponto de vista técnico,estético, artístico e cultural –, este Dicionário apresenta tambémum panorama histórico da televisão brasileira, revelando aindaa interação entre televisão e sociedade. Com cerca de 750ilustrações, essa é uma obra de referência fundamental paratodos os que se interessam pela televisão, desde o telespectadorcurioso até estudiosos e profissionais da mídia.
125J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3 — R E V I S T A D A E S P M
LULA VIEIRA
INCOMODADA FICAVA A SUA AVÓ – ANÚNCIOS QUEMARCARAM ÉPOCA E CURIOSIDADES DA PROPAGANDA
EDIOURO PUBLICAÇÕES
304 p. – R$ 32,00
Incomodada ficava a sua avó é uma deliciosa coletânea de artigossobre propaganda que o renomado publicitário Lula Vieiraescreveu para diversos veículos brasileiros. Redigida comdesenvoltura, bom-humor e apresentando inúmeras ilustraçõesque fizeram parte de anúncios famosos, esta obra atrai a atençãodos leitores, sejam eles aficcionados ou não pelo assunto. Aexplicação para o título é o maravilhoso anúncio de um absorventeíntimo cujo título é um genial trocadilho. Quanto aos títulos doscapítulos, são totalmente aleatórios, apenas um agrupamento decrônicas por assuntos. Na maioria das vezes, os comentários nãoficam restritos a cada tema.
Lula Vieira analisa a atualidade de alguns anúncios, conta curiosidadescomo a de que “fumar foi chique e já fez bem à saúde”; a dificuldade da
entrada da Coca-Cola no mercado brasileiro; as loucuras de suasexperiências; fala sobre o machismo e a exploração da sensualidadefeminina, o racismo e os diversos tipos de preconceito nas peçaspublicitárias. Além disso, não esquece também dos anúncios mentirosos,onde inúmeros benefícios que o produto não oferece são ressaltados eapresentados ao público. E conta, num hilariante relato, que “uivou”, nafalta de saber o que fazer diante de uma gafe com um cliente.
Através de campanhas publicitárias podemos acompanhar a evoluçãoda sociedade. Elas funcionam como um retrato dos usos e costumesde cada momento da história de um povo. “Conhecendo a evoluçãoda linguagem publicitária e dos meios de comunicação, é possível seextrair um retrato fiel da sociedade brasileira”, diz o autor. Incomodadaficava a sua avó é leitura imprescindível para os que desejam conhecereste mundo um pouco melhor.
Lula Vieira atua como publicitário há mais de 35 anos. … sócio ediretor de criação da agência carioca V&S Comunicações. … professorda ESPM, apresentador dos programas “Jingles Inesquecíveis” (rádioCBN) e “História da Propaganda no Brasil” (TVE). Membro do júri devários festivais de propaganda e autor do livro Loucuras de umpublicitário – histórias divertidas do mundo da propaganda (1999).
GILSON NUNES E DAVID HAIGH
MARCA – VALOR DO INTANGíVELEDITORA ATLAS
280 p. – R$ 39,00
“Marcas” o sucesso de seus negóciosA marca é um fator crítico de sucesso para todas as organizações,tanto para empresas comerciais como profissionais, tanto parainstituições de caridade como para partidos políticos. As marcas sãoativos financeiros e estratégicos vitais delas. A gestão das empresasestá casa vez mais desejosa de saber sobre a contribuição das marcaspara o sucesso de seus negócios.
Este livro relaciona o contexto da sociedade do conhecimento com odesenvolvimento da marca, dos princípios da administração modernae, finalmente, da transição do marketing tradicional para o branding.Além disso, demonstra o processo de criação e gestão de uma marcade sucesso, a partir de uma visão integrada entre empresa, estratégia,consumidores e mercado.
Outro destaque demonstrado no texto reside no escopo e naprofundidade com que os autores tratam das metodologias existentesde avaliação da marca e da questão do tratamento contábil sobre asmarcas, bem como das técnicas de pesquisas de mercado para sedeterminar o brand equity e como estão relacionadas com as técnicasde avaliação da marca, de forma a construir a ponte entre o marketinge as finanças.
Gilson Nunes é presidente da Brand Finance para a América Latina.Mestre em Economia pela Fundação Getulio Vargas, possui cursos deMBA pela London Business School (Londres) e Bocconi University(Itália) dentro do Program of International Management (PIM). Foi sócioe diretor geral da Thymus Branding. e-mail: [email protected] Haigh é presidente mundial da Brand Finance(www.brandfinance.coml), sediada em Londres. Foi diretor do conselhode administração da prática de avaliação global de marca daInterbrand, na Grã-Bretanha. Membro do UK Chartered Institute ofMarketing e do UK Academy of Experts, além de ser CharteredAccountant com a PricewaterhouseCoopers. Comentarista nas TVsCNN, Sky, BBC e Bloomberg TV. e-mail: [email protected]
ARIOVALDO DOS SANTOS
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – COMOELABORAR E ANALISAR A DVA
EDITORA ATLAS
272 p. – R$ 43,00
Com a ênfase atualmente dada às questões relacionadas ao BalançoSocial, abre-se grande e nova perspectiva de utilização doinstrumental proporcionado pela Contabilidade para o entre-tenimento das relações empresa-sociedade.
Dentro desse enfoque, uma das vertentes possíveis está calcadana Demonstração do Valor Adicionado (DVA), pois essa é ademonstração que será capaz de atender às necessidades relativas
a informações sobre a riqueza gerada e à forma de sua distribuiçãoem cada empresa.
A dedicação do autor ao desenvolvimento e à melhoria das condiçõessociais das empresas e os trabalhos desenvolvidos na área doBalanço Social resultaram nesta obra, que apresenta não só osaspectos conceituais que suportam a DVA no formato contábil, mastambém os inúmeros problemas do dia-a-dia em sua elaboração.
Trata-se de mais um ferramental contábil elaborado por um dosintegrantes do grupo de pesquisadores da FIPECAFI, órgão de apoioao Departamento de Contabilidade e Atuária na Faculdade deEconomia e Administração da Universidade de São Paulo.
Ariovaldo dos Santos é professor livre-docente da FEA/USP,pesquisador da FIPECAFI e coordenador técnico da edição deMelhores e Maiores da revista Exame.
FRANCESC PETIT
MARCASEDITORA FUTURA
368 p. – R$ 49,00
Como nascem as marcas famosas? Como são pensadas eestruturadas? Como uma marca pode se tornar notável?
O sócio e diretor de criação da agência DPZ, Francesc Petit, o P daDPZ, disseca tintim por tintim a construção de uma grande marca.Com um estilo agradável, Petit conta a história de marcas famosase outras nem tanto assim, mas extremamente notáveis quanto àqualidade.
Petit apresenta o mundo mágico das marcas, como são inventadas e oque as torna inesquecíveis. Marcas – e meus personagens é umlivro acessível a gregos e troianos. Profissionais de comunicaçãoe designers encontrarão um material completo sobre a história dasmarcas e da propaganda. Curiosos se deliciarão com os bastidores dainvenção das marcas que estão há muito gravadas em nossas mentes.
A obra passa também pelos meandros do designer gráfico e portemas cada vez mais importantes para as empresas modernas: oque é e como avaliar a imagem de uma marca, quando surgem asgrandes marcas, diversificação de marca.
Um instrumento ótimo para empresários que querem saber comoavaliar suas marcas e também como se pede e como se analisauma marca. No final do livro há um ranking das empresas commelhor imagem de marca.
126R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
SUMÁRIO EXECUTIVOMERCADO DE TRABALHO PARAO JOVEM BRASILEIRO: COMOPROMOVER SEU CRESCIMENTO?
Eduardo Najjar
P. 8Já se tornou lugar comum dizer que os jo-vens profissionais de hoje serão os dirigentes dasempresas e dos governos num futuro próximo.
No entanto, o que se verifica é que nos negócios,como na política, pouco está-se investindo na for-mação profissional de nossos jovens.
Muito desse não-investimento deve-se aodistanciamento entre a Universidade e a Empre-sa, para a realização de projetos conjuntos.
Mas quem são esses jovens? O que pensam a res-peito de seu trabalho e seu futuro profissional?
E quais as ações que podem ser aplicadas à suaformação para que possam, a curto prazo, ter maiornível de empregabilidade e a médio longo prazosejam capazes de desenvolver projetos que levemnosso país ao nível de qualidade de vida que de-sejamos para nós e nossas famílias?
OS LIMITES DA TOLERÂNCIA:O TRABALHO SEM O EMPREGO
Hermano Roberto Thiry-Cherques
P. 18O artigo examina as condições que levam as pes-soas a eleger como modo de subsistência o traba-lho individualizado, não circunscrito às organizações.Descreve os limites da tolerância, tanto do empre-gado em relação à organização como desta em re-lação ao trabalhador, sob as ópticas político-estra-tégica; psicofísica e ética. A conclusão e de que háindícios de que novas oportunidades se abrem paraos intolerantes com as organizações e os intoleradospor elas na medida em que as formas de trabalhonão presencial têm espaço crescente na economiacontemporânea. O trabalho sem o emprego tem sidovisto negativamente. Mas nem sempre oinsulamento é um ostracismo. Ele pode ser conve-niente a determinadas personalidades. A persisti-rem as tendências atuais, é possível que o trabalhonão presencial venha a ser a norma, não a exceção,
nos próximos anos. É provável que o emprego, avinculação permanente a uma única organização,seja residual em pouco tempo.. O trabalho inscritono espaço organizacional supõe uma margem detolerância. E se a tolerância é construtiva, ela não é,em si, boa. Goethe escreveu que a tolerância deveser transitória, que deve conduzir ao respeito e nadamais, porque, em última instância, tolerar é ofender.
COACHING: SÓ QUEM NÃO É BOBOACHA QUE VAI PRECISAR DISTO
Marcos Souza Aranha
P. 36Há milênios nascia o coaching, como ne-cessidade de ter uma visão ampliada do pre-sente, para tomar decisões com impacto nofuturo. O Coach é a pessoa que deve ajudaroutras a atingir seus objetivos através daqui-lo que têm de melhor. Na antigüidade, muitoslíderes procuravam pessoas externas a seusinteresses visando para conhecer pontos devista diferentes dos seus. A figura mais facil-mente reconhecida era o “bobo da corte”,único personagem autorizado a falar o quequisesse. O bobo era um excelente Coach e orei sabia que precisava de coaching.
Como a palavra coaching se tornou um genérico,principalmente no Brasil, e diferentes tipos deprofissionais estão fazendo uso dela, é impor-tante separar as atividades como terapia, aconse-lhamento profissional, counseling , mentoring eo coaching propriamente.
Ao contatar os profissionais que poderão fa-zer seu coaching, pergunte qual é ametodologia que irão utilizar e certifique-sede que têm um roteiro claro a seguir. Toma-das estas decisões, procure conversar comprofissionais de sua área, amigos, RH que játenham feito ou conheçam Coaches paraindicá-lo. Decida-se sobre para que, quan-do, como, onde, com quem fazer coaching.
VERDADES DO VAREJO –MARKETING E COMUNICAÇÃONO MERCADO VAREJISTA
Edson Zogbi
P. 40
Um texto exploratório e analítico sobre a trajetóriado marketing e da comunicação para o varejodos seus primórdios até o momento atual. O hia-to existente entre a formação acadêmica e o mer-cado, simultaneamente à grande migração dasverbas, da comunicação tradicional para o vare-jo. A percepção diferenciada do consumidorquando o assunto é varejo. Como fica oplanejamento de comunicação, qual a mídia ide-al e a pesquisa como ferramenta indispensávelpara decisões. As marcas dos fabricantes dentroda estrutura do varejo e o investimento do vare-jista na sua própria marca. O início do cruzamentodos meios virtuais com o ponto-de-venda. O queo consumidor considera básico e o que é desejá-vel. O varejo dentro da Internet. O uso dacriatividade para potencializar a enorme dinâmicado varejo. Um exercício de imaginação sobre astendências do segmento buscando gerar idéiasinovadoras.
A APLICAÇÃO DOS MODELOS DECOMPORTAMENTO DO CONSUMI-DOR AOS CATÓLICOSPRATICANTES
P. 58Rodrigo D. de Salvi e Ernesto M. Giglio
Cada modelo de Ciência tem a pretensão de seraplicado a um amplo conjunto de manifestaçõesde um fenômeno. Na verdade o ideal a ser atin-gido é que se aplique a todas as categorias deum fenômeno em estudo. Os modelos de com-portamento do consumidor buscam explicar asescolhas de produtos e serviços pelas pessoas,mas idealmente buscam também explicar aque-las escolhas que não necessariamente envolvemtroca financeira e sim troca de serviços, ou derelacionamento. É o caso da escolha e hábito doscomportamentos religiosos. Neste artigo busca-mos desenvolver algumas reflexões sobre o al-cance de três modelos básicos do comportamen-to do consumidor, quando aplicados ao compor-tamento das pessoas católicas. Os modelos sãotipologia, processo em etapas e influência soci-al. A análise é válida por dois motivos: por umlado, os trabalhos sobre o terceiro setor têm cres-cido na literatura brasileira; por outro lado, os au-tores têm interesse em contribuir para possíveismudanças nos processos de relacionamento daIgreja Católica com os seus seguidores. zx
128R E V I S T A D A E S P M – J U L H O / A G O S T O D E 2 0 0 3
JOB OPPORTUNITIES FORYOUNG BRAZILIANS.HOW TO INCREASE THEM?
Eduardo Najjar
P. 8It has become common-place to say that today˙s
young professionals will become the leaders of
companies and governments in the near future.
However, both in business and public administration
little is being done to develop professional skills of
these young people. Part of the problem is due to the
growing distance between University and the
Corporation, who do not have projects in common.
Who are these young people? What do they think about
their work and their professional future? And what
actions may be envisaged to improve their
professional profiles so that they may increase the
chances of obtaining jobs and – in the medium and
long range – undertake projects that will help the
country reach the level of lifestyles that we desire for
us and for our families?
LIMITS OF TOLERANCE:WORK WITHOUT A JOB
Hermano Roberto Thiry-Cherques
P. 18This article examines under what conditions people
chose, as a means of subsistence, individualized work
not circumscribed to organizations. It describes the
limits of tolerance, both on the part of the employee
in relation to the organization as from their latter in
relation to the worker, under a political-strategical,
psychophysical and ethical points of view. The
conclusion is that there are indications that new
opportunities are opening for such organization-
intolerants and for those intolerated by them to the
extent that variations of out-of-job work are
conquering space in the economy. “Work without a
job” has been viewed negatively. But the exception
does not always mean marginality. This type of activity
may be convenient to certain individuals. If current
tendencies prevail, out-of-job work may become the
norm, and not the exception in the coming years. Very
probably, and soon, jobs, the permanent ties with a
single organization may become residual. Work
inscribed in the organizational space commands a
margin of tolerance. If tolerance may be considered
to be constructive, in itself it is not a virtue. Goethe
wrote that tolerance must be transient, that it must
lead to respect and nothing else, since, in the last
analysis, to tolerate is to offend.
COACHING:ONLY SMART PEOPLEKNOW THEY NEED IT.
Marcos Souza Aranha
P. 36Coaching is something that appeared thousand years
ago, as a means of having an enlarged view of the
present in order to make decisions about the future.
The coach is a person who tries to help others reach
their objective through their best abilities. In antiquity,
many leaders looked for outside help to further their
interests reasoning that different points of view from
their own might help. The best-known character of
these times was the court jester, the only person in
court authorized to speak his mind. The jester was a
competent coach and the king knew he needed him.
Since the word coach assumed several meanings, in
Brazil, and different types of professional adopt it, it
is important to set it apart from activities such as
therapy, professional counseling, mentoring and
coaching proper. When hiring a coach, ask him about
the methodology he intends to use and make sure
that he has a clear blueprint to follow. And before you
decide, try also to talk with other professionals from
your specialty, and friends who have experience with
it and/or who know coaches to recommend to you.
RETAIL TRUTHS – MARKETINGAND COMMUNICATION INTHE RETAIL MARKET
Edson Zogbi
P. 40
This is an exploratory and analytical text about the
development of marketing and communication in
retailing, from its inset to current times. The gap
between formal education and the market,
simultaneous with the large migration of traditional
communication budgets toward the retail level. The
perception of retailing by consumers. What should be
done about communication planning , what media and
research tools should be used, ideally, for decision-
making. Manufacturers˙ brands within the retail
structure and the investments of retailers in their own
brands. The beginning of the crossing of virtual
media with the point of purchase. What consumers
consider basic and what is merely desirable. Retailing
in Internet. The use of creativity to propel the great
dynamics of retailing. An exercise of imagination upon
the tendencies in the segment, searching for
innovative ideas.
APPLICATION OFBEHAVIORAL CONSUMERMODELS TO PRACTICINGCATHOLICS
Rodrigo D. de Salvi/Ernesto M. Giglio
P. 58Each scientific model has the pretension of being
applied to a vast array of manifestations of a single
phenomenon. In fact, the ideal to be reached is to
apply it to all categories of the phenomenon under
study. The models of consumer behavior are used to
explain the choices of goods and services by people,
but the may be ideally used to explain the choices
that are not necessarily related to financial exchanges,
but are exchanges of services or of relationships. This
is the case in the process of choice and habits that
have to do with religious behavior. In this article, the
authors endeavor to develop reflections about the
coverage of three basic models of consumer behavior
as applied to the behavior of Catholics. These models
are typology, stage process and social influence. The
analysis is validated on two grounds: on the one hand,
works about the third sector have increased in number
in Brazilian literature; and, on the other hand, the
authors are interested in offering their contribution to
possible changes in the processes of relationship
between the Catholic Church and its followers.
ENGLISH ABSTRACTS
zx