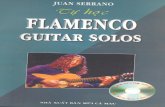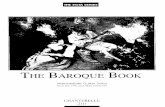Dissertação 2 - Tóp Esp Mec Solos - Eduardo Filipe Gabriel Rafael
Transcript of Dissertação 2 - Tóp Esp Mec Solos - Eduardo Filipe Gabriel Rafael
Graduação em Engenharia Civil
Tópicos Especiais em Mecânicas dos Solos
Eduardo Santos Neiva
Filipe Eliel de Faria
Gabriel Torino Nogueira
Rafael Peixoto Jorge
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, ESCAVAÇÕES E
ESCORAMENTOS
Belo Horizonte
2014
Eduardo Santos Neiva
Filipe Eliel de Faria
Gabriel Torino Nogueira
Rafael Peixoto Jorge
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, ESCAVAÇÕES E
ESCORAMENTOS
Belo Horizonte
2014
Dissertação apresentado à disciplina
Tópicos Especiais em Mecânica dos
Solos da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.
Professor: Sidney Santos Barradas
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Variação dos empuxos em função do deslocamento ........................................... 6
Figura 2: Massa semi-infinita de solo ............................................................................... 6
Figura 3: Empuxo ativo (Ea) e Empuxo Passivo (Ep) .......................................................... 7
Figura 4: Empuxo no repouso ......................................................................................... 8
Figura 5: Empuxo ativo................................................................................................. 10
Figura 6: Empuxo passivo ............................................................................................ 11
Figura 7: Contenção escorada de madeira ..................................................................... 15
Figura 8: Exemplos de encaixes de pranchas verticais .................................................... 15
Figura 9: Gabião ......................................................................................................... 16
Figura 10: Estaca prancha ............................................................................................ 16
Figura 11: Muros de arrimo ........................................................................................... 17
Figura 12: Gabião ........................................................................................................ 19
Figura 14: Muros de flexão .......................................................................................... 20
Figura 15: Muros de contrafortes ................................................................................... 21
Figura 16: Ficha .......................................................................................................... 22
Figura 17: Escavação em solo mole ............................................................................. 23
Figura 18: Escavações ................................................................................................ 25
Figura 19: Tipos de escoramento ................................................................................. 27
Figura 20: Tirante ........................................................................................................ 28
Figura 13: Crib-wall ..................................................................................................... 19
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: k0 H.P. CAPUTO ............................................................................................. 8
Tabela 2: k0 M. VARGAS ................................................................................................ 9
LISTA DE SIGLAS
NBR – Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 4
2. EMPUXO DE TERRA ......................................................................................... 4
2.1. Generalidades .................................................................................................... 4
2.2. Coeficientes de Empuxo ..................................................................................... 6
2.2.1. Empuxo no Repouso ......................................................................................... 7
2.2.2. Empuxo Ativo .................................................................................................... 9
2.2.3. Empuxo Passivo ................................................................................................ 9
2.3. Teoria de Rankine............................................................................................. 10
2.3.1 Hipóteses Fundamentais .................................................................................. 10
2.3.2 Solos Não Coesivos ......................................................................................... 11
2.3.2.1 Estado Ativo .................................................................................................. 11
2.3.2.2 Estado Passivo .............................................................................................. 12
3. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO .................................................................... 13
3.1. Tipos de estruturas de Contenção .................................................................... 14
3.1.1 Classificação .................................................................................................... 14
3.1.1.1 Provisória ...................................................................................................... 14
3.1.1.2 Definitiva........................................................................................................ 16
3.2. Aspectos importantes relativos às Obras de Contenção .................................. 21
4. ESCAVAÇÃO ................................................................................................... 23
5. ESCORAMENTO .............................................................................................. 26
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 30
4
1. INTRODUÇÃO
A engenharia civil é responsável por grandes empreendimentos, de
impressionantes formas e tamanhos. Utiliza, hoje ainda mais que em tempos atrás,
artifícios que garantem estabilidade e segurança às edificações, durante e após a
construção. As estruturas de contenção e escoramentos fazem parte deste grupo,
que mantem estáveis algumas obras que não se manteriam caso não se fizesse uso
desses artifícios.
As obras de contenção mais antigas de que temos notícia são muros de
alvenaria de argila, contendo aterros na região sul da Mesopotâmia (atual Iraque),
construídos por sumerianos entre 3200 e 2800 a.C. Obras construídas conforme
preceitos de engenharia moderna começaram a surgir apenas no início do século
18, fruto do trabalho de engenheiros franceses.
De fato, a engenharia moderna de obras de contenção iniciou-se com a
publicação do trabalho de Coulomb, em 1776, sobre estruturas de arrimo. Essas
obras são comuns em projetos de edificações urbanas para criação de subsolos
para estacionamentos, contenção de cortes e também presentes em projetos de
estradas, estabilização de encostas, metrôs, entre outros.
2. EMPUXO DE TERRA
2.1. Generalidades
Empuxo de terra é a ação produzida pelo maciço terroso sobre as obras com
ele em contato. A determinação do valor do empuxo de terra é fundamental na
análise e projeto de obras como:
a. Muros de arrimo – empuxo ativo sobre o muro.
b. Cortinas de estacas-pranchas – empuxo ativo e passivo (ficha) na cortina.
c. Construções de subsolos – empuxo no repouso sobre as paredes de um
edifício.
d. Encontros de pontes – empuxo passivo.
5
É um dos temas mais intricados da Mecânica dos Solos. Todas as teorias
propostas admitem hipóteses simplificadoras que não expressam totalmente a
realidade dos solos.
O empuxo geralmente é calculado por uma faixa de largura unitária da
estrutura de arrimo, não se considerando as forças que atuariam sobre as
superfícies laterais dessa faixa. A magnitude do empuxo depende:
▪ Desnível vencido pela estrutura de arrimo;
▪ Tipo e das características do solo;
▪ Deformação sofrida pela estrutura;
▪ Posição do nível de água;
▪ Inclinação do terrapleno, etc.
O valor do empuxo de terra, assim como a distribuição de tensões ao longo
do elemento de contenção, depende da interação solo-elemento estrutural durante
todas as fases da obra. O empuxo atuando sobre o elemento estrutural provoca
deslocamentos horizontais que, por sua vez, alteram o valor e a distribuição do
empuxo, ao longo das fases construtivas da obra.
Os termos ativo e passivo são usualmente empregados para descrever as
condições limites de equilíbrio correspondente ao empuxo do solo de retroaterro
contra a face interna (tardoz1) do muro de arrimo ou contenção.
A figura 1 mostra a variação de empuxos em função do deslocamento. A
pressão horizontal diminui ou aumenta, conforme o muro aproxima-se ou afasta-se
do maciço de terra.
6
Figura 1: Variação dos empuxos em função do deslocamento
2.2. Coeficientes de Empuxo
Consideremos uma massa semi-infinita de solo e calculemos a pressão
vertical σv em uma profundidade z.
Figura 2: Massa semi-infinita de solo
A relação entre σh e σv em repouso é chamado de k, que é o coeficiente de
empuxo.
k = σh σv
7
Se a solicitação imposta ao solo envolver deformações laterais de
compressão ou de extensão, o equilíbrio é alterado e o solo se afasta da condição
de repouso.
Dependendo da magnitude das deformações laterais, o estado de tensões no
solo pode situar-se entre as condições de repouso e de ruptura. Quando a
solicitação levar a uma condição de tensões com a circunferência de Möhr
tangenciando a envoltória, a resistência ao cisalhamento disponível do solo passa a
ser integralmente mobilizada e o elemento atinge o estado de equilíbrio plástico ou
equilíbrio limite.
Terzaghi mediu o valor da força necessária para manter o anteparo estático,
denominado de “empuxo em repouso” (Eo), denominou a força sobre o anteparo no
momento da ruptura, de “empuxo ativo” (Ea), afastando o anteparo da massa de solo
e a força empurrando o anteparo contra a massa de areia até a ruptura de “empuxo
passivo” (Ep).
Figura 3: Empuxo ativo (Ea) e Empuxo Passivo (Ep)
2.2.1. Empuxo no Repouso
Estados de Equilíbrio Plástico:
8
O estado de repouso corresponde à pressão exercida pelo solo de retroaterro
sobre um muro de contenção rígido e fixo, ou seja, que não sofre movi-mentos na
direção lateral.
Figura 4: Empuxo no repouso
Tabela 1: k0 H.P. CAPUTO
9
Tabela 2: k0 M. VARGAS
2.2.2. Empuxo Ativo
O estado ativo ocorre quando o muro sofre movimentos laterais
suficientemente grandes no sentido de se afastar do retroaterro.
Figura 5: Empuxo ativo
2.2.3. Empuxo Passivo
De forma análoga, o estado passivo corresponde à movimentação do muro de
encontro ao retroaterro.
10
Figura 6: Empuxo passivo
Para o caso ativo, a trajetória de tensões corresponde a um descarregamento
da tensão lateral (redução da tensão principal menor σ3), enquanto, para o caso
passivo, a trajetória pode ser associada a um carregamento lateral (aumento da
tensão principal maior σ1).
As teorias clássicas sobre empuxo de terra foram formuladas por Coulomb
(1773) e Rankine (1856), sendo desenvolvidas por Poncelet, Culmann, Rebhann,
Krey, Caquot, Ohde, Terzaghi, Brinch Hansen e outros.
2.3. Teoria de Rankine
Rankine baseou-se na hipótese de que uma ligeira deformação no solo é
suficiente para provocar uma total mobilização da resistência de atrito, produzindo o
estado ativo se o solo sofre expansão e passivo se sofre compressão.
2.3.1. Hipóteses Fundamentais
As hipóteses fundamentais são:
I. Terrapleno homogêneo;
II. Superfície plana;
III. Válida a Teoria de Möhr;
11
IV. Sem pressão de percolação;
V. Movimento livre do anteparo;
VI. Não há atrito entre solo e muro.
2.3.2. Solos Não Coesivos
2.3.2.1. Estado Ativo
13
3. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
A realização de uma obra de fundações quase sempre envolve estruturas de
contenção. É frequente a criação de subsolos para estacionamento em edifícios
urbanos, de contenções de cortes ou aterros, por muros de arrimo, para a criação de
plataformas; a instalação de dutos de utilidades em valas escoradas etc. Obras de
contenção do terreno estão presentes em projetos de estradas, de pontes, de
estabilização de encostas, de canalizações, de saneamento, de metrôs etc.
A contenção é feita pela introdução de uma armadura ou de elementos
estruturais compostos, que apresentam rigidez distinta daquela do terreno que
conterá. O carregamento da estrutura pelo terreno gera deslocamentos que por sua
vez alteram o carregamento, num processo interativo. Alguns preferem afirmar que o
processo é mais corretamente descrito como sendo de deslocamentos impostos,
14
gerando carregamentos decorrentes e não o contrário. De qualquer forma,
contenções são estruturas cujo projeto é condicionado por cargas que dependem de
deslocamentos.
Apesar de isto ser um fato há muito reconhecido, ilustrado que foi pelos
resultados clássicos de Terzaghi (1934) de ensaios em modelos de muros de arrimo
em areia a prática corrente nem sempre demonstra este reconhecimento, como se
discutirá adiante. A seguir serão apresentados os principais tipos de estruturas de
contenção, suas características executivas e peculiaridades.
3.1. Tipos de estruturas de Contenção
3.1.1. Classificação
3.1.1.1. Provisória
As contenções provisórias são aquelas de caráter transitório, sendo
preferencialmente removidas quando cessada sua necessidade. Nelas, são
principalmente empregados três processos executivos:
• Contenções de madeira;
• Contenções com perfis cravados e de madeira;
• Contenções com perfis metálicos justapostos.
Todos os três métodos resultam em contenções flexíveis, podendo ou não ser
escoradas.
3.1.1.1.1. Contenção escorada de madeira
É uma técnica utilizada para escavações de pequenas alturas, usualmente
entre 1,5 e 2,5 metros, escavadas manualmente.
15
Figura 7: Contenção escorada de madeira
No caso de escavações de obras que não sejam valas, as estroncas são
substituídas por estacas inclinadas.
O escoramento por estacas inclinadas deve ser feito a medida que avança a
escavação. As pranchas verticais se comportam melhor quando dotadas de encaixe
tipos macho e fêmea, principalmente em areias e terrenos argilosos muito moles por
que vedam melhor a passagem de água e as partículas de solos muito finos.
Figura 8: Exemplos de encaixes de pranchas verticais.
Contenção de madeira para profundidades de:
• 1,80 a 3,0 m, no caso de solos duros e firmes;
• 1,2 a 2,0 m, no caso de solos mais fofos e arenosos.
16
3.1.1.2. Definitiva
Algumas outras técnicas só são economicamente recomendáveis em
contenções definitivas, principalmente por não permitirem o reaproveitamento dos
componentes e materiais utilizados e por resultarem em contenções mais robustas
ou pesadas.
Dentre elas destacam as estacas pranchas, muros de arrimo e parede de
diafragma.
Figura 9: Gabião
Figura 10: Estaca prancha
17
Figura 11: Muros de arrimo
3.1.1.2.1. Muros de Arrimo
Os muros são estruturas corridas de contenção constituídas de parede
vertical ou quase vertical, apoiada numa fundação rasa ou profunda. Podem ser
construídos em alvenarias (de tijolos ou pedras) ou em concreto (simples ou
armado), ou ainda de elementos especiais.
Os muros de gravidade são estruturas corridas (contínuas) que suportam os
esforços (empuxos) pelo seu peso próprio. Geralmente são executados para conter
desníveis pequenos ou médios, inferiores a cerca de 5 metros. São construídos
quando se dispões de espaço para acomodar sua seção transversal: a largura da
base é da ordem de 40% da altura do solo a ser contido.
No caso de contenção em terrenos escavados, podem ser executados em
trechos alternados, permitindo que a escavação se processe por etapas, evitando o
desconfinamento total do terreno. O muro é então construído em trechos sucessivos
até sua conclusão.
Os muros de gravidade podem, também, ser construídos para conter
terraplenos (aterros). Nesse caso, o muro deve ser executado integralmente param
18
receber o maciço somente ao final da sua construção, ou à medida que for sendo
erguido.
Pelo fato de serem estruturas pesadas, são quase sempre escolhidos como
contenção quando o terreno tem boa capacidade de carga, capaz de suportar as
tensões máximas na fundação em sapata corrida.
Os muros de gravidade podem ser construídos com diversos tipos de
materiais ou elementos:
• Muro de pedra seca: são executados com pedras encaixadas manualmente,
sem argamassa.
• Muro de pedra argamassada: as pedras são assentadas com argamassa
(alvenaria de pedra).
• Muro de concreto ciclópico: são executados através da execução de fôrmas e
lançamento de concreto com pedras de grande dimensão (“pedras de mão”).
• Muro de solo cimento ensacado: são confeccionados pelo empilhamento de
sacos de aniagem preenchidos com mistura de solo, cimento e água.
• Muro de gabiões: são construídos pela superposição de gaiolas prismáticas
de arame galvanizado cheias de pedras com diâmetro mínimo superior à
abertura da malha da gaiola. Suas principais características são a flexibilidade
(acomodam-se bem a recalques diferenciais) e a permeabilidade. O
preenchimento com pedras é feito mecanicamente no local, após a disposição
da gaiola.
• Crib-wall: também chamadas de “paredes de engradados”, são estruturas
formadas por elementos pré-moldados de concreto armado, madeira ou aço,
montados no local justapostos e interligados longitudinalmente (figura 3.19),
cujo espaço interno é preenchido de preferência com material granular graúdo
(brita grossa ou pedra de mão).
19
Figura 12: Gabião
Figura 13: Crib-wall
3.1.1.2.2. Muros Atirantados
São estruturas mistas em concreto e alvenaria (de blocos de concreto ou
tijolos) atirantadas ao maciço de solo que contêm, por meio de barras ou vigas de
concreto armado ligando o muro a blocos, vigas longitudinais ou estacas
implantadas no maciço. Os muros assim descritos são estruturas de baixo custo,
para pequenas alturas de contenção (até 3 metros), executados sempre que os
tirantes não possam vir a tornar-se obstáculos para obras futuras. Dependendo das
condições do solo de fundação e da altura do arrimo, podem apoiar-se em sapata
corrida, em estacas ou mesmo em brocas.
3.1.1.2.3. Muros de Flexão
São estruturas mais esbeltas, com seção transversal em forma de “L” que
resistem aos empuxos por flexão. O peso do solo sobre a base do “L” auxilia na
20
manutenção do equilíbrio. Na grande maioria dos casos, são construídos em
concreto armado, tornando-se em geral antieconômicos para alturas acima de 5 a 7
metros. Os muros de flexão, quando de estrutura massiva, também auxiliam a
manter o equilíbrio pelo seu peso próprio, sendo um misto de funcionamento entre
os muros de gravidade e os de flexão.
Figura 14: Muros de flexão
3.1.1.2.4. Muros de Contrafortes
Os muros de contrafortes possuem elementos verticais de maior porte
(contrafortes ou gigantes) espaçados de alguns metros, e destinados a suportar os
esforços de flexão pelo engastamento na fundação. Nesse caso, a parede do muro
constitui-se de lajes verticais apoiadas nesses contrafortes.
Como nos muros de flexão, o equilíbrio é alcançado pelo peso do maciço de
solo sobre a base do muro (sapata corrida ou laje de fundação). A diferença entre
esse tipo de muro e o muro de flexão é essencialmente estrutural.
Os gigantes ou contrafortes podem ser construídos para o lado externo do
muro ou embutidos no maciço. Os muros de contrafortes, assim como os de flexão,
destinam-se a conter solos ou aterros que devem ser compactados adequadamente
sobre a base, cuja largura é em média da ordem de 40% da altura do solo a ser
contido, exigindo assim esse espaço para execução.
Se apoiados em fundações diretas (sapata corrida), a condição crítica de
equilíbrio é relativa à translação, o que pode exigir a construção de um dente vertical
na fundação para dificultar tal deslocamento. Podem ser apoiados em estacas
verticais e/ou inclinadas, dependendo das características do solo no local.
21
Figura 15: Muros de contrafortes
3.2. Aspectos importantes relativos às Obras de Co ntenção
A influência da água é marcante na estabilidade dos muros de arrimo, já que
o acúmulo de água por deficiência de drenagem pode duplicar o empuxo atuante
sobre o muro. Assim, a execução de um sistema eficaz de drenagem é
imprescindível.
A drenagem pode ser feita de diversas maneiras. Alguns tipos de contenção,
como os muros de pedras secas, gabiões e crib-walls, são autodrenantes, tendo em
vista o material que empregam. Entretanto, mesmo nesses muros, é indicada a
execução de canaletas no topo e na base do talude, para captar águas superficiais e
evitar o rompimento das fundações do muro. Também é indicada a execução de
dreno de areia entre o solo e a estrutura para a coleta de água subterrânea,
podendo ser acrescentada uma camada de manta geotêxtil para evitar o
carreamento do solo. Em estruturas impermeáveis, como muros de concreto, pedra
argamassada, concreto ciclópico, cortinas atirantadas ou mesmo muros de solo-
cimento, devem ser acrescentados a esse conjunto de medidas os barbacãs. Esses
elementos são tubos horizontais curtos instalados na parte inferior da estrutura de
contenção para evitar o acúmulo de água junto à base. O número e diâmetro dos
barbacãs variam de acordo com a dimensão da estrutura de contenção. A
durabilidade da obra depende ainda da manutenção para evitar colmatação
(entupimento) dos drenos.
22
As valas escoradas com pranchas, sejam elas metálicas, de madeira ou de
concreto, não são estanques, provocando o rebaixamento do lençol freático no local.
Isso pode gerar um fluxo de água para dentro da escavação, dificultando os
trabalhos dentro da vala e podendo causar o carreamento de solos finos, o que seria
extremamente danoso para edificações vizinhas. Assim, a necessidade ou não de se
prever um sistema de rebaixamento controlado do nível do lençol freático deve ser
avaliada.
Também relativamente aos escoramentos, à demora na instalação das
contenções e a deficiência no encunhamento das estroncas e pranchas levam a
maiores deslocamentos horizontal e vertical do solo vizinho ao da escavação. Os
deslocamentos verticais ocorrem com maior intensidade numa faixa de terreno
adjacente à escavação igual à metade da altura escavada, diminuindo de
intensidade para pontos mais afastados do bordo da escavação. Isso gera
distorções em edificações vizinhas.
Uma das principais dificuldades comuns aos diversos tipos de escoramento
de escavações é a possibilidade de não ser atingida a “ficha” necessária à
contenção.
Entende-se por “ficha” o comprimento do escoramento existente abaixo do
nível da escavação. Isso leva à necessidade de se criar um ou mais planos
horizontais de escoramento (estroncas provisórias) para suporte aos empuxos
atuantes nas várias frentes de execução.
Figura 16: Ficha
Com relação às escavações, em solos moles pode ocorrer a ruptura do fundo
da escavação quando for atingida a profundidade crítica, sendo que essa ruptura se
assemelha à ruptura do solo sob fundações diretas (por cisalhamento). Além do
23
efeito imediato de recalque acentuado da superfície lateral do terreno, há o perigo de
deslocamento das estroncas inferiores pela elevação do solo mole no fundo da vala.
Aliás, essa elevação pode ocorrer mesmo que não haja a ruptura do fundo, porém
em menor intensidade. Em locais onde existir camada de argila mole subterrânea, e
quando o nível da escavação estiver abaixo do nível do lençol freático, pode ocorrer
ruptura súbita do fundo da escavação. Para evitar o problema, basta o uso de poços
de alívio internos à vala, não havendo a necessidade de instalação e operação de
um sistema de rebaixamento do lençol freático.
Figura 17: Escavações em solo mole
4. ESCAVAÇÃO
Os serviços de escavação visão a retirada de solo de um dado terreno a fim
de se atingir a profundidade ou a cota necessária à execução de uma determinada
construção.
Diferem, portanto, dos serviços de terraplenagem, uma vez que estes
envolvem, além do desmonte ou da escavação em si, as etapas de transporte e
aterro. No entanto, apresentam bastante semelhanças, sobretudo por lidarem com o
mesmo material, o solo, e por compartilharem o uso de determinados equipamentos.
24
São serviços indispensáveis as mais diferentes obras civis, desde a
construção de edifícios no caso de subsolos enterrados ou piscinas, até a
construção de barragens.
Assim, as escavações são executadas em obras como: edifícios, adutoras
d'água, coletores de esgoto, metrôs, rodovias e ferrovias, aeroportos, canais,
barragens, aterros sanitários, etc.
Por esse amplo espectro de aplicações fica claro que devemos estudar os
serviços de escavação em função dos aspectos técnicos neles envolvidos, e não
pelo porte ou tipo da obra a que se destinam.
Assim, os serviços de escavação caracterizam−se pelos seguintes aspectos:
• quantidade de solo a ser removido;
• localização da escavação;
• dimensões da escavação;
• tipo de solo a ser escavado;
• destino dado ao material retirado.
Ao consideram esses diferentes aspectos, podem organizar os tipos de
escavações em sete diferentes categorias:
• de grandes volumes em áreas limitadas;
• de grandes volumes em grandes áreas;
• de solos não consolidados, sobretudo argilas e siltes;
• verticais em áreas limitadas;
• abertura de valas;
• abertura de túneis;
• dragagem.
As escavações de grandes volumes em áreas limitadas são muito comuns na
construção de edifícios, nos quais usualmente são construídos subsolos enterrados,
atingindo escavações de mais de 10 m de profundidade. Nesses casos, a técnica
usual é se dispor o equipamento de escavação dentro da área a ser escavada,
sendo que esse vai escavando o solo no sentido do meio para os limites do terreno.
25
O material escavado é retirado por caminhões, que acessam o local por meio de
rampas. A configuração resultante são escavações de contornos verticais ou quase
verticais, algumas vezes inclusive contidas artificialmente.
Os equipamentos usualmente empregados nesses casos são a escavadeira
de colher ou, simplesmente, escavadeira e a pá−carregadeira, também chamada
escavo−carregadeira, ou, simplesmente, carregadeira, sendo esta última utilizada
em escavações de menores volumes.
As escavações de grandes volumes e grandes áreas são típicas de serviços
de terraplenagem. Por não terem limitações dimensionais em planta, usualmente
são de limitadas por rampas suaves ao invés de por paredes verticais como no caso
anterior. Isso faz com que o acesso à área escavada, sobretudo para a retirada do
material, se dê sem a necessidade de construção de rampas de grandes
inclinações, permitindo a utilização de equipamentos como os scrapers, que cumpre
o duplo papel de escavarem e transportarem o solo.
Figura 18(a): Escavações de grandes volumes em áreas limitadas
Figura 18(b): Escavações de grandes volumes em grandes áreas
26
Figura 18(c): Escavações de solos não consolidados
Figura 18(d): Escavações verticais em áreas limitadas
5. ESCORAMENTO
Quando a escavação não puder ser contida apenas com a presença de
taludes, deve então ser previsto o escoramento da paredes do corte. Os
escoramentos são estruturas provisórias executadas para possibilitar a construção
de outras obras, sendo mais comumente utilizadas para permitir a execução de
obras enterradas ou o assentamento de tubulações embutidas no terreno. De um
modo geral, os escoramentos são compostos pelos seguintes elementos: paredes,
longarinas, estroncas e tirantes.
• Parede: é a parte em contato direto com o solo a ser contido. Na maioria dos
casos, é vertical e formada de madeira (contínua ou descontínua), aço ou
concreto.
27
• Longarina: é um elemento linear e longitudinal que serve de apoio à parede.
Geralmente, fica na posição horizontal e pode ser constituída de vigas de
madeira, aço ou concreto armado.
• Estroncas (ou escoras): são elementos que servem de apoio às longarinas,
indo de um lado a outro da escavação, ou apoiando-se em estruturas
vizinhas, mas com comprimento máximo de 12 metros. Assim, as estroncas
são perpendiculares às longarinas, e podem ser de madeira ou aço. Em
muitos casos, dependendo do comprimento da estronca, pode ser necessário
o seu contraventamento ou até apoios intermediários (estacas metálicas
cravadas) para suportar seu peso.
• Tirantes: com a mesma função das estroncas (ou seja, suporte às longarinas),
os tirantes são elementos lineares introduzidos no solo a ser contido, e
ancorados no maciço por meio de um trecho alargado chamado de bulbo.
Trabalham à tração, e podem ser escolhidas como suporte às estroncas se
for julgada a solução mais adequada.
• Bermas: são muitas vezes usados como único elemento de escoramento em
contenções de pequena altura (até 6 metros) e em solos com boas
características de resistência. Por permitirem deslocamento da parede da
contenção, podem induzir recalques indesejáveis em edificações vizinhas. É
comum sua utilização como escoramento auxiliar dos outros tipos,
funcionando como escoramento provisório até a instalação destes.
Figura 19: Tipos de escoramento
O tirante é um elemento linear capaz de transmitir esforços de tração entre
suas extremidades: a extremidade que fica fora do terreno é a cabeça, e a que fica
enterrada é conhecida como bulbo de ancoragem. A grande maioria dos tirantes é
28
constituída por um ou mais elementos de aço, geralmente barras, fios ou
cordoalhas.
Atualmente, têm sido pesquisados tirantes em fibras químicas, mas com uso
ainda restrito a casos especiais. A cabeça do tirante é a parte que suporta a
estrutura. É em geral constituída por peças metálicas que prendem o elemento
tracionado através de porcas, clavetes botões ou cunhas.
Figura 20: Tirante
O bulbo de ancoragem, na grande maioria das vezes, é constituído por nata
de cimento, aderindo-se ao aço do tirante e ao solo, e possui comprimento muitas
vezes superior a 5 metros. Ao longo do corpo do tirante - o chamado trecho livre,
que possui comprimento não inferior a 3 metros - o aço não deve estar em contato
com a nata de cimento. Por isso, é comum, antes da sua colocação, revesti-lo com
graxa, com um tubo ou mangueira de plástico, ou com bandagem de material
flexível. Uma grande vantagem do uso de tirantes é, além da alta capacidade de
carga (até 850 KN), a simplicidade construtiva. Os elementos que o compõem são
simples e de fácil manejo. Se comparados a um sistema de estroncamento, onde
são necessários vários elementos de elevado peso (longarinas, estroncas,
contraventamentos, apoios intermediários, etc.), os tirantes são bem mais
vantajosos, além de permitir trabalhos dentro da escavação sem a presença
daqueles elementos, mantendo o terreno livre.
29
Os tirantes oferecem também a vantagem de permitir fundações mais simples
à obra de contenção. Por impedirem o deslocamento inicial do arrimo através da
protensão coisa que não acontece nas contenções tradicionais, reduzem o risco de
prejuízo a edificações vizinhas. Nas obras de contenção, os tirantes são usados
desde os casos mais simples, com apenas uma linha de tirantes, até casos mais
complexos, como em obras de múltiplos subsolos em locais com os mais variados
tipos de solo dispostos em camadas.
Dentre as limitações do uso de tirantes, citam-se:
• os tirantes penetram no terreno vizinho no mínimo 8 metros;
• quando da injeção da nata de cimento para o bulbo de ancoragem, existe a
possibilidade de levantamento da superfície do terreno sobre os tirantes em
locais de solo argiloso, podendo resultar em danos em edificações vizinhas
apoiadas sobre esse terreno;
• existe a possibilidade de corrosão de tirantes de aço, que geralmente se
desenvolve desde a cabeça até aproximadamente 1 metro dentro do trecho
livre;
• por ser um serviço especializado, é oneroso, devendo ser avaliado sob o
ponto de vista custo/benefício.
30
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6489 : prova de carga
direta sobre terreno de fundação. Rio de Janeiro: ABNT, 1984. 2p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6122 : projeto e
execução de fundações. Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 33p.
HACHICH, Waldemar et al. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pini,1996
RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Exercícios de fundações. São Paulo: E. Blücher,
1983.