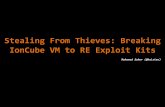Stealing from Thieves: Breaking IonCube VM to RE Exploit Kits
Diálogos entre cinema e história. Aspectos da interpretação cinematográfica contemporânea da...
Transcript of Diálogos entre cinema e história. Aspectos da interpretação cinematográfica contemporânea da...
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
44
Diálogos entre cinema e história: Aspectos da interpretação
cinematográfica contemporânea da sociedade medieval no filme
Em nome de Deus (Stealing Heaven ) (1988)
Ana Luiza Mendes
Eliane Veríssimo de Santana1
Introdução
A História, além de transmitir testemunhos do passado, suas análises e
interpretações também influencia no desenvolvimento e na criação de mitos que
ultrapassam épocas e conceitos. Um dos elementos que auxilia na longevidade desses
mitos, em nossa época, refere-se a linguagem cinematográfica. Esta, por sua vez possui
características próprias e distintas da utilizada na interpretação histórica. Pretendemos
nesse estudo analisar o diálogo existente entre história e cinema, apontando para uma
reflexão sobre generalizações e visões estereotipadas do período medieval. Assim,
elaboramos aqui uma pequena e superficial análise do filme Em nome de Deus (Stealing
Heaven) e sua possível contribuição para o estudo da visão que a sociedade da década
de 80 possui da época medieval, além do uso dessa linguagem como elemento de
construção imagética dessa sociedade.
A interpretação cinematográfica de Clio.
Do ponto de vista da comunicação, o cinema é considerado uma forma de
representação passível de críticas por dois principais fatores: primeiro ele é um método
comunicacional que demanda técnica e material, sendo dessa forma diretamente
atrelado a questões de recursos e instituição2. Para que se desenvolva um cineasta não
basta unicamente o seu conhecimento ou a sua criatividade, e sim todo um aparato de
reprodução da mídia, que vai desde a produção executiva, ou captação de recursos até as
salas de cinema ou mídias3.
1 Alunas de mestrado do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Paraná,
ligadas ao Núcleo de Estudos Mediterrânicos – NEMED. 2 MARTIN, Marcel. A linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 21
3 SANTOS. Jean Isidio dos. O cinema e a Industria Cultural. In Indústria Cultural e Cultura
Mercantil. Corifeu. Rio de Janeiro: 2007
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
45
O segundo ponto refere-se ao fator de que o cinema como “mensagem” oferece
uma ampla gama de signos a serem digeridos pelo espectador. Esse ponto se coloca
portador da necessidade de que o expectador seja capaz de reconhecer todos os signos
apresentados na mensagem, ou seja dificilmente seriamos capazes de assistir um filme
independente polonês da década de 60 sem termos o conhecimento de crítica e contexto
da vivência no regime soviético. Tendo como base um conhecimento estabelecido de
reconhecimento de uma linguagem e uma lógica linguística, elimina-se o máximo
possível de “estática” e “ruido” na percepção da mensagem, por tanto, entende-se todo o
complexo de subjetividade da mensagem, característica da linguagem cinematográfica.
Assim, consideramos que o cinema, assim como a fotografia, não pode ser
tomado como representações da realidade em si, mas um recorte interpretativo da
realidade, que antes passa diretamente pela mente e contexto do seu produtor e
momento, sendo, portanto, uma visão anteriormente construída baseado uma
interpretação prévia. Isso ocorre devido também a própria linguagem utilizada nessa
arte, que tem por base a reprodução fotográfica da realidade4. Assim, a realidade
apresentada através da linguagem cinematográfica não possui neutralidade, possuindo
sempre “algo mais” que o conhecimento evidente, criando assim uma dialética
significante-significado. Assim:
Na realidade, a representação é sempre mediatizada pelo tratamento
fílmico. Se o cinema é linguagem, é porque ele opera com a imagem
dos objetos, não com os objetos em si. A duplificação fotográfica
arranca ao mutismo do mundo um fragmento de quase-realidade para
dele fazer o elemento de um discurso. dispostas de forma diferente do
que surgem na vida, transformadas e reestruturadas no decurso de uma
intervenção narrativa, as efínges do mundo tornam-se elementos de
um enunciado5.
É necessário, portanto, ter em mente que, embora possamos encontrar
conjecturas entre a história e o cinema, seus discurso e linguagem estão em patamares
diferentes. Enquanto aquela tem como prerrogativa a análise atenta aos documentos, às
fontes que lhe dão existência com o objetivo da compreensão mais próxima possível
sobre realidades passadas, este não tem, necessariamente, uma relação de intimidade
4 MARTIN, Marcel. Op. Cit., p. 24
5 Ibid. p. 28
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
46
com a “verdade”, pois esta é construída a partir de fragmentos da realidade. Dessa
forma, podemos conceber o cinema como uma representação do que ocorreu em uma
determinada época, ou com um determinado personagem que, todavia, está permeado
dos conceitos e das verdades da sua própria época e dos seus próprios artífices.
O pensamento frankfurtiano nos apresenta o produto cultural como previsível.
Observa-se clichês exibidos com novas roupagens, técnicas e discursos que visam
dificultar a atividade intelectual do expectador, que é sobrecarregado de detalhes,
efeitos, músicas e fatos6. Na linguagem cinematográfica, encontramos a necessidade de
se retratar o cotidiano, elaborando uma aproximação e identificação do espectador com
o universo fictício enquanto mundo real. Mesmo em filmes que aparentemente visam
retratar momentos históricos, há sempre uma forma de identificação entre a realidade
contemporânea a produção do filme e a retratada.
Dentro desta perspectiva, considerando a diferença existente entre essas duas
linguagens, pretendemos analisar o filme Em Nome de Deus (Stealing Heaven),
produzido a partir de uma novela escrita por Marion Meade, Stealing Heaven: The Love
Story of Heloise and Abelard, de 1979, conta as venturas e desventuras do casal real
Pedro Abelardo (1079-1142) e Heloísa (1101-1164). Para a análise, porém,
consideramos que, não apenas por ter sido baseado em uma novela ficcional, mas pela
própria característica da linguagem cinematográfica, antes de tomar o filme como
realidade absoluta da época medieval, pretendemos compreendê-lo como uma
interpretação que a sociedade da época de produção do filme – década de 80 – possuía e
representava da sociedade medieval.
Encontramos, assim, constantes representações que podem ser consideradas
como anacrônicas com o período histórico que o mesmo pretende expor. Exemplos
como a constante ideia de maniqueísmo entre as normas sociais e o “amor verdadeiro”,
assim como a constante crítica a Igreja católica7 em nossa visão são mais afirmações
referentes aos anseios da sociedade contemporânea do que necessariamente do período
da baixa idade média, no qual o filme se passa.
6 ADORNO, T. & HORHEIMER, M. (1985). Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. p. 116 7 Essa ideia torna-se ainda mais clara quando analisamos a cultura pop da década de 80, onde
encontramos uma crescente crítica à Igreja católica por parte de artistas como Madonna e Sinead
O'connor ou mesmo dentro da sétima arte, como o filme The Prophecy.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
47
Segundo Jean-Claude Bernardet, elementos técnicos influenciam de forma
decisiva na qualidade do filme. Na tentativa de analisar de forma superficial algumas
cenas do filme, percebemos que o diretor utiliza de diversas técnicas para ater o
espectador fragmentos da realidade, utilizando para isso elementos que visam relacionar
a sensibilidade do espectador a determinados estímulos8. Considerando que o cinema
amplia a percepção onírica de seus espectadores. As técnicas utilizadas para a filmagem
mobilizam não apenas o olhar da audiência, mas todos os aspectos de seu corpo,
visando a criação de uma imagem artística que busca atingir o espectador em sua
sensibilidade9.
Assim, além da pontualidade mecânica da trilha sonora e as técnicas de
iluminação, que visam criar um elemento ora de santidade ora de impureza. Em cenas
em que há a presença de planos abertos, o filme não foge do plano mediando; nos
planos de close há sempre a presença do boke. Os personagens que representam os
“maus” estão no contra-plongé, mostrados sempre de baixo para cima, que visa
demonstrar superioridade, autoridade ou poder, enquanto os heróis e a população
encontram-se em plano médio. Já na cena que visa demonstrar grande martírio, a cena
por exemplo da viagem de Heloísa em direção de seu amado castro, é utilizada o plano
inferior, que visa demostrar justamente a ideia de sofrimento.
O filme Stealing Heaven foi filmado na Yuguslavia, e seu objetivo, antes de ser
um filme blockbuster, foi o de atingir uma camada determinada do público europeu.
Considerado, mesmo para a época, uma produção de baixo investimento, não chegou a
ser exibido nos cinemas, sendo destinado apenas para os canais televisivos. Pelo seu
alto teor de sensualidade, característica constante nos filmes do diretor Clive Donner, o
filme teve um corte de censura quando foi exibido nos Estados Unidos, perdendo suas
cenas de sexo.
O filme que aqui analisamos, visa, portanto, um público em específico. Toda a
sua criação visa a destinação para esta audiência, que é estudada e analisada antes do
inicio da produção do roteiro, baseado inicialmente em um romance ficcional e
adaptado para as telas do cinema.
8 BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 45.
9 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e Técnica,
Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, v.1p. 194.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
48
Antes, portanto, de representar uma tentativa de compreensão da sociedade
medieval da baixa idade média, podemos considerar o filme Stealing Heaven como uma
visão de como esta parcela da sociedade da década de 80, a qual o filme fora construído
para atingir, interpretava a sociedade medieval, uma que os anseios dessa da época de
produção do filme são transpostos para a representação imagética. Antes da
compreensão dos valores existentes na sociedade da baixa idade média, compreendemos
este filme como uma transmissão de valores contemporâneos através da construção de
uma realidade ficcional, que utiliza o imaginário moderno de valores míticos
construídos sobre a sociedade medieval, atribuindo-lhes significados que só possuem
sentido na audiência moderna.
Heloísa e Abelardo nas fontes
Procuraremos aqui abordar aspectos da história que o filme busca retratar, mas
tendo como base as fontes que relatam traços da história de Heloísa e Abelardo.
De inicio ressaltamos que o período em que o filme retrata refere-se ao século
XII, no contexto de renascimento das cidades medievais. Assim, o contexto apresentado
no filme relata a efervescência urbana do renascimento das cidades medievais do século
XII. A partir desse século a Europa ocidental, e mais especificamente os principais
centros urbanos, passam por uma série de transformações que modificam drasticamente
sua dinâmica de funcionamento. O conjunto de transformações nas estruturas sociais,
econômicas, políticas e culturais que permeiam esse século constituí o período
conhecido como Renascimento do século XII das cidades medievais, que passam a ser
tidas como centros de produção econômica e cultural10
.
Esse processo de modificações está intimamente ligado desenvolvimento
material no qual a cristandade latina esta passando11
. Aspectos não apenas religiosos,
culturais e artísticos passam a se desenvolver adquirindo caráter eminentemente urbano,
mas também aspectos físicos. A cidade passa a estabilizar-se fisicamente em lugares
fixos, quase sempre protegido por muralhas12
que institucionalizam sem espaço político
10
LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. Trad. Antonio de Padua Danesi. SP: Martins
Fontes, l993. p.193 11
DUBY, Georges. Idade média, idade dos homens. São Paulo : Companhia das Letras, 1998. p.125. 12
Nem todas as cidades eram protegidas por essas guarnições. Na verdade, grande parte delas só a dotou
essa forma de proteção após a Guerra dos Cem anos. Porém, essa realidade de fortificação constitui
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
49
e social, constituindo assim uma comunidade produtiva e organizada com características
corporativas, culturais e intelectuais.
A cidade em questão, a França, esse movimento de progresso pode ser analisado
segundo referências do ponto de vista econômico e demográfico. Assim o processo de
crescimento de perímetros das muralhas, o surgimento de burgos e subúrbios, e
construções - Igrejas, praças, bairros, centros comerciais, muralhas e portas – pode ser
considerado como movimentos necessários para o desenvolvimento da cidade, e
apontam para o fato do crescimento urbano13
.
O crescimento da área agrícola, a alta dos preços dos produtos o alargamento do
número de trabalhadores transfere, através do fisco senhorial, o aumento dos recursos
determinados por esses fatores, tornando assim o senhor rural de cada localidade uma
das poucas, inicialmente, a tirar proveito dessa situação. Assim, percebe-se mudanças
não apenas no interior dessa classe, mas também na sua forma de estruturação e
relativização dos costumes, antes tipos como incontestáveis:
Le Goff afirma que a cidade medieval pode ser caracterizada como herdeira de
um modelo de cidade antigo, onde se modifica alguns sentidos, tendo não apenas
interações entre meio urbano e rural, mas sinais que são adquiridos e adaptados com a
situação em que se encontra. Diferente das bastides, simples cidades fortificadas,
características do Sudoeste meridional, não costuma-se encontrar um centro único e
característico. A estruturação da cidade é elaborada através de elementos independentes
que possuem maior ou menor influencia, por sua função, na vida e localização dos
citadinos.
De fato, uma das principais características dessa urbanização foi, sem dúvida, o
desenvolvimento intelectual e cultural que permearam quase todos os aspectos desses
espaços urbanos. Antes do nascimento da instituição que conhecemos como
Universidade, o ensino era realizado geralmente em escolas capitulares, canônicas e
um dos elementos mais relacionados com o imaginário do período medieval. Mesmo tendo sido
construídas, provavelmente por motivos de proteção, etas também eram inspiradas pela ideia e
simbologia de muros lendários que protegiam o espaço sagrado do interior da cidade. Outro fator para
a construção destas, relaciona-se com a construção de uma consciência identitária urbana nesses
centros: Ainda aqui o funcional e o simbólico, o militar e o político estão estreitamente ligados. LE
GOFF 1993, p. 17 13
Sobre os aspectos físicos do aumento proporcional das edificações físicas das cidades medievais,
podemos citar o estudo elaborado por Le Goff em O apogeu da cidade medieval, onde este elabora
uma análise minuciosa sobre a cristalização desse ambiente urbano.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
50
episcopais que passam a ser consideradas como núcleos formadores de saber. Tendo
como local de desenvolvimento o espaço urbano, desvinculando a escolarização da
obediência monástica14
, e tendo como núcleo a catedral, essas escolas possuem um
método de ensino baseado em exercícios – lectio, quaestio, reparatio e disputatio – e
em sessões públicas15
. Esse método objetiva antes da simples reprodução do
conhecimento obtido durante as lições, um exercício prático constante, formando assim
um processo educativo ligado ao espírito. Nessas escolas ensinavam-se o trivium, o
quadrivium, aspectos da Sagrada escritura, além das vozes de autoridades.
No filme Stealing Heaven observamos algumas cenas em que retrata-se
Abelardo em um diálogo espontâneo com seus alunos. Esse diálogo, mesmo que tenha
sido representado de forma que aparente desordenação, é encontrado nessas escolas: as
quaestiones. Durante a lectio, onde o mestre realizava a leitura e comentário do texto,
podendo ser algum escrito clássico ou textos bíblicos, o que gerava algumas indagações
por parte dos alunos. Estas eram esclarecidas durante as quaestiones:
Das quaestiones, brotava o diálogo – disputatio – entre o professor e
os alunos, ou entre grupos de alunos, seguindo o proceder da dialética.
É claro que esses duelos intelectuais não chegavam ao nível dos que
se praticavam, depois, nas universidades. Mas, com certeza, eles
aguçavam o espírito dos jovens estudantes e lhes fortaleciam a
memória. Ao mesmo tempo desenvolviam a competição, como se
depreende de modo como eram organizada as disputationes. O
professor dividia os meninos em vários grupos, dos quais cada
integrante fazia perguntas a um parceiro. O bom andamento do
certame, a ordem a ser estabelecida e a correção os erros de latim
cometidos ficavam a cargo do professor. Tudo tinha feição de justa
intelectual. Ao término, era feito a classificação em vencedores e
vencidos. Por meio dessa emulação sadia, os alunos aprendiam a saber
perder e a saber ganhar.16
Outra característica que o filme nos revela, refere-se ao grupo de estudantes que
segue Abelardo. De fato, existia nesse ambiente das escolas episcopais um grupo que
ficou conhecido na história como Goliardos. Sua origem é de fato variada, podendo
14
LIBERA, Alain de. A Filosofia Medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998.p. 22 15
Para saber mais sobre cada uma especificações das quais os estudantes das escolas medievais estavam
sujeitos durante os anos de estudo, ver ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. 2
ed. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2000 16
ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2000 p.
59
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
51
pertencer a nobreza ou ao campesinato. De fato, esse grupo possui uma caráter urbano,
sendo uma das consequências do aumento demográfico do renascimento do século XII,
e da mobilidade social característica desse período. Subtraídos de sua função na
estrutura social, geralmente seguem o mestre de sua escola: “Formam o corpo da
vagabundagem estudantil tão característica, ela também, do século XII”17
Dentro desse contexto de escolas urbanas, Abelardo pode ser considerado
como o primeiro representante exemplar. Pode ser considerado como um marco pré-
universitário, pois já estabelece uma hierarquia entre scolares e magistri18
.
Le Goff afirma que Abelardo representa a primeira figura de destaque do meio
parisiense, e de fato, grande parte do futuro reconhecimento do aspecto educacional de
Paris se deve a ele. Que era considerado uma grande figura intelectual, e reconhecido
em vários âmbitos dessa cristandade latina, atraindo grande números de estudantes
esperançosos em alcançar conhecimento. Abelardo é o primeiro professor19
.
A filosofia de Abelardo é caracterizada pela principalmente pela Lógica. Tem
especial atenção e cuidado com o uso da dialética, considera como objetivo da lógica a
adequação entre a linguagem e a realidade que manifesta. Outra característica é uma
intensa tentativa de conciliação entre a razão e a fé, satisfazendo as necessidades do
meio escolar. Verger afirma que Abelardo pode ser identificado como renovador da
dialética e um dos fundadores da escolástica medieval20
.
Alain de Libera nos informa, que todas as operações desenvolvidas nesse
período eram consideradas como uma ferramenta para o alcance do conhecimento. A
lógica ou a metafísica não passavam de instrumentos que auxiliavam nessa função
propedêutica. Não existia a filosofia como a conhecida na antiguidade, nos Liceus, mas
sim como teologia. Mesmo não existindo espaço para a figura social do filosofo em si,
como na antiguidade, a filosofia medieval permitiu a possibilidade de um pensamento
transcendental.
Convém observar que essas escolas não possuíam arquivos constantes que nos
relegam afirmações sobre seu funcionamento. Assim, abstraindo as questões afetivas,
17
Le Goff, Jacques – Os Intelectuais na Idade Média, Lisboa: Gradiva , 1983 p. 30 18
Ibid., p. 33 19
Ibid., p. 34 20
VERGER, Jacques. Cultura, ensino e sociedade no Ocidente nos séculos XII e XIII; traduação
Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001, p. 55.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
52
podemos identificar na Historia calamitatum informações que contribuem para a análise
desse ambiente escolar. Através dessa análise, percebe-se que o funcionamento não
estava ligado a estatutos escritos, mas sim a uma prática empírica. Nessas escolas, nas
quais o ensino não era gratuito, o professor possuía uma relativa autonomia em relação
a seus ensinos, existindo porém uma hierarquia interna, tanto em relação aos professores
quanto aos alunos21
.
No filme, observamos por diversas vezes a autodefinição por parte de Abelardo
como filósofo. Sabemos que esse termo no medievo não esta relacionado diretamente
com a definição de filósofo que existia na antiguidade. O filósofo aqui, é mais
particularmente considerado como uma forma de compromisso com o conhecimento.
As informações que permaneceram sobre este peculiar casal provêm da Historia
Calamitatum, Histórias das minhas calamidades, espécie de autobiografia na qual
Abelardo rememora o período em que, segundo ele mesmo, era o melhor professor de
Paris, condição que lhe permite a convocação para ser o tutor de Heloísa, sobrinha do
cônego Fulbert, fato que pode ser considerado como o fio condutor de sua desgraça,
pois, como afirma Roscelin, antigo mestre de Abelardo, o qual “animado por um
espírito de luxúria, se infiltra na casa de uma donzela muito ajuizada com o intuito de
ensiná-la a racionar e, no final das contas, ensina a fazer amor.” 22
Outro conjunto de fontes que nos foi legado sobre a história dos dois amantes é
formado pelas correspondências atribuídas aos dois. Esses documentos ainda
geram interpretações diversas tanto em relação ao que expressa o seu
conteúdo quanto à veracidade da autoria. É evidente que os escritos
foram compilados, como hoje os acessamos, em época posterior ao
período em que foram redigidos, o que contribui para as variações das
análises, pois a cada momento surgem novas formas de compreensão
do passado. 23
Assim, segundo Zumthor, “a maioria dos medievalistas está hoje de acordo em
ver na Correspondência, não o resultado puro e simples de uma colagem de cartas
originais, mas um dossiê organizado; não certamente falso, mas uma “obra”, na medida
21
Ibid., p. 51 22
MENDES, Ana Luiza. Entre a razão e o pecado: a linguagem do amor nas correspondências de
Abelardo e Heloísa. Monografia de conclusão do curso de graduação em História. UFPR, Curitiba,
2009, p. 49. 23
Ibid., p. 13.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
53
em que essa palavra implica intenção e estruturação” 24
, feita possivelmente 150 anos
depois dos acontecimentos que explicitam.
Com base, portanto, nesses documentos a História se debruça para tentar alçar as
memórias dos acontecimentos na vivência dos dois. Sobre Heloísa pouco se sabe. Sua
ascendência é da alta aristocracia da Île-de-France. “Descente por parte de pai dos
Montmorency e dos condes de Beumont, por parte de mãe dos vidamas de Chartres,
estava ligada, como Abelardo aliás, a um dos clãs que disputavam o poder no séquito do
rei Luís VI”. 25
Portanto, Heloísa não era qualquer mulher, de forma que sua fama não
se faz somente em prol da sua relação com Abelardo. Como este mesmo atesta,
havia então em Paris uma moça chamada Heloísa, sobrinha de um
certo cônego Fulbert. Este, que a amava com ternura, nada havia
poupado para lhe dar uma educação refinada. Ela era bastante bonita e
a extensão da sua cultura tornava-a uma mulher excepcional. Os
conhecimentos literários são tão raros entre as pessoas de seu sexo que
ela exercia uma atração irresistível, e sua fama já corria pelo reino. 26
Pode-se, portanto, compreender Heloísa como uma mulher avançada para o seu
tempo. Mas não tão avançada como o filme Em nome de Deus sugere. Nele podemos
observar uma cena em que o tio de Heloísa aponta para um pretende a marido, o qual é
representado praticamente como um glutão, talvez para desenvolver o asco no
espectador que corrobora com a atitude “feminista” da protagonista em rejeitá-lo. É fato
que Heloísa, nessa fase da trama cinematográfica, já está envolvida com Abelardo, mas
o fato é que, na Idade Média, casamento era um assunto masculino, isto é, tratados pelos
homens das duas famílias ao passo que as mulheres, muito sutilmente conquistaram a
possibilidade de poder consentir ou não no casamento. Essa era a teoria desenvolvida a
partir do século XII que, contudo, sabemos ser bem diferente da prática.
No que ainda tange sobre o casamento, Heloísa também o recusou mesmo com
Abelardo, o seu amor. Para ela, com base nos preceitos filosóficos, o casamento não
combina com o amor que é livre, enquanto aquela instituição aprisiona o corpo e alma
24
Correspondência de Abelardo e Heloísa. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000, p.3. 25
DUBY, Georges. Heloísa, Isolda e outras damas no século XII. São Paulo: Companhia das Letras,
1995, p55. 26
Correspondência de Abelardo e Heloísa. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000, p. 39.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
54
do filósofo que não pode se dedicar às atividades intelectuais se preso às necessidades
vulgares, mundanas.
A postura forte de Heloísa sobre o casamento pode ter influência dos filósofos
que estudava antes e com Abelardo e também da literatura, especificamente do amor
cortês, gênero que justamente dita a separação entre amor e casamento. Estranhamente,
por fim ela se casa. Diante disso, Duby analisa as correspondências como uma ode ao
amor, e à submissão da mulher ao homem. Ao contrário, o filme nos passa a ideia da
submissão dos dois ao amor.
Entretanto, há que se ter em mente o amor ou a expressão dele no século XII e
no século XX em que data a produção do filme, e também do nosso século. No século
XII, o amor vivenciado por Heloísa poderia ser compreendido como uma virtude, que
tem existência por si mesmo, isto é, que não espera nada em troca, a não ser dedicar
esse sentimento à pessoa que ele pertence. É um amor que sofre. Sim. Abelardo foi
castrado por causa desse amor e o taxou de pecado, do qual Heloísa se defende dizendo
que nunca o cometeu, pois nunca teve a intenção de fazer nada errado. Mas também
sofreu, pois Abelardo, então seu marido, deus as instruções para que ambos entrassem
para a vida religiosa. Como Heloísa poderia desobedecer? À despeito do amor que
sentia por Abelardo, Heloísa não era tão avançada assim. Se ela não adentrasse à vida
religiosa teria que se casar com outro qualquer. Outro que seu tio indicasse. A vida
religiosa, pois, era a fuga mais sensata de um casamento indesejado, fato corriqueiro
entre as nobres donzelas e as viúvas medievais.
Apesar de sofredor, esse também é um amor racional, diferente do que nos foi
perpetuado ao longo dos séculos, sobretudo a partir do século XIX, com o Romantismo
que exacerba a dor do amor e transforma não o amor, mas o sofrimento por ele causado
como máxima virtude. A virtude consiste também no desespero. Mais precisamente no
amor desesperado que o filme representa tão bem, como pode ser observado na cena
inicial, a qual retrata a morte de Heloísa. Ela pede o crucifixo. Atitude estranha para
quem, 19 anos após a entrada para a vida religiosa seu amor ainda é latente:
Os prazeres amorosos que juntos experimentamos têm para mim tanta
doçura que não consigo detestá-los, nem mesmo expulsá-los de minha
memória. Para onde quer que eu me volte, eles se apresentam a meus
olhos e despertam meus desejos. Sua ilusão não poupa meu sono. Até
durante as solenidades da missa, em que a prece deveria ser mais pura
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
55
ainda, imagens obscenas assaltam minha pobre alma e a ocupam bem
mais do o ofício. Longe de gemer as faltas que cometi, penso
suspirando naquelas que não pude cometer. 27
Mas não nos enganemos. Não é o crucifixo que ela almeja, mas sim a pena que
esconde dentro dele. A pena que Abelardo a deu num passeio. O cinema tem paixão por
transmitir esse amor exagerado que não morre durante os anos. Que permanece e que dá
o motivo de viver dos amantes. Não que Abelardo e Heloísa não fossem exagerados.
Eram. Isso podemos verificar na confissão de Abelardo, na qual ele fala:
Nosso ardor conheceu todas as fases do amor, e também tivemos
experiências de todos os refinamentos insólitos que o amor imagina.
Quanto mais essas alegrias eram novas para nós, mais as
prologávamos com fervor, e o desgosto não veio jamais.
Essa paixão voluptuosa me tomou por inteiro. Cheguei a negligenciar
a filosofia [...] com efeito, consagrava minhas noites ao amor. 28
Contudo, o filme não retrata a conexão racional entre os dois amantes. Heloísa
era culta, sabia latim, conhecia os filósofos antigos e se depara com o melhor professor
de Paris. Evidente que entre as sessões amorosas a intelectualidade dos dois era
exercida. A própria Heloísa, se dermos credito a ela para a co-autoria das
correspondências, recorre ao argumento do próprio Abelardo para se defender das
acusações deste sobre o pecado praticado pelos dois. Abelardo contribui para uma nova
forma de espiritualidade a qual vincula o pecado com a intenção e não com o ato. É a
moral da intenção. Heloísa, pois, argumenta racionalmente, utilizando os preceitos de
seu próprio mestre para mostrar-lhe sua contradição e dissuadi-la da culpa.
Da mesma forma, o filme não contempla a disputa entre Abelardo e São
Bernardo. “Denunciado como herético, [Abelardo] foi levado a um tribunal presidido
por São Bernardo (1090-1153), conselheiro de reis e papas e pregador da Segunda
Cruzada. O resultado foi sua condenação. Abelardo recorreu a Roma e morreu durante o
julgamento de sua apelação”. 29
Mas isso não importa ao filme, cujo personagem principal é o amor quase
transcendental, que vigora após tantos anos e tem o seu ápice no encontro familiar, na
27
Correspondência de Abelardo e Heloísa. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000, p. 119. 28
Idem, p. 41-42. 29
Em nome de Deus: um retrato da época. Entrevista com Nilton Mullet Pereira e Alfredo Culetton
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
56
cena final em que Abelardo vai ao encontro de Heloísa junto com o filho, Astrolábio.
Esta cena defende nitidamente os valores familiares da atualidade e não os valores da
época do casal. A família como concebemos atualmente não era pesada da mesma
forma. Sobre Astrolábio só há uma referência na História Calamitatum: que quando
nasceu este foi o nome escolhido a ele. Nenhuma referência a mais.
Possivelmente tenha seguido o caminho das crianças no período medieval. Estas,
aproximadamente aos oito anos eram separadas da companhia do pai, mãe, irmãos, para
serem educados em outras casas. Astrolábio pelo que tudo indica, sequer chegou a
conviver com a mãe, que logo entrou para a vida religiosa.
A história de Abelardo e Heloísa transformou-se um mito não só através da
historiografia, mas também na mentalidade daqueles que imaginam o amor como uma
virtude que pode permanecer no tempo. Tal constatação pode-se fazer ao recorrermos à
informação dada por Fernando Baez, em História universal da destruição dos livros, de
que em 1930 “um tribunal dos Estados Unidos proibiu a circulação das Cartas de amor a
Heloísa, de Abelardo, porque defendia os sentimentos, sempre temidos, e promovia uma
respeitável introdução ao sexo entre intelectuais”. 30
Ou seja, o amor perpetuado por
Heloísa e Abelardo era concebido como perigoso.
Em outra vertente, este amor é celebrado como o demonstra o poema do século
XVI de Alexander Pope, o qual se articula a partir do eu-lírico de Heloísa que escreve,
no convento, sobre suas mágoas e confessa que Abelardo ainda é dono dos seus
pensamentos e não Deus. O poeta, portanto, celebra a perseverança amorosa de
Heloísa, da mesma forma que faz o filme, cujo personagem principal, reitero, é o amor
de Heloisa que subsiste ao tempo e à distância.
30
BAEZ, Fernando. História Universal da Destruição de Livros: das tábuas sumérias à Guerra do
Iraque. Tradução de Léo Schlafman. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. p. 131. APUD: CAMPOS, Ana
Célia Passos Pereira; MARQUES, Daniela de Freitas. Heloísa e Abelardo: diálogos sobre o amor, a
política e o direito. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 58, p. 123-146, jan./jun. 2011, p.
125.
História No Cinema – Semana de História Antiga e Medieval
Anais do Evento
Setembro / 2012
Curitiba – Paraná – Brasil ISSN 2316-7955
57
Bibliografia
ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. (1985). Dialética do Esclarecimento:
Fragmentos Filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
BAEZ, Fernando. História Universal da Destruição de Livros: das tábuas sumérias à
Guerra do Iraque. Tradução de Léo Schlafman. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. p. 131.
APUD: CAMPOS, Ana Célia Passos Pereira; MARQUES, Daniela de Freitas. Heloísa e
Abelardo: diálogos sobre o amor, a política e o direito. Rev. Fac. Direito UFMG,
Belo Horizonte, n. 58, p. 123-146, jan./jun. 2011.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e
Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, v.1
BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 2000.
DUBY, Georges. Heloísa, Isolda e outras damas no século XII. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
_____, Georges. Idade média, idade dos homens. São Paulo : Companhia das Letras,
1998.
LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. Trad. Antonio de Padua Danesi. SP:
Martins Fontes, l993.
________, Jacques. Os Intelectuais na Idade Média. Lisboa: Gradiva , 1983.
LIBERA, Alain de. A Filosofia Medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
MARTIN, Marcel. A linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990.
MENDES, Ana Luiza. Entre a razão e o pecado: a linguagem do amor nas
correspondências de Abelardo e Heloísa. Monografia de conclusão do curso de
graduação em História. UFPR, Curitiba, 2009.
SANTOS. Jean Isidio dos. O cinema e a Indústria Cultural. In Indústria Cultural e
Cultura Mercantil. Corifeu. Rio de Janeiro: 2007
ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. 2 ed. Porto Alegre:
EDIPUCRS. 2000.
VERGER, Jacques. Cultura, ensino e sociedade no Ocidente nos séculos XII e XIII.
traduação Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001