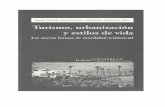Ciência, Inovação e Tecnologia na Amazônia. Stricto Sensu ...
Design, inovação e transdisciplinaridade: uma relação oculta
Transcript of Design, inovação e transdisciplinaridade: uma relação oculta
Design, inovação e transdisciplinaridade – uma relação
oculta Design, innovation and transdisciplinarity - a hidden relationship Benz, Ida Elisabeth; Mestre em Design: DAD/PUC-Rio [email protected] Magalhães, Cláudio Freitas de; D.Sc.; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro [email protected]
Resumo A autora discute alguns aspectos da relação do design e do design thinking com a metodologia da transdisciplinaridade proposta por Basarab Nicolescu (2000), mostrando que intuitiva e inconscientemente os designers estão ajudando a construir essa nova forma holística de conhecimento. Palavras Chave: design; design thinking; transdisciplinaridade.
Abstract
The author discusses some aspects of the relationship of design and design thinking with the
transdisciplinary methodology proposed by Basarab Nicolescu (2000), showing that the
designers, intuitively and unconsciously, are helping to build this new form of holistic
knowledge.
Keywords: design; design thinking; transdisciplinarity.
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA).
Introdução
Atualmente o design vem sendo apregoado como “um dos principais, se não o principal caminho para a inovação” (Budman, 2010, p. 67). Fala-se muito do design thinking, das habilidades do designer, de sua visão holística, etc como solucionador de problemas e gerador de ideias com uma orientação mais inovadora que o tradicional processo de P&D (pesquisa e desenvolvimento), principalmente nas épocas de crise econômica como o mundo vive no momento. Trabalhando através da empatia, intuição, imaginação e idealismo (Neumeier, 2010, p. 33) o designer se aproxima de um projeto de inovação de um modo particular.
“Roger Martin, diretor da Faculdade de Administração Rotman da Universidade de Toronto, refletiu sobre as diferenças entre o raciocínio para negócios e o raciocínio para design. No tocante aos negócios, Martin menciona o raciocínio indutivo (fundamentado na observação de que algo funciona) e o raciocínio dedutivo (baseado na prova de que algo existe). Em relação ao design, ele cita o raciocínio ‘abdutivo’ (que imagina que algo poderia existir)” (Ibidem, p. 39).
É exatamente esse raciocínio da lógica abdutiva, termo criado por Charles Sanders
Peirce ao estudar a origem das novas ideias (Martin, 2009, p. 63), que liga o design como agente de inovação à metodologia transdisciplinar proposta por Nicolescu (Nicolescu et al, 2000).
Segundo Martin (2010, p. 62-63), Peirce acreditava que as novas idéias “não surgiam das formas convencionais da lógica declarativa”, que engloba os modos fundamentados na tradição científica:
• a lógica dedutiva – que prevê o que deve ser, através de conclusões tiradas do geral para o específico, e
• a lógica indutiva – que conclui o que é pertinente e/ou eficiente, a partir de observações do específico para o geral,
pois esses dois modos de pensar se utilizam de dados do passado para gerarem as suas comprovações.
“As novas idéias, postulou Peirce, nascem por meio dos ‘saltos lógicos da mente’. As novas idéias surgiram quando o pensador observou dados (ou até mesmo um único dado) que não se encaixavam no modelo ou nos modelos existentes. O pensador tentou entender a observação fazendo o que Peirce chamou de ‘inferência da melhor explicação’. O verdadeiro primeiro passo do raciocínio, concluiu ele, não era a observação, mas sim o questionamento. Peirce chamou essa forma de raciocínio de lógica abdutiva” (in: Martin, 2000, p.63).
Metodologia da Transdisciplinaridade
“Nem os que teorizam nem os que praticam a interdisciplinaridade oferecem uma definição satisfatória de interdisciplinaridade. O uso indiscriminado do termo no ensino, na pesquisa, no exercício profissional, nos meios de comunicação, nos congressos ou seminários, nos subtítulos de obras científicas, aponta para múltiplos significados e, em conseqüência, para nenhum significado comum aceito pela comunidade de professores e pesquisadores. Além disso, o sentido etimológico da palavra, acrescido dos prefixos pluri ou multi, inter e trans, em nada contribui para seu esclarecimento. Ao contrário, confunde-se interdisciplinaridade com multi ou transdisciplinaridade” (Paviani, 2003, p. 1).
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA)
Como no design essa confusão em relação a esses termos também se dá, antes de se apresentar a metodologia da transdisciplinaridade, proposta por Nicolescu (Nicolescu et al, 2000), é importante realizar uma distinção entre os mesmos, já que a transdisciplinaridade pode se apresentar em diferentes graus, se aproximando mais da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade ou até mesmo da disciplinaridade.
Para Nicolescu (2000): • “a pluridisciplinaridade/multidisciplinaridade diz respeito ao estudo de um
objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. [...] O objeto sairá assim enriquecido pelo cruzamento de várias disciplinas, [...] mas sua finalidade continua inscrita a estrutura da pesquisa disciplinar;
• a interdisciplinaridade [...] diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para a outra, [...] mas sua finalidade também permanece inscrita na pesquisa disciplinar;
• a transdisciplinaridade, como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade dos conhecimentos” (Nicolescu et al, 2000. p.14-15).
Segundo o mesmo autor, a metodologia da transdisciplinaridade se baseia em 3 pilares:
i. a física quântica e os níveis de realidade, ii. a complexidade, e iii. a lógica do terceiro incluído.
As pesquisas ligadas à física quântica, que se iniciaram com a descoberta de Max Planck no começo do século XX, colocaram em questão conceitos – ou pilares como Morin (2000) os denominou - sobre o qual o mundo científico repousava deste da época de Aristóteles:
• “o primeiro pilar era a ordem, a regularidade, a constância e sobretudo o
determinismo absoluto. [...]; • o segundo pilar era a separabilidade. [...]; • o terceiro pilar era o valor de prova absoluta fornecida pela indução e pela
dedução, e pelos princípios aristotélicos que estabelecem a unidade da identidade e a recusa da contradição” (Morin, 2000, p. 60-61).
A desconstrução dessas verdades absolutas iniciou-se com o testemunho da descontinuidade no campo da física, já que uma partícula quântica poderia aparecer em qualquer lugar não previsto tornado impossível se traçar uma trajetória pré-determinada, e por conseqüência, abalando a primazia do conceito de causalidade local como se conhece no mundo percebido pelo “observável pelo ato de medir” - a macrofísica. A esse conceito se uniu um segundo, o da não separabilidade, que apontava que no mundo quântico, objetos que no mundo da macrofísica não interagiriam mais entre si em razão da distância continuam a interagir qualquer que seja o seu afastamento, mostrando que existe uma causalidade global, que engloba um sistema de todas as entidades físicas em um único conjunto.
Segundo Nicolescu (Nicolescu et al, 2000, p.19), “a existência de correlações não locais expande o campo da verdade, da Realidade”. O autor frisa que o termo realidade, deve ser entendido por “aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formalizações matemáticas” (Nicolescu et al, 2000, p. 21).
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA).
Random (in; Nicolescu et al, 2000, p. 116 e p. 119) divide essa realidade em três níveis distintos:
• o mundo racional, associado ao mundo “observável” do espaço e tempo contínuos;
• o mundo do vibratório ou quântico, associado à não separabilidade; e • o mundo subquântico, que o autor associa à autoconsciência da partícula e a
unicidade instantânea de todas as coisas; o cósmico, a união do visível com o invisível – ou seja à causalidade global.
O segundo pilar da metodologia da transdisciplinaridade, a complexidade, pode ser decorrência da percepção dessa impossibilidade de se reduzir a realidade. Morin (2000, p. 64) afirma que “o desafio da complexidade se intensifica no mundo contemporâneo já que nos encontramos em uma época de mundialização”. A complexidade está presente no nosso mundo e nas nossas relações sociais, conseqüentemente a complexidade também está presente na nossa ciência – que busca observar e entender o que cerca o ser humano.
A complexidade do nosso mundo associada aos conceitos científicos ainda vigentes, podem ser considerados uma das principais razões para o big-bang disciplinar e para especialização exageradas, que Nicolescu (2000, p.14), compara a um processo de babelização que pode “colocar em perigo a nossa própria existência”.
Através do pilar da complexidade, a linearidade causal, presente em todos os modelos abstratos de construção de conhecimento, começa a ser substituída por uma busca entre a relação da parte e com o todo.
“Pascal já havia dito que todas as coisas estavam ligadas umas às outras, que era impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer as partes. Para ele, o conhecimento era um vai-e-vem permanente do todo às partes [...]” (Morin, 2000, p. 65).
E por fim, o último pilar da metodologia da transdisciplinaridade, é a lógica do terceiro
incluído, que também deriva de observações da mecânica e da física quântica, e que gerou, a princípio, um escândalo intelectual (Nolescu, 2000, p. 26).
A lógica clássica é baseada em três axiomas : 1. A é A = axioma da identidade; 2. A não é não-A = axioma da não contradição; 3. não existe um terceiro termo T (de “terceiro incluído) = axioma do terceiro
excluído; que torna impossível que a lógica do terceiro incluído seja compreendida como aceitável em primeiro momento. Quando, segundo o mesmo autor, Lupasco formaliza o axioma do terceiro incluído – que afirma que “existe um terceiro termo T que é ao mesmo tempo A e não-A” (Nicolescu, 2000, p. 27) – é compreensível o surgimento desse estranhamento, já que “no mundo racional, associado ao mundo “observável” do espaço e tempo contínuos, este axioma afirmaria que o dia é a noite, o preto é o branco, o homem é a mulher.
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA)
Mas Nicolescu (2000, p.27) mostra que “o terceiro dinamismo, o do estado T, exerce-se num outro nível de Realidade, onde aquilo que parece desunido (onda e corpúsculo) está de fato unido (quantum), e aquilo que parece contraditório é percebido como não-contraditório”.
“Na lógica do terceiro incluído os opostos são antes contraditórios: a tensão entre
os contraditórios promove uma unidade que inclui e vai além da soma dos dois
termos. [...]
A lógica do terceiro incluído é uma lógica da complexidade e até mesmo, talvez, sua
lógica privilegiada, na medida que nos permite atravessar, de maneira coerente, os
diferentes campos do conhecimento” (Nicolescu et al, 2000, p.28)
Uma nova proposta de abordagem da inovação através do
design e dos design thinkers
“As diferenças entre o design e as outras atividades estão não apenas nos resultados que produz [...], como também nos processos mentais e físicos que geram esses resultados” (Neumeier, 2010, p. 37)
Segundo o mesmo autor, os designers acostumados ao mal estar gerado pelas tensões
criativas presentes na elaboração e concretização de projetos, habituaram-se a acolher os paradoxos. “Os designers não ‘solucionam’ problemas, eles ‘trabalham através’ deles” (Neumeier, 2010, p. 50).
Neumeier (2010, p. 52) compara a ação do designer a do pintor, construindo pincelada após pincelada, uma nova noção de como ficará a tela a cada momento. É um “processo do saber dinâmico” com base em um repertório de ações e reações práticas, combinando em sua reflexão o “pensar” e o “fazer”, onde se aprende o que se faz durante o processo. Enfim, os designers trabalham em um processo de “reflexão em ação”, termo cunhado pelo filósofo dos sistemas Donald Shön, que apenas permite com que ele se aproxime de uma previsibilidade do resultado a ser alcançado, tornando assim impossível o uso da lógica da causalidade local.
Trabalhando com “o que poderia ser” em vez do com “o que é” (Neumeier, 2010, p. 37), o designer faz uso do pensamento intuitivo fugindo de um enfoque apenas linear: ação A, depois ação B, C, D, E consecutivamente. “A mente intuitiva reordena os itens como C-B-D-A, e inclui R – K – Z – P, para completar” (Neumeier, 2010, p. 34).
Mas como na lógica da metodologia da transdisciplinaridade o designer que se ater apenas ao pensamento intuitivo não consegue construir nada palpável. Ele precisa combinar este ao pensamento lógico, para trazer a sua visão “do que poderia ser” para a realidade palpável “do que é”.
Tim Brown, Ceo da IDEO – empresa líder em design e inovação e um dos principais elaboradores de conceitos e práticas do design thinking (Budman, 2010, p.69) -, também afirma que
“[...] temos que confiar tanto em nosso poder de análise como no de síntese. A análise, que significa estudar e compreender o complexo, é muito útil para saber como algo vai funcionar e como você poderá aperfeiçoá-lo ou torná-lo mais eficiente. Mas a análise não é muito boa para produzir novas ideias.
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA).
Então temos que sintetizar muitas ideias ou conhecimentos, concorrentes, mesmo se isso estiver em tensão, para gerar algo que é, de algum modo um todo” (Budman, 2010, p.71).
Para compreender esse “complexo”, muitos autores do design thinking propõem o uso de equipes multi/pluridisciplinares.
“Grandes designers são maravilhosos observadores do mundo. Eles têm a habilidade de observar e perceber realmente o em torno e daí vêm esses saltos de imaginação. Porém muitos de nós não fazem isso natural ou intuitivamente e, quando estamos pensando em lidar com problemas mais complexos do que a forma da próxima cadeira, temos que desenvolver processos ligeiramente mais formais. Mas uma evolução que aconteceu foi a passagem da ideia da etnografia como exercício acadêmico para a pesquisa etnográfica, como algo que você faz dentro de uma organização. Temos pessoas em nossas equipes de design com formação em etnografia/antropologia e em psicologia, bem como gente com treinamento em engenharia e design” (Brown, in: Budman, 2010, p.64).
Outro ponto importante levantando por Neumeier (2010, p.52) é o do “pensamento
equivocado”, que o autor afirma ser cultivado pelos designers mais inovadores que rejeitam a opção-padrão.
“Quando a grande inovação aparece, ela quase sempre parece desordenada, incompleta e confusa, [...]. Não há esperança para as especulações que a primeira vista não soam completamente insanas” Neumeier (2010, p.53). Muitas vezes esses pensamentos equivocados podem estar errados, mas ao se procurar a inovação não se pode ficar atado apenas às coisas que dão certo, não se pode ter medo do erro. Afinal, não há como se prever resultados, já que o caminho é traçado durante o caminhar.
Como não há modelos a serem seguidos é preciso se desenvolver três capacidades, que segundo Martin (2010, p. 157) são as principais ferramentas dos design thinkers – termo que o autor faz questão de ressaltar que não se restringi apenas aos designers, mas sim a qualquer pessoa predisposta a usar essa metodologia de gestão e de criação de inovações de produtos, experiências e serviços. Essas ferramentas seriam:
1. a observação – para ajudar a ver coisas que os outros não conseguem ver, conseguindo-se assim novos insights;
2. a imaginação – para tentar gerar testes de inferências em loops através dela, imaginando e experimentando o que poderia ser feito para aperfeiçoar aquela ideia e/ou protótipo, apurando os conceitos a cada resultado de teste; e
3. a configuração – para concretizar o insight, obtido pelo pensamento abdutivo, produzindo assim os resultados desejados.
Brown (Budman, 2010, p.69), costuma esquematizar o trabalho de design thinking em
três fases, que poderiam ser comparadas as ferramentas apresentadas por Martin (2010):
1. “inspiração – coleta de insights que começa com a empatia, ou seja com a compreensão de como as pessoas experimentam o mundo física, cognitva e emocionalmente, e como funcionam os grupos sociais e culturais. [...]
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA)
2. idealização – a construção de protótipos é a ideia mestra dessa etapa e deve ser vista como uma maneira de aprender sobre o conceito à medida que se interage com o protótipo. [...]
3. implementação – contando uma história, [...] ajuda-se a desenvolver e expressar uma ideia com maior clareza e, assim, encontrar uma melhor forma de tornar o seu produto tangível para pessoas e envolvê-las em sua proposta” (Budman, 2010, p.71).
Brown traduziu esse processo em um “modelo circular” (Figura 1), apresentado em 2008
em um artigo na Harvard Business Review, que revelava toda a complexidade de um pensamento sistêmico, como é a proposta do design thinking. Dividido em três principais áreas relativas a cada uma das respectivas fases, o modelo a primeira vista é confuso, contrapondo-se aos padrões de linearidade e de simplificação do processo, enraizado em nossa cultura de pensamento cientifico.
Atualmente este modelo é apresentado de modo mais simplificado, restringindo-se às setas externas que mostram a relação entre as três respectivas fases, sem a tentativa de exemplificar os movimentos e saltos entre as três áreas/fases que tentam reproduzir a lógica abdutiva do designer.
Figura 1 – Modelo de Circular para o processo de design thinking da IDEO. (Brown, 2008, p. 88-89)
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA).
Design entre arte e ciência – transdisciplinaridade posta em
prática
“[O] design [pode ser considerado] como um conjunto organizado de conhecimentos que utiliza metodicamente postulados da Estética e achados da Ciência no processo de concepção e justificação de uma proposta capaz de levar à produção de um objeto ou sistema que atenda necessidades humanas” (Couto, 1996).
Atuando com um modo de pensar intermediário entre o pensamento científico e o pensamento artístico, o designer inconscientemente já vem operando através de uma visão transdisciplinar do “entre/através/além de” há muitos anos. Segundo Random (in: Nicolescu, 2000, p. 118), a visão transdisciplinar “é um reencontro da riqueza do sentido aparente e do sentido escondido mediante um diálogo entre as ciências e as tradições, entre as ciências e a beleza da poesia e da arte”.
Ao buscar a aproximação da esfera cientifica, os designers desde de
“meados do século passado,[...] começaram a reunir diversos processos de design com o objetivo de alterar seus status de ‘serviçais exóticos’ para o de ‘profissionais sérios’. Nesse sentido, inúmeros processos foram concebidos, mas em sua maioria não passavam de fluxogramas simplistas construídos para orientar projetos através de uma série de fases. Quando eram retirados os termos específicos e os detalhes customizados para cada empresa, esses fluxogramas reduziam-se a quatro fases básicas: 1) descoberta, 2) ideação, 3) refinamento e 4) produção. Essa seqüência lógica trouxe alívio para os gestores, já que o design poderia ser administrado, rastreado, comparado e mensurado, como a fabricação de produtos” (Neumeier, 2010, p.48).
E fez com que o design relegasse a beleza a quase um segundo plano, pois se percebia
nela apenas a esfera do externo, da superfície, que acabou gerando a dissociação de forma e função, tão presente no discurso do design durante muitos anos.
Random (in; Nicolescu et al, 2000) nos relembra porém que beleza é harmonia, ritmo, proporção; ela existe no objeto e no seu observador; é a parte e o todo; e está ligada a esse princípio de unicidade e identidade: “A beleza é irredutível a qualquer análise, pois ela associa o indizível ao dizível, o invisível ao visível. Ela associa unidade e complexidade. Ela nos interroga sobre a nossa abordagem do conhecimento” (Random, in; Nicolescu et al, 2000, p. 121).
Como Neumeier (2010, p.73) ressalta no discurso de Buckminster Fuller: “Quando estou trabalhando em um problema, nunca penso na beleza. Mas quando termino, se a solução não for bela, sei que algo deu errado”, os designers sabem se não atingiram essa integração, essa harmonia do objeto em todos os seus níveis de realidade. É um saber “tácito”, que tenta ser expressado para o seu entorno como o “saber do olhar”, treinado durante anos de “confrontação” com o exercício do fazer design, do fazer o “belo”. Poderia-se afirmar que é um “saber dos sentidos”, difícil de ser reproduzido e expressado através do pensamento científico, principal metodologia de geração de conhecimento até os dias de hoje, pois o sujeito - neste caso os seus sentidos, sua cultura, seus conhecimentos acumulados, sua história de vida, etc - não pode ser disjunto do objeto.
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA)
Essa impossibilidade de se dissociar da beleza pode ser o portal que intuitiva e inconscientemente fazem com que os designers já atuem nessa nova esfera de geração de conhecimento através de um modo holístico que a metodologia da transdisciplinaridade defende. Comparando-se a metodologia da transdisciplinaridade a conceitos do design e do design thinking, descobre-se um paralelo surpreendente entre ambos, como pode ser visto no Quadro 1.
metodologia da transdisciplinaridade exemplos do design e
do design thinking
os saltos lógicos da mente descontinuidade
processo de reflexão em ação junção de análise e síntese
não separabilidade “o que é” e “o que poderia ser”
física quântica e os níveis de realidade
causalidade global processo do saber dinâmico não redução da realidade modelo circular de Tim Brown
complexidade não linearidade causal pensamento intuitivo
raciocínio abdutivo a lógica do terceiro incluído
A + não-A = T pensamento equivocado
Quadro 1- Paralelos entre a metodologia da transdisciplinaridade e o modo de atuação e visão do design thinking
Considerações Finais
A metodologia da transdisciplinaridade de Nicolescu (2000) liberta o design e os designers das amarras do pensamento clássico, que se apóia na previsibilidade e reprodutibilidade, na delimitação no domínio de competência do conhecimento (reducionismo) e na dissociação entre o sujeito e o objeto.
“A disjunção sujeito-objeto é um dos aspectos essenciais de um paradigma mais geral de disjunção-redução, pelo qual o pensamento cientifico separa realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identificá-las por redução da realidade mais complexa à realidade menos complexa. “ (Morin, 2000, p. 55).
Ela permite que o designer volte a se “religar” ao belo, ao saber do olhar, ao saber dos
sentidos, explicando os saltos de criatividade, a não linearidade de seu pensamentos, a sua busca pela relação das partes com o todo, a impossibilidade de se prever resultados em razão do “processo do saber dinâmico” e da “reflexão em ação”.
E, ela explica a razão do design thinking, ou seja do modo particular dos designers verem e pensarem o mundo, estar sendo celebrado como um novo instrumento de gestão da inovação, pois percebeu-se, intuitiva e empiricamente, que esse modo holístico dos designers se aproximarem das questões se adapta melhor a complexidade do mundo atual.
Além disso, o modo de atuação e de pensamento entre a razão e intuição dos designers, permite se vislumbrar a viabilidade do modo transdisciplinar de construção de conhecimento - considerado por muitos autores da área ainda uma utopia -, ajudando assim a quebrar o
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, São Luís (MA).
paradigma da lógica clássica que se impõe ao pensamento humano desde os tempos de Descartes.
Referências
BROWN T. Design Thinking. Harvard Business Review. June, 2008. http://www.ideo.com/images/uploads/thoughts/IDEO_HBR_Design_Thinking.pdf. Acessado 20/11/11, p. 88-89 BUDMAN M. De onde vêm as ideias. HSM Mangement. Março/ abril 2010. São Paulo, HSM do Brasil, 2010. COUTO R. M. S. Pequena digressão sobre natureza e conceito de design. Rio de Janeiro: PUC-Rio v.4 n.2, p. 11-20, 1996. MARTIN R L. Design de negócios: por que o design thinking se tornará a próxima vantagem competitiva dos negócios e como se beneficiar disso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MORIN E. Sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. NEUMEIER M. A empresa orientada pelo design. Porto Alegre: Bookman, 2010. NICOLESCU B. et. al . Educação e Transdiciplinaridade. i- Brasilia: UNESCO, 2000. p. 115-136. PAVIANI J. Disciplinaridade e Interdisciplinaridade. 2003. http://www.humanismolatino.online.pt/v1/pdf/C002_02.pdf. Acessado em 15/11/2011. PHILLIPS P L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Blucher, 2008.