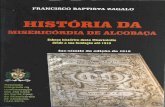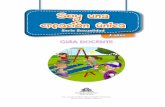Da Ordenação única ao espaço das regras: esboço de uma comparação entre Foucault e...
-
Upload
universidadeestadualdelondrina -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Da Ordenação única ao espaço das regras: esboço de uma comparação entre Foucault e...
DA ORDENAÇÃO ÚNICA AO ESPAÇO DAS REGRAS: ESBOÇO DE UMA
COMPARAÇÃO ENTRE FOUCAULT E WITTGENSTEIN1
Alison Vander Mandeli
Tiaraju Dal Pozzo Pez
De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas
a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto
quanto possível, o descaminho daquele que conhece? Existem
momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do
que se vê, é indispensável para continuar a olhar e a refletir.
Michel Foucault
Por vezes, uma expressão tem que ser afastada da linguagem
para limpeza, podendo, em seguida, voltar à circulação.
Ludwig Wittgenstein
I
No prefácio de As Palavras e as Coisas Foucault comenta que este livro nascera de
um texto de Borges, precisamente do riso que este lhe causara. Riso amarelo, nauseado, pois o
texto apresentara a impossibilidade do nosso pensamento pensá-lo; apresentara o limite do
próprio pensar, do nosso pensar. O que é tão evidente, para Foucault, em O Idioma analítico
de John Wilkins que apresenta um estranhamento? Que permite uma dobra do nosso
pensamento sobre si mesmo? Que permite pensar aquilo que para nós não é discutível?
Certa enciclopédia chinesa se intitula Empório celestial de
conhecimentos benévolos. Em suas páginas está escrito que os
animais se dividem em: (a) pertencentes ao Imperador, (b)
embalsamados, (c) domesticados, (d) leitões, (e) sereias, (f) fabulosos,
(g) cachorros soltos, (h) incluídos nesta classificação, (i) que se agitam
como loucos, (j) inumeráveis, (k) desenhados com um pincel
finíssimo de pelo de camelo, (l) etcétera, (m) que acabam de romper a
jaula, (n) que de longe parecem moscas. (BORGES, O idioma
analítico de John Wilkins. Apud. FOUCAULT, 1999, p.9).
Esta classificação no texto de Borges nos é impossível por sua disposição, por sua
ordenação, pelo lugar que a constitui e é por ela constituído. A ordem (a, b, c, d, e, f [...]) do
texto para a nossa idade e geografia – é um não lugar, denuncia e apresenta o impensado,
arruína certo lugar comum no qual a ordem de tempo e espaço é reduzida a uma sucessão
1 MANDELI, A.V.; PEZ, T.P. ‘Da Ordenação Única ao Espaço das Regras: Esboço de uma Comparação Entre
Foucault e Wittgenstein’. In.: NALLI, M; MANSANO, S. (org). Michel Foucault em Múltiplas Perspectivas.
Londrina: EDUEL, 2013. p.115-135.
linear que tem como fundamento o próprio homem. A ordem que nos é familiar tem como
referência uma subjetividade inata ao homem, tornado assim sujeito transcendental, e um
espaço entendido como mundo físico plenamente constituído, onde os objetos são entidades
plenamente constituídas; no qual a linguagem é basicamente proposições que servem para
ligar o sujeito e o mundo anteriormente a ela constituídos. Ela se constitui exclusivamente de
nomes, cuja única função é designar objetos, seja do mundo subjetivo - interior ao sujeito –
seja do mundo objetivo – exterior ao sujeito; no qual o conhecimento é a conveniência entre a
representação e o representado, a adequação entre a proposição e a coisa. Este modelo
estático de mundo é representado de forma culminante no Tractatus lógico-philosophicus
(TLP) de Wittgenstein. O plano central dessa obra era construir uma teoria que esclarecesse o
caráter representacional da linguagem. A teoria tractatiana tem como principal alvo a
declaração de que as proposições são uma espécie de figura (TLP, 2.1). A proposição é uma
ligação de elementos (nomes) colocados em uma determinada relação uns com os outros
(TLP, 3.14). As proposições representam um possível estado de coisas no mundo e os nomes
representam os objetos. Ao colocar nomes juntos construímos modelos, ou figuras da
realidade, que serão verdadeiras ou falsas se os nomes figurados na proposição representarem
um estado de coisas atual no mundo (TLP, 3.3411). Esse tipo de teoria, que compreende a
linguagem como um conjunto abstrato de proposições, cada uma representando um possível
estado de coisas no mundo, é criticado pelo assim chamado segundo Wittgenstein, e
exemplificado na citação de Agostinho que abre as Investigações Filosóficas (IF):
Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem
para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado
pelos sons que eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas
deduzi isto dos seus gestos, a linguagem natural de todos os povos, e
da linguagem que, por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por
meio dos movimentos dos membros e do som da voz, indica as
sensações da alma, quando esta deseja algo, ou se detém, ou recusa,
ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas
eram designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar
repetidamente nos seus lugares determinados em frases diferentes. E
quando habituara minha boca a esses signos, dava expressão aos meus
desejos. (AGOSTINHO, C, I:8).
O texto de Borges aponta para o espaço de impossibilidade desta linguagem da
representação. É o que devemos calar que é posto em jogo. É nossa terra natal que o texto
esquiva, nos tirando a estabilidade e a tranqüilidade da morada. Faz isso quando não podemos
definir nele uma categoria geral estável que reúna na mesma casa as sereias, os leitões e et
cetera, pois tal reunião evidencia o espaço vazio, a impossibilidade da ordem segundo nossos
critérios, a transgressão das condições de possibilidade do nosso pensar – este espaço vazio
emergido não é a ausência de ordem, não é o nada, é o limite do nosso pensamento, e quando
não dá para recortá-lo reduzindo-o a relações significado/significante, nome/coisa,
verdadeiro/falso que trariam uma unidade interior a esta desordem aparente. Esta
impossibilidade aparece quando a “enciclopédia chinesa” torna evidente o fato de não
pensarmos a ordem como o lócus a partir do qual podemos pensar. Quando torna evidentes as
condições de possibilidade do pensamento a partir dos seus próprios limites. O que este texto
apresenta para Foucault, na sua ordem impossível para o nosso pensamento, é um nível mais
profundo no qual os sujeitos são constituídos, os objetos são constituídos, as predicações se
tornam possíveis. O que ele torna evidente é o próprio espaço no qual essas categorias são
constituídas. Veja o que escreve Giannotti:
A filosofia parisiense costuma opor aquela lógica que estaria
inteiramente subordinada à identidade, tendendo, pois ao
automatismo, a um pensamento pela diferença onde a própria verdade
se revelaria antes da oposição dos valores de verdade – o verdadeiro e
o falso – característicos da proposição (GIANNOTTI, 2006, p.50).
O que causa o riso em Foucault é justamente essa abertura que o texto de Borges
evidencia. A abertura das condições de existência das categorias com as quais pensamos;
abertura que torna evidente não uma origem na qual está depositada a verdade, não a unidade
das palavras e sua relação transparente com os objetos de um mundo iluminado, mas que
várias ordens são passíveis de existência.
Esse texto de Borges fez-me rir durante muito tempo, não sem um
mal-estar evidente e difícil de vencer. Talvez porque no seu rastro
nascia a suspeita de que há desordem pior que aquela do incongruente
e da aproximação do que não convém; seria a desordem que faz
cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na
dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito (FOUCAULT, 1999,
p. 12).
A análise foucaultiana busca sob a unidade do sujeito e do objeto, antes da
proposição predicativa e da unidade científica a descrição das condições de existência do
saber. Segundo Foucault
[...] o que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a epistême
onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério referente a
seu valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam sua
positividade e manifestam assim uma história que não é a de sua
perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições de possibilidade
(FOUCAULT, 1999, p. 18).
Da mesma forma, a filosofia madura de Wittgenstein busca descrever, um grande
número de ordens possíveis. Enquanto o esforço filosófico do Tractatus pode ser comparado,
metaforicamente, com um espelho, onde os signos linguísticos significativos têm a função
única de espelhar os objetos do mundo, revelando assim uma ordem única, representativa, a
filosofia pós-tractatus faz dos signos linguísticos uma caixa de ferramentas onde a ordem é
revelada pelo uso que os falantes fazem dos signos, e não na ligação objeto/palavra.
Pense nas ferramentas em sua caixa apropriada: Lá estão um martelo,
uma tenaz, uma serra, uma chave de fenda, um metro, um vidro de
cola, cola, pregos e parafuso. – Assim como são diferentes as funções
desses objetos, assim são diferentes as funções das palavras. (E há
semelhanças aqui e ali.) Com efeito, o que nos confunde é a
uniformidade da aparência das palavras, quando estas nos são ditas, ou
quando com elas nos defrontamos na escrita e na imprensa. Pois seu
emprego não nos é tão claro. E especialmente não o é quando
filosofamos! (IF, 11).
As funções das palavras são diferentes. Não cabe a elas apenas nomear objetos. O
contexto prático, sua função no discurso daquele que fala é que é importante para definir sua
significação. Mas, mesmo nesse quadro, onde o discurso ganha significação a partir da práxis,
existe uma ordem. Não é bom que as palavras ora representem uma coisa ora outra, ou que
signifique algo para uma pessoa e algo diferente para outra. Como podemos enunciar regras e
preservar ao mesmo tempo uma multiplicidade de ordens possíveis? Para Wittgenstein os
jogos de linguagem respondem a essa questão. Perceber que as palavras funcionam dentro de
jogos de linguagem, liberta o filósofo da busca de uma ordem última, desprendida do contexto
prático em que a linguagem está envolvida. Assim, é preciso perceber que o conceito de jogos
de linguagem torna-se imprescindível na organização das atividades realizadas através
linguagem. Vejamos a clássica passagem em que Wittgenstein expõe enfaticamente a questão
dos jogos de linguagem:
Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio destes
exemplos e outros:
Comandar, e agir segundo comandos –
Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas -
Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) –
Relatar um acontecimento –
Conjeturar sobre o acontecimento –
Expor uma hipótese e prová-la –
Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e
diagramas -
Inventar uma história; ler –
Representar teatro –
Cantar uma cantiga de roda –
Resolver um enigma –
Fazer uma anedota; contar –
Resolver um exemplo de cálculo aplicado –
Traduzir de uma língua para outra –
Pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar. (IF, 23)
Considerando a linguagem do ponto de vista pragmático ficamos capacitados a
compreendê-la em sua totalidade, de acordo com a multiplicidade das ordens possíveis (jogos
de linguagem ou formações discursivas) que a constitui.
Esboçar uma comparação entre a crítica foucaultiana2 e wittgensteineana a esse tipo
exclusivamente representacional de compreensão da linguagem é o mote do presente texto.
II
Ao leitor emerge o estalar ensurdecedor do pensamento de Foucault quando afirma
em “As palavras e as coisas” que não é fácil pensar a noção de descontinuidade e quando
afirma em “A Arqueologia do Saber” a necessidade de libertar-se da evidência da
continuidade. Não dá para ignorar, pois o zumbido desta questão corta a consciência numa
onda sonora como a produzida por um inseto ao invadir o ouvido. A calmaria da leitura é
elidida por uma inquietude que a põe em desassossego quase desesperador. Desassossego
posto em jogo pela sedução suscitada pelo autor francês ao desenrolar o problema colocado:
“Que quer dizer, de um modo geral: não mais pensar um pensamento? E inaugurar um
pensamento novo?” (FOUCAULT, 1999, p. 69), e, na mesma linha crítica: “Essas formas
prévias de continuidade, todas essas sínteses que não problematizamos e que deixamos valer
de pleno direito, é preciso, pois, mantê-las em suspenso” (FOUCAULT, 2009, p. 28). Estas
questões nos remetem ao centro da problemática foucaultiana e wittgensteineana em relação a
crítica de toda uma tradição do pensamento ocidental, em especial a história das ciências e das
ideias, que praticam uma história da continuidade a partir de uma série de unidades tomadas
como fundamentos solidificados que dispensariam qualquer questionamento.
Logo no início de “A arqueologia do Saber” Foucault exemplifica quais são as
unidades a que se refere – as unidades do Discurso. Quais sejam: as unidades do livro e da
obra; a unidade da noção de tradição; de influência; de desenvolvimento e de evolução; de
mentalidade e espírito; a unidade da noção de origem. É necessário não tomá-las como
2 Restringiremos nossa análise no chamado período arqueológico de Foucault, tendo como referência principal o
livro A arqueologia do Saber, pois nesse livro Foucault faz reflexões sobre os conceitos de “formação
discursiva”, “prática discursiva” e “saber”, fundamentais para entendermos o questionamento proposto. É
importante lembrarmos que a arqueologia foucaultiana “[...] pode ser pensada de vários modos, que não
permitiriam esquadrinhar sua obra (ainda que o uso desse termo o desagradasse) como uma teoria, ou seja, como
um sistema teórico e conceitual que foi sendo paulatinamente construído. Mas corretamente, os trabalhos de
Foucault, quer por seus livros, quer por seus artigos, devem ser avaliados como incursões teórico-críticas
variadas; diferentes sem ser incompatíveis; parciais, jamais totais e completas. De qualquer modo, a maior parte
de seus trabalhos até 1968 são trabalhos que enveredam, por assim dizer, de uma maneira transversal pela
história das ciências e pela epistemologia, tal como se fez na França a partir dos trabalhos de Bachelard e
Canguilhem” (Nalli, M. A. G. Sobre o conceito foucaultiano de Discurso. In: ORLANDI, Luis B. L. A
Diferença. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005. p. 151 – 169).
evidente – “sacudir a quietude com a qual as aceitamos” (FOUCAULT, 2009, p. 26). O que
Foucault questiona nessa substancialização é o fato da linguagem ser reduzida a nomes. Como
se o discurso fosse uma estrutura lógica constituída por um encadeamento de nomes, cuja
única função fosse representar um pretenso “mundo objetivo” ou um pretenso “mundo
subjetivo” interior a um sujeito. Enquanto soma de unidades a função particular do discurso
de representar é tornada universal; função figurativa que é tornada universal, destacando-se
como geral a relação entre uma entidade manifesta (discurso) e outra oculta (um significado
essencial). O discurso é visto como efeito deste significado que o controla, ou seja, ele apenas
expressa uma situação mental de um sujeito transcendental ou a aparência de uma “coisa” de
um mundo exterior aos sujeitos. Em ambos os casos o discurso é entendido como mera
representação. E pensar se reduz a buscar esse significado oculto. Em relação a isso Foucault
[...] unidade da obra? Uma soma de textos que podem ser denotados
pelo signo de um nome próprio. Ora, essa denotação [...] não é uma
função homogênea: [...] assim, não é a mesma relação que existe entre
o nome de Nietzsche por um lado e, por outro, as autobiografias de
juventude, as dissertações escolares, os artigos filológicos, Zaratustra,
Ecce Homo, as cartas, os últimos cartões-postais assinados por
“Dionysos” ou “Kaiser Nietzsche”, as inumeráveis cadernetas em que
se misturam notas de lavanderia e projetos de aforismos
(FOUCAULT, 2009, p. 26-27).
Como Foucault, Wittgenstein claramente vê essa tendência de tomar um único caso
central, a nomeação, por exemplo, e derivar dele um modelo geral do funcionamento da
linguagem, como um importante elemento da atitude teórica que gera várias falsas imagens
(MCGINN, 1997, p.39). É reducionista pensar que de um único caso, ou de uma única função
linguística, poderemos compreender a linguagem como um todo. Ao olhar para linguagem
dessa forma, ficamos cegos para o amplo e rico horizonte da atividade pragmático-linguística
humana. Não prestamos atenção em fenômenos importantes, como o domínio da língua, ou o
uso real que os falantes fazem das palavras.
Ao tentar compreender toda a linguagem através de um único caso, nós super-
simplificamos o fenômeno linguístico, valorizamos um único tipo de palavra (nomes) e
abstraímos a linguagem da vida dos falantes. Para contrapor essa visão, Wittgenstein dá o
exemplo do negociante (IF, 1), com o intuito de chamar nossa atenção para uma outra maneira
de olharmos para linguagem, a saber, em seu ambiente de funcionamento. O filósofo nos
convida a imaginar a seguinte situação: alguém vai fazer compras e ao chegar à mercearia
entrega um papel ao negociante com os signos “cinco maçãs vermelhas”. Ao olhar o papel, o
merceeiro:
Abre o caixote sobre o qual encontra-se o signo “maçãs”; depois
procura em uma tabela a palavra “vermelho” e encontra na frente
desta um modelo de cor; a seguir, enuncia a série dos numerais até a
palavra “cinco” [...], e a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor
do modelo. Assim e de modo semelhante se opera com palavras. (IF, 1
- grifo nosso).
O exemplo dado não envolve a super-simplificação característica da visão filosófica
que busca uma ordem única. Mesmo sendo um exemplo simples, ele é de certa forma
completo, pois apresenta a linguagem em seu ambiente natural de funcionamento.
Wittgenstein não quer derivar dele a essência da linguagem, mas de preferência usá-lo como
meio para chamar nossa atenção à riqueza do fenômeno linguístico quando visto na práxis dos
falantes. A nomeação, dessa forma, não pode ser vista como essencial, pois no exemplo cada
palavra tem uma função específica: “cinco”, “maçãs” e “vermelhas” são palavras que
possuem um uso específico fundamentalmente diferente uns dos outros (cf. BAKER,
HACKER, 2005, p.50). Wittgenstein conduz assim seu trabalho contra a tentação de
compreender a linguagem abstraída de seu uso. Isso nos faz perceber como a linguagem está
repleta de atividades não linguísticas e como no uso as diferentes funções das expressões
linguísticas tornam-se aparentes.
No exemplo do negociante, Wittgenstein se preocupa em nos mostrar a variedade
das técnicas linguísticas que existem em um simples uso da linguagem. Neste novo exemplo,
ele apresenta uma imagem onde as únicas palavras existentes são nomes de objetos: “cubos”,
“colunas”, “lajotas” e “vigas”. Essas palavras são toda a linguagem de uma comunidade (IF,
2), mas novamente vamos imaginá-la funcionando em seu ambiente natural, onde elas servem
para o entendimento entre um construtor A e seu ajudante B:
A executa a construção de um edifício com pedras apropriadas; estão
à mão cubos, colunas, lajotas e vigas. B passa-lhe as pedras, e na
seqüência em que A precisa delas. Para esta finalidade, servem-se de
uma linguagem constituída das palavras “cubos”, “colunas”, “lajotas”
e “vigas”. A grita essas palavras; B traz as pedras que aprendeu trazer
ao ouvir este chamado. (IF, 2).
As palavras “cubos”, “colunas”, “lajotas” e “vigas” devem ser compreendidas dentro
dessa comunidade histórica. Assim, a crítica de Wittgenstein se aproxima da crítica de
Foucault ao pensamento representativo, e tem como principal alvo o fato deste pensamento
criar entidades ideais, fundamentos meta – históricos. A crítica, assim, rompe com a idéia de
que um conjunto de discursos é a expressão da genialidade ou denotassem o significado lhe
dado pelo autor – no caso por nós citado acima – Nietzsche. Rompe, pois, com a idéia de que
pensar esse conjunto de discursos é interpretar um significado oculto, buscar a palavra muda
sob a palavra. Ao provocar a inquietude do pensamento, Foucault afirma que o signo
Nietzsche não é evidente em si mesmo, que é necessário um campo discursivo que o
possibilite. Da mesma forma, Wittgenstein nos diz que não podemos saber o que significa
"xeque-mate", se nos limitamos a observar a última jogada de uma partida de xadrez (IF,
316). Com isto, sugere que o significado de uma expressão não está determinado pelas
palavras individuais que a compõem, mas, como já dissemos, pela maneira que as usamos.
Esta prática pressupõe o domínio de uma técnica que depende do contexto e das
circunstancias particulares que a rodeiam. Uma origem única de significado é inexistente.
Não se trata de negar essas unidades, trata-se apenas de não absolutizá-las mostrando
as condições de sua existência. A crítica não tem um sentido negativo ou é uma forma de
julgamento que pretende subjugar em nome de uma identidade comum o que é pensado.
Foucault e Wittgenstein, por exemplo, não rejeitam o jogo de linguagem representativo, onde
as palavras servem para nomear objetos. O que fazem é enfatizar a idéia de que esse é um tipo
de uso de palavras entre inúmeros usos possíveis. A crítica é uma abertura que ao sacudir,
rachar as unidades, pretende mostrar o conjunto de regras de formação no qual elas podem
existir. Não se trata de afirmar negando a diferença, mas abrir o estreito da unidade em busca
do campo de regras de formação no qual a unidade é apenas uma das práticas possíveis. Sobre
a crítica:
Não posso me impedir de pensar em uma crítica que não procuraria
julgar, mas procuraria fazer existir uma obra, um livro, uma frase,
uma idéia; ela acenderia os fogos, olharia a grama crescer, escutaria o
vento e tentaria apreender o vôo da espuma para semeá-la. Ela
multiplicaria não os julgamentos, mas os sinais de existência; ela os
provocaria, os tiraria de seu sono. Às vezes, ela os inventaria? Tanto
melhor, tanto melhor. A crítica por sentença me faz dormir. Eu
adoraria uma crítica por lampejos imaginativos. Ela não seria
soberana, nem vestida de vermelho. Ela traria a fulguração das
tempestades possíveis (FOUCAULT, 2000, p. 302).
Nessa citação, a crítica foucaultiana mostra que a unidade é organização,
multiplicidade de relações, ou seja, o discurso não é uma entidade governada por um sentido
oculto, mas um conjunto singular de relações discursivas e não discursivas. Não há o discurso
enquanto átomo fundamental, o que há é um campo discursivo, uma formação discursiva, ou
seja, um conjunto de relações entre discursos e elementos não discursivos que funcionam
como condição de existência, de diferenciação, de separação, de cooperação, de
desaparecimento, ou melhor, um conjunto de relações que funcionam como regra. É por
buscar descrever esse conjunto de regras que a arqueologia é uma análise do discurso, mais
precisamente das formações discursivas, e uma abertura crítica, pois, como dito, não toma
uma existência particular como universalidade, mas busca o espaço no qual múltiplas
existências se formam. É somente nessa abertura que Foucault pode afirmar que cabe ao
pensamento escutar a emergência e costurar a proveniência dessas relações. A “pesquisa” da
proveniência (Herkunft) é um processo de dissociação da “unidade”, pois visa fazer surgir ou
reencontrar os vários acontecimentos, as várias relações em jogo que a constituíram. Entrar no
jogo da diferença, no combate das forças e não sentar na poltrona da identidade como se ela
fosse a sombra do repouso da verdade. A “identidade” é forjada e só “é” como organização.
Não há continuidade estável. Há lutas, desvios, dispersões, conluios. Escutar a emergência
(Entestehung) é tomar o acontecimento discursivo na imanência das relações que o
constituem. É escutar esse efervescer das relações que entram em cena, que cortam a
“unidade”. Mesmo com toda essa acidez, a crítica arqueológica não pretende negar
radicalmente as análises que tomam as unidades como entidades fundamentais, mas coloca-se
como alternativa analítica que visa multiplicar os sinais de existência e não ficar no estreito
das sínteses apriorísticas. Sobre esse espaço das regras de formação escreve Foucault:
O “pré-conceitual” [...] (no nível dos discursos), o conjunto das regras
que aí se encontram efetivamente aplicadas. [...] Na análise que aqui
se propõe, as regras de formação têm seu lugar não na “mentalidade”
ou na consciência dos indivíduos, mas no próprio discurso; elas se
impõem a todos os indivíduos que tentam falar nesse campo
discursivo. Por outro lado não são consideradas universalmente
válidas para todos os domínios indiscriminadamente; são sempre
descritas em campos discursivos determinados, e suas possibilidades
indefinidas de extensão não são reconhecidas antecipadamente. Essas
regras não são o resultado de operações efetuadas pelos indivíduos
(FOUCAULT, 2009, p. 69).
Esta citação traz uma série de pontos que necessitam de reflexão. Primeiramente ela
é muito próxima da ideia wittgensteineana de jogo de linguagem que já esboçamos acima.
Aquilo que confere vida e significado às palavras é o seu uso na prática efetiva da linguagem,
por isso não basta analisar as palavras como meros signos denotativos quando buscamos
compreendê-las. A prática é ordenada por regras contextuais, que não são válidas
universalmente, mas que são essenciais aos jogos em que elas pertencem. Percebemos assim
que o mais evidente em uma formação discursiva são as regras de formação e que estas são o
objetivo da análise. Esse “pré-conceitual” na citação de Foucault e em concordância com
Wittgenstein, não se refere nem a um mundo já objetivado – anterior ao discurso – nem a um
sujeito transcendental que estaria ao lado desse mundo do qual o discurso seria mero efeito.
Refere-se a esse conjunto de regras de formação que formam sujeitos e objetos.
Wittgenstein e Foucault renunciam a idéia de um mundo enquanto ente físico total, o
qual seria refletido pelo discurso de maneira distorcida, com certa opacidade perene. Não há
mundo a priori. Não há “coisas” a priori. A crítica busca não tomar a “coisa” como unidade
constituída e evidente à reflexão, pois a “coisa” deve ser entendida como objeto e, por isso,
indissociável da ordem de relações de regras de formação que a produziu enquanto objeto, ou
seja, a crítica descreve, como num campo discursivo, objetos são constituídos. A análise,
assim, não remete o discurso a um referente privilegiado que qualificaria o discurso como
verdadeiro ou falso de acordo com a existência empírica do referente. Foucault exemplifica:
Nas descrições cuja teoria acabo de tentar fornecer, não se trata de
interpretar o discurso para fazer através dele uma história do referente.
No exemplo escolhido3, não se procura saber quem era louco em tal
época, em que consistia sua loucura, nem se suas perturbações eram
idênticas às que nos são, hoje, familiares. [...] não se procura
reconstituir o que podia ser a própria loucura, tal como se apresentaria
inicialmente em alguma experiência primitiva, fundamental, surda
(FOUCAULT, 2009, p. 53).
Não há o ser loucura que definiria a continuidade unitária de um discurso unitário
denominado psiquiatria. Foucault quer renunciar a esse tipo de análise que faz do discurso
função denotativa de uma coisa que o determina. Wittgenstein também rejeita essa história do
referente, como vemos aqui: não estamos fazendo [...] história natural; podemos inventar
uma história natural fictícia para nossos propósitos (IF II, p.205). Por diferentes vias, o
propósito dos autores é mostrar que o discurso, seja o psiquiátrico ou qualquer outro,
enquanto um campo de regras de formação, constitui objetos, desfaz objetos da “origem,
simultânea ou sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha de se
modificar” (FOUCAULT, 2009, p. 50). Veja que tanto em Foucault quanto em Wittgenstein,
o importante é o espaço de regras, um certo corpus de relações com uma estabilidade relativa
(espaço que se constitui como instituição) o qual objetos se originam, se modificam, se
diferenciam, se contradizem, se excluem. Esse espaço discursivo é composto, já dito neste
trabalho, de relações discursivas e não discursivas. Nas palavras de Foucault:
As relações discursivas [...] Elas estão, de alguma maneira, no limite
do discurso: oferecem-lhe objetos de que ele pode falar, ou antes (pois
essa imagem da oferta supõe que os objetos sejam formados de um
lado e o discurso, do outro), determinam o feixe de relações que o
discurso deve efetuar para poder falar de tais objetos, para poder
abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, explicá-los etc.
(FOUCAULT, 2009, p. 51).
A crítica elide a unidade e evidência da “coisa” para descrever, apresentar esse
espaço discursivo. Destaca-se o conjunto de regras próprias do campo discursivo, mostrando
que a relação entre palavras e coisas, a relação de nomeação é apenas uma prática possível
num espaço de ordenação múltiplo.
3 Foucault se refere ao discurso psiquiátrico.
Na citação também percebemos uma crítica ao sujeito como fundamento, pois a
posição ou existência de um sujeito depende de todo um campo discursivo que o possibilite,
ou seja, é todo um conjunto de relações que funcionam como regras que possibilitam os
sujeitos. São elas que determinam quem fala; certo status desses sujeitos; certas relações
desses sujeitos com outros e com instituições (nas quais se produz saber e possibilitam que
sujeitos veiculem esse saber); certas relações desses sujeitos com objetos (definidos, também,
por esse conjunto de relações). Vejamos:
Se no discurso clínico o médico é sucessivamente o questionador
soberano e direto, o olho que observa, o dedo que toca, o órgão de
decifração dos sinais, o ponto de integração de descrições já feitas, o
técnico de laboratório, é porque todo um feixe de relações se encontra
em jogo; relações entre o espaço hospitalar, como local ao mesmo
tempo de assistência, de observação purificada e sistemática, e de
terapêutica, parcialmente testada, parcialmente experimental, e todo
um grupo de técnicas e de códigos de percepção do corpo humano –
tal como é definido pela anatomia patológica (FOUCAULT, 2009, p.
59).
A crítica cria um abismo na tão evidente relação entre o discurso e uma interioridade
subjetiva de um sujeito como fundamento. As regras de formação são anônimas, são regras
públicas. Constituem hábitos, instituições – um lugar privilegiado, exterior ao cogito, pois não
importa quem fala, mas de onde fala. Esse sujeito fundante, criticado por Foucault, é
pressuposto na citação de Agostinho que abre as Investigações Filosóficas. Como vimos,
Agostinho diz que quando os adultos nomeavam os objetos, ele compreendia que faziam um
ato de nomeação, ligando palavras e coisas através da pronúncia de um som acompanhado de
um ato de apontar o objeto. Pressuposta a essa declaração, está a idéia de que a criança faz a
associação entre os nomes e os objetos através do pensamento, o que significa que de antemão
deve possuir uma linguagem mental privada, para que possa compreender a pública. Para
melhor visualizar essas características que pressupõe esse sujeito fundante, alguns
comentadores (cf. BAKER; HACKER, 2005, p.48; MCGINN, 1997, p.38) citam outra
passagem das Confissões, não citadas por Wittgenstein, mas que fazem parte do contexto da
citação inicial:
Pouco a pouco, comecei a perceber onde eu estava. Queria exprimir os
meus desejos aos outros, pois poderiam satisfazê-los, mas isso eu não
podia fazer, porque meus desejos estavam dentro de mim, enquanto as
pessoas estavam fora de mim, e eles não tinham poderes para
penetrar-me nos sentidos. Assim, balançava meus braços e pernas e
fazia ruídos, esperando que alguns sinais, pudessem mostrar os meus
desejos, no pouco que eu podia imitá-los. (AGOSTINHO, C, I: 6).
Nestas reflexões, podemos visualizar a tendência de pensar o sujeito em termos de
uma essência privada, ou mente, concebida como algo já humano, mas sem a capacidade de
comunicação. A criança já nasce com essa estrutura mental a priori, repleta de desejos,
pensamentos, vontades, mas ainda sem a aptidão linguística para revelar sua estrutura
subjetiva. Para aprender como transmitir sua esfera mental, como revelar seus pensamentos,
basta à criança perceber, como vimos na primeira citação das Confissões, qual palavra é usada
para designar aquele objeto. O propósito primário da linguagem seria então revelar essa esfera
mental que é primordialmente oculta e só acessível ao sujeito. Para Wittgenstein, Agostinho:
Descreve o aprendizado da linguagem humana como se a criança
chegasse a um país estrangeiro e não compreendesse a língua desse
país; isto é, como se ela já tivesse uma linguagem, só que não essa. Ou
também: como se a criança já pudesse pensar, e apenas não pudesse
falar. E “pensar” significaria aqui qualquer coisa como: falar consigo
mesmo. (IF, 32).
Isso enfatiza um forte dualismo, que tem ecos claramente cartesianos4. Existe um
sujeito de pensamento inato, por um lado, e um mundo físico de outro, que será plenamente
acessado quando o sujeito aprender quais palavras ligam-se aos respectivos objetos. A
compreensão das palavras é fundamentada neste sujeito, pois é essa mente que verifica qual
objeto é designado pelo seu respectivo nome. A compreensão é assim um fenômeno interno; é
a junção palavra/coisa que é feita por esse sujeito transcendente ao mundo. Isso, segundo
Foucault e Wittgenstein é reducionista. O pensamento simplório de que as palavras somente
significam os objetos que substituem, envolve o funcionamento da linguagem como uma
bruma que torna impossível a visão clara; para tornar clara a visão é preciso estudarmos
espécies primitivas do emprego da linguagem como, por exemplo, as que emprega as crianças
quando estão aprendendo a falar. O ensino da linguagem não é aqui nenhuma explicação, mas
sim um treinamento (IF, 4). Por exemplo, o ensino das crianças na comunidade de
construtores. Elas são introduzidas na cultura de sua sociedade não só aprendendo qual
palavra é a correta para representar cada uma das pedras de construção, mas são educadas
para executar a atividade de construção, usar as palavras na práxis comunitária e reagir de
certa maneira frente às palavras dos outros (cf. IF, 4). Obviamente ao ensinar as palavras, o
professor pode apontar e pronunciar “lajota”, mas pergunto, o aluno aprenderá o significado
da palavra só através desse procedimento? Obviamente que não, pois na prática da
comunidade o signo “lajota” não serve apenas para evocar na mente de quem o ouve ou
4 Sabemos que Descartes considerava a mente e o corpo como dois tipos distintos de substâncias; os corpos são
substâncias materiais e possuem a propriedade da extensão (res extensa) ao passo que as mentes não são
materiais e possuem a propriedade do pensamento (res cogitans). (cf. Meditações Metafísicas).
pronuncia uma representação do objeto. Wittgenstein não nega que isso pode acontecer e de
certa forma ajudar a compreender o verdadeiro uso que a palavra possui, mas essa
representação mental ainda não é nem um lance na vida prática dos construtores.
Aqui podemos perceber uma nova compreensão da subjetividade que surge com essa
maneira pragmática de olhar para a linguagem. No modelo onde o sujeito é fundamento, cabe
a estrutura mental inata apenas verificar qual palavra é usada para designar os objetos, e ao
aprender isso, esse sujeito mental torna-se apto linguisticamente para transmitir sua esfera
privada. Na proposta de Wittgenstein e Foucault, em contraste, a linguagem é internamente
ligada com a forma de vida dos falantes. Assim, o sujeito emerge vagarosamente através da
aquisição de novos e mais complexos jogos de linguagem ou discursos que os constituem.
Não existe então um sujeito mental enquanto base da compreensão das palavras, mas uma
subjetividade dissolvida nas práticas da comunidade linguística.
É este local, esta espacialidade constituída por esse conjunto de relações discursivas
que possibilitam o sujeito autor, o sujeito médico. O sujeito passa a ser apenas uma função,
cuja existência se dá nesse conjunto de relações de regras de formação. A crítica descreve
essa topografia na qual só há o discurso. Deve-se partir dos discursos. Segundo Deleuze:
É que ele não escolhe as palavras, as frases e as proposições de base
segundo a estrutura, nem segundo um sujeito-autor de quem elas
emanariam, mas segundo a simples função que exercem num
conjunto: por exemplo, as regras de internamento no caso do asilo, ou
no da prisão (DELEUZE, 2005, p. 28).
O “pré-conceitual” não se identifica com um sujeito transcendental nem com uma
“coisa” a priori, mas é um conjunto de relações que funcionam como regra de formação do
acontecimento discursivo. A crítica, por isso, rompe com a evidência da unidade abrindo um
espaço novo de análise. Qual seja: o campo das formações discursivas que torna evidente o
conjunto de regras de formação que ele é. Ampliando a análise, são necessárias algumas
observações que definam melhor esse campo de relações de regras de formação.
III
A formação discursiva, enquanto espaço de relações de regras, é a condição de
existência desses próprios discursos em formação. Uma formação discursiva é determinada
quando se elucida o conjunto de relações que constituem sua existência. As regras são seus
padrões de elucidação, de definição. O espaço ordenado de relações discursivas se mostra na
elucidação dessas próprias relações, ou seja, a crítica, enquanto descrição das relações
discursivas, torna evidente o espaço de regras que constitui sua existência e, vice-versa, ao
elucidar as regras torna evidente a ordem da formação discursiva. Isso demonstra que uma
formação discursiva é uma certa ordem, ou melhor, uma certa ordenação de discursos. É por
isso que Foucault pode dizer que uma formação discursiva é um sistema de dispersão, ou seja,
um espaço que é uma ordenação discursiva na qual objetos, sujeitos, conceitos podem existir,
se modificar, se opor, desaparecer. É neste espaço de ordenação que essas categorias perdem
sua idealidade de um possível utópico ou de um fundamento posterior, anterior e sob o
discurso, sendo descritas em sua existência singular de discurso. A singularidade de existência
dessas categorias (e da formação discursiva) se dá na singularidade de existência do campo de
regras na qual se formam. Como escreve Deleuze: “É o ‘Diz-SE’ como murmúrio anônimo,
que assume tal ou qual dimensão diante do corpus considerado” (DELEUZE, 2005, p. 28-29).
Isto mostra que as regras não são exteriores à formação discursiva ou dos jogos de linguagem,
mas como diz Foucault, estão nas margens, nas fronteiras dos discursos, ou seja, é a própria
singularidade da relação que se constitui como regra. Sendo a formação discursiva um
conjunto de relações de discursos e elementos não discursivos, ela própria é esse conjunto de
regras que se auto-regula, se auto-delimita. Ainda segundo Deleuze:
Se a repetição dos enunciados tem condições tão estritas, não é em
virtude de condições exteriores, mas da materialidade interna que faz
da própria repetição a força característica do enunciado. É que um
enunciado se define sempre através de uma relação específica com
uma outra coisa de mesmo nível que ele, isto é, uma outra coisa que
concerne a ele próprio (e não a seu sentido ou seus elementos). Esta
“outra coisa” pode ser um enunciado, caso em que o enunciado se
repete abertamente. Mas, no limite, ele é necessariamente outra coisa
que não um enunciado: é um “Lado de Fora” (DELEUZE, 2005,
p.23).
O campo de relações de regras de formação discursiva não é estranho ao tempo, por
isso Foucault o chamará A priori histórico. Ele é estranho ao tempo entendido como sucessão
temporal absoluta. A crítica propõe a suspensão do tempo enquanto sequência linear, na qual
o discurso é uma unidade ideal (expressão de um pensamento ou de uma “coisa”) que teria
uma história, para fazer “aparecerem relações que caracterizam a temporalidade das
formações discursivas [...]” (FOUCAULT, 2009, p. 188). Para Foucault é o conjunto das
relações das regras de formação que constituem uma evidência histórica. Espaço no qual
objetos têm origem, se transformam, deixam de existir; conceitos são elaborados, descartados;
elementos não discursivos se transformam, deixam de existir. O espaço discursivo é um
pedaço de história cuja historicidade é problematizada na medida em que se evidenciam as
relações que o constituem. Isto impossibilita uma totalidade histórica ou um saber como
totalidade da história (iluminar todas as relações de uma época), pois aquele espaço, enquanto
conjunto de regras, determina sempre um campo de dizibilidade fora do qual se dá a
impossibilidade do pensamento, eis o porquê do riso de Foucault ao ler o texto de Borges.
Nesse sentido atesta Paul Veyne:
Todavia, não possuímos uma verdade adequada das coisas, porque só
alcançamos uma coisa em si através da idéia que dela construímos em
cada época (idéia cujo discurso é a formulação última, a differentia
ultima). Não a alcançamos, pois, senão enquanto “fenômeno”, porque
não podemos separar a coisa em si do “discurso” no qual ela se
encontra contida para nós. “Assoreada”, gostava de dizer Foucault.
Nada poderia ser conhecido na ausência dessas espécies de
pressupostos (VEYNE, 2009, p. 16).
A crítica afirma o discurso enquanto prática. O espaço de relações de regras de
formação (formação discursiva) é um espaço de práticas discursivas. Foucault torna evidente
o espaço vazio que grande parte do pensamento ocidental tenta preencher com um
fundamento. Esse espaço vazio não é o nada (como já dito), é um espaço de positividade (de
práticas), pois as relações que o constituem só existem na medida em que se efetivam, na
medida em que ocorrem, só são no plural e em ação. O conceito de formação discursiva
evidencia um conjunto de práticas discursivas que constituem a totalidade de visibilidade da
história existente para determinada época. Não há um sujeito que transcenda este espaço, nem
um mundo a descobrir sob ele.
Também Wittgenstein, nas Investigações filosóficas, preocupou-se com as regras que
determinam o significado das palavras e que, como vimos nos exemplos dos construtores e
das maçãs vermelhas, mesclam-se com muitos elementos pragmáticos. Segundo a concepção
do significado como uso, as regras que determinam o significado das palavras dizem respeito
a toda espacialidade que de alguma forma faça parte do jogo de linguagem em questão. Estão
inclusos nesta espacialidade de regras tanto as próprias regras gramaticais, quanto os gestos,
comportamentos, etc. Enquanto o Tractatus estipulava regras rígidas para a linguagem
significativa, regras essas que canalizavam o pensamento na direção de uma ordem única,
regras independentes dos sujeitos e das formas de vida, regras que pressupunham um sujeito
transcendental inato, nas Investigações Wittgenstein entende a noção de regra como algo
público, que se efetiva na prática dos sujeitos que a usam:
Não pode ser que apenas uma pessoa tenha, uma única vez, seguido
uma regra. Não pode ser que apenas uma única vez tenha sido feita
uma comunicação, dada ou compreendida uma ordem etc. – Seguir
uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida
de xadrez são hábitos (costumes, instituições). (IF, 199).
Ao pensarmos sobre o seguir de regras, somos levados a algo que é compartilhado,
que pode ser explicado e corrigido, se assim a forma de vida o exigir. É, portanto, uma prática
intrinsecamente pública, remetendo a critérios públicos de explicação e correção e não a
qualquer tipo de atividade oculta ou misteriosa.
Para realçar o status de fundamento infundado que as regras assumem, podemos
pensar em algumas passagens do Da Certeza de Wittgenstein. O filósofo dá o seguinte
exemplo: em uma aula de ciências o aluno interrompe a todo o momento o professor, fazendo
questões sobre a uniformidade da natureza ou sobre a validade dos raciocínios indutivos.
Deve o professor sossegar-lhe, dizendo que temos fundamentos inabaláveis para tais
questões? Segundo Wittgenstein não. Um professor sensato preocupar-se-ia com o aluno, pois
se parar em tais questões não pode fazer progressos. Não que a reflexão não tenha validade,
mas tais dúvidas não têm lugar ali. Parte-se de uma prática e regras dadas. Para Wittgenstein,
o aluno seria como alguém que estando a procurar algo em um quarto abre uma gaveta e não
vê ali; depois fecha-a, espera e abre-a mais uma vez para ver se por acaso não está lá agora,
e continua assim. Não aprendeu a procurar coisas. E do mesmo modo o aluno não aprendeu
a fazer perguntas. Não aprendeu o jogo. (DC, 315).
Existe fundamento, mas ele tem um fim. O final da cadeia das razões termina nas
regras pragmáticas da comunidade, no caso, científica. Esse domínio das regras é a abertura
que contrasta com a ordem única tractatiana, essas regras são ordens possíveis, como a
classificação dos animais no Idioma analítico de John Wilkins.
No final de A Arqueologia do Saber Foucault escreve que a arqueologia busca
descrever o domínio do Saber. O que é o saber? Qual a relação com o campo de relações de
regras de formação? A crítica arqueológica ao analisar o espaço das práticas discursivas
demonstra que é na sua efetividade que se formam os conceitos, os objetos, os sujeitos. Este
conjunto de regras de formação em sua efetividade é anterior as unidades científicas, as
verificações verdadeiro/falso que figuram em análises do tipo científicas. É anterior ao
discernimento do cogito afirmando sonho ou vigília, mas não é irracional. É o limite do
pensamento. É o espaço no qual o pensamento é possível. É a ordem do saber. Segundo
Foucault:
A esse conjunto de elementos, formados de maneira regular por uma
prática discursiva e indispensáveis à constituição de uma ciência,
apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar lugar, pode-se
chamar saber. Um saber é aquilo de que podemos falar em uma
prática discursiva que se encontra assim especificada: o domínio
constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não um status
científico [...] (FOUCAULT, 2009, p.204).
O campo das relações discursivas e elementos não discursivos constituem em sua
efetividade, para Foucault, o saber. Este não é o produto de um sujeito, não designa uma
“coisa”. É o espaço no qual designações podem existir, onde o sujeito ganha existência. Não
se confunde com a ciência, mas é o espaço no qual ciências podem existir, se opor, dar-se
uma história. Não é um efeito desse campo no qual se constitui, pois essas regras não são
anteriores a ele. O saber se dá na efetividade das relações das regras de formação. É, portanto,
a própria formação discursiva. O saber é a dizibilidade de um campo discursivo. É a abertura
na qual o pensamento de uma época pode se realizar. É o campo de relações de regras de
formação. Nem mudo, nem dizível, um espaço de dizibilidade. É este espaço que a crítica
Foucaultiana e Wittgensteineana abrem ao pensamento possibilitando a este pensar-se.
Referências Bibliográficas:
AGOSTINHO. Confissões (C). 17ª Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2001.
BAKER, G. P.; HACKER, P.M.S. Wittgenstein: Understanding and Meaning Part II.
Oxford: Blackwell, 2005.
BARRET, C. Ética e creencia religiosa em Wittgenstein. Madrid. Alianza Editorial, 1994.
DELEUZE, G. Foucault. Trad. Claudia Sant’Anna Martins; revisão da tradução Renato
Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005.
DONAT, M. Wittgenstein e as supostas posse privada e privacidade epistêmica da
experiência. In.: Aurora: Revista de Filosofia, Curitiba, v. 21, n. 29, p. 437-453, jul./dez.
2009.
FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. 8ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
__________. A Arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2009.
__________. O Filósofo Mascarado, in: Ditos e escritos II. Organização e seleção de textos,
Manoel Barros da Motta. Trad. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
GIANNOTTI, J. A. Dois Jogos de pensar. Novos Estudos no. 75. CEBRAP, Centro Brasileiro
de Analise e Planejamento, Rio de Janeiro: Brasil. Julho. 2006.
MCGINN, M. Wittgenstein and the Philosophical Investigations. London: Routledge, 1997.
NALLI, M. A. G. Sobre o conceito foucaultiano de discurso. In: A Diferença. Organizador:
Luiz B. L. Orlandi. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005. p. 151 – 169.
VEYNE, P. Foucault. O pensamento, a pessoa. Trad. Luís Lima. 1ª Ed. Lisboa: Edições texto
& Grafia, 2009.
WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas (IF). In: Coleção os Pensadores. São Paulo:
Abril Cultural, 1988.
________________. Da Certeza (DC). Tradução: Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 70,
1998.
_________________. (TLP) Tractatus logico-philosophicus. São Paulo: Edusp, 2001.