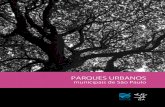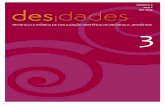José-Carlos-Sturza-de-Morais.pdf - Escola de Conselhos de ...
Cultura política e desigualdade: o caso dos conselhos municipais de Curitiba
Transcript of Cultura política e desigualdade: o caso dos conselhos municipais de Curitiba
125
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
RESUMO
Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 21, p. 125-145, nov. 2003
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE:O CASO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CURITIBA1
Ednaldo AparecidoRibeiro
Mario Fuks Renato MonseffPerissinotto
I. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a primeira tentativa de formulaçãosistemática e aplicação do conceito de cultura polí-tica foi empreendida por Gabriel Almond e SidneyVerba, no livro The Civic Culture , lançado nadécada de 1960. Nessa obra os autores afirmavamque os valores, sentimentos, crenças e conheci-mentos eram relevantes para explicar os padrõesde comportamentos políticos adotados pelos indi-víduos. O seu objetivo era, por meio de um estudoque se estendeu por cinco países (Estados Unidos,Inglaterra, Itália, Alemanha e México), determinaro grau de congruência entre esse conjunto de va-riáveis subjetivas e o sistema político. Esse trabalhoconstitui-se, portanto, em uma tentativa pioneirade estabelecer um elo explicativo entre, de um lado,as atitudes e motivações subjetivas dos atores so-ciais e, de outro, a sua conduta política e seusefeitos sobre o funcionamento das instituições
Este artigo estuda os membros dos principais conselhos gestores de políticas públicas no município deCuritiba (Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho do Trabalho e Conselho da Criançae do Adolescente), no estado do Paraná. Observamos que os grupos analisados possuem, em relação àpopulação brasileira em geral, maior quantidade de recursos de cultura política e, portanto, de incentivosao ativismo político. Em seguida, discutimos duas questões teóricas relativas à “cultura política”:primeiramente, analisamos o problema da relação de causalidade existente entre essas instituições e acultura política dos seus membros: quanto a esse ponto, reconhecemos a importância dos efeitos institucionaissobre a cultura política dos indivíduos e, ao mesmo tempo, o papel ativo que fatores externos às instituiçõesanalisadas exercem sobre a intensidade desses efeitos. Em segundo lugar, seguindo uma direção alternativaàquela que predomina na literatura consagrada, analisamos a cultura política como um recursodesigualmente distribuído entre os grupos que compõem as instituições analisadas e que, portanto, podeser pensada como uma das bases da desigualdade política.
PALAVRAS-CHAVE: democracia; cultura política; conselhos.
democráticas.
A proposta teórica presente no livro de Almonde Verba foi, no entanto, bastante criticada emfunção do seu “etnocentrismo ocidentalizante”(PATEMAN, 1989) e da sua adesão a um conceitominimalista de democracia, além de pressupor aexistência de uma cultura política homogênea emcada sociedade2. Tais críticas forçaram umareavaliação do conceito de cultura política(ALMOND & VERBA, 1989b; ALMOND, 1990)que, atualmente, passa por um revival.
Esse renascimento também estimulou a CiênciaPolítica e a Sociologia brasileiras a produzir estudosorientados pela preocupação com a dimensãosubjetiva dos fenômenos políticos. Mais especifi-camente, vários pesquisadores brasileiros têm-sededicado a investigações sobre o caráter da culturapolítica nacional, relacionando-a à possibilidade defortalecimento do regime democrático recente-mente implantado no país, nem sempre chegandoa conclusões semelhantes. Podemos identificar
1 Este artigo apresenta parte do resultado da pesquisa“Democracia e Políticas Sociais”, financiada pelo ConselhoNacional de Pesquisa (CNPq) e desenvolvida pelo Núcleode pesquisa “Democracia e Instituições Políticas”. Apesquisa contou com a consultoria na área de estatística eprocessamento de dados do Professor Malco Camargos.
2 Almond (1989) argumenta que o tamanho da amostranão permitiu desagregá-la no nível dos subgrupos relevantes,exceto em relação às variáveis “classe” e “instrução”.
Recebido em 27 de março de 2003.Aprovado em 17 de julho de 2003.
126
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
dois grupos de pesquisa que divergem quanto aoproblema da permanência (CASTRO, 1995;CARVALHO, 1999) ou mudança (LAMOUNIER& SOUZA, 1991; MOISÉS, 1995) de um padrãode comportamento político orientado por valorese crenças que dificultariam a implementação derelações políticas pautadas pela horizontalidade epela igualdade, favoráveis ao desenvolvimentodemocrático3.
Vale observar, porém, que, tanto nos estudosclássicos quanto naqueles desenvolvidos por pes-quisadores brasileiros, há um claro predomínio deanálises voltadas para grupos populacionais extre-mamente amplos4. Este artigo pretende seguirdireção contrária no que se refere a esse ponto,isto é, estamos interessados no estudo da culturapolítica de um pequeno grupo. Se a nossa escolha,por um lado, afasta-nos dos temas maisabrangentes e ambiciosos presentes nos estudosde referência sobre cultura política (estabilidade,eficácia institucional, consolidação da democracia),por outro, oferece uma oportunidade paraexplorarmos algumas outras questões, não menosimportantes, abordadas pelas teorias da culturapolítica e da democracia. Entre essas questões,destacamos as seguintes: 1) o problema dadistribuição da cultura política como uma dasdimensões da desigualdade política entre as “elites”e o “cidadão médio”; 2) a questão da desigualdadeno que concerne à distribuição da cultura políticamesmo no interior de um grupo de elite e 3) otema da influência das instituições na formaçãoda cultura política dos pequenos grupos. São essasquestões que orientarão a nossa análise dasinstituições que se constituem no objeto de estudodo presente artigo, quais sejam, os conselhosgestores de políticas sociais do Município deCuritiba.
Embora essas questões tenham como horizontetemático a presença da desigualdade na culturapolítica e no engajamento cívico, a proposta doartigo é a de explorar cada uma delas de maneira
autônoma nas três seções do artigo. A primeiraparte, além de cumprir uma função descritiva,apresentando o perfil dos membros dos conselhos,situa esse grupo em relação ao que outras pes-quisas apontam como a “cultura política brasi-leira”. Os dados referentes à renda, escolaridadee, especialmente, ao engajamento cívico e à culturapolítica revelam serem os conselheiros uma elite,com características bem distintas daquelas queconstituem a cultura política brasileira.
Na segunda parte, o artigo discute a distribui-ção da cultura política e do engajamento cívicoentre os membros dos conselhos analisados. Suge-rimos que essa distribuição pode ser pensada comoum dos fatores que definem a desigualdade políticaentre os grupos, analisada em termos do acessodiferenciado a dois tipos de recursos: 1) o ativismopolítico (filiação partidária, associativismo e engaja-mento eleitoral) e 2) as orientações subjetivas(competência política subjetiva e interesse porpolítica).
Na última seção, tratamos da relação entre insti-tuições e cultura política. Procuramos saber se aexperiência de participar dos conselhos estimulou,de alguma forma, o aumento do interesse por polí-tica. Além disso, consideramos também comooutras experiências institucionais (em especial aassociativa) afetam o interesse dos conselheirospor política.
II. O PERFIL DOS CONSELHEIROS: NOVAINSTITUCIONALIDADE E NOVA ELITE
A Constituição Federal de 1988 criou, segundoalguns analistas, uma nova “institucionalidade pú-blica” (GOHN, 2001, p. 85) que passou a vigorara partir de então em alguns setores importantesdas políticas públicas. Essa nova orientação trouxeconsigo duas importantes mudanças no processode elaboração de políticas governamentais: a des-centralização, isto é, a transferência da respon-sabilidade decisória para as unidades subnacionais(estados e municípios), e o viés claramente parti-cipativo que, a partir daquele momento, deveriacaracterizar o processo decisório. Uma expressãofundamental dessas mudanças institucionais sãoos diversos conselhos gestores de política pública,que se constituem na nova arena, essencialmenteparticipativa, em que o processo decisório deveocorrer.
A partir dos incentivos criados pela Constitui-ção Federal de 1988 e por outras normas comple-mentares, tais instituições surgiram em todas as
3 Descrições detalhadas sobre essa cultura política e decomo ela foi permeando todas as nossas relações sociaisdesde o período Imperial podem ser encontradas em autorescomo Sérgio Buarque de Hollanda, Oliveira Vianna, VítorNunes Leal. Ainda que de caráter marcadamente ensaístico,esses estudos buscaram demonstrar como desenvolveu-see manteve-se no Brasil uma relação tutelar entre o senhorprovedor e o súdito submisso.
4 Certamente, há exceções. Em relação aos estudosbrasileiros, ver, por exemplo, Lima e Cheibub (1996).
127
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
Nesses conselhos encontra-se um grupo comcaracterísticas que indicam terem os seusmembros um perfil de elite (RIBEIRO, 1997;SANTOS JR., 2001; FUKS, 2002). Os critériosconvencionalmente utilizados para caracterizar talparcela da população não deixam dúvidas.Primeiramente, destacamos que apenas 33,3% dosconselheiros possuem renda mensal inferior a dezsalários mínimos, com 22,7% percebendo maisde vinte salários e 17,3% mais de quarenta. Outrodado relevante é o que se refere à escolaridadedos membros dessas organizações, pois, entregraduados e pós-graduados, encontramos umpercentual acumulado de 66,7%, além de nãoexistir nenhum analfabeto e apenas 5% teremsomente o Ensino Fundamental.
Além dos dados apresentados acima, deve-selevar em consideração que os membros dessesconselhos pertencem a um grupo de associaçõesque representam determinados segmentos dasociedade civil organizada6 e que são “filtradas”
instâncias da Federação, em alguns casos comocondição necessária para repasse de recursosfinanceiros. No caso do Município de Curitiba,os conselhos analisados neste trabalho foramcriados ao longo da década de 1990.
Neste artigo, analisaremos os seguintes conse-
lhos: Conselho Municipal de Assistência Social deCuritiba (CMASC), Conselho Municipal de Saúdede Curitiba (CMS), Conselho Municipal de Traba-lho (CMERT) e Conselho Municipal dos Direitosda Criança e Adolescente (Comtiba)5. O nossouniverso, como demonstra a Tabela 1, restringe-se a um grupo de setenta e cinco conselheiros.
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituiçõespolíticas”, Universidade Federal do Paraná (UFPR).
TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROSPOR CONSELHO
após um longo processo de seleção. É importanteobservar que são as organizações de maior porteas que têm participado dos conselhos de maneiracontínua. Nesse sentido, é significativo que 90%das organizações que atuam nos conselhos há cincogestões possuem funcionários, enquanto nenhumaentidade que foi eleita apenas uma vez para atuarem algum conselho encontra-se na mesmacondição. O orçamento das entidades tambémcresce à medida que aumenta o número de gestões.Considerando as entidades com apenas umagestão, nenhuma tem um orçamento queultrapasse R$ 100 000,00 anuais. Já a grandemaioria (83%) das entidades com cinco gestõesrecebem mais de R$ 100 000,00 anuais, sendoque 33,3% recebem mais de R$ 1 000 000,00.Esse quadro reforça o perfil de elite dos conselhos,pois a reeleição é, praticamente, um monopóliodas organizações “profissionais”.
Uma questão clássica nos estudos sobre culturapolítica é aquela que pretende identificar o graude interesse dos indivíduos em relação aosassuntos políticos. Como demonstra a Tabela 2,no grupo investigado encontramos um alto graude interesse por política, o que contrasta com opanorama descrito pelas pesquisas realizadas emnível nacional, tal como a de Moisés (1995), emque 30% dos entrevistados declararam não possuirnenhum interesse por política.
5 Entrevistamos a totalidade dos conselheiros do CMERTe do Comtiba. Dois conselheiros do CMS e um do CMASCnão foram localizados. Exceto no caso do CMERT (gestão2000-2001), todos os conselheiros entrevistados forammembros da gestão 1999-2001 dos conselhos estudados.
6 Além da representação governamental.
Conselho % N
CMASC 22,7 17
CMERT 21,3 16
CMS 40,0 30
Comtiba 16,0 12
Total 100,0 75
128
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
Se compararmos esses números com a médiaapontada pelo levantamento realizado, em 1966,pelo IBGE7 em cinco capitais brasileiras, os con-
É interessante notar que esses dados sãocomprovados quando tentamos identificar formasconcretas de manifestação desse interessedeclarado, pois 74,7% dos conselheiros afirmamler sobre política nos jornais e revistas quase todosos dias. O percentual aumenta para 86,7% quandoa questão é a audiência diária de noticiário políticoem televisão ou rádio.
Outra dimensão relacionada ao interesse porpolítica é o engajamento cívico. Avaliamos o ati-vismo político dos conselheiros a partir de trêsva-riáveis: ativismo eleitoral, associativismo e
TABELA 2 – INTERESSE POR POLÍTICA
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas”(UFPR).
filiação partidária. Assim, identificamos que maisda metade dos conselheiros participou inten-samente de diversas atividades nas eleições para aPrefeitura de Curitiba no ano 2000 (64% compare-ceram a comícios e 63% trabalharam voluntaria-mente na campanha eleitoral). Os dados referentesao associativismo e à filiação partidária reforçamesse quadro. As tabelas 3 e 4 apresentam númerosinequívocos: em relação ao padrão médio de com-portamento na democracia brasileira, marcadopredominantemente pela apatia política, o grupoapresenta um alto grau de engajamento cívico.
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituiçõespolíticas” (UFPR).
TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES TABELA 4 – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituiçõespolíticas” (UFPR).
selhos estudados apresentam-se como verdadeiras“comunidades cívicas”. Nesse levantamento, 27%da população era filiada a associações (SANTOS
7 Na ausência de dados sobre associativismo em Curitiba,contamos com os dados referentes às capitais brasileiras(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre eSalvador) selecionadas pelo IBGE (“Associativismo,
Representação de Interesses e Intermediação Política”) etabulados por Santos Júnior (2001). Supomos que, nolimite, a média de Curitiba não seja, significativamente,superior à média dessas capitais.
Respostas % N
Muito interesse 72,0 54
Pouco interesse 24,0 18
Nenhum interesse 4,0 3
Total 100,0 75
N. de associações % N
0 9,3 7
1 16,0 12
2 26,7 20
3 22,7 17
4 12,0 9
5 12,0 9
6 1,3 1
Total 100,0 75
Partido % N
PDT 2,7 2
PFL 10,8 8
PMDB 1,4 1
PSB 12,2 9
PSDB 2,7 2
PT 6,8 5
PTB 1,4 1
Outros 4,1 3
Nenhum 58,1 43
Total 100,0 74
129
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
Essa mesma situação apresenta-se quando aauto-avaliação refere-se especificamente à atuaçãodos entrevistados no interior dos seus respectivosconselhos. Quando perguntamos sobre o poderde influenciar as decisões dentro do Conselho,encontramos um percentual acumulado entre asopções “grande” e “médio” de 76%. Nesse casoespecífico merece destaque o Comtiba, conselhoem que as opções “pequeno poder” e “nenhumpoder” sequer apareceram.
A primeira conclusão do trabalho é que tantoem termos do perfil sócio-econômico como emtermos da cultura política11 o grupo sob investi-gação constitui-se em uma elite. Considerando estadimensão subjetiva dos conselheiros, podemosafirmar que tais instituições aproximam-se bas-tante do que Putnam (1996) chama de “comu-nidade cívica”.
Essa conclusão apenas reforça e qualifica apartir da análise dos dados o que já era esperado.Sendo constituído pelos representantes de asso-ciações da sociedade civil e por atores estatais e,além disso, dependendo basicamente do interessee do trabalho voluntário, causaria surpresa se anossa análise indicasse o “Conselho” como umainstituição em que predominasse a participação“difusa” da população. Isso indica que o enten-dimento corrente do Conselho como uma insti-tuição caracterizada pela “participação ampliada”deve, ao menos, ser avaliada à luz dos dadosdisponíveis. Se, de um lado, parece evidente quea participação nos conselhos amplia aquela presentenas instituições políticas tradicionais, por outro,as pesquisas existentes indicam que a emergência
8 Esse contraste permanece mesmo quando consideramosa população da capital com maior desempenho. De acordocom os dados da pesquisa, em Porto Alegre, 38% dapopulação tinha vínculo associativo e 6% era filiada apartidos políticos.
9 Esse termo designa a percepção dos atores acerca do seupróprio papel dentro do sistema político. Trata-se de umaauto-avaliação realizada pelos indivíduos sobre sua atuaçãodiante dos fatos e objetos políticos, em especial sobre a suacapacidade de influenciar a tomada de decisões.
10 O que, mais uma vez, contraria levantamentos realizadoscom a população em geral. Moisés (1995) encontrou 57,8%dos entrevistados afirmando não influenciar a política, oque corrobora as afirmações acerca da chamada passividadedo brasileiro que, de acordo com José Murilo de Carvalho,“[...] é a própria definição do não-cidadão, do súdito quesofre, conformado e alegre, as decisões do soberano [...]”,algo que pode ser entendido como uma auto-avaliaçãonegativa no campo da ação política (CARVALHO, 1997,p. 36).
JR., 2001, p. 149) e apenas 3%, filiada a partidospolíticos (idem, p. 163). A comparação com osdados referentes aos membros dos conselhos deCuritiba não poderia ser mais ilustrativa: apenas9,3% dos conselheiros não pertencem a nenhumaassociação e 41,9% são filiados a partidos polí-ticos8.
A competência política subjetiva9 dos mem-bros dos conselhos está em consonância com osdados até aqui apresentados. De acordo com osdados que apresentamos a seguir (Tabela 5), ogrupo investigado tem em alta conta sua capa-cidade de influenciar as decisões políticas10.
TABELA 5 – AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE DEINFLUÊNCIA.
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas”,UFPR.
NOTA: Montou-se a tabela a partir das respostas à seguintequestão: “Você influencia a política?”.
11 A relação entre renda e escolaridade, de um lado, eparticipação e engajamento político, de outro, não éexclusiva da experiência dos conselhos. Ela tem sidoobservada como um fenômeno comum nas democracias(SCHLOZMAN, VERBA & BRADY, 1999, p. 431;SANTOS JR., 2001 p. 156-162).
Respostas % N
Sim 80,0 60
Em parte 17,3 13
Não 2,7 2
Total 100,0 75
130
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
dos conselhos gestores de políticas públicas nãosuperou a distinção entre uma minoria de cidadãospoliticamente ativos e a maioria passiva.
Na próxima seção examinaremos se, e em quemedida, os indicadores de cultura política jáapresentados estão uniformemente distribuídosentre os conselheiros dos diversos segmentos quecompõem os conselhos. Assim como entendemosexistir uma associação entre, de um lado, perfilsócio-econômico e cultura política e, de outro,participação política, supomos também que essaparticipação seja desigual em função dos recursosque os vários segmentos possuem. No sentido deavançarmos nessa direção, passaremos aconsiderar um tipo específico de recurso político:a cultura política.
III. CULTURA POLÍTICA, ENGAJAMENTOCÍVICO E DESIGUALDADE NOS CON-SELHOS
Como dissemos anteriormente, alguns estudosclássicos tendem a pensar a cultura política dentrodas populações estudadas de maneira agregada12,ou seja, uma sociedade pode ser qualificada comotendo um ou outro tipo de cultura política semque se atente para eventuais desigualdades nadistribuição desse recurso entre os grupos queconstituem a comunidade analisada.
Isso se deve, em certa medida, ao tipo de ques-tão que orienta esses estudos. Quando se procura,a partir do estudo da cultura política, explicaçãopara fenômenos como as condições de estabilidadepolítica do regime democrático (ALMOND &VERBA, 1989a) ou o desempenho diferenciadodas instituições democráticas (PUTNAM, 1996),os valores agregados de cultura política parecemos mais relevantes. Mas se, como pretendemosfazer aqui, o foco da investigação volta-se para apolítica como arena de conflito, torna-se impor-tante levar em consideração a distribuição da cul-tura política entre os grupos estudados. Nesse sen-tido, sugerimos que o conceito de cultura políticaaplicado ao estudo dos conflitos entre os grupos
de uma dada comunidade deve ser entendido co-mo um “recurso político” específico e desigual-mente distribuído e, portanto, como um dos possí-veis condicionantes da desigualdade política.
Schumpeter (1961) insistiu que a participaçãodiferenciada na política é um traço definidor dademocracia. Bastante influenciada por esse autor,a maioria dos teóricos contemporâneos da demo-cracia incorporou essa afirmação às suas análisessem, contudo, problematizá-la. Vários outros ana-listas, porém – alguns deles inclusive ligados àtradição “realista” sistematizada por Schumpeter–, perceberam a necessidade de abordar a desigual-dade política como um problema que poderia afetaro bom funcionamento desse regime. Dessa forma,a participação diferenciada deixa de ser vista comoum dado e passa a ser explicada pelas dificuldadesde organização enfrentadas por determinados gru-pos (SCHATTSNEIDER, 1960; OLSON, 1999),pelo acesso diferenciado à informação e ao gover-no (DOWNS, 1999) ou pela exclusão de certosatores ou assuntos das arenas de ação e debatepúblicos (BACHRACH, 1967).
Recentemente, essa questão tem sido debatidano âmbito dos estudos sobre cultura política. Mas,ao que parece, o tom do debate é mais o de críticado que o de proposição. Assim, embora os críticosde esquerda (WIATR, 1980; PATEMAN, 1989)tenham chamado a atenção para o fato de que ateoria da cultura política não leva em consideraçãoa desigualdade – especialmente aquela fundada emdiferenças de classe13 – como fator explicativo,esses autores não formulam uma teoria alternativaa partir da incorporação desse aspecto14.
No debate atual sobre “engajamento cívico”,autores como Skopol (SKOCPOL & FIORINA,p. 1999) e o próprio Verba (SCHLOZMAN, VER-BA & BRADY, 1999) reservam lugar de destaque
12 Isso não significa que a teoria tenha desconsiderado ocaráter heterogêneo de cada sociedade. O debate em tornode diferenças associadas a fatores como religião, etnia egênero revela essa preocupação. Não por acaso, o conceitode “subcultura política” é parte integrante da teoria dacultura política. Rennó (1998, p. 82-85), em sua revisão daliteratura sobre cultura política, analisa alguns estudosespecíficos sobre subculturas políticas.
13 Pateman observa que, no estudo de Almond e Verba, aadesão a valores democráticos era mais saliente nos gruposde maior escolaridade (e status ocupacional), especialmenteaqueles que demonstraram alto grau de competência políticasubjetiva (PATEMAN, 1989, p. 71). Ou seja, o sentimentode competência dos cidadãos depende de “quem eles são”(idem, p. 76). A crítica de Pateman a Almond e Verba é queeles não consideram, em suas conclusões, essas diferençasde distribuição, em uma mesma sociedade, do sentimentode competência política, indicando a ausência da classeoperária da vida política.
14 Ao menos nas obras citadas.
131
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
para a análise da desigualdade. Esses autoresentendem que a distribuição desigual de recursoscívicos entre os grupos e indivíduos de umadeterminada sociedade constitui-se em umaquestão central para compreender fenômenosrelacionados à participação política.
Ao enumerar os motivos pelos quais aparticipação em atividades voluntárias deve serconsiderada como um elemento relevante na vidasocial, Schlozman, Verba e Brady (1999) incluemum novo argumento em defesa do engajamentocívico. Além dos argumentos clássicos, centradosno desenvolvimento das habilidades individuais ena criação de uma comunidade orientada porvalores democráticos, os autores avaliam que, sebem distribuída, a participação em atividadesvoluntárias possibilita a proteção igual de interessesna vida pública. Como essa participação não é, defato, bem distribuída, a questão da desigualdadepolítica assume a forma de um problema teóricoe prático. Quando nós afastamo-nos de umaconcepção de “interesses congruentes de umacomunidade” para uma “de interesses de indivíduosou grupos em conflito” e, portanto, para umapreocupação com a proteção igual dos interesses,as questões associadas à representação assumemposição de destaque. O que importa não é somentea quantidade de atividade cívica, mas também asua distribuição, não apenas quantas pessoasparticipam, mas também quem são elas” (idem,p. 429).
Seguindo essa mesma direção, o nosso objetivoaqui é apresentar um estudo preliminar capaz deavaliar o rendimento analítico de categorias asso-ciadas, direta ou indiretamente, à teoria da culturapolítica quando aplicadas à investigação dos con-flitos políticos a partir da ótica da desigualdade15.A nossa proposta, portanto, é a de “exportar”categorias do campo da cultura política e doengajamento cívico para um universo distinto, istoé, o campo da desigualdade política e das relaçõesde poder engendradas por ela, tal como abordadapela teoria contemporânea da democracia.
Os dados apresentados no item anterior revelamque o grupo analisado por nós constitui-se em uma
elite portadora de uma cultura política bem acimada média da população brasileira. Trata-se agorade saber como esse recurso é distribuído entre osconselheiros. A questão a responder nesta seção éa seguinte: como se dá a distribuição da culturapolítica entre os diversos segmentos (usuários,trabalhadores, prestadores de serviço e gestores)que compõem os conselhos aqui analisados16?
Como se percebe, entendemos os segmentoscomo grupos dotados de recursos políticos (nessecaso específico, a cultura política) desiguais e,portanto, de capacidades também desiguais paraatuar dentro do Conselho17. Nesse sentido, umaboa compreensão do funcionamento dessasinstâncias participativas exige conhecer asespecificidades desses grupos e os impactosdessas especificidades sobre a capacidade departicipação de cada um deles. Em suma, o nossoobjetivo é iniciar um trabalho de elaboração deindicadores que, posteriormente, possibilitemavaliar se e em que medida a distribuição desigualdo recurso “cultura política” afeta a possibilidadede participação política dos indivíduos quecompõem os diversos segmentos dos conselhosaqui analisados e contribuir para entender a relaçãode poder que se estabelece entre eles. Desse modo,as variáveis abordadas no item anterior de maneiraagregada (interesse por política, ativismo eleitoral,associativismo, filiação partidária, competênciapolítica subjetiva em geral e dentro do Conselho)serão agora analisadas tendo em vista os diferentessegmentos acima citados.
Comparando como se distribui o “interesse porpolítica” entre os diversos segmentos (Tabela 6)podemos perceber que o segmento dostrabalhadores é o que tem maior interesse porpolítica (84,6%), seguidos dos prestadores deserviço (78,9%), ocupando os gestores o terceirolugar (66,7%) e, por último, os usuários, com
15 Pretendemos retomar essa questão em um estudoposterior, inteiramente dedicado à elaboração de um modelode análise voltado para a compreensão dos mecanismos deinfluência política no processo decisório dos conselhos.
16 É preciso ter em mente que a análise desenvolvida nopresente artigo tem um caráter genérico, ou seja, nãopretende desenvolver argumentos levando em consideraçãoas particularidades de cada conselho. Nesta seção, a despeitodas singularidades existentes em cada conselho no que serefere ao perfil dos segmentos e à distribuição de recursosentre os segmentos, tais instituições foram analisadas demaneira agregada.
17 Uma primeira análise a respeito da distribuição dediversos recursos políticos entre os conselheiros encontra-se em Fuks (2002).
132
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
Outra regularidade que desafia a relação entreinteresse por política e ativismo eleitoral pode serencontrada no caso dos prestadores de serviço.Esse segmento, como vimos, é composto por um
número significativo de indivíduos que afirmamter um alto interesse por política. No entanto, essemesmo segmento contém, reiteradamente, omenor número de indivíduos que dizem ter-seengajado no processo eleitoral.
Como explicar essa inversão de posição entreos usuários e os prestadores quando se passa dointeresse por política para o ativismo eleitoral?
Como sabemos, o interesse por política nãose traduz mecanicamente em ativismo político.Vejamos, então, se a distribuição do ativismopolítico (entendido aqui como a conjugação deengajamento eleitoral, associativismo e filiaçãopartidária) segue a distribuição vista acima. Noque se refere ao engajamento eleitoral (variávelcomposta pela soma de outras três: com-parecimento a comício, trabalho gratuito paracandidato ou partido e colocação de cartazes em
63,2%. Entre os trabalhadores, apenas 7,7% dosseus membros disseram ter pouco interesse porpolítica; entre os prestadores de serviço, 15,8%optaram pela mesma resposta; 31,6% entre os
usuários e 33,3% entre os gestores. Esses dadosconfirmam que os trabalhadores, seguidos pelosprestadores de serviço, constituem-se no segmentoque mais interesse tem por política.
TABELA 6 – INTERESSE POR POLÍTICA POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
casa e outros lugares), podemos perceber que osdados destoam amplamente daqueles referentesao “interesse por política”.
Em primeiro lugar, salta aos olhos uma regula-ridade quanto ao segmento dos usuários. Os usuá-rios, que demonstram ser o segmento cujos mem-bros optam em menor proporção pela alternativa“muito interesse por política”18, revelam-se, nocaso do ativismo eleitoral, os mais engajados,como demonstra a Tabela 7.
TABELA 7 – ATIVISMO ELEITORAL
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
18 Embora tal proporção, em si, não seja baixa. Comovimos, 63,2% dos usuários dizem ter muito interesse porpolítica.
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Interesse
% N % N % N % N
Muito 63,2 12 84,6 11 78,9 15 66,7 16
Um pouco 31,6 6 7,7 1 15,8 3 33,3 8
Nenhum 5,3 1 7,7 1 5,3 1 0,0 0
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Atividade
% N % N % N % N
Compareceu a comícios 84,2 16 69,2 9 36,8 7 66,7 16
Trabalhou gratuitamente para candidato 78,9 15 61,5 8 42,1 8 66,7 16
Colou cartazes ou adesivos 73,7 14 69,2 9 36,8 7 54,2 13
133
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
Já os usuários manifestam intenso envolvi-mento emocional pela política enquanto atividade,sem que esse engajamento venha acompanhadode um igual interesse por política. Como podemosobservar na tabela acima (Tabela 8), esse baixointeresse por política é confirmado pelafreqüência21 em que esse segmento dedica-se àleitura de notícias políticas no jornal.
Nesse caso, podemos sugerir que os usuáriosexpressam um certo desinteresse por política nosentido específico de não reservarem espaço signi-
ficativo de seu tempo para o consumo de mensa-gens políticas. Essa pouca procura por informaçãopolítica pode estar associada ao fato de que osconselheiros que representam os usuários pos-suem, em comparação com os demais segmentos,menor renda e escolaridade e, possivelmente, emassociação com esses dois fatores, menor tempodisponível. Entretanto, conforme os nosso dadosindicam, isso não impede que esse segmento en-volva-se, com bastante intensidade, em atividadespolíticas.
O segmento dos gestores também apresentarazoáveis surpresas quando comparamos ointeresse por política com o engajamento eleitoral.Vimos que no interior desse mesmo segmento a
Qualquer que seja essa explicação, ela deveconsiderar que, em relação a esses dois segmentos,não há associação entre o “engajamento intelec-tual” – expresso na atenção dada aos assuntospolíticos – e o “engajamento emocional”19, tra-duzido no envolvimento efetivo com mundo dapolítica.
O caso dos prestadores ilustra bem essaautonomia do interesse em relação ao envolvi-mento com a política. Sendo o segundo segmentocom maior nível de escolaridade e, de longe, o
que mais se informa sobre política em jornais ourevistas (94,7%), os prestadores apresentam operfil típico dos cidadãos intelectualmente atentosem relação aos assuntos da política20 (Tabela 8).
Por outro lado, grande parte dos prestadores éoriunda de entidades filantrópicas que buscam nosconselhos recursos públicos destinados a açõesassistenciais e, nesse sentido, estão muito maisvoltadas para os seus interesses, por assim dizer,corporativos, do que para as questões mais amplasda luta política.
TABELA 8 – INFORMAÇÃO POLÍTICA EM JORNAIS E REVISTAS POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
19 “A atenção às mensagens políticas está associada aoengajamento intelectual ou cognitivo em relação aosassuntos públicos, em oposição ao engajamento emocionalou afetivo” (ZALLER, 1992, p. 21). Esse tipo de questãoremete-nos a um debate mais amplo a respeito da relaçãoentre os componentes da cultura política (entendidos comoorientações subjetivas) e o comportamento político a serexplicado.
20 Essas condições cognitivas, exclusivas de uma eliteeducada e interessada em política, não apenas se referem aovolume de informação, mas também à capacidade delocalizar, organizar, entender e julgar um amplo leque deinformações a partir dos quadros de referência ideológicos
abstratos que organizam o debate político (CONVERSE,1964, p. 214). Portanto, ainda que essa atenção intelectualnão se converta, automaticamente, em ativismo político,podemos supor que os prestadores apresentam condições“cognitivas” favoráveis para atuar politicamente, desde quehaja motivação para tanto.
21 Obviamente, tanto esse interesse como a freqüência daleitura de jornal são considerados, aqui, como “baixos”apenas em relação aos demais segmentos dos conselhos.
Segmentos
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Atividade
% N % N % N % N
Quase todos os dias 52,6 10 76,9 10 94,7 18 75,0 18
Pelo menos uma vez por semana 36,8 7 23,1 3 5,3 1 16,7 4
De vez em quando 5,3 1 0,0 0 0,0 0 8,3 2
Nunca 5,3 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
134
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
proporção dos que respondem ter muito interessepor política é das menores. No entanto, quandose leva em conta o engajamento eleitoral dosgestores, os dados revelam uma inserção signifi-cativa dos seus membros no processo político-eleitoral (Tabela 7). Isso talvez explique-se pelaprópria natureza desse segmento. Formado, emgeral, por funcionários de órgãos públicos quemantêm uma relação de confiança com o Exe-cutivo local, a participação ativa nos momentosde eleição é quase uma obrigação. Além disso,alguns gestores são também filiados a partidos, oque certamente favorece altos índices de enga-jamento eleitoral.
Os trabalhadores, por sua vez, apesar deficarem atrás dos usuários, também revelam umalto grau de engajamento eleitoral. Em nenhumadas três atividades eleitorais aqui analisadas ascifras ficaram abaixo de 60%. A filiação sindicalpredominante nesse setor e o ativismo político que,normalmente, está associado a essas entidadesexplicam, em parte, esse fato.
Mais importante do que apontar a congruênciaou discrepância entre o interesse por política e oengajamento eleitoral dos diferentes segmentos ésalientar que, vistos como recursos, tanto o inte-resse por política como o ativismo eleitoral têm apotencialidade de se converter em condições favo-ráveis para a ação política nos conselhos. Ou seja,se, por um lado, não há uma relação direta e ne-cessária entre interesse por política e envolvimentocom atividades eleitorais, por outro, supomoshaver uma relação entre ambos e a influênciapolítica dos segmentos que atuam nos conselhos.Embora não sejam tão visíveis nem tão palpáveiscomo os recursos coletivos tradicionais da açãopolítica (recursos financeiros e organizacionais),esses dois tipos de recursos individuais (os recur-
sos cognitivos e os recursos de ativismo) potencia-lizam a ação política dos segmentos que ospossuem (FUKS, 2002).
Outro importante atributo que compõe o ati-vismo político é o associativismo. Todos ossegmentos têm níveis altíssimos desse recurso.Entre os usuários e trabalhadores a totalidade dosseus membros está ligada a uma ou maisassociações. Entre os prestadores e os gestoresesse índice diminui, mas permanece alto: 89,5% e79,2%, respectivamente22.
Os usuários estão vinculados sobretudo aassociações de bairros (63,2%), movimentosreligiosos (57,9%) e organizações não-gover-namentais (ONGs) (42,1%); os trabalhadores,como era de se esperar, estão em peso nossindicatos (84,6%) e nas associações profissionais(61,5%); entre os prestadores de serviço predomi-na a filiação às ONGs (63,2%), outros conselhos(52,6%) e associações profissionais e movimentosreligiosos (ambos com 42,1%); por fim, os gesto-res estão presentes sobretudo em associaçõesprofissionais e outros conselhos gestores (ambascom 50%).
A relação entre estar vinculado a algumaassociação e ter muito interesse por política pareceser bem forte, como demonstra a Tabela 9. Éverdade que entre os que não têm qualquer vínculoassociativo a resposta “muito interesse por polí-tica” (57,1%) prevalece sobre a resposta “poucointeresse por política” (42,9%). No entanto, entreaqueles que disseram pertencer a uma ou maisassociações, a diferença é mais significativa, sendoque, nesses casos, a opção pela resposta “muitointeresse por política” jamais foi menor do que65%. Portanto, quando um indivíduo está ligadoa uma ou mais associações, ele tende a ter maisinteresse por política do que menos.
TABELA 9 – INTERESSE POLÍTICO POR ASSOCIATIVISMO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
22 Deve-se levar em consideração que o pertencimento auma associação é requisito legal para a representação de
Número de associações
0 1 2 3 4 5 6
Interesse
% N % N % N % N % N % N % N
Muito 57,1 4 75,0 9 65,0 13 70,6 12 77,8 7 88,9 8 100,0 1
Um pouco 42,9 3 16,7 2 35,0 7 17,6 3 22,2 2 11,1 1 0,0 0
Nenhum interesse 0,0 0 8,3 1 0,0 0 11,8 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Total 100,0 7 100,0 12 100,0 20 100,0 17 100,0 9 100,0 9 100,0 1
135
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
Significa isso dizer que aqueles segmentos commaior índice de associativismo são, necessaria-mente, os mais engajados? Certamente, a relaçãonão é tão simples, sendo preciso levar em conta otipo de associação a que pertencem, majorita-riamente, os membros dos diversos segmentos.No que se refere ao comparecimento a comícios,parece ser mais importante pertencer a associaçõesde bairros (tipo de associativismo que predominaentre os usuários) do que estar vinculado a outrotipo de entidade. Entre os filiados a associaçõesde bairro, 87% disseram ter comparecido acomícios, seguidos pelos membros de movimentosreligiosos (70,4%).
Em relação ao engajamento voluntário a favorde uma candidatura ou partido, mais uma vez aassociação de bairro parece ser um tipo de asso-ciativismo estratégico. Entre os que se reconhe-ceram como membros desse tipo de entidade,91,3% disseram envolver-se nesse tipo de ativida-de, seguidos de longe pelos filiados a ONGs(61,3%).
Mais uma vez, entre os que dizem pertencer auma associação de bairro, encontramos a maiorpercentagem dos que se dispuseram a colarcartazes – 73,9%. Entre os filiados às outrasentidades, o número daqueles que se dispuserama exercer esse tipo de atividade gira em torno de
55%, atingindo 62,5% apenas entre os vinculadosa alguma associação profissional. Podemos per-ceber, assim, que, no que diz respeito ao enga-jamento eleitoral, diferentes associações parecemproduzir efeitos distintos sobre os membros dosdiversos segmentos.
Isso reforça a tese de que qualquer análise dovínculo entre associativismo e atuação política exigelevar em consideração o tipo de associação a queestão vinculados os diversos segmentos da socie-dade (certamente, partidos políticos não podem serigualados a corais de música). Não sabemos, noentanto, qual é o impacto dessas diferenças entreas associações na ação política dentro dosconselhos. Para o propósito deste artigo, essesdados servem mais como uma orientaçãometodológica, indicando que não devemosconsiderar o associativismo como uma atividadepolítica homogênea quando se trata de avaliar oseu peso como recurso político.
A última variável do “ativismo político” refere-se à filiação partidária. Os membros dos diversossegmentos filiam-se a partidos políticos? Quais?Aqui a proeminência do segmento usuário éenorme (Tabela 10). Entre os membros dessesegmento, 77,8% estão filiados a partidospolíticos, contra 30,8% dos trabalhadores, 26,4%dos prestadores e 33,3% dos gestores.
usuários e trabalhadores. Dessa forma, os altos índices deassociativismo entre prestadores e gestores podem servistos como ainda mais significativos, pois para essessegmentos não há qualquer exigência legal nesse sentido.
TABELA 10 – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Partido
% N % N % N % N
PDT 0,0 0 0,0 0 10,5 2 0,0 0
PFL 16,7 3 0,0 0 0,0 0 20,8 5
PMDB 5,6 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0
PSB 16,7 3 15,4 2 5,3 1 12,5 3
PSDB 5,6 1 0,0 0 5,3 1 0,0 0
PT 16,7 3 15,4 2 0,0 0 0,0 0
PTB 0,0 0 0,0 0 5,3 1 0,0 0
Outros 16,7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Nenhum 22,2 4 69,2 9 73,7 14 66,7 16
Total 100,0 18 100,0 13 100,0 19 100,0 24
136
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
É plausível supor que o acesso a estruturaspartidárias constitui-se em um dos maisimportantes recursos para o aumento da culturacívica dos cidadãos. Acreditamos, portanto, que,assim como os demais recursos de ativismo(engajamento eleitoral e associativismo), a filiaçãopartidária constitui-se em uma variável-chave paraexplicar a capacidade diferenciada de atuaçãopolítica dos segmentos.
É importante perguntarmos, por fim, se esseselementos analisados anteriormente (interesse porpolítica, ativismo eleitoral, associativismo e filiaçãopartidária) têm alguma relação com a “competência
TABELA 11 – COMPETÊNCIA POLÍTICA SUBJETIVA GERAL POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
NOTA: Montou-se a tabela a partir das respostas à seguinte questão: “Você influencia a política?”.
política subjetiva”, ou, por outra, se o fato de osdiferentes segmentos terem acesso diferenciadoaos recursos analisados tem alguma relação coma percepção que seus membros têm de suacapacidade de influenciar a política, tanto em geralcomo dentro do conselho em que atuam.
No que se refere à política em geral, todos ossegmentos têm um alto grau de competênciapolítica subjetiva, como os dados apresentadosabaixo demonstram (Tabela 11). Isso está deacordo com o alto interesse por política e o intensoassociativismo que podemos encontrar entre osconselheiros.
A situação repete-se no que diz respeito àcompetência política subjetiva referente à atuaçãodentro do Conselho, como demonstra a Tabela12. Como se percebe, a sensação de que se temum poder grande ou médio de influenciar asdecisões no Conselho predomina em todos os
TABELA 12 – COMPETÊNCIA POLÍTICA SUBJETIVA INTERNA AO CONSELHO POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
NOTA: Montou-se a tabela a partir das respostas à seguinte questão: “Qual o seu poder de influenciar as decisõesdo conselho?”.
segmentos. Chama a atenção, no entanto, o fatode que entre os prestadores de serviço, 63,2%responderam ter um grande poder e apenas 21,1%um poder médio. Nos outros segmentos, aocontrário, prevalece, de modo bastante acentuado,a opção “médio” sobre a opção “grande”.
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Resposta
% N % N % N % N
Sim 84,2 16 84,6 11 78,9 15 75,0 18
Não 10,5 2 15,4 2 21,1 4 20,8 5
Não sabe/Não respondeu 5,3 1 0,0 0 0,0 0 4,2 1
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Resposta
% N % N % N % N
Grande 15,8 3 7,7 1 63,2 12 25,0 6
Médio 57,9 11 61,5 8 21,1 4 50,0 12
Pequeno 26,3 5 30,8 4 10,5 2 12,5 3
Nenhum 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,2 1
Não sabe/não respondeu 0,0 0 0,0 0 5,3 1 8,3 2
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
137
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
O que podemos concluir, então, a partir dosdados e considerações apresentados acima?Constatamos que algumas desigualdades existem,mas elas não têm qualidade “cumulativa”, isto é,nenhum segmento possui uma maior quantidadede todos os recursos. Em princípio, dois segmen-tos contam com condições favoráveis para atuarnos conselhos no que se refere à posse de recursosde cultura política: os prestadores de serviço e osusuários. Além de dispor de um interesse maiorpela política, que assume a forma de recursocognitivo (aquisição de informação mediante leituracotidiana de notícias políticas), os prestadoresrevelaram possuir em maior grau um recurso decultura política por excelência: a competênciapolítica subjetiva. Já os usuários sobressaem-senas atividades voluntárias que constituem osrecursos de ativismo (especificamente, o ativismoeleitoral e a filiação partidária). No entanto,considerando o conjunto dos dados, são esses doissegmento que apresentam o desempenho menosuniforme em relação às dimensões da culturapolítica analisadas nessa seção. Sendo assim, ostrabalhadores e os gestores possuem os recursosde cultura política de forma mais equilibrada. Emque medida essas desigualdades, de fato, sãoconvertidas em influência política nos conselhosé uma questão que só pode ser avaliada a partir doestudo do processo decisório nessas arenas23.
IV. A INFLUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO NACULTURA POLÍTICA E SUAS MEDIAÇÕES
Vimos, em um primeiro momento, que o grupo
de conselheiros aqui analisado é composto porindivíduos com um perfil de elite no que se referenão apenas às características convencionais (so-ciais e econômicas), mas, principalmente, à culturapolítica e ao engajamento cívico. Em seguida ana-lisamos a “cultura política” como um recurso polí-tico em si e procuramos discutir a idéia de queuma eventual distribuição desigual desse recursopoderia afetar a participação política dos diversossegmentos e, desse modo, constituir-se em umdos condicionantes da desigualdade política. Estaterceira seção tem dois objetivos intimamente rela-cionados: primeiro, saber se a participação dessesindivíduos nas instituições em questão – os con-selhos gestores de políticas públicas – afetou oseu interesse por política; segundo, saber se o im-pacto sobre a cultura política dos conselheiros émediado pelas especificidades dos segmentos quecompõem essas instituições. Por meio desse se-gundo objetivo retomamos o tema da desigualdadediscutido na seção anterior, embora façamos issode uma perspectiva distinta, isto é, não mais preo-cupados com a distribuição desigual de recursos,mas sim com o impacto diferenciado da instituiçãosobre a cultura política dos conselheiros. Entre-tanto, antes de apresentarmos os dados relativosa esse problema, convém justificar a importânciada questão.
A literatura sobre cultura política, especialmentea partir do debate suscitado pelo livro The CivicCulture (ALMOND & VERBA, 1989a), semprecolocou como um dos seus temas centrais a rela-ção de causalidade existente entre as dimensõescultural e institucional da vida política (BARRY,1978; INGLEHART, 1988; ALMOND, 1989;LIPHART, 1989; PATEMAN, 1989; STREET,1993). De um lado, em uma perspectiva “cultu-ralista”, sugere-se que a orientação subjetiva doscidadãos (tolerância, confiança, igualdade, compe-tência política) constitui-se em variável funda-mental para entender o (bom ou mal) funciona-mento das instituições políticas democráticas. Deoutro lado, em uma vertente “institucionalista”,acredita-se que a estrutura política (desenho ins-titucional, desempenho governamental, regras enormas legais) é a responsável por produzir noscidadãos determinadas disposições subjetivas (e.g.: apoio ou desconfiança em relação ao regimedemocrático). Como toda oposição direta, essatambém é demasiadamente simplista e mesmo osautores usualmente vinculados às duas correntes
23 Esse estudo está em andamento e tem como fonte asatas dos conselhos investigados. Entendemos, no entanto,que a posse dos recursos associados ao engajamento cívicoé apenas um dos elementos a serem considerados naexplicação da existência de desigualdade política nosconselhos. Outros tipos de recursos individuais (renda,escolaridade) e coletivos (orçamento e recursos humanosdas entidades) devem ser levados em conta. Além dosrecursos, serão analisados os constrangimentosinstitucionais, especialmente no que diz respeito ao pesodas posições e instâncias estratégicas, assim como o graude coesão dos segmentos e as alianças e conflitos entre eles.Obviamente, a investigação empírica a respeito da influênciapolítica dos segmentos que compõem cada um dosconselhos em questão exigirá o abandono do tom genérico apartir do qual o presente artigo considera essas instituições.Isso significa que, ao tomar como objeto de estudo cada umdos conselhos, as particularidades de seu contexto, de suaestrutura e, especialmente, do perfil dos segmentos que ocompõem estarão presentes.
138
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
dificilmente poderiam ser acusados de defenderrelações de causalidade tão diretas.
Esse debate, na verdade, obscurece a inovaçãoda teoria da cultura política, que reside naafirmação de que as experiências vivenciadas pelosindivíduos em instituições não-governamentais sãofundamentais para a definição de suas atitudes emrelação ao sistema político. Portanto, a teoria dacultura política, em sua origem, não desconhecenem, muito menos, desvaloriza o papel dasinstituições no processo de formulação dos valorese crenças dos cidadãos a respeito do mundo dapolítica. Não há dúvida, porém, de que essaperspectiva teórica valoriza como fator explicativoexatamente aquelas instituições que se encontramfora da experiência estritamente política.
Não por acaso, a socialização política, enten-dida como “processo pelo qual culturas políticassão mantidas ou transformadas” (ALMOND &POWELL JR., 1972, p. 46), é uma categoria-chave nessa teoria. “O livro The Civic Culturefocalizou aquelas atitudes políticas que dariamapoio ao sistema político democrático. O pressu-posto era de que um número de forças conduziaao desenvolvimento de tais atitudes: educação;democratização dos sistemas de autoridades não-governamentais na família, na escola e no trabalho;confiança geral nos demais cidadãos” (ALMOND& VERBA, 1989b, p. 399).
Ao ampliar o espaço em que ocorre a sociali-zação política, de modo a incluir experiências coleti-vas relevantes, tais como guerras, crises econômi-cas, movimentos de massa, greves e negociações,e partidos políticos (ALMOND & POWELL JR.,1972, p. 46, 49), as reformulações recentes dateoria da cultura política estreitaram ainda mais ovínculo entre formação de disposições subjetivase instituições, tornando bem mais complexa a rela-ção de causalidade entre ambas. Esse é também oentendimento de Liphart a respeito de comoAlmond e Verba percebem a relação entre culturapolítica e estrutura política. Segundo aquele autor,trata-se de uma relação bidirecional em que a socia-lização adulta inclui também “a experiência com osistema político” (LIPHART, 1989, p. 49).
Entre os autores que se dedicam a investigar arelação entre o ambiente institucional e a culturapolítica, tanto do ponto de vista teórico comoempírico, Carole Pateman (1992) merece um lugarde destaque. Pateman parte de uma tradição quepensa a democracia como experiência partici-
pativa24 a ser alcançada por meio de uma “edu-cação pública” fundada na “participação em muitasesferas da sociedade na atividade política” (idem,p. 33-34), provocando assim um “efeito psico-lógico sobre os que participam” (idem, p. 35).
Embora tendo como referência (empírica enormativa) um modelo de democracia que se opõeàquele adotado pelos autores de The CivicCulture25, Pateman incorpora a compreensão darelação entre a socialização em instituiçõessocietais e a estrutura política de uma determinadasociedade proposta por Almond e Verba. Deacordo com essa compreensão, o padrão de rela-ção dominante nas instituições “não-políticas” ge-ra conseqüências decisivas no funcionamento dosistema político: “[...] Se fora da esfera políticaele dispõe de oportunidade de participar de umamplo leque de decisões sociais, provavelmenteesperará ser capaz de participar do mesmo mododas decisões políticas. Além disso, a participaçãona tomada de decisões não-políticas pode dar-lhe a destreza necessária para engajar-se na parti-cipação política” (idem, p. 68).
Como se pode notar, essa literatura pensa ainfluência das instituições como atuando de modohomogêneo sobre a cultura política de indivíduose grupos com características distintas entre si.Assim como no caso da “distribuição” da culturapolítica, o debate em torno da relação entre institui-ções e cultura política não concede o devido desta-que ao caráter heterogêneo da sociedade. Do nossoponto de vista, como dissemos antes, esse temadeve também ser analisado à luz do problema dadesigualdade. Nesse caso, porém, não se trata deentendê-la em termos de acesso desigual a recur-sos, como fizemos na seção anterior, mas sim co-mo descrevendo os efeitos diferenciados que ainstituição pode gerar sobre a cultura política deseus membros tendo em vista as especificidadesdos grupos a que eles pertencem. Nesse sentido,o objetivo desta seção consiste em saber, em umprimeiro momento, se tais instituições geram algumimpacto sobre a cultura política dos seus mem-
24 Inspirada em Rousseau e Stuart Mill.
25 Não por acaso, o primeiro capítulo do livro é dedicadoà crítica do modelo de democracia proposto por Schumpeter.Pateman argumenta que a passividade política dos cidadãosdeve-se à inexistência de fatores institucionais favoráveis auma atitude mais ativa. Portanto, a apatia não é um estadonatural, mas um problema: a conseqüência das estruturasinstitucionais existentes.
139
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
Uma forma de avançar na análise da relaçãoentre participação nos conselhos e interesse porpolítica nos diversos segmentos é olhar para avariável “número de gestões” (Tabela 14), que nos
bros, notadamente sobre o seu interesse por políti-ca, e, em seguida, ver como esse impacto é media-do pela natureza dos segmentos e das associaçõesque compõem os conselhos analisados neste trabalho.
No que diz respeito ao impacto da instituiçãosobre o interesse por política dos conselheiros,os dados agregados mostram-nos que 44% dosentrevistados disseram que o seu interesse porpolítica aumentou em função da participação noconselho em que atuava26. Trata-se de cifra quenos permite ao menos sugerir, a partir da avaliaçãodos próprios entrevistados, a existência de umimpacto dos conselhos sobre o interesse por políti-ca dos agentes que participam dessas instituições.
É interessante, porém, sair um pouco dessadimensão agregada e analisarmos os dados rela-tivos a essa questão – aumento do interesse porpolítica após participação nos conselhos – juntocom outras duas dimensões importantes para otema: em primeiro lugar, os diversos segmentosque compõem os conselhos e, em seguida, o asso-ciativismo dos agentes. Veremos que a especifi-cidade dos segmentos e o tipo de associativismo
TABELA 13 – INTERESSE POR POLÍTICA PÓS-PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
são elementos que interferem na intensidade doimpacto que a instituição produz sobre a culturapolítica dos conselheiros.
O estudo da relação entre experiência institu-cional e interesse por política nos conselhos gesto-res deve começar por uma referência aos segmen-tos que compõem essas instituições (usuários, tra-balhadores, prestadores de serviço e gestores) porduas razões. Primeiramente, porque os conselhossão órgãos colegiados e todos os procedimentosdecisórios e eleitorais que lhes dizem respeitolevam em consideração a existência dos segmentos.Em segundo lugar, a especificidade de cadasegmento (seus recursos técnicos, materiais epolíticos, o setor social que representam) constitui-se, a nosso ver, no mais importante fatorexplicativo (embora não o único) para entender-se a dimensão do impacto que a experiênciaconselhista pode gerar sobre seus membros.
Assim, levando em consideração cada segmen-to, a afirmação de que a participação no Conselhoaumentou o interesse por política foi distribuídaconforme os dados apresentados na Tabela 13.
permite perceber o seguinte: entre os conselheirosque viviam a sua primeira experiência nos conse-lhos, as alternativas “permaneceu igual” e “aumen-tou” obtiveram, cada uma, 50% das respostas;entre aqueles que participavam de uma segundagestão os números foram, respectivamente,43,5% e 56,%. A partir daí, isto é, entre os queparticiparam de três, quatro e cinco gestões, a re-lação inverte-se, passando a predominar a resposta“permaneceu igual”. Em função desses dados, éplausível afirmar que o impacto da experiênciaconselhista sobre o interesse por política dos con-selheiros é menor à medida que atinge e superatrês gestões.
26 Estamos cientes dos limites desses dados. Eles referem-se não apenas à percepção dos atores, mas à sua memória.Os entrevistados foram, nessa pergunta, solicitados alembrar se houve aumento de seu interesse por política apartir da experiência de participação no Conselho, cujoinício ocorreu, ao menos, dois anos antes da entrevista.Sabemos também que boa parte dos conselheiros participa,há bastante tempo, de diversas associações e que, portanto,teriam uma certa dificuldade de identificar o peso de cadauma dessas experiências no seu interesse por política.
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Interesse
% N % N % N % N
Permaneceu igual 42,1 8 46,2 6 52,6 10 66,7 16
Diminuiu 0,0 0 0,0 0 5,3 1 0,0 0
Aumentou 52,6 10 53,8 7 42,1 8 33,3 8
Não sabe/não respondeu 5,3 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
140
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
Podemos explicar a situação dos gestoresrecor-rendo à idéia de que o interesse por políticadesse segmento sofre de uma certa “inelastici-dade”. Nesse caso específico, devemos levar emconsideração dois aspectos importantes: de umlado, trata-se de um grupo de conselheiros que,muito provavelmente, não tem nos conselhos o
Em tal sentido, é interessante observar que osegmento dos gestores tem 83,4% dos seus mem-bros exercendo de três a cinco gestões e apenas12,5% entre uma e duas gestões (Tabela 15). Essesdados podem ajudar a explicar porque apenas33,3% dos membros desse segmento afirmaramter o seu interesse por política aumentado apósparticiparem do Conselho. Exatamente o oposto
TABELA 14 – INTERESSE POR POLÍTICA PÓS-PARTICIPAÇÃO NO CONSELHOPOR NÚMERO DE GESTÕES27
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
ocorre com os usuários. Nesse segmento, 73,7%dos seus membros estão no exercício das primeirae segunda gestões, enquanto apenas 26,3% divi-dem-se entre as terceira, quarta e quinta gestões.Esses dados também podem ajudar-nos a entenderporque entre os usuários predomina a avaliaçãode que o interesse por política tenha aumentadoapós participarem do Conselho (52,6%).
TABELA 15 – NÚMERO DE GESTÕES POR SEGMENTO
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
27 Um dos entrevistados que participou de três gestõesnão respondeu a esta questão.
seu locus preferencial de atividade política. Enquan-to representantes governamentais, os gestoresestão o tempo todo, por dever de ofício, obrigadosa lidar com o dia-a-dia dos governos e com aspec-tos diversos da luta política e partidária e, comoindicam os dados sobre as gestões, os membrosdesse segmento estão, há bastante tempo, engaja-dos na atividade política28. Essas duas caracterís-
28 Os dados sobre o número de gestões não nos informama respeito do tempo de atividade política fora dos conselhos.
Interesse
Permaneceu igual
Diminuiu Aumentou Total
Gestões
% N % N % N % N
Uma 50,0 4 0 0 50,0 4 100,0 8
Duas 43,5 10 0 0 56,5 13 100,0 23
Três 58,8 10 0,0 35,3 6 94,1 17
Quatro 57,1 4 14,3 1 28,6 2 100,0 7
Cinco 55,6 10 0,0 0 44,4 8 100,0 18
Segmento
Usuário Trabalhador Prestador Gestor
Gestões
% N % N % N % N
Uma 21,1 4 23,1 3 0,0 0 4,2 1
Duas 52,6 10 15,4 2 47,4 9 8,3 2
Três 15,8 3 15,4 2 10,5 2 41,7 10
Quatro 5,3 1 0,0 0 15,8 3 12,5 3
Cinco 5,3 1 46,2 6 21,1 4 29,2 7
Não sabe/não respondeu 0,0 0 0,0 0 5,3 1 4,2 1
Total 100,0 19 100,0 13 100,0 19 100,0 24
141
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
ticas – locus preferencial de atividade política etempo de atividade – fazem dos gestores indiví-duos, por assim dizer, “saturados” de política esobre os quais uma nova experiência conselhistadificilmente produziria algum impacto.
Os dados sobre os prestadores a esse respeitosão menos contundentes, mas apontam para amesma direção. No interior desse segmento,47,4% estão concentrados na segunda gestão (nãohá nenhum membro na primeira gestão) e 47,4%distribuídos entre as terceira, quarta e quinta ges-tões. Ao mesmo tempo, quando perguntados se ointeresse por política havia aumentado após partici-parem do conselho, as respostas dos prestadoresdividiram-se também de maneira razoavelmentepróxima entre “permaneceu igual” (52,6%) e“aumentou” (42,1%).
O segmento dos trabalhadores, entretanto, pa-rece não se encaixar plenamente nessa linha deargumentação. No interior desse segmento, 38,5%dos representantes dos trabalhadores estão distri-buídos entre a primeira e segunda gestões e 61,6%entre três e cinco gestões. Contudo, quando per-guntados se o interesse por política havia aumen-tado após participarem do conselho, as respostasdos trabalhadores dividiram-se entre “permaneceuigual”, com 46,2%, e “aumentou”, com 53,8%.Dado o predomínio de trabalhadores que participa-ram dos conselhos por mais de três gestões, era de
se esperar, na linha de raciocínio anunciada acima,que o interesse por política tendesse à estagnação.
De toda forma, os dados sobre gestores, usuá-rios e prestadores sugerem que a participação noconselho tende a ter impacto positivo sobre ointeresse por política até um determinado patamar,a partir do qual essa experiência parece ser cadavez menos eficaz no que se refere à sua capacidadede fomentar o “interesse por política”. Portanto,os dados acima apontam para algum tipo de relaçãoentre tempo de permanência nos conselhos e acapacidade de essa experiência alterar o interessepor política dos entrevistados.
Além do tempo em que os conselheiros atua-vam nos conselhos, consideramos também a rela-ção entre o fato de um indivíduo pertencer a algu-ma associação (em uma escala de zero a seis asso-ciações) e a sua avaliação sobre o aumento ou nãodo seu interesse por política após a experiênciano conselho em que atuava29. De acordo com aTabela 16, dos indivíduos que não tinham nenhumvínculo associativo, 85,7% avaliaram que o seuinteresse por política permaneceu igual e apenas14,3% disseram que seu interesse aumentou. Asituação muda significativamente quando entramosno universo dos conselheiros que têm vida associa-tiva. Nesse caso, somente entre os que declararampertencer a três associações a opção pela resposta“aumentou” é menor do que a opção por “perma-neceu igual”.
TABELA 16 – INTERESSE POLÍTICO PÓS-PARTICIPAÇÃO NOCONSELHO POR ASSOCIATIVISMO30
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
Entretanto, fornecem-nos a evidência de que, no que serefere a essas instituições, os gestores são, de longe, osmais experientes.
29 Convém observar que, neste momento, estamosreferindo-nos apenas aos vínculos associativos que osconselheiros mantinham fora dos conselhos em que atuavamno momento da entrevista. Essa observação é importante
porque a nossa pesquisa entende que o próprio conselhoconstitui-se em uma experiência associativa. Nesse sentido,por definição, todo conselheiro tem ao menos um vínculoassociativo.
30 Um dos entrevistados, membro de duas associações,não respondeu a esta questão.
Interesse
Permaneceu igual Diminuiu Aumentou Total
Número de associações
% N % N % N % N
0 85,7 6 0,0 0 14,3 1 100,0 7
1 50,0 6 0,0 0 50,0 6 100,0 12
2 47,3 9 0,0 0 52,7 10 100,0 19
3 70,6 12 5,9 1 23,5 4 100,0 17
4 33,3 3 0,0 0 66,7 6 100,0 9
5 44,4 4 0,0 0 55,6 5 100 9
6 0,0 0 0,0 0 100,0 1 100,0 1
142
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
Desse modo, pelos dados apresentados, parecehaver uma relação positiva entre, de um lado, tervida associativa e, de outro, avaliar que aparticipação nos conselhos teve como efeitoaumentar o interesse desses agentes por política.Assim, em princípio, a avaliação de que o interessepor política aumentou seria decorrência não apenasda experiência no Conselho, mas também daexistência de algum vínculo associativo externo àinstituição.
Deve-se levar em consideração que osconselheiros que não têm qualquer vínculoassociativo (um total de 7) estão distribuídos entreos segmentos dos prestadores (2) e, majoritaria-mente, dos gestores (5). Nesse caso, as caracte-rísticas específicas dos segmentos em questãoconstituem um fator decisivo para o baixo impactoque a experiência conselhista gerou sobre essesatores. Mais uma vez, verifica-se que somenteuma análise mais detida, considerando outras ca-racterísticas específicas dos diferentes segmentos(inserção política, posse de recursos diversos, tipode interesse no conselho etc.), permitir-nos-ia
avaliar com mais exatidão o real impacto dessaexperiência institucional sobre as disposiçõessubjetivas dos conselheiros.
Quando se discute a relação entre associati-vismo e interesse por política após a experiênciano Conselho é importante saber também se o tipode associação a que o conselheiro está vinculadotem efeitos diferenciados sobre essa avaliação31.Os nossos dados sobre associativismo incluemas seguintes associações: ONGs, sindicatos, movi-mentos religiosos, associações de bairros, associa-ções profissionais e outros conselhos.
Podemos perceber que aqueles que pertencema ONGs, movimentos religiosos e associações debairro têm, majoritariamente, uma avaliaçãopositiva acerca do crescimento do seu interessepor política depois de participar dos conselhos(Tabela 17). Sendo assim, parece que para umnúmero significativo dos conselheiros ligados aessas associações participar do conselho é perce-bido como um elemento importante no aumentodo seu interesse por política.
TABELA 17 – ASSOCIATIVISMO POR INTERESSE POLÍTICO PÓS-PARTICIPAÇÃO NOCONSELHO32
FONTE: Núcleo de pesquisa “Democracia e instituições políticas” (UFPR).
31 Apesar de alguns autores indicarem o contrário,entendemos que nem toda associação fomenta o interessepor política.
32 Um dos entrevistados, associado a ONG, e outro,membro de movimento religioso, não responderam a estaquestão.
Vale observar que o oposto ocorre com entida-des como os sindicatos, as associações profissio-nais e os outros conselhos gestores. Em todaselas, entre os que afirmaram ter ligações com essasorganizações, o número dos que disseram ter oseu interesse por política permanecido igual é maior
do que o número dos que responderam teraumentado (Tabela 17). Com relação ao que foidito acima, parece-nos, mais uma vez, serimportante trazer para a análise as especificidadesdos segmentos como fator explicativo principal.As associações em que encontramos a maior
Interesse
Permaneceu igual
Diminuiu Aumentou Total
Tipo de associação
% N % N % N % N
ONG 41,9 13 0,0 0 54,8 17 96,7 30
Movimento religioso 33,3 9 0,0 0 63,0 17 96.3 26
Associação de bairro 39,1 9 0,0 0 60,9 14 100,0 23
Sindicato 57,7 15 3,8 1 38,5 10 100,0 26
Associação profissional 56,3 18 3,1 1 40,6 13 100,0 32
Outros conselhos 54,5 18 3,0 1 42,4 14 100,0 33
143
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
quantidade de indivíduos que disseram que o seuinteresse por política aumentou após a participaçãono conselho (ONGs, movimentos religiosos eassociações de bairro) são aquelas em que tambémencontramos maior presença de usuários33 emenor presença de gestores. Ao contrário, nasassociações profissionais e em outros conselhos,os gestores têm presença mais significativa, ocu-pando a segunda posição (com 50%) em ambas.
Para além dessas sugestões de interpretação,e aproveitando para finalizar estas considerações,o que podemos apresentar a título de conclusão?Acreditamos que três pontos merecem serenfatizados. Primeiro, os dados apresentados noinício desta seção mostram que, segundo apercepção dos entrevistados, a experiência departicipar dos conselhos gestores produziuimpactos quanto ao interesse por política dessesindivíduos. No entanto, e aqui avançamos o segun-do ponto desta conclusão, este impacto afetou cadasegmento de maneira diferenciada. Na nossaperspectiva, os fatores explicativos dessa diferençaresidem nas especificidades de cada segmento,vistas, nesta seção, em termos de associativismoe tempo de permanência no Conselho. Sendoassim, podemos concluir que, nesse caso, oimpacto gerado pela instituição é mediado pelascaracterísticas de cada um dos grupos vinculadosa ela, sendo, portanto, vivenciado de maneiradesigual por cada um deles.
V. CONCLUSÃO
O presente trabalho foi escrito tendo em vistaduas preocupações teóricas. De um lado, aborda-mos o problema da relação de causalidade existenteentre instituições e cultura política. Quanto a esteponto, seguimos uma linha de interpretação quereconhece a importância dos efeitos institucionaissobre a cultura política de seus membros e, aomesmo tempo, o papel ativo que fatores externosàs instituições analisadas exercem sobre aintensidade desses efeitos. De outro, percebemosque, em geral, a literatura consagrada sobre o temaaborda o problema da cultura política como um
atributo de grandes comunidades. Desse ponto devista, as questões tratadas por esses autoresreferem-se, predominantemente, ao problema daestabilidade, da consolidação e da competênciainstitucional dos regimes políticos. Outros autores,entretanto, sugerem pensar a cultura política comoum recurso desigualmente distribuído entre osgrupos que compõem as comunidades analisadase que, portanto, pode ser uma das bases dadesigualdade política. Orientada por essasquestões, a análise do nosso objeto – os conselhosgestores e políticas públicas – permite-nosapresentar duas conclusões.
Primeiramente, pudemos constatar que,segundo reconhecimento de parte significativa dospróprios conselheiros, a experiência nos conselhosproduziu um impacto positivo sobre o seu interessepor política. Sendo assim, podemos dizer que apresença desses indivíduos em uma instituição decaráter participativo levou-os a interessarem-semais por política. No entanto, constatamostambém que o impacto dessa experiência foisentido de maneira diferenciada pelos diversossegmentos analisados. Na medida em que essesgrupos são portadores de características especí-ficas (experiência associativa, inserção política,tempo de atuação no Conselho, posse de recursosdiversos etc.), concluímos que tais especificidadesmodulam o efeito da instituição de acordo com osegmento que com ela relaciona-se. Esse pareceum caso em que instituições e atributos especí-ficos de grupos sócio-políticos diversos colaborampara produzir um efeito específico.
Em segundo lugar, observamos que o grupoanalisado já é, em si, a expressão de uma certadesigualdade no interior da sociedade brasileira noque diz respeito à posse de recursos de culturapolítica e, portanto, de incentivos ao ativismopolítico. Procuramos, então, saber se no interiordesse mesmo grupo havia também traços dedesigualdade nesse sentido. Constatamos que,embora dispersas, as desigualdades existem.
A partir da análise apresentada neste artigo,esperamos ter persuadido o leitor quanto àimportância de pensar a cultura política não apenascomo um atributo das “sociedades”, mas umrecurso desigualmente distribuído e, por isso, umadas condições da desigualdade política.
33 Exceto nas ONGs, em que os usuários (25,8%) ocupamo segundo lugar, atrás dos prestadores (38,7%).
144
CULTURA POLÍTICA E DESIGUALDADE
ALMOND, G. & POWELL JR., B. 1972. Umateoria da Política Comparada. Rio de Janeiro: Zahar.
ALMOND, G. & VERBA, S. 1989a. The CivicCulture : Political Attitudes and Democracy inFive Nations. Nova York : Sage.
_____. (orgs.) 1989b. The Civic Culture Revis-ited. London : Sage.
ALMOND, G. 1989. The Intellectual History ofthe Civic Culture Concept. In : ALMOND, G& VERBA, S. (eds.) The Civic CultureRevisited. London : Sage.
_____. 1990. The Study of Political Culture. In :_____. A Discipline Divided : Schools andSects in Political Science. Nova York, Sage.
BACHRACH, P. 1967. The Theory of DemocraticElitism : A Critique. Boston : University Pressof America.
BARRY, B. 1978. Sociologists, Economists andDemocracy. Chicago : University of ChicagoPress.
CARVALHO, J. M. 1999. O motivo endêmicono imaginário social brasileiro. In :PANDOLFI, D. C. (org.). Cidadania, justiçae violência. Rio de Janeiro : Fundação GetúlioVargas.
CASTRO, H. C. 1995. A democracia em xeque :um estudo de cultura política entre os porto-alegrenses. Porto Alegre. Dissertação (Mes-trado em Ciência Política). UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul.
CONVERSE, P. 1964. The Nature of Belief Sys-tems in Mass Publics. In : APTER, D. (ed.).Ideology and Discontent. New York : The FreePress.
DOWNS, A. 1999. Uma teoria econômica dademocracia. São Paulo : USP.
FUKS, M. 2002. Participação política emconselhos gestores de políticas sociais noParaná. In : PERISSINOTTO, R. & FUKS,M. (orgs.) Democracia : teoria e prática. Riode Janeiro : Relume-Dumará.
GOHN, M. G. 2001. Conselhos gestores eparticipação sócio-política. São Paulo : Cortez.
INGLEHART, R. 1988. The Renaissance of Po-litical Culture. American Political ScienceReview, Washington, D.C., v. 82, n. 4, p. 1203-1229, Dec.
KUSCHNIR, K. & CARNEIRO, L. P. 1999. Asdimensões subjetivas da política: cultura políticae antropologia da política. Estudos Históricos,Rio de Janeiro, v. 13, n. 24, p. 227-250.
LAMOUNIER , B. & SOUZA , A. 1991.Democracia e reforma institucional no Brasil :uma cultura política em mudança. Dados, Riode Janeiro, v. 34, n. 3, p. 311-347.
LIMA, M. R. & CHEIBUB, Z. B. 1996. Institui-ções e valores : as dimensões da democracia navisão a elite brasileira. Revista Brasileira deCiências Sociais, São Paulo, n. 31, p. 83-110.
LIPHART, A. 1989. The Structure of Inference.In : ALMOND, G. & VERBA, S. (eds.) TheCivic Culture Revisited. London : Sage.
MOISÉS, J. A. 1995. Os brasileiros e a demo-cracia : bases sócio-políticas da legitimidadedemocrática. São Paulo : Ática.
OLSON JR., M. 1999. A lógica da ação coletiva.São Paulo : USP.
PATEMAN, C. 1989. The Civic Culture : A Philo-sophic Critique. In : ALMOND, G. & VERBA,
Mário Fuks ([email protected]) é Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário dePesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e Professor de Ciência Política na Universidade Federal doParaná (UFPR).
Renato Monseff Perissinotto ([email protected]) é Doutor em Ciências Sociais pela UniversidadeEstadual de Campinas (UNICAMP) e Professor de Ciência Política na Universidade Federal do Paraná(UFPR).
Ednaldo Aparecido Ribeiro ([email protected]) é Mestre em Sociologia pela Universidade Federal doParaná (UFPR) e Professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá (UEM).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
145
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 21: 125-145 NOV. 2003
S. (eds.) The Civic Culture Revisited. Lon-don : Sage.
_____. 1992. Participação e teoria democrática.Rio de Janeiro : Paz e Terra.
PUTNAM, R. 1996. Comunidade e democracia :a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
RENNÓ, L. 1998. Teoria da cultura política :vícios e virtudes. BIB, São Paulo, n. 45, p.71-93, 1º semestre.
RIBEIRO, J. M. 1997. Conselhos de saúde,comissões intergestores e grupos de interessesno Sistema Único de Saúde (SUS). Cadernosde Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1,p. 81-92, jan.-mar.
SALES, T. 1994. Raízes da desigualdade socialna cultura política brasileira. Revista Brasileirade Ciências Sociais, São Paulo, n. 25, p. 26-37, 2º semestre.
SANTOS JR., O. A. 2001. Democracia e governolocal : dilemas e reforma municipal no Brasil.Rio de Janeiro : Revan.
SCHATTSCHNEIDER, E. 1960. The Semi-So-vereign People : A Realist’s View of Demo-
cracy in America. New York : Holt, Rinehartand Winston.
SCHLOZMAN, K., VERBA, S. & BRADY, H.1999. Civic Participation and the Equality Pro-blem. In : SKOCPOL, T. & FIORINA, M.(eds.). Civic Engagement in AmericanDemocracy. Washington, D. C. : TheBrookings Institution Press.
SCHUMPETER, J. 1961. Capitalismo, socialismoe democracia. Rio de Janeiro : Fundo de Cultura.
SKOCPOL, T. & FIORINA, M. 1999. MakingSense of the Civic Engagement Debate. In :_____. (eds.). Civic Engagement in AmericanDemocracy. Washington, D. C. : The BrookingsInstitution Press.
STREET, J. 1993. Review Article : From CivicCulture to Mass Culture. British Journal ofPolitical Science, v. 24, n. 1, p. 95-114, Jan.
WIATR, J. 1989. The Civic Culture from aMarxist-Sociological Perspective. In :ALMOND, G. & VERBA, S. (eds.). The CivicCulture Revisited. London : Sage.
ZALLER, J. 1992. The Nature and Origins ofMass Opinion. Cambrige : Cambrige UniversityPress.