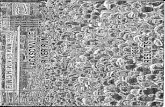CRÍTICA MUSICAL E TROPICALISMO – UMA ANÁLISE DA COLUNA DISCOTECA BÁSICA DA REVISTA BIZZ (1986 -...
Transcript of CRÍTICA MUSICAL E TROPICALISMO – UMA ANÁLISE DA COLUNA DISCOTECA BÁSICA DA REVISTA BIZZ (1986 -...
UNIVERSIDADE FERDERAL DE GOIÁSFACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
O SOL NAS BANCAS DE REVISTA:Crítica musical e tropicalismo –
uma análise da coluna Discoteca Básica da Revista Bizz (1986-1996)
Estudante: Carlos Eduardo PinheiroOrientador: Prof Dra Ângela Moraes
Goiânia 2013
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE A. FILHO
O SOL NAS BANCAS DE REVISTA: CRÍTICA MUSICAL E TROPICALISMO – UMA ANÁLISE DA COLUNA DISCOTECA BÁSICA DA REVISTA BIZZ (1986
- 1996)
Monografia apresentada ao curso de Jornalismo, da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, concernente à obtenção do título de bacharelado em Jornalismo.
Orientadora: Profa. Dra. Ângela Moraes
Goiânia 2013
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE A. FILHO
FICHA DE APROVAÇÃO
O SOL NAS BANCAS DE REVISTA: CRÍTICA MUSICAL E TROPICALISMO – UMA ANÁLISE DA COLUNA
DISCOTECA BÁSICA DA REVISTA BIZZ (1986 - 1996)
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Conselho de Curso de Jornalismo, da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – Universidade Federal de Goiás, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Jornalismo.
Orientadora: Profª Drª Ângela Moraes
Data da defesa/entrega: ___/___/____
MEMBROS COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA:
Orientadora: Profª Drª Ângela Moraes
Membro Titular: Ms. Sálvio Juliano Peixoto Farias
LISTA DE IMAGENS
Imagem 1 Capa da revista Bizz n.4, 1985 34
Imagem 2 Discoteca Básica - Os Mutantes. revista Bizz, n.10, p.72, 1986 58
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 7Capítulo 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
1.1 Jornalismo Cultural e crítica 101.2 O Tropicalismo, a canção de protesto e a crítica 141.2.1 O Discurso internacionalista do tropicalismo 161.2.2 A Canção de protesto 191.2.3 A Crítica de primeira hora 21
Capítulo 2 - METODOLOGIA 292.1 A Análise de Discurso 292.2 O Discurso das Mídias 32
Capítulo 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 353.1 Revista Bizz e Discoteca Básica 353.1.1 Revista Bizz 353.1.2 Discoteca Básica 393.2 Análise 403.2.1 Os Mutantes 403.2.2 Transa 423.2.3 Tropicália ou Panis et Circencis 453.2.4 Estudando o Samba 483.2.5 Expresso 2222 503.2.6 Fa-tal – Gal a Todo Vapor 53
CONCLUSÃO 56ANEXO – DISCOTECA BÁSICA 58BIBLIOGRAFIA 70
“O samba ainda vai nascerO samba ainda não chegou
O samba não vai morrerVeja o dia ainda não raiouO samba é o pai do prazer
O samba é o filho da dorO grande poder transformador”
(Caetano Veloso)
7
Introdução
O objeto escolhido para este trabalho é a crítica musical brasileira na mídia. Para tanto,
escolhemos uma revista específica para melhor objetivarmos nosso estudo. Escolhemos a Revista
Bizz, primeiramente por entendermos que a publicação representa um marco no mercado editorial
brasileiro, alcançando sucesso de vendas e sendo reconhecida tanto por artistas, quanto pela própria
indústria do disco no Brasil. Além do tal reconhecimento, a revista foi escolhida por participar
ativamente no mercado musical, seja por meio de resenhas e críticas de discos e shows, ou por meio
da participação dos jornalistas envolvidos na publicação em ações próprias da indústria do disco. É
bom salientar que a revista Bizz foi a primeira publicação de grande alcance especificamente sobre
música no mercado editorial brasileiro.
Aprofundando nosso objeto de estudo, escolhemos uma seção específica da revista para a
análise. Trata-se da Discoteca Básica (DB). Normalmente publicada em formato de coluna, nas
últimas páginas, após as resenhas de discos, as DBs tinham a função de guia crítico de discos
considerados clássicos pela revista. Em cada edição, um disco, tanto de artistas nacionais, quanto de
artistas internacionais, era escolhido. Ao todo, nos vinte anos que a revista esteve em circulação no
país, foram 215 diferentes discos resenhados, por diferentes jornalistas, em diferentes fases da
revista.
Verticalizando melhor nosso objeto, escolhemos as críticas específicas de discos de artistas
brasileiros, notadamente os pertencentes ao movimento tropicalista. Entendemos que tais artistas
cumprem um papel importante, tanto na crítica cultural como um todo, por meio da sua participação
ativa nos debates políticos e estéticos no período da ditadura militar, como por ser uma baliza
importante para os críticos e artistas posteriores àquele período. Os artistas participantes do
movimento tropicalista estavam diretamente ligados ao debate sobre música popular no período e os
traduziram e incorporaram, seja através da estética, seja através do discurso, em sua obra. Portanto,
o conceito de música popular incorporado por estes artistas traz em si uma leitura/ compreensão da
cultura brasileira. Ora, as críticas a esses artistas estão diretamente e indiretamente ligadas àqueles
debates.
Neste sentido, as críticas escolhidas para a análise foram: Os Mutantes, Os Mutantes (1968)
– Edição 10, Maio de 1986; Caetano Veloso, Transa (1972) – Edição 26, Setembro de 1987; Vários
Artistas, Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Edição 41, Dezembro de 1988; Tom Zé,
Estudando o Samba (1976) – Edição 49, Agosto de 1989; Gilberto Gil – Expresso 2222 (1972) –
8
Edição 126, Dezembro de 1995 e Gal Costa, Fa-Tal – Gal a Todo Vapor (1971) – Edição 132, Julho
de 1996.
Desta forma, a questão problema da pesquisa é em relação ao papel que a crítica musical
posterior ao período militar atribuiu a determinados artistas e qual o posicionamento destas críticas
em relação aos debates sobre música popular e cultura brasileira. Pretendemos esclarecer como se
formou o discurso da mídia e como ele se posicionou e equacionou em relação aos debates travados
nos meios acadêmico e artístico num momento de abertura política e econômica em uma revista
inserida no mercado editorial comercial do país.
Entendemos que o Brasil é um país privilegiado pela força de sua música popular, sendo um
traço importante da cultura brasileira. A música popular no Brasil teve papel determinante em
algumas políticas mobilizadoras e modernizadoras do Estado brasileiro: serviu como elemento
constituinte de identidade; serviu como propaganda de determinadas políticas governamentais;
como constituinte de identidades locais e afirmação de grupos sociais, minorias e etnias; como foco
de resistência e protesto contra a ditadura militar, etc.
Desta forma, entrar em contato com a bibliografia sobre música popular no Brasil, permite-
nos, não só entendermos aquelas mobilizações a que o objeto foi protagonista, como nos mune de
um arsenal teórico e conceitual necessários para a análise a que estamos nos propondo. O conceito
de música popular no Brasil foi construído a partir de diversos embates políticos e culturais e fez
parte central em diversos momentos da construção de um projeto de nação para o Brasil.
Assim, ao entrarmos em contato com os debates em torno da música popular, notadamente
na imprensa de grande circulação nacional, estamos diretamente inseridos nos debates sobre a
cultura e a política brasileira como um todo. A própria compreensão do que é música popular
professado pelo discurso da mídia nos diz como foram equacionados aqueles debates e como eles
foram (e são) propagados e reinventados de acordo com a conveniência e contexto.
Antes, porém, é necessário entrar em contato com os debates acerca do jornalismo cultural e
da crítica. Para isso, seguimos as reflexões levantadas por Faro (2006), Cardoso (2007) e Barthes
(2007). Os dois primeiros atendem especificamente sobre a realidade da mídia brasileira e sua
construção crítica, enquanto o último autor nos fornece um referencial teórico mais geral, atentando
mais sobre os traços filosóficos e sociológicos da crítica e como ela se constitui socialmente.
Como as críticas que serão analisadas estão em um recorte específico de artistas do
movimento tropicalista, é preciso contextualizar o movimento em si e suas relações e debates
estéticos e políticos. Desta forma, entramos em contato com a bibliografia voltada para os debates
sobre música popular brasileira, relacionando com o movimento estudado. Entretanto, no decorrer
da pesquisa, vimos a necessidade de analisarmos a crítica de primeira hora do tropicalismo e como
9
o discurso sobre o movimento se constituiu com ajuda e em relação a essa crítica.
Também se fez necessária uma aproximação entre os estudos de Análise do Discurso e
mídia. Entendemos que a Análise de Discurso é um campo de estudo que oferece ferramentas
conceituais para a análise da linguagem enquanto acontecimento, observando as relações dela com
a memória, a história e o ambiente social em que foi produzida. A mídia tomada como prática
discursiva, produto de linguagem e processo histórico, permite ao analista observar e analisar tais
articulações (GREGORIN, 2007).
Deste modo, nossa metodologia foi construída a partir de um estudo teórico com base nos
estudos de mídia, na sua relação como o contexto de debates sobre a música popular no Brasil e a
formação da crítica especializada. Para tanto, entramos em contado com outras disciplinas,
principalmente a História, a Sociologia, a Antropologia e a Musicologia, atendendo sempre ao que
Braga (2011) chama de interações comunicacionais, ou seja, utilizamos as diversas áreas de
conhecimento “em função dos interesses específicos da Comunicação” (Braga, 2011, p. 67). Assim,
poderemos perceber, com ajudas das diversas disciplinas, qual o ângulo que devemos tomar na
nossa pesquisa.
Nosso trabalho de conclusão de curso ficou assim dividido: capítulo 1 – Fundamentação
teórica: Jornalismo, crítica e música, com os debates sobre a prática do jornalismo cultural, o
tropicalismo e a formação da crítica no Brasil; capítulo 2 – Metodologia, em que demonstramos
como a Análise de Discurso e os estudos sobre mídia podem nos ajudar com a análise do nosso
objeto; e capítulo 3 – Análise: Revista Bizz e crítica tropicalista, em que relatamos a história da
revista e sua importância no mercado editorial brasileiro, além da análise propriamente dita da
coluna Discoteca Básica, sob o recorte dos discos tropicalistas que apareceram na sessão.
10
Capítulo 1 – Fundamentação teórica
No presente capítulo pretendemos fazer um apanhado sobre as relações entre mídia, crítica e
o movimento tropicalista. Primeiramente seguimos com algumas reflexões sobre jornalismo cultural
e crítica cultural. Em seguida prosseguimos com uma contextualização do movimento tropicalista,
sua emergência, seus discursos e embates no campo da cultura brasileira do fim da década de 1960.
Após esse contextualização passamos para a análise das críticas de primeira hora, que procuraram
definir e construir discursos sobre o movimento e que posteriormente foram evocadas,
ressignificadas ou refutadas por críticos e jornalistas envolvidos em outros tipos de debates e
contextos.
1.1 Jornalismo Cultural e Crítica
Buscando algumas definições sobre jornalismo cultural e crítica seguimos as reflexões
levantadas por Faro (2006). O autor, ao pretender conceitualizar o jornalismo cultural, observa
como diferentes agentes tratam o conceito. Em um primeiro momento, observa as leituras que falam
do objeto como intimidado pelo comercialismo. Para essa vertente, o jornalismo cultural estaria
completamente subjugado ao mercantilismo da sociedade contemporânea. O texto praticado por
jornalistas estaria acossado pelas pressões das assessorias de imprensa e pelas relações de poder
estabelecidas nas empresas jornalisticas. Esta seria uma vertente menos elaborada, presente em
reflexões de jornalistas num contexto extra-acadêmico. O autor cita o exemplo do texto do site
Comunique-se intitulado “Os desafios do jornalista que cobre Cultura” (FARO, 2006) para
exemplificar esse vertente.
Faro (2006) salienta que entre esse tendência a analisar as relações mercadológicas do
jornalismo cultural, a leitura acadêmica complexifica mais o objeto. O autor aponta a leitura de
Herom Vargas. Para Vargas, a imprensa contemporânea seria uma portadora de um “valor de troca”
e considera impraticável a produção dela sem estar vinculada ao sistema econômico que lhe dá
sustentação. Desta maneira, exercer o jornalismo cultural fora desses condicionamentos seria
apenas devaneio romântico. A crítica e o ensaio, elementos característicos do texto jornalístico
cultural, pertenceriam a um passado irrecuperável, fruto de um período que tais relações não se
davam de forma tão maciça.
Entretanto Faro contesta tal vertente. Assume, antes, que não enxergar tais relações
11
mercantis do jornalismo cultural seria ingenuidade. Relativiza, assim, essa exclusividade negativa
do comercialismo sobre a prática. O autor trabalha com a hipótese da dupla dimensão do jornalismo
cultural: a que as praticas reiteram signos, valores e concepções de cultura de massa; e outra que
pratica discursos que revelam tensões contra-hegemônicas marcadas por uma forte presença autoral,
opinativa e analítica.
Trata-se de uma instância da produção jornalística reiterativa dos signos da cultura de massa, espaço em que se torna possível sua verificação como produto mercadológico e disseminados dos padrões da indústria cultural; de outro, como um outra instância, a do trânsito de produção e reflexão contra-hegemônicas, cuja identificação escapa à lógica linear das relações discursivas consagradas nos demais setores da produção jornalística e cuja incidência reflete os contextos políticos-ideológicos que cercam, em cada situação histórica, a prática dos profissionais de imprensa. (FARO, 2006, p.10)
Ao levantar essa hipótese, ressalta que a amplitude conceitual pouco rigorosa atrapalha uma
melhor definição do tema. Lembra que a assertiva “todo jornalismo é cultural” constantemente
atribuída por detratores seria vaga e diluída, caindo numa abstração que levaria a uma fragilidade
conceitual que somente denota incompreensão da atividade. Observa com reserva a tendência de
analisar a narrativa como definidora do jornalismo cultural. Tal tipo de análise ampliaria
desmesuradamente o objeto, deixando de lado a especificidade da prática e se ligando somente ao
estilo. Jornalismo literário, para Faro, não é o mesmo que jornalismo cultural.
Para maior rigor de conceitualização, o pesquisador deve se atentar para uma
particularização do fenômeno: leitura da prática jornalística. Faro observa que o conceito de cultura
presente no jornalismo cultural é relacional, menos amplo que requer a leitura que o trata como um
conceito antropológico. A cultura, no caso, é referente à produção artístico-intelectual, factual e
analítica, praticada na produção de conteúdos noticiosos ou não presentes nos cadernos, revistas e
sítios eletrônicos de conteúdo crítico. O jornalismo praticado desta forma é também produtor de
capital cultural, produzindo assim uma intersecção do mercado com o jornalismo.
O autor entende que essa intersecção se deu por sua formação histórica, em que intelectuais
e escritores se envolveram diretamente na produção de escrita na mídia imprensa, transformando o
jornalismo em segmento de reflexão pública, em que tais veículos produziram (produzem)
conteúdos culturais de serviço, mas também de interpretações intelectuais de naturezas diversas.
Nesta medida, o jornalismo cultural, para além de sua dimensão informativa e mercadológica, é também uma instância de categorias valorativas e históricas, negociadas entre os vários sujeitos que a produzem. A resenha, a crítica teatral, a crítica literária, a avaliação da filmografia, estão permanentemente formulando um olhar que extrapola o âmbito específico do fato motivador da pauta e do texto e se estende sobre a própria tensão decorrente da avaliação jornalística – ou da avaliação produzida para sua inserção no produto (o suplemento, a seção, a revista especializada. (FARO, 2006, p. 12)
12
Já Cardoso (2007) identifica a crítica como fator marcante desta modalidade de escrita
jornalística. A exemplo de Faro, a importância da crítica cultural é demonstrada pelo autor na
participação dos intelectuais no processo histórico de formação do texto jornalístico de cunho
opinativo. Para Cardoso, basta observar a maneira, como no Brasil, escritores, artistas e acadêmicos
ajudaram a direcionar os rumos do Modernismo. Para isso, cita a crítica de Monteiro Lobato a Anita
Malfatti em jornal de grande publicação. Também foi através da grande mídia que Oswald de
Andrade respondeu às acusações de Lobato. Esse debate teria defino os rumos do movimento.
Entretanto, na passagem do século XX aqueles intelectuais e artistas cederam lugar
gradualmente para jornalistas de carreira ocuparem postos de crítica na imprensa. Seguindo Melo1,
o autor nota a formação de dois estilos de texto de apreciação analítica: a resenha e o ensaio crítico.
A primeira seria uma descrição da obra, de caráter mais informativo e mais breve. A segunda, mais
elaborada, teria maior fôlego por requerer do jornalista a constituição do campo artístico ao redor da
obra analisada, situando o leitor em um contexto histórico e social mais amplo.
De outra forma, Cardoso utiliza o termo genérico “crítica”, sem distinguir as duas
modalidades acima descritas. Ele observa na prática jornalística atual uma confusão entre as duas,
além de uma diminuição do espaço do jornalismo opinativo como um todo. Assim seria ineficaz a
distinção entre as duas.
A definição de Bourdieu2 para crítica é evocada por Cardoso. Segundo essa definição, o
crítico é um colaborador na atribuição de valor simbólico às obras de arte. Para isso é preciso, por
parte do jornalista, deixar muito claro a sua autoridade e erudição. Os críticos colaboram então com
os comerciantes de bens simbólicos ao emitirem valores sobre as obras, o que por consequência
interfere em seu valor monetário. É também do texto do jornalismo opinativo que emerge grande
parte do prestígio dado a determinado artista, influindo diretamente no campo de produção artístico-
intelectual.
Cardoso acrescenta nessa equação que o jornalista ainda tem o poder de revestir a obra de
arte com um véu que eufemiza as formas de publicidade embutidas nas relações entre imprensa e
mercado de bens simbólicos. O jornalista é, portanto, dotado de uma autoridade conferida pelo
público leitor (já que é a materialização da opinião dele) e pela classe artística.
Leenhardt3 chama a atenção para três elementos constitutivos da crítica: “a pessoa do crítico,
a particularidade dos objetos culturais e o público potencial da obra” (LEENHARDT apud
CARDOSO, 2007, p. 303). A crítica, através do olhar do jornalista, exerceria um papel entre a obra
e o público. Um primeiro contato entre os dois, por meio do autor do texto opinativo. Assim,
1 MELO apud CARDOSO, 20072 BOURDIEU apud CARDOSO, 2007.3 LEENHARDT apud CARDOSO, 2007.
13
deveria ser muito mais que um fornecedor de opinião; mas atuar como um questionador.
Para isso, Leenhardt elenca dois critérios de registro da obra de arte: a objetividade da obra
e a leitura que se faz dela. A crítica é, portanto, um texto que descreve a obra e a vivência do escriba
em relação a ela.
Assim, com o objetivo de agir sobre o leitor, de causar nele alguma mudança ou simplesmente de promover nele reflexão, a crítica oferece ao leitor e consumidor de arte um ponto de vista analítico, intelectual e sensível que é expressado pela “sensibilidade intermediária” do autor do texto, ou seja, pela mediação feita pelo crítico. (CARDOSO, 2007, p.303)
Coelho4, por outro lado, aponta que o texto opinativo ao decorrer do século XX passou a
buscar um processo do que chama de “cientifização”. Ou seja, caminhou para análises menos
fundamentadas em julgamentos baseados no gosto clássico burguês. Tendência essa que se
aprofunda com maior influência do mercado sobre a imprensa. Essa forma de texto esconde
qualquer traço do enunciador sob o uso da terceira pessoa, deixando o texto crítico guiado por uma
“não-pessoa”, apagando assim a definição dos interlocutores. Segundo Cardoso, em busca de uma
pretensa clareza e objetividade, o jornalista, ao usar esse artifício, cairia em um positivismo.
Para afastar esse tendência, o autor reitera que o crítico deve transparecer sua visão
particular sobre a obra de arte, deixar claro seu caráter de coisa pessoal. Além disso, evidenciar que
o texto escrito sobre uma obra de arte se trata de uma leitura de alguém sobre ela. Para isso o crítico
deve ter uma formação e personalidade que permitam tal leitura idiossincrática.
Ora, se um crítico, jornalista cultural também ele, deve ser capaz de perceber a realidade de maneira diferenciada, penso que sua voz é o que deve ser preponderante no seu texto. Um bom texto de crítica cultural, acredito, deve trazer mais do que a descrição e a informação mais objetiva sobre o objeto artístico. O crítico deve deixar transparecer no texto essa sua “voz pessoal distintiva”, o seu ponto de vista, a sua apreciação sobre a obra. Sob a pena de, como alerta Coelho Neto, ser um “mero escrivinhador de serviço cultural” caso se limite a apenas relatar e descrever obras de arte. (CARDOSO, 2007, p 305)
Reforçando esse conjunto de definições sobre a crítica, lembramos de Barthes (2007). Para o
teórico francês, o objeto da crítica não é o “mundo”, mas o discurso. Um discurso sobre um
discurso. Uma linguagem segunda (metalinguagem) que é exercida sobre uma linguagem primeira
(objeto – obra de arte). É o atrito dessas duas linguagens que define o que é a crítica. Assim, não se
trata de descobrir verdades, mas validades. Pois uma linguagem não é verdadeira ou falsa, é válida
ou não: por válida entende como seguindo um sistema coerente de signos.
O papel da crítica é integrar a maior quantidade possível de linguagem que segue a lógica e
coerência da linguagem primeira (obra analisada). O crítico, portanto, ajusta a linguagem que lhe
oferece seu tempo (aproximações com escolas ou vertentes filosóficas) ao sistema formal elaborado
4 COELHO apud CARDOSO, 2007.
14
pelo autor segundo a época dele e formação. Segundo Barthes, não é questão de descobrir verdades
ocultas, mas de ajustamento. Ou melhor, de “cobrir [a obra] o mais completamente possível com
sua própria linguagem” (BARTHES, 2007, p.162)
Reconhecer que ela não é mais que uma linguagem (uma metalinguagem, no caso) permite
que a crítica possa ser de modo contraditório mas autêntico “ao mesmo tempo objetiva e subjetiva,
histórica e existencial, totalitária e liberal” (BARTHES, 2007, p.163). Esse caráter conflitivo se dá
de um lado, por a linguagem não descer dos céus para o crítico, mas ser proposta por seu tempo,
fruto de um amadurecimento das ideias de sua época; por outro, fruto de escolhas a partir da
organização existencial do crítico (suas escolhas, prazeres, resistências, paixões). No fim, a crítica
promove o diálogo de duas histórias e duas subjetividades: a do crítico e do autor. “É uma
construção da inteligência de nosso tempo” (BARTHES, 2007, p. 163).
A crítica não é absolutamente uma tabela de resultados ou um corpo de julgamentos, ela é essencialmente uma atividade, isto é, uma série de atos intelectuais profundamente engajados na existência histórica e subjetiva (é a mesma coisa) daquele que os realiza, isto é, os assume. Uma atividade pode ser verdadeira? Ela obedece a exigências bem diversas. (BARTHES, 2007, p.160)
1. 2. O tropicalismo, a canção de protesto e a crítica
A canção popular no Brasil ocupa um lugar de destaque, tanto pelas diversas políticas a que
foi submetida, quanto pelo papel central na relação com diversos campos da cultura (política,
economia, identidades, etc). Por ser um produto cultural de importante destaque na realidade
brasileira, ela pode ser um lugar para pensarmos as diversas transformações ocorridas no último
século. Produto cultural esse que por vezes demonstra e reflete tais mudanças. Por ter sido também,
em diversas ocasiões, utilizado como meio para manifestações de repúdio às transformações ou para
expressar ideias, desejos e atitudes de grupos em contato com aquelas transformações, torna-se uma
fonte privilegiada para termos acesso ao imaginário social e cultural de um povo.
Notamos na literatura sobre a cultura brasileira alguns temas que perpassam grande parte do
século XX. Dentre tais temas, pelo menos um é recorrente na música feita no Brasil desde pelo
menos fins do século XIX, e, que pelo constante embate, foram chamados à tona em momentos
críticos. A saber: o problema da reprodução de “modelos exógenos” de música (ou a criação de um
modelo próprio) (TRAVASSOS, 2000). Tal tema reflete e foi produzido no ambiente de debates
sobre projetos de modernização do país. Assim, através da canção popular podemos entrar em
contato com tais projetos e refletir sobre a maneira como eles eram recebidos, sentidos, aceitos (ou
não), reformulados e expressados por diferentes grupos sociais – já que a canção circulava (e ainda
15
circula) por diversos ambientes sociais.
Para Travassos, tais embates foram equacionados pela música popular de diversas maneiras
no Brasil. O samba nasceu, cresceu e se tornou gênero musical que expressava a identidade
nacional em um ambiente privilegiado. A influência da cultura estrangeira sempre foi um tema caro
para o Estado-Nação. O Brasil, por ser um país na periferia do modelo econômico capitalista e ter
uma diversidade cultural enorme, sofreu (e sofre) diversos níveis de gradação da influência de
diferentes culturas. Isso dificultou, até certo ponto, nossa afirmação identitária, sendo necessária a
criação de certas barreiras que dificultavam e estigmatizavam alguns elementos culturais, taxando-
os como estrangeiros e nocivos à ideia de brasilidade. Do mesmo modo foi necessária uma seleção
e construção de alguns símbolos como portadores daquele ideário que reunia todas as expressões
nacionais. O samba desta forma agiu como um repositório desse conjuntos de ideias e símbolos que
representavam o país.
Com a criação de elementos culturais que identificavam a brasilidade (no caso, o samba) e,
talvez por isso mesmo, o debate sobre a influência de elementos exógenos na música popular do
Brasil se acirrou. O samba, tomado como música que expressava a identidade nacional, passou a
simbolizar a defesa de tudo o que fosse o brasileiro. Portanto deveria ser exaltado e se manter, de
certo modo defendido daqueles símbolos externos, pois qualquer que fosse a alteração que não
respeitasse os paradigmas de música nacional era vista como rendição ao estrangeiro. São diversos
os casos de letras de sambas, da década de 1930 em diante, que expressam tal preocupação. A
inserção da guitarra elétrica num samba, como veremos mais tarde, por exemplo, pode ser vista
como uma rendição e alvo de polêmicas.
Assim, a escolha de um gênero que representava a brasilidade possibilitava a estigmatização
de determinados elementos musicais que não estavam de acordo com tal paradigma. Esse debate
perpassou toda a história do samba, após sua emergência como gênero musical considerado
nacional. Tal debate era, deste modo, sempre resgatado quando a brasilidade era posta em perigo
com aproximações demasiadamente perigosas (com o jazz, num primeiro momento ou o pop e a
guitarra elétrica já na década de 1960).
O samba, tido como gênero musical brasileiro por excelência, emerge na década de 1930,
como ponto de encontro de diversos interesses. Desde então, a música popular no Brasil se
relaciona, de alguma forma, com esse gênero específico, de maneira a tratá-lo como um ponto nodal
segundo o qual suas referências eram buscadas, reverenciadas ou negadas. Ou seja, os diversos
gêneros, subgêneros e estilos musicais feitos no Brasil buscaram numa espécie de “samba ideal” o
modelo musical ao qual queriam se ligar ou negar. Dessa forma, o samba serviu como legitimador
dos diferentes discursos musicais produzidos no país, como foram os casos da bossa nova, da MPB,
16
do tropicalismo ou do rock, por exemplo.
Tais discursos musicais, para se legitimarem recorreram ao samba como modelo, por ele ter
sido dotado de uma especificidade que representava um modelo totalizante. Esse modelo tinha o
poder de guiar os ouvidos de todos aqueles que procuravam uma referência para constituírem sua
identidade enquanto gênero musical. A ligação entre o samba e brasilidade deu ao primeiro esse
poder de sintetizar um modelo de formação de identidades musicais. A brasilidade, expressa como
uma forma de conduta em relação aos diversos elementos culturais em dada realidade, era
sintetizada pelo samba, e ele se tornou um lugar em que os discursos convergiam com o fim de
travarem combate (ou manterem relação de aproximação ou distanciamento). Isso por estar, no
momento de sua construção como tradição, em contato com os intelectuais e as ideias que forjaram
o nacionalismo modernista, quanto por ser olhado com receio pelos “inimigos” de tal nacionalismo.
Travassos salienta que desta forma, observar a maneira como os diversos gêneros musicais
lidam com o discurso legitimador do samba, nos põem em contato com um embate surgido na
aurora de nossa modernização nacional e que perpassou grande parte de nossa história republicana.
Tais embates discursivos/musicais se deram não somente nas canções, mas foram ampliados e
repercutidos pelos meios de comunicação de massa, emergentes no Brasil na segunda metade do
século XX. Assim, localizar e reconhecer tais embates no campo da canção popular é necessário
para entendermos a maneira como a crítica especializada os equacionou, apropriou e/ou relacionou
no ambiente amplificado dos periódicos.
No nosso trabalho será, portanto, necessário analisar a maneira como o movimento
tropicalista lidou com o discurso nacionalista do samba e como tal movimento construiu seu
discurso legitimador, negando a ideia de uma brasilidade excludente das musicalidades exógenas.
Posteriormente, percorreremos tais embates no campo da crítica musical escrita simultaneamente ou
imediatamente posterior à emergência do tropicalismo, percebendo as diversas nuances discursivas
que tais críticos utilizaram para referendar ou não o tropicalismo. Para assim entrarmos de vez no
nosso objeto de pesquisa e analisarmos como ele equacionou os discursos, conceitos e noções
utilizados naqueles embates em uma revista de grande circulação, de alcance nacional, já na década
de 1980 e 90.
1.2.1 O discurso internacionalista do tropicalismo
Quando, em 1967, as músicas Domingo no Parque e Alegria Alegria, de Gilberto Gil e
Caetano Veloso respectivamente, foram ouvidas no III Festival de Música Popular da TV Record, o
estranhamento sentido por parte do público e do juri do festival apenas confirmou as discussões que
17
os autores das canções colocavam em jogo naquele momento. Até então, as canções participantes
dos festivais seguiam determinados modelos estéticos-ideológicos fruto do engajamento político
dos participantes dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Apesar de
não tão rígidos como quer passar certa leitura partidária, o modelo vigente na chamada MPB
expressava preocupação dos autores com uma tradição nacionalista que se aproximava das teorias
de Mário de Andrade sobre o artista como porta-voz da nacionalidade “capturada” nas
manifestações populares (TRAVASSOS, 2000). Tais pressupostos também estavam em consonância
com o papel do intelectual exposto no manifesto de Carlos Estevam Martins para o CPC
(CONTIER, 1998).
Ora, a dessacralização do herói popular feita por Gil na sua música Domingo no Parque vai
de encontro a tais modelos. O trabalhador ali sucumbe às tentações da paixão cotidiana cometendo
um crime banal. Sem qualquer consequência maior ou comentário político; a canção apenas retrata
o acontecido, de forma despretensiosa. Por outro lado, o comentário musical obtido pelos arranjos
do maestro Rogério Duprat potencializam a confusão e inserem o ouvinte de forma participante na
canção.
O estranhamento inicial, logo dá lugar ao sucesso da canção, e foi obtido através da fusão
musical destacada já na introdução, onde se misturam temas polifônicos, com gritarias lembrando o
ambiente de parques de diversões, sons que se fundem e aos poucos se transformam em um som de
berimbau – instrumento que dá o ritmo e pontua os acontecimentos que logo se farão notar. Os
timbres da guitarra elétrica são ouvidos ao final canção quando o crime de um enciumado feirante é
relatado. A capoeira evocada pelo som do berimbau é antes o anúncio de um crime, efeito sonoro de
associação, do que uma busca por sonoridades que imprimem valores tradicionais representantes da
brasilidade - o que os sons polifônicos e a guitarra confirmam. O procedimento de montagem, com
a união entre letra, música, sons e ruídos, lembram uma montagem do cinema moderno – como os
closes e as fusões eisenstenianas (CAMPOS, 2005). Uma piscadela estética para os artistas de
vanguarda.
Alegria Alegria, apesar de não ter arranjos tão complexos quanto a música de Gil, choca
com os ideais de uma MPB mais ortodoxa. É uma marcha, mas o é de uma nova forma. A letra e a
guitarra deixam claro tal mudança. O ambiente fragmentado é sentido com certa alegria por um
transeunte que passeia “entre fotos e nomes” com “olhos cheios de cores” e o “peito cheio de
amores vãos”. Um personagem sem nome que caminha no ambiente violento e multifacetado de
uma cidade grande qualquer e que, ao que parece, não se preocupa com os temas do engajamento
nacionalista. O personagem não está envolvido na luta de classes ou não passa por uma
transformação que o faz ter uma consciência de classe. A marcha de Caetano em nada lembra os
18
temas dominados por “violas” e “marias” presentes nas canções típicas daquele momento
(CONTIER apud NAPOLITANO, 1997). Nem mesmo quer validar seu discurso musical na
tradição – não naquela que colocavam o morro e o sertão como lugares onde a cultura popular
poderia ser encontrada “in natura”. Ele apenas “toma uma coca-cola” e se decide por “cantar na
televisão”.
O lugar da relação entre arte e política é deslocado na composição de Caetano. O compositor
retoma as experiências concretistas, olhando a realidade brasileira (tão cara à canção engajada) sob
um outro prisma. A relação com o público se dá pela inserção desse na montagem da canção, na sua
participação crítica como decifrador de símbolos; não pela aproximação psico-emotiva de uma
música como Disparada, do Geraldo Vandré. A referência a uma experiência urbana fragmentada,
assim como a música de Gil, entra em contato com a arte cinematográfica, do cinema moderno,
“como uma câmera na mão de Godard”, adianta Augusto de Campos (2005). Assim, o autor em seu
discurso quer romper com as barreiras do estabelecido como música nacional – ou pelo menos
assim valida seu discurso. Para isso institui uma nova forma de validação discursiva.
O discurso musical de Caetano e Gil, e dos simpatizantes do movimento tropicalista, é
pautado pela dicotomia “impasse” versus “evolução”. Essa dicotomia legitima o discurso musical
tropicalista na medida em que seleciona, organiza e institui formas de expressões musicais e
práticas estético-discursivas que servem aos seus interesses. Ou seja, localiza na MPB pós-bossa
nova, ligada aos CPC da UNE e apresentadas nos Festivais da Canção, uma série de características
que não estariam em consonância com as vanguardas artísticas e a modernidade. Desta forma, é
cunhado por Caetano Veloso o termo “linha evolutiva”. O termo se refere a uma certa tradição
musical brasileira que, não abandonando seu caráter local, acompanha as inovações técnicas e
estéticas da modernidade. Tal tradição teria seu inicio nas inovações estéticas da bossa nova, no
campo da música popular. O tropicalismo estaria, assim, “atualizando” aquelas inovações.
Assim, organizando e selecionando determinada tradição, o tropicalismo institui um olhar
perspectivo de forma linear sobre a história da música popular no Brasil, cindindo-a em dois pólos
opostos: um ligado à tradição nacionalista e outro à modernização da música. Pólo este que deveria
ser retomado, pois o pólo nacionalista, até então dominante, ao “folclorizar a música popular
brasileira” estaria atravancando sua evolução. Senão vejamos nas palavras do próprio Caetano
Veloso em famosa entrevista dada em 1966:
Ora a música brasileira se moderniza e continua brasileira, à medida que toda informação é aproveitada (e entendida) da vivência e da compreensão da realidade brasileira (…) Para isso nós da música popular devemos partir, creio, da compreensão da emotiva e racional do que foi a música popular brasileira até agora; devemos criar uma possibilidade seletiva como base na criação. Se temos uma tradição e queremos fazer algo de novo dentro dela, não só temos que senti-la mas
19
conhecê-la. É este conhecimento que vai nos dar a possibilidade de criar algo novo e coerente com ela. Só a retomada da linha evolutiva pode nos dar uma organicidade para selecionar e ter um julgamento de criação. Dizer que samba só se faz com frigideira, tamborim e um violão, sem sétimas e nonas, não resolve o problema. (…) Aliás João Gilberto, para mim, é exatamente o momento em que isto aconteceu: a informação da modernidade musical utilizada na recriação, na renovação, no dar uma passo à frente da música popular(...)” (Revista Civilização Brasileira apud FAVARETTO, 2000, p.39)
Ora, quando Caetano diz que “não só temos que senti-la [a tradição] mas conhecê-la”, quer
dizer que aquela tradição do samba resgatada pela MPB se baseia numa idealização, não em um
conhecimento que promove a inovação. Ele separa a busca do passado promovida pelo tropicalismo
daquela suposta idealização. Mais adiante na entrevista/manifesto completa: “não me considero
saudosista e não proponho uma volta àquele momento [a bossa nova joãogilbertiana] e sim uma
retomada das melhores conquistas (as mais profundas) desse momento”, diz. (Revista Brasileira
apud FAVARETTO, 2000, p.39). O músico, portanto, crava um punhal na história da música
popular, separando-a em duas linhas paralelas, distintas e irreconciliáveis. Mas o faz de maneira a
preservar o passado que o interessa. Como um prestidigitador, funda uma outra tradição.
1.2.2 A canção de protesto
As pesquisas de Arnaldo Daraia Contier (1998) nos mostram que as relações das canções de
protesto com o engajamento cepecista e as inovações técnicas e estéticas modernas eram muito mais
complexas do que quer a leitura ideológica do tropicalismo. Carlos Estevam Martins, sociólogo
ligado ao ISEB, redigiu o primeiro manifesto do Centro Popular de Cultura, em 1961. Esse texto
acabou se tornando o discurso oficial do projeto nacional e popular na cultura – sob uma ótica
marxista. Nele, Martins defendia uma “arte revolucionária destinada à conscientização política das
massas” (CONTIER, 1998, p. 4). Quer dizer, o manifesto defendia o engajamento da obra de arte
em detrimento das concepções formalistas. Os produtores de cultura deveriam estar atentos à
importância da integração social e política do artista no âmbito de uma determinada comunidade.
Esse programa pregava sem meias palavras que o artista deveria assumir o papel de militante
político, capaz de interferir na libertação do povo brasileiro e condenava o artista despolitizado,
alienado e alheio aos problemas sociais.
Nesse manifesto, Martins elegeu o artista-militante como porta-voz do novo. Ou seja, todo
músico deveria atingir esse ideal de engajamento político e social, através do que ele chamava de
arte popular revolucionária. Uma arte caracterizada “pelo seu conceito radical no campo da política,
20
almejando induzir o povo na busca da posse de si mesmo e adquirir a condição de seu novo drama”
(Contier, 1998, p.5). A partir daí que a canção de protesto ganhou a aura para os artistas e críticos. O
golpe militar de 1964 ajudou dando um inimigo palpável para combater. Tal canção deveria ter
clareza, simplicidade, tonalismo, temas sociais inspirados no folclore, tudo feito de maneira a
atingir o “povo brasileiro” (CONTIER, 1998).
Entretanto, ainda que houve certo rebaixamento estético em prol do didatismo em algumas
canções, as relações entre os signos sonoros e a política/linguagem variaram de compositor para
compositor. Contier (1998) aponta músicas como Ponteio, Borandá, Memórias de Marta Saré, de
Edu Lobo, Marcha da 4ª feira de Cinzas ou Influência do Jazz, de Carlos Lyra, com traços de
engajamento político nas letras, mas “os arranjos, as sonoridades aproximam-se de uma
modernidade não sintonizada com discursos verbalizados por Carlos Estevam Martins em seu
manifesto do CPC” (CONTIER, 1998, p.7). Assim, apesar das concepções de arte popular
revolucionária serem internalizadas pelos compositores engajados, por não existir um projeto
específico para a área musical e em função da historicidade das memórias sonoras desses
compositores e pela natureza polissêmica do signo sonoro, as sonoridades não reproduziam aqueles
modelos disseminados pelos discursos verbais do CPC. Desta forma, as letras das músicas estão de
acordo com tais modelos; mas as sonoridades, os arranjos, as melodias, aproximam-se de uma
modernidade que foge do esquematismo nacional-popular.
Ainda assim era interessante para os intentos de renovação que os tropicalistas propunham
estigmatizar a música popular engajada, a canção de protesto de base nacional-popular, como
“folclorizada” e “estagnada”. O que, aliado a transformações no próprio seio da MPB, como
repetição de temas e musicalidades; à censura do Estado Militar que reprimia a divulgação e
execução de músicas engajadas; à mitificação de alguns ídolos pela indústria fonográfica e
televisiva; além do desgaste do modelo de festivais e procura de novas faixas de consumidores de
música, levou ao esgotamento do modelo de canções baseadas no nacional-popular.
O movimento tropicalista, se aproveitando desse desgaste natural cunhou seu discurso em
cima de uma pretensa atualização da forma-canção, atacando o ponto fraco da MPB: o pop
internacional. O pop, por meio dos Beatles e da jovem guarda conquistava cada vez mais a
juventude, atingindo faixas de consumidores maiores e batendo de frente com a MPB. Caetano e
Gil se utilizaram da força propulsora que o pop oferecia para seus intentos de “modernizar a música
popular no Brasil”. Assumindo posturas tanto estéticas, quanto mercadológicas, de ataque frontal ao
modelo nacionalista, conseguiram chamar a atenção da imprensa que aproveitou o momento e
incendiou a rixa, tornando os compositores baianos rapidamente em heróis e o tropicalismo em
moda.
21
A postura e o discurso de modernização de Caetano e Gil, desde o início, chamaram a
atenção de artistas de vanguarda que passaram ao largo do modelo nacional-popular
(NAPOLITANO, 1997). Os músicos de vanguarda do grupo Música Nova (Damiano Cozzella,
Rogério Duprat e Júlio Medaglia, principalmente) que já há algum tempo procuravam formas de
inovação musical, perceberam nos tropicalistas a oportunidade perfeita para seus intentos, unir a
música popular à música erudita de vanguarda. Outro grupo de vanguarda que se alinhou aos
baianos foram os concretistas (Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari), dando o
suporte teórico necessário para a afirmação discursiva tropicalista. E partiu de um deles, Augusto de
Campos, a primeira defesa no campo da crítica musical ao movimento tropicalista, como veremos
adiante.
1.2.3 A crítica de primeira hora
Paralelamente à emergência do tropicalismo em todas as suas frentes (as músicas de Gil e
Caetano; o sucesso da peça O Rei da Vela, de Zé Celso; o filme Terra em Transe, de Glauber
Rocha), o debate cultural em torno do movimento ganha as páginas da mídia da época. Estamos
falando de 1968. Foi uma sequência de manifestos e reações, que, de uma forma ou de outra,
acabaram por consolidar o nome do movimento na mídia de massa. O primeiro manifesto foi escrito
por Nelson Motta5. Chamado de Cruzada Tropicalista, o crítico produziu uma paródia do ufanismo
conservador ironizando a realidade político-econômica do momento sob vestes tropicalistas. Foi o
bastante. O texto acabou provocando uma série de reações na mídia e arte em geral. Em seguida, o
poeto Torquato Neto escreveu Tropicalismo para Principiantes, um manifesto com conteúdo
programático do movimento, ainda que também em tom de blague. O caso é que ambos os textos
provocaram uma sequência de réplicas e artigos, alguns se posicionando contra, outros a favor dos
baianos. Ajudando, assim, a consolidar a palavra Tropicalia ou Tropicalismo na mídia e tornando-a
“moda cultural” (NAPOLITANO, 1997)
A blague e a paródia, mesmo utilizadas por seus entusiastas, compunham elementos difusos,
virando alvos fáceis de críticas, aguardando, portanto uma sistematização mais profunda. Ela viria
com o disco-manifesto Tropicalia – Panis et Circesis, lançado em 1968, e com a força
crítica/discursiva da aproximação com os poetas concretistas, principalmente após o lançamento do
livro Balanço da Bossa e outras bossas, de Augusto de Campos (2005), com uma coletânea de
textos com defesas de primeira hora por parte do autor aos procedimentos tropicalistas.
De qualquer maneira, o braço musical do tropicalismo acabou por direcionar o debate,
5 MOTTA apud NAPOLITANO, 1997.
22
devido à sua vitalidade, tanto midiática quanto crítica, e sucesso de maior alcance. Tendo os cabeças
do movimento agido como ponta de lança na imprensa, ao divulgar através de entrevistas alguns
dos pressupostos e aproximando a estética de outras manifestações artísticas. Gilberto Gil, em
entrevista em 1967, aproximou o movimento da estética internacional, ao afirmar que “a música
pop é a música que consegue se comunicar – dizer o que tem a dizer – de maneira tão simples como
um cartaz de rua, um outdoor, um sinal de trânsito” (GIL apud. NAPOLITANO, 1997). Enquanto
Caetano, em entrevista a Augusto de Campos, afirma que o movimento é comportamental e
musical. Além de provocar: “é também moda”, disse. Neste momento assumia publicamente o
nome tropicalismo dado até então “informalmente” pelos acontecimentos midiáticos e o aproxima
da antropofagia oswaldiana. “Acho bacana tomar isso que a gente está querendo fazer como
Tropicalismo. (…) O tropicalismo é um neo-antropofagismo” (VELOSO apud, NAPOLITANO,
1997). A polêmica se instala.
Chico de Assis, um dos nomes atuantes do CPC da UNE, ataca raivoso: “o tropicalismo
beira a pilantragem. Gil com seus gritos não agride a sensibilidade ou os valores, agride fisicamente
o ouvido” (ASSIS apud. NAPOLITANO, 1997). O compositor Sidney Miller escreve um longo
artigo que rebate o tropicalismo usando Mario de Andrade, contra a utilização de Oswald de
Andrade por parte dos baianos.
Não se pode querer ser universal quando universal tem dono. Comercialmente interessa mais não distribuir uma linguagem nacional, esquisita e apimentada, do que uma linguagem vulgar, por ser mais técnica e menos filiada a essa cultura específica, poderia ameaçar o produto original do país distribuidor, via de regra, tecnicamente mais perfeito e culturalmente mais gasto. (MILLER apud. NAPOLITANO, 1997)
O compositor afirma ainda que o tropicalismo, ao buscar referências no universo pop
internacional, não estaria atualizando esteticamente a música popular brasileira. Antes estaria
universalizando o gosto para afirmar a posição dos grupos que dominam o mercado. “Pura divisão
do mercado para vender” (NAPOLITANO, 1997).
O disco-manifesto dos tropicalistas acabou por selar a aproximação com os poetas
concretistas. O LP é uma suíte a emular o Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Bealtes,
lançado um ano antes. A capa traz todos os componentes do coletivo tropicalista: Caetano e Gil,
sentados segurando respectivamente fotos de Nara Leão e Capinam; Gal Costa ao lado de Torquato
sugerem um casal; Tom Zé aparece em pé a segurar uma mala de couro, como um retirante recém-
chegado do nordeste; ao fundo os Mutantes empunham guitarras, enquanto na esquerda o maestro
Rogério Duprat evoca Duchamp com um urinol servindo de xícara. As relíquias do Brasil são
montadas alegoricamente, uma a uma, em mosaicos musicais que aproximam Beatles, do
23
atonalismo, Bertold Bretch de Vicente Celestino e sincretismo religioso com crítica social
(FAVARETTO, 2000) . O arcaico e o moderno convivem sem formar sínteses, num ambiente
fragmentado e caótico. São 12 músicas, que mantém uma relação entre si, ora pela temática, ora por
um chamado de fábrica que liga duas canções.
Esse LP foi o grande acontecimento musical do movimento, definiu o movimento e formou
um coletivo; além de selar de vez a aproximação com os concretistas. O que se seguiu ao
lançamento do livro-manifesto de Augusto de Campos (2005), com a convergência tornada pública.
Ao lado do disco, o livro assume uma importância histórica por ser uma espécie de manual de
criação estética, crítica musical e tratado mais bem acabado sobre as proposições do movimento,
além de criar o termo TFM (Tradicional Família Musical). O termo enquadrada os inimigos de
forma homogênea e institui a “nova tradição” da família tropicalista.
A aproximação entre os dois grupos começou em 1966. No artigo Da Jovem Guarda a João
Gilberto, Campos (2005) já citava Caetano Veloso como um ponto importante da música popular,
por figurar entre a bossa nova de João Gilberto e a jovem guarda. Mas até então o tropicalismo era
apenas um embrião. Foi mesmo com o artigo O Passo à Frente de Caetano Veloso e Gilberto Gil
que Campos textualmente se posicionou a favor dos tropicalistas. Ali, o poeta retoma o tema central
do artigo anterior atualizando-o para a realidade com os baianos já em plena atividade. A saber: a
música nacionalista, na visão de Campos, apelava à teatralização e bel-canto, caindo em um
expressionismo grandiloquente que a bossa nova tinha afastado da canção popular. Por outro lado, a
jovem guarda, aquela detratada pelos emepebistas radicais, estaria mais próxima da “sobriedade” de
João Gilberto, portanto mais “moderna”. O texto ainda afirma que o iê-iê-iê estaria dando uma lição
na MPB justamente por essa descontração e proximidade do público. Para Campos, Alegria Alegria
e Domingo no Parque são justamente a auto-crítica necessária na música popular:
“[pois as canções] são, precisamente, a tomada de consciência, sem máscara e sem
medo, da realidade da jovem guarda como manifestação de massa de âmbito
internacional, ao mesmo tempo que retomam a “linha evolutiva” da música popular
brasileira, no sentido da abertura experimental em busca de novos sonos e novas
letras.” (CAMPOS, 2005, p. 144).
A citação à “linha evolutiva” não é gratuita. Faz parte do projeto discursivo tropicalista
endossado pelo poeta concretista. A defesa dos baianos não para por aí. Ainda em 1967 Campos
escreve A Explosão de Alegria Alegria (CAMPOS, 2005). O texto começa já aproximando a bossa
nova joãogilberteana da marcha de Caetano através de duas canções símbolo: Desafinado e Alegria
Alegria. Enquanto Desafinado, de letra de Newton Mendonça e música de Tom Jobim, defendida
por João Gilberto, seria um desabafo contra quem não queria novos conceitos harmônicos na
24
música popular, Alegria Alegria era um novo desabafo-manifesto contra aqueles que ameaçavam
interromper a marcha evolutiva da música popular brasileira. Por outro lado, coloca em oposição a
mesma Alegria Alegria e A Banda, de Chico Buarque. De acordo com ele, enquanto a segunda
mergulha no passado buscando pureza, a primeira se encharca de presente e “se envolve
diretamente no dia a dia da comunicação moderna, urbana, do Brasil e do mundo” (CAMPOS,
2005, p. 153).
É nesse texto que Campos nota a aproximação entre música popular e erudita através da
parceria entre Rogério Duprat e os baianos. Para além disso, cita pela primeira vez um parentesco
entre a Poesia Concreta e as letras tropicalistas usando Oswald de Andrade como ponto em comum
entre ambos. Tudo costurado de uma forma a opor as duas frentes – MPB tradicional e tropicalismo
– como visões diferentes de projeto para a nação. Escreve:
No estágio de desenvolvimento de nossa música, a discriminação proposta pelos “nacionalistas” só nos poderá fazer retornar à condição de fornecedores de “matéria-prima musical” (ritmos exóticos) para países estrangeiros. Foi a bossa nova que pôs fim a estado de coisas, fazendo com que o Brasil passasse a exportar pela primeira vez, produtos acabados de sua indústria criativa, e a ter respeitados, como verdadeiros mestres, compositores como Tom Jobim e intérpretes como João Gilberto (CAMPOS, 2005, p. 156)
Em artigo de 1968 intitulado É Proibido Proibir os Baianos (CAMPOS, 2005), escrito após
a polêmica participação de Caetano no III Festival Internacional da Canção, Campos continua na
sua cruzada para separar em dois pólos a música popular feita no Brasil. Naquela ocasião, o artista
baiano subiu ao palco acompanhado da banda Os Mutantes para defender a música É Proibido
Proibir. Vestidos em roupas de plástico, com um hippie norte-americano a fazer performances no
tablado, e arranjos atonais de Rogério Duprat, a apresentação foi imediatamente vaiada pela plateia.
Caetano em consequência fez um discurso que ficou canonizado nos anais da música popular
brasileira. O artista bradou em meio às vaias:
Mas é isso que é a juventude que quer tomar o poder?! (…) É a juventude que sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada!(...)Eu hoje vim dizer aqui, que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi Gilberto Gil e fui eu. Não foi ninguém, foi Gilberto Gil e fui eu! Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira. Se vocês, em política, forem como são em estética, estamos feitos (VELOSO apud FAVARETTO, 2000, p.141)
É contra esse “inimigo” que Campos escreve na ocasião. Antes de tudo, o poeta quer separar
semanticamente os detratores do movimento daqueles que professam seus preceitos. Para isso, é
25
claro e direto. Retira o “ismo” do nome do movimento. Escreve: “ismo é o sufixo preferentemente
usado pelos adversários dos movimentos de renovação para tentar historicizá-los e confiná-los”
(CAMPOS, 2005 p. 261). A partir de então passa a usar Tropicália. Ora, o que faz a não ser
historicizar e confinar seus detratores, homogeneizando-os sob a sigla TFM e vinculando-os a um
nacionalismo tacanho, sem contradições ou nuances? Ao “arrancar” o tropicalismo de seu tempo,
Campos pode fundar outra temporalidade a seu bel-prazer, narrando os acontecimentos de acordo
com uma narrativa que se pretende hegemônica. Desta forma, associa os baianos a uma teleologia
aberta para o novo. Ora os aproximando da vanguarda da música erudita, ora atentando para a
revolução que empreendem no campo da própria linguagem da música popular. Aquele
esgarçamento dos modelos de festival e da música popular de base nacional-popular é jogado toda
sob a responsabilidade dos tropicalistas. Eles foram os heróis que sozinhos derrotaram “a velha
ordem”. Campos escreve que Caetano e Gil subverteram a ideia de festival ao entrar na competição
para provocar a audiência, não para agradá-la. Além disso, eles explicitariam o jogo de fantasia que
os outros participantes escondiam.
Escrevendo entre 1969 e 1970, o tom de Roberto Scharwz (1978) é outro. O clássico texto
Cultura e Política, 1964-1969 pretende fazer um balanço da esquerda brasileira desde antes do
golpe militar até o começo da década seguinte. O tropicalismo é tratado desta vez com menor
devoção. Assim como Campos, Scharwz vê no movimento algo de a-histórico, não pelas mesmas
razões. Antes, o crítico expõe as incoerências em relação às intenções revolucionárias dos baianos.
Para ele, a hegemonia cultural da esquerda foi conquistada a partir de uma aliança com a burguesia
nacional caindo num marxismo de “tintura rósea” populista, mas de grande alcance entre a
intelectualidade e classe artística do país. O crítico aponta os pontos mais bem acabados dessa
hegemonia da cultura da esquerda na década de 1960. Entre elas está o Movimento de Cultura
Popular do Pernambuco, sob o romance Quarup de Antônio Callado, e o método Paulo Freire de
alfabetização. Além dos Centros Populares de Cultura do Rio de Janeiro, com teatros improvisados
em portas de fábricas, sindicatos, grêmios estudantis e favelas. Esse ventos revolucionários
favoráveis teriam, segundo Scharwz, sido barrados pelo golpe militar e posterior repressão. Para
ele:
O golpe apresentou-se como uma gigantesca volta do que a modernização havia relegado; a revanche da província, dos pequenos proprietários, dos ratos de missa, das pudibundas, dos bacharéis em lei, etc. (…) Depois de 64 o quadro é outro. Ressurgem velhas fórmulas rituais, anteriores ao populismo, em que os setores marginalizados e mais antiquados da burguesia escondem a sua falta de contato como que se passa no mundo (…) À sua maneira, a contra-revolução repetia o que havia feito boa parte da mais reputada poesia brasileira deste século; ressuscitou o cortejo dos preteridos do capital (Schwarz, p. 71, 1978)
O tom do crítico é duro, por se posicionar favorável àquela hegemonia cultural de esquerda,
26
que o peso do golpe militar rachou. E o tropicalismo seria um dos reflexos daquela contra-
revolução. Para Schwarz, enquanto a fase imediatamente anterior a modernização passaria pelas
relações de propriedade e poder, ideologia, chegando até as massas, o golpe de 64 foi a derrota
desse movimento. Com isso, o crítico vê um retorno de formas tradicionais e localistas de poder e
opressão. Aqueles arcaísmos e resíduos que seriam obstáculos aos avanços modernos, sobem
novamente à tona da realidade nacional. O que seria justamente a matéria-prima das alegorias
tropicalistas. O artifício retórico de Schwarz reconhece a característica do tropicalismo em
manipular símbolos reprimidos da matriz cultural brasileira e opô-las às manifestações da
modernidade que considerada libertadoras, para mostrar “as relíquias do Brasil”. Mas vê neste
procedimento uma submissão. Submissão aos anacronismos, grotescos à primeira vista, porém
inevitáveis à segunda, já que fruto daquele processo histórico e social. Coloca sobre o colo do
movimento a pecha de ambíguo; poderoso ao reconhecer a situação em que a cultura se encontra,
mas incapaz de resolver suas contradições. Como bom marxista, Schwarz cobra uma síntese dos
baianos. Escreve:
Sobre o fundo ambíguo da modernização, é incerta a linha entre sensibilidade e oportunismo, entre crítica e integração. Uma ambiguidade análoga aparece na conjugação de crítica social violenta e comercialismo atirado, cujos resultados podem facilmente ser conformistas, mas podem também, quando ironizam o seu aspecto duvidoso, reter a figura mais íntima e dura da contradição da produção intelectual presente. (…) O efeito tropicalista tem um fundamento histórico profundo e interessantes; mas é também um indicativo de uma posição de classe. (SCHWARZ, 1978, p. 75)
Schwarz vê nas alegorias tropicalistas o resultado primeiro da contra-revolução; um reflexo
direto da posição do Brasil, enquanto país periférico, na modernidade capitalista internacional,
como fornecedor de matéria-prima. Assim, aquelas atualizações modernas que Campos (2005)
celebra, Schwarz desdenha como símbolo de uma atualização ao capitalismo internacional. A
coexistência do antigo e do novo que o movimento evidencia paralisaria a crítica. “A imagem
tropicalista encerra o passado na forma de males ativos ou ressuscitáveis, e sugere que são nosso
destino, razão pela qual não cansamos de olhá-la” (SCHWARZ, 1978, p. 78)
Posterior a esse debate de primeira ordem, aparecem os textos de Celso Favaretto (2000) e
Heloísa Buarque de Hollanda (1989), ambos de fins da década de 1970. Esses textos tornaram
clássicos para os estudos dos anos 60 e sintetizam o fundo dos eixos percorridos pelos debates
acerca do movimento.
Favaretto, embora de maneira menos apaixonada e urgente que Campos, vê no tropicalismo
uma abertura cultural no sentido amplo, destacando a contribuição musical. O tropicalismo para o
estudioso deu autonomia à canção e tornou-a objeto verdadeiramente artístico (FAVARETTO,
27
2000). A alegoria, na maneira como utiliza os baianos, é um procedimento de deslocamento e
condensação, com alto poder simbólico imediato. Para ele, as imagens tropicalistas seriam próximas
das construções oníricas; seriam ambíguas, mas desmitificadora. Ao construir uma alegoria do
Brasil, descolonizaria a crítica. Desta forma, ele trabalha com a ideia de explosão tropicalista
(NAPOLITANO, 1998), que significou uma abertura político-cultural para a sociedade brasileira,
superando os temas de engajamento da década de 60. Produto de uma crise, que o movimento
mesmo apresentou os caminhos para a solução. Ao contrário de Schwarz, Favaretto não vê nisso
uma paralisia, mas ante uma nova forma de crítica cultural.:
Assim compreendida, a alegoria tropicalista das relíquias do Brasil não petrifica o absurdo como um mal eterno. As ambiguidades da linguagem tropicalista não podem ser debitadas a uma visão fatalista, em que a história é tida como decadência, porquanto não há originalidade primitiva alguma a recuperar. O tropicalismo atualiza versões do passado, expondo-as como objetos a ver, através do brilho intermitente de imagens que fisgam as indeterminações do Brasil e afirmando o que ele não chegou a ser. (FAVARETTO, 2000, p. 127)
Heloísa Buarque de Hollanda (1989) vê, por outro lado, que o tropicalismo é fruto do
desgaste dos projetos de poder da esquerda e do fim das vanguardas artísticas. O movimento seria o
produto direto daquela crise. Para Hollanda, os movimentos de vanguarda buscavam estar em
sintonia com as bases da modernidade e professavam certa tendência de esquerda desde pelo menos
a Semana de 22. O tropicalismo surge justamente desconfiando dos mitos nacionalistas e do
discurso militante dos populistas cunhados nos CPC pelas esquerdas nacionalistas. O movimento
percebe os impasses do processo cultural e o esgarçamento do modelo nacional-popular e desconfia
dos projetos de poder apresentados até então. “Na Tropicália não há proposta, nem promessa, mas
inclusive uma crítica à intelligentzia de esquerda” (HOLLANDA, 1989, pg. 63). Em suma, a autora
observa que o movimento era uma implosão de um processo mais longo. A exaustão de um modelo
que desembocava no que ela chama de “desbunde”.
Seguindo Napolitano, “em poucas palavras, no primeiro autor temos a explosão
colorida, uma abertura cultural crítica, liderada pelo campo musical. Na segunda, uma implosão
político-cultural, perda do referencial de atuação propositiva do artista-intelectual na construção da
história” (NAPOLITANO, 1988).
É esse debate de forte cunho acadêmico que acabou por dar a avaliação histórica e estética
do tropicalismo, definindo padrões e maneiras de se pensar o movimento. Após o momento de
radicalismo do surgimento do movimento, mesmo aqueles que lhe opõe, como fica demonstrado
com Schwarz (1978), não lhe negou a radicalidade e abertura para novas expressões estéticos-
comportamentais. O tropicalismo acabou, de uma forma ou de outra, consagrado como ponto de
clivagem/ ruptura da cultura brasileira dos fins da década de 1960. Tratado como face brasileira da
28
contracultura ou como braço “popular” da vanguarda. O movimento conflui exatamente no
esgarçamento do modelo nacional-popular como eixo cultural e político do Brasil e assume a ponta
nos debates e produções artísticas e críticas posteriores.
Assim, ao observarmos esse movimento da crítica de primeira ordem sobre o tropicalismo,
conseguimos expor os argumentos, as contradições e os discursos que se solidificaram em torno do
debate sobre o tema. Será possível, portanto, olharmos com maior cuidado para o contexto
imediatamente posterior e reconhecer de que maneira aquelas linhas de forças, algumas já
pacificadas, foram evocadas, ressignificadas ou refutadas. Podemos então analisar como a crítica
musical em uma revista de grande circulação (no caso a revista Bizz), especializada em música,
pode lidar, avaliar e produzir discursos sobre o movimento tropicalista. Faremos isso através da
análise da coluna Discoteca Básica no último capítulo.
29
Capitulo 2 - Metodologia
Neste capítulo descrevemos o caminho metodológico utilizado para o presente trabalho.
Para isso, a Análise do Discurso (AD) e os estudos sobre mídia por meio de autores como Eni
Orlandi (2003), Maria do Rosário Gregolin (2007), Michel Foucault (1996), Michel Pêcheaux
(2002) nos ajudam. Tais autores evidenciam relações entre a materialidade da linguagem tal qual
formulada pela AD e os discursos produzidos pelas diferentes produções sociais de sentido
realizadas pela mídia.
A AD é um campo de estudo que oferece ferramentas conceituais para a análise da
linguagem enquanto acontecimento, observando as relações dela com a memória, a história e o
ambiente social em que foi produzida. A mídia tomada como prática discursiva, produto de
linguagem e processo histórico, permite ao analista observar e analisar tais articulações;
evidenciadas pelos agenciamentos das redes de relações daquelas instâncias inscritas na sua prática
e materialidade (GREGORIN, 2007).
Assim, cremos, a AD possibilita uma compreensão das produções de sentido que a mídia de
massa reproduz, divulga, reinterpreta e constrói, constituindo, reformulando e deslocando
identidades e saberes. Para isso precisamos demonstrar a maneira como a AD se constitui enquanto
campo de saber, quais são suas ferramentas metodológicas, e como ela pode ser fundamental para
nosso trabalho.
2.1. A Analise de Discurso
Para conceituarmos a AD seguimos a introdução que Eni Orlandi (2003) esboça em seu livro
Análise de Discurso – Princípios e Fundamentos. Segundo a autora, a AD procura entender a língua
enquanto trabalho simbólico, relacionado com o sujeito falante. Tal sistema teórico vê a linguagem
como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Portanto, não trabalha a
língua como um sistema abstrato, mas com a língua no mundo. Desta forma, a AD, segundo
Orlandi, considera o homem na sua história, levando em conta os processos e as condições de
produção da linguagem. Assim, articula de modo particular os acontecimentos das Ciências Sociais
e o domínio da linguística.
Diferente da Análise de Conteúdo, que procura extrair dos textos um sentido, buscando o
que ele quer dizer, a AD considera que a linguagem não é transparente. Antes, para Orlandi, a AD
coloca a questão: como este texto significa? Há assim um deslocamento de “o quê” para “como”.
Não uma ilustração de algo de antemão já sabido. O texto considerado pela tradição da Análise de
30
Discurso tem uma coerência interna própria, uma materialidade.
A AD se constitui sobre o tripé Linguistica, Marxismo e Psicanálise, segundo Orlandi. Do
primeiro, busca a afirmação da não transparência da linguagem. Mostra que a relação
linguagem/pensamento/mundo não é direta, em única direção, mas se faz termo a termo. Cada um
com sua especificidade. Do Marxismo segue o legado do Materialismo Histórico, trabalhando a
língua em sua forma material (não abstrata) da maneira como é apresentada na história. Assim, trata
a língua não só como estrutura, mas como acontecimento. A contribuição da Psicanálise vem
através do deslocamento da noção de homem para a de sujeito. Este por sua vez se constitui na
relação com o simbólico, na história.
A Análise do Discurso se distancia do modo como o esquema da comunicação dispõe seus
elementos ao definir o que é mensagem. A AD, desta forma, não trata apenas da transmissão de
informação no esquema emissor/receptor/código/referente e mensagem; observa um processo de
significação, produção de sentido e constituição de sujeitos - não meramente transmissão de
informação.
Assim, a Análise de Discurso teoriza a interpretação, colocando-a em questão, distinguindo-
se da Hermenêutica clássica. Trabalha os limites da interpretação, seus mecanismos, como parte dos
processos de significação. Não há, portanto, uma verdade oculta por trás do texto; há gestos de
interpretação que o analista maneja e que deve ser capaz de compreender.
Orlandi salienta que a AD se responsabiliza pela formulação que desencadeia a análise.
Torna cada análise única, a partir da formulação inicial do analista, que mobiliza conceitos
diferentes para a descrição de objetos diversos e isso interfere no resultado. Assim, o pesquisador
organiza sua relação com o discurso, mobilizando conceitos específicos, levando à construção de
seu próprio dispositivo analítico. “Portanto, sua prática de leitura, seu trabalho de interpretação, tem
a forma de seu dispositivo analítico” (ORLANDI, 2003, P.27).
Esse arcabouço construído pelo analista é fundamentado pela estrutura básica da AD. Para
Pêcheux (2002), a análise deve reconhecer na língua o erro, o deslocamento que ele provoca e
institui. Observando aquele real da língua que mencionamos acima. O papel do equívoco, da elipse,
da falta, do jogo de diferença, desloca a obsessão da análise linguística pela ambiguidade. Abrindo
espaço para esse “outro”, surge a possibilidade de interpretar, que se instala na descrição real da
língua. Mas, salienta o teórico francês, não há confusão entre descrição e interpretação. O discurso-
outro, presença virtual na materialidade descritível da língua, é o que justifica e mantém a disciplina
da interpretação. Uma ciência régia, totalizante, para Pêcheux, ao buscar um discurso anterior
àquele analisado, ao ter uma chave a priori, nega a possibilidade da interpretação do real da língua
no momento em que ela aparece. Daí a necessidade do corpus próprio.
31
Esse corpus deve ser montado evitando o erro destas leituras antecipadoras, que apagam o
discurso como acontecimento em uma sobre-interpretação a priori. Ou como escreve o autor:
Deste ponto de vista, o problema principal é determinar nas práticas de análise de discurso o lugar e o momento da interpretação, em relação aos de descrição; dizer que não se trata de duas fases sucessivas, mas de uma alternância ou de um batimento, não implica que a descrição e a interpretação sejam condenadas a se misturar no indiscernível. (PÊCHEAUX, 2002, p. 54)
Foucault (1996), ao salientar que nossa sociedade fez de tudo para controlar, impor limites,
condicionar a produção de discursos, aponta alguns grupos de funções que facilitaria ao analista
reconhecer e afastar o que chama de logofobia. Para analisar esse temor social de produção de
discursos livres, o francês aponta que devemos optar por três grupos de funções: “questionar nossa
vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; suspender, enfim, a
soberania do significante” (FOUCAULT, 1996, p.51)
Ainda, o teórico levanta quatro princípios de método: descontinuidade, especificidade,
exterioridade e o da inversão. Esse último fala do reconhecimento do jogo negativo de um recorte e
rarefação do discurso. Enquanto a descontinuidade requer que os discursos sejam tratados como
práticas descontínuas, que se cruzam, mas também se ignoram e o excluem. Já a especificidade
mostra que não há o pré-concebido, que devemos decifrar; antes concebe o discurso como um
“violência que fazemos às coisas” (FOUCAULT, 1996, p.53). Por fim, a exterioridade requer o
reconhecimento da aparição do discurso enquanto tal, na sua forma exterior, não num núcleo
interior e escondido que devemos revelar.
De modo que o pequeno desnível que nos propomos introduzir e fazer atuar na história das ideias, e que consiste em tratar dos discursos enquanto séries regulares e distintas de acontecimentos e não em tratar das representações que possam existir atrás dos discursos, nesse pequeno desnível, receio reconhecer qualquer coisa como uma pequena (e odiosa talvez) maquinaria que permite introduzir na própria raiz do pensamento o acaso, o descontínuo e a materialidade. Triplo perigo que uma certa forma de história procura conjurar narrando o contínuo desdobrar de uma necessidade ideal. Três noções que deverão permitir ligar a história dos sistemas de pensamento à prática dos historiadores. Três direções que o trabalho de elaboração teórica deverá seguir. (FOUCAULT, 1996, p.53)
Segundo Orlandi, a escolha do corpus é em si um ato de escolha das propriedades
discursivas. É uma construção do próprio analista, que faz um recorte vertical, aprofundando no
material selecionado. Os dados, neste sentido, não são meramente ilustrações, eles tem
materialidade e memória próprias. Como se diz, o que se diz, em que circunstâncias, em suma, no
que o sujeito se marca, fornece pistas, deixa vestígios sobre como o discurso se textualiza. A partir
disso construímos, do material bruto, um objeto discursivo.
32
O objeto discurso não é dado, ele supõe um trabalho do analista e para se chegar a ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a superfície linguística (o corpus bruto), o dado empírico, de um discurso concreto, em objeto teórico, isto é, um objeto linguisticamente de-superficializado, produzido por uma primeira abordagem analítica que trata criticamente a impressão de realidade do pensamento, ilusão que sobrepõe palavras ideias e coisas (ORLANDI, 2003 p.66)
É preciso, assim, ir e voltar, recortar, transformar o texto em objeto discursivo, delimitando
suas fronteiras e localizando de que maneira o sujeito se insere e torna o texto transparente. O ir e
vir entre a teoria, a consulta e análise é constante.
2.2 O Discurso das mídias
Pensar a mídia como prática discursiva ajuda a apreender as relações que ela estabelece com
outros dispositivos sociais que circulam na cultura como um todo. Por isso optamos por seguir o
caminho que estabelece essas relações e compreende as mídias de massa como manifestações e
práticas em sua materialidade, observando aqueles preceitos levantados pela tradição da AD.
Seguimos assim o caminho trilhado por Gregolin (2007).
A autora analisa identidades reconstruídas a partir de exemplos retirados das mídias de
massa. Para isso, fundamenta seu trabalho nas ferramentas obtidas através dos estudos da Análise
do Discurso. A autora procura entender a mídia como prática discursiva, em sua materialidade, o
que permite estabelecer relações com a história e memória, deslocando, reafirmando e
estabelecendo sentidos e identidades em um jogo que envolve tanto o leitor quanto representações
em diversas instâncias.
Atentando para os efeitos de coerência e unidade construídas nos textos, a partir da
delimitação de acontecimentos discursivos, Gregolin observa que os textos da mídia permitem “ao
leitor produzir formas simbólicas de representação de sua relação com a realidade concreta”
(GREGOLIN, 2007, p.16). Por ser o principal formador da “história do presente”, a mídia modela
uma historicidade que nos atravessa e nos constitui, através de um jogo de
rememoração/esquecimento, que permite movimentos interpretativos e criação de sentidos
diversos. Os efeitos identitários nascem desta dança de sentidos.
Para isso atenta-se para o interdiscurso e o sujeito como ideologias aparentes. A autora
segue Pêcheaux ao observar que o interdiscurso não é transparente (não significa algo além dele
mesmo), e Foucault, ao não ver o sujeito como origem dos sentidos. Por isso, observa, a coerência é
um dos efeitos da construção discursiva. Fruto de controles, delimitações, classificações,
ordenações e distribuições de acontecimentos discursivos dispersos.
33
Estes agenciamentos que constroem uma unidade, segundo a autora, são bem visíveis nos
textos da mídia. Ao fazer um papel de mediação (expressa em seu próprio nome), a mídia não
oferece a seus leitores a realidade em si, mas uma construção dela. Formata assim uma
historicidade, constituindo sujeitos situados em relação ao passado que ela apresenta, de acordo
com uma leitura do presente. Observar esse movimento de constituição do discurso midiático, a
forma como ele se projeta em sua materialidade, a maneira como ele apresenta uma suposta
transparência do interdiscurso e forja um autor, dotado de coerência, podemos descrever e
interpretar os jogos de sentidos postos em relações com o ambiente social em que foram
produzidos.
Como dispositivo social, a mídia produz deslocamentos e desterritorializações. Ao mesmo tempo, o trabalho discursivo de produção de identidades desenvolvido pela mídia cumpre funções sociais básicas tradicionalmente desempenhadas pelos mitos – a reprodução de imagens culturais, a generalização e a integração social dos indivíduos. Essas funções são asseguradas pela ampla oferta de modelos difundidos e impostos socialmente por processos de imitação e formas ritualizadas, pois estabelecem paradigmas, estereótipos, maneiras de agir e pensar que simbolicamente insere o sujeito na comunidade imaginada. (…) A profusão dessas imagens age como um dispositivo de etiquetagem e de disciplinamento do corpo social. (GREGOLIN, 2007, p. 18)
A construção de um corpus através de uma série verticalizada permite traçar aquela rede de
conexões entre a produção de discurso e suas relações com a sociedade. Deste modo, escolhemos
para nosso trabalho a análise da coluna Discografia Básica, veiculada na Revista Bizz, uma revista
especializada em música de circulação nacional. Especificamente procuramos focar nos discursos
produzidos em torno do movimento tropicalista. Para isso, escolhemos analisar os textos referentes
aos álbuns considerados clássicos daquele movimento musical efetuada pelos colunistas. Assim,
poderemos apreender os agenciamentos que os discursos produzidos pelos jornalistas envolvidos
estabelecem, mas também analisar a maneira como esses discursos se constituem, se afirmam e
formam relações com outros tipos de discursos anteriormente produzidos sobre o mesmo objeto.
Enfim, como eles fornecem, utilizam e reconstroem ideias sobre brasilidade, cultura e música
brasileira.
No próximo capítulo iremos localizar brevemente o ambiente em a Revista Bizz surgiu, sua
história, especificidade e qual sua importância como marco na história recente da imprensa
brasileira e a função da coluna Discoteca Básica dentro da revista. Feito isso, partiremos direto para
a análise de nosso objeto.
35
Capitulo 3 – Análise e Discussão de Dados
3.1 Revista Bizz e Discoteca Básica
Analisar a história da revista Bizz ajuda a entender parte da formação da crítica de música
pop no Brasil. Durante quase duas décadas, a publicação foi a mais importante no segmento,
criando não só um corpo de profissionais da imprensa especializado em crítica cultural, como
alcançando um público que se estendia por todo o país. A publicação surge num momento de
abertura política, em que o mercado fonográfico e editorial passava mudanças e consolidação.
Observar como a crítica se estabelece e se legitima em torno dessas transformações, ajuda-nos a
entender não só o discurso da mídia, como a sociedade que o circunda.
Escolhemos analisar a coluna Discoteca Básica. Entendemos que analisar a sessão em
questão permite entrarmos em contato com mais propriedade com inter-discurso da crítica
formulada pela revista. A seção era dedicada especificamente ao jornalismo de opinião e tinha por
temática a análise de discos considerados “clássicos” pelo corpo editorial. As escolhas,
delimitações, jogos de sentido, evocações, silêncios perpetrados pelos críticos favorecem ao analista
perceber os efeitos de constituição de coerência e autoria presentes nos textos. Além de fornecer
rico material que diz muito sobre a constituição do discurso da crítica cultural no Brasil.
Para tanto, verticalizamos nossa análise em torno dos discos de artistas que participaram do
movimento tropicalista. Entendemos que essas críticas, constituídas num contexto diverso do
movimento, mobilizou representações da história pregressa do tropicalismo, seus discursos e
discursos da crítica, além de constituir uma discursividade outra, em relação ao corpo crítico da
revista, seus leitores e a sociedade em que emergiram. Os textos analisados foram Os Mutantes -
1968 (PAPPON, n10, 1986); Caetano Veloso - Transa (ABRAMO, n26, 1987); Tropicalia ou Panis
et Circencis (ABRAMO, n41, 1988); Tom Zé – Estudando o Samba (MUGNAINI, n49, 1989);
Gilberto Gil – Expresso 2222 (SOUZA, n126, 1995) e Gal Costa Fa-Tal a Todo Vapor (SOUZA,
n132, 1996). 6
Antes de entrarmos na análise dos referidos textos, precisamos percorrer a história da
revista.
3.1.2 A revista Bizz
A Bizz surge em 1985, imediatamente após a primeira edição do festival Rock in Rio. Fruto
do retorno da Editora Abril ao mercado de público jovem. O festival foi utilizado como laboratório
de amostras para definir a linha editorial da revista e público-alvo. No entanto, os diretores da
6 Os textos completos das críticas no Anexo I no fim do trabalho.
36
empresa tinham certo temor de que uma publicação do tipo tivesse o mesmo fim que as tentativas
anteriores7. Por isso, além da pesquisa, a cautela transpareceu na primeira edição da revista. Na
ocasião, não havia seção de resenha e crítica pois “havia muito medo por parte da direção no que se
referia a um projeto segmentado. Havia medo de ofender artistas, ofender as gravadoras”
(ALEXANDRE apud OLIVEIRA, 2011, p. 276).
O primeiro número foi às bancas em agosto de 1985 com Bruce Springsteen8 na capa. Ao
contrário do que temiam os diretores, foi um sucesso. Vendeu 100 mil exemplares; 60% da tiragem
mensal foi vendida em apenas uma semana. Além de mais de sete mil cartas foram recebidas na
redação da revista, demostrando a receptividade e ânsia do público uma publicação do tipo
(OLIVEIRA, 2011). Após esse inicio vitorioso, a revista durou, sem hiatos, mais de 15 anos.
Em 1995, porém, ocorreu uma alteração radical: o nome mudou de Bizz para Showbizz. O
formato, passando para um tamanho maior, a linha editorial e projeto gráfico foram modificados.
Tais mudanças buscavam a aproximação do público adolescente, privilegiando fotos e matérias
voltadas para a vida de ídolos pop, buscando a sobrevivência em um mercado bastante
multifacetado (SAID; ALVES, 2009). Depois dessas mudanças, a revista durou mais seis anos e
saiu de circulação em 2001. Sob nova direção e em outro contexto, voltou a ser relançada em 2005,
sob o antigo nome. Nessa nova roupagem, durou apenas dois anos, fechando as portas em 2007.
Na ocasião de lançamento da revista, o rock nacional era efervescente, com diversas bandas
e artistas surgindo e tomando conta das rádios. A indústria fonográfica buscava nesses grupos o
mercado consumidor jovem e urbano, que se firmava e consolidava. É nesse período que as
principais bandas e artistas da década de 1980 tiveram maior expressividade nas vendas e lançaram
seus maiores sucessos, sem concorrência com os já medalhões consagrados da chamada MPB. O
pop-rock dominava, então, os corações e a mente da juventude brasileira no período:
Em agosto de 1985, entre as 25 canções melhor classificadas em vendagens e execução das rádios, 18 canções podiam ser consideradas pop-rock, das quais sete eram nacionais (RPM, Guilherme Arantes, Metrô, Léo Jaim com Kid Abelha, Roupa Nova e Kiko Zambianchi. O rock nacional ganhava espaço entre o pop-rock internacional e a MPB mais comercial (GROPPO apud OLIVEIRA, 2011, p.278)
É com esse contexto que a Bizz lida em seus primeiros anos. O que explica parte de seu
sucesso editorial. Se naquele início, a crítica e resenhas não existiam, logo passaram a tomar corpo.
Anteriormente dominada por músicos ligados ao jornalismo, justamente para evitar um desgaste
com a indústria fonográfica e artistas, o ambiente interno da revista passou a mudar com a entrada e
7 A revista Rolling Stone chegou ao Brasil ainda em 1972, mas durou apenas 36 números – editados entre fevereiro e janeiro do ano seguinte. Enquanto a revista Pop, da mesma editora Abril, com maior aporte financeiro e voltado para um público mais jovem e amplo, durou sete anos. Mas foi uma publicação insipiente, com várias mudanças editoriais e gráficas (OLIVEIRA, 2011).
8 Revista Bizz, n.1, Editora Abril, 1985.
37
ascensão do jornalista José Augusto Lemos. Com ele, foi instituído um corpo crítico com seções
dedicadas à resenhas e jornalismo opinativo. Nesse período que se instituiu as seções fixas como:
Showbizz, Air Mail, Ao Vivo, Porão, Parada Bizz, Cartas e Discoteca Básica. Eis uma definição
sobre as seções:
A seção Showbizz é uma composição de notas informativas do que acontece no show business: identifica as bandas e artistas solo que as gravadoras estão apontando para as novas gravações; […] A seção Lançamentos analisa os novos discos, nacionais ou estrangeiros, que começam a circular no país. São pequenas críticas, normalmente assinadas pela equipe da Bizz. […] A Porão se encarrega de mapear o que está acontecendo no underground do rock brasileiro e internacional. […] Ao Vivo acompanha os shows por todo o país: é uma seção relativamente simples, do ponto de vista das informações, porque são sempre narrativas dos colaboradores da revista que tentam recriar uma atmosfera mais “quente” de sua cobertura, acompanhando o movimento das bandas nos palcos e ginásios. […] Ainda tem as seções Letras, que em 1989 transformou-se em uma publicação específica, com circulação mensal, trazendo letras traduzidas; a Bolsa de Discos […] é um gráfico, opinativo, no qual críticos da Bizz e de outras mídias avaliam – em termos de ótimo, bom, interessante, razoável e lixo -, alguns Lps. (SOUZA apud OLIVEIRA, 2011, p.288)
O corpo crítico montado por José Augusto Lemos, na primeira fase da revista, era composto
basicamente por duas gerações: a surgida na década de 1970 – com Ana Maria Bahian e José
Emílio Rondeau – e a que começava a dar seus primeiros passos na década de 1980: Marcel Plasse,
Arthur G. Couto Duarte, Lorena Calábria, Antônio Carlos Miguel, Valdir Montanari, Luis Antônio
Giron, Tom Leão e Leopoldo Rey. Além do corpo de redatores da revista: Alex Antunes, Sônia
Maia, Bia Abramo, Celso Pucci e Thomas Pappon. Essa é considerada a fase clássica da revista,
momento que ficou definido a linha editorial que a publicação seguiria. Esses nomes ainda hoje são
lembrados e seguem ativos na crítica cultural brasileira (OLIVEIRA, 2011).
Seguindo a análise que Oliveira (2011) fez da seção Lançamentos, após a formação desse
corpo crítico, é possível observar melhor a história da revista e como a linha editorial foi construída
durante os anos. Em princípio, de acordo com a análise, houve uma cisão entre jornalistas e artistas.
De um lado, os músicos reclamavam de uma indisposição da revista com artistas do mainstream do
rock nacional; de outro, jornalistas se assumiam com uma postura “política” diante daqueles
artistas. A posição dos jornalistas da revista fica bastante clara com o depoimento de Alex Antunes,
que Oliveira reproduz:
Queria que a Bizz fosse um veículo na contramão, com opinião própria, que não misturasse redação e departamento comercial. Queria investir no lado bad boy porque isso aumentaria nosso espaço de manobra. No Brasil, o hype é algo sempre confundido com corrupção. Toda tentativa de fazer hype que começa a espocar nas colunas já faz com que todo mundo reaja supermal, […] Fazer o papel de vilão nos emprestaria uma credibilidade a ser usada na hora de produzir coisas legais. Mas esses processo, às vezes fugia do controle. […] éramos destruidores do mainstream. Nos instalamos num departamento da indústria para prestar um desserviço e obstruir
38
a própria indústria. (ALEXANDRE apud OLIVEIRA, 2011).
Essa sensação de autoimportância acabou por direcionar os rumos críticos da revista. Tanto
que a partir de maio de 1988, na seção Lançamentos, foi instituída uma nova maneira de fazer
crítica na revista: dois críticos passaram a avaliarem o mesmo LP. Uma tentativa de dar equilibrio e
diminuir as reclamações de artistas e leitores de uma suposta parcialidade. A prática não durou
muito. Apesar disso, Oliveira (2011) observa nuances, em que artistas mainstream como RPM eram
elogiados por sua qualidade técnica ou o Legião Urbana, que parecia manter traços louváveis de seu
período inicial.
O fato é que a consolidação da revista é coincidente com o período áureo do mercado do
rock brasileiro. O ápice desse mercado se deu de 1985 a 1987, exatamente o momento em que a
Bizz viveu seu auge em vendagens e repercussão, junto ao mercado, aos leitores e aos artistas. Já
em 1989, com o Plano Collor, e o ambiente recessivo, além do avanço da música sertaneja, do
mercado voltado para o público infanto-juvenil e a entrada da MTV no Brasil, a revista se vê
obrigada a buscar novos rumos. A partir daí, Oliveira (2011) observa três períodos distintos dentro
da seção Lançamentos: 1) permanência daquele tom severo destacado anteriormente; 2)
abrandamento do tom crítico, com entrada de jornalistas mais qualificados, assumindo postura
analítica; e 3) a partir de 1998 a revista assume um tom nostálgico, com reportagens de ídolos
consagrados, relembrando a fase áurea do mercado e da revista.
A troca de nome e formato em 1995 é uma resposta direta à fase difícil do mercado. A
Showbizz em sua roupagem mais adolescente e com ênfase na vida de artistas pop e fotos dura até
2001, quando a revista é vendida para a Editora Símbolo. Essa mudança trouxe o nome original de
volta. Sai de lado aquelas reportagens “descompromissadas” e entra uma série de reportagens sobre
os primórdios do rock brasileiro. Mas não durou muito, a revista foi descontinuada ainda em 2001
(OLIVEIRA, 2011).
A Bizz volta ao mercado em 2005. Adriano Silva, diretor do Núcleo Jovem da Editora Abril,
e o jornalista Ricardo Alexandre decidem publicar novamente a revista, seguindo uma brecha que
os jornalistas daquela sessão da empresa tinham para lançar edições especiais. Esse retorno foi
muito mais fruto de uma atitude nostálgica de alguns jornalistas do que propriamente uma análise
de mercadológica. O que fica claro nos subsequentes fracassos de vendas.
É importante ressaltar que não houve uma pesquisa – diferente do lançamento oficial da revista, em 1985 – que apontasse o público que tinha uma predisposição a consumir o tipo de informação que seria veiculado pela nova Bizz. Como afirmou Ricardo Alexandres, “o processo foi totalmente empírico. Começamos fazendo uma revista cujo aspiracional era o de leitores de mais de 30 anso, que seriam – deveriam ser – impactados pela marca BIZZ. Acontece que essa faixa etária, seguindo o próprio Ricardo Alexandre, “não sustentava uma operação minimamente viável para a Abril”. (SAID ;ALVES, 2009).
39
A estratégia adotada para manter a revista viável com poucas vendas era concentrar os
esforços na comercialização dos espaços publicitários, com projetos comerciais e ações
publicitárias em parcerias. Mas o negócio não se sustentou. O último número da Bizz saiu em julho
de 2007 com Los Hermanos na capa. Na ocasião, o grupo anunciou um recesso por tempo
indeterminado, o que foi aproveitado pela revista para também se despedir. A capa trazia a
manchete: O último show. A foto de capa trazia o grupo carioca com seus integrantes cabisbaixos.
Uma despedida melancólica.
3.1.2. Discoteca Básica
A Discoteca Básica foi publicada desde o primeiro número da revista. Analisava álbuns que
o corpo editorial da revista considerava como clássicos e essenciais para a formação do leitor.
Funcionava mais ou menos como um guia didático de discos que a revista classificava com
históricos e indispensáveis para um colecionador. A seção aparecia normalmente na última página
da revista, fórmula tradicional nas publicações mensais e semanais do Brasil. A seção era
essencialmente uma coluna, em que a visão pessoal do jornalista prevalecia sobre a descrição da
obra analisada. O jornalista era escolhido normalmente por afinidade ao artista ou banda analisada,
havendo uma rotatividade na redação, estabelecendo uma busca por variedade de estilos, artistas e
gêneros. A tendência era que os artistas ou discos analisados não se repetissem, embora nem sempre
foi possível manter esse acordo9. Nos primeiros anos da revista, a diagramação da seção era
simples, com apenas imagem da capa do disco analisado, a retranca com o nome da coluna
destacado e o nome do artista e do álbum. Com o tempo, a coluna passou a ter título, olho, foto da
banda, ficha técnica com faixas e descrição de lançamento, além de uma frase de algum artista
famoso sobre a obra (SOUZA apud OLIVEIRA, 2011).
Ao todo foram 215 Discotecas Básicas publicadas, número coincidente com as edições da
revista10. O primeiro disco analisado foi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles,
assinado por José Emilio Rondeau. A última coluna foi do disco do Cartola (1976), assinada pelo
9 The Beatles, entretanto, aparece duas vezes: no primeiro número da revista, com o disco Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band e Revolver, na edição 191, de junho de 2001. Já o Pet Sounds, do Beach Boys, aparece na edição 23, de junho de 1987, e exatamente cem edições depois, com crítica assinada por Sérgio Barbo, em 1995. Enquanto David Bowie aparece com o álbum Low, no segundo número (setembro de 1985) e com Hunky Dory, na edição 189, de 2001. As recorrências podem ser explicadas pela mudança na direção editorial da revista. No caso da repetição do Pet Sound, a ideia era que com a mudança de Bizz para Showbizz, ocorrida em 1995, começaria uma nova fase na revista, portanto, seria possível a repetição de discos, o que acabou não se concretizando.10 Todos os textos da coluna podem ser lidos no sítio http://rateyourmusic.com/lists/list_view?
list_id=133037&show=50&start=0 (acessado em 21/06/2013).
40
jornalista Pedro Alexandre Sanches, na edição 215, de julho de 2007. Há a predominância de discos
de pop/rock nacionais e internacionais, embora há inserções de álbuns de jazz, samba, blues e soul.
Embora, como aprofundaremos melhor adiante, tais aparições podem ser interpretadas como parte
de uma tendência ao rockismo por parte da revista.
O primeiro álbum brasileiro analisado foi Amoroso (1977), de João Gilberto, assinado por
Nelson Motta, na edição 8, de março de 1986. Nela, o crítico usa palavras como “perfeito”,
“sofisticado”, “mitológico” e “precisão” para enfatizar a genialidade do músico. Além disso,
aproxima sua crítica daquela tropicalista ao evocar a "universalidade do regional" em Mario de
Andrade e o antropofagismo de Oswald de Andrade presentes na música de João Gilberto. Duas
edições depois, Thomas Pappon (1986), jornalista e músico integrante da banda Fellini, escreveu
sobre Os Mutantes (1968), disco da banda homônima. Primeiro álbum propriamente tropicalista
que aparece na coluna, com quem começaremos nossa análise.
3.2. Análise
3.2.1 Os Mutantes
Os Mutantes foi a primeira banda de rock nacional a ser analisada pela coluna, não por
acaso. Ela tem em torno de si uma aura que reluz à distância, em meio às tantas manifestações do
gênero no Brasil. A primeira característica para esse escolha é ser considerado um dos mais
inventivos grupos da década de 1960. Outra característica, ligada à primeira, é que, em meados da
década de 1980, data da análise do colunista, Os Mutantes estavam “esquecidos”, tanto pela mídia,
quanto pelo mercado. Como um banda tão criativa poderia estar sumida da memória dos
brasileiros? É a resposta que Thomas Pappon (1986) pretende dar. Seguimos o jornalista no texto:
A conhecida “falta de memória nacional” nada mais é do que a falta de disposição, compreensão e competência das instituições – desde o governo até a imprensa especializada – em apoiar a produção e preservação da cultura brasileira. Não é à toa que muita gente busca no rock americano ou inglês a sua fonte única de inspiração e conhecimento, enquanto as pérolas da MPB permanecem no esquecimento. (PAPPON, 1986)
A “falta de memória nacional” é a primeira expressão que salta do texto de Pappon. A
materialidade das palavras ali agenciadas evoca símbolos que remetem o leitor a um contexto
político amplo, a uma ideia de nação cravada no inconsciente coletivo. Falar sobre a “falta de
memória nacional” é uma tentativa de aproximar o leitor de um posicionamento político atávico,
41
que requer dele o enfrentamento, a crítica, um certo olhar sobre as instituições. O jornalista coloca a
imprensa especializada nesse jogo. Ela também faz parte dessas instituições que merecem ser
julgadas pelas falhas que cometem. E a falha é clara: “falta de disposição, compreensão, e
competência (…) em apoiar a produção e preservação da cultura brasileira” (PAPPON, 1986).
Temos aí uma série de agenciamentos que armam o discurso crítico. A “cultura brasileira”,
evocada no trecho selecionado, é o contraponto daquela “falta de memória”. Rincão simbólico que
necessariamente deve ser preservado. Vaga, abstrata e impalpável, mas que exerce seu peso
material no discurso. É em torno dela que o sujeito se mostra e se esconde. É por ela que texto luta,
para ela que o autor quer conquistar o leitor. Figura pálida que funda o sujeito. “Não é à toa que
muita gente busca no rock americano ou inglês a sua fonte única de inspiração e conhecimento”,
continua Pappon (1986). O esquecimento com que as instituições recobre a cultura brasileira
forçaria “muita gente” a buscar em outro lugar, que não nela própria, a inspiração. De quem
estamos falando senão do rock nacional oitentista? Não se dizia que Paralamas do Sucesso era um
“subPolice de província?” (ANTUNES, apud OLIVEIRA, 2011, p. 295).
A solução para o impasse seria a MPB esquecida. Mas ela está recoberta pelos escombros da
História. O presente massacra a riqueza que ela tem. Seria tarefa do discurso trazer essa riqueza à
tona. A pérola é resgatada pelo crítico, que presenteia ao leitor, seu parceiro na empreitada de salvar
a cultura brasileira das garras do esquecimento. Continuamos com o texto do jornalista:
A MPB está na pior – não temos qualquer música vital, forte ou espirituosa. Mas há vinte anos não era assim. Houve a bossa nova, a tropicália (anote aí: “bossa nova” não é invenção da vanguarda londrina), coisas que poderiam dar um forte impulso ao rock nacional, em busca de identidade. Realmente, não é justo que só a tal “geração AI-5” tenha conhecido o primeiro LP dos Mutantes, lançados em 68... eis as pérolas! (PAPPON, 1986)
Estamos na década de 1980, o tropicalismo não tinha mais aquela carga explosiva que o
diferenciava da MPB. Talvez fruto daquele mesmo esquecimento que deveríamos lutar contra.
Pappon (1986) relembra a história para o leitor confuso. A bossa nova e a “tropicália” estão
escondidas sob o véu de esquecimento uniformizador da sigla MPB. Seu poder de vanguarda está
contido, já que a MPB está na pior. É preciso relembrar seus nomes. Separá-las, dar de volta seu
lugar na História. Emergir com as pérolas na mão, diz o discurso. “Houve a bossa nova, a
tropicália” (PAPPON, 1986), ambas, lado a lado, compõem aquele par inseparável que o discurso
tropicalista instituiu e que a crítica posterior arregimentou. Eis a “linha evolutiva” de volta.
Relembramos que “ismo é o sufixo preferentemente usado pelos adversários dos movimentos de
renovação para tentar historicizá-los e confiná-los” (Campos, 2005, p. 261). O discurso tropicalista
42
reaparece triunfante.
Mas aqui o discurso tropicalista serve a outro senhor. O sujeito que emerge quer salvar a
cultura nacional, que sofre por não ter “qualquer música vital” (PAPPON, 1986). O rock nacional
seria o agente capaz de reavivá-la, através do forte impulso que o tropicalismo poderia dar. Para
isso o discurso traz à tona outra expressão que tem o poder de evocar símbolos atávicos: a“busca da
identidade”. Essa busca é uma missão, tanto quanto salvar a “cultura nacional”. Buscar a
identidade é lutar na história do discurso, é trazer do passado, simbolos, sentimentos, imagens e
palavras que forjam instituições. Instituições outras que não aquelas que esquecem. Aqui o discurso
remomera questões como mestiçagem e unidade nacional, aquelas mesmas que fundaram nossa
ideia de nação (VIANNA, 1995). Argamassa que reforça a estrutura moldada pelo tropicalismo em
torno da antropofagia oswaldiana (NAPOLITANO, 2001). Buscar aquela identidade é trazer de
volta a vitalidade para a música, o que passa necessariamente pelo resgate de Os Mutantes.
Após essa preleção, Pappon (1986) fala do disco propriamente dito. Descreve cada uma das
dez músicas do álbum com loas aos arranjos de Rogério Duprat: “isso com orquestração digna de
aberturas wagnerianas”; ou à inventividade dos componentes da banda: “O Relógio, de autoria do
grupo, um dos grandes momentos deste lado, graças à estranheza do contraste entre a melodia leve
e o non-sense da letra” (PAPPON, 1986). Já no fim do texto voltar a falar daquelas questões caras
ao discurso:
Sem nenhum preconceito, os Mutantes fizeram uma viagem psicodélica pela música universal, bastante influenciados pelos Beatles e auxiliados pelas partituras mágicas de Rogério Duprat. É um disco de MPB, tratado com o espírito efervescente da época, o espírito de libertação das formas e padrões. Por isso é um disco que os roqueiros brasileiros devem conhecer. Junte-se ao coro dos que exigem o relançamento dos LPs dos Mutantes. "Tem que dar certo..." (PAPPON, 1986)
A MPB volta depois de o desfile histórico evocado pelo discurso rememorar o poder que
concentra por trás de sua sigla. A MPB não é mais aquela que “está na pior”, mas a que porta a
condição de dar aos “roqueiros brasileiros” a identidade que os salvariam de ser eternos repetidores
da música estrangeira. Esse poder só pode ser acionado pelo resgate de Os Mutantes da “falta de
memória” que acomete nossas instituições. O crítico e o leitor são parceiros nessa missão.
3.2.2 Transa
Desde aquela crítica de Os Mutantes demorou cerca de um ano e meio para outro artista
brasileiro figurar na Discoteca Básica. A edição 26 da Bizz de setembro de 1987, que trazia Dinho
Ouro Preto da banda Capital Inicial na capa, analisou em sua última página o disco Transa (1972),
43
de Caetano Veloso. Outra vez, não se trata de uma coincidência. A revista parecia seguir a “linha
evolutiva” para a análise de “clássicos” da música popular brasileira. E dentre os álbuns de Caetano
Veloso foi escolhido o que tem uma dosagem maior de rock em suas canções.
O artista baiano, quando gravou o disco, estava exilado em Londres, onde acompanhou in
loco a efervescência da cena roqueira local. Viu shows dos Rolling Stones, Jimmy Hendrix e Led
Zeppelin e, assim como Gilberto Gil, passou a incorporar a sonoridade daquelas bandas em suas
composições. Após uma breve passagem pela Bahia, em 1970, por ocasião do aniversário de
casamento dos pais, Caetano voltou para o exílio londrino e convidou Jards Macalé para tocar
violão, o percussionista Tutti Moreno e Moacir Alburquerque para o contrabaixo. Uma banda
montada para ser uma fusão entre um trio de rock e um grupo de brazilian jazz/bossa nova. O
álbum foi gravado em quatro sessões e o inglês Ralph Mace, tecladista em “The Man Who Sould
the World” (1970), um dos maiores sucessos de David Bowie, assinou a produção (VELOSO,
1997).
Bia Abramo escreveu a crítica da Discoteca Básica. Ela entrou para o cenário jornalístico
nos anos 1980. Não possui formação acadêmica na área, entretanto, é formada em psicologia pela
USP. Na revista Bizz, atuou um ano como redatora e logo assumiu o cargo de editora assistente.
Assim como Pappon, Abramo conta a história do tropicalismo:
No fim da década de 60 a música brasileira passava por um impasse. A força inovadora da bossa nova - a possibilidade de se fazer uma leitura sofisticada e universal do samba - já havia passado do auge. Os continuadores da bossa nova descambavam para a chamada "música de protesto". Na vertente oposta, a versão local do "iê-iê-iê", a jovem guarda não primava pela criatividade. A tropicália implodiu a questão quando fez a ponte entre essas duas atitudes aparentemente inconciliáveis. A liberdade formal do tropicalismo foi um sopro de novidade. Seestendia desde a escolha dos ingredientes de sua geléia geral - de Vicente Celestino aos Beatles, passando (claro) por João Gilberto, - até roupas e capas de disco, fortemente influenciadas pelo psicodelismo. (ABRAMO, 1987)
A história contada por Abramo (1987) não tem contradições; reina absoluta. Exatamente
aquela mesma história contada pelos tropicalistas e seus críticos. Está ali o “impasse”, palavra
central que deforma a gravidade do texto e conduz o discurso para um universo plano. O impasse
institui a luta entre bossa nova e a MPB engajada. Rememoração de um passado mitológico onde
os titãs reinavam. Traz à tona de volta Campos (2005) e sua retirada do tropicalismo do tempo. O
discurso relembra aquela dicotomia que instituiu os tropicalistas como abertos ao novo, voltados
para o futuro, e a MPB engajada estagnada num eterno passado. Polaridade que requer
posicionamento político de quem a olha. O sujeito que ali emerge precisa se posicionar, não há
escapatória. “A tropicália implodiu a questão quando fez a ponte entre essas duas atitudes
44
aparentemente inconciliáveis” (ABRAMO, 1987). Mas a jornalista, assim como a “tropicália11”,
resolve o impasse criado no próprio discurso: implode a ponte que separa a MPB do tropicalismo e
não deixa escolhas, apresenta o tropicalismo como vitorioso por pacificar todas as tensões. Resta à
crítica celebrar a vitória.
Continua mais a frente:
Se o tropicalismo foi uma resposta pop aos tradicionalistas da MPB, Transa é uma espécie de reflexão em tons cinzentos sobre esse período. (...) Não só pelo fato de ser cantado em inglês e português, mas por transitar em duas linguagens musicais: o rock e a MPB. Mesmo recheado de referências e citações dos Beatles ("Woke up this morning/ singing an old beatle song", em "It's a Long Way") e da bossa nova (trecho de "Chega de Saudades" que Gal canta em "You Don't Know Me"), ele declara sua independência de compromissos com qualquer forma de fazer música. (ABRAMO, 1987).
O jogo de palavras entre transa e transitar expresso no texto, nos remete à fluidez que o
discurso quer passar. Aquelas tensões entre formas discursivas opostas estando pacificadas pelo
próprio discurso tropicalista, resta o sujeito deslizar sobre si mesmo. Reafirmar sua forma
simbólica, reforçar sua vitória diante da narrativa histórica. O rock e a MPB, dois traços antes
opostos pela guerra simbólica, agora servem à reificação do referente. Nada escapa à sua narrativa.
Assim as referências e citações a Beatles convivem harmoniosamente com bossa nova e deságua
numa “independência de compromissos”. O discurso matou a história e serve-se do prazer de reinar
absoluto sobre as contradições. Gregolin (2007) lembra-nos que a mídia formata uma historicidade,
constituindo sujeitos situados em relação ao passado que ela apresenta, de acordo com uma leitura
do presente. O tropicalismo foi o agente deste procedimento de constituição de uma realidade.
E continua:
Transa é um exemplo de como podem ser inteligentemente trabalhadas as referências folclóricas e as cosmopolitas, o simples e o sofisticado. O resultado é o melhor disco de Caetano Veloso - que, apesar dos Meninos do Rio e outras babas afins posteriores, já teve momentos realmente brilhantes como compositor e letrista. E uma dica para quem tem má vontade com a música brasileira. (ABRAMO, 1987).
Depois das dicotomias resolvidas, resta polaridades. Palavras como “folcóricas”,
“cosmopolitas”, “simples” e “sofisticado” aparecem não como contradições, mas tem o papel de
reforçar a vitória do discurso. Soam como oxímoros. Não há mais contradição, apenas a celebração
da força do movimento tropicalista. O resultado de tais polaridades que se reforçam é quase
matemático: “o melhor disco de Caetano Veloso” (ABRAMO, 1987). Agora o texto pode voltar
soberano para o presente e relembrar que a MPB “está na pior”. Mas o trabalho já havia sido feito: o
discurso midíatico ofereceu ao leitores uma construção da realidade, uma historicidade formatada,
11 O “ismo” novamente desapareceu, deixando para trás a temporalidade do movimento musical, conforme apontado por Campos (2007).
45
conforme nos atentou Gregolin (2007). Ou nas palavras de Abramo (2007), forneceu “uma dica para
quem tem má vontade com a música brasileira”.
3.2.3Tropicália ou Panis et Circencis
A mesma Bia Abramo (1988) analisou o disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circencis
(1968). Antes, porém, dois discos brasileiros apareceram na Discoteca Básica: Ou não (1975), de
Walter Franco, e Acabou Chorare (1972), dos Novos Baianos. O primeiro foi analisado na edição
33 (1988), o segundo na edição 38 (1988). Novamente, a revista segue a “linha evolutiva” do
discurso tropicalista na hora de escolher os álbuns. O próprio Caetano Veloso (1997) cita o LP de
estreia de Walter Franco como referência na hora de fazer o álbum experimental Araçá Azul,
lançado em 1974. Os procedimentos de vanguarda tropicalistas, como o uso da tecnologia de
estúdio, aproximação com o concretismo e dodecafonismo (Campos, 2007) são radicalizados por
Franco. Enquanto os Novos Baianos seguem explicitamente a “linha evolutiva”, como uma
“atualização” dela. Assim, o terreno pisado pela Bizz não é dissonante, segue a narrativa do
discurso tropicalista mesmo internamente na escolha dos álbuns analisados.
Tropicália ou Panis et Circersis aparece na edição 4112. O disco, conforme já dito no
Capítulo 1, foi gravado e lançado coletivamente, como um manifesto de intenções estéticas e
musicais do grupo. São 12 faixas que compõem uma suíte, a evocar o Sgt Peppers Lonely Heart
Club Band, dos Beatles. Foi lançado originalmente em 1968 e tem a maioria das canções compostas
por Gilberto Gil e Caetano Veloso, embora apareçam músicas de Os Mutantes, Tom Zé, Torquato
Neto e Vicente Celestino.
Bia Abramo (1988) começa o texto com citações dos membros do coletivo de artistas e
depois segue com um mosaico multifacetado de referências históricas. Cita Rogério Duprat,
Gilberto Gil e Torquato Neto, passa por uma citação referencial onde aparecem os nomes de Nara
Leão, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Os Mutantes, Jefferson Airplane e Mamas
& the Papas. Em seguida, continua:
Maio de 68. Vietnã. Barricadas em Paris. Passeata dos cem mil, Rio de Janeiro. Primavera de Praga. Marthin Luther King. Flower power, 2001 – Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Ai-5. Panteras negras. Arte Pop. Crimes, espaçonaves guerrilhas. Não são absolutamente memórias pessoais. Fragmentos da iconografia da época. O primeiro passo quando a tarefa é falar de alguma obra emblemática de uma época (sobretudo se você não esteve lá) é pesquisar todo o material disponível para reconstituir o clima e os acontecimentos que foram desaguar naquele produto em particular. Mas um discomanifesto como o
12 Bizz, n.41, Editora Abril, 1988.
46
Tropicália ou Panis et Circencis fala por si só. E o que ele fala? (ABRAMO, 1988)
A enumeração de elementos díspares, compõe um ambiente discursivo fragmentado. O
mosaico construído com referências de lugares, datas, eventos, filmes e nomes evoca o ambiente
político/cultural da década de 1960, contexto histórico que produziu o tropicalismo. Evoca também
o próprio procedimento estético das canções do movimento, particularamente Alegria, Alegria, de
Caetano Veloso. A narrativa conduz sem descontinuidades ou contradições do ambiente macro para
o específico da canção. Cita textualmente a música (“crimes, espaçonaves, guerrilhas”), até
desembocar no universo íntimo: “não são absolutamente memórias pessoais”. Mistura política,
estética e subjetividade, como um típico produto daquele período. Ainda exige do leitor aquele
envolvimento participante que Favaretto (2000) aponta como um dos trunfos estéticos do
movimento. Ou seja, o texto mimetiza o tropicalismo, para provocar no leitor empatia e
aproximação com o objeto. Assim, crítico, leitor e objeto se tornam confidentes.
Como nas análises anteriores, observamos aqui também a necessidade de o crítico construir
uma narrativa histórica para situar o leitor. Desta vez, porém, a jornalista expõe textualmente esse
procedimento. Apresenta o ambiente da época, mas também sua materialidade enquanto texto. Para
isso se define enquanto autora, expondo as dificuldades e dúvidas de se dizer sobre aquilo que não
se presenciou e sobre a obra. A metalinguagem que Barthes (2007) aponta como característica
primeira da crítica. “Sobretudo se você não esteve lá”, a autora se revela. Assume a condição de
leitora daquela linguagem segunda de Barthes. Expõe também a trama que define o leitor como
uma projeção, uma antecipação, um “outro” residente no seio do próprio discurso (PECHEAUX,
2002). O leitor é aquele mesmo jovem da década de 1980 que a revista se direciona enquanto
produto editorial, por isso ele não esteve lá. Por isso é preciso construir um ambiente de mediação.
E como se dá esse ambiente de mediação, já que a autora se revela nas dificuldades de se
dizer sobre a obra? É preciso colocá-la, a obra, como irradiadora do discurso. “Um discomanifesto
como o Tropicália ou Panis et Circencis fala por si só. E o que ele fala?” (ABRAMO, 1988). A
autora seria assim somente um agente de mediação, deixa a memória discursiva agir em seu nome.
Só diz o que pode ser dito (ORLANDI, 2003).
Tropicália ou Panis et Circencis era para ser o manifesto tropicalista. Vinte anos depois é um documento histórico. Se a música não existia mais, era preciso romper com as camisas de força que regiam a música popular, as falsas dicotomias participação popular x invenção, local x universal. Vicente Celestino se encontra com os Beatles. O tropicalismo, como um momento de efervescência cultural, comunica-se diretamente com o modernismo da Semana de 22. E dá-lhe antropofagia: as referências de parentesco são explícitas e encaixadas em contexto novos. (ABRAMO, 1988).
47
O dito é aquilo que apontamos como discurso tropicalista, que aparece também nos outros
textos analisados, sem contradições. Assim, o disco não é somente um produto cultural vendido no
mercado, nem mesmo um manifesto estético do movimento. É sobretudo um documento histórico.
A função do crítico é ir a ele com o cuidado de um historiador, analisar como um escombro de um
passado que se tem acesso somente por aquele vestígio, mero acaso da História. Por ser um
documento histórico é com ele que devemos lidar, a partir dele que a narrativa se constroi, se
expande e, sem ele, a História desaparece. A narrativa então segue linear: “era preciso romper com
(…) as falsas dicotomias participação popular x invenção, local x universal” (ABRAMO, 1988).
Ora, não é essa mesma fala que forjou o discurso tropicalista? O interdiscurso se revela. A memória
atualiza o já dito . As contradições novamente ficaram para trás. Se institui assim aquela ilusão de
que não se poderia falar de outra forma. O esquecimento, assim, também se instala no discurso
(Orlandi, 2003). Modernismo e antropofagia saltam como fala primeira da obra enquanto portadora
do próprio discurso.
Continua:
Rogério Duprat orquestrou esses estilhaços de modernidade com todos os ritmos, instrumentos, ruídos e técnicas que estavam à mão. Em vez do violão e voz da bossa nova, aqui entram sirenes, distorção de guitarra, efeitos de estúdio, canhões (enquanto Gil rima Brasil e fuzil, com todas as letras) e órgão de igreja. Os metais pontuam ora o violão, ora a guitarra e o baixo, criando texturas distintas de sons. A geléia geral brasileira teve sua polaróide, em sons e imagens, nítida e multifacetada. (ABRAMO, 1998)
A “linha evolutiva” aparece novamente na aproximação entre a bossa nova e a modernidade
“à mão” dos tropicalistas. Assim, “em vez do violão”, os baianos usam uma série de técnicas e
aparatos tecnológicos disponíveis pela “modernidade”. A MPB tradicional, das “violas” e “marias”,
não precisa mais aparecer textualmente, está subentendida enquanto outra enumeração exerce sua
força: “sirenes, distorção de guitarra, efeitos de estúdio, canhões”. A MPB tradicional foi
planificada, emudecida, quase nada resta dela, apenas sua pálida presença no fundo de um discurso
vitorioso, jogada para trás de uma coleção de procedimentos estéticos considerados mais eficazes,
mais modernos. Vazio contramétrico numa melodia. No fim, o discurso pode voltar a si mesmo e
revelar novamente que se trata de uma mimese, um artifício para que ele não se diferencie de seu
objeto. O discurso crítico recobre a obra com sua própria linguagem, como nos lembra Barthes
(2007), e se faz novamente um objeto de mediação entre o leitor e uma construção específica da
realidade.
48
3.2.4 Estudando o Samba
Após a análise de Tropicalia ou Panis et Circensis, o próximo álbum brasileiro que apareceu
na Discoteca Básica foi Loki? (1974), de Arnaldo Baptista, na edição 4313. Como se sabe, Arnaldo
Baptista era um dos líderes da banda Os Mutantes, mostrando que a revista ainda não abandonara
sua tendência tropicalista. Seis números depois14, o próximo álbum brasileiro que aparece na coluna
é também de um membro do movimento musical. Trata-se do disco Estudando o Samba (1976), de
Tom Zé.
Conforme apontado por Oliveira (2011), em 1989 a revista Bizz e o mercado fonográfico
passavam por crise. A Era Collor e o malfadado plano Collor provocaram recessão e consequente
recuo nas vendagens, aliado ao ambiente musical, que fechava o ciclo de ascensão e consolidação
do rock brasileiro oitentista. Além do sucesso radiofônico da música sertaneja e a entrada da MTV
no Brasil.
Tom Zé, assim como Os Mutantes, na década de 1980 era um artista proscrito. Após
participação central no movimento tropicalista e vitória no IV Festival Internacional da Canção,
passou a década de 1970 e 80 produzindo álbuns pouco expressivos em número de vendas, por
buscar buscar caminhos mais experimentais e herméticos para sua música. Até em meados da
década de 1980 cair em ostracismo, ficando de 1984 a 1990 sem lançar nenhum álbum.
A análise de Estudando o Samba acontece justamente no momento de resgate da obra do
baiano. O músico David Byrne (ex-líder do grupo inglês Talking Heads) “descobriu” Estudando o
Samba em uma loja de discos usados do Rio de Janeiro e lançou a coletânea Hips of Tradition
(1992), tornando Tom Zé famoso fora do Brasil. Essa história é contada por Ayrton Mugnaini Jr na
coluna Discoteca Básica da seguinte forma:
O Brasil é a casa onde os santos menos fazem milagres, uma estranha espécie de Instituto de Pesos e Medidas em que a cultura brasileira é "brega" e qualquer rebotalho estrangeiro é cultuado incondicionalmente. O que menos se macaqueia de fora é a ausência de preconceitos musicais, sendo um belo exemplo disso o nosso amigo David "Talking Heads" Byrne, sempre atento aos sons de todo o planeta, e que não conteve a sua admiração ao conhecer o trabalho de Tom Zé (uma espécie de seu equivalente brasileiro, pois, não tão mal comparando assim, ele poderia ser considerado um "David Byrne que não deu certo", que nunca teve o apoio de uma grande gravadora), mais precisamente a partir deste LP. (MUGNAINI, 1989)
A exemplo da análise de Pappon (1986) no disco de Os Mutantes, Mugnaini (1989) evoca o
13 Revista Bizz, n.43, 1989.14 Revista Bizz, n. 49, 1989.
49
inconsciente coletivo brasileiro. Não mais as instituições que reproduzem a “falta de memória
nacional”; o que é agenciado aqui é o “culto ao estrangeiro”. Esse culto seria um sentimento
sempre presente no povo brasileiro, que não reconhece o valor de sua própria cultura, de seu
próprio país. Algo como uma doença da alma. Santos que não fazem milagre, “Instituto de Pesos e
Medidas”, palavras que tensionam o texto, corporificam, tornam eterno e enraizado o “problema”
de o brasileiro não valorizar sua própria cultura. É um problema de fé, também institucional,
sentimento atávico que nos chega através da História, de nossa ascendência colonial. O mito da raça
triste atualizado. A propensão do Brasil, diagnosticada por Paulo Prado (2002), ao mal da imitação
ressurge. O texto repete que somos condenados por nosso passado à melancolia e o amor ao
estrangeiro.
Por outro lado, não “macaqueamos” o que há de bom no estrangeiro. A saber: a ausência de
preconceitos musicais. “Macaquear” aqui é novamente uma propriedade intrínseca do brasileiro.
Vem de tempos imemoriais, estamos condenados a isso. O discurso traz à tona aqueles diagnósticos
sociológicos comuns na primeira metade do século XX, que procuravam o erro histórico do Brasil
em seu passado colonial. Mas por aquela mesma colonização, não conseguimos imitar o que o
estrangeiro faz de melhor. É preciso que um estrangeiro nos ensine a valorizar a “cultura nacional”.
David Byrne faz esse papel. Mas novamente o discurso se deixa levar pelo poder do interdiscurso.
O conjunto de formulações feitos e já esquecidos, saltam na materialidade do texto e comanda a
fala do autor. David Byrne torna-se “nosso amigo”; afinal, como estrangeiro, nos ensinou a
valorizar o que é nosso. Ele: “sempre atento aos sons do planeta”; nós: condenados a imitar.
E de novo a imitação prevalece. Tom Zé perde toda sua especificidade e se torna um David
Byrne “que não deu certo”. Ora, não deu certo porque não soubemos valorizá-lo. Somente podemos
reconhecer o valor do artista baiano se reconhecermos o que há nele que também existe no ex-líder
dos Talking Heads. É um movimento circular; o texto diagnostica o problema e o reitera, numa
mimese em que o interdiscurso conduz o intra-discurso. A memória histórica afirma seu poder no
dizível, não há mais nada a se dizer além daquela imitação, nem mesmo o texto escapa a ele e dá
todo o poder ao estrangeiro. Tom Zé não deu certo como Byrne porque “nunca teve o apoio de uma
grande gravadora” (MUGNAINI, 1989). Outra instituição que não reconhece a “cultura brasileira”.
O texto segue:
Tom Zé, para quem não se lembra, veio da Bahia junto com Caetano, Gal e Gil, sendo tão importante quanto eles, mas não tão famoso, por uma série de fatores: além de sempre ter sido mais "caseiro" - deixando escapar a chance de se projetar em Londres com eles, e se fixando em São Paulo numa época em que tudo parecia acontecer no Rio -, Tom Zé nunca sofreu a compulsão de se curvar perante os modismos ou pendurar melancia no pescoço para aparecer. (MUGNAINi, 1989)
50
Com a missão de salvar a “cultura nacional” do esquecimento, o discurso crítico segue em
sua cruzada. Já restaurou a importância de Tom Zé pelo reconhecimento estrangeiro. Agora parte
para o leitor. O trecho “para quem não se lembra” age como aquela antecipação do leitor acima
descrita. Funda uma subjetividade e faz saltar um sujeito do texto. A “falta de memória” é
combatida com a rememoração de uma instituição que tem o poder de mediação: a própria mídia. O
sujeito que sofre da falta de memória é localizado e logo colocado em outro tipo de agenciamento:
o reconhecimento da “cultura brasileira”. Ele só pode existir plenamente dessa forma. Trazido das
profundezas do esquecimento e recolocado nos eixos do discurso que restabelece a ordem das
coisas. Mais que isso. É preciso saber, ou melhor, se lembrar quais foram os motivos que fizeram
de Tom Zé um proscrito. “Caseiro”, “não se curvar”, “não pendurar um melancia no pescoço para
aparecer” são adjetivações próprias a Tom Zé que permitiram que as instituições que sofrem de
“falta de memória” deixassem o artista de lado. Assim, o sujeito localizado (leitor com falta de
memória) é colocado à serviço da cultura brasileira, através da mediação do discurso da mídia.
3.2.5 Expresso 2222
O jornalista e crítico Tárik de Souza na edição 12615 analisa o disco Expresso 2222 (1972),
de Gilberto Gil. Desde o último disco tropicalista, se passaram seis anos. Os tempos eram outros. A
revista também. Em outubro de 1995, a Bizz se transforma em Showbizz, com formato maior,
projeto gráfico privilegiando fotos, linguagem adolescente e ensaios sensuais. A primeira edição
nesse novo formato vai bem, vendeu 100 mil revistas, impulsionada pelo Plano Real e consolidação
do mercado jovem. Por outro lado, como apontado por Oliveira (2011), para dar contraponto à
tendência adolescente da revista, a Showbizz contratou críticos de renome para compor seus
quadros. Tárik de Souza é um deles. Ele começou a carreira em 1968 como repórter da Veja e já
havia trabalhado para outras publicações, como Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Opinião,
Pasquim e Som 3.
O disco de Gilberto Gil aparece na Discoteca Básica após uma sequência mais dispersa de
álbuns brasileiros. Aquela tendência tropicalista nas obras analisadas parece ter sido deixada para
trás16. Assim como o Transa, de Caetano Veloso, Expresso 2222 (1972) foi lançado depois do
15 Revista Bizz, n.126, Editora Abril, 1995.16 A sequência é: É Proibido Fumar, de Roberto Carlos (Revista Bizz, n61, 1990); Samba Esquema Novo, de Jorge
Ben (Revista Bizz, n62, 1990); Novo Aeon, de Raul Seixas (Revista Bizz, n80, 1992); Tim Maia, de Tim Maia (Revista Bizz, n87, 1992); Secos & Molhados, de Secos & Molhados (Revista Bizz, n112, 1994). O que se nota nessa sequência é que a maioria das obras analisadas é da década de 1970, excetuando o disco de Roberto Carlos, lançado em 1964. O que confirma o caráter rockista da crítica da revista Bizz.
51
retorno de Gil do exílio em Londres. É um álbum com pegada rock mais marcante, com o artista
baiano assumindo uma postura de band leader, como nas grandes bandas do gênero na Inglaterra.
Reflexo direto da cena que Gil presenciou na capital inglesa. O artista chegou a fazer show no
Festival da Ilha de Wight e assistir a shows de Led Zeppelin e Rolling Stones (VELOSO, 1997).
Apesar da tendência roqueira, Gil aprofunda a união entre a musicalidade “universal” e “regional”,
como Souza (1995) aponta:
Quando começou a circular o Expresso 2222 , em 72, a luz no fim do túnel era a locomotiva da ditadura vindo em sentido contrário. Como Caetano, Gilberto Gil voltava de um exílio de dois anos em Londres, após uma prisão arbitrária, e recomeçava a carreira a todo o vapor unindo as duas pontas básicas do ideário tropicalista. De um lado, o regionalismo fundador da tosca & revolucionária Banda De Pífanos De Caruaru ("Pipoca Moderna"). De outro, uma canção do exílio universalista, "Back In Bahia", que ao invés de palmeiras e sabiás, planta Celly Campelo e um velho baú de prata. (SOUZA, 1995)
A exemplo do texto de Abramo (1988) sobre o Transa, o jogo de palavras entre o nome do
álbum e a ditadura militar põe em movimento os sentidos. O Expresso 2222, que, na música de Gil,
leva para o futuro, é contraposto à locomotiva da ditadura vindo em sentido contrário. A tensão
entre a viagem adiante e o obstáculo provoca a expectativa do desastre. Mas o choque iminente é
evitado pela pacificação das oposições. Gilberto Gil, assim como Caetano Veloso, evitam a tensão
unindo as duas pontas do ideário tropicalista: o regionalismo e o universalismo. As dicotomias, as
outras vozes, as contradições são pacificadas novamente, o que sobra é a linearidade da narrativa
em prol do discurso vencedor. A fala de Caetano ecoa no fundo do discurso: “ora a música
brasileira se moderniza e continua brasileira, à medida que toda informação é aproveitada (e
entendida) da vivência e da compreensão da realidade brasileira” (Revista Civilização Brasileira
apud FAVARETTO, 2000, p.39). O que produz indiferenciação entre o discurso crítico e
tropicalista, fazendo com que o movimento iniciado com o jogo de palavras flua até a total
assimilação: “...um velho baú de prata” (SOUZA, 1995), cita textualmente Back in Bahia.
O texto continua sondando a união entre regionalismo e universalismo:
Entre os extremos dessa arqueologia há espaço para o nordeste agreste de João do Vale (mais Ayres Viana e Alventino Cavalcanti), turbinado por guitarras em "O Canto Da Ema" e a parábola da contaminação cultural, do repertório de Jackson do Pandeiro, "Chiclete Com Banana". A que fala em samba/rock antes de Lobão nascer e mistura Miami com Copacabana, quando a era Collor ainda era um brilho fugidio nos olhos psicopatas de seus genitores. Com anos-luz de antecedência, o forró-core e o mague-bit já pulsavam nos hormônios freventes da sucinta "Sai do Sereno" (Onildo de Almeida), em duo com Gal Costa, edificada numa única estrofe poética. (SOUZA, 1995)
52
A palavra “arqueologia” materializa o procedimento estético do artista como uma busca
pelas raízes de “nossa cultura”. Se o Tropicalia ou Panis et Circensis é um documento histórico,
Expresso 2222 é um estudo arqueológico, em que os achados criam patrimônios culturais. A
relevância do artista é a de um estudioso que traz à superfície tesouros, relíquias musicais. O
“nordeste agreste” é revelado e atualizado por guitarras. Gilberto Gil reveste a sua herança musical
de capital simbólico; o crítico, por expor essa engrenagem, o expande para si, seu discurso e o da
mídia, conforme nos lembra Cardoso (2007). Assim, do texto do jornalismo opinativo emerge parte
do prestígio dado ao artista, influindo diretamente no campo de produção artístico-intelectual e na
valorização da obra. A “valorização da cultura nacional” novamente está em jogo e é uma bandeira
hasteada para a conquista simbólica.
Com esse patrimônio em mãos, a narrativa segue adiante. O crítico pode brandí-lo no
presente para afungentar os perigos da história. Atesta a legitimidade da música de Gil por “...fala(r)
em samba/rock antes de Lobão nascer”; além disso, aproxima contextos históricos diversos e funda
continuidades entre a ditadura e o período Collor, como um inimigo que atravessou os tempos e
precisa ser combatido. A arma usada contra esse perigo é a mesma que afastou a ditadura: o
discurso tropicalista, que valoriza a cultura nacional enquanto pacifica as tensões com o universal.
Miami e Copacabana podem conviver em paz, sem o nacionalismo esquerdista, a repressão
ditatorial, nem mesmo a abertura neoliberal de Fernando Collor. A contradição sem conflitos da
“linha evolutiva” da música popular brasileira devasta tudo ao redor e planifica o terreno para o
reinado do discurso.
Da mesma maneira que combateu inimigos, o tropicalismo antecipou “com anos-luz de
antecedência” o “forró-core” e o “mangue-bit”. Esses estilos musicais surgidos no Brasil na década
de 1990 perdem sua atualidade frente à permanência histórica que o discurso quer instituir. Nada
resiste a seu poder de combate. Nem mesmo a vibração do sons de jovens que giram as rodas da
indústria no momento. Afinal, a força simbólica de portar as relíquias da “cultura nacional” faz
emergir sujeitos que aparecem para combater a luta justa. O discurso da mídia faz isso através das
continuidades, das permanências, estabelecendo relações com a história e memória, deslocando,
reafirmando e formando sentidos e identidades em um jogo que envolve tanto o leitor quanto as
representações. Da arqueologia à ditadura; da cultura nacional à era Collor; do nordeste agreste ao
Lobão, referências que servem à permanência do discurso. “De tão sólida, a teia do Expresso 2222
sobreviveu ao vírus do tempo”, diz o crítico.
53
3.2.6 Fa-Tal – Gal a Todo Vapor
Novamente Tárik de Souza (1996) é recrutado para a analise de um disco tropicalista, seis
edições depois daquela com a obra de Gilberto Gil17. O disco de Gal Costa é a gravação de uma
série de concertos da cantora no Teatro Tereza Raquel, no Rio de Janeiro, em 1971. O poeta e
letrista Waly Salomão assumiu a direção das apresentações da artista. Nesse período, com Caetano
e Gil exilados na Inglaterra, Gal Costa assumiu a frente do movimento tropicalista no Brasil, como
uma espécie de representante em terras brasileira das ideias e comportamentos dos artistas baianos,
tanto na mídia quanto no meio artístico. Essas apresentações foram compiladas num disco duplo,
com uma miscelânea de sambas tradicionais, canções folclóricas, músicas de Caetano e
interpretações de artistas que despontavam naquele momento, como Jards Macalé , Luiz Melodia e
Novos Baianos. Os dois lados do primeiro LP conta com nove músicas, toda interpretadas pela
artista com voz e violão. Na última canção, Vapor Barato, de autoria de Jards Macalé, Waly
Salomão, entra a banda elétrica, que permanece no acompanhamento até o fim do álbum.
Vamos a que Souza (1996) escreve sobre o Fa-tal – Gal a Todo Vapor:
Neste disco/show, além de segurar a barra tropicalista, Gal já rodava a baiana de maior cantora da MPB. Só ela vai dos cochichos de João Gilberto aos urros de Janis Joplin sem trair a Dalva de Oliveira que mora no sentimentalismo deste país de três raças tristes. Vapor Barato, também conhecido por Gal Fatal, é obra-prima. O repertório linka folk ("Fruta Gogóia", "Bota A Mão Nas Cadeiras"), emepebê antepassada ("Assum Preto", "Falsa Baiana") e o sotaque rock da época ("Hotel Das Estrelas", "Como 2 E 2", "Dê Um Rolê"), tudo dentro da atitude marginal que cutucava o sistemão com um jogo de da(r)dos poéticos. (SOUZA, 1996).
O crítico apresenta Gal como a “maior cantora da MPB”. A sigla novamente aparece sem as
tensões, sem aquela luta que estabelece o tropicalismo como simbolicamente mais poderoso. Aqui,
pelo contrário, MPB tem o poder aglutinador. Não é aquela que “está na pior”, mas que tem o poder
de síntese, de estabelecer em torno de si uma aura que fornece capital simbólico para o artista que
gravita em torno dela. Por isso Gal Costa é a maior. Ela só pode ser a maior cantora se for da MPB.
Fora dela não há nada maior, o poder de síntese e aglutinação é o que dá o referencial, a
abrangência é nacional e perpassa qualquer subgênero ou designação. A MPB é forte “o bastante
para demonstrar ao público que poderia dar a ele tudo o que desejava, inclusive novos
comportamentos mediados pelo rock” (NEDER, 2012, p.64). Essa liderança na hierarquia simbólica
foi construída com ajuda do movimento tropicalista, foi ele que testou os limites da sigla nos
festivais da canção e inseriu o comportamento rock como aceitável dentro da instituição (ULHÔA,
17 Revista Bizz, n.136, 1971
54
2001). Assim, não há contradição em se celebrar a sigla, o poder que ela assume enquanto memória
discursiva traz o movimento tropicalista como força motriz. A celebração discursiva continua em
marcha.
Gal Costa expõe o poder completo dessa vitória. João Gilberto é novamente evocado com
seus cochichos, agora do lado de Janis Joplin. A “linha evolutiva” da música popular brasileira salta
do discurso e se impõe novamente. Só que aqui o discurso quer aglutinar, tornar seu poder
impositivo sobre qualquer descontinuidade, elipse ou erro, por isso desliza pelos cânones e vaticina
“sem trair Dalva de Oliveira”. A traição seria deixar para trás a abrangência que a sigla tem, seria ir
da bossa nova ao rock, sem passar pelas relíquias do Brasil. A “cultura brasileira”, aquela
tradicional, que precisa ser resgatada, escavada, trazida ao presente, não pode ser esquecida; para
isso, é preciso agenciar uma série de recursos: documento histórico, a arqueologia, ou mesmo o
poder da MPB. É desse jogo simbólico que salta o sujeito, dele que se estabelece como a realidade
é montada pelo discurso, como os sentidos e instituições funcionam, como as memórias são
evocadas e as palavras ditas.
Trair significa deixar para trás “o sentimentalismo deste país de três raças tristes”. Desta vez
o mito das raças tristes não é um empecilho, pelo contrário, faz parte de nós. É o que nos define
enquanto nação. “Sentimentalismo” e “país” são duas palavras que não podem ser deixadas de lado,
são indissociáveis e fazem parte de nossa completude. A abrangência da MPB quer abarcar tudo, o
discurso cobrir todo o espectro da memória, toda a realidade partilhada em torno do sentimento de
nação.
O nome de Dalva de Oliveira rememora a valorização da mestiçagem de Gilberto Freyre,
aquele desrecalcamento que o sociológo empreendeu no Brasil e que colocou a união das três raças
como central para a nação. O sentimentalismo das raças tristes é mais um elemento com o poder de
síntese, que não pode ser esquecido, e que significa nossa origem enquanto povo – o que nos
unifica. Ou, como afirma Vianna, a “tendência de valorizar a mestiçagem é uma opção pela
“unidade da pátria” e pela homogeneização, como mostra o debate sobre a imigração no Brasil”
(VIANNA, 2004, p.71).
Continua Souza (1996):
Quase todas as faixas escolhidas têm dupla leitura. Desde o velho samba "Antonico", do genial Ismael Silva, um pedido de auxílio que vinha a calhar naquelas trevas, até os retratos a ferro e fogo da época, escritos por Macalé e Waly Salomão. Além da novo baiana "Dê Um Rolê" ("Enquanto eles se batem/Dê um rolê"), explodem os versos opressos de "Mal Secreto" (Massacro meu medo/Mascaro minha dor"), "Hotel Das Estrelas" ("Sob um pátio abandonado/Mortos embaixo da escada"), "Luz Do Sol" ("Quero ver de novo/A luz do sol") e a faixa-título, "Vapor Barato" ("Eu tou indo embora/Talvez um dia eu volte, quem sabe?"). Reciclada para o sucesso pelo
55
filmaço Terra Estrangeira, de Walter Salles Jr., que fotografa grão a grão o exílio desértico da era Collor, esta música atesta que o país se repete como uma farsa constantemente reescrita. (SOUZA, 1996)
Novamente aqui os perigos da história são afugentados pelo poder do discurso. Ele que
perpassa as diferenças, edifica os sentidos e combate as monstruosidades. O “samba” e os “retratos
a ferro e fogo”, são poderes simbólicos que lutam contra as tensões localizadas na história, na
realidade opressora, que aparece sob a “explosão”, o “exílio”, o “deserto”. Figuras que assombram,
mas que o discurso combate e de onde retira seu poder. O inimigo é derrotado pela palavra. A era
Collor novamente é colocada como ponto de chegada. A continuidade entre o passado ditatorial e o
presente opressor (passado recente) é ressaltada, enquanto o discurso sai fortalecido. Afinal, não se
passa por todas as trincheiras sem derrubar inimigos. O tropicalismo passou daquele perigo, mas
agora é novamente evocado para derrotar o novo.
O discurso exerce sua força quando planifica, aglutina e aterra. Fora dele, a vida é
impossível. Assim, “o país se repete com uma farsa constantemente reescrita”. Somente dessa
maneira é que o eterno presente do discurso pode se reavivar: pela permanência, pelo homogêneo e
o mesmo reiterado. O “país” aqui não é aquele das raças sentimentais, da mestiçagem valorizada,
mas o das instituições que esquecem, da opressão dos Anos de Chumbo, do erro da era Collor. Ele
aparece na desesperança do eterno evocar do discurso, na sua reafirmação constante. É contra ele
que os sujeitos são constituídos, contra ele que a “cultura nacional” precisa ser valorizada. A música
é a peça chave nessa história constantemente reescrita e a mídia o agente mediador.
56
Conclusão
A análise da coluna Discoteca Básica da revista Bizz proporciona um levantamento da
crítica musical na mídia brasileira, ainda que restrito. Por contribuir com grande parte da recente
história do jornalismo cultural brasileiro, atingindo todo o território nacional, a publicação permite
olhar para as nuances que o discurso da mídia tomou durante a década de 1980 e parte do decênio
seguinte. A coluna analisada, por fazer críticas sobre discos considerados clássicos, e ter por
característica a rotatividade dos jornalistas envolvidos em suas linhas, direciona melhor esse olhar,
estabelecendo relações entre o discurso praticado e a memória discursiva evocada. Estabelece,
assim, um jogo de sentidos entre o passado e o presente, revelando como foi constituído o discurso
naquele momento.
Por verticalizarmos nosso estudo em torno das críticas feitas a discos de artistas
tropicalistas, pudemos entrar em contato com discussões em torno da música popular no Brasil.
Também percebemos como ela se relaciona com o ambiente cultural, político e social do país. Tanto
o engajamento de artistas nessas questões, como a crítica acadêmica e da mídia, permitem que se
equacione a maneira como aqueles âmbitos mais gerais da realidade brasileira podem ser pensados,
projetados, negados e criticados. O tropicalismo, por se envolver conscientemente nos embates em
torno da questão do nacional-popular, favorece ainda mais essa percepção.
O movimento elabora em torno de si um discurso baseado na crítica ao modelo nacional-
popular e, para isso, evoca uma “linha evolutiva da música popular brasileira” que leva a discussão
sobre cultura no Brasil para a dicotomia “impasse/ evolução”, contrapondo o discurso nacional-
popular a um discurso internacionalista-modernizante, alegando que o primeiro estaria
atravancando a evolução da cultura brasileira por sua ortodoxia cultural, ao evitar o contato com a
emergente cultura internacional-popular, principalmente o pop-rock. Para isso, o tropicalismo
associou-se a movimentos de vanguarda, relegados a segundo plano pelo nacional-popular, e
evocou a antropofagia oswaldiana como antípoda daquele modelo modernista-cepecista
(NAPOLITANO, 1997).
O debate cultural em torno do movimento ganha as páginas da mídia da época. Diversos
artistas, escritores e músicos saíram em defesa/crítica às concepções estético-discursivas dos
baianos. Ainda que de forma pulverizada e no calor dos acontecimentos, essas discussões ajudaram
a consolidar a palavra “tropicália” e “tropicalismo” na mídia, estabelecendo seus preceitos,
concepções, dando coerência interna e constituindo um discurso. A frente mais acadêmica desse
debate, liderada por Campos (2007) e Scharwz (1978), estabelece e fortalece os conceitos sobre o
57
movimento, dando amplitude e fôlego para aqueles debates.
Justamente esse fôlego acadêmico dos debates que podem ser observados com recorrência
na coluna analisada. A maneira como conceitos, ideias, imagens, palavras e frases são evocadas
pelos jornalistas da revista Bizz na Discoteca Básica, estabelece relações diretas e indiretas com
aqueles debates. A defesa da “cultura brasileira” é central no discurso construído pela mídia. Por
trazer consigo concepções com força simbólica suficiente para mobilizar identidades,
representações e subjetividades, a mídia modela uma historicidade e constrói a realidade. Desta
forma, pensar a mídia como prática discursiva ajuda a apreender relações que ela mantém com
outros dispositivos sociais que circulam pela realidade social. Essas práticas, em sua materialidade,
estabelecem pontes entre a história, a memória, deslocando, reafirmando e fundando sentidos e
identidades (GREGOLIN, 2007). A “cultura brasileira” age, assim, como mobilizador e catalizador
no discurso.
A “unidade da pátria”, a “cultura brasileira”, a “memória nacional”, enfim, toda uma gama
de ideias são evocadas em nome do discurso, para fortalecê-lo, reafirmá-lo e valorizar sua potência
diante de uma realidade diversa daquela em que os debates em torno do nacional-popular
aconteciam e que o tropicalismo tomou frente com uma contra-proposta. As tensões daquele debate,
ressignificadas pelo discurso da mídia, são planificadas; a linearidade do discurso vencedor
estabelecida e os embates esvaziados. O tropicalismo acabou, de uma forma ou de outra,
consagrado como ponto de clivagem/ ruptura da cultura brasileira dos fins da década de 1960.
Tratado como face brasileira da contracultura ou como braço “popular” da vanguarda. O
movimento conflui exatamente no esgarçamento do modelo nacional-popular como eixo cultural e
político do Brasil e assume a ponta nos debates e produções artísticas e críticas posteriores. Modelo
ideal para implantar o discurso de mediação da mídia em um momento de fortalecimento do
mercado editorial brasileiro. Nesse sentido, a Discoteca Básica, ao analisar os álbuns de artistas
tropicalista, funda novas subjetividades a partir de uma prática discursiva que estabelece relações
com o passado recente, evocando-o, transformando-o e ressignificando-o.
59
Os Mutantes
Os Mutantes (1968)
(Revista Bizz, n10, Editora Abril, maio de 1986)
A conhecida "falta de memória nacional" nada mais é do que a falta de disposição,
compreensão e competência das instituições - desde o governo até a imprensa especializada - em
apoiar a produção e a preservação da cultura brasileira. Não é à toa que muita gente busca no rock
americano ou inglês a sua fonte única de inspiração e conhecimento, enquanto as pérolas da MPB
permanecem no esquecimento.
"Que pérolas?", pergunta o leitor, atarantado. Pois é. A MPB está na pior - não temos
qualquer música vital, forte ou espirituosa. Mas há vinte anos não era assim. Houve a bossa nova, a
tropicália (anote aí: "bossa nova" não é uma invenção da vanguarda londrina), coisas que poderiam
dar um forte impulso ao rock nacional, em sua busca de identidade. Realmente, não é justo que só a
tal "geração AI-5" tenha conhecido o primeiro LP dos Mutantes, lançado em 68... eis as pérolas!
Pelo ineditismo para a época e pelo seu distanciamento dos clichês roqueiros, este pode ser
considerado o melhor disco do grupo (sem menosprezar os posteriores, Os Mutantes, de 69, e A
Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, 70). Rita Lee, Arnaldo e Serginho Baptista faziam
música, está na cara, pelo puro barato de criar, de se divertir. Assim como outras obras-primas da
tropicália, este disco contou com o auxílio do George Martin (Nota: produtor dos Beatles)
brasileiro, Rogério Duprat. Sintetizar orquestralmente as idéias lisérgicas que os Mutantes
simplesmente jorravam não deve ter sido fácil, mas com certeza Duprat curtiu adoidado.
Vejam só: o disco abre com "Panis et Circensis", de Caetano e Gil. De repente a música se
interrompe como se alguém tivesse tropeçado no fio do toca-discos; em seguida ela continua para
acabar em meio a ruídos de sala de jantar, com talheres e conversas familiares. Tudo isso com
orquestração digna de aberturas wagnerianas. Depois vem "Minha Menina" (Jorge Ben) e "O
Relógio", de autoria do grupo, um dos grandes momentos deste lado, graças à estranheza do
contraste entre a melodia leve e o non-sense da letra (o relógio parou/ desistiu para sempre de ser
antimagnético, 22 rubis/ eu dei corda e pensei/ que o relógio iria viver/ pra dizer a hora de você
chegar).
"Maria Fulô", de Leonel de Azevedo e José de Sá Roris, cai num clima de quilombo, com
marimbas, Kalimbas e cuícas no maior samba. "Baby", de Caetano, é cantada (imaginem só) por
Arnaldo. A última faixa do lado A é "Senhor F" (O senhor F/ vive a querer/ ser senhor X/ mas tem
60
medo/ de nunca voltar/ a ser senhor F outra vez), mais uma pérola de autoria do grupo, com arranjo
inspirado (assim como outros momentos desde LP) em coisas do Sargeant Peppers dos Beatles.
O lado B abre com "Bat Macumba" e segue com Rita cantando, à la Françoise Hardy, o clássico
francês "Le Premier Bonheur du Jour". "Trem Fantasma", Mutantes em parceria com Caetano,
destaca uma bela combinação de vozes com metais. "Tempo no Tempo", versão de uma música dos
Mamas & the Pappas, tem um solo de carrilhão no final, e "Ave Gencis Khan" (sic) encerra o disco
num pique de George Harrison, com fortes toques orientais.
É isso aí. De resto, só mesmo ouvindo. Os climas mudam, de faixa para faixa, da água para
o vinho. Sem nenhum preconceito, os Mutantes fizeram uma viagem psicodélica pela música
universal, bastante influenciados pelos Beatles e auxiliados pelas partituras mágicas de Rogério
Duprat. É um disco de MPB, tratado com o espírito efervescente da época, o espírito de libertação
das formas e padrões. Por isso é um disco que os roqueiros brasileiros devem conhecer. Junte-se ao
coro dos que exigem o relançamento dos LPs dos Mutantes. "Tem que dar certo..."
Thomas Pappon
61
Transa (1972)
(Revista Bizz, n26, Editora Abril, setembro de 1987)
No fim da década de 60 a música brasileira passava por um impasse. A força inovadora da
bossa nova - a possibilidade de se fazer uma leitura sofisticada e universal do samba - já havia
passado do auge. Os continuadores da bossa nova descambavam para a chamada "música de
protesto". Na vertente oposta, a versão local do "iê-iê-iê", a jovem guarda não primava pela
criatividade. A tropicália implodiu a questão quando fez a ponte entre essas duas atitudes
aparentemente inconciliáveis. A liberdade formal do tropicalismo foi um sopro de novidade. Se
estendia desde a escolha dos ingredientes de sua geléia geral - de Vicente Celestino aos Beatles,
passando (claro) por João Gilberto, - até roupas e capas de disco, fortemente influenciadas pelo
psicodelismo.
Transa é o segundo LP do Caetano Veloso pós-tropicalista e o primeiro depois de seu exílio
em Londres. Se o tropicalismo foi uma resposta pop aos tradicionalistas da MPB, Transa é uma
espécie de reflexão em tons cinzentos sobre esse período. Na edição original era um disco-objeto: a
capa se dobrava de maneira a formar um poliedro triangular. Foi produzido por Ralph Mace, o
inglês que já havia produzido em Londres o seu disco anterior (Caetano Veloso, de 1971).
Transa é um disco bilingüe. Não só pelo fato de ser cantado em inglês e português, mas por transitar
em duas linguagens musicais: o rock e a MPB. Mesmo recheado de referências e citações dos
Beatles ("Woke up this morning/ singing an old beatle song", em "It's a Long Way") e da bossa nova
(trecho de "Chega de Saudades" que Gal canta em "You Don't Know Me"), ele declara sua
indepedência de compromissos com qualquer forma de fazer música. Afinal, é como diz uma das
mais belas canções do disco, "Nine Out of Ten" (onde pela primeira vez ouvimos falar em reggae):
"the age of music is past".
Assim, canções com uma estrutura mais convencional convivem neste disco com faixas
como "Triste Bahia", um longo diálogo entre baixo e berimbau com trechos de um poema do poeta
baiano oitocentista Gregório de Mattos ("Triste Bahia/ Oh, quão dessemelhante/ estais e estou no
mesmo antigo estado/ a ti tocou-te a máquina mercante/ que em tua larga barra tem entrado") e de
cantos de capoeira e afoxé - mais de seis minutos de uma longa litania que acaba num crescendo
angustioso.
Ou então uma linda versão de "Mora na Filosofia", de Monsueto, com um brilhante arranjo
que alterna momentos de economia - apenas baixo, violão e voz - com climaxes ("Pra que rimar
amor com dor") com a percussão. Aqui, Caetano repete uma idéia utilizada no tropicalismo: a de
recuperar perolas esquecidas da MPB, rearranjadas de forma moderna - e às vezes bastante
62
inusitada -, coisa que irá repetir ao longo de sua carreira.
As letras falam o tempo todo de desterro - não o que ele viveu realmente, mas uma espécie
de desterro tanto em relação à cultura brasileira quanto em relação à cultura pop. Começa com "You
Don't Know Me" (em que Caetano faz um trocadilho com at all e Apple, a gravadora dos Beatles).
Daí vem "I'm alive/ vivo/ muito vivo" - com o duplo sentido de "I'm alive/ I'm a lie" - para concluir
depois: "That's what rock and roll is all about", sempre invadidos por trechos de canções folclóricas
e tradicionais.
Transa é um exemplo de como podem ser inteligentemente trabalhadas as referências
folclóricas e as cosmopolitas, o simples e o sofisticado. O resultado é o melhor disco de Caetano
Veloso - que, apesar dos Meninos do Rio e outras babas afins posteriores, já teve momentos
realmente brilhantes como compositor e letrista. E uma dica para quem tem má vontade com a
música brasileira.
Bia Abramo
63
Various Artists
Tropicália ou Panis et Circencis (1968)
(Revista Bizz, n41, Editora Abril, dezembro de 1988)
"A música não existe (...). Sei que alguma coisa nova se cria a partir daí e o resto não me
interessa" (Rogério Duprat). "Ê bumba-iê-iê-boi" (Gilberto Gil & Torquato Neto). "Nara - Pois é... e
o Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga... e Pixinguinha... Os Mutantes - Pois é... e os Jefferson's
Airplane (sic) e os Mamas & the Papas... e..."
Maio de 68. Vietnã. Barricadas em Paris. Passeata dos cem mil, Rio de Janeiro. Primavera de Praga.
Marthin Luther King. Flower power, 2001 - Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick. AI-5.
Panteras negras. Arte Pop. Crimes, espaçonaves guerrilhas.
Não são absolutamente memórias pessoais. Fragmentos da iconografia da época. O primeiro
passo quando a tarefa é falar de alguma obra emblemática de uma época (sobretudo se você não
esteve lá) é pesquisar todo o material disponível para reconstituir o clima e os acontecimentos que
foram desaguar naquele produto em particular. Mas um discomanifesto como o Tropicália ou Panis
et Circencis fala por si só. E o que ele fala?
A capa apresenta os atores do carnaval tropicalista. Os Mutantes e suas guitarras elétricas.
Tom Zé, Caetano com Nara Leão (os mais belos joelhos da bossa nova) no colo (numa fotografia).
O Maestro Rogério Duprat prestando uma homenagem a Marcel Duchamp (que havia falecido em
67). Gal Costa com uma foto de Capinam. Torquato Neto (poeta e suicida). A contracapa descreve o
roteiro e inscreve a data lendária: maio de 68. Os padrinhos despejam suas benções: Augusto de
Campos e João Gilberto.
Tropicália ou Panis et Circencis era para ser o manifesto tropicalista. Vinte anos depois é um
documento histórico. Se a música não existia mais, era preciso romper com as camisas de força que
regiam a música popular, as falsas dicotomias participação popular x invenção, local x universal.
Vicente Celestino se encontra com os Beatles. O tropicalismo, como um momento de efervescência
cultural, comunica-se diretamente com o modernismo da Semana de 22. E dá-lhe antropofagia: as
referências de parentesco são explícitas e encaixadas em contexto novos.
A qualidade documental da Tropicália não o transforma num disco datada. Uma colagem mantida
unida com o cola-tudo privilegiado das musicalidades de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A pérola do
brega, "Coração Materno", é de Vicente Celestino. O beguin "Três Caravelas" ("um navegante
atrevido saiu de Palos um dia/ ia com três caravelas/ a Pinta, a Nina e a Santa Maria") é uma versão
de João de Barro, e a nota regionalista, "Hino ao Senhor do Bonfim da Bahia", que fecha com tom
64
épico o LP, é de João Antônio Wanderley.
O humor é, sem dúvida, um conservante poderoso. "Lindonéia", um bolero na voz extra-
suave de Nara, anuncia que há "cachorros mortos nas ruas/ policiais vigiando/ o sol batendo nas
frutas/ sangrando, oh, meu amor, a solidão vai me matar de dor". Os primeiros acordes de "A
Internacional" servem como arauto a Caetano convidando a um passeio nos Estados Unidos do
Brasil, "debaixo das bombas/ das bandeiras/ debaixo das botas/ debaixo das rosas dos jardins/
debaixo da lama/ debaixo da cama". Em "Parque Industrial", o céu de anil e as bandeirolas saúdam
o avanço industrial.
Rogério Duprat orquestrou esses estilhaços de modernidade com todos os ritmos,
instrumentos, ruídos e técnicas que estavam à mão. Em vez do violão e voz da bossa nova, aqui
entram sirenes, distorção de guitarra, efeitos de estúdio, canhões (enquanto Gil rima Brasil e fuzil,
com todas as letras) e órgão de igreja. Os metais pontuam ora o violão, ora a guitarra e o baixo,
criando texturas distintas de sons. A geléia geral brasileira teve sua polaróide, em sons e imagens,
nítida e multifacetada.
Bia Abramo
65
Tom Zé
Estudando o Samba (1976)
(Revista Bizz, n49, Editora Abril, agosto de 1989)
O Brasil é a casa onde os santos menos fazem milagres, uma estranha espécie de Instituto de
Pesos e Medidas em que a cultura brasileira é "brega" e qualquer rebotalho estrangeiro é cultuado
incondicionalmente. O que menos se macaqueia de fora é a ausência de preconceitos musicais,
sendo um belo exemplo disso o nosso amigo David "Talking Heads" Byrne, sempre atento aos sons
de todo o planeta, e que não conteve a sua admiração ao conhecer o trabalho de Tom Zé (uma
espécie de seu equivalente brasileiro, pois, não tão mal comparando assim, ele poderia ser
considerado um "David Byrne que não deu certo", que nunca teve o apoio de uma grande
gravadora), mais precisamente a partir deste LP.
Tom Zé, para quem não se lembra, veio da Bahia junto com Caetano, Gal e Gil, sendo tão
importante quanto eles, mas não tão famoso, por uma série de fatores: além de sempre ter sido mais
"caseiro" - deixando escapar a chance de se projetar em Londres com eles, e se fixando em São
Paulo numa época em que tudo parecia acontecer no Rio -, Tom Zé nunca sofreu a compulsão de se
curvar perante os modismos ou pendurar melancia no pescoço para aparecer. Além disso, ele
sempre gravou por selos menos fortes que as gravadoras multinacionais (Rozemblit, RGE,
Continental, exceto um obscuro primeiro compacto e algumas faixas inéditas pela RCA, em 1965),
conseguindo fazer apenas sete LPs durante dezesseis anos, quase todos grandes raridades. E este,
Estudando o Samba é o menos comercial deles.
Tom Zé - normalmente eclético e flertando com diversos gêneros de música popular - fez
deste LP um verdadeiro curso de samba, em todos os seus andamentos, estilos e épocas, sempre
filtrando-os por sua ótica pessoal: o samba de morro (na faixa "Se"), o samba amaxixado do inicio
do século ("Você Inventa") e o sambão ("Tô"). Mas ele também enveredou pela bossa nova em "A
Felicidade", de Tom e Vinicius - a única faixa do LP não composta por Tom Zé e transformada em
uma "bossa-valsa"! -, e até pelo minimalismo com um pé no rock e outro nas ladainhas do
Norte/Nordeste (não fosse Tom Zé um bom baiano), como demonstrou em "Mã", a música que
incluía os famosos cavaquinhos em afinações estranhas, marcando obsessivamente o ritmo.
Em seu estudo do samba, Tom Zé se revelou um aluno exemplar. Aquele que até chega a
ensinar algo aos mestres, alguns dos quais, por sinal, participam do disco: Heraldo do Monte, no
violão e guitarra, o maestro José Briamonte, nos arranjos orquestrais, o sambista Elton Medeiros, na
parceria em duas faixas ("Tô" e "Mãe Solteira"), e o percussionista Téo da Cuíca (tocando tambor
66
d'água e outros instrumentos de sua invenção).
Já as letras de Tom Zé formaram um capítulo à parte, em que ele esbanjou sua ironia,
provocação e irreverência, como em "Tô" ("Tô te explicando pra te confundir / Tô te confundindo
pra te esclarecer"), "Se" ("Ah! Se maldade vendesse na farmácia / Que bela fortuna você faria... Me
contem / Como escrever de novo / Um jornal de ontem"), "Você Inventa" ("Você inventa Deus e eu
invento a fé / Você inventa o pecado e eu fico no inferno") e até mesmo os momentos mais líricos,
como "Mãe Solteira" ("Dorme, dorme meu pecado / Minha culpa, minha salvação").
O próprio Tom Zé iria relembrar posteriormente que, na época, Heraldo do Monte não
conteve uma expressão de espanto semelhante à feita por David Byrne, doze anos depois, ao
conhecer a originalidade de seu trabalho. Pois bem, quem se dispuser a estudar o samba, tem que
obrigatoriamente consultar este LP, no qual Tom Zé defendeu brilhantemente a sua tese sobre a
versatilidade, energia e eternidade do gênero.
Ayrton Mugnaini Jr.
67
Gilberto Gil
Expresso 2222 (1972)
(Revista Bizz, n126, Editora Abril, dezembro de 1995)
Quando começou a circular o Expresso 2222 , em 72, a luz no fim do túnel era a locomotiva
da ditadura vindo em sentido contrário. Como Caetano, Gilberto Gil voltava de um exílio de dois
anos em Londres, após uma prisão arbitrária, e recomeçava a carreira a todo o vapor unindo as duas
pontas básicas do ideário tropicalista. De um lado, o regionalismo fundador da tosca &
revolucionária Banda De Pífanos De Caruaru ("Pipoca Moderna"). De outro, uma canção do exílio
universalista, "Back In Bahia", que ao invés de palmeiras e sabiás, planta Celly Campelo e um
velho baú de prata.
Entre os extremos dessa arqueologia há espaço para o nordeste agreste de João do Vale
(mais Ayres Viana e Alventino Cavalcanti), turbinado por guitarras em "O Canto Da Ema" e a
parábola da contaminação cultural, do repertório de Jackson do Pandeiro, "Chiclete Com Banana".
A que fala em samba/rock antes de Lobão nascer e mistura Miami com Copacabana, quando a era
Collor ainda era um brilho fugidio nos olhos psicopatas de seus genitores. Com anos-luz de
antecedência, o forró-core e o mague-bit já pulsavam nos hormônios freventes da sucinta "Sai do
Sereno" (Onildo de Almeida), em duo com Gal Costa, edificada numa única estrofe poética.
Antes da trilogia "Re" do autor (o ruralista/macrô "Refazenda", o funkiado "Refavela" e o
pop "Realce"), este "Expresso" para depois do ano 2000 já falava em estrada do tempo pré-infovias
de Bill Gates. A clássica faixa-título foi repaginada no recente "Acústico" de Gil com uma
acentuação de sua pisada de xaxado implícita na versão original. O disco de 72 também faz um
inventário ideológico da geração do desbunde com palavras de ordem com "O Sonho Acabou". Ao
mote de John Lennon, Gil acrescenta pitadas tropicalistas ("dissolvendo a pílula de vida do Dr.
Ross/na barriga de Maria") e um atestado de que os caretas perderam o bonde da história. "Quem
não dormiu no sleeping bag/nem sequer sonhou/ e foi pesado o sono pra quem não sonhou".
Além de uma distinção de perfis com o xifópago estético Caetano em "Ele E Eu" ("Ele vive
calmo/e na hora do Porto Da Barra/fica elétrico"), Gil manda o editorial do disco obra-prima em
"Oriente". "Se oriente rapaz/pela constatação de que a aranha/vive do que tece/ vê se não se
esquece". De tão sólida, a teia do Expresso 2222 sobreviveu ao vírus do tempo.
Tárik de Souza
68
Gal Costa
Fa-Tal: Gal a Todo Vapor (1971)
(Revista Bizz, n132, Editora Abril, julho de 1996)
Em 1971, quando rolou o show Vapor Barato, transfomado num disco duplo gravado ao vivo
no Teatro Tereza Rachel, no Rio, Gal Costa, mais que musa, era a estrela sobrevivente da saga
tropicalista. Sob as botas do governo Médici (1969-1974), com os mentores do movimento, Caetano
e Gil no exílio, a juventude antenada da época vivia entre a guerrilha e os vapores baratos que
subiam dos charos acesos pela oposição lisérgica ao governo. Imantada por Gal, boa parte desta
fatia viajante da galera se reunia (no Rio) num trecho da praia da Ipanema repleto de dunas, onde
sena construído um emissário submarino de esgoto. Eram as "dunas do barato", ou como se dizia no
baianês da época. "as dunas de Gal".
Neste disco/show, além de segurar a barra tropicalista, Gal já rodava a baiana de maior
cantora da MPB. Só ela vai dos cochichos de João Gilberto aos urros de Janis Joplin sem trair a
Dalva de Oliveira que mora no sentimentalismo deste país de três raças tristes. Vapor Barato,
também conhecido por Gal Fatal, é obra-prima. O repertório linka folk ("Fruta Gogóia", "Bota A
Mão Nas Cadeiras"), emepebê antepassada ("Assum Preto", "Falsa Baiana") e o sotaque rock da
época ("Hotel Das Estrelas", "Como 2 E 2", "Dê Um Rolê"), tudo dentro da atitude marginal que
cutucava o sistemão com um jogo de da(r)dos poéticos.
Quase todas as faixas escolhidas têm dupla leitura. Desde o velho samba "Antonico", do
genial Ismael Silva, um pedido de auxílio que vinha a calhar naquelas trevas, até os retratos a ferro
e fogo da época, escritos por Macalé e Waly Salomão. Além da novo baiana "Dê Um Rolê"
("Enquanto eles se batem/Dê um rolê"), explodem os versos opressos de "Mal Secreto" (Massacro
meu medo/Mascaro minha dor"), "Hotel Das Estrelas" ("Sob um pátio abandonado/Mortos embaixo
da escada"), "Luz Do Sol" ("Quero ver de novo/A luz do sol") e a faixa-título, "Vapor Barato" ("Eu
tou indo embora/Talvez um dia eu volte, quem sabe?"). Reciclada para o sucesso pelo filmaço Terra
Estrangeira, de Walter Salles Jr., que fotografa grão a grão o exílio desértico da era Collor, esta
música atesta que o país se repete como uma farsa constantemente reescrita.
Gal inicia o disco pianinho, acompanhando-se ao violão até que sua voz de colocação
joãogilbertiana (confiram "Falsa Baiana", "Coração Vagabundo"), explode junto com guitarras e
microfonias. De "Pérola Negra" às canções do exílio enviadas de Londres por Caetano "Maria
69
Bethânia" e "Como 2 E 2" , Gal cimenta o mito de cantora perfeita. Tem a técnica (por vezes
incorpórea) de Elis Regina e a comoção (nem sempre lapidada) de Maria Bethânia. É a rainha do
cool drama. Sua voz queima como gelo e corta feito diamante. A emissão límpida convive com a
sujeira da rouquidão provocada, o grito preso na garganta e a confidência invasora. O tropicalismo
gerou uma cantora fatal. Ou melhor, fa-tal.
Tárik de Souza
70
Bibliografia
BAHIANA, Ana Maria. Nada será como antes: MPB nos anos 70. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980.
BARTHES, Roland. Crítica e Verdade. Perspectiva. SP, 3ª ed. 2007.
BRAGA, José Luiz. Interação como contexto da comunicação. In: Matrizes. Ano 6, n.1, p.25-41,
São Paulo, Brasil, 2012.
CAMPOS, Augusto de. Balanço da Bossa e Outras Bossas. Ed. Perspectiva, 5ª ed., São Paulo,
2005.
CARDOSO, Everton Terres. Crítica de um enunciador ausente: a configuração da opinião no
jornalismo cultural. In: Em Questão, v.13. Porto Alegre, 2007.
CONTIER, Arnaldo. Edu Lobo e Carlos Lyra: O Nacional e o Popular na Canção de Protesto (Os
Anos 60). In: Revista Brasileira de História. Dossiê: arte e linguagens, n° 35 vol. 18. ANPUH
/Humanitas. 1998.
FAVARETTO, Celso. Tropicália: Alegoria Alegria. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000 (3ª edição).
FARO, J. S. Nem tudo que reluz é ouro: contribuição para uma reflexão teórica sobre o jornalismo
cultural. 2006/UMESP. Disponível em:
http://www.metodista.br/poscom/cientifico/publicacoes/docentes/artigos/artigo-0059/. Acesso em:
04/07/2013.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 2001 (43a edição).
GREGOLIN, Maria do Rosário. Análise do discurso e mídia: a (re)produção de identidades. In:
Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, vol 4, n. 11. p.11-25, 2007.
HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Cultura e participação nos anos 60. Sao Paulo: Brasiliense,
1989.
MORELLI, Rita C. L. Indústria Fonográfica: um estudo antropológico. Campinas, Unicamp, 1991.
NAPOLITANO, Marcos. “Desde que o samba é samba: a questão das origens no debate
historiográfico sobre a música popular brasileira”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.
20, n.39, p.167-189, 2000.
_____________________. “O Tropicalismo no contexto dos festivais”. 1997. Texto originalmente
apresentado no Seminário “Tropicalismo 30 anos: a explosão e seus estilhaços”, Depto. Teoria
Literária, Universidade de Brasília, outubro de 1997). Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000100003. Acesso em:
04/07/2013
71
____________________. História & Música - História cultural da música popular. Belo Horizonte;
Autêntica, 2002.
OLIVEIRA, Cassiano S. de. O Criticismo do rock brasileiro no jornalismo de revista especializado
em som, música e juventude: da Rolling Stone (1972 -73) à Bizz (1985 – 2001). Tese de
Doutorado. UFRS, Porto Alegre, 2011. Disponível em: http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?
codArquivo=3203. Acesso em: 04/07/2013
ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso – Princípios e Fundamentos. Campinas, SP. Pontes. 2003.
PECHEUX, Michel. O Discurso – Estrutura ou Acontecimento. Pontes, 3ª ed. Campinas – SP,
2002.
PRADO, Paulo. Retrato do Brasil – Ensaio sobre a tristeza brasileira. Coleção: Intérpretes do
Brasil. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2ª ed., 2002.
PIZA, Daniel. Jornalismo Cultural. São Paulo, Contexto, 2011.
SCHAWRZ, Roberto. Cultura e Política – 1964, 1969. In: O Pai de Família e Outros Estudos.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2000.
VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
VIANNA, Hermano. O Mistério do Samba. Rio de Janeiro. Jorge Zahar/ UFRJ, 5ª edição, 1995.
Revistas analisadas
PAPPON, Thomas. Os Mutantes. Discoteca Básica. In: Revista Bizz, n. 10. Editora Abril, 1986.
ABRAMO, Bia. Transa. Discoteca Básica. In: Revista Bizz, n.27. Editora Abril, 1987.
_____________. Tropicalia ou Panis et Circencis. Discoteca Básica. Revista Bizz, n.41. Editora
Abril, 1988.
MUGNAINI, Ayrton. Estudando o Samba. In: Discoteca Básica. Revista Bizz, n49. Editora Abril, ,
1989.
SOUZA, Tárik. Expresso 2222. In: Discoteca Básica. Revista Showbizz, n126. Editora Abril,
1995.
____________. Fa-tal – Gal a Todo Vapor. In: Discoteca Básica. Revista Showbizz, n.132. Editora
Abril, 1996.
72
Referência discográfica
Caetano Veloso. Transa, Phonogram, 1972.
____________. Araçá Azul, Phonogram, Phonogram, 1973.
Gal Costa: Fa-tal - Gal a Todo Vapor, CBD/Philips, 1971.
Gilberto Gil. Expresso 2222, Phonogram, 1972.
Os Mutantes. Os Mutantes, CBD/Polydor/Philips, 1968.
Tom Zé. Todos os Olhos, Continental, 1973.
Discografia complementar sobre o tropicalismo
Caetano Veloso: Caetano Veloso, Philips, 1967.
_____________ Caetano Veloso, Philips, 1969.
_____________ Caetano Veloso, Famous/ Philips, 1971.
_____________Transa, Phonogram, 1972.
_____________ Caetano e Chico Juntos, Phonogram, 1972.
_____________ Araçá Azul, Phonogram, Phonogram, 1973.
Gal Costa. Gal, CBD/Philips, 1969.
Gilberto Gil: Gilberto Gil, Philips, 1969.
__________Gilberto Gil, Famous/ Fonogram, 1971.
__________Barra 69: Caetano Veloso e Gilberto Gil Ao Vivo, Pirata/ Phonogram, 1972.
João Gilberto. Chega de Saudade, Odeon, 1959.
___________. O Amor, o Sorriso e a Flor, Odeon, 1960.
Mutantes. Os Mutantes, CBD/Polydor/Philips, 1969.
________. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, Polydor, 1970.
_________. Jardim Elétrico, Polydor, 1971.
Novos Baianos. Acabou Chorare, Som Livre, 1972. (relançado em cd: Som Livre, 2000).
____________Novos Baianos F.C., Continental, 1973. (relançado em cd: Série Dois Momentos
Vol. 4, Warner Music, 2000.).
Nara Leão, Nara Leão, CBD/Philips, 1968.
Rogério Duprat, A Banda Tropicalista de Rogério Duprat, CBD/Philips, 1968.
Ronnie Von. Ronnie Von, CBD/Polydor, 1968.
Tom Zé. Tom Zé, Rozenblit, 1968.
Gilberto Gil e Caetano Veloso. Tropicália 2. Polygram/Philips, 1993.