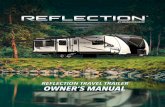Costa RV 2009
Transcript of Costa RV 2009
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE PESCADORES DO RIO TELES PIRES EM ALTA FLORESTA - MT: UM DIÁLOGO
COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
REGINALDO VIEIRA DA COSTA
Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Mato Grosso, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais para a obtenção do título de Mestre.
CÁCERES MATO GROSSO, BRASIL
2009
4 REGINALDO VIEIRA DA COSTA
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE PESCADORES DO RIO TELES PIRES EM ALTA FLORESTA - MT: UM DIÁLOGO COM A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Mato Grosso, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais para a obtenção do título de Mestre.
Orientador: Prof. Dr. Germano Guarim Neto
CÁCERES
MATO GROSSO, BRASIL 2009
REGINALDO VIEIRA DA COSTA
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE PESCADORES DO RIO TELES PIRES EM ALTA FLORETA - MT: UM DIÁLOGO COM A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Esta dissertação foi julgada e aprovada como requisito para a obtenção do título de Mestre e Ciências Ambientais Cáceres, 05 de Março de 2009
Banca examinadora
____________________________________________ Prof. Dr. Elias Renato da Silva Januário
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
____________________________________________ Profa. Dra. Vera Lucia Monteiro dos Santos Guarim
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
____________________________________________ Prof. Dr. Germano Guarim Neto
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Orientador)
CÁCERES, MATO GROSSO, BRASIL
2009
3
DEDICATÓRIA
Rio Teles Pires (Foto: COSTA, R. 2007)
À família mais importante do mundo,
A minha família, pequena em números, mas grande no amor!!! Meus pais: Joaquim José da Costa e Maria Neusa Vieira da Costa, por
terem me proporcionado o que melhor a vida pode oferecer, educação!!!
Minha irmã, Regina, cúmplice em minha vida sempre! Meu cunhado, Ronaldo, por ser um irmão!
Meu sobrinho, João Gabriel, amor da minha vida!
Obrigado por vocês existirem, compartilhando comigo minhas vitórias, cursar este Mestrado de certa forma é uma vitória de vocês também!!!
Aos Pescadores, pessoas simples, que tiveram apenas a vida e o viver como escola, e
à sua maneira aprenderam a fazer as leituras do mundo, e a viver nesse mundo, enfrentando os desafios...
e com muita humildade me ensinaram um pouco de suas histórias, mesmo receosos, permitiram que eu “mergulhasse” em seus mundos com a
esperança em um novo amanhã...
Sem a colaboração de vocês esse trabalho não teria sido possível!
4
AGRADECIMENTO ESPECIAL
Catleia violacea, orquídea da Amazônia. (Foto: COSTA, R. 2007)
Ao meu orientador, Prof. Dr. Germano Guarim Neto, pelo constante
apoio, carinho, amizade, confiança e estímulo, por me acolher e me mostrar os caminhos itinerários da Educação Ambiental, por acreditar em minha capacidade, me ensinando e orientando, e com muita serenidade me mostrando os labirintos a percorrer, tranquilizando-me nos momentos de desespero e angústias, sempre com uma sabedoria, humildade e um bom humor contagiante.
5
AGRADECIMENTOS
Ao concluir mais esta etapa de minha formação profissional e abrir novas perspectivas para o futuro próximo, quero externar meus agradecimentos às pessoas e às diversas instituições, que muito contribuíram para que pudesse chegar até aqui.
Fazer esses agradecimentos não foi uma tarefa muito fácil, levou certo
tempo para escrever e lembrar todos que me ajudaram e ainda corro o risco de cometer injustiças, esquecendo alguém, mas por outro lado foi um exercício interessante, pois me ajudou a lembrar esse período frutífero do Mestrado, como se fosse um filme passando pela minha mente, na verdade uma Dissertação nada mais é que uma interação entre textos e pessoas, os textos que foram consultados estão listados na bibliografia, no final do trabalho e as pessoas a serem agradecidas no início, isso é uma forma de evidenciar que as pessoas são as mais valorizadas no processo.
Esta Dissertação é fruto de sonhos que me acompanham ao longo de
anos e, quem sabe até de uma vida inteira de opções, influências e aprendizagens, pois nada está ou existe no universo isoladamente. Por isso agradeço as muitas pessoas que caminharam comigo e influenciaram em minhas escolhas, sejam elas quais foram. Agradeço... Em primeiro lugar a Deus pelo Dom da vida, por me dar força sempre... por instruir-me com discernimento e sabedoria, perante os obstáculos e provas encontradas durante o percurso, ajudando-me a não desanimar e por não permitir que eu percorresse nos atalhos que aparecem. À Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, em especial ao programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, pela oportunidade de fazer parte deste Mestrado. Aos Professor@s do Programa de Pós-Graduação, pelos ensinamentos, sugestões e convívio. Aos membros da Banca Examinadora de Qualificação e Defesa: Profa. Dra. Vera Lucia Monteiro dos Santos Guarim e Prof. Dr. Elias Renato da Silva Januário, pelas contribuições extremamente oportunas e necessárias. Ao saudoso Prof. Dr. Lauro José Cunha, pela indispensável contribuição para o exame de proficiência. Ao amigo Leandro Battirola, por acompanhar mesmo que distante, minhas angústias e sonhos ainda da graduação e por acreditar em minha capacidade me incentivando a não desistir, sempre.
6
A minha amiga Ivone Nishi, pelos prazerosos diálogos sobre educação, educação ambiental, pesquisa e realidade alta florestense. A senhora Julita, presidente regional da Colônia Z-16 em Sinop, pelas preciosas informações. Ao Pedro e a Sonia, representantes da Colônia Z-16 em Alta Floresta, por permitir que eu chegasse até os pescadores, informando os cadastros e endereços dos mesmos. A Eliane, pela ajuda em “garimpar” material sobre a história de Alta Floresta, dos índios e pelos inúmeros diálogos que tivemos sobre gastronomia, música, educação, ciência, mestrado... Ao Marcos Tiso e Márcia Luiza pelas fotos cedidas que ilustram parte deste trabalho. A Cristiane, amiga de graduação pela força, incentivo sempre. Aos funcionários da UNEMAT, pelo apoio, em especial à Ediléia, Secretária do Mestrado, e à Kelly, Secretária do CELBE, pela dedicação e atenção em todos os momentos em que foram solicitadas. A equipe gestora (2007-2008) da Escola Estadual Nova Canaã, da qual fiz parte durante esse período do mestrado, em especial ao Claudio, Luzia, Valdenici, Sebastiana, Judite, Alda e Clenir, por saberem entender minhas ausências, ajustando o horário/calendário escolar, obedecendo meus compromissos acadêmicos, por sempre estarem dispostos a me ajudar, e por todo apoio recebido. A todos os colegas profissionais da Educação da Escola Nova Canaã com quem trabalhei durante esse período, pelas discussões, sugestões e momentos de muito aprendizado. Aos meus pais Joaquim José da Costa e Maria Neuza Vieira da Costa pelo constante esforço que sempre fizeram, às vezes sem condições financeiras para garantir uma vida melhor aos filhos, mas conseguiram oferecer dignidade. E pelo apoio que sempre me deram em todos os momentos. Grato a todos os homens, mulheres, jovens e crianças que tem suas vidas marcadas pelo ritmo das águas do rio Teles Pires, em especial às pessoas entrevistadas que tanto contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço mais uma vez ao meu orientador, Prof. Dr. Germano Guarim Neto, pela sensibilidade humana, pelo companheirismo e ensinamentos com seu jeito simples e humilde de “socializar conhecimentos”.
7
Aos meus elos familiares, minha irmã Regina, meu cunhado Ronaldo e meu sobrinho João Gabriel, por ser a base forte que eu tanto preciso. Aos colegas do mestrado, pelo maravilhoso convívio, em especial aos “cacerenses da gema” Sandra, Josdemar e José Carlos, que conseguiram fazer com que eu olhasse Cáceres com “outros olhos” a ponto de admirá-la e sentir saudades. Aos colegas Georges (bigato), José Aldair (gaucho) e Edneuza (pequena princesa), pelo convívio no hotel Flamboyant, em Cáceres, nos jantares improvisados... nos ônibus e rodoviárias durante os trajetos, sempre juntos, discutindo ciência, dividindo sonhos e rindo...Valeu colegas!!! Aos brasileiros “anônimos” que com seus impostos financiam as instituições públicas de ensino, as quais me proporcionaram conhecimento e educação e hoje retribuo como Profissional da Educação. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial a Sandra, por nos “aceitar” em sua casa, no seu “cantinho cultural”, nos momentos de “sincretismo gastronômico”, regados de uma boa conversa, artesanatos e claro muita comida, e de quebra uma boa cervejinha... Valeu Sandra!!! Enfim, agradecer parece óbvio quando se recebe muito. Assim, reforço meus agradecimentos não apenas os que aqui foram citados, mas também aos que por um descuido foram “esquecidos”, pois certamente estiveram comigo nessa caminhada tão importante, e contribuíram para a realização de um sonho...
eternamente grato!
8
SOBRE O AUTOR
REGINALDO VIEIRA DA COSTA nasceu em Umuarama estado do Paraná, no dia 19 de Setembro de 1974, onde viveu apenas alguns anos, vindo então para o Mato Grosso do Sul e posteriormente para o Mato Grosso, com apenas oito anos, desde então reside nesse ambiente, presenciando as transformações pelas quais a região passa. Concluiu o ensino fundamental e médio em escolas públicas de Alta Floresta-MT, ingressando no ensino superior, em 1997, no curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, campus de Alta Floresta, cursou pós-graduação lato sensu em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras MG, concluindo em 2002 e também Educação Ambiental e Ecoturismo para o uso e conservação da Amazônia Norte Matogrossense pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, campus de Alta Floresta, concluindo em 2005. A determinação em cursar o mestrado foi uma constante e pesquisar sobre o ambiente amazônico no qual tem vivido, tornou-se grande desafio a ser vencido. Isso culminou para um sucesso na seleção do mestrado em Ciências Ambientais, com o ingresso em março de 2007, momentos de muitas reflexões e discussões sobre meio ambiente e a sustentabilidade. Atua na Educação desde 2003, inicialmente exercendo funções de professor substituto em escolas de ensino fundamental e médio. Em 2007, com a aprovação no concurso público para ingresso na Educação Básica com o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do estado de Mato Grosso - SEDUC, exercendo suas atividades profissionais no município de Nova Canaã do Norte-MT. Atualmente atua como professor no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica CEFAPRO, pólo de Sinop-MT. Tem participado de eventos científicos e de debates sobre diferentes assuntos de interesse da comunidade alta florestense. Atuando na formação continuada dos profissionais da educação básica, há possibilidades de um maior comprometimento com as questões ambientais locais, regional e global, pois é através da educação que há um compromisso na formação de cidadãos mais críticos, buscando alternativas para a superação dos entraves do cotidiano das diferentes aprendizagens e assim se amplia as possibilidades através da Educação Ambiental, também no ensino não-formal.
9
ÍNDICE
Lista de abreviações, siglas e símbolos ................................................. 11 Lista de quadros..................................................................................... 12 Lista de figuras......................................................................................... 13 Resumo.................................................................................................. 14 Abstract ................................................................................................. 15 Introdução ............................................................................................. 17 1 - Referencial teórico 1.1 Alta Floresta e a colônia de pescadores Z-16: Um pouco de história e caracterização......................................................................... 23 1.1.1 Navegando pela Amazônia ......................................................... 24 1.1.2 Um dos mosaicos da Amazônia: o território portal da Amazônia 32 1.1.3 Antes da Colonização: Os indígenas............................................ 34 1.1.4 O lugar: Alta Floresta................................................................... 36 1.1.5 A bacia hidrográfica Teles Pires .................................................. 39 1.1.6 O rio Teles Pires .......................................................................... 41 1.1.7 A colônia de pescadores Z-16: revelando o lócus da pesquisa... 42 1.1.8 Conhecendo a colônia Z-16......................................................... 43 1.1.9 Os pescadores ............................................................................ 45
1.2 Educação e Percepção Ambiental: Um diálogo fecundo e necessário .............................................................................................. 47 1.2.1 O início do diálogo......................................................................... 48 1.2.2 A educação não-escolarizada ..................................................... 48 1.2.3 Representação social e Meio Ambiente ...................................... 50 1.2.4 Uma Educação Ambiental transformadora .................................. 53 1.2.5 A Percepção Ambiental ............................................................... 56
2 Material e métodos 2.1 Metodologia adotada...................................................................... 65 2.2 A seleção dos informantes e a coleta de dados. ............................ 68 3 Resultados e discussão 3.1 Percepção Ambiental dos pescadores da colônia Z-16: as evocações, sentimentos, anseios e interpretação da natureza em uma comunidade em movimento.................................................... 71 3.1.1 O ser humano no mundo ............................................................. 72 3.1.2 Cultura e saber local.................................................................... 72 3.1.3 Os participantes da pesquisa ...................................................... 73 3.1.4 A profissão de pescador hoje e amanhã ..................................... 77 3.1.5 O saber local dos pescadores sobre o rio Teles Pires, a pesca, a fauna e a flora: um saber não escolarizado...................................... 78 3.1.6 O espaço percebido e as alterações da paisagem ..................... 80 3.1.7 Os impactos ambientais percebido pelo grupo estudado ............ 83 3.1.8 Etnoconhecimento: o saber local instalado ................................. 87
10
3.1.9 A legislação pesqueira e o pescador ........................................... 90 3.1.10 Peixes mais comercializados e capturados na região ............... 92 3.1.11 Os lugares e as épocas de pesca no rio.................................... 93 3.1.12 A atividade pesqueira: interação rio-pescador........................... 94 3.1.13 Os equipamentos e as técnicas de pescaria ............................. 95
Considerações finais .............................................................................. 101 Referências ........................................................................................... 105
11
LISTA DE ABREVIAÇÕES, SIGLAS E SÍMBOLOS
CBERS2: China-Brasil Earth-Resources Satelite / Satélite Sino-Brasileiro de
Recursos Terrestres
CCD: Charge-Coupled Device / Dispositivo de Carga Acoplado
CONSEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente
EA: Educação Ambiental
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
ICV: Instituto Centro de Vida
IBDF: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
INDECO/SA: Integração, Desenvolvimento e Colonização / Sociedade Anônima
INSS: Instituto Nacional do Seguro Social
INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário
ONG: Organização Não Governamental
PIB: Produto Interno Bruto
SEMA: Secretaria Estadual de Meio Ambiente
SEPLAN: Secretaria de Planejamento
SUDEVEA: Superintendência de Desenvolvimento da Borracha
SUDEPE: Superintendência de Desenvolvimento da Pesca
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a
cultura
UGI: União Geográfica Internacional
UNEMAT: Universidade do Estado de Mato Grosso
Z-16: Zona de Pesca número 16
12
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: tamanhos de peixes capturados na bacia Araguaia/Tocantins e Amazônica ........................................ 91
13
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Mapa da Amazônia Legal...................................................... 26 Figura 2: Principais bacias hidrográficas do estado de Mato Grosso... 27 Figura 3: Área do desmatamento na Amazônia Legal ......................... 28 Figura 4: Área de influência da BR-163 ............................................... 29 Figura 5: Áreas desmatadas no eixo da BR-163 ................................. 29 Figura 6: Rio Teles Pires em período de cheia .................................... 30 Figura 7: Pedreiras em determinados locais ao longo do rio Teles Pires................................................................... 31 Figura 8: Pequenas ilhas de areia ao longo do rio Teles Pires ............ 31 Figura 9: Mapa de localização do Território Portal da Amazônia ......... 32 Figura 10: Localização do município de Alta Floresta ........................... 38 Figura 11: Bacia do Alto e Médio rio Teles Pires.................................... 40 Figura 12: Municípios limites com a bacia do rio Teles Pires ................. 41 Figura 13: Pescador reunido com a família às margens do rio Teles Pires............................................................................. 83 Figura 14: Queimadas, um dos processos de destruição da floresta..... 84 Figura 15: Desmatamento nas proximidades do rio ............................... 85 Figura 16: Garimpos de minérios nas proximidades do rio ................... 86 Figura 17: Barracos de lona como moradia provisória nas margens do rio Teles Pires .................................................. 95 Figura 18: Pescador verificando suas armadilhas.................................. 96
14
RESUMO COSTA, Reginaldo Vieira da. Percepção ambiental de pescadores do
rio Teles Pires em Alta Floresta-MT: Um diálogo com a educação ambiental. Cáceres: UNEMAT, 2009. 112 p. (Dissertação – Mestrado em Ciências Ambientais)1.
O presente trabalho foi realizado na região de Alta Floresta, norte do estado de Mato Grosso, uma região de floresta Amazônica considerada a maior floresta tropical do mundo, rica em diversidade biológica e cultural. Nosso olhar se dirigiu à colônia de pescadores Z-16, que é constituída de homens e mulheres simples que exercem a pesca principalmente no rio Teles Pires, nosso lócus de estudo. Estes pescadores e pescadoras tem nessa atividade seu principal meio de subsistência, e dividem esse espaço com outros moradores que são os agricultores e os madeireiros cujas atividades causam muitos impactos ambientais. Com o objetivo de conhecer essa comunidade, estabelecemos diálogos com abordagem da fenomenologia da percepção o que nos proporcionou verificar as dinâmicas que pulsam neste ambiente singular: seus hábitos, suas histórias, seus modos de vida, seus conhecimentos e habilidades em relação à pesca, a fauna e flora local, assim como as transformações ocorridas ao longo do tempo, trazendo para estas páginas a percepção ambiental desses pescadores. Utilizamos da pesquisa qualitativa, com aplicação de entrevistas semi-estruturadas com 20 pescadores profissionais e amadores, privilegiando principalmente aqueles que exercem a atividade há mais tempo no rio Teles Pires, pois o tempo imprime mais detalhes em suas lembranças sobre as alterações que vêm ocorrendo no meio em que vivem. Os resultados apontam que os pescadores estabelecem uma estreita relação com o exuberante cenário desta pesquisa, apresentando laços de topofilia, que entendemos ser relações de pertencimento e admiração com o local, do qual retiram o sustento de suas famílias, percebemos ainda traços de topofobia que indicam fobia ou rejeição aos perigos que o rio pode trazer. O saber instalado nessas comunidades a respeito do rio, da fauna e da flora, remete a um conhecimento que transcende as gerações e nesse grupo específico isso pode deixar de acontecer, devido essa atividade de pesca estar se perdendo no tempo, pois a insatisfação com a atividade é visível. Esses pescadores sofrem com a ausência de políticas públicas para o setor pesqueiro. Ainda que predomine estes fatores, e diante de tantas transformações, verificamos que os saberes populares e o espaço de vida desses pescadores nos reportam a presença significante das diretrizes da educação ambiental na comunidade. A convergência da Percepção Ambiental com a Educação Ambiental permite a busca de caminhos e mecanismos que favoreçam o diálogo dessa comunidade com as autoridades competentes, na tentativa de propiciar melhores condições de trabalho, maior qualidade de vida e assim exercitar o respeito ao ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Percepção Ambiental, Rio Teles Pires, Pescadores, Amazônia.
1 Orientador: Dr. Germano Guarim Neto – Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT
15
ABSTRACT
COSTA, Reginaldo Vieira da: Fishermen environmental perception of Teles Pires river in Alta Floresta-MT: A dialogue with the environment education. Cáceres: UNEMAT, 2009. 112 p. (Dissertation – Master in Environmental Science)2.
The present work was realized in the area of Alta Floresta, north of the
State of Mato Grosso, an area of Amazon Rain Forest considered the biggest tropical forest in the world, rich in biological diversity and cultural. Our look was directed to the fishermen colony Z-16, that is constituted of simple men and women that exert the fishing mainly in Teles Pires river, our locus of study. These fishermen have on this activity their main of subsistence, and share this space with other residents that are the agriculturists and the woodworkers whose activities cause a lot of environmental impacts. With the aim to know this community, we established dialogues with phenomenology of perception that provided us to verify the dynamics that pulse in this singular environment: Their customs, stories, ways of life, knowledge and abilities with regard to fishing, about local fauna and flora, as well as the transformation occurred along the time, bringing to this pages the fishermen environmental perception. We made use of qualitative research, with the application of semi-structured interviews with twenty professional and amateur fishermen, privileging mainly who that exert the activity for a longer time in the Teles Pires river, because the time prints more details on their regards about the alterations that have been occurring in the environment where they live. The results indicate that the fishermen establish a strait relationship with the exuberant landscape of this research, presenting links of topofilia, that we understand to be relations of belonging and astonishment with the local, in which they obtain the maintenance of their families, we perceive yet, aspects of topofobia that indicates phobia or refusal to the danger that the river can brings. The knowledge settled in these communities regarding the river, the fauna and flora, refers to a knowledge that transcend the generations and in this specific group it can fail to happen, due to this fishing activity is being lost in time, since the dissatisfaction with the activity is visible, being about to completely disappear for this group. These fishermen suffer with the lack of public politics for the fishing setor. Nevertheless these factors predominate, and in front of so many transformation, we verified that the popular knowledge and these fishermen space of life, turn us back the significant presence of the guidelines of environmental education in the community. The convergence of Environmental Perception with the Environmental Education allows the research of ways and mechanisms that favour the dialogue of this community with the competent authorities, in the attempt of propitiate better conditions of work, bigger quality of life to these fishermen and then exercise the respect of the environment. Key Words: Environmental Education, Environmental Perception, Rio Teles Pires, Fisherman, Amazon. 2 Major Professor: Dr. Germano Guarim Neto – Universidade do Estado de Mato Groso/UNEMAT.
16
Rio Teles Pires, Foto: COSTA, R. 2007)
������������������������ ����������������������������������������� ����� ������������������������ �������������������������� � � � � � ��������������������������������������������������
17
INTRODUÇÃO
����!���������"�����������������!��!������ �������� �� �������� �� ������������#���� ������������ ������ ��#���� ����!�� ������� ����� ����������� ������������� ��� �������� ��� !$%���� ���������������&����'�
(�������)���������
Cotidianamente, a mídia mostra cenas de degradação ambiental.
Degradação não só física e biológica, como o desmatamento das florestas ou a
poluição dos rios, mas também a degradação das relações entre as pessoas e
demais formas de vida no planeta. Como exemplos, temos os constantes
conflitos entre as nações, religiões, etnias, ideologias, economias, gêneros, e
igualmente o cidadão que está nas ruas, sem moradia digna.
É tempo de atentarmos ao que retrata a problemática ambiental, seja no
campo da ética e da moral, no da educação e da percepção, pois todos os
processos e atividades educacionais e humanas revelam e propõem o
conhecimento para ações e deveres de cidadania. O despertar ambiental
ressalta a hermenêutica das relações interdisciplinares que formam
paradigmas educacionais dentro das relações do pensamento filosófico e
crítico, abordando valores, conceitos, crenças e saberes para o
desenvolvimento humano, social e ambiental.
Para Santos (1995) a degradação do planeta é, dentre os problemas
ambientais, talvez o mais transnacional, levando com isso à exigência de um
diálogo planetário. Segundo o autor, essas questões, dependendo da forma
como forem tratadas, poderão caminhar para um agravamento das
desigualdades sociais e econômicas, bem como para a inviabilização das
relações entre diferentes culturas e modos de vida em sociedade.
Embora as discussões a respeito das questões ambientais tenham
assumido no planeta um patamar cada vez maior, as alternativas propostas
para os problemas existentes são herdeiras dos modelos de produção de
conhecimento dos séculos passados, mostrando-se inadequadas para a
superação dos novos desafios.
18
À medida que o ser humano desrespeitou a natureza e dela se afastou
passou a vê-la não mais como lugar de possível vida, mas como lugar de
riquezas para poucos, transformando-a em lucro egoístico com as destruições
devastadoras. Somos reféns de uma sociedade consumista, de uma civilização
depredadora, onde muitos estudiosos alertam-nos de que devemos mudar os
nossos relacionamentos com a terra, ou vamos ao encontro do pior (BOFF,
2003).
Segundo Guattari (2001), o planeta Terra vive um período de intensas
transformações técnico-científicas, em contrapartida das quais engendram-se
fenômenos de desequilíbrios ecológicos.
Para Ab'saber (1994), é preciso compreender a presença do homem nos
espaços terrestres, condicionada sócio-economicamente, avaliando as formas
de ocupação dos espaços rurais e urbanos, com o objetivo de garantir um
ambiente harmônico e saudável evitando ações predatórias desnecessárias e
inconseqüentes.
Desta forma, acredita-se estar na educação o meio mais eficaz para
amenizar a atual problemática ambiental.
Segundo Saviani (1994), a educação é a produção de idéias, conceitos,
valores, símbolos, hábitos, atitudes e habilidades, fundamentais para a
formação da humanidade em cada indivíduo singular. Portanto, a educação é
um processo de instrumentalização dos sujeitos para uma prática social crítica
e transformadora.
Diante dos atuais problemas que envolvem o ambiente no qual o ser
humano está inserido, a Educação Ambiental (EA) vem sendo tratada como um
processo de educação que garante um compromisso com o futuro. É uma ação
destinada a “reformular os comportamentos humanos tanto em âmbito
individual, quanto na escala coletiva, e recriar valores perdidos ou jamais
alcançados” (AB'SABER, 1994).
A educação ambiental busca no campo do conhecimento transdisciplinar
a homogeneização das disciplinas formal e não formal, produzindo o caráter
que irá emancipar o saber epistemológico entre o ser e o ter. As informações
científicas e empíricas para a conscientização e preservação ambiental dirigem
19
um novo olhar para transformar e evoluir o pensamento educacional, partindo
de conceitos que revelam a inexperiência e inconseqüências dos maus tratos à
natureza.
A atual situação planetária reclama das condições em que se encontra,
seja pelos fatores internos e/ou externos que englobam e equilibram a
sustentação da vida no planeta.
A educação ambiental (EA) vem ganhando espaço e respeito no âmbito
global. Existe hoje um consenso da sociedade, de que o agravamento dos
problemas ambientais é decorrente do modelo econômico instituído a partir da
Revolução Industrial, e que a EA vem se consolidando como uma esperança
para superar esses problemas (GUIMARÃES, 2003).
A importância da conservação das diversidades é eminente. A cada dia
que passa mais e mais espécies, inclusive espécies desconhecidas, estão
sendo exterminadas. Além das espécies extintas, o próprio conhecimento
local também acaba se perdendo.
Esse descaso com nossa diversidade são provenientes da visão
antropocêntrica, pois, conforme Grün (1996):
Nessa visão o ser humano “é considerado o centro de tudo e todas as demais coisas do universo existem única e exclusivamente em função dele” e que “o antropocentrismo é um mito de extrema importância para a manutenção da crise ecológica”, o qual irá afetar drasticamente na conservação das diversidades biológica e cultural.
A metodologia da EA encontra-se em constante construção e a tentativa
de superação da fragmentação das ações educativas, inclusive nas atividades
de pesquisa, tem preocupado vários pesquisadores nas universidades.
Santos (2004) indica a ecologia de saberes e a pesquisa-ação como
“áreas de legitimação da universidade”, pois atuam ao nível da pesquisa e da
formação, incluindo e transcendendo a extensão. A ecologia de saberes é
segundo esse autor, “uma forma de extensão ao contrário”, uma atividade que
se desenvolve buscando saberes da comunidade para dentro da universidade.
Esse diálogo entre saberes - o saber acadêmico e os saberes populares -
contribuem para o avanço do conhecimento em determinadas áreas e para a
legitimação da universidade como instituição social.
20
Uma maneira eficaz de trabalhar a Educação Ambiental é buscar as
informações necessárias através da Percepção Ambiental. Com esse
propósito, a percepção ambiental tem recebido destaque nos últimos 20 anos
como técnica que associa a psicologia com a sociologia e a ecologia auxiliando
na compreensão das expectativas e satisfações e insatisfações da população
em relação ao ambiente em que vive e no reconhecimento dos fatores que
afetam a qualidade de vida ou o bem estar social.
Assim Percepção Ambiental foi definida por Trigueiro (2003) como sendo
uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, perceber o
ambiente que se está localizado, aprendendo a proteger e cuidar dele da
melhor forma possível.
Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações
sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes
são resultados das percepções (individuais e coletivas), dos processos
cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa.
Assim, estudos sobre a percepção ambiental é de fundamental
importância para que possamos compreender melhor as inter-relações entre o
homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações,
julgamentos e condutas (ZAMPIERON et al., 2003).
Para Merleau-Ponty (2006), a percepção é também o pensamento de
perceber o mundo, estamos no mundo como sujeitos ativos, conferindo
sentidos, valores e interpretações novas às coisas percebidas, uma vez que
elas fazem parte de nossas vidas e interagimos com o mundo percebido
qualitativa, significativa e estruturalmente.
Ainda segundo este autor, quando o ser humano se depara com algo
que se apresenta diante de sua consciência, primeiro o nota e o percebe em
total harmonia com sua forma, a partir de sua consciência perceptiva. Após
perceber o objeto, esse entra em sua consciência e passa a ser um fenômeno.
Com a intenção de percebê-lo, o ser humano intui sobre ele, o imagina
em toda sua plenitude, e será capaz de descrever o que ele realmente é.
Dessa forma, o conhecimento do fenômeno é gerado em torno do próprio
21
fenômeno. Assim o ser humano é o centro da discussão sobre o conhecimento,
este conhecimento nasce e faz-se sensível em sua corporeidade.
Essa comunicação/percepção alicerça-se sempre nos aspectos
concernentes a nossa história de vida pessoal. Nossas expectativas, nossas
frustrações; nossas paixões; nossas desilusões; nossas afetividades; nossas
agressividades.
As pesquisas em percepção ambiental se consolidam efetivamente
como uma das linhas mestras dos estudos do ambiente humano a partir da
década de 70, quando a União Geográfica Internacional (UGI) criou o “Grupo
de Trabalho sobre a Percepção Ambiental”, e a UNESCO inclui em seu
programa “Homem e Biosfera”, o Projeto 13: “Percepção de Qualidade
Ambiental” (AMORIM-FILHO, 2002).
A percepção ambiental está atrelada ao ato do contato com os
elementos externos (objetivo e coletivo) e internos (subjetivo e individual) da
experiência.
Os processos cognitivos, avaliativos e de conduta fazem parte deste
contínuo que é a percepção ambiental. Isso nos leva a pensar que, para
entender o lugar (espaço de identidades), é importante considerar também a
experiência e o imaginário daqueles grupos envolvidos.
É dessa forma que buscar a comunidade para o diálogo sobre seus
modos de vida, conhecendo suas histórias, ouvindo seus relatos que de
momento parece-nos tão simples, de pouca importância, mas ao passo que
vamos pertencendo ao mundo deles vamos conhecendo suas verdadeiras
histórias, seus sonhos e anseios, e temos muito a conhecer sobre essas
comunidades, pois é conhecendo esses povos que saberemos implantar
melhores estratégias de gestão dos recursos naturais.
Os estudos com percepções têm evoluído nesses últimos tempos.
Muitas são as contribuições com essa temática, por exemplo, Marin (2003),
Toro-Tonissi (2005), Fiori (2007), Carvalho; Novais (2008), sendo uma
constante preocupação acadêmica em se trabalhar com essas comunidades,
ouvindo-as para posteriormente propor alternativas de gestão ambiental.
22
Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi de exercitar a Educação
Ambiental, baseada nos pressupostos teórico-metodológicos da fenomenologia
da percepção, recorrendo ao estudo com os pescadores da colônia Z-16 em
Alta Floresta MT, pois esse grupo mantém uma relação de pertencimento com
o ambiente, aqui representado pelo exuberante rio Teles Pires. Com base
nesta premissa apresenta-se inicialmente, de maneira teórica, a relação entre
Alta Floresta e a colônia de pescadores Z-16, bem como a relação entre
Educação e Percepção Ambiental como subsídio à discussão dos resultados
obtidos através da intervenção realizada junto aos pescadores locais.
23
1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 ALTA FLORESTA E A COLÔNIA DE PESCADORES Z-16: UM POUCO DE HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÃO
* �����������!������ ����+����������������&��
� ��,����(����������- ����. ������/ �� ��0 ����1����������!��&��� �����������������������
2 ������������#���3�����(���������������������������������
� ����!����������������������������- ����. ��������������&�������������
� ������������4 ���(�������0 ����1��������* ������� �����������!�!����������������
/ 5������!��������� �����������!���* �������������������������
6 &������������!������������������/ 5������7������������������
� ������������������������������������������������ ����������
� ���,��������������������������. �����������������������#�����
� ���������������#���&���� ��������
(�3&�����0 ����1��������������8�4 ���4 ������
�
Foto: SANTOS, M. L. (2007)
24
1.1.1 Navegando pela Amazônia
0 ��#9�����������������������
�������#����������������������������������
���!��%����������!����:������������� �����
��������;�� � ����������������������%����������
����������������:��������0 ��#9���������������������<�
- �#,�(��!����
Para a realização desta pesquisa, fez-se necessário dirigir o olhar para
uma comunidade, onde houvesse a interação entre pessoas e ambiente para
dar suporte ao objeto da pesquisa, e o nosso destino escolhido foi a Amazônia,
a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia das águas, das lendas, dos
mitos, dos povos da floresta, da biodiversidade, da multiculturalidade, dos
saberes e dos sabores, uma vastidão de terras.
Apesar de representar o maior bioma brasileiro, com uma área
aproximada de 4.196.493 km2 que correspondem a quase 50% do território
nacional (IBGE, 2005). Neste bioma localiza-se a região norte do Estado de
Mato Grosso com uma grande e exuberante área florestal, onde manifestações
ricas e diversificadas são demonstradas pelos seus habitantes, em quaisquer
aspectos do componente das relações humanas.
Tendo a dimensão ambiental como ponto de convergência e de reflexão
para as multifacetadas necessidades dessa imensa área florestal. A floresta em
si e sua conservação devem estar presentes em todas as ações para a região,
inserindo-se o ser humano que aí habita.
Longe de ser homogênea e vazia, a Amazônia é diversidade, que pulsa
e impulsiona em todos os cantos.
Neste vasto ambiente amazônico, encontramos uma das maiores fonte
de vida, representado aqui pelo rio Teles Pires, que tem um significado muito
forte para os moradores da região, sendo um dos últimos redutos de vida que
ecoa nesta floresta, alimenta e dá vida a muita gente.
25
É tão forte essa representatividade que o mesmo é referenciado no hino
de Alta Floresta, como mostra no início desse capítulo, assim como a região foi
alvo de muitas expectativas de progresso, progresso esse que deixou muitas
marcas, hoje considerado como impacto ambiental, refletindo até os dias
atuais.
Essa Amazônia tem sido intensamente debatida nacional e
internacionalmente, devido a sua importância em termos ambientais, culturais,
sociais e econômicos.
O modelo de desenvolvimento para a região Amazônica foi imposto por
pessoas estranhas a ela. Por vezes, impulsionados pelo próprio governo
brasileiro, sob a ótica dos discursos nacionalistas, como: “Integrar para não
entregar”, “Terras sem homens para homens sem terra”; esses e outros
discursos eram usados pelos governos para estimular o projeto
desenvolvimentista e a ocupação dos territórios amazônicos (BARROS, 2000;
PORTO-GONÇALVES, 2001).
Salati (1990) citada por Sato (1997), narra que as primeiras ocupações
da Amazônia brasileira datam de 1500 a 1840, iniciadas pelos espanhóis, mas
completadas pelos portugueses. A implantação de colônias agrícolas foram
fracassadas pela resistência indígena, baixa fertilidade dos solos e alta
incidência de doenças tropicais.
Durante o ciclo da borracha (1840 à 1910), houve alto boom de
migrantes, e a prosperidade econômica da região trouxe modificações mais
significantes, não somente na flora e na fauna, mas também na cultura local.
Após o declínio da borracha, a economia também entrou em rápido declínio,
causando sérios danos à região.
Com a construção de Brasília e a abertura da Transamazônica, surgiu o
impacto social entre os migrantes, particularmente do sul do Brasil, com as
populações locais, acirrando os conflitos pela terra. A moderna colonização
centrou-se principalmente em torno de projetos agropecuários, mas trazendo
problemas da exploração mineral, industrial e grandes projetos hidrelétricos.
Segundo Hespanhol (2000), o governo Vargas procurou incrementar o
processo de ocupação das zonas de fronteira do centro do país através da
26
chamada ‘Marcha para Oeste’, proclamada em 1938, que teve por objetivo
ocupar e explorar o potencial econômico do despovoado interior do país.
Neste cenário amazônico da região centro-oeste brasileira, situa-se o
estado de Mato Grosso que é um dos nove estados que compõem a Amazônia
Legal (Figura 1).
Mesmo possuindo três biomas, uma rica biodiversidade e um mosaico
de diferentes culturas, são outros os motivos que o têm levado a destacar-se
no cenário nacional e internacional: o estado é mundialmente conhecido pela
força do seu agronegócio, propalando ao mundo seus números recordes a
cada ano, como 12.965.983 toneladas de soja colhidas em 2003, o crescimento
das exportações, o aumento do PIB e até a melhora do IDH nos municípios
com safra recorde (MATO GROSSO, 2005).
Figura 1: Delimitação da Amazônia legal. (Fonte IBGE, 2005).
O estado possui uma grande disponibilidade hídrica, sendo o seu
território distribuído sobre três das principais regiões hidrográficas brasileiras:
bacia Amazônica, bacia Araguaia-Tocantins e bacia Platina (Figura 2).
27
Figura 2: Principais bacias hidrográficas do Estado de Mato Grosso. (Fonte: SEMA, 2004).
Com área de 6.112.000 Km2, a bacia Amazônica ocupa mais da metade
do território brasileiro, tendo como seus divisores topográficos o Planalto das
Guianas, a Cordilheira dos Andes e o Planalto Brasileiro. No Brasil, a bacia
estende-se aos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará
e Mato Grosso. Recebe à margem esquerda a contribuição dos seus menores
afluentes: Içá, Japurá, Trombetas e Jarí, enquanto à margem direita recebe as
águas dos rios: Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, algumas das principais sub-
bacias das regiões Centro-Oeste e Norte brasileira (CUNHA & GUERRA,
2003).
Os processos de ocupação na região têm acelerado a degradação da
cobertura vegetal, contribuindo para a fragmentação da Floresta Amazônica
mato-grossense, consequentemente contribuindo ainda para a perda da
biodiversidade e a extinção de espécies. Esta condição coloca a região no
chamado arco do desflorestamento e de queimadas na Amazônia Legal (Figura
3)
Do ponto de vista ecológico e social, assistimos a uma total destruição
do cerrado e o avanço para as áreas de floresta amazônica, ao passo que são
28
abertas as rodovias e desmatadas vastas áreas para que a cultura de grãos e
pecuária.
Figura 3: Área de desmatamento na Amazônia Legal.
(Fonte: INPE, 2003)
Neste cenário, tem-se a presença da BR-163 (Figura 4) que causou
significativas transformações paisagísticas ao longo de seu trajeto,
principalmente no estado de Mato Grosso. Em menos de uma década,
conforme reportagem da revista Veja de 03/12/97 tem se uma grande área
devastada no eixo da BR-163 (Figura 5).
Segundo Porto Gonçalves (2001), um dos grandes problemas que a
região amazônica enfrenta reside no fato dela ser agente paciente de um
modelo de desenvolvimento imposto por grupos de decisão que não
consideram suas especificidades, ou seja, por indivíduos integrantes tanto do
poder público quanto da esfera privada localizados, na maior parte das vezes,
em outras regiões brasileiras ou, então, em outros países.
Geralmente com o aval do governo brasileiro, principalmente no período
ditatorial, mais de 600 empresas transnacionais passaram a investir
maciçamente na Amazônia brasileira, levando a produção de um novo quadro
de relações entre o homem e a natureza regional.
29
Figura 4: Área de Influência da BR-163.
(Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2004)
Figura 5: Áreas de desmatamentos no eixo da BR-163 no período 1986-1997.
(Fonte: Revista Veja 03/12/97)
Inúmeras projeções indicam que as florestas tropicais, apesar de
ocuparem apenas cerca de 7% da superfície do planeta, devem concentrar
cerca de 60% do total das espécies de vida nele existentes (PÁDUA, 2002).
A região da Amazônia Meridional é palco de inúmeras atividades desde
a mineração, perpassando pela extração madeireira até a ocupação agrícola
30
que degradam a natureza e causam desarranjos sociais, levando
analfabetismo, desemprego e miséria à maior parte da população local e aos
migrantes descapitalizados. Atualmente a região encontra-se em processo de
implantação do turismo, alternativa bem aceita devido às belezas naturais da
região (Figuras 6, 7 e 8).
Figura 6: Rio Teles Pires em período de cheia (Foto: COSTA, R. 2006)
31
Figura 7: Pedreiras em determinado local do rio Teles Pires (Foto: COSTA, R. 2008)
Figura 8: Pequenas ilhas de areia formadas ao longo do rio Teles Pires
(Foto: COSTA, R. 2008)
32
1.1.2 Um dos Mosaicos da Amazônia: O território portal da Amazônia
O território do Portal da Amazônia é uma região geopolítica localizada no
extremo norte do Estado de Mato Grosso, fazendo divisa com o território do
Baixo Araguaia pelo Leste, com os municípios da região Noroeste do Mato
Grosso e com o Estado do Pará ao Norte (Figura 9). Esta região passou a ser
reconhecida como território, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
em 2003, sendo formada por 16 municípios ocupando uma área de 108.000
km², e integram duas importantes bacias hidrográficas do rio Amazonas, a do
rio Tapajós e a do Xingu.
Figura 9: Localização do Território Portal da Amazônia
(Fonte: Instituto Centro de Vida – ICV, 2006).
Não existe um consenso sobre o conceito de território, embora seja
reconhecida sua importância para entender a relação entre a sociedade e seu
espaço.
Haesbaert (2004), agrupa as diferentes concepções em quatro
vertentes, definidas com base na distinção entre as quatro dimensões com o
que o território é usualmente focalizado:
33
1 – Política ou Jurídico-Política: é a mais difundida e refere-se às
relações de espaço-poder institucionalizadas;
2 – Cultural: trata-se de conceito mais subjetivo que prioriza a dimensão
simbólica;
3 – Econômica: que enfatiza a dimensão espacial das relações
econômicas;
4 – Natural: é baseada nas relações entre a sociedade e a natureza,
especialmente, no comportamento “natural” dos homens em relação ao seu
ambiente físico.
Trata-se de uma região localizada nos limites iniciais da floresta
amazônica área atualmente conhecida como “arco do desmatamento”. Os
primeiros moradores da região são povos indígenas de diferentes etnias, como
os apiakás, mandurukus, kayabis, rikbatsa e kreen-aka-rorê (ANDRADE, 2008).
A ocupação do Portal foi marcada pela abertura da BR 163, na década
de 70 e, portanto, a história da região está relacionada a esta estrada. Alguns
municípios do território são cortados pela rodovia (Guarantã do Norte, Matupá,
Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena), enquanto os
demais se localizam em um raio de 250Km.
Os municípios do território têm sua origem em projetos de colonização
privados ou projetos de assentamentos para a reforma agrária. Esta região,
responde por mais de 14% da área total do Estado de Mato Grosso, possuindo,
no entanto, somente 9,4% da população residente neste estado.
O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do território Portal da
Amazônia está abaixo do valor médio do Estado de Mato Grosso e do Brasil
(0,736 para o território e 0,773 e 0,766 para o Mato Grosso e Brasil,
respectivamente). Nenhum município possui IDH considerado baixo (menor
que 0,500), mas também nenhum município possui IDH considerado alto
(maior que 0,800). Os municípios com menor IDH do território são Carlinda,
Nova Bandeirantes e Nova Canaã do Norte, todos com índice na faixa de 0,70
(Carlinda é o município com maior distância para o IDH brasileiro, cerca de
8%).
34
Deve-se destacar, entretanto, que dois municípios apresentam IDH
superior à média do Estado e do Brasil: Alta Floresta, 0,779, e Marcelândia,
com 0,771. Estratificando o IDH em seus diferentes componentes pode-se
observar que, de forma geral, os dados dos municípios não variam de forma
significativa.
Esta região da Amazônia Meridional possui uma das áreas de maior
interesse para conservação do ponto de vista biológico, principalmente por
abrigar duas importantes Unidades de Conservação do estado, o Parque
Estadual Cristalino e o Parque Nacional Juruena, que juntas fazem parte de um
corredor ecológico que é considerado como uma das principais áreas de
endemismos da região. Sendo uma área com recomendações de ações para a
criação de Unidade de Conservação, elaboração de inventários biológicos e de
estudos antropológicos e desenvolvimento de programa de educação
ambiental (BRASIL, 2006).
1.1.3 Antes da colonização: Os povos indígenas
A Amazônia é um pouco do que restou do maior genocídio da história
mundial. A Amazônia índia é a verdadeira Amazônia. Dos 5 milhões de
indígenas que ocuparam o Brasil à época de 1.500, cerca de 220.000 ainda
lutam teimosamente para sobreviver. A grande maioria está concentrada na
Amazônia; calcula-se que mais de três quartos lá habitam (OLIVEIRA, 1989).
Picolli (2005) cita que na Amazônia, os projetos articulados pelo estado
em conjunto com o capital não foram para trazer a felicidade aos povos da
floresta e sim para expulsa-los de suas terras e promover a expansão dos
grupos econômicos na região.
A história da Amazônia tem sido uma história de saque. Saque dos
recursos naturais que a natureza legou, enfim, saque deste “celeiro do mundo”
(OLIVEIRA, 1989).
Ainda segundo este autor:
Em nome do “desenvolvimento com segurança”, as nações indígenas foram sendo dizimadas, seus territórios invadidos, roubados, e os grupos indígenas foram violentados, “cercados” e confinados em reservas e parques, como se estes povos fossem “animais selvagens a serem presos em zoológicos” (OLIVEIRA, 1989)
35
O estado de Mato Grosso tem se caracterizado nas últimas décadas por
um desenvolvimento violento e caótico em detrimento de seu ecossistema e de
seus primeiros habitantes (FERREIRA, 1997)
Para Oliveira (2001), O processo de colonização teve sua base na
grilagem das terras e em verdadeiros massacres de nações indígenas como
exemplo no norte do estado onde ocorreu o massacre com os Kreen-akaroê
em Matupá, com os Apiaká, os Kayabí em Alta Floresta, com os Ribeaktsa em
Juruena e Cotriguaçú, e outros.
Cabe também ressaltar que estes projetos e várias agropecuárias,
ocuparam/expropriaram as terras dos índios Gigante Kreén-Akaroré que,
contatados em 1972 quando da abertura da BR-163, foram praticamente
dizimados por este contato, ficando reduzido de aproximadamente 800 a pouco
mais de 80, quando foram “transferidos” pelos irmãos Vilas-Boas para o Parque
Nacional do Xingu.
Assim como aconteceu em Alta Floresta e Paranaíta, os índios da etnia
Apiaká que ali viviam foram levados para uma a reserva próxima ao rio dos
Peixes, em Juara-MT.
O massacre no paralelo onze, fato de amplo conhecimento por parte da
nação brasileira, o interesse em expandir o capital até a região de Aripuanã era
proposto a colonização de diversas áreas, para atrair migrantes de outras
regiões do Brasil, sendo que nessas áreas almejadas já existiam os índios
Nambiquara, tornou-se necessário cuidar de sua expulsão, pois naturalmente
os índios se negaram a deixar suas terras, foram surpreendidos por aviões que
dinamitaram suas aldeias e por indivíduos que praticaram uma série de atos
violentos com a população que sobreviveu, estes foram levados para outras
terras, cedendo lugar ao interesse do capital (SIQUEIRA et al., 1990).
Especificamente na região de Alta Floresta, onde existiam antes da
colonização, os índios da etnia Kaiabi, Mundukus e Apiaká, segundo relatos
dos mais antigos esses também sofreram diferentes ataques para que
deixassem suas terras, aqueles mais resistentes, que sobreviveram a esses
ataques foram transferidos para o Parque Nacional do Xingu, onde seus
descendentes vivem juntamente com outras etnias.
36
1.1.4 O lugar: Alta Floresta
Alta Floresta é um município localizado na Área de Tensão Ecológica
determinada pelo contato do Cerrado com a Floresta, entretanto a presença da
Floresta Amazônica é marcante principalmente pela ocorrência da castanha-
do-Pará ou castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), árvore de grande
porte endêmica da região amazônica, por ser protegida por Lei, a exploração
de sua madeira é impedida.
O município da Alta Floresta fica distante da capital Cuiabá, via terrestre
a 757 km com acesso a BR-163 e MT-208. Encontra-se na Mesorregião 127
Norte mato-grossense, na Micro-região 519, nas coordenadas 09º53’02” S e
56º14’38” W, tendo como extensão territorial aproximadamente 8.947.069 km2,
a uma altitude média de 283m (Figura 10). Limita-se com os municípios de
Paranaíta, Novo Mundo, Nova Canaã do Norte, Tabaporã, Juara, Nova Monte
Verde, Carlinda e o Estado do Pará (RADAMBRASIL, 1980).
É uma cidade de porte médio para os padrões de Mato Grosso,
apresentando aproximadamente 51.136 habitantes (IBGE, 2008).
O clima é tropical chuvoso alcançando elevados índices pluviométricos
no verão, podendo atingir médias às vezes superiores a 2.750 mm ao ano e
inverno seco. A temperatura anual oscila em torno de 20ºC e 38ºC com uma
média de 26ºC (FARID, 1992; FERREIRA, 1997; DELLANI et al., 2000).
A vegetação é composta por floresta ombrófila densa tropical, floresta
ombrófila aberta tropical, savanas e áreas de tensão ecológica (encontro de
dois ou mais tipos de vegetação).
Quanto aos solos, predominam os Podzólicos vermelhos -amarelos
distróficos. Ocorre como sub-dominante na maioria dos locais/das regiões o
latossolo vermelho escuro - distrófico, solos litólicos eutróficos, distróficos e
álicos, podzol hidromórfico e, finalmente os solos hidromórficos, eutróficos e
álicos. No relevo, corresponde a uma antiga superfície de aplainamento que foi
bastante dissecada (RADAMBRASIL, 1980).
A rede hidrográfica pertence à Bacia Amazônica e apresenta como
principal curso de água o rio Teles Pires. É um rio de águas claras e calmas,
37
embora em certos pontos acidentado por cachoeiras e, entre elas, ilhas e
depósitos de várzeas (TASSINARI et al., 1980).
Fundada na segunda metade da década de 70, mais precisamente no
ano de 1976, por uma empresa de capital privado denominada INDECO / SA -
Integração, Desenvolvimento e Colonização, com o objetivo de formar o grande
pólo agrícola no Norte do Mato Grosso, onde deveriam apenas se instalar a
população oriunda do sul e sudeste do Brasil, (QUATI, 1986).
Sua colonização foi incentivada e estabilizada pela abertura da BR-163,
Rodovia Cuiabá-Santarém.
Os primeiros colonizadores eram oriundos do estado do Paraná, do
norte e nordeste que foram estimulados pela publicidade da fertilidade do solo
e das favoráveis condições de se adquirir lotes rurais e urbanos. E assim
iniciou-se o desmatamento da região, a princípio para a própria subsistência e
em seguida avançaram nas atividades de agricultura, com cultura de soja,
arroz, feijão, milho e mandioca, a pecuária e principalmente com o extrativismo
vegetal em decorrência da abundancia de madeiras nobres no interior do
território municipal.
Contudo, com a descoberta do ouro no final da mesma década e início
da década de 80, a cidade tomou novos rumos, recebendo grandes
quantidades de pessoas principalmente dos estados no norte e nordeste em
busca do precioso metal, fato que levou a cidade de Alta Floresta a se tornar a
de melhor em nível de crescimento do país entre os anos de 80 e 88 e,
conseqüentemente, com elevadíssimo custo de vida, regado com o dinheiro
fácil oriundo da venda deste precioso metal (PERIM, 2003).
Tal acontecimento prejudicou os planos da colonizadora, além de
acarretar grandes confrontos entre a população oriunda das regiões do sul e
sudeste (que vieram com intuito de desenvolver a agricultura e se instalar na
região) e os que vieram em busca da mineração (que tinham como principal
interesse o enriquecimento rápido para então voltar para seus estados de
origem).
38
No passado este município apresentava como sua principal fonte de
renda o extrativismo mineral (garimpagem de ouro), além do extrativismo
vegetal (QUATI,1986).
Com a queda da quantidade de ouro encontrada e o conseqüente
aumento do custo operacional do processo de extração, o extrativismo mineral
perdeu força, e com o passar dos anos o município encontrou novas atividades
econômicas, como o extrativismo vegetal, agricultura, pecuária. A agricultura
vem se destacando e culturas anuais e perenes estão sendo desenvolvidas,
tais como o algodão, amendoim, dendê, seringueira, mamona, cupuaçu, café,
além de frutas diversas. É expressiva a pecuária de corte, predominando do
gado nelore. (FERREIRA, 1997).
Alta Floresta se desenvolveu como cidade de importância local. Um dia
conhecida como centro do desmatamento, o município ainda guarda alguns
fragmentos florestais, mas deixou de ser o foco principal dessa atividade.
Figura 10: localização do município de Alta Floresta
39
1.1.5 A bacia hidrográfica Teles Pires
A bacia do rio Teles Pires está inserida na macro-região Norte do Estado
de Mato Grosso e na intitulada Amazônia Legal, região de suma importância a
sua preservação.
Com grande significado ecológico econômico e social. O gerenciamento,
conservação e recuperação desses sistemas são, portanto, de importância
fundamental com reflexos na economia, na área social e nos usos dos
sistemas aquáticos.
A bacia do Teles Pires é uma das principais contribuintes do rio Tapajós,
com área total de 145.600 Km2, com perímetro de 2.820 Km e comprimento do
rio principal igual a 1.380 Km (SEPLAN, 2004). Está localizada entre os
paralelos 7º 18’ e 14º 42’ S e meridianos 53º 58’ e 57º 47’ W (Figura11).
Na imagem supracitada, apresenta o mosaico de imagens provenientes
do satélite CBERS2, sensor CCD, bandas 2, 3 e 4 do ano de 2004 onde as
áreas com intenso cultivo de grãos são representadas por colorações violetas e
rosas, predominantes no sul e na parte média da bacia. As manchas de violeta
escura, nesta região, mostram áreas com formações remanescentes de
Cerrado. As florestas de Galeria e as Florestas de Transição mais ao norte da
Bacia são representadas por verdes mais escuros; pastos aparecem na
composição colorida em tom verde-claro.
40
Figura 11: Bacia do Alto e Médio rio Teles Pires.
Fonte: Imagem CBERS - Site: www.inpe.br
A bacia do rio Teles Pires faz parte de uma das regiões do Estado com
maior desenvolvimento econômico, com diversificada e intensa ocupação e
exploração dos recursos naturais (FONSECA, 2006).
Nas proximidades da sua cabeceira estão situados os municípios de
maior expressão estadual na produção de soja, como, Sorriso e Lucas do Rio
Verde, responsáveis pelo lançamento de grandes quantidades de insumos
agrícolas, devido às dimensões das áreas utilizadas com a monocultura de
soja, arroz e milho. Já no seu baixo curso, no norte do Estado, o rio passa por
uma área de grande concentração de garimpos de ouro, responsável pelo
lançamento de materiais sólidos em suspensão e de mercúrio (SEPLAN, 2004).
A bacia do rio Teles Pires tem uma área formada por trinta municípios
matogrossenses, alguns municípios com parte da sua área inserida na bacia e
outros com a sua extensão territorial totalmente dentro da área da bacia,
conforme demonstrado na figura 12.
41
Figura 12: Municípios que apresentam suas áreas na bacia do rio Teles Pires.
Fonte: SEMA, 2006.
1.1.6 O rio Teles Pires
Serpenteando em meio à floresta Amazônica, o rio Teles Pires vai
desvelando visuais magníficos em suas margens. Repleto de cachoeiras e
grandes corredeiras, seu curso verte em direção ao oceano atlântico, traçando
a dividas dos estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas.
Para os pescadores, no entanto, sua fama advém do fato de ser hábitat
de peixes esportivos, como as cachorras, as bicudas, as matrinchãs, os
tucunarés e espécies de grande porte como os jaús as piraíbas, as pirararas
entre outros.
42
Para os moradores e turistas o rio Teles Pires tem um significado
especial, devido suas belezas naturais como os bancos de areia que foram nos
períodos de seca, as corredeiras e pedreiras visíveis em determinadas épocas
do ano, muitos são os locais de apreciação e recreação por parte da
população.
O Rio Teles Pires tem sua nascente localizada em áreas do Planalto
Central, Chapada dos Parecis e Planalto dos Guimarães, no município de
Paranatinga-MT, em altitudes que não ultrapassam 800m. Recebe esse nome
em homenagem ao capitão do exército Antônio Lourenço Teles Pires, que foi
escalado para “descobrir” o rio São Manoel, que nasce com o nome indígena
de Paranatinga, infelizmente o oficial não chegou a cumpriu a missão, em dois
de maio de 1890 a embarcação de Teles Pires emborcou e o matou por
afogamento.
Em homenagem ao capitão, o rio ganhou seu nome. Assim, nos mapas,
surgia o nome de Teles Pires ou São Manoel, que juntamente com o Juruena
forma o Tapajós.
A sua foz situa-se no município de Apiacás, no extremo norte do Estado
de Mato Grosso, onde ocorre a confluência com o rio Juruena, formando o rio
Tapajós.
Transcorridas décadas, à memória da viúva do capitão vitimado no
acidente, Carlinda Lourenço Teles Pires, foi reverenciada com a denominação
do município de Carlinda, na comarca de Alta Floresta.
1.1.7 A Colônia de pescadores Z-16: revelando o lócus da pesquisa
Segundo Medeiros (1999), a organização social dos pescadores no país
se dá por ação do Estado a partir de 1919, com a criação das Colônias dos
Pescadores. A representação dos pescadores em sua verticalização em
Confederação Nacional de Pescadores, Federação Estadual e Colônias,
sempre estiveram atreladas a políticas emanadas do controle estatal.
Pela Constituição de 1988, as Colônias de Pescadores foram
equiparadas aos sindicatos urbanos, incluindo aí os princípios de livre
organização, não interferência do poder público sobre a organização sindical,
43
fim da filiação compulsória, autonomia dos sindicatos e unicidade sindical
dentro de um município.
As Colônias de Pescadores em Mato Grosso fundadas no início da
década de 1980 pela SUDEPE - Superintendência de Desenvolvimento da
Pesca, que veio a ser extinta dando origem, juntamente com o IBDF - Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e SUDEVEA - Superintendência de
Desenvolvimento da Borracha, ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, são em número de 10:
Colônias de Pescadores Z-1 em Cuiabá, Z-2 em Cáceres, Z-3 em
Rondonópolis, Z-4 em Nobres, Z-5 em Barão de Melgaço, Z-7 em São Félix do
Araguaia, Z-8 em Santo Antônio do Leverger, Z-9 em Barra do Garças e Z-10
em Barra do Bugres, Z-11 em Poconé, Z-13 em Rosário Oeste e Z-16 em
Sinop e região. (MEDEIROS, 1999)
Pela legislação pesqueira vigente no Estado de Mato Grosso, somente é
permitida a pesca artesanal, a qual é desenvolvida em sua quase totalidade de
forma individual, em pequenas canoas ou no máximo com um barco
motorizado de pequena potência.
1.1.8 Conhecendo a Colônia Z-16
A definição de colônia segundo a lei estadual 7.881 de 20 de dezembro
de 2002 é de um “grupo de pescadores profissionais constituídos legalmente e
tendo sua área de atuação delimitada respeitados os espaços comuns”.
A colônia de Z-16 de pescadores do município de Sinop e região é uma
associação de classe de 1º grau, com sede e foro na cidade de Sinop, e base
territorial em 33 municípios sendo eles: Alta Floresta, Apiacás, Brasnorte,
Carlinda, Cláudia, Colíder, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Itaúba, Itanhangá,
Ipiranga do Norte, Juara, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova
Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Nova Monte
Verde, Nova Santa Helena, Paranaíta, Porto dos Gaúchos, Peixoto de
Azevedo, Rondolândia, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Tapurá, Tabaporã,
Terra Nova do Norte, União do Sul e Vera, no estado de Mato Grosso, sendo
considerada uma instituição civil daqueles que fazem da pesca sua profissão
44
ou meio principal de vida, criadas com prazo indeterminado de duração, com
ação em zonas determinadas do território nacional, tendo por finalidade a
representação e a defesa dos direitos e interesses dos seus associados, sendo
subordinada à Federação dos Pescadores do Estado de Mato Grosso e à
Confederação Nacional dos Pescadores. Comumente usa-se a “Z” seguida de
um número, para designar como zona de pesca, nesse caso Zona de Pesca
número 16 ou simplesmente Z-16 (ESTATUTO DA COLÔNIA Z-16)
Em seu artigo 4º do estatuto da colônia Z-16 de pescadores do
município de Sinop e região, ficam bem claras as finalidades da colônia.
a) pleitear e adotar medidas úteis aos interesses dos filiados,
constituindo-se defensora e cooperadora ativa e vigilante de tudo quanto possa
concorrer para a prosperidade da categoria que representa;
b) estudar e procurar soluções para as questões e os problemas
relativos às atividades pesqueiras;
c) organizar e manter todos os serviços que possam ser úteis aos
filiados e prestar-lhes assistência e apoio, em consonância com os interesses
gerais da categoria;
d) promulgar pela defesa do meio ambiente, difundindo práticas
conservacionistas que permitam o uso e exploração racional dos recursos
naturais renováveis.
A colônia de pescadores Z-16 está até o presente momento com 247
pescadores credenciados e, em Alta Floresta, segundo dados do presidente da
sub-unidade regional, há aproximadamente 30 pescadores credenciados.
Dessa maneira os nossos parceiros apresentam certa afinidade e
dependência com o local, representado pelo rio Teles Pires que é dotado de
significado para seus habitantes, na medida em que compartilham, além do
espaço, experiências e vivências associadas a uma mesma paisagem.
É assim que, para Rodrigues (1999), “a percepção e o intelecto, por
meio da experiência vivida e compartilhada, constroem o lugar na subjetividade
e na intersubjetividade”.
45
1.1.9 Os Pescadores
A literatura sobre pescadores em águas interiores é bastante vasta
(FURTADO, 1993; MARQUES, 1995; MEDEIROS, 1999; BATISTELA & VALE,
2005), sendo ainda restrito os estudos sobre pescadores no estado em
especial na região norte de Mato Grosso.
Este grupo de pescadores não são efetivamente um grupo de
populações tradicionais e sim um grupo de pessoas que tem na pesca sua
principal atividade, a maioria residindo em área urbana, mas que apresentam
traços de vivencias de comunidades tradicionais, sendo esses traços
adaptados.
Pois para Diegues (1993), as comunidades tradicionais são aquelas que:
estão relacionadas com um tipo de organização econômica e social com
reduzida acumulação de capital, não usando força de trabalho assalariado.
Nela produtores independentes estão envolvidos em atividades econômicas de
pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato.
Economicamente portanto, essas comunidades se baseiam no uso de recursos
naturais renováveis.
Existem no mundo cerca de dez milhões de pescadores artesanais
responsáveis pela quase metade da produção pesqueira, seja em águas
costeiras, litorâneas ou interiores. No Brasil, os pescadores artesanais são
responsáveis por grande parcela da captura do pescado, destinada tanto à
exportação quanto ao consumo interno (DIEGUES, 1993).
Conforme a lei 7.155 de 21 de julho de 1999, em seu artigo 4 inciso III
define pesca profissional a que praticada artesanalmente por pescador
profissional, com residência comprovada no estado de Mato Grosso,
cadastrado pela SEMA, que exerça a atividade da pesca como o único meio de
vida, vedada a sua contratação por terceiros.
Em Alta Floresta esses grupos de pescadores são na maioria pessoas
simples muitas oriundas de diferentes estados da federação, vieram para Alta
Floresta em busca de sonhos, de novas oportunidades de vida, alguns iludidos
com as farturas a qual eram apresentados, a facilidade em cultivar terras com
menos gastos que na região sul, uns vieram atraídos pelo garimpo de ouro,
46
atividade muito presente nos primeiros anos de colonização, outros atraídos
pela atividade madeireira.
Como as atividades econômicas da região passaram por diversos ciclos,
seja na agricultura, no garimpo, na indústria madeireira, algumas pessoas se
obrigaram a mudar de atividade profissional para continuar sobrevivendo nesse
ambiente, assim alguns se tornaram pescadores, pois encontraram um
ambiente acolhedor para tal atividade, assim adquirindo conhecimentos na
própria prática do dia-a-dia da pescaria nos rios da região e ou com outros
pescadores mais experientes, esses conhecimentos muitas vezes não estão
sendo transmitidos aos seus filhos e netos, na cotidianidade de suas
atividades.
47
1.2 EDUCAÇÃO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL: UM DIÁLOGO FECUNDO E NECESSÁRIO
(Foto: COSTA, R. 2008)
��������!�!�������������������3����&����:�������������������������= ������ ���������
����3&��0 �������������������37��������&��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
- ���>���/ ����
�
48
1.2.1 O início do diálogo
/ �� �� ����3&�� ��#���� &������������ �� ���������� ���� �������������������������������
���������������������������������������1�����
Tomamos como início de discussão nesse capítulo a metáfora sobre o
vôo da águia.
“A águia, assim como outros predadores eficientes, é capaz de ver o
todo (o ecossistema) e ver a parte (a presa) a partir de uma grande distância”.
Essa metáfora pode simbolizar, portanto, o desejo de esboroar as
fronteiras estanques do conhecimento para integrar as partes ao todo e, assim,
ver o mundo através de uma lente com visão sistêmica.
O vôo da águia também simboliza, de certa forma, a esperança, a
mudança, o sonho que muitos chamam de utopia na Educação Ambiental,
conhecer uma comunidade local, seus modos de vida, suas lutas e acima de
tudo, chamá-las a participar do diálogo sobre o ambiente para proporcionar
melhorias, através dos pressupostos da Educação Ambiental, é um grande
desafio.
Como salienta Sato (2004), Quem opta por caminhar na Educação
Ambiental deve perceber que as incertezas e as dúvidas sempre estarão ao
nosso lado.
Acreditando nisso, e sabendo que sozinhos somos incapazes de
transformar o mundo e ao mesmo tempo acreditando que é possível
transformar uma pequena comunidade local, já é um bom sinal de esperança,
pois o caminhar em EA é normalmente lento e os resultados não aparecerão
simplesmente da noite para o dia, esses resultados poderão vir somente com o
tempo, e talvez para um outro grupo social inseridos nesse mesmo local, com
os mesmos anseios.
1.2.2 A educação e a educação não-escolarizada
A educação não é um conjunto abstrato de valores e conhecimentos
desvinculados da estrutura histórica e da vida espiritual de uma sociedade,
49
mas reflete seus valores nos mais diversos aspectos e dimensões (BRUGGER,
2006).
A Educação é a base para o desenvolvimento de um país, pois através
dela as pessoas têm subsídios para exigir seus direitos e cumprir os seus
deveres, ou seja, as pessoas têm condições de desempenhar o seu papel de
cidadão (VIEIRA, 2006).
Brandão (2001) aponta que a educação pode existir livre e, entre todos,
pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como
saber, como idéia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como
trabalho ou como vida.
Quadros (2006) também destaca que a educação está na vida humana
permanentemente, com ou sem professor, com ou sem escola, em cada dia,
em cada lugar, em cada relação, basta querer percebê-la presente.
Brandão (1985), ainda afirma:
ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação.
Nos depoimentos dos participantes desta pesquisa fica evidente que a
educação está presente, embora a maioria não tenha freqüentado a escola por
muito tempo, adquiriram conhecimentos e admitem que muito do que
aprenderam foi no dia-a-dia, corroborando com o autor supra citado.
Eu nunca fui pra escola não, pra dizer que nunca fui, fui só um mês, mas eu aprendi muita coisa dessa vida... sei que a lua infruência no peixe, nas noites de lua crara num pega peixe de iscama, só pega de dia, isso ninguém me falou não, fui vendo no dia-a-dia mesmo. (Pescador, 61 anos) Esse rio ensina muita coisa pra gente, eu e meu irmão começamos aqui nele, quando chegamos por essas bandas, nós dois fomos vivendo do peixe, fomos especulando, porque tem coisa que não se ensina, a gente vai aprendendo com o tempo, com a própria pratica, é uma coisa que o próprio rio vai ensinando... esse Teles Pires é feroz, é ingrato as vezes, com ele se aprende, o cara que aprende pescar no Teles Pires, aprende a pescar em qualquer rio depois, os peixes daqui são veiacos, sabidos... (risos). (Pescador, 61anos)
O empreendimento educativo tem a responsabilidade de transmitir e
perpetuar a existência humana. Pode-se dizer que a cultura é conteúdo
substancial da educação, educação não é nada fora ou sem cultura. Educação
50
e Cultura aparecem como as duas faces recíprocas e complementares de uma
mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra. (FORQUIN, 1993).
Brandão (2001) ainda afirma que da família à comunidade, a educação
existe difusa em todos os mundos sociais. Ainda alerta que a educação pode
existir livre, para todos, onde se torne comum os saberes, aquilo que é
comunitário.
Brugger (2004) aponta que é preciso que a educação mova seus
pressupostos filosóficos em direção a uma cultura sustentável, e isso
pressupõe questionar os conceitos que se encontram mais solidamente
sedimentados em nossas mentes, incluindo a forma como construímos o
conhecimento.
E ainda salienta que:
não será possível, portanto, tornar mais “ambiental” uma educação na qual se cultiva uma crença na descrição objetiva da natureza; que privilegie a aquisição de habilidades meramente técnicas, em detrimento de conteúdos que versem sobre as relações sociedade-natureza; ou na qual os limites físicos da biosfera e o sofrimento da parte senciente da natureza-animais e gente!-, sejam preteridos em função da eficiência e de meros índices de crescimento, entre muitas outras questões (BRUGGER, 2004).
Nesse processo é fundamental, também, que percebamos o mundo de
orma mais sistêmica ou ecológica, indo de encontro com os ideais de Capra
(1996), que preconiza a idéia de que todas as coisas estão interligadas
formando uma conexão, e nesse pensamento entendemos que o ser humano
mantém essa ligação com o ambiente no qual está inserido.
1.2.3 Representação social e meio ambiente
Ao iniciar uma reflexão sobre meio ambiente, faz-se necessário entender
o que é representação ambiental para o grupo estudado, pois essas
representações sobre o ambiente que o grupo apresenta poderão direcionar as
praticas de Educação Ambiental para a região.
A educação tem sido realizada a partir da concepção que se tem de
meio ambiente. Mas o que significa meio ambiente? Trata-se de um conceito
científico ou de uma representação social? (REIGOTA,1995).
51
Para este autor as representações sociais estão basicamente
relacionadas com as pessoas que atuam fora da comunidade científica,
embora possam também estar aí presentes.
Nas representações sociais podemos encontrar os conceitos científicos
da forma que foram aprendidos e internalizados pelas pessoas. Na oralidade
dos participantes dessa pesquisa houve uma divergência em relação ao que
eles entendem por meio ambiente, conforme pode ser observado no momento
em que foi perguntado o que significa meio ambiente.
Eu não tenho estudo pra isso, pra saber o que significa, pra mim significa tudo, porque o meio ambiente traz fartura, tem que preservar ele (...) preservando essa mata que é o meio ambiente, temos de tudo né. (Pescador, 44 anos). Eu acho que é a mata né, o rio, é os pássaros, é tudo isso aí, as nascentes. (Pescador, 50 anos) É uma preservação que você tem que ter pela natureza, é uma coisa que faz muito bem pra gente, o que eu entendo é isso. (Pescadora, 53 anos)
Segundo Moscovici (1976) citado por Reigota (1995), uma
representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado
tema, onde se incluem também os preconceitos, ideologias e características
específicas das atividades cotidianas (sociais e profissionais) das pessoas.
Reigota (1995), ainda afirma que essas definições indicam que não
existe um consenso sobre meio ambiente na comunidade científica em geral.
Supomos que o mesmo deve ocorrer fora dela. Por seu caráter difuso e variado considero então a noção de meio ambiente uma representação social. “nesse sentido creio que o primeiro passo para a realização da educação ambiental deve ser a identificação das representações das pessoas envolvidas no processo educativo.
Assim, este autor define meio ambiente como:
o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio natural e construído.
Por outro lado, Medina (1994), afirma que o ambiente precisa ser
entendido como um conjunto de componentes naturais e sociais e suas
interações em um espaço e em um tempo determinados, associado à dinâmica
52
das interações sociedade/natureza e suas conseqüências no espaço em que
habita o homem, e do qual o homem também é parte integrante.
Com as contribuições de Sauvé et al. (1996), traduzido e modificado por
Sato (2003), iniciam uma discussão sobre o desenvolvimento sustentável em
um novo espaço de expressões dos educadores ambientais, e propondo uma
correlação com uma concepção de ambiente e uma estratégia pedagógica.
Neste contexto, visualizamos que as representações de ambiente dos
nossos parceiros dessa pesquisa se classificam em algumas das sete
categorias: como natureza; como recurso; como problema; como sistema;
como meio de vida; como biosfera; e como projeto de vida.
Essas concepções de que significa meio ambiente para o grupo
pesquisado podem ser evidenciadas em suas falas em determinado momento
das entrevistas quando perguntado o significado que o rio tem para sua vida. Pra mim é uma fonte de trabalho, eu vivo dele há 17 anos, então pra mim é uma fonte de trabalho, eu tiro o sustento há 17 anos só dali. (Pescador, 34 anos) Pra mim é vida né, eu faço de conta que o rio pra mim é o mesmo que ser meu patrão, ele fornece o sustento para minha família e graças a Deus não é de dar grandes coisas mais dá pra gente viver né, eu agradeço muito ter esse rio aí né, ajuda bastante não só eu como muitos aí né. (Pescador, 49 anos) Rapaz pra mim é tudo, eu vivo dele há um bocado de tempo, pra mim ele é minha roça é meu ganha pão. (Pescador, 44 anos) O rio Teles Pires pra mim tem o significado de um pai, de uma mãe, porque é dali que a gente ganha o sustento, dali que a gente tira tudo que a gente tem, porque a gente não tem outra renda né, então é tudo pra mim, é tudo mesmo pra mim. (Pescador, 50 anos) Representa tudo né, pra mim ele é maravilhoso, pra pescar, pra ficar lá, pra mim ele é tudo eu estando lá não falta nada. (Pescadora, 54 anos)
Nestas falas podemos perceber indicativos para as representações que
os mesmos têm sobre o rio seja como recurso, como meio de vida e até
mesmo como biosfera.
Pode-se afirmar que há várias interpretações ou representações dos
acontecimentos sociais, segundo a visão de quem analisa. As representações
não são conceitos prontos, pois nesse campo não há um consenso ou uma
fórmula, cada indivíduo interpreta à sua maneira.
53
Assim, segundo Matheus (1999), quando se trabalha Educação
Ambiental, as representações sociais são muito importantes, por constituírem
áreas de conflito e por não existirem unanimidade.
É importante ressaltar que a categorização aqui representada não é uma
concepção concluída, e que uma ação ou pensamento pode estar conectado
com o outro, são apenas concepções sobre o ambiente, as quais podem
manter diálogos ou buscar interface, e uma pessoa pode considerar uma
representação diferente de outra, não existindo um “certo” ou “errado” nessas
representações, pois estão emanadas no convívio com o lugar.
Diante disso, Sato (2004), ressalta que a Educação Ambiental deve
buscar sua eterna recriação, avaliando seu próprio caminhar na direção da
convivência coletiva e da relação da sociedade diante do mundo.
Guarim Neto (2001) considera a Educação Ambiental como um
sensibilizador para o ambiente e que o conhecimento não-escolarizado tem
forte perspectiva para a educação-escolarizada:
Nesses espaços de vivência e de pluralidade de experimentações, impregna-se um saber próprio que define, em muitos casos, entre as comunidades humanas inseridas nesse ambiente, características biorregionais de fundamental importância para a manutenção das relações ecológicas, educativas, sociais, econômicas e culturais. (GUARIM NETO, 2001).
Nessa perspectiva Reigota (1988) lembra que a Educação Ambiental
deve orientar-se para a comunidade, deve procurar incentivar o indivíduo a
participar ativamente da resolução dos problemas no seu contexto de
realidades específicas.
1.2.4 Uma Educação Ambiental transformadora
A questão ambiental é uma entre tantas que marcaram o final do século
passado em reflexões sobre os caminhos da humanidade. A EA surge como
uma nova forma de encarar o comportamento e o papel do ser humano no
Planeta Terra.
Conforme as reflexões vão se aprofundando, percebe-se que a distinção
da educação ambiental, bem como sua força é seu poder multidisciplinar de
54
questionamentos da segmentação entre os diferentes campos de
conhecimento (PCNs, 1998).
Para Tozoni-Reis (2004), a educação ambiental é compreendida como
contribuição na construção de uma alternativa civilizatória e societária para a
relação sociedade-natureza.
Nesta linha de pensamento, Loureiro (2002) aponta que uma práxis
educativa e social tendo por finalidade a construção de valores, conceitos,
habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a
atuação lúcida e responsável dos atores sociais individuais e coletivos no
ambiente.
Assim como afirma Freire (1998) a respeito da Educação de modo
global, também a EA (que é parte da primeira) nunca é neutra. Do mesmo
modo que pode ser um instrumento de transformação da sociedade, de busca
da sustentabilidade real que garante o direito à vida com dignidade para todos
os seres humanos e para todas as formas de vida, a EA também pode
contribuir para a consolidação do sistema de dominação e degradação do
planeta e da opressão da minoria sobre a grande maioria da população
humana.
Quando falo em educação como intervenção me refiro tanto à que aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto à que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a História e manter a ordem injusta (FREIRE, 1998)
Mundialmente, a definição mais conhecida da Educação Ambiental (EA)
é da Conferência de Tbilisi 1977:
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida.
Portanto, a Educação Ambiental deve ter um modelo autêntico,
adequado, profundo e durável, que ultrapasse a banalização das análises
simplistas das questões ambientais e tenha uma reflexão pedagógica mais
profunda.
55
Segundo Sato (1997), a Educação Ambiental fomenta novas atitudes
nos sujeitos sociais e novas decisões dos Governos, guiada pelos princípios da
sustentabilidade ecológica, da valorização da diversidade cultural, através da
racionalidade econômica e do planejamento do desenvolvimento.
Para Leff (1995), a Educação Ambiental implica educar para formar um
pensamento crítico, reflexivo, capaz de analisar as complexas relações da
realidade natural e social, para atuar no ambiente dentro de uma perspectiva
global, mas diferenciada pelas diversas condições que a definem.
Ainda segundo Sato (1997), a Educação Ambiental deve ser projetada
sobre as realidades locais e globais, abrangendo os principais espaços da
sociedade civil, das diversas instituições e do Estado, com relevância na
compreensão de que a relação “ser humano - natureza” é mediatizada pelas
relações na sociedade e representa um ponto central na capacidade de ação
ética, educativa e comunicativa, que permita a construção de um mundo mais
justo e igualitário.
Na Constituição Federal, promulgada em 1988, com um capítulo
exclusivo sobre o meio ambiente (capítulo VI), tem-se o artigo 225 que diz:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Para assegurar esse direito no inciso VI desse mesmo artigo tem-se a
promoção da Educação Ambiental, que diz:
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
Na literatura existem muitos conceitos de Educação Ambiental, que
variam de interpretações, de acordo com cada contexto, conforme a influência
e vivência de cada um.
A Educação Ambiental assume um caráter mais realista, embasado na
busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de
um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso
(pensamento positivista). Neste contexto, a Educação Ambiental é ferramenta
de educação para as sociedades sustentáveis.
56
Ampliando a maneira de perceber a Educação Ambiental podemos dizer
que se trata de uma prática de educação para a sustentabilidade. Para muitos
especialistas, uma Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável é
severamente criticada pela dicotomia existente entre "desenvolvimento e
sustentabilidade".
A Educação Ambiental deve ter como meta, uma ação transformadora e
incentivadora permanente, uma vez que está estreitamente vinculada,
direcionada e adaptada para o pleno exercício dos direitos e deveres da
cidadania.
Podemos considerar que a EA, no Brasil, surge e se mantém ainda hoje
desde as décadas de 80/90, quando as lutas ecológicas e as afirmações dos
direitos ambientais foram mais extensas e debatidas, o que antes eram
considerados uma denúncia dos ambientalistas, hoje, por meio de fiscalizações
e comunicações mais abrangentes e rápidas, passou a ser divulgada quase
que ao mesmo tempo de seu surgimento, causando sensibilidades entre as
sociedades civis gerando opiniões públicas diversificadas quanto à questão
ambiental.
Para Sato (2003)
a Educação Ambiental deve se configurar como uma luta política, compreendida em seu nível mais poderoso de transformação: aquela que se revela em uma disputa de posições e proposições sobre o destino das sociedades e dos territórios.
Essa mesma autora, num momento anterior indica que a educação
ambiental deve levar a uma formação mais cidadã (SATO, 1994).
Reigota (2004) completa, lembrando que: “Educação ambiental como
educação política, está empenhada na formação do cidadão nacional,
continental e planetário, baseando-se no diálogo de cultura e conhecimento
entre povos, gerações e gêneros”.
1.2.5 A Percepção Ambiental
A partir do momento em que conhecemos a Educação Ambiental, há
uma constante necessidade de se entender a percepção ambiental, para tanto
57
nos ancoramos num suporte teórico sobre a percepção ambiental, a partir dos
históricos de ocupação da região.
Sabendo que o processo de ocupação da Amazônia se deu fortemente
marcado pelos embates entre índios e seringueiros, seringueiros e posseiros,
grileiros e latifundiários, latifundiários e garimpeiros; essas lutas por territórios,
poder e apropriação dos recursos ecoam há muito tempo; cotidianamente,
assistimos as injustiças ambientais proporcionadas pelas apropriações
desiguais das terras, esses conflitos se repetem e as mudanças necessárias
não acontecem.
A discussão sobre territorialidade torna-se muito importante neste
contexto; o território não representa apenas um espaço físico, um pedaço de
terra, vai além; é um espaço social e cultural constituído na convivência e na
tensão entre diferentes modos de vida.
Conforme afirma Fernandes (2000), o território é espaço de vida e
morte, de liberdade e de resistência, por essa razão, carrega em si sua
identidade, que expressa sua territorialidade.
A transformação do espaço em território acontece por meio da
conflitualidade, definida pelo estado permanente de conflitos no enfrentamento
entre as forças políticas que procuram criar, conquistar e controlar seus
territórios. Trata-se do território de suas vidas e de suas histórias, de seus
sonhos, pois nele viveram seus dias, construíram seus espaços físicos, sociais
e culturais.
meu lugar é aqui mesmo, eu saí do Ceará com 3 anos de idade, quando voltei lá, já adulto, não me adaptei mais, agora meu lagar é aqui, daqui só saio para aquele lugarzinho ali no Araras(referindo-se ao cemitério municipal), que Deus me dê vida e saúde pra mim pra não ir logo. (Pescador, 44 anos) eu gosto de morar aqui nesse rio, quando tenho que ir para a cidade, logo quero voltar logo, é uma tortura ficar na cidade, na cidade até a dor de cabeça ataca. (Pescador, 27 anos) eu gosto muito de morar aqui, se eu não fosse pescador seria piloto de barco ou de balsa, mas ia morar nesse rio. (Pescador 29 anos) gosto demais daqui, eu tomo remédio controlado, quando eu vou pro rio, nem precisa, fico lá, na piracema quando tem que ficar aqui eu fico doente, eu tenho que ir lá pra ilha, e ficar lá sem fazer nada, só pra sair daqui, é como um vício, a gente pega aquele gosto com o lugar. (Pescadora, 54 anos)
58
Essas frases expressam o sentimento de pertencimento, gratidão e
enraizamento no local destes pescadores, que na maioria das vezes passaram
a maior parte de suas vidas nessas águas, mesmo que esse pertencimento se
dê simplesmente pelo fato dos pescadores estarem diretamente ali em busca
de seu sustento, mas no tocante as belezas da região, há que considerar que
muito dessa admiração pelo lugar se dá também pela beleza estética do local.
Sá (2005) sublinha que o sentido do pertencimento social, vem dos laços
pessoais de reconhecimento mútuo e no sentimento de adesão a princípios e
visões de mundo comuns, que fazem com que as pessoas se sintam
participantes de um espaço-tempo (origem e território) comum.
No momento em que a crise ambiental assola o mundo inteiro, sendo a
Amazônia foco de diversos olhares e Mato Grosso um dos estados dessa
grande região, denominada Amazônia Legal, com índices alarmantes de perda
de biodiversidade muitos são as especulações para com esse local, torna-se
necessário aprofundar o conhecimento sobre tais questões e o caminho mais
correto para tal é conhecer e ouvir a comunidade envolvida e chamá-la a
participar na construção de alternativas sustentáveis é extremamente
necessário e muito significativo.
A concepção de ambiente que exclui o ser humano, colocando-nos
como elementos à parte, capazes de atuar como observadores ou
modificadores externos do restante do ambiente deixa de considerar, com o
devido peso, o papel predominante desempenhado pela espécie humana sobre
os demais elementos da biosfera (também sobre outros seres humanos) e
nossa responsabilidade direta na conservação ou extinção dos ecossistemas
com todas as suas formas de vida.
O significado do conceito de paisagem está relacionado aos processos
de cognição, afetividade, memória e criação de imagens que compõem o
fenômeno da percepção, sempre influenciado pelas diversas conjunturas de
ordem natural, social, econômica ou cultural (GUIMARÃES, 2001).
Através de suas práticas sociais, o ser humano vem, ao longo do tempo,
alterando o espaço por onde passa ou reside, modificando e recriando
59
paisagens, reduzindo ao mesmo tempo, progressivamente, suas experiências
com o meio natural, além de constantemente provocar desequilíbrio e
degradação no meio no qual está inserido.
Todavia, ao mesmo tempo em que o ser humano está rapidamente
destruindo vários aspectos do ambiente, aos quais ele está vinculado,
paradoxalmente, nele persistem profundas necessidades biológicas de estar
em contato com o meio natural, verificáveis, conforme Machado (1988), em
diferentes tipos de manifestações.
Segundo a autora, as interações entre o ser humano e o meio sempre
foram e continuam sendo intensas e permanentes. O homem necessita
constantemente de estar em contato com o meio natural para manter-se bem,
fisicamente e psicologicamente, já que é, também, um ser integrante da
natureza.
Sendo assim não é possível falar de paisagens a não ser a partir de sua
percepção pelo ser humano, uma vez que a paisagem não se separa da
experiência e da vivência humana. A partir do contato com uma paisagem
(objeto), através da percepção, o ser humano (observador) apreende essa
paisagem e a avalia.
E avaliar uma paisagem implica fenômeno perceptivo que não pode ser
estudado como um evento isolado da vida cotidiana das pessoas, pois a
percepção está sempre presente em toda e qualquer atividade humana. É,
portanto, o ser humano quem percebe, contempla e vivencia as paisagens,
atribuindo a elas significados e valores.
De modo simplificado, uma paisagem é definida como tudo aquilo que
está ao alcance do olhar e à disposição do indivíduo, ou seja, um lugar onde o
ser humano passa sua vida.
As pesquisas em percepção ambiental, segundo Amorim Filho (2002),
vieram se consolidar efetivamente como uma das linhas mestras para os
estudos do ambiente humano no decorrer da década de 1970.
Por entender a importância decisiva de se considerar os complexos
aspectos da mente humana que norteiam nossas relações com o ambiente do
qual somos parte, escolhemos o estudo da percepção ambiental num esforço
60
de compreender o que define a maneira como o ser humano se relaciona com
seu entorno e o que concebe como qualidade ambiental e qualidade de vida.
Nessa perspectiva estudos sobre a percepção ambiental podem ser
extremamente vantajosos, pois fornece subsídios consideráveis para ser
utilizados como ferramentas para ações de Educação e Gestão ambiental.
Mediante a idéia de estudarmos a percepção ambiental de um grupo de
pescadores do rio Teles Pires, procuramos conhecer as considerações de
diversos autores sobre percepção ambiental e destacar aquelas com as quais
concordamos e nos baseamos neste estudo.
A percepção pode ser entendida como um processo seletivo, assim
como o “ato de conhecer através dos sentidos” que, segundo Penna (1968)
apud Duarte (2006), implica como condição necessária a proximidade do
sujeito com o objeto, tanto no tempo como no espaço, pois para ele, objetos
distantes no tempo não podem ser percebidos, mas sim evocados, imaginados
ou ainda pensados.
Tuan (1980) salienta que, embora o homem perceba o mundo,
simultaneamente através de todos os sentidos, o homem moderno depende
mais conscientemente da visão do que dos demais órgãos sensoriais, pois dela
dependem para organizar o espaço em sua mente, o que o torna um animal
predominantemente visual.
A percepção é definida por Del Rio & Oliveira (1996) como um processo
mental de interação que se processa entre o indivíduo e o meio ambiente e
isso ocorre através de mecanismos perceptivos e cognitivos, onde os primeiros
são dirigidos pelos estímulos externos enquanto que o segundo conta com a
participação da inteligência humana.
Já Tuan (1980) considera a percepção como um processo mental de
interação do indivíduo com o meio ambiente que ocorre através de dois tipos
de mecanismos: mecanismos perceptivos propriamente ditos, dirigidos pelos
estímulos externos e captados pelos cinco sentidos, com destaque para a
visão; e os mecanismos cognitivos, que compreendem a contribuição da
inteligência, incluindo motivações, humores, necessidades, conhecimentos
prévios, valores, julgamentos e expectativas.
61
Santos et al. (1996) acreditam que o estudo da percepção nas relações
ser humano-ambiente pode favorecer um uso mais sustentável dos recursos
ambientais.
Tuan (1983) salienta ainda que a cultura pode influenciar a percepção e
neste sentido poderíamos considerar que se a cultura de um grupo é
constituída coletivamente, também este autor acredita na influência social
sobre a percepção.
Na perspectiva fenomenológica o conceito de lugar caracteriza-se pelas
relações de valorização de afetividade que são desenvolvidas pelos indivíduos
para com seu ambiente. Sendo esta valorização resultado da ligação que os
indivíduos mantêm com o local, onde se sentem seguras e a vontade,
emergindo das experiências cotidianas.
Já para Tuan (1983), a construção do lugar exige mais que contatos
superficiais, porem a mobilidade do homem moderno torna sua experiência e
apreciação do lugar superficial.
O conhecimento abstrato sobre um lugar pode ser adquirido em pouco
tempo se é diligente. A qualidade visual de um meio ambiente é rapidamente
registrada se você é um artista. Mas “sentir” um lugar leva mais tempo: se faz
de experiências em sua maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia
após dia e através dos anos. É uma mistura singular de vistas, sons,
cheiros,uma harmonia ímpar de rítimos naturais e artificiais, como a hora do sol
nascer e se pôr, de trabalhar e brincar.
Ainda considerando Tuan (1983), esse autor conceituou os termos
topofilia e topofobia que começou a ser utilizados nos estudos sobre percepção
geográfica, e que ajudaram a fundamentar a geografia humanista.
Assim de acordo com esse autor o termo topofilia consiste no ele efetivo
que a pessoa ou determinado grupo social tem em relação ao lugar ou ao
ambiente físico, como podemos perceber nas falas desses pescadores.
Eu sou um pescador assim sem dinheiro, se tivesse gostaria de fazer mais passeios pelo rio, mas não tenho recurso pra isso, se você não tem dinheiro não dá pra fazer nada, você tem que pescar parado, você acha o rio muito bom, muito bonito, gosto demais dele, só que antigamente era mias gostoso, era bem mais limpo. (Pescador, 49 anos)
62
Eu sempre gostei de água, pra mim significa vida, estar na beira do rio pra mim é muito bom, poso estar com o problema que tiver, chego ali, ficando em contato com a natureza é muito bom. (Pescador 56 anos) Ah, esse rio é muito bunito, muito bom, eu gosto demais de ficar lá, eu quando chego no rio Teles Pires parece que Deus ta me esperando lá (...) que eu foncionei meu motorzinho do barco, que eu peguei aquela brisa do rio, pra mim é tudo na vida tudo quanto é raiva, mal, fica tudo na barranca, lá dentro do rio é muito bom, só paz, é tudo pra minha vida. (Pescador, 50 anos)
Enquanto que o termo topofobia está intrínseco aos sentimentos de
desafeto e aversão que as pessoas têm para com determinados lugares,
espaços ou mesmo paisagens.
Eu sou pescador, mas eu não banho assim na água não, não tomo banho no rio de jeito nenhum, eu tenho muito medo de água, eu banho dentro do barco, é como dizia meu pai água e fogo não tem cabelo pra se segurar, água cobriu meu pé eu já to voltando, e uma vez o barco afundou e eu tive que mergulhar por uma corda, foi feio, passei muito medo nesse rio. (Pescador 44 anos)
Na oralidade dos pescadores participantes da nossa pesquisa foi
possível perceber que existe uma relação de topofilia com o rio, isso ficou
muito evidenciado em suas falas, seus gestos e até mesmo pelo seu
semblante, mesmo essa relação sendo evidente, também foi possível perceber
o oposto dela, as relações de topofobia com o rio, pois esses pescadores
enfrentaram ou enfrentam alguns perigos nesse ambiente, seja por medo das
intempéries da natureza, seja por descuido com os barcos no rio ou mesmo
quando perdem parentes e amigos vítimas de afogamentos nas águas do rio
Teles Pires.
Assim, sendo o lugar o espaço vivido e como tal é preciso conhecê-lo a
partir do cotidiano, das relações próximas. Nesse sentido vincular a Educação
Ambiental a partir do cotidiano dos pescadores é fundamental, pois é no
cotidiano que são construídas a estrutura entre o ser humano e o ambiente.
São nas relações do cotidiano que se estabelecem as diferenças, as
semelhanças, as desigualdades, as disputas, a banalidade, o particular. É no
cotidiano que os valores, sejam sociais ou culturais, são postos em contato
constante e permanente com o outro, são as relações complexas visíveis e não
visíveis.
63
Para Heller (2004) a vida cotidiana é vivida por todos, sem exceção. As
pessoas participam da vida com todos os seus aspectos desde o nascimento,
portanto, é na vida de cada um individualmente, como também com um grupo.
Assim, nas relações cotidianas as pessoas não só agem como também são
influenciadas por outros.
É no cotidiano que dá-se a interface do ser humano com o ambiente,
resultado de usos, atitudes e desejos. É preciso resgatar o sentido subjetivo
que se imprime nas relações cotidianas.
Como salienta Loureiro (2004):
é preciso admitir para qualitativamente avançarmos em nossas propostas emancipatórias, que a tradição revolucionária tendeu, ao longo do século passado, a enfatizar a comunidade e a ignorar o indivíduo, numa atitude alienada de retificação do coletivo e de desprezo pelo subjetivo.
O conhecimento do lugar vivido impregnado de sentimentos e ações, a
partir das relações cotidianas, possibilita-nos o entendimento das
representações de educação ambiental e as percepções sobre esse meio
ambiente e, sobretudo, nos indica caminhos de ação na educação ambiental
não formal, pois ela é também construída a partir dos diversos significados que
compõem o lugar vivido e da multiplicidade de ações que se dão no cotidiano.
Nesse sentido é fundamental olhar as representações de meio ambiente
e educação ambiental, observando o contexto em que são construídas ou
reproduzidas, ficando atentos no sentido de compreender para quem e para o
que falam.
Desvendar o modo como os pescadores representam as suas relações
sociais com o mundo natural na percepção ambiental, e como essas
representações são atualizadas em sua vida cotidiana. O saber local como um
processo de investigação e recriação e as contextualizações em torno do
conhecimento natural adquire um caráter de extrema importância para o
entendimento dessa questão que se manifesta no cotidiano dos pescadores.
As relações estabelecidas no lugar, a identificação como lugar e esse
conhecimento do lugar enquanto espaço vivido traduz-se em uma dimensão de
decodificar as imagens, as representações construídas pelos pescadores em
sua trajetória de vida, que são suporte para a educação ambiental informal.
64
Pois os pescadores desempenham fundamental papel na conservação
da biodiversidade do rio Teles Pires, principalmente se considerarmos as
constantes alterações que são decorrentes da ação de grupos econômicos,
fazendeiros, industriais e mesmo do próprio turismo.
Assim, compreendemos que a problemática ambiental nos dias atuais
remete à apreensão do lugar, das relações que estabelecemos com esse lugar,
perpassando o cotidiano conjugado aos acontecimentos em escalas regionais,
nacionais e internacionais, o que caracteriza a complexidade das questões
ambientais.
Educação e Percepção ambiental ajudam a reaproximar o homem da
natureza, garantindo um futuro com mais qualidade de vida para todos, além
de despertar uma maior responsabilidade e respeito dos indivíduos em relação
ao ambiente em que vivem.
A captação do conhecimento acontece muito além de um processo de
captação e transmissão de informação. Necessariamente, precisa se adequar
às condições de convivência daqueles que participam do processo,
interpretando-o e produzindo um novo conhecimento.
Antes de finalizar esse capítulo, vale observar as afirmações de
Guimarães (2001): Em função disso tudo, a EA tem o importante papel de fomentar a percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente. Uma relação harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, possibilitando, por meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a inserção do educando e do educador como cidadãos no processo de transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta.
Assim fica evidente a necessidade da concretização de um modelo de
ecodesenvolvimento sustentado, buscando estabelecer outras relações sociais
entre os seres humanos, onde os direitos humanos, a cidadania, a
solidariedade e a ética sejam respeitados e cumpridos, e entre os seres
humanos e os demais seres vivos, cuja sobrevivência, como a do homem,
depende, em última instância da integridade ambiental.
65
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 A metodologia adotada
Diversas são as formas de se estudar a percepção ambiental:
questionários, mapas mentais ou contorno, representações fotográficas, etc.
Entretanto para Ferreira (2005), a metodologia utilizada para os estudos
de percepção ambiental se baseia fundamentalmente na combinação de três
abordagens: observar, escutar e interrogar, sendo esta última a mais utilizada.
Assim, para conhecer esse grupo de pescadores foram utilizadas
algumas metodologias, entendidas aqui como o conhecimento crítico dos
caminhos do processo científico, indagando e questionando acerca de seus
limites e possibilidades (DEMO, 1989).
Desta forma, entende-se que o método é o caminho que se opta a
caminhar e metodologia como a forma que se caminha. Essa conceituação de
método e metodologia é uma discussão ainda muito efervescente, muitos
autores consideram desnecessário diferenciá-los, outros acreditam ser
essencial para facilitar a compreensão (GIL, 2007; RICHARDSON, 2008)
O método central de nossa pesquisa é a abordagem qualitativa, que está
presente nas pesquisas de cunho educacional, permitindo ir além do caráter
quantitativo. A pesquisa qualitativa dá ênfase ao processo e não apenas ao
produto final, além de permitir a compreensão do significado do fenômeno em
seus contextos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Nas palavras de Minayo (1996), a investigação qualitativa requer como
atitudes fundamentais a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e
interação com o grupo de investigadores e com os atores sociais envolvidos.
Este método propicia liberdade ao pesquisador, portanto, não haverá
neutralidade na pesquisa, pois ele atribui significados interagem com o
desconhecido e se dispõe a dialogar.
André (1995) considera como o estudo do fenômeno em seu acontecer
natural, defendendo uma visão holística dos fenômenos, ou seja, levando em
conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências
66
recíprocas. É uma abordagem de pesquisa que tem suas raízes na
fenomenologia.
É, portanto, a concepção idealista-subjetivista ou fenomenológica de conhecimento” que dá origem à abordagem qualitativa de pesquisa, na qual também estão presentes as idéias do interacionismo simbólico, da etnometodologia e da etnografia, todas elas derivadas da fenomenologia (ANDRÉ, 1995).
De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização
de entrevistas, quase sempre longas e semi-estruturadas. O número de
sujeitos que virão a compor o quadro de entrevistas dificilmente pode ser
determinado a priori, dependendo da qualidade das informações obtidas em
cada depoimento, assim como da profundidade e do grau de recorrência e
divergência destas informações. Enquanto estiverem parecendo “dados”
originais ou pistas que possam indicar novas perspectivas à investigação em
curso as entrevistas precisam continuar sendo feitas (ANDRÉ, 1995; DUARTE,
2002).
Na pesquisa qualitativa, as situações nas quais se verificam os contatos
entre pesquisador e sujeitos pesquisados configuram-se como parte integrante
do material de análise. Na análise dos dados, como em todas as etapas da
pesquisa, é preciso ter olhar e sensibilidade armados pela teoria, operando
com conceitos do referencial teórico, constituído pelos documentos gerados no
trabalho de campo (DUARTE, 2002).
Como o método utilizado nesta pesquisa foi o qualitativo que tem por
objetivo interpretar e expressar o sentido dos fenômenos do mundo; trata-se de
reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre
contexto e ação. Assim, buscamos conhecer e compreender as dinâmicas da
colônia de pescadores.
Para isso recorremos a um olhar fenomenológico, de perceber e
respeitar os diferentes olhares. Inspirados na fenomenologia da percepção,
ancorada no filósofo Maurice Merleau-Ponty. Esta metodologia foi favorecida
por permitir maior aproximação com os sujeitos envolvidos, resgatando as
conversas e história da localidade, levando em consideração que as
concepções estão arraigadas de memórias e experiências.
67
Segundo Merleau-Ponty (2006) todas as visões são verdadeiras, sob a
condição de que não as isolemos, de que caminhemos até o fundo da história
para encontrarmos o núcleo único de significação existencial que se justifica
em cada perspectiva.
Nesse sentido, compreendemos as percepções dos pescadores em
relação aos conflitos ambientais da região, sem a pretensão de julgar quem
está certo ou errado.
A fenomenologia nos traz essa realidade diversa com ênfase ao “mundo
cotidiano”. “Cada lugar, cada sujeito, percebe diferentemente o outro e a vida a
sua volta” MERLEAU-PONTY, (2006)
Passos (1998) salienta que falar na fenomenologia é falar de uma
perspectiva do olhar humano por sobre uma realidade polissêmica, é de
alguma maneira ver o mundo a partir de um sujeito que o acolhe, luta, se
contrapõe, distingue, ama, recusa.
Nesta pesquisa, a relação entre o eu, o outro e o mundo é vital para
possibilitar a construção do conhecimento, visto que este ocorre a partir da
interação social. A forma como os seres humanos se relacionam entre si e com
o meio determina a configuração do espaço, que também é fruto de um
contexto histórico, cultural, econômico, político e social.
Portanto o método deste trabalho está ancorado nas técnicas de
percepção ambiental, pois ao agirem sobre a natureza, as sociedades dispõem
de representações mentais sobre o significado e finalidades do mundo natural,
sistemas simbólicos esses que variam de sociedade para sociedade, segundo
os tempos históricos. No estudo das relações ser humano-natureza, o estudo
da percepção auxilia na utilização mais igualitária de nossa biodiversidade
(MAROTI, 1997).
Esse caminhar fenomenológico, parte da compreensão do viver e não de
definições ou conceitos e no nosso caso esta compreensão é voltada para os
significados do perceber. Neste caso, importa destacar à ‘experiência vivida’ do
sujeito, compreendendo o agir e o saber-fazer, de modo criativo e crítico, de
cada um deste, lembrado que a percepção ‘não ocorre no vazio, mas em um
estar-com-o-percebido’ (BICUDO; ESPÓSITO, 1997). Esta concepção não se
68
realiza através de um distanciamento neutro, ela se realiza no contato direto
com os sujeitos desta pesquisa, isso favorece uma pesquisa de cunho
qualitativo como a nossa.
2.2 A seleção dos informantes e a coleta de dados
Ao iniciarmos esse trabalho, refletimos sobre uma pergunta: Quem vai
representar esse rio? Sabendo de sua extensão, não seria uma tarefa fácil nem
executável em tão pouco tempo, que grupo seria mais indicado para participar
dessa pesquisa? Inicialmente foram feitas visitas a algumas localidades
próximas ao rio, nesses momentos foi possível fazer algumas observações
profundas sobre sua relação com o ambiente.
Para isso, adotamos também a metodologia de “observação
participante”, prevista na concepção de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988),
vivenciando o que se pode chamar de pesquisa e extensão ao mesmo tempo.
Uma vez que nessa região considerada Amazônia Meridional não há
comunidades instaladas nas margens dos rios como acontece na Amazônia de
forma geral, essas áreas são habitadas por pequenos sitiantes, fazendeiros e
pescadores, esses pescadores nem sempre moram definitivamente nesses
ambientes.
Embora não sejam considerados “comunidades ribeirinhas” conforme
define o decreto número 6040 de 07/02/2007, estes pescadores são pessoas
simples que por falta de opção se tornaram pescadores, hoje estão se
organizando em colônias, para garantir sobrevivência nessa ambiente
amazônico.
Então acreditamos que esse grupo de pescadores por serem pessoas
que estão diariamente em contato com o rio seriam os mais indicados para
participarem da pesquisa, revelando suas percepções, seus conhecimentos e
seus encantos com o ambiente.
Normalmente, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de
entrevistas, quase sempre longas e semi-estruturadas. O número de sujeitos
que virão a compor o quadro de entrevistas dificilmente pode ser determinado a
priori, dependendo da qualidade das informações obtidas em cada depoimento,
69
assim como da profundidade e do grau de recorrência e divergência destas
informações. Enquanto estiverem aparecendo dados originais ou pistas que
possam indicar novas perspectivas à investigação em curso, as entrevistas
precisam continuar sendo feitas (ANDRÉ, 1995; DUARTE, 2002).
Para essa fase de coleta dos dados optamos por utilizar entrevistas em
profundidade com roteiros semi-estruturados, tendo sido realizado um total de
20 entrevistas com pescadores profissionais e amadores de Alta Floresta.
Lüdke & André, (2004) argumentam que nesse tipo de pesquisa que tem
o ambiente natural como sua fonte de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento, onde a preocupação do pesquisador não é com a
representatividade numérica do grupo pesquisado e sim com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de sua organização e de
sua trajetória.
Posterior a definição do grupo a fazer parte da pesquisa, nos dirigimos
até a colônia de pescadores em Alta Floresta, onde foi possível saber quem e
quantos eram esses pescadores profissionais, partindo daí, foi agendado um
encontro informal com cada um deles, onde no inicio alguns ficaram receosos
em participar da pesquisa, alegando não saber nada sobre o rio. Afirmamos
que era importante a participação dele e dos demais pescadores, assim
explicamos os objetivos da pesquisa e já agendando uma nova data para uma
posterior entrevista. Estabelecida a relação de confiança entre pesquisador-
pescador, sempre fomos recebidos com muita generosidade por parte deles.
Dessa forma foram realizadas 20 entrevistas, com pescadores
residentes nos mais diferentes bairros: Cidade Bela, Cidade Alta, Boa
Esperança, Boa Nova I e II, Jardim das Araras, Setor Universitário, Setor A e
Setor D, na cidade de Alta Floresta, alguns residiam diretamente no rio.
Desses 20 pescadores três são do sexo feminino e 17 do sexo
masculino, havendo um predomínio de homens devido ser uma atividade
tradicionalmente masculina.
As entrevistas foram documentadas através de gravações em aparelho
mp3, com consentimento prévio e autorização dos informantes, ouvidas mais
de uma vez e digitalizadas para posterior análise.
70
Também foram anotadas em diário de campo todas as outras
informações que não apareceram durante as interlocuções. Outras evocações
livres, tais como as expressões, sorrisos e mesmo sentimentos de tristezas que
em determinados momentos das entrevistas demonstravam, além de um
registro fotográfico, como um dos recursos utilizados na iconografia, como
recomenda Viertler (2002) também foram considerados.
Portanto, as interpretações feitas a partir dos dados obtidos, reforçando
o que foi afirmado anteriormente, priorizam o universo qualitativo, onde a
qualidade da informação é o caminho para as análises pertinentes e seus
desdobramentos.
71
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PESCADORES DA COLONIA Z-16:
AS EVOCAÇÕES, SENTIMENTOS, ANSEIOS E INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA EM UMA COMUNIDADE EM MOVIMENTO
�1 �����������������
��������������������������������������!����������������?��
���������������������������#����������&��6 ����������������%����&����������������:�������������
��!���������������
0 ����,����������@ �������������������!��������� ����������� ����������������!������/ ��������������������������������������:���������
����!����������������
(�����A�� �
Foto: SANTOS, M. L. (2007)
72
3.1.1 O ser humano no mundo
B�� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ��� ������ ������������� ����� ������������������� ���� � ���� ����� �����������������'�
� � � � � � � � ������������ �����
�
O ser humano interage com o mundo e esse ato contemplativo
geralmente proporciona ao ser humano uma sensação de integração com a
natureza. Na concepção de Spinoza, citado por Marin (2003), a natureza é a
unidade de tudo que existe e o ser humano, como algo que existe, está
vinculado a essa unidade.
O mundo diante dos nossos sentidos a cada dia se torna mais complexo,
com relações que estão se intensificando e se diversificando. Estas relações
vão tecendo a realidade e, dentro delas, os sujeitos vão se posicionando, se
interagindo, explodindo em perguntas que demandam respostas. Estamos
imersos nessa complexidade e, através da percepção e de outros contatos com
o mundo vamos tomando parte dele, compondo-o ao mesmo tempo em que ele
vai tornando-se parte de nós.
Entende-se por percepção como sendo uma função cerebral que atribui
significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas.
Através da percepção um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões
sensoriais para atribuir significado ao seu meio, unindo essa capacidade
individual com o ambiente temos a percepção ambiental que pode ser definida
como o modo que cada indivíduo sente o ambiente ao seu redor valorizando-o
em maior ou menor escala.
O ser humano representa o mundo e ao representar esse mundo
constrói seus ambientes ou os modificam com carga significativa de conceitos,
relações e práticas.
3.1.2 Cultura e Saber local
A cultura de uma maneira geral é entendida como todo e qualquer
universo que venha a caracterizar um determinado grupo social humano.
73
Entender cultura deve ser uma constante preocupação, pois só assim se
entende o caminho percorrido, se reinventa o presente e se projeta o trajeto
futuro de cada indivíduo, de cada grupo social, portanto, da humanidade no
planeta terra (QUADROS, 2006).
Cada cultura constrói e transforma o seu viver, conforme seu jeito de
ver, sentir e pensar o mundo. Este jeito é a maneira que cada grupo interpreta
a sua realidade e a constrói conforme o seu entendimento e necessidades.
Como afirma Brandão (1985), Cultura diz respeito a toda humanidade,
mas ao mesmo tempo a cada um a das sociedades “cada realidade cultural
tem sua lógica interna”.
Também aponta Geertz (1997) que:
os fatos não nascem espontaneamente, são construídos socialmente por todos os elementos. A etnografia entre outros são artesanatos locais: funcionam a luz do saber local. [...] para conhecer a cidade é preciso conhecer as ruas. Sensibilidade pelo caso individual.
Geertz (1997), ainda afirma que existem várias maneiras dos humanos
construírem suas vidas no processo de vivê-las. Por isso, acredita-se que se
justifica a necessidade constante e sempre atual, de evidenciar este
patrimônio: a cultura de cada realidade, pois é neste tesouro que reside a
possibilidade de encontrar e compreender a lógica, hábitos, valores, costumes,
desejos, percepções e concepções que desvelam sentidos e revelam as
transformações pelas quais passam cada sociedade, seja ela, grande ou
pequena.
Quanto a esse patrimônio Morin (2004) acrescenta que “cada civilização
possui um pensamento racional, empírico, técnico, simbólico, mitológico e
mágico. Também havendo sabedorias e superstições” e Terena (2004) apud
Quadros (2006) aponta que “os recursos culturais estão se perdendo, e assim
se perde a riqueza. O caminho é fortalecer a cultura local, junto à economia.”
3.1.3 Os participantes da pesquisa
O grupo pesquisado constituiu de pescadores credenciados a colônia Z-
16 em Alta Floresta. Para tanto fomos até o representante da colônia em Alta
Floresta onde foram fornecidos os nomes e endereços dos pescadores
74
credenciados. De início eram para fazer parte da pesquisa os 27 pescadores
de qual tivemos os nomes e endereços, mas devido à dificuldade de localizá-
los, realizamos a pesquisa com os 20 encontrados.
Do total de 20 informantes, 17 são do sexo masculino e três do sexo
feminino. Provavelmente, a maior representatividade dos homens na pesquisa
seja pelo fato desta ser uma profissão tradicionalmente considerada masculina,
sendo que somente agora as mulheres estão começando a desenvolverem tal
atividade juntamente com seus maridos, algumas vezes deixando outras
atividades como artesanato ou mesmo os afazeres domésticos e
acompanhando-os.
Os motivos que levaram esses homens a se tornarem pescadores foi
principalmente o fato de não terem uma profissão fixa, alguns eram pedreiros,
carpinteiros, garçom, eletricista etc. Em determinado momento de suas vidas
faltou serviço e tendo no ambiente uma oferta de emprego, não tiveram dúvida
em serem pescadores, conforme pode ser compreendido nos relatos:
Começou mais pela falta de estudo, se o cara tem um bom estudo o cara tem um bom serviço, se o cara não tem estudo tem que apelar pros matos e pra mato eu sou ruim demais, comecei fazendo umas pescaria no rio Santa Helena e estou até hoje, isso a 15, 16 anos atrás. (Pescador, 44 anos) Rapaz, é o seguinte, primeiramente porque a gente procurava um trabalho e não achava, foi um meio que a gente gosta de fazer também né, a gente começou e deu certo, não dá de enricar, mas também... dá pra comer como diz o outro... pra viver dá, então, foi assim que agente começou, fui fazer um teste pra ver se passava, porque de repente o cara não dá certo né... aí fiquei e não tenho idéia de parar não... as vezes a gente leva um fumo, não pega nada, outras vezes pega bastante... mais é assim mesmo (...). (Pescador, 26 anos)
Então, antes eu não tinha uma profissão certa, era manicure, aí eu resolvi escolher esta, pois dá uma renda até boa. (Pescadora, 31 anos)
Quando eu vim pra cá meu pai tinha um bar aqui na beira do rio e a moeda aqui era a pesca, aí eu vim pra cá já com o objetivo de pescar, trabalhar com pesca e aí fomos pescando e estamos até hoje. (Pescador, 37 anos)
Comecei em 86 por que não encontrava emprego, é duro cara (...), desde 86 que eu estou desempregado, pois o governo não dá emprego pra gente velha, o jeito foi pescar, fazer o que? (Pescador, 62 anos)
75
A idade dos informantes variou de 22 a 63 anos, sendo que a maioria
dos informantes tem mais de 20 anos de contato com o rio, fato considerado
relevante na pesquisa, pois quanto maior o tempo de vida no local, mais ele
conhece esse local, carregando consigo mais conhecimentos sobre o local,
sendo, portanto as mais indicadas para falar do rio, da atividade de pescaria e
do ambiente como um todo.
Segundo Amorozo (1996), ocorre um acúmulo de conhecimento à
medida que os anos passam, de forma que os mais velhos tendem, a saber,
mais sobre assuntos de interesse vital para a comunidade e são considerados
pelo seu saber.
Estes pescadores são também chamados de citadinos, pois são
pescadores que residem no perímetro urbano, normalmente em bairros
periféricos, possui na maioria das vezes residência própria ou moram em
pequenos casebres construídos em terreno dos pais, são na maioria
residências simples e geralmente de madeira, como é de costume na região.
Como residem na cidade a atividade de pesca tem sido uma atividade
constante no decorrer do ano, exceto nos períodos de defeso (piracema) que
vai de novembro a fevereiro, onde somente os pescadores profissionais
recebem o seguro desemprego, amparado pela legislação estadual, Lei
número 10.779 de 25/11/03 e pela resolução número 468 de 21/12/2005,
destinado para que respeitem o período de defeso da pesca.
Estes pescadores na maioria das vezes intercalam o trabalho da pesca
com outras atividades, fora da pescaria ou no período de defeso. São
atividades geralmente desenvolvidas por eles: pedreiro, catador de castanha,
piloteiro de barco, marceneiro, carpinteiro, artesão, etc.
Eu piloto barco quando ta ruim de peixe, tenho pilotado prôs biólogos da UNEMAT quando eles precisam, trabalho na rua de pedreiro, quando aparece algum sirvisím, também coleto castanha na mata, na beira do rio. (Pescador, 34 anos) Antes eu era artesã, pegava material no mato, agora sou pescadora, mas ainda ajudo minha filha que é artesã, você conhece ela né. (Pescadora, 54 anos) Eu trabalho também como comprador e vendedor de sucata. (Pescador, 47 anos)
76
No artigo 1° da Lei 10.779 de 25 de novembro de 2003, traz a definição
de pescadores profissionais como sendo aquele que exerce sua atividade de
forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio de parceiros.
São denominados pela secretaria Nacional de Pesca, como “pescadores
artesanais” por empregarem pouca tecnologia no exercício da profissão, quer
seja pela dificuldade financeira em adquirir apetrechos ou mesmo pela tradição.
Eu pesco com anzol de corda, que o povo fala de varal, uso corda de fundo pra pegar piraíba, é proibido pela lei, mas se não for assim não pega (...), uso tarrafa só pra pegar lambari pra isca. (Pescador 34 anos) Eu uso o bote de madeira, com rabeta, amarro uns varalzinho com anzol a tardinha e vou a noite pra ver se iscou algum peixe, de varinha mesmo eu não pesco não, não pega nada. (Pescador, 26 anos) Eu uso linhada e espinhel com oito anzol, tarrafa e rede eu não uso (...), o meu barco é de timburi, feito por mim e outro pescador. (Pescador, 50 anos).
A idade desses pescadores é bastante variada, tendo pescador com
apenas 26 anos até pescadores bem mais experientes na atividade com idade
acima de 60 anos, a maioria residem na região por mais de vinte anos, tendo
procedência de diferentes regiões e carregando consigo diferentes saberes e
percepções sobre a profissão e o ambiente.
No grupo pesquisado foi possível encontrar pessoas oriundas dos
estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás,
sendo que nenhum dos participantes nasceu em Mato Grosso. Esse fato é
compreendido quando se analisa o tempo de colonização da região, pois essa
região tem pouco mais de 30 anos de colonização e o município de Alta
Floresta conta hoje com 32 anos de colonização.
Medeiros (1999), em seu trabalho com pescadores profissionais da
Colônia Z-2 em Cáceres, mostrou que parte dos pescadores da referida colônia
são provenientes de outros estados como, São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná.
77
Quanto à escolaridade dos informantes, apenas 15% não são
escolarizados, 60% possuem somente o ensino primário, 20% possuem o
ensino fundamental e 5% possui o ensino médio.
Quanto ao estado civil, 60% alegaram serem casados, 30% se
declararam amasiados, 10% solteiros e divorciados. Isso mostra que a maioria
possui família para sustentar.
Segundo os informantes a renda familiar é em média um salário mínimo
por mês.
3.1.4 A profissão de pescador hoje e amanhã
A atividade de pescador não tem mais aquele ar poético, descrito nos
livros e nas músicas, tampouco é uma atividade considerada recreativa, é sim
uma atividade extremamente sofrida e praticamente sem incentivos.
Nas entrevistas pode-se perceber que muitos manifestam sentimentos
de insatisfação com a atividade, alguns afirmam ser até prazeroso a pescaria,
outros demonstram fortemente a vontade de mudar de profissão, embora
alguns saibam que isso seria muito difícil devido à idade avançada para o
mercado de trabalho, a pouca ou nenhuma escolaridade, ficando sem
perspectiva em ter outra atividade profissional e alguns esperam se aposentar
nessa atividade, uma vez que é considerada aposentadoria em regime especial
bastando contribuir com o INSS por 15 anos e alguns já apresentam um bom
tempo de contribuição.
Se eu arrumasse um emprego aqui na rua, de carteira registrada não ia mais pescar não, ta muito dificultoso pescar. (Pescador, 26 anos) Eu se tivesse um pouquinho mais de estudo, iria fazer outra coisa na vida, mas tinha que ser meio perto daqui, ia pescar só pra distrair as idéias. (Pescador 44 anos)
Por serem um grupo de pescadores alóctone a esse ambiente é
evidente uma insatisfação com a profissão e existe uma preocupação enorme
por parte dos participantes da pesquisa, quanto ao futuro profissional dos
filhos, pois em determinado momento de suas falas percebemos o quanto eles
não gostariam que os filhos se tornassem pescadores,
Eu acho que não gostaria que um filho meu fosse pescador, porque o peixe está diminuindo, ta cada dia mais difícil sobreviver, então quando
78
chegar a época deles, de exercer um cargo desses vai ser muito mais difícil, pra eles vai estar mais difícil, cada ano que passa fica mais difícil, sobreviver da pesca vai ser difícil. (Pescador 34 anos) A pescaria é muito sofrida, você pensa que é fácil, a gente agüenta isso aqui porque a gente é de raiz, entendeu? Não de pescador, mas porque a gente é forte, não gostaria que meus filhos fossem pescador, preferia que eles fossem mecânico, advogado, bancário, gostaria que fosse outra pessoa, que trabalhasse aqui dentro da cidade, só não prefeito, vereador e pescador... risos. (Pescador, 50 anos) Eu gostaria que meus filhos conseguissem ter outra profissão. (Pescadora, 31 anos) Ah não! pescaria não compensa, daqui pra frente a pescaria só vai diminuindo, uns anos atrás era melhor, agora ta mais difícil, daqui 10 anos se continuar assim vai acabar. (Pescador, 38 anos)
3.1.5 O saber local dos pescadores sobre o rio Teles Pires - a pesca, a fauna e a flora: um saber não-escolarizado
O homem intervem na natureza, descobrindo e utilizando as leis para
dominá-la e colocá-la a seu serviço, desejando viver com ela (GADOTTI, 1998)
e ainda considera que o homem está constantemente em contato com o
ambiente, transformando o meio natural em meio cultural, da forma que lhe for
conveniente, intervindo sobre a sociedade humana rumo a um ambiente mais
humano.
De acordo com Ferreira (1995), a educação informal é decorrente de
processos naturais e são carregados de valores e representações. Essa é
transmitida pelos pais na convivência familiar e mesmo com os amigos.
Lima (2004) ressalta que a Educação informal ocorre na interatividade
do sujeito com o ambiente social, físico, ecológico e cultural. Esse processo de
interação resulta na produção de conhecimento.
O território de sobrevivência, um espaço de aprendizagem, é a área de
conhecimento gravada na memória do povo que se perpetua nas gerações
através da educação não escolar e propicia uma fonte rica em dados
evidenciados nas ações e nas atitudes do pescador, no caso de nossa
pesquisa.
O grupo social pesquisado apresenta certas formas tradicionais em sua
unidade de produção pesqueira sobrevivendo basicamente dela e vem
79
preservando uma forma artesanal de produção, embora, este mesmo grupo
tenha sido influenciado por uma cultura externa a sua.
Segundo Faria (2002), as populações tradicionais são “grupos sociais
que vivem a proximidade e dependência em relação aos diversos ambientes
naturais e possuem como característica fundamental, um profundo
conhecimento do meio natural e uma utilização sustentável do mesmo”.
As populações tradicionais variam de acordo com cada região do Brasil,
apresentando traços culturais que a diferenciam da população que está em seu
entorno. São comunidades tradicionais (conforme decreto presidencial número
6040 de 07/02/07) os povos indígenas, as comunidades remanescentes de
quilombos, os caboclos ribeirinhos, as comunidades tradicionais urbanas, as
populações tradicionais marítimas, que se subdividem em pescadores
artesanais e os caiçaras, entre outras.
Salientamos que esse grupo de pescadores não são autóctone dessa
região, como afirmado anteriormente, numa comparação analógica eles
possuem traços e algumas adaptações das comunidades ribeirinhas, embora
possuem características "sui generis" particulares que os distingue dos demais
grupos considerados comunidades tradicionais, conforme o decreto 6040.
Exatamente por não ter um conceito elaborado para o modo de vida
deles, apenas pra atividade laboral e de sobrevivência, faremos uso e
contextualizamos as comunidades tradicionais, por serem as mais próximas
desse grupo.
No Art. 3o do decreto presidencial nº. 6040 de 07/02/2007, que Institui a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, compreende-se por população tradicional:
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
Para Reis (1996), as populações tradicionais apresentam amplos
conhecimentos dos recursos naturais e formas tradicionais no uso e
apropriação desses recursos para sua subsistência.
80
Guarim Neto (2007), em aula no curso de mestrado em Ciências
Ambientais alerta que é preciso valorizar e resgatar tais conhecimentos,
reproduzindo-os através da escrita onde assim teremos a história perpetuada.
3.1.6 O espaço percebido e as alterações da paisagem
Segundo Santos (1997), espaço é o terreno onde se constroem as
relações sociais de trabalho, onde repousam os objetos naturais e materiais.
Através da sua concepção é preciso que vejamos o espaço como um sistema
de objetos e ao mesmo tempo como um sistema de ações. Ou seja, existe uma
disposição espacial dos objetos, assim como existem diferentes ações que se
desenvolvem a partir dessa organização ou dessa disposição espacial. Isso
significa dizer que o espaço é dinâmico, pois pressupõe o empreendimento de
ações humanas na sua configuração.
Baseado nessas definiçoes de espaço, entendemos como lugar uma
parte ou ponto imaginário do espaço geográfico, percebida e definida pelo
homem através de seus sentidos, onde vivemos e interagimos com uma
paisagem.
Dessa forma, o meio ambiente é ponto de referência para estudos que
relacionam a sociedade e o meio ambiente diretamente, pois a relação
estabelecida entre os dois elementos mostra como a sociedade percebe e
atua, modificando o território de influência por meio de seus costumes e
técnicas (LA BLACHE, 1954 apud SILVA, 2007).
A percepção ambiental dos pescadores oriundos da área estudada neste
trabalho está intimamente ligada ao território que eles habitam e onde
trabalham fato este que ocasiona sua identidade com este espaço, sendo a
primeira apreensão que se tem do lugar de morada e trabalho é a paisagem.
Conforme afirma Santos (1996),
a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca, sendo que a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção.
Entende-se por paisagem como sendo toda porção de terreno
contemplada de uma perspectiva natural ou estética. Para a ciência geográfica,
81
porém, o termo tem significação específica e refere-se ao próprio objeto da
geografia. Nesse sentido científico, paisagem é o resultado da combinação,
num dado território, dos elementos físicos, biológicos e humanos que
constituem sua unidade orgânica e se encontram estreitamente relacionados.
Perceber como a comunidade interfere no meio ambiente é de certa
forma verificar como acontecem as diferentes formas de uso dos recursos
naturais. Assim o saber local, a cognição do espaço, torna-se mais um ponto
de apoio para entender a realidade na qual estão inseridos, sendo de extrema
importância tanto a percepção como a cognição.
Sendo a paisagem o que se vê, supõe-se necessariamente a dimensão
real do concreto, o que se mostra, e a representação do sujeito, que codifica a
observação. A paisagem resultado desta observação é fruto de um processo
cognitivo, mediado pelas representações do imaginário social, pleno de valores
simbólicos.
Ferrara (2002) traz importante contribuição ao discutir visualidade e
visibilidade, categorias dos modos de ver, de natureza da imagem. A
visualidade corresponde a imagem do mundo físico e concreto, já a visibilidade
à elaboração reflexiva do que é fornecido visualmente transformado em fluxo
cognitivo.
A autora ressalta:
Na visibilidade o olhar e o visual não se subordinam ou conectam-se um ao outro, como ocorre com a visualidade, ao contrário, ambos se distanciam um do outro para poder ver mais. Estratégico e indagativo o olhar da visibilidade esquadrinha o visual para inseri-lo, comparativamente, na pluralidade da experiência de outros olhares individuais e coletivos, subjetivos e sociais, situados no tempo e no espaço.
É importante, neste contexto, entendermos a relação entre essa
fundamentação histórica da interação do morador com o lugar, dos seus
valores e conhecimentos sobre o meio, e os padrões comportamentais que
apresentam com relação a ele.
A contemplação de determinadas paisagens tem a força de despertar
relações nostálgicas e, dessa maneira, de fazer surgir à memória momentos de
interatividade com o ambiente. Quanto mais o lugar habitado reflete a
82
identidade de seus habitantes, maior valoração lhe será atribuída, o que
significa comportamentos de apropriação potencialmente preservacionistas.
É dessa forma que, segundo Marin (2003), o processo histórico de
desenvolvimento pode seguir caminhos distintos: desenham na arquitetura e na
paisagem os traços culturais de seu povo ou, em nome de um funcionalismo
homogeneizante, permite a perda desses traços, destruindo os substratos da
sua memória e da sua identidade biológica e cultural.
De acordo com Bosi (1999), um ambiente acolhedor não é construído
por um gosto refinado na decoração, mas pela reminiscência das regiões de
nossa infância banhadas por uma luz de outro tempo.
Na visão dos pescadores o rio Teles Pires é de suma importância para
toda a região, por ser um ambiente natural, possuidor de muitas belezas
naturais e que tem ajudado na alimentação e no sustento de muitas famílias
através do pescado comercializado. Como narra um pescador:
É um rio de grande importância pra gente né, é dele que a gente tira o sustento para família. (Pescador, 59 anos)
Fato esse que pode ser corroborado com Reis (1996), quando descreve
que o peixe constitui para o ribeirinho o alimento básico e essencial, preparado
das mais diversas formas frito, cozido e assado.
O rio também é importante não somente para a pesca e sim para lazer
para o pescador e sua família (Figura 13), nos fins de semana, sendo muito
comum esses pescadores receberem parentes e amigos em seus barracos
construídos nas margens ou mesmo ilhas do rio, como narram abaixo alguns
pescadores.
83
Figura 13: Pescador reunido com a família às margens do rio Teles Pires.
(Foto: SANTOS, M. L. 2007) As vezes eu levo a mulher e a filha pra pescar também, elas ficam lá no barraco, é uma diversão pra elas. (Pescador 56 anos); Tem uns cunhados meus que quando vem de São Paulo, ficam loucos pra ir no rio, nem sabem pescar, mas gostam de ir lá, eu pego um peixinho pra eles, eles fritam lá mesmo, só de estar lá pra eles é tudo. (Pescador, 49 anos); Eu quando dá trago a mulher e os filhos, mais na época de férias da escola, As crianças ficam que não vê a hora de vir, passa uma semana aqui comigo e voltam, se não estudassem, vinham mais, mas tem que estudar né, não dá pra ficar aqui. (Pescador, 38 anos)
3.1.7 Os impactos ambientais percebidos pelo grupo estudado
Atualmente muito se tem visto sobre a devastação das florestas
brasileiras, em especial na região norte de mato grosso, denominada arco do
desflorestamento, a contínua devastação das florestas (Figura 14) e o avanço
do agronegócio tem modificado a paisagem e alterado todo o ecossistema.
84
Figura 14: Queimadas: Um dos processos de destruição da floresta.
(Foto: TISO, M. R. 2006) Silveira & Lopes (1994) afirmam que
As modificações ambientais decorrentes do processo de ocupação humana têm demonstrado que os primeiros habitantes viviam em harmonia com a natureza, dela retirando o suficiente para suprir suas necessidades básicas, sem danos ao ambiente, enquanto que “progresso” que se tentado impor, por não levar em conta os aspectos culturais e os conhecimentos empíricos do homem, que vive na Amazônia, poderá levar a um rompimento dessa harmonia.
Os principais problemas ambientais informado pelos pescadores são as
derrubadas, as pastagens que acontecem na região, principalmente nas
proximidades do rio (Figura 15), o avanço do agronegócio e o cultivo de grãos
na região se Sinop e Sorriso, mesmo sem muito conhecimento eles entendem
que isso traz prejuízos ao rio, no momento das entrevistas quando foi
perguntado sobre as alterações percebidas, muitos falaram que a principal
delas é a diminuição do peixe, que entendemos estar relacionada a muitas
outras.
85
Figura 15: Desmatamento nas proximidades do rio.
(Foto: COSTA, R. 2008) Sobre as mudanças no rio, transcrevemos abaixo trechos dos
depoimentos:
Ah tem né, a variedade de peixe tem diminuído muito, um pouco é por causa da pesca desorganizada, outro é por causa dos garimpos que teve né. (Pescador, 34 anos) A gente tem sentido que no começo a gente pescava uma noite só e ficava satisfeito, dava tanto pra pegar o peixe pra comer e pra fazer um negocinho (vender), já dava, hoje não, não sei se é por causa do garimpo, do azougue que jogavam no rio, deixou a água muito poluída, matou muitos peixes pequenos e não aumentou os peixes, não é só eu que penso assim não, tem mais gente aí que acha isso, hoje a gente ta até desanimado de pesca. (Pescador, 49 anos) O garimpo prejudicou muito por causa do azougue, poluiu muito mas não acabou com os peixes, porque os garimpeiros não iam atrás de peixe, iam atrás de ouro, lês reviraram muito o fundo desse rio, tinha lugares que era rasos e agora ta fundo e outros que eram fundos e hoje está raso, ali no porto de areia mesmo tem lugar que tinha 30 metros de fundura e hoje não tem cinco. (Pescador, 44 anos) Eu percebo que tem o assoreamento, tem lugares que antes eram poços fundos e hoje são rasos, mas isso é por causa do desmatamento do rio lá em cima, perto de Sorriso pra lá, pois por aqui até que não tem muito desmatamento (...), tem também a contaminação com agrotóxico usado nessas lavouras, que vem tudo para o rio, tem o garimpo também, até acho que o garimpo só trouxe estrago e prejuízo pra o rio e pra região também. (Pescador, 56 anos)
86
Pelos depoimentos dos parceiros da pesquisa, pode-se perceber que
eles detêm um conhecimento sobre tais devastações, a maioria deles
presencia isso desde os primeiros anos de colonização da região, ora
trabalhando como garimpeiros, em madeireiras, ora em outras atividades.
Outro fato que narram e consideram ter sido causador de grandes
transformações na paisagem é o garimpo de minerais, principalmente ouro,
que foi uma das atividades muito presente no município, nas décadas de 80 e
90 (Figura 16) que certamente tem contribuído muito para algumas alterações
que até hoje tem suas marcas no ambiente.
Figura 16: Garimpos de minérios nas proximidades do rio. (Foto: TISO, M. R. 2006)
Um pouco foi essas balsas, escariantes, balsas de mergulhos trabalhando ali, nisso o peixe vai sumindo, vai se afastando. (Pescador, 26 anos) Vixe Maria rapaz, é terra que rolou pra dentro do rio, tudo aquilo que era original, foi virado de baixo pra cima, sujou a água, colocou mercúrio na água e óleo diesel(...), até hoje eu vejo pedaços de ferro dentro do rio (...), aquilo vai deteriorando, vai deixando a água amarela, então foi muita coisa que prejudicou, muita coisa, a época do garimpo foi bom porque teve dinheiro por aí, mas pra mim só teve prejuízo, e ainda tem uns garimpos lá. (Pescador, 50 anos) o garimpo mesmo não fez nada, o que fez foi as escriantes, quando não tinha escariantes, os peixes tinham onde desovar, era muita
87
pedra, você não tinha como andar no rio, hoje tem lugar que você atravessa o rio de um lado pro outro e não vê uma pedra porque a escariante entupiu, os buracos das pedras era onde o peixe desovava. (Pescador, 62 anos) aqui perto onde a gente pesca tem umas balsas no meio do rio, prejudica pois onde eles estão espanta o peixe e puxam muita areia e fica no meio do rio, de trecho em trecho tem aqueles montes de areia, tem lugar que a gente pescava que não tem pai poço, tampou tudo com areia, tem muitas balsas ainda, agora esses dias não tem porque a policia federal andou por aí. (Pescadora, 54 anos)
A região vem se destacando com o turismo ecológico e o rio Teles Pires
é um cenário natural para tal atividade, muitos são os peixes que atraem
pescadores esportivos de outras regiões, e muitas são as pousadas instaladas
nas margens desse rio, despertando ainda mais a especulação imobiliária.
Atualmente é realizado um festival de pesca esportiva estando em sua oitava
edição, atividade essa que tem sido destaque em todo o estado, tendo iniciado
na região de Cáceres.
Nesse sentido é percebido que os pescadores profissionais apresentam
opiniões diversas sobre essas atividades, alguns acreditam que atrapalham um
pouco eles em sua profissão, outros dizem não se importar com os turistas.
Prejudica no sentido que são muitos barcos com motor no rio, isso espanta o peixe, mas tem pescador que nem leva o peixe, solta tudo, agora tem uns que levam tudo que pegam. (Pescador , 34 anos) O pescador de fora (turista) pegam o tanto que querem e levam, o profissional não, nóis tem que ter uma meta de 100 kg por semana, esses de fora não tem meta, tem uns que vem de ônibus lotado e cada um levam 100 kg,então esse prejudica muito o rio e nossa atividade. (Pescador, 47 anos) Quem mais prejudica o rio é o turista, principalmente esses que vão fazer festa na beira do rio, nas ilhas, porque quando sai de lá deixam uma tantada de lixo. (Pescador, 59 anos) Quem mais prejudica o rio é os domingueiros e alguns turistas, eles pescam em seva e levam o que pegar, levam por exemplo 10 kg de pacu pequeno, fora da medida, ele na verdade ta matando 200 peixinho, é uma judiação...Isso aí acontece, se fiscalizar vai achar, é bom as sevas, é um jeito de dar comida para os peixes, isso aumenta os peixes, só não pode matar os menores. (Pescador, 61 anos)
3.1.8 Etnoconhecimento: o saber local instalado
88
Os conhecimentos das comunidades ribeirinhas sobre os aspectos
ecológicos são freqüentemente negligenciados. É preciso reconhecer a
existência, entre outras formas, igualmente racionais de se perceber a
biodiversidade, além das oferecidas pela ciência moderna DIEGUES (2000).
Este conhecimento tradicional assegura o acesso rápido a informações
elementares para pesquisas científicas, além de dar subsídios à população
local na defesa de “seu lugar”.
As etnociências é um campo interdisciplinar que estuda as relações que
se estabelecem entre as comunidades especialmente sociedades tradicionais,
aborígenes e camponeses e o mundo natural e seus enfoques tem contribuído
para o estudo do conhecimento local, pois parte da lingüística, para estudar o
referido conhecimento das populações humanas sobre os processos naturais,
tentando descobrir a lógica do conhecimento humano do mundo natural
(POSEY, 1987; GÓMES – POMPA, 1971 apud LIMA, 2004).
Para Roué (2000), a etnociência acentua os aspectos cognitivos e a
ecologia cultural centrada no paradigma de adaptação, são mais ou menos
contemporâneos da etnoecologia.
No que se refere ao etnoconhecimento Marques (1995), ao estudar os
pescadores Maritubanos de comunidades ribeirinhas no baixo rio São
Francisco descreveu que os mesmo possuem conhecimento etnoecológico
detalhado sobre peixes: sabem o que eles comem, quando ocorrem, as suas
quantidades, o local de sua ocorrência e principalmente o comportamento.
Sabemos que o conhecimento tradicional que as pessoas tem em
relação às espécies de um modo geral é um patrimônio de valor imensurável.
A pesca no rio Teles Pires é praticada há vários anos por pescadores
profissionais e amadores que manejam diariamente esses recursos, possuindo
assim um conhecimento sobre as espécies e os melhores locais para a
atividade. Certamente há um conhecimento acumulado sobre o comportamento
das espécies, os tipos de iscas, as fases da lua, etc.
No que diz respeito ao período lunar, os pescadores associam o
sucesso e o insucesso da pesca com fenômenos cósmicos (fase da lua), a
maioria dos entrevistados citaram que as fases da lua estão relacionadas com
89
a espécie e a quantidade de peixe capturados, como pode ser melhor
compreendido nos relatos abaixo,
Não existe lua que não pega nada, toda lua pega peixe, se não fosse assim pescador morria mesmo, aquele calendarinho da lua até ajuda (...), lua clara não pega trairão, se pegar pega só de dia, de noite pega cachorra, pega pintado, a lua ficou preta (escura), aí já mudou, na beira do barranco pega, é boa pra trairão, pra pintado, nessa fase escura o peixe sai pra comer, pro peixe de anzol é excelente, a lua clara não, pra pescar na seva com milho a lua cheia é ótima, pra pesca de curvina e outro peixe não, só á noite pega curvina, de dia nada. (Pescador, 44 anos)
A lua é que manda, lua boa pra pegar matrinchã é essa aí noites claras, quando não ta em lua cheia a gente pega mais o matrinchã de dia, na lua cheia pega mais de dia ta mais claro, a mesma coisa é pra curvina, de noite na lua escura você não pega, só de dia, clareou a lua, quando ela tá perto da cheia você pega a noite. (Pescador, 61 anos)
Ter o domínio do calendário lunar resulta numa adaptação de técnicas
mais apropriadas para serem usadas nos períodos lunares para as espécies
certas. Segundo Costa-Neto & Marques (2001), a decisão de onde pescar, a
cada dia é feita com base nas informações pré-determinadas do ambiente.
Esses autores salientam que os pescadores da comunidade de
Siribinha, Bahia, dão importância à utilização eficiente dos apetrechos de pesca
de acordo com o ciclo lunar, que afeta tanto o comportamento dos peixes
quanto na captura dos mesmos pelos pescadores.
Para os pescadores participantes da nossa pesquisa a melhor lua para
pescar é a nova, interferindo o mínimo possível na captura dos peixes, o motivo
de ser chamada de lua neutra (não é tão escura e nem tão clara), pois nessa
lua os pescadores usam equipamentos no fundo do rio (corda de espinhel no
fundo do rio), devido os peixes de hábito noturno estarem no fundo, citando
ainda que a segunda melhor lua para pescar é a cheia, porém, só é
considerada boa para pescar depois das suas três primeiras noites.
Ramires et. al. (2007), trabalhando com os pescadores artesanais
caiçaras sobre etnoecologia observaram que os mesmos associam fenômenos
cósmicos (ciclos lunares) com a sazonalidade dos peixes.
Costa-Neto & Marques (2001), constataram que os pescadores da
comunidade de Siribinha no Estado da Bahia, os mesmos têm preferência do
90
emprego das redes de espera no estuário nas “noites de lua”, que ocorrem na
fase de lua cheias.
No que tange as iscas utilizadas pelos pescadores, há uma diversidade
de opiniões, mas todos citam recursos vegetais como seringa, goiabinha
mucambe, cajuzinho, limãozinho, tabacarana, este último também conhecido
por pepininho, essas iscas são usadas preferencialmente para capturar peixes
de escamas, enquanto que entre as iscas animais, aparecem a tuvira, lambari,
carazinho, piau, minhocão e fígado de boi, são utilizadas para apegar peixe de
couro, principalmente os de hábitos de fundo de rio.
3.1.9 A legislação pesqueira e o pescador
Piracema é o período de desova dos peixes, quando nadam contra a
correnteza para a desova e reprodução. A palavra piracema vem do tupi e
significa algo como "saída de peixes", como os índios descreviam esse
fenômeno que ocorre com milhares de espécies no mundo inteiro.
Na maior parte do Brasil, a piracema coincide com o período das chuvas
de verão, geralmente entre os meses de Outubro à Março. Tal evento é
fundamental para a preservação da piscosidade (abundância de peixes) nas
águas de rios e lagoas. Neste período é proibida a pesca tanto em Mato
Grosso como em Mato Grosso do Sul, como forma de prevenir impactos
provocados pela pesca abusiva.
A piracema é motivo de muitas discussões entre pescadores e órgãos
ambientais, uma vez que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA é a
responsável pela fiscalização e segundo os pescadores a SEMA trabalha com
uma legislação que não funciona adequadamente à região em questão.
Esses pescadores afirmam que o período estabelecido como período de
defeso não está compatível com a realidade. A piracema no estado de Mato
Grosso inicia-se em inicio de novembro e vai até final de fevereiro, e segundo
os pescadores ainda em outubro é possível encontrar peixes com ovas.
Ah tem mais, a piracema mesmo, é fechada em novembro, mas por mim teria que fechar ela em Setembro para Outubro, pois já tem peixe ovando, são 2 meses de diferença, até lá quanto peixe nós não matou a toa, se não fecharem a piracema nós estamos pescando né, é nosso direito, (...) então nem que prorrogasse mais a piracema né, fechasse
91
em outubro, o dia primeiro e liberasse em janeiro e fevereiro, já ajudava mais(...) imagina abrir uma matrinchã e encontrar três mil ovos acho que é essa a quantia é vocês que sabem), desses três mil vai “chocar” vamos dizer mil e quinhentos filhotinhos, desses mil e quinhentos tem os predadores(...), comem uns mil, sobrou quinhentos, se preservasse esses quinhentos daqui dois anos quantos não tinha? Ia ser uns cinco mil né, então eu acho que estão fechando a Piracema na época errada e abrindo na época errada. (Pescador, 44 anos). Tem peixe que desova três vezes por ano, o pacu mesmo é um, esses dias peguei um pacu que estava com ovas de novo, e é um período que está liberado a piracema e quando for janeiro já desovou de novo, só aproveitou uma desova dele. A piranha também desova três vezes no ano, então tem que ver isso. (Pescador, 62 anos) Quando eles fecham a piracema o peixe já está tudo desovado, pra mim a piracema devera fechar dois meses antes de novembro, quando eles fecham em novembro o pacu, a curimba o pintado já estão desovado, o trairão também, quando eles liberam a piracema a piranha, o pacu ta com ovinho bem pequeno (...) tem que fechar em setembro e liberar em dezembro pra dar tempo desses peixes desovarem. Você pode ir no rio e pescar em janeiro que esses peixes não tem mais ovos, agora em outubro que ainda não é piracema está tudo com ovo. (Pescador, 47 anos)
Outro motivo de algumas discórdias entre pescadores e SEMA é a
questão sobre os tamanhos de peixes, pois segundo o Código Estadual do
Meio Ambiente (Lei Complementar nº 038, de 21 de novembro de 1995), em
seu artigo 71 define os períodos, os locais de proibição da pesca, o tamanho
mínimo de captura e a relação das espécies que devam ser preservadas.
Esse mesmo código atribui ao CONSEMA essas competências sendo,
SEMA é a questão dos tamanhos de peixes, pois segundo o Código Estadual,
portanto a SEMA é o órgão responsável pela execução de tal código.
No Quadro 1 apresentamos as espécies e seus respectivos tamanhos
permitidos, de captura para as bacias Amazônica e Araguaia-Tocantins. Mas
os pescadores afirmam que determinados peixe não atingem tal tamanho, pois
segundo eles a lei foi baseada nos peixes da bacia do Paraguai e que não
corresponde aos peixes da bacia Amazônica, sendo, portanto necessário
realizar estudos para corrigir tal distorção.
Quadro 1. Tamanhos de peixes permitidos para captura nas bacias Amazônica e Araguaia-Tocantins
NOME POPULAR ESPÉCIE TAMANHO (cm) Bicuda Boulengerella sp. 40 cm
92
Cachorra Hydrlycus sp 40 cm Caranha Myleinae sp 40 cm Curimbatá Prochilodus sp 30 cm Dourada Brachyplatystoma
flavicans 80 cm
Matrinchã Brycon SP 40 cm Pintado Pseudoplatystoma sp 80 cm Piraíba Brachyplatystoma
filamentosum 90 cm
Pirapitinga Piaractus brachypomum 40 cm Pirarara Phractocephalus
hemiliopterus 90 cm
Eles relatam ainda que dentre os peixes mais procurados está o
cachara, mas que normalmente eles não costumam pescar esse peixe
justamente por não atingir o tamanho prescrito pela lei, conforme narra alguns
pescadores.
Outra coisa que nós tamos sempre discutindo (com a colônia) é essa medida do peixe cachara, pois ele com 2,5 kg já está produzindo, então já está na hora de corte né, e aqui pela lei tem que pegar ele com 80 cm de comprimento e quando ele chegar nesse tamanho vai pesar 6 kg, e é muito difícil isso, muito raro você pegar um (...) é o que mais pesca, nóis num respeita muito isso, falar que vai respeitar é mentira, eu não solto um peixe de 2,5 a 3 kg porque um cachara nesse peso já é um adulto, já desovou, se ele já desovou, já fez a parte dele, já deixou a família dele lá no rio. (Pescador, 44 anos)
O cachara é um peixe bom pra pegar, mas é um peixe ruim de trabalhar (comercializar), não dá a medida que eles querem que tenha, não compensa trabalhar com ele, nós já brigamos na colônia pra mudar isso, mas não tem jeito. (Pescador, 38 anos)
Tem coisa que tem que mudar, a medida desse pintado que é o cachara né, aqui não dá a medida que eles querem, é doído ter que soltar ele, você sabe que qualquer pintadinho hoje é cerca de vinte reais, e você tem que soltar pois não dá medida, as vezes a gente tem que soltar faltando uns cinco centímetros pra medida, mas tem que soltar (...), o pacu também nem sempre dá a medida. (Pescador, 61 anos)
3.1.10 Os peixes comercializados e capturados na região
Segundo SANTOS & SANTOS (2005), não se sabe exatamente o
número de peixes que ocorrem na Amazônia, mas as estimam que seja de 1,5
a 6.000 mil espécies. Esses autores ainda citam que trabalhos mais recentes e
93
específicos fixam esse número em cerca de 3.000 mil, embora dezenas de
espécies novas sejam descritas a cada ano e outro tanto seja colocado em
sinonímia. Apesar dessas incertezas, há um consenso de que se trata da maior
diversidade de peixes de água doce do mundo.
Dentre os peixes mais pescados, os pescadores alegam ser a piranha
(Serrasalmus sp.), o dourada cachorra (Hydrolycus sp.), o tucunaré (Cchila
sp.), embora esses peixes não apresentam valor comercial tendo que ser
vendido por um preço bem inferior aos demais o que muitas vezes inviabiliza a
pesca e conservação em gelo, pois se tornaria um gasto maior e não
conseguiriam um preço justo, que compense continuar pescando, por isso
muitos pescadores devolvem esses exemplares novamente ao rio.
Já entre os peixes menos pescados devido a dificuldade de capturá-los
estão a matrinchã (Brycom sp.), a cachara (Pseudoplastiptoma sp.), o jaú
(Paulicea sp.) e o curimba (Plochilodus sp.), sendo esses respectivamente os
peixes mais procurados, portanto de melhor comercialização.
3.1.11 Os lugares e épocas de pesca no rio
Há diferentes opiniões sobre a melhor época de pesca no rio Teles Pires
pelos pescadores profissionais. Segundo alguns, a melhor época é no mês de
Janeiro, mas a legislação de pesca não permite tal atividade, pois é período de
defeso, ou seja período de reprodução dos mesmos, que inicia-se em
novembro e vai até final de fevereiro,
Na época das chuvas é mais a época de pegar pacu, matrinchã, e na época da seca pega mais o jaú, piraíba a cachara. (Pescador, 34 anos) No barranco pega mais a cachara, o pacu, já no meio do rio pega mais o piraíba e nas corredeiras pega mais o matrinchã, o pacu. (Pescador, 26 anos) Nós pescamos mais no barranco, mas é conforme o peixe, o jaú a gente pega mais no meio, o pintado o trairão é mais na beira (...) a noite é melhor, pega mais os peixes de couro, a matrinchã pega mais de dia. (Pescador, 29 anos)
Outros já afirmam que a melhor época é em Setembro e Outubro,
período em que o rio está aumentando o seu volume de água, sendo
capturados muitos exemplares de matrinchã, peixe considerado nobre, de valor
94
comercial e muito apreciado. Esse período coincide com o período em que
muitas frutas das árvores que compõem a vegetação da mata ciliar estão
caindo e devido ao maior volume de água dos rios, os peixes se dirigem às
margens para se alimentarem.
3.1.12 A atividade pesqueira: interação rio – pescador
O pescador interage com o rio como uma forma de pertencimento,
chegando a construir pequenas moradias, muitas delas de pau-a-pique ou
mesmo de lona, chamados de “barracos de lona”, sendo que a casa de pau a
pique é residência para a época de seca, quando o rio está baixo, sem
inundação nas ilhas, já o barraco de lona por sua vez é para os pescadores
uma morada temporária, serve para a época de chuva, quando o rio enche e
inunda as ilhas, quando isso acontece obriga-os a mudarem procurando um
novo lugar seco e que seja bom de pesca (Figura 17).
Essa mudança de local ocorre principalmente pelo fato dos pecadores
não pescarem no mesmo lugar todos os dias, alegando que onde se pesca um
dia, no outro dia provavelmente não pegará a mesma quantidade de peixes e
também pelo fato dos peixes menores comerem as iscas das armadilhas por
ficarem nos mesmos locais.
Assim, a procura de novos lugares para realizarem a pesca é uma forma
de manejar os recursos de tal forma que os peixes menores não ataquem
essas iscas, promovendo uma movimentação natural dos peixes ao longo do
local de pesca.
95
Figura 17: Barracos de lona, como moradia provisória nas margens do rio
(Foto: SANTOS, M. L. 2007)
3.1.13 Os equipamentos e as técnicas de pescaria
Os pescadores normalmente executam suas atividades individualmente,
às vezes em pequenos grupos, ou ainda em duplas.
A pesca no rio Tele Pires é praticada com o uso de equipamentos
tradicionais: barco de madeira, conhecido como bote, na maioria das vezes
construído pelos próprios pescadores, tendo acoplado um motor de pequeno
porte conhecido na região como “rabeta” que serve para facilitar a
movimentação no rio e algumas caixas de isopor com gelo onde são
acondicionados os peixes, esses peixes geralmente são limpos ainda no rio.
Esses pescadores utilizam também o barco a remo, para
movimentações pequenas no rio, como verificar as iscas nas armadilhas de
galho, desenroscar algum anzol que por ventura tenha sido enroscado em
locais onde o acesso se tornou difícil, uma vez que com esse equipamento
tem-se uma menor movimentação na água, provocando o menor barulho
possível na água.
Os pescadores entrevistados citaram diferentes técnicas de pesca:
espinhel, tarrafa, molinete e linhada, sendo a técnica mais utilizada por eles, o
96
anzol de galho, equipamento de pesca que consiste na fixação de linha com
iscas em varas ou galhos nas margens do rio. Normalmente amarram vários
desses anzóis ao longo da margem do rio.
Esses pescadores normalmente armam seus anzóis no fim da tarde por
volta das 18:00 horas, segundo eles, isso é feito sempre nesse horário pois é a
hora em que os peixes começam a se movimentarem no rio, por volta das
22:00 horas fazem uma averiguação e, caso esteja com peixes, esses são
tirados do espinhel que novamente é iscado e a última averiguada acontece de
madrugada, por volta das 5:00 horas quando o dia está começando a clarear
(Figura 18).
Figura 18: Pescador verificando as armadilhas
(Foto: SANTOS, M. L. 2007)
Estas vistorias são necessárias, pois outros peixes com hábitos
predadores normalmente atacam as iscas sendo o predador mais citado pelos
pescadores a piranha (Serrasalmus sp.) e o jacaré (Caiman sp), embora esse
cause menos danos que as piranhas.
Muitos outros saberes estão emanados no cotidiano desses pescadores,
eles conhecem por exemplo algumas plantas com propriedades medicinais,
97
embora esperava-se que os mesmos conhecessem uma maior diversidade
dessas plantas.
Acreditamos que o motivo seja devido à localização de suas residências,
pois raramente o pescador é um morador das margens do rio, residindo no
perímetro urbano, não estando atentos para os “remédios que a natureza
oferece”, uma vez que cultivar as plantas medicinais é historicamente um
hábito das mulheres ribeirinhas, com isso deixam de adquirir esses
conhecimentos, mesmo assim verificamos que alguns pescadores conhecem
mais de um tipo de planta, certamente alguém mais idoso em outras ocasiões
tenha lhe falado de suas propriedades.
canela sassafraz, o cipó milomem, “a caca de guarantã, o angelim, são muito usado pra dor, a casca de jatobá é muito utilizada pro pulmão e falta de ar, aí tem a casca de timburí que agente usa pra dor de cabeça. (Pescador, 34 anos), eu só conheço o jatobá que falam que serve até pra câncer, mas a gente usa ele aqui pra fazer xarope, a gente toma até sem ter nada, quê previne o câncer. (Pescador, 49 anos) Conheço bem pouco, bom... tem o canelão que uns chamam de guarantã, que é digestivo, pra comida que faz mal, é só colocar a casca dele num copo com água, esperar um pouco e já tá pronto, a canela também serve pra fazer chá pra fere de gripe, tem o cacau do mato que a gente faz chá pra tomar mesmo. (Pescador, 50 anos) Eu conheço só a espinheira santa e o jatobá que serve pra reumatismo. (Pescador, 38 anos)
Algumas outras plantas foram citadas como iscas, a seringueira, o
cajuzinho, a goiabinha, o limãozinho e o pepininho que também é chamado de
tabacarana. Os pescadores alegam que as frutas são mais utilizadas para
pescar peixes de escamas como a matrinchã e o pacu.
No tocante as iscas que utilizam, podemos citar também o lambari, o
jejuno, o carazinho, o piau, a curimba e qualquer outro peixe, que normalmente
cortam em pedaços menores para iscarem seus anzóis.
Assim como detêm esses conhecimentos, passam a conhecer também
os sabores dos produtos da floresta, muitos alegam que é comum coletar
castanha, palmito, açaí, cajuzinho silvestre, utilizados na alimentação e no
preparo de sucos.
98
Embora existam animais silvestres como a paca, a capivara, a cutia, o
veado, a anta, o porcão, os pescadores relatam que não praticam a caça, pois
acreditam que assim como eles os animais merecem viver.
Tal concepção de preservação das espécies animais pode estar
relacionada a um conhecimento da legislação e também por uma divulgação
maior pela mídia, como a televisão, o rádio, os jornais e revistas, assim como
outras atividades promovidas por organizações da sociedade civil e
Organizações Não Governamentais, sobre a importância de se preservar o
ambiente, assim adquirindo uma concepção de conservação do ambiente como
um todo.
Antes eu caçava de vez em quando, agora com essas leis, não pode mais nem pegar um pedaço de pau pra fazer cabo de enxada que dá problema, até minha arma eu joguei fora, joguei num poço de 40 metros de fundura, lá no rio, quero ver alguém achar, foi até bom, assim a gente deixa os bichinhos viverem também né. (Pescador, 62 anos) O que eu tinha que matar de bicho já matei, não mato mais, como eu vivo sozinho ,se eu matar uma paca é muita carne pra mim só, e outra, eu não to gostando mais de caçar já faz um tempo, prefiro ver o bichinho solto na mata, é mais bonito. (Pescador, 61 anos)
No que diz respeito aos sabores, alguns relatam como preparam o
pescado, valorizando suas receitas, mostrando que todos os peixes são
saborosos, mesmo aqueles que não são tão procurados, basta saber como
preparar, nos relatos eles ressaltam que é preciso divulgar mais esses tipos de
peixes.
Eu faço uma torta de “pacu borracha”, que é um peixe que não tem valor comercial e que fica muito bom, é assim: tempere e cozinhe o pacu com escama e depois desfie todo, corte legumes também cozidos como a cenoura, abobora e batatas, em cubos, coloque na forma uma camada de legumes, uma d peixe outra de legumes e outra de peixe, sempre temperados do gosto da pessoa, coloque maionese por cima e leve no forno para dar uma dourada, ninguém fala que é de pacu borracha. (Pescador, 56 anos) tem o pirão que é feito de cabeça de peixe pode ser de jaú, cachara, curvina, piranha e carcaças de outros peixes, cozinhe tudo junto, bem temperadinho e vai tirando o caldo com pedacinhos dos peixes desfiados e vai fazendo o pirão com farinha branca, fica muito bom. (Pescador 27 anos) eu faço muito em molho, eu corto o jaú ou cachara em cubinhos, ponho colorau, alho cebola azeite e ponho no fogo, coloco uma camada de tomate, uma de cebola e o peixe, outra de tomate, cebola e
99
peixe de novo, ponho pimentão, cebolinha de cheiro, coentro, um pouquinho de pimenta do reino e cozinho , te outra maneira de fazer que é colocar mandioca ou batatas no meio, as vezes coloco leite de coco. (Pescadora, 31 anos) A moqueca de pintado é muito gostosa, faço sempre aqui na lanchonete, Tem a moqueca de pintado, o jaú dá moqueca muito boa também, a piraíba feita em filé a milanesa é muito gostosa, ensopada é muito boa também. Aqui eles gostam muito da moqueca é simples de fazer, corta os peixes em rodelas, tempera a gosto, dá uma fervura, depois dessa fervura você pode acrescentar tempero se quiser, não mexer muito, depois de cozido você pode por leite de coco ou creme de leite, fica muito bom, ali você põe todos os temperos que quiser, cebolinha salsa e louro, fica muito bom. a matrinchã assada também é muito boa, o dourado cachorro feito em charque (salgado) é um excelente peixe, feito bolinho então é uma delicia, pra fazer esse bolinho cozinha o peixe tira o couro os espinhos e refogo em outra panela o alho a cebola esses temperos a gosto né, depois ponho numa travessa e coloco os cheiro verde crus e batata amassada pra dar liga e faz o bolinho e frita, já fiz muito aqui, mas como não tenho energia não dá pra fazer muito, o dourado cachorro assado aberto é uma delicia, o trairão aberto ou recheado com farofa é uma delicia, é outro prato delicioso, a curvina assada também é nota dez. Eu tenho fé em Deus e quando ele permitir que eu der uma melhor estruturada aqui o peixe que falam que não tem comércio eu vou mostrar que é bom, que dá pratos gostosos. É a maneira de trabalhar o peixe pra fazer que faz com que ele fique bom, a piranha pra mim é um dos melhores peixe, eu gosto muito dela ensopada, a carne dela é saborosa, as vezes eu peço pro meu marido trazer uma piranha do rio só pra mim comer, ele não gosta, as vezes eu falo pros clientes que vou por piranha pra eles e eles falam, credo! piranha, mas quando experimentam acham uma delicia, o caldo de piranha em São Paulo é caríssimo, eu não faço aqui por que não tenho onde guardar, não tem energia como já te falei, mas com fé em Deus vai sair logo essa luz pra todos (...), a curimba defumada é um peixe que se pode vender até a 10 reais o kg, a curimba não é de muito valor, mas defumada fica muito boa! Se um dia eu continuar trabalhar aqui na boa eu pretendo mudar esse esquema, de pratos, como fazer o peixe, esses peixes que a gente acha que não vale nada né, a bicuda, eu nunca fiz, mas tem gente que fala que ela frita é muito gostosa, só tem muito espinho. (Pescadora, 53 anos)
É nesse sentido que os pescadores interagem com o ambiente, com as
águas do rio Teles Pires, nessa ligação o pescador constrói saberes
diversificados ligados direta ou indiretamente à pesca, mas que fazem parte do
meio.
Nesse momento salientamos o que Guarim Neto (2007) aponta,
afirmando que é no ambiente que estão os elementos chamados de
indicadores de Educação Ambiental, e que isto emana nos hábitos das
pessoas do lugar e que cabe a nós pesquisadores estar atentos a isso, sendo
100
portanto necessário melhor conhecer, buscando nas evocações livres dessa
gente e documentar em forma de escrita, para assim termos esses registros
perpetuando com a história.
E é neste contexto que esta Dissertação foi realizada, com a pesquisa
efetivada junto a pescadores do rio Teles Pires, em Alta Floresta, na
intencionalidade de que os saberes destas pessoas possam ser devidamente
valorizados e respeitados.
Assim, no contato com os pescadores e na aprendizagem cotidiana
recebida, fica com este pesquisador a certeza de que a confiabilidade mútua
foi imprescindível para a conclusão do estudo proposto.
101
CONSIDERAÇOES FINAIS
Os pescadores da colônia Z-16, relacionam-se com o rio Teles Pires,
através de suas atividades pesqueiras que se dá no dia-a-dia. São pessoas
simples que estão escrevendo suas histórias de vida nas águas do rio Teles
Pires, onde criam laços de pertencimento com o lugar.
São geralmente homens que saem toda semana sozinhos ou
acompanhados de esposas, filhos e companheiros de atividade para o trabalho
no rio, levando consigo além da tralha de pesca, das caixas de gelo as
incertezas, pois são inúmeras as dificuldades que enfrentam, pois essa
atividade já foi muito evidenciada nos livros, nas músicas e na poesia, às vezes
até com sentido figurado. Na realidade é uma atividade extremamente árdua
para aqueles que dela retiram o único sustento para o pescador e sua família.
Como freqüentam esses lugares por algum tempo, foram adquirindo um
conhecimento sobre as matas, os animais e muito conhecimento sobre as
espécies que pescam, seus locais e épocas de capturas. Esses conhecimentos
geralmente são transmitidos aos companheiros de atividade e mesmo aos
filhos e netos através da oralidade, onde os mais idosos ensinam os mais
novos.
Entretanto, vale refletir sobre o fato de que os mais antigos na atividade
não pretendem que seus filhos e netos sejam também pescadores, pois
acreditam ser essa uma atividade sem futuro, muitas são as exigências e a
concorrência parece que não os motivam a continuarem pescando.
Quanto aos traços culturais de nossos parceiros nesta pesquisa,
percebemos uma grande diversidade de culturas, pois nem todos são do
mesmo estado, sendo que cada um carrega consigo traços característicos de
seus lugares de origem.
Essa atividade é desenvolvida com o objetivo de venda do pescado
pelos próprios pescadores, como estão organizados em colônia, normalmente
existe um representante do grupo, eleito pelos próprios pescadores, atualmente
esse representante é também um atravessador do pescado, ficando cada
pescador livre para o venderem o peixe a quem quiserem, mas com a
102
facilidade de entregar sempre para a mesma pessoa faz com que a maioria
deixe o pescado com esse representante.
Para a maioria dos pescadores entrevistados, a pesca é a única
atividade como fonte de renda, salvo nos períodos de defeso que alguns deles
alegam desenvolverem outras atividades paralelas.
Essa atividade está correndo sérios riscos de não perdurar nos próximos
anos para esse grupo de pescadores, pois como relatado anteriormente, essa
atividade está se tornando cada vez menos apreciada, os pescadores alegam
que há muitos pescadores “clandestinos” que prejudicam eles que são
profissionais registrados na colônia, que pagam uma mensalidade e que
recebem seguro desemprego no período de defeso.
Alegam também que o pescador domingueiro, aquele que tem a
pescaria apenas como lazer, pois são pessoas que moram no perímetro
urbano e sendo que a cada dia que passa a procura por esses ambientes
naturais é uma constante, infelizmente a maioria não se compromete com o
ambiente, ainda é preciso despertar nesses grupos o compromisso com a
qualidade e integridade do rio, pois esses domingueiros quando vão ao rio, nos
finais de semana e feriados, deixam uma quantidade de resíduos muito grande,
levam barcos motorizados, fazendo uma movimentação maior nas águas.
Para os pescadores profissionais esse tipo de pescador prejudica muito
o trabalho deles, pois além de irem com barcos de alumínio com motores mais
potentes que conseqüentemente fazem mais barulho e causam mais
movimento nas águas do rio e com isso fica mais difícil a captura do pescado.
Outro fator que pode influenciar nas tomadas de decisões entre os
pescadores, no sentido de buscarem melhorias para a colônia, lutar por
políticas públicas para o setor está no fato de terem pouca ou nenhuma
escolaridade, pois muitas vezes os planos elaborados pelos órgãos ambientais
são dissociados da realidade, acreditamos também que a colônia anseia por
uma cooperativa para facilitar o escoamento da produção, pois com tal
cooperativa seria um incentivo a mais, pois eles acreditam que todo tipo de
peixe teria um comercio mais justo e igualitário para todos os pescadores.
103
Esses pescadores reclamam da falta de incentivo da Colônia Z-16 na
atividade pesqueira, dos órgãos ambientais como a SEMA e IBAMA, pois muito
raramente foram chamados a participarem de algum diálogo sobre a pesca, os
impactos da atividade, as noções de comprometimento com o meio ambiente, a
questão dos resíduos que geram e certamente não destinam corretamente.
Através de suas vivências no rio, acompanham as alterações do
ambiente, como os resíduos das atividades garimpeiras, as derrubadas nas
proximidades do rio, as pastagens, os cultivos agrícolas, assoreamento etc. e
reconhecem que esses impactos têm promovido a diminuição do pescado em
extensos trechos do rio Teles Pires.
Essas mudanças sócio-culturais-ambientais-econômicas têm sido motivo
de muitas angústias e incertezas desses pescadores. Impossível marcar um
único motivo pelo qual eles se sentem insatisfeitos com a profissão, certamente
há uma complexidade de fatores, muitos alegam deixar a profissão, de
pescador, mas entendem que essa mudança seria um risco muito grande
apesar de sentirem enorme satisfação de estar em contato com o rio.
A partir da análise percebe-se que os pescadores detêm um saber
acerca do ambiente, do mecanismo pesqueiro, da cadeia trófica da ictiofauna,
do período de reprodução de muitas espécies de peixes da Amazônia
meridional, do ciclo lunar, das alterações do ambiente, dos (mesmo que
empiricamente) mecanismos de gestão dos estoques pesqueiro do rio. Esse
saber certamente foi adquirido na prática, em um processo de educação não-
escolarizada e é transmitido oralmente para os filhos nas atividades do
cotidiano, em casa e também no rio.
Há uma urgente necessidade de usar de forma sustentável e criteriosa
os recursos naturais, e ainda redefinir as relações da sociedade com o
ambiente na tentativa de reafirmar a interdependência necessária para a
sobrevivência mais equilibrada. Para tanto é de vital importância as ações
educativas para questionar o atual paradigma de relação do ser humano com
seu ambiente, seja ele local, regional ou planetário.
Isto posto, certamente a efetivação de um programa de Educação
Ambiental para essa região do rio Teles Pires, deve-se fundamentar nas
104
indicações e evocações dos pescadores que participaram desta pesquisa em
cujos depoimentos aparecem fortes indicadores para ações educativo-
ambientais.
105
REFERÊNCIAS
AB’SABER, A.N. (Re)Conceituando educação ambiental. In: MAGALHÃES, L.E. (Coord.). A questão ambiental. São Paulo: Terragraph, 1994.
AMORIM FILHO, O. B. Os Estudos da Percepção como a Última Fronteira da Gestão Ambiental. In: II Simpósio Situação Ambiental e Qualidade de Vida na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Minas Gerais, 1992, Belo Horizonte. Anais do II Simpósio Situação Ambiental e Qualidade de Vida na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Minas Gerais. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 2002. v. Único. p. 16-20.
AMOROZO, M. C. de M. A abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. In: Di Stasi, L. C. (Org.) Plantas Medicinais: Arte e Ciência – Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo. Ed. UNESP. 1996.
ANDRADE, J. P. S. de. A implantação do pagamento por serviços ecossistemicos no portal território da Amazônia: Uma analise econômica ecológica. Dissertação (mestrado) em Economia. Campinas, SP, 2008.
ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 130 p.
ASSAD, Z. P. Legislação ambiental de MT, Cuiabá: editora de Liz 2007 226p.
BARROS, A. (Coord.) Sustentabilidade e democracia para as políticas públicas da Amazônia. In: Cadernos de Debate Brasil Sustentável e Democrático, n. 8, Rio de Janeiro: FASE, 2000.
BATISTELA, A. M.; CASTRO, C. P. de; VALE, J. D. do Conhecimento dos moradores de Boas Novas, no lago Janauacá – Amazonas, sobre os hábitos alimentares dos peixes da região. Acta Amazônica. vol. 35(1) 2005: 51-54
BICUDO, M. & ESPÓSITO, V. (org.) A pesquisa qualitativa em educação: um enfoque fenomenológico. 2 ed. Revisada. Piracicaba, SP: Ed. Unimep, 1997.
BOFF. L. Ecologia e Espiritualidade. Meio Ambiente no século 21, 2003.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal: Porto Editora, 1994. (Coleção ciências da educação).
BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
BRANDÃO, C. R. Educação como cultura. Campinas: Brasiliense, 1985.
BRANDÃO, C. R. O que é educação. 25.ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.
BRASIL. Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de influência da BR-163 (Cuiabá-Santarém). Brasília: Presidência da república/Casa Civil, junho de 2006.
106
BRUGGER, P. Educação ou adestramento ambiental? 3. Ed. Chapecó: Argos; Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004
BRUGGER, P. O vôo da águia: reflexões sobre método, interdisciplinaridade e meio ambiente. Educar, Curitiba, n. 27, 2006. editora UFPR
CALDAS, A. L. R.; RODRIGUES, M. dos S. Avaliação da percepção Ambiental: estudo de caso da comunidade ribeirinha da micro bacia do rio Magu. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. Furg, Rio Grande vol.15 2005
CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: N. R. Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1996.
CARVALHO, I. I. P. Percepção ambiental na Serra de Tapirapuã Tangará da Serra- MT. Programa de pós graduação em ciências ambientais. UNEMAT, Dissertação (mestrado). 2008.
COSTA-NETO, M; MARQUES, J. G. W. Conhecimento Ictiológico Tradicional e a Distribuição Temporal e Espacial de Recursos Pesqueiros Pelos Pescadores de Conde, Estado da Bahia, Brasil. Etnoecológica, 4 (6):, 2000, 56-68p.
CUNHA, S. B. da; GUERRA, J. T. (Organizadores). Geomorfologia do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
DEL RIO, V. & OLIVEIRA, L. (org.) Percepção ambiental: a experiência brasileira. São Paulo: Studio Nobel, 1996. 265p.
DELLANI, L.J.; AYRES, N.J.; STEIGENBERGER, E.; FLORES, M. Estudo da realidade – 2000: município de Alta Floresta -MT. Relatório. Alta Floresta-MT: EMPAER/SAAF, 2000. 13P.
DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989.
DIEGUES, A. C. S. Realidades e falácias sobre pescadores artesanais Série Documentos e Relatórios de Pesquisa, n. 7. São Paulo: NUPAUB/USP. 1993.
DIEGUES, A. C. S. O mito da Natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 2000. 161 p.
DUARTE, M. B. Leituras do Lugar-Mundo-Vivido a Partir da Intersubjetividade,
Dissertação (mestrado), 2006, UFMG
DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de Pesquisa, nº 115, mar. 2002.
FARIA, I. M. Vozes e imagens do rio São Francisco: um estudo sobre populações tradicionais e problemas ambientais. São Carlos: centro de educação e ciências humanas. UFSCar, 2002 (dissertação de mestrado)
FARID, L.H. (coordenador). Diagnóstico preliminar de Impacto Ambiental gerado pelo garimpo de ouro em Alta Floresta -MT: um estudo de caso. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 1992. 190p.
FERNANDES, B. M. Movimento Social como Categoria Geográfica. In Revista Terra Livre nº 15. São Paulo: AGB, 2000b, p. 59-85.
107
FERREIRA, C. P. Gestão e Participação Ambiental na Estação Ecológica de Juréia-Itatins. USP - São Paulo. Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais), 2005.
FERRARA, L. D. Os lugares improváveis. In: YÁZIGI, Eduardo (org.). Paisagem e Turismo. São Paulo: Contexto, 2002. 226p. p. 65-82 (Coleção Turismo)
FERREIRA, M. S. F. D. A comunidade de Barranco Alto: diversificação de saberes às margens do rio Cuiabá. Cuiabá : UFMT. Dissertação (mestrado). 1995
FERREIRA, J. C. Mato Grosso e seus municípios. Secretaria de Estado de Educação de Cuiabá, 1997. 326 p.
FIORI, A. de A percepção Ambiental como instrumento de apoio de programas de educação ambiental da Estação Ecolológica de Jataí (Luis Antonio, SP). UFSCAR, 2006. Tese (doutorado) 113p.
FONSECA, G. P. da S. Análise da poluição difusa na bacia do rio Teles Pires com técnicas de geoprocessamento. UFMT, 2006. Dissertação (mestrado) 171 p.
FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 150 p.
FURTADO, L. F. G. Pescadores do rio Amazonas: um estudo antropológico da pesca ribeirinha numa área amazônica. CNPQ/MPEG, Belém PA, 1993.
GADOTTI, M. Pedagogia da Práxis, 2 ed. São Paulo. Cortez, 1998.
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes médicas, 2000.
GEERTZ, C. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 5.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo. Atlas, 2007
GOHN, M. G. Educação não formal e cultura política. São Paulo: Cortez, 2001. 120 p.
GUARIM NETO, G. O saber tradicional pantaneiro: as plantas medicinais e a educação ambiental. In: Anais do Seminário de Educação. Cuiabá: IE/UFMT, 2001.
GUARIM NETO, G. Fundamentos da Educação Ambiental. Aula proferida no curso de Mestrado em Ciências Ambientais. UNEMAT. 2007.
GUATTARI, F. As três ecologias. 11 ed. Campinas: Papirus, 2001. 56 p.
GUIMARÃES, M: Educação Ambiental e a Gestão para a Sustentabilidade. In: Santos,J.E.; Sato,M.. (Org.). Contribuição da Educação Ambiental à Esperança de Pandora. 1ª ed. São Carlos/SP: RIMA, 2001, v. 1, p. 183-195.
GUIMARÃES, M. Educação ambiental. Rio de Janeiro: UNIGRANRIO, 2003.
108
GRÜN, M.: Ética e educação ambiental – a conexão necessária. Campinas: Papirus, 1996. 120 p.
HELLER, A. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2004
HESPANHOL, A. N. A Expansão da Agricultura Moderna e a Integração do Centro-Oeste Brasileiro à Economia Nacional. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente, julho 2000.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. População do município de Alta Floresta. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br. Acessado em 12 maio 2008.
ICV - Instituto Centro de Vida: Caracterização da fauna e flora do Território Portal da Amazônia. 2007.
ICV – Instituto Centro de Vida, e IMAZON Boletim Transparência Florestal –
Estado de Mato Grosso. n1. Agosto de 2006.
LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
LIMA, A. M de. Um estudo com pescadores pantaneiros de Cáceres – Mato Grosso: o rio Paraguai como elemento educativo. Cuiabá, 2004. Dissertação (mestrado) 102p
LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: Cortez, 2004. 150 p.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MACHADO, L. M. C. F. A. A Serra do Mar Paulista: um estudo de paisagem Valorizada. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 1988
MARIN, A. A. Percepção Ambiental e Imaginário dos moradores de Jardim MS. UFSCar. Tese (doutorado) 2003.
MAROTI, P. S. Percepção e educação ambiental voltadas à uma unidade de conservação (Estação Ecológica do Jataí, Luiz Antônio, SP). UFSCar São Carlos. 1997. Dissertação (Mestrado), 118 p.
MARQUES, J. G. W. Pescando Pescadores: Etnoecologia Abrangente no Baixo São Francisco. USP. São Paulo, Tese (doutorado), 1995. 304p.
MATHEUS, C. E. Educação Ambiental através da interpretação de imagens. Texto apostilado. São Carlos, 1999.
MATO GROSSO. SEPLAN. Anuário Estatístico 2006. Disponível em http://www.seplan.mt.gov.br Acesso em: 14 jul. 2008.
MEDEIROS, H. Q. Impactos das políticas públicas sobre os pescadores profissionais do pantanal de Cáceres – MT. São Paulo, USP. Dissertação (mestrado) 1999.
MEDINA, N. M. Amazônia, uma proposta interdisciplinar de Educação Ambiental. Brasília: IBAMA, 1994.
109
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Trad. Alberto Ribeiro de Moura. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4 ed. São Paulo: HUCITEC, 1996
MORIN, E. Saberes globais e saberes locais: o olhar transdisciplinar. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.
NOVAIS, A. M. Percepção ambiental de moradores da comunidade jardim paraíso, Cáceres MT: um estudo de caso. Dissertação (mestrado) UNEMAT, 2008
OLIVEIRA, A. U. de. Amazônia: monopólio, expropriação e conflitos. Campinas, SP. Editora Papirus 1989.
PÁDUA, J. A. Um sopro de destruição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.
PERIN, C. L. A formação da identidade dos pioneiros altaflorestenses e a sua relação com o meio ambiente. (monografia) UNEMAT, 2003. 47 p.
PASSOS, L. A. Legalismo na Educação: Eu já vi esse filme antes. Revista de Educação AEC, Brasília, v. 109, p. 53-73, 1998
PICOLLI, F. Amazônia: A ilusão da terra prometida. 2 ed. Sinop MT, editora Fiorelo, 2005
PORTO-GONÇALVES, C. W. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.
QUADROS, I. P. Tecendo Educação Ambiental para alunos e alunas de Limpo Grande (Várzea Grande, Mato Grosso). Cuiabá – MT, Dissertação (mestrado), UFMT, 2006.
QUATI, J. C. O colonizador de batina. Folha de Londrina, Londrina - PR, 05.06.1986.
RADAM BRASIL. Levantamento dos recursos naturais do Brasil. Folha de Santa Catarina nº21. Ed. Juruena: vol.20. Rio de Janeiro: 1980.
RAMIRES, M. S.; MOLINA, S. M. G.; HANAZAKI, N. Etnoecologia Caiçara: o Conhecimento dos Pescadores Artesanais sobre Aspectos Ecológicos da Pesca. Revista Biotemas, 20 (1). 2007.
REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1998.
REIGOTA, M. Meio ambiente e representação social. 6.ed.; São Paulo: Cortez, 2004.
REIS, S. L. de A. As relações ambientais e educativas no cotidiano da comunidade ribeirinha de Porto Brandão, Pantanal de Barão de Melgaço-MT. Cuiabá: UFMT, Dissertação (mestrado). 1996
REVISTA VEJA, Tática de Avestruz. ed. 1524. 03/12/97.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3 ed. Revista e ampliada. São Paulo. Atlas 2008.
110
RODRIGUES, A. B. Turismo e espaço: Rumo a um conhecimento transdisciplinar. 2 ed. São Paulo. Hucitec, 1999. 158p
ROUÉ, M. Novas perspectivas em etnoecologia: “saberes tradicionais” e gestão dos recursos naturais. In DIEGUES, A. C. (Org). Etnoconeervação: novos rumos para a conservação da Natureza. São Paulo: HUCITEC/NUAPAUB: USP, 2000.
SÁ, L. M. Pertencimento. In: FERRARO, Luiz (Org.) Encontros e caminhos - Formação de educadores (as) ambientais e coletivos educadores. Brasília: Diretoria de Educação Ambiental, MMA, 2005. p. 247-256.
SANTOS, B. S. Pela Mão de Alice. São Paulo: Cortez, 1995.
SANTOS, B. S. A universidade no século XX: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo. Hucitec, 1996
SANTOS, M. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo: hucitec, 1997.
SANTOS, M. L. O conhecimento ictiológico tradicional da colônia de pescadores Z-16, do município de Alta Floresta, estado de Mato Grosso – Brasil. UNEMAT (Monografia) 2007. 69 p.
SANTOS, J.E.; JESUS, T.P., HENKE-OLIVEIRA, C., BALLESTER, M.V.R. Caracterização perceptiva da estação ecológica de Jataí (Luiz Antônio, SP) por diferentes grupos sócio-culturais de interação. In: SEMINÁRIO REGIONAL DE ECOLOGIA, 7, São Carlos, SP. Anais. São Carlos: UFSCar. 1996.
SANTOS, G. M.; SANTOS, A. C. M. Sustentabilidade da pesca na Amazônia, série estudos avançados, 19 (54) 2005.
SATO, M. Educação ambiental. São Carlos: PPGERN/UFScar, 1994.
SATO, M. Educação para o ambiente amazônico. UFSCar São Carlos Tese (doutorado) 1997, 246p.
SATO, M. Resenhando esperanças por um Brasil Sustentável e Democrático. Revista de Educação Pública, Cuiabá, v.12, n.22, p. 189-197, 2003. [resenha].
SATO, M. Educação Ambiental. Rima, São Carlos, SP. 2003 66p.
SATO, M. Projeto de educação ambiental. In: MATO GROSSO. SEDUC. Projeto de educação ambiental - Preá: em constante construção. Cuiabá: Tanta Tinta, 2004. (Série Caderno 1).
SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. Campinas: Editora Autores Associados, 1994.
SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso. Mapas de desmatamento e municípios do Estado de Mato Grosso. Cuiabá: SEMA – Departamento de Recursos Florestais, 2006. CD ROM.
SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT: SEPLAN, 2000. 10CD-ROM.
111
SEPLAN. Anuário Estatístico 2004. Cuiabá/MT: SEPLAN, 2004. 1CD-ROM.
SILVA, C.N. da: A percepção territorial-ambiental em zonas de pesca. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.2, n.3, p. 25-32, set-dez 2007.
SILVEIRA, I. M. & LOPES, D. F. O homem na Amazônia: Uma proposta interdisciplinar de Educação Ambiental. Brasília: IBAMA,1994.
SIQUEIRA, E. M., COSTA, L. A., CARVALHO, C. M. C. O Processo histórico de Mato Grosso. 3ª ed. Cuiabá: Guaicurus, 1990.
TASSIRANI, C. C. G. A idade das rochas e dos eventos tectônicos no Craton Amazônico e áreas adjacentes no Brasil (Amazônia Legal Brasileira). Rio de Janeiro, Projeto RADAMBRASIL/IBGE, seção 2. Inédito. 1980.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000.
TÓRO-TONISSI, R. M. Percepção e caracterização ambientais da área verde da microbacia do córrego da Água Quente (São Carlos, SP) como etapas de um processo de educação ambiental. Tese (Doutorado) Escola de Engenharia de São Carlos-Universidade de São Paulo São Carlos, 665p. 2005.
TOZONI-REIS, M. F. de C. Educação Ambiental: natureza, razão e história. Campinas SP: Autores associados, 2004 (Coleção Educação contemporânea).
TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
TUAN, Y. F. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980.
TUAN, Y. F. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983. 250 p.
VIEIRA, J. L. de A. Texto básico de educação ambiental para o primeiro e segundo graus. Atualizado em 2006. disponível em http://www.cdcc.sc.usp.br/bio/mat_texto12graus.htm. Acessado em 15/12/2007.
VIERTLER, R. B. Métodos antropológicos como ferramenta para estudos em etnobiologia e etnoecologia. In: AMOROZO, M. C. de M.; MING, L. C.; SILVA, S. P. (Eds.) Métodos de coleta e análise de dados em etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas: Anais. Rio Claro. UNESP/CNPq. p.11-29. 2002.
ZAMPIERON, S.L.M.; FAGIONATO, S.; RUFFINO, P.H.P. Ambiente, Representação Social e Percepção. In: O estudo de bacias hidrográficas: uma estratégia para educação ambiental. Schiel, D. et al. (orgs./eds.). São Carlos: Ed. RiMa. 2ª ed. 2003.