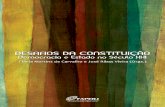Constituição: resiliência e relevância
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Constituição: resiliência e relevância
Rio de JaneiroCentro - Rua da Assembléia, 10 Loja G/HCEP 200 11~OOO- CentroI{ io de Janeiro ~ RJTe!. (21) 253l~2l99 Fax 2242~1l48
Barra - Avenida das Américas, 4200 Loja EUni versidade Estácio de SáCampus Tom Jobim - CEP 22630~01113arrada Tijuca - Rio de Janeiro ~RJ're!. (21) 2432~2548 13l50~1980SãoPauloRua Correia Vasques, 48 - CEP: 04038~0l0Vila Clementino ~São Paulo ~SPTelefax (11) 5908~0240 15081~7772
BrasfliaSCLS quadra, 402 bloco B Loja 35CEP 70235~520 Asa Sul ~Brasília ~ DFTe!. (61)3225~8569
Minas GeraisRua Tenente Brito Mello, l.233CEP 30180~070 - Barro PretoBelo Horizonte ~MGTe!. (31) 3309~4937 1 4934~493l
BahiaRua Dr, José Peroba, 349 - Sls 505/506CEP 41770~235 ~ Costa AzulSalvador ~ BA ~Te!. (71) 3341 ~3646
Rio Grande do SulRua Riachuelo, 1335 ~CentroCEP 90010~271 - Porto Alegre ~ HSTe!. (51) 32l2~8590
Espfrito SantoRua Constante Sodré, 322 TérreoCEP: 29055~420 - Santa 1.lI('iaVitória ~ ES.Te!.: (27) 3235~8628 1 3225 16')<)
O.ÁIII)IO PI.:HEIRA DE SOUZA NI'TO
DANIEL SARMENTO
GUSTAVO BINENBOjM
Coordenadoreswww.lumenjuris.com.br
EDITORESJoão de Almeida
João Luiz da Silva Almeida
CONsm.HO EDITORIAL
t\1"X:lIlllrc Freitas Câmarat\1,'xandre Morais da Rosa(:,ozar Ilohcrto Bitencourt(:riSl iano Chaves de FariasCarlos Eduardo Adriano Japiassú1':1pld io DonizettiI':rn('rson GarciaI,'auzi Hassan ChoukrCera Ido L. M. PradoCustavo Sénéchal de GoffredoJoão Carlos SoutoJosé dos Santos Carvalho FilhoLúcio Antônio Chamon JuniorManoel Messias PeixinhoMarcellus Polastri LimaMarco Aurélio Bezerra de MeloMarcos Juruena Villela SoutoNelson RosenvaldNilo BatistaI'aulo de Bessa AntunesPaulo RangelSaIo de CarvalhoSérgio André RochaSidney Guerra
CONSELHO CONSULTIVO
Álvaro Mayrink da CostaAmilton Bueno de CarvalhoAndreya Mendes de Almeida Scherer NavarroAntonio Carlos Martins SoaresArtur de Brito Gueiros SouzaCesar FloresFirly Nascimento FilhoFlávia Lages de CastroFrancisco de Assis M. TavaresGisele CittadinoHumberto Dalla Bernardina de PinhoJoão Theotonio Mendes de Almeida Jr.Ricardo Máximo Gomes FerrazSergio Demoro HamiltonTársis Nametala Sarlo JorgeVictor Gameiro Drummond VINTE ANOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988
EDITORA LUMEN JURISRio de Janeiro
2009
(.'(lfly,.i~11I (Cl 200\) IIy I.ivraria c Editora l,lIIlH'!! Juris I,tda,
Categoria: Direito Constitucional
PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda,
A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA,não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra,
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquermeio ou processo, inclusive quanto às característicasgráficas e/ou editoriais, A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art, 184 e §§, e Lei nº 6,895,de 17/12/1980), sujeitando-se à busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9,610/98),
Todos os direitos desta edição reservados àLivraria e Editora Lumen Juris Ltda,
Impresso no BrasilPrinted in Brazil
Sumário
( ~11;11iI'il'ações dos Autores """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" lX
11I'resl' nlação , ", "" """, ",,,, ,,, ,,,, ,, ,, ,,,, . XI 11
I.VINTE .ANos DA CONSTIfUlÇÃO FEDERAL: AVALIAÇÕES E PERSPECTIVAS
"()s 20 Anos da Constituição Federal de 1988 _ Avanços e Retrocessos _" .."."" .....j. Bernardo Cabral
3
() Fenômeno Constitucional e suas Três Forças """" ...."" ..""""" ..""""""""" ..."".. 11Carlos Ari Sundfeld
20 Anos da Constituição Democrática de 1988 ."" ...... """ ..."" ...... "" ....... "" .... """ ...Carlos Roberto Siqueira Castro
19
Vinte Anos da Constituição Brasileira de 1988: o Estado a que Chegamos " ..Luís Roberto Barroso
27
Constituição: Resiliência e Relevância " " ..Paulo Thadeu Gomes da Silva
65
11.A TEORIA CONSlITUCIONAL BRASILEIRA Pós-1988
Os Riscos para a Democracia de uma Compreensão Indevida das Inovações no Con-trole de Constitucionalidade , .Álvaro Ricardo de Souza CruzDébora Cardoso de Souza
93
Nos Vinte Anos da Carta Cidadã: do Pós-positivismo ao Neoconstitucionalismo ... 117Antonio Cavalcanti Maia
Constituição e Pluralismo Vinte Anos Depois " ""." " "" "....... 169Antonio Moreira Maués
"Neoconstitucionalismo": entre a "Ciência do Direito" e o "Direito da Ciência" ." ..Humberto Á vila
187
v
Á Crise Paradigmática do Direito no Contexto da Resistência Positivista ao(Neo)Constitucionalismo .Lenio Luiz Streck
203
A Legitimidade Democrática da Constituição da República Federativa do Brasil:Uma Reflexão sobre o Projeto Constituinte do Estado Democrático de Direitono Marco da Teoria do Discurso de Jürgen Habermas 229Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira
Rigidez Constitucional e Pluralismo Político................................. 255Rodrigo Brandão
m.INTERPRETAÇÃO E APUCAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
[nterpretação Conseqüencialista e Análise Econômica do Direito Público à Luz dosPrincípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade............................ 295Alexandre Santos de Aragão
[nterpretação Constitucional, Pré-compreensão e Capacidades Institucionais doIntérprete.......................... 311Daniel Sarmento
1\ Constituição Brasileira e as Considerações Teleológicas na Hermenêutica Cons-titucional......................................................... 323José Maria Arruda de Andrade
Hermenêutica e Complexidade nos 20 anos da Constituição: Momento para umEquilíbrio Prudente na Atuação dos Tribunais .Marco Aurélio Marrafon
341
) Pragmatismo no Supremo Tribunal Federal Brasileiro .Margarida Lacombe Camargo
363
) Tempo e a Aplicabilidade das Normas Constitucionais .Walter Claudius Rothenburg
387
N.Os DIREITOS FuNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1\ Segurança Pública na Constituição Federal de 1988: Conceituação Constitucio-nalmente Adequada, Competências Federativas e órgãos de Execução das Po-líticas .Cláudio Pereira de Souza Neto
401
Á I'rol('~';iodos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vig011l'iada COllsliIUi<;ãoAlual ..":íhio Konder ComparaLO
44')
Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do STF... 459Flávia Piovesan
Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: Contributo para um Balanço aosVinte anos da Constituição Federal de 1988 479Jngo W olfgang Sarlet
A Responsabilidade por Crimes Contra a Humanidade Cometidos Durante a Dita-dura Militar.............................. 51 IMarlon Alberto WeichertEugênia Augusta Gonzaga Fávero
Breve Balanço dos Direitos das Comunidades Indígenas: Alguns Avanços e Obstá-culos Desde a Constituição de 1988 .Robério Nunes dos Anjos Filho
569
Os Direitos Fundamentais e a Lei: a Constituição Brasileira tem um Sistema de Re-serva Legal? .Virgílio Afonso da Silva
605
V.A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A FEDERAÇÃO BRASILEIRA
Controle Social, Informação e Estado Federal. A Interpretação das CompetênciasPolítico-Administrativas Comuns .Ana Paula de Barcellos
621
A Necessária Mudança de Foco na Implantação do Federalismo Cooperativo noBrasil: da Definição das Competências Legislativas para o Desenho de FormasConjuntas de Execução Administrativa .Andreas f. Krell
635
O Município no Direito Comparado .José Adércio Leite Sampaio
66]
Limites ao Princípio da Simetria Constitucional ..Leonardo Marins
689
Extensão e Significado da Autonomia Constitucional do Município: A Cultura so-bre o Poder Local................................................................................................... 711Martonio Mont'Alveme Barreto Lima
VII
VI.CONS1TfUIÇÃO ECONÔMICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PúBUCAS
Estado Intervencionista e Constituição Social no Brasil: O Silêncio Ensurdecedorde um Diálogo entre Ausentes.................................................................. 725Gilberto Bercovici
Parâmetros para a Revisão Judicial de Diagnósticos e Prognósticos Regulatórios emMatéria Econômica................................................................................................ 739Gustavo BinenbojmAndré Rodrigues Cyrino
A Desconstitucionalização do Direito de Defesa da Concorrência 761Luis Fernando Schuartz
O Art. 209 da Constituição 20 anos Depois. Estratégias do Poder Executivo para aEfetivação da Diretriz da Qualidade da Educação Superior................................ 781Maria Paula Dallari Bucci
Constitucionalização e 20 Anos da Constituição: Reflexões sobre a Exigência deConcurso Público (Isonomia, Eficiência e Segurança Jurídica) 809Paulo Ricardo Schier
A Constituição Financeira nos seus 20 Anos 837Ricardo Lobo Torres
O Princípio da Proteção à Confiança Legítima no Direito Tributário 849Ricardo Lodi Ribeiro
V1l1
Qualificações dos Autores
AlexJJIldre Santos de Aragão. Professor-adjunto de Direito Administrativo da Univ('1'sidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo - USP. Mestre em Direito Público pela UERJ. Procurador doEstado e Advogado.
Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Procurador da República em Minas Gerais. Mestre ('111
Direito Econômico e Doutor em Direito Constitucional, Professor da Graduação e daPós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Ana Paula de Barcellos. Professora Adjunta de Direito Constitucional na UERJ. Mestre ('Doutora em Direito Público pela UERJ. Advogada no Rio de Janeiro.
André Rodrigues Cyrino. Professor Contratado da Faculdade de Direito da Universidadedo Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Mestre em Direito Público, UERJ.
Andreas J. Krell. Doutor em Direito pela Freie Universitat de Berlim; Professor Associadode Direito Ambiental e Constitucional (Graduação e Mestrado) e Diretor da Facul-dade de Direito de Alagoas (FDA-UFAL); colaborador permanente do PPGD daFaculdade de Direito do Recife (UFPE); pesquisador bolsista do CNPq (nível 1C);membro do Comitê Assessor da CAPES na área do Direito (triênios 2005/07 c2008110).
Antonio Cavalcanti Maia. Professor de Filosofia de Direito da Universidade Estadual doRio de Janeiro e de Filosofia do Direito e Filosofia Contemporânea da PontifíciaUniversidade Católica do Rio de Janeiro.
Antonio Moreira Maués. Professor Associado da UFPA. Doutor em Direito pela USP.Pesquisador do CNPq.
Carlos Ari Sundfeld. Professor da Escola de Direito da FGV-SP e da PUC-SP. Presidenteda Sociedade Brasileira de Direito Público. Advogado.
Carlos Roberto Siqueira Castro. Professor Titular de Direito Constitucional da UERJ.Conselheiro Federal da OAB (RJ).
Cláudio Pereira de Souza Neto. Professor da UFF e da Pós-graduação da UGF. Doutor emDireito Público pela UERJ. Advogado. Conselheiro Federal da OAB.
Daniel Sarmento. Mestre e doutor em direito público pela UERJ. Visiting scholarna Yalelaw school (2006). Professor Adjunto de Direito Constitucional da UERJ. ProcuradorRegional de República.
IX
Débora Cardoso de Souza. Graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, IIIt'Stran-da da Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Eugénia Augusta Gonzaga Fávero. Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP,Procuradora da República em São Paulo.
FábioKonder Comparato. Doutor Honoris Causada Universidade de Coimbra, Doutor emDireito da Universidade de Paris, Professor Titular aposentado da Faculdade deDireito da Universidade de São Paulo.
Flávia Piovesan. Professora doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos daPontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora de Direitos Humanos dosProgramas de Pós Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, daPontifícia Universidade Católica do Paraná e da Universidade Pablo de Olavide(Sevilha, Espanha); visiting fellow do Human Rights Program da Harvard LawSchool (1995 e 2000), visiting fellowdo Centre for Brazilian Studies da University ofOxford (2005), visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Lawand International Law (Heidelberg - 2007 e 2008), procuradora do Estado de SãoPaulo, membro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana emembro da SUR - Human Rights University Network.
Gilberto Bercovici. Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de SãoPaulo. Doutor em Direito do Estado e Livre-Docente em Direito Econômico pelaFaculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade PresbiterianaMackenzie.
Gustavo Binenbojm. Professor Adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direitoda Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Professor do Programa de Pós-Graduação da FGV/RJ. Doutor e Mestre em Direito Público, UERJ. Mestre emDireito, Yale Law School (EUA).
Humberto Avila. Livre-Docente em Direito Tributário pela USP. Ex-PesquisadorVisitante das Universidades de Harvard, EUA, e Heidelberg, Alemanha. Doutor emDireito pela Universidade de Munique - Alemanha. Professor da UFRGS. Advogadoe Parecerista.
Ingo Wolfgang Sarlet. Doutor em Direito do Estado (Munique, 1997). Pós-Doutor emDireito pelo Instituto Max- Planck de Direito Social Estrangeiro e Internacional(onde atua como correspondente científico e representante brasileiro desde 2000) epela Universidade de Munique, tendo sido bolsista e pesquisador visitante pelo doInstituto e pelo DAAD por vários períodos, entre 2001 e 2005. Pesquisador visitantejunto ao Georgetown Law Center (2004) e na Harvard Law School (2008). ProfessorTitular da Faculdade de Direito e dos Programas de Pós-Graduação em Direito e emCiências Criminais (Mestrado e Doutorado) da PUCRS. Professor do Programa deDoutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Universidade Pablo deOlavide (Sevilha). Coordenador do Mestrado e Doutorado em Direito e do Centro de
x
I'('S( 11IiS;ISda 1,';lnrldade dl' Direi to da PUC I<S, lWIll como do C I':Ili,' - (; ru po dI'
1':SIIlt!ose Pesquisas el11 DireiLos Fundamentais (CNPq/PUCRS). Prolessor da 1':s("()laSI'Iwrior da Magistratura (AjUR1S) e juiz de Direito no RS.
"('(nardo Cabral. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (1981/1983). I{c'lator(;I'ral da Asscmbléia Nacional Constituinte (1987/1988). Presidente da Comiss;io d('1{(,I;II;lII'SExteriores da Câmara dos Deputados (1989). Ministro de Estado da just i~'iI(I "i.m.90 a 09.10.90). Senador (1995/2002). Presidente da Comissão de Constitui~';l()(' lusti~'J do Senado Federal (1997/1998 e 200112002). Consultor da Presidência daCOllli.'deração Nacional do Comércio, a partir de 1º de fevereiro de 2003. DoutorI/ollor;s Causada Universidade Federal do Rio de Janeiro - UNIRIO - (maio/200C;).
1(INf~ Adércio Leite Sampaio. Mestre e Doutor em Direito Constitucional. Professor di!1'1IC-MG. Procurador Regional da República.
JONé Maria Arruda de Andrade. Professor Doutor do Departamento de Direito Econôm i('1)I' Financeiro da Universidade de São Paulo (Área de Direito Econômico); prof<-ssordJ Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (graduação e pósgraduação); doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São PauloIkpartamento de Direito Econômico e Financeiro.
I,c'nioLuiz Streck. Pós-doutorado em Direito Constitucional e Hermenêutica (Lisboa).Doutor e Mestre em Direito do Estado (UFSC). Professor dos Cursos de Mestrado I'Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS/RS (' daUNESA-RJ. Professor Visitante da Universidade de Coimbra (Portugal).Coordenador do Acordo Internacional CAPES-GRICES entre a UNISINOS c aFaculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professor Visitante daUniversidade de Lisboa. Membro Conselheiro do Instituto de Hermenêutica Jurídica(IHJ). Procurador de Justiça (RS).
LeonardoMarins. Procurador do Ministério Público Especial no Estado do Rio de Janeiro- MP/TCE-RJ. Mestrando em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio dI'janeiro - UERJ.
Luis Roberto Barroso. Professor titular de direito constitucional da Universidade doEstado do Rio de Janeiro - UERJ. Mestre em Direito pela Yale Law School. DOUlor I'livre-docente pela UERJ.
Luis Fernando Schuartz. Professor da FGV Direito Rio.
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. Doutor e mestre em Direito pela UFMG e professor adjunto da UFMG e da PUC-MG.
Marco Aurélio Marrafon. Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidadl'Federal do Paraná - UFPR, com estudos doutorais na Universidade de Roma Tre -Itália. Coordenador Geral do Curso de Direito da Unibrasil- Curitiba. Coordenadordo Curso de Especialização em Teoria do Direito da Academia Brasileira de DireitoConstitucional - ABDConst. Professor de Teoria da Constituição (graduação) l'
XI
Jurisdição Constitucional e Processo (mestrado) na UNIBRASIL - Curitiba.Advogado. Ex-bolsista CAPES-PDEE durante o estágio doutoral na Itália.
Margarida Lacombe Camargo. Professora Adjunta IIda UFRJ, Pesquisadora da FundaçãoCasa de Rui Barbosa e Professora do Programa de Pós-Graduação da UGF.
Maria Paula Dallari Bucci. Mestre e Doutora em Direito pela USP. Professora da Direito-GV, em São Paulo. Consultora Jurídica do Ministério da Educação, desde agosto de2005.
Marlon Alberto Weíchert. Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP, ProcuradorRegional da República na 3ª Região.
Martonio Mont'A1veme Barreto Lima. Doutor em Direito pela Universidade deFrankfurt/M. Professor Titular da Universidade de Fortaleza e Procurador-Geral doMunicípio de Fortaleza.
Paulo Ricardo Schier. Doutor em Direito Constitucional pela UFPR. Professor de DireitoConstitucional, em nível de graduação, especialização e mestrado, da Escola deDireito e Relações Internacionais das Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil.Professor do Instituto de Pós-Graduação em Direito Romeu Felipe Bacellar e daAcademia Brasileira de Direito Constitucional. Membro Honorário da AcademiaBrasileira de Direito Constitucional. Membro da Comissão de Ensino Jurídico daOAB/Pr. Advogado militante.
Paulo Thadeu Gomes da Silva. Especialista em Administração e Proteção dos DireitosHumanos pelo Institut International d 'Administration Publique, Paris; Mestre emDireito pela PUC/RJ; Doutor em Direito pela PUC/SP; Procurador Regional daRepública em São Paulo.
Ricardo Lobo Torres. Professor Titular de Direito Financeiro na UERJ (aposentado).
Ricardo Lodi Ribeiro. Professor Adjunto de Direito Financeiro da UERJ. Doutor emDireito e Economia pela UGF, Mestre em Direito Tributário pela UCAM. Advogado.
Robério Nunes dos Anjos Filho. Doutorando em Direito pela USP. Mestre em Direito pelaUFBA. Procurador Regional da República na 3ª Região. Diretor do IEEC - InstitutoBrasileiro de Direito Constitucional. Professor de Direito Constitucional.
Rodrigo Brandão. Mestre e Doutorando em Direito Público pela UERJ. Professor deDireito Constitucional da EMERJ, UERJ (pós-graduação) e FGV-RIO (pós-gradua-ção), Procurador do Município do Rio de Janeiro e Coordenador do Núcleo deEstudos Constitucionais da PGM-Rio.
Virgilio Monso da Silva. Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade deDireito da Universidade de São Paulo.
Walter Claudius Rotemburg. Procurador da República. Professor de Direito Constitu-cional. Mestre e doutor em Direito pela UFPR. Pós-graduado em Direito Consti-tucional pela Universidade de Paris 11.
xii
Apresentação
1\ ('IlIIH'1l10raçãodos 20 anos da Constituição Federal é ocasião especialmente opor11111.11',IIaavaliarmos o seu funcionamento concreto, os avanços que foi capaz de propiciar.,",", 1,lIlIh,"1l1as disfunções a que deu causa. Neste quadro, há análises mais otimistas. qu,'"111.'111.;1111os progressos catalisados pela Carta de 88, em áreas como a proteção dos liir('iI"., 111I1l1;IIlH.'ntaise a submissão dos governantes ao Estado de Direito, ao lado de ()ulra~I"IIIII:IS lIIais críticas, que apontam para a persistência de padrões de grave exclusão na'u" 11'.1:1<1"brasileira, refratários à incidência da nossa Lei Maior. Todavia, pelo menos 111111,,,"10 parece consensual: a Constituição do país, de mero adorno que era nos regimes poli11'oS preléritos, passou a desempenhar um papel relevante na sociedade brasileira Ilesle, "111t";Odo século XXI.
Muitos dos estudos publicados nesta obra foram previamente apresentados e disclII,dos ,'111 encontro de professores de Direito Constitucional realizado em agosto de 200H11.', id;lde de Petrópolis, promovido pelo Instituto Democracia e Direitos Fundamentais,, 0111o apoio da Editora Lumen Juris e da OAB/RJ, às quais muito agradecemos. Tal evellI,I I,'ve a característica singular de viabilizar uma discussão franca e acesa entre os profl's,:on's, o que lhes possibilitou enriquecer os seus textos, eventualmente refutando objeçõl's'111<' lhes foram endereçadas.
Os textos estão organizados em seis seções que tratam de temas centrais da experiên, 1;1constitucional brasileira, como o debate em torno do neoconstitucionalismo, a rela~'iin"111re jurisdição constitucional e democracia, a hermenêutica constitucional, a dogmáticól(' a aplicação concreta dos direitos fundamentais, o federalismo, a ordem econômica, o sisI('ma constitucional tributário e a administração pública na Constituição de 1988.
Nos últimos vinte anos, não foi apenas o Direito Constitucional que ascendeu daquase irrelevância a um estado de razoável efetividade. Também a teoria constitucionalhrasileira foi capaz de se enriquecer pela pesquisa multidisciplinar e pela variedade dt'enfoques. O livro que ora se apresenta pretende ser um testemunho representativo destemomento fecundo por que passa o Direito Constitucional no Brasil. É ler e conferir.
Rio de Janeiro, setembro de 2008.
Os Coordenadon's
Constituição: Resiliência e Relevância
Paulo Thadeu Gomes da Silva
Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe:pão ou pães, é questão de opiniães ...
(JoãoGuimarães Rosa, Grande Sertão Veredas).
I. Introdução
Escrever um trabalho científico, seja de que formato for, é empresa de grande risco,pois O trabalho solitário muita vez impede o exercício da crítica voltado para si mesmo,alerta já feito por FREUD.l
Esse óbice faz com que não se possa ter à vista os defeitos do trabalho, desde sua,'strutura formal até seu conteúdo. A tarefa se torna, então, mais árdua quanto mais sel"Onstata a complexidade do mundo da vida. Esta, a vida, que na feliz metáfora de CALVI-NO pode ser comparada a uma alcachofra, realidade com estratos densamente sobrepos-los,2 e é a partir dela que se percebe a complexidade da sociedade.
Respostas a perguntas ontológicas, desta feita, se mostram quase que impossíveis deformulação, causando frustração no sujeito que conhece. Efeito que se espraia a todos os,'ventos da sociedade moderna e que pode ser traduzido pela falta de condições de possi-hilidade para se ir em busca do fundamento - Zu Grund gehen -, seja porque não há maisfundamento, seja porque não há apenas um único fundamento, preocupação que de resto,na área jurídica, mostra sua cara de forma tímida e quando muito na Filosofia do Direito.
O problema é que aqui se vai propor descrições afetas à teoria constitucional, em,'special a brasileira, sede que se marca pela falta de produção de novos saberes, impreg-nada de um dogmatismo "mais do mesmo" e de certos pensamentos caducos iluministasjacobinos e/ou de pessimistas de plantão que apostam todas as fichas na alopoiese do siste-ma jurídico.
A simplificação do pensamento que acaba por operar um reducionismo na teoriamnstitucional obsta o nascimento de uma reflexão que leve em conta a complexidade dodireito e da política e das relações que se estabelecem entre ambos. Como afirma PRADOIR., "não se trata de suspender ou de ultrapassar o conflito enunciado na frase, mas de fazer1 rabalhar a tensão que a atravessa".3
Lúcido e pleno de rigor científico e exceção a esse quadro homogêneo é o pensamentode VILANOV A, que escreve que "a política e o direito que reciprocamente se implicam têm
I Sigmund FREUD, O futuro de urna ilusão, Obras Completas, v. XXI, Imago, Rj, 1996, p. 30.'I Italo CALVINO, O mundo é urna alcachofra, in Por que ler os clássicos, Companhia das Letras, SP, 2002,p. 205.:\ Bento PRADO jR., O Relativismo como Contraponto. in Erro. ilusão, loucura, Editora 34,SP, 2004,p. 221.
65
isso ('111 ('Ol11l1lll,1'111 EIl'l' da lllul! ipli('idadc h('(l'rogl~l1('a da)"('alidade social: são normas quepolil icil'.am, ou juridific3m conl('údos",4 ou sPja, manl{'1llrnlrI' pies uma relação normativa.
Na concretização dessas relações h;í sel11pre ulllin('remento no número delas mes-mas, pois que os elementos que compõem ambos os Sislemasnão são numeráveis, o queproduz como resultado a impossibilidade de se indicartodas as relações que se perfazementre os dois sistemas. Essa observação influencia diretamente tanto a produção de deci-são coletivamente vinculante, quanto a formação da jurisprudência. O político, como quenum passe de mágica, "descobre" que no jurídico há possibilidadede se proteger o direitoformal e material da oposição, enquanto que, de seUlado,o jurídico "se descobre" comopassível de reparar a política formal e material, recrudescendo, sempre e sempre, as possi-bilidades de relações a serem estabelecidas entre os dois.
Essas descobertas podem ser tidas na conta de testespelos quais a Constituição, numademocracia,S tem que passar, pois é neles que vai seexprimir o poder constitucional dereforma e o poder de interpretação constitucional porquemcompetente a tanto. A depen-der do conceito de Constituição do qual se parta parasefazer esses testes está a idéia deresiliência e de relevância do próprio texto constitucional.O seu grau de institucionaliza-ção será tanto maior quanto maior for a resiliência e arelevância de seu texto.
A descrição mais adequada desse evento talvez dependade uma certa transdisciplina-ridade que marca a ciência moderna, quando então seexigedo observador conhecimentosalém-fronteira, ou uma abertura cognitiva a outros saberes.É o que se persegue neste ensaio.
H. Resiliência e Relevância: Significados
Resiliência e relevância são conceitos atavicamente imbricados, um decorre dooutro, numa relação contínua e inabalável. O estudo daresiliência da Constituição tem aver com a capacidade que o texto constitucional possuipara,formal e materialmente, con-tinuar a limitar o poder e a proteger os direitos fundamentais, mesmo após as reformasconstitucionais e a interpretação constitucional, portanto,não se trata da capacidade dotexto constitucional de voltar à sua forma original, massim da capacidade de se adaptarfacilmente às mudanças; o da relevância diz com a capacidadedo texto constitucional decontinuar sendo o protagonista no processo de desenvolvimento da sociedade moderna, aíincluído, por óbvio, o Estado.
IH. Resiliência
Os fenômenos que atingem o texto constitucional eque podem ou não produzir a suaresiliência são de duas ordens: a) a reforma constitucional;b) a interpretação constitucio-
4 Lourival VILANOV A, Política e Direito: relação normativa, inEscritosJurídicos e Filosóficos, Axis Mundi,SP, 2003, v. 1, p. 373.
5 Conceitos de democracia existem numa profusão de causar invejamesmo ao deus da fartura, contudo, paraos fins deste trabalho, pode-se delineá-lo a partir da idéia de NiklasLUHMANN, para quem democracia éa existência do código binário do sistema político representado porgovern%posição, Teoría política en elEstado de Biencstar, Alianza Universidad, Madrid, 1997, pp.159-170.
66
n,JI ,1\ IIl1i,'a dil('n'n~'a entre ambos os processos é que no prim('iro a norma, integral ouIhl" 11111111'111(',deixa de existir e é substituída por outra; no segundo, a norma continua a,.~I',III. 1111('nlanlo, o que muda é a atribuição de significado a ela.
1':111gl'ral a forma de se alterar o texto constitucional por meio de reforma a s('r"'I '1,1,1a ('aho pelo sistema político é, paradoxalmente, a mais criticada, seja pelos ci('nIhlll', 1,,,1IIicos, seja pelos juristas. O paradoxo se qualifica pela crítica endereçada ao sis1""1" • "lllpNente a tanto, que é o político - numa discussão sociológico-constitucionalII1, I.,',·,i, a e mofada reveste-se de problema de legitimidade. A competência do sistema!,Idlll'" para alterar o texto constitucional vem prevista, autologicamente, no próprio11'1111'I"" se pretende reformar. Por certo que a crítica é dirigida com maior ênfase ;'1
qlt" 11 IIdade de emendas que reformam o texto constitucional, antes do que ao sistema111'",11'''com atribuição para tal. Contudo, quando se generaliza o ataque, alvos oU[ros\ 11" . .I•. roldão, embutidos.
( ) Illesmo não acontece quando a alteração do texto constitucional é operada pelo sisIflIIl.1j"ríelico, o qual, mediante processos nos quais se manifesta a vontade dos onze, con11",· ""VOS significados às normas constitucionais, significando e ressignificando conceitos111""111;!Olá expostos e consolidados.6 De forma geral, ao menos no Brasil, não se discute1IIf"'I'l'iio da vontade original dos pais fundadores, mas sim tenta-se elaborar uma idéia ele, 1'"'.111uição que vive ou vivente - ou, melhor, sobrevivente, com o perdão da ironia. Essa"" "'.1 dI' alterar o texto constitucional dificilmente sofre crítica, dos cientistas políticos deI ,'11" porque não conhecem eles, com propriedade mínima, os meandros do processo de'"I'·ll'rl·tação, com sua linguagem técnica própria, e dos juristas porque estes parecem se'I" tllII'lllar - e se orgulhar- da alteração produzida pelo sistema jurídico, como se fosse umIlip,II .I,. forças atuantes sobre um mesmo objeto do qual se reclama, se não a paternidade,11""".·IIOS a propriedade. A impressão que fica é que esse tipo de mudança é como que11111"rizado, é como que chancelado pelas opiniões de autoridade.
I\s críticas feitas com relação ao primeiro modo de se alterar o texto constitucional~Il"1I1úcuas,não conseguem produzir qualquer tipo de auto-crítica - ou seria auto-imuni-,"".111- no sistema originário, isto é, o político; no máximo constituem-se em noise no pro-1"1,:,0comunicativo. Isso se deve, talvez, a que a reflexividade se imponha como caracte-11",".;, da sociedade moderna, e que traduzir-se-ia pela reforma da reforma da reformaI ,,,,sI itucional, e assim sucessivamente, num processo contínuo, inexorável e inestancável,1411lalvez seja mesmo ao fato de que haja, na sociedade moderna, um esquecimento daI"" 1Iica, esta que é feita em sistema próprio e, por mais que queira LUHMANN dizer o, ,,"1 rário, de forma solipsística, sem abertura cognitiva. O resultado é já esperado: os tri-1'"11.,isconstitucionais ou similares, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, se tor-"""10 depositário da fé e da crença da sociedade, estas deslocadas, indevidamente, da poU-11'" para o jurídico. E é aí que entra em cena a discussão sobre o conceito de Constituição,'"1 sobre qual seria o conceito mais adequado de Constituição para fazer face a esse pro-
I, Por meio da interpretação constitucional relativizam-se, inclusive, direitos tidos na conta de cláusulapétrea, v.g., direito adquirido que não se manifesta com relação a regime jurídico e coisa julgada inconsti-Iucional: o que é proibido ao sistema político é permitido ao jurídico.
67
blema tào complexo como é o da reforma de seu texto, ou seja, para Lcntar d('lllonsLrar ouconstruir uma idéia de Constituição que possa ser resiliente mesmo após sofrer processosintensos de mudança de seu texto pela reforma feita pelo sistema político.
Se há a constatação das críticas com relação ao primeiro modelo, com relação aosegundo ela não existe, pois que falta a ela, constatação, o objeto constatado, qual seja, aprópria crítica. Essa ausência de crítica à alteração do texto constitucional operada pelosistema jurídico quando do exercício da interpretação pode ser decorrente do que diz aprópria norma constitucional, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal é o guardião daConstituição. Todavia, o mesmo argumento valeria para o sistema político, pois a este éconferida, expressamente, a competência para reformar o texto constitucional. Poder-se-ia, neste passo, perscrutar os significados do conceito "guarda da Constituição", chegando-se mesmo à conclusão de que o Supremo Tribunal Federal seria o protetor do texto contraas investidas levadas a efeito por poderes outros, federais e/ou estaduais, contra o textoconstitucional; poder-se-ia argumentar em prol de que o Supremo Tribunal Federal fosseo defensor do mesmo texto, exercício esse puramente dogmático de repetição e por issomesmo sem qualquer nova contribuição à teoria constitucional, desde que a polêmicaKELSEN/SCHMITT foi vencida pelo primeiro.
Uma outra possibilidade de descrição desse evento é aquela atrelada à idéia de queuma reforma constitucional realizada pelo sistema político é, simbolicamente, mais abran-gente e mais danosa à Constituição - e não à sociedade!!! - do que aquela concretizada viainterpretação constitucional. Aqui também se manifesta um paradoxo. É que a idéia dealgo que é simbólico tem a ver com um intenso poder de legislar em detrimento do jurí-dico, isto é, legisla-se sem a preocupação, ou mesmo a possibilidade, de se concretizar a leientão elaborada, prejudicando-se, dessa maneira, o jurídico-instrumental. Isso é a legisla-ção simbólica, segundo Marcelo NEVES? Trocando em miúdos, faz-se a lei dissociada dasestruturas sociais pertencentes à realidade.
Contudo, quando se trata de reforma constitucional, e ao menos em sua generalida-de, é ela realizada exatamente para se adequar o texto da Constituição à realidade presen-te, que ao tempo de sua elaboração não existia, embora o próprio Marcelo NEVES escre-va que mesmo a reforma constitucional pode ser exemplo do simbólico. É o caso, porexemplo, da recente e crescente internacionalização que sofrem os textos constitucionais,dos quais o brasileiro não é exceção, e que indica uma resposta normativa à demanda pro-duzida pela realidade. A legitimidade de que se cuida, portanto, é já a de uma Constituiçãoque serve de norma-parâmetro a gerações que não a elaboraram, como se estas estivessemsendo guiadas por uma dead hand.8
Assim, se a noção de legislação simbólica vale para o ordenamento infra-constitu-cional, para o ordenamento constitucional, em relação específica às emendas constitucio-nais, ela não parece se manifestar e impregnar o poder constituinte revisor, sendo certoque ao nível constitucional a constitucionalização simbólica pode se fazer manifestaquando da elaboração do texto constitucional pelo poder constituinte originário, quando
7 A constitucionalização simbólica, Martins Fontes, SP, 2007, p. 23.8 A idéia é de Stephen HOLMES, Precommitment and the paradox of democracy, in Jon ELSTER e Rune
SLAGSTAD (ed.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, 1993, pp. 195-240.
68
"111,111I,:',a IÚCLlvelpossibilidade de se produzir UI11 texto total ou parcialmente dissocia,11101 ,I "'al idade liue o circunda, o que, de per si, gera efeitos teóricos, por exem pio, no11111'1'"d(' estudo do constitucionalismo, sede onde surge argumento sobre a existência dI'11"""IIIII~'~io sem constitucionalismo. Isso não exclui a possibilidade de, sob o pálio da,,_, '<',1111, mas não da regra, se produzir uma reforma constitucional que positive norma!II"'I"": "Imholicamente adequada à realidade, como faz exemplo a positivação do direitoh 111'",li Ii,l como direito social.
[;IIIII>I'-mcom referência à problematização do que venha a ser simbólico há umh.!~IIIti" CORWIN,9 para quem, no contexto norte-americano, a Constituição pode ser111111,"1" lia conta de instrumento e de símbolo.10 Como instrumento, CORWIN argu1I1I'1I1i1que' a Constituição, amparada na visão científica de instrumento que conota o1111111"" o que deve ser feito no futuro, é um instrumento do poder popular (soberania,111'"" quiser) para o alcance do progresso, De outra parte, o simbolismo constitucional11111,'1";1110 olha para o passado e se liga às concepções que antedatam o surgimento da11/\III·til(' sua crença numa causação manejável e predizível. Ainda segundo CORWIN,~1I'I'I,1I110o instrumento constitucional existe para energizar e canalizar o poder públi-111,,', fllnção do simbolismo constitucional proteger e tranqüilizar o interesse privado111111ra o poder público,
No texto constitucional americano CORWIN indica como lugar de manifestação doIIWlllllllento constitucional o preâmbulo da Constituição, vazado nos termos: "Nós, o povo11IH,IO:sladosUnidos, em ordem a formar a mais perfeita união, estabelecer justiça, assegu-111111Iranqüilidade doméstica, etc ..."; como sede do aparecimento do simbolismo constitu-I'IIIlIal: "A enumeração na Constituição de certos direitos não deve ser construída paraItf'H,1I ou criticar outros retidos pelo povo".
l :omo se pode perceber, se não há uma preocupação de CORWIN em depurar concei-lorl. i"OI1l0 faz NEVES, há, todavia, a presença, mais uma vez, da distinção entre instrumen-111/Nllllhólicoe/ou norma/realidade. Essas distinções permitem pensar em que, embora a aná-IltH<di' CORWIN tenha sido feita levando em consideração a Constituição norte-americana,ii 11 11 'sllla descrição pode ser conferida tomando-se por base a Constituição brasileira.
Uma primeira tarefa para a consecução dessa empresa pode ser a identificação do que\lI'ldla a ser instrumento e simbólico no texto constitucional pátrio. O texto constitucio-11111 brasileiro possui normas que guardam relação de pertinência com o que se entende por1IIiIlrumento e simbólico, O preâmbulo, por exemplo, preceitua no mesmo sentido que oIIII1'I"-americano, ainda que no nacional a redação seja mais ampla e mais atual; o parágra-I" NI'gundo do artigo quinto, de sua vez, pode ser relacionado ao simbólico, com a ressa]-V" dI' que o texto constitucional norte-americano se refere a outros direitos retidos pelopovo,l 1 enquanto que o brasileiro prescreve outros direitos e garantias decorrentes do
') I':dward S. CORWIN, The Constitution as Instrument and as Symbol, The American Political ScienceRl'view, v. 30, n. 6 (Dec., 1936), pp. 1071-1085.
III Aqui é importante destacar que os termos simbólico, símbolo e simbolismo apresentam a marca da ambigüi""de como sua característica, conforme Marcelo NEVES, A constitucionalização simbólica, op. cit., pp. 9-21.
11 I':mbora no processo constituinte norte-americano o povo dele não tenha participado, conforme Manoel(;onçalves FERREIRA FILHO, Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo, Saraiva, SP, 2003, p. 45.
69
regime e dos princípios adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em quea República Federativa do Brasil seja parte.
Por certo que a concepção de CORWIN, datada da década de trinta do século passa-do, a par de conter uma espécie de fé cega no progresso, característica da ciência de então,ainda se impregnava de um conteúdo privatista dominante, vale dizer, o simbólico se refe-ria, especificamente, à idéia de direito individual, o que não pode ser mais aceito nos tem-pos atuais, de vez que a compreensão, hoje, de direitos fundamentais perpassa por outrascategorias de direitos, conforme o que se pode extrair da cláusula universalizante de sen-tido positivada na norma do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A utilidade das lições de CORWIN para o entendimento do simbólico na Cons-tituição brasileira reside em que delas se podem extrair duas conclusões: a) a manifestaçãoda distinção instrumento/simbólico, que de sua vez remete à distinção entre norma e rea-lidade; b) desde que se tome como adequada a distinção que vem de ser escrita, a com-preensão da Constituição como uma verdadeira face de Jano, na qual vêm inseridas outrasduas distinções: b.l) do ponto de vista temporal, passado e futuro; b.2) do ponto de vistaorgânico dos poderes, gubernaculum e jurisdÍctÍo.
O processo constituinte brasileiro que elaborou a Constituição, ainda hoje, mesmoque por poucas vozes, é tachado de ilegítimo, pois que a Assembléia que produziu o docu-mento não foi exclusivamente constituinte, mas sim congressual. As poucas e fracas vozesque de quando em vez se manifestam afirmando a ilegitimidade do processo indicam umaspecto simbólico positivo para o texto constitucional, bem assim espasmos de sua serven-tia como instrumento. É que o documento escrito em 1988 possui uma força normativaprópria que, se não chega a ser uma Lei Fundamental de Bonn e se não produz um maisadequado exercício da atividade política coordenado com os preceitos constitucionais, nãodeixa de ter valor, por exemplo, como norma-parâmetro que no controle de constitucio-nalidade vem produzindo interpretações que preenchem o vácuo constitucional deixadopelos outros poderes, quais sejam, o Executivo e o Legislativo e que forçam um concertono agir desses mesmos poderes em relação à Constituição.l2
Essa intensa atividade judicial de cobrir buracos deixados na estrada pelos outrospoderes pode se referir tanto à ação quanto à omissão inconstitucional e, se revela umenfraquecimento da idéia de Constituição simbólica no sentido que lhe atribui NEVES,tendo em vista a real efetivação das normas constitucionais, demonstra um outro ladorepresentado pelo reforço da Constituição como instrumento, desde que se pense que aomenos o Supremo Tribunal Federal tem agido, em geral, de acordo com as normas consti-tucionais, o que produz um tardio movimento que pode ser denominado de ativismo judi-cial, embora, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde a interpretaçãoconstitucional funciona mesmo como um necessário mecanismo de reforma do texto tendoem vista a dificuldade de se alterar por emenda a Constituição daquele país, aqui o nascen-te ativismo judicial exista simultaneamente com a produção de emendas constitucionais.
Uma das razões - há várias - para o constante acionamento do mecanismo da refor-ma e da interpretação constitucional pode ser aquela que diz com o próprio momento de
12 Ver os casos das medidas provisórias e da abertura de créditos extraordinários, adiante analisados.
70
pluhlll:I~';i() do texlO ('ol1sliLuciollal hl"asdl·lro. qu,lIldo ('l1l<ioas demandas. bastalll(' rl'pri1111.111'; 1'1'10 estado de exceção ljut' se instaurou no p<lís.começaram a jorrar e a serelll calla1I/,III.Is pelos IdLorcs rC<lisde poder presenLes no respectivo processo, causando, COIll isso.111"" dI' uma cxplosão de litigiosidade, um descompasso entre norma e realidadc, dcs("oll1IW"H'I'sscagravado pelo annus mÍrabÍlisde 1989, momento histórico que fez cair por terra11"111'1111"1" tentativa de se descrever, prospectivamente, a sociedade moderna, além de pro111111111 efeito de a economia se tornar o protagonista dos eventos, a par do lament:lvl'11""1"'" illlento da política, o que, na feliz frase de CORWIN, escrita em outro COnLexlo,noIIIIIF,II:lntecitado e trazida à colação neste momento, faz com que "the symbol ofthe m:lny/"" "1I11'S the Ínstrument of the few".
() que parece merecer destaque na descrição da distinção instrumento/simbólico."," IIlil/realidade é a relação que se estabelece entre os pares da dicotomia: é relação c1(.I"""II'nação ou de subordinação? A resposta não é de fácil alcance, contudo, algumas pro-hl"1I1i11izações podem ser feitas na tentativa de se esclarecer a indagação.
Nos países centrais da modernidade há como que um exercício autônomo da ativida-di' p"lítica, mais ou menos como se o sistema político compreendesse, por razões várias edi' ,'lIlemão, como deve atuar para que esse mesmo exercício não malferisse, por ação ou1"" IImissão, a Constituição, portanto, nesses países o caráter instrumento da Constituição~1"lIlprepermanece, se não intocável, ao menos com força suficiente a se auto-renovar. O1III'SIIlOse pode afirmar com relação ao simbólico da Constituição, simbólico aqui conside-1110111 na concepção de CORWIN, segundo a qual ele se representaria pela oposição dosdll,'ilOSindividuais frente ao poder público, do que se conclui que a relação entre instru-1111'111o/simbólico é de coordenação.
Em países como o Brasil o mesmo não ocorre. Aqui há uma prevalência do simbóli-111 'ontido na sub-distinção instrumento/simbólic013 referente à norma/realidade em rela-1,'\11 ao instrumento propriamente dito, ou seja, a produção legiferante, aí incluída a(:lIllstituição, é simbólica no sentido que lhe atribui NEVES, isto é, dissociada da realida-,I", :linda que produzido o documento álibi para fazer frente a ela. No que diz com o sim-!t,'dicono sentido atribuído por CORWIN, pode-se afirmar que ele sofre de anemia insti-1111 iorral, porém existe, pois que, embora apresente um quadro de recrudescimento de seu''''111ido, vive momentos de refluxo, o que pode ser ilustrado pelo autêntico efeito vai-e-V"1I1da afirmação histórica dos direitos humanos no contexto nacional, de sua vez causa-dll pela existência de uma fraca esfera pública. A relação, portanto, não é de coordenação,III,ISsim de subordinação, quase que uma hierarquia entre os pares que compõem a sub-dI<otomia, o que não significa que apenas o simbólico se manifeste.
I \ A idéia de sub-distinção, criada neste artigo, tenta englobar as duas noções de simbólico, a de MarceloNeves e a de Edward S. Corwin, as quais, embora materialmente diferentes entre si, não são antitéticas. l'
porque são formalmente iguais e materialmente se complementam, podem ser incorporadas no mesmoesquema da distinção, desde que sejam consideradas como uma sub-distinção da distinção principaL Assim,tem-se: instrumento [instrumento/simbólico]!simbólico. É que aqui defende-se a manifestação, na realida-de brasileira, das duas concepções de simbólico, portanto, contrária, em parte, à idéia de NEVES de que ()sistema juridico brasileiro é alopoiético: não se trata, por óbvio, de não se admitir uma certa alopoiese nosistema jurídico brasileiro, mas apenas de considerar a idéia de que ele, sistema jurídico, só se auto-reproduz a1opoieticamente, um exagero.
71
IV. Um Certo Ativismo Judicial Tardio
Uma distinção desemboca noutra. A Constituição como a face de Jano, divindadromana, cuja principal característica era a prudência, passa, então, a ser reflexo da primeira distinção representada pela dupla instrumento/simbólico e/ou norma/realidade. Jantinha a capacidade de olhar, simultaneamente, para o passado e para o futuro. É o que spassa, metaforicamente, com o texto constitucional, seja com relação à dimensão temporal, seja com referência à dimensão orgânica de funcionamento dos poderes.
Do ponto de vista temporal a Constituição tem que voltar os olhos para o passadopara o futuro.l4 No primeiro caso quando positiva em seu texto as chamadas cláusulapétreas, as quais se caracterizam por sua eternidade, como passado que se faz presentagora e no futuro; no segundo caso quando positiva em seu texto normas de conteúdo finalístico - e aqui não se vai discutir a respeito da polêmica classificação dos programas jurídicos serem apenas condicionais ou também de fins -, voltadas, prospectiva e redundantemente, para o futuro, contudo, com sua concretização requerida já no presente. O prqblema da temporalidade se apresenta distintamente a cada sistema, vale dizer, os sistemapolítico e jurídico possuem temporalidades diferentes. Diz respeito, conforme descreverse-á, à relevância da Constituição.
Do ponto de vista orgânico do exercício dos poderes ressai a distinção govemo/jurisdição, ou mais especificamente, a Constituição como parâmetro da atuação instauradorrealizada pelo governo e da atuação reparadora levada a cabo pelo judiciário, o que serexposto sob a rubrica "um certo ativismo judicial tardio". Tem a ver com a resiliência daConstituição.
Não há como escrever sobre o termo ativismo judicial sem mencionar o seu percurso temporal e semântico na teoria constitucional norte-americana, berço da discuss~9sobre a matéria. Há uma profusão tal de artigos e votos de juízes nos quais o termo é men"cionado, descrito e normatizado que se torna mesmo impossível de se esgotar a análise qsua citação.
Para os fins deste ensaio reputa-se suficiente tomar como parâmetro de estudo o arti.go de Keenan D. KMIEC, intitulado The Origin and Current Meanings of 7udici/4Activism ".15 Nesse artigo o autor traça pequena história de emprego do termo na impren-sa, na academia e no judiciário para, ao final, indicar cinco possíveis definições do qu~venha a ser considerado como ativismo judicial. São elas: a) cassar ações constitucionais deoutros poderes que forem ajuizadas; b) ignorar ou desconsiderar precedente (b.1.:verticalv. horizontal precedente; b.2.: constitucional v. legal v. common law precedentes); c)
14 Sobre as distintas temporalidades dos sistemas jurídico e político, ver Paulo Thadeu GOMES DA SILVA,Questões Políticas, Tese de Doutorado, PUC/SP, 2005.
15 Califomia Law Review, v. 92, 2004, pp. 1441-1477. Os conceitos descritos neste artigo o são de maneira,mais pormenorizada que aqueles referentes à judicialização da política e encontrados em C. Neal TATE eTorbjom VALLINDER (ed.), The Global Expansion ofJudicial Power, New York University Press, 1995.
72
"'f',I';!:"JIO judiciJI; d) não partir de metodologia interpretativa aceita; e) julgamento comIP,,"llado dirigido e/ou orientado.
1\ pri meira definição refere-se ao exercício do controle de constitucionalidade pelotil,! 'I ,'1110 Tribunal Federal, o mesmo que judicial review na Suprema Corte norte-ameri-11111.1,a segunda diz com a doutrina do stare decisis do sistema jurídico daquele país, pelaI,tlill 1.;'1LI formação do precedente vertical, da Suprema Corte em relação às cortes inferio-I"'" " do precedente horizontal, na jurisprudência da própria Corte, além dos precedentes11., "lr;'lln constitucional, legal ou costumeiro; a terceira definição tem a ver com a falha1111l'l'lll'esso de interpretação constitucional causada pela não observação dos cânones1III"II"Tlativos; e a última liga-se à antiga preocupação, transformada em doutrina, segun-,111'I qual os juízes não podem julgar tendo em vista motivo ulterior para emitir a decisão" 11,'111se desviar de uma linha básica de correção.
(:om relação ao sistema jurídico brasileiro, a definição primeira, uma vez acatada111,1.1Il'oria constitucional tornaria o Supremo Tribunal Federal um exemplo lídimo de1111 v Isla judicial só porque exercita o controle de constitucionalidade, fazendo-se de1111111:1direta e indireta, com recurso a técnicas sofisticadas de interpretação constitucio-11111. dl' modo que parece ser adequada, como regra, a definição proposta, especificamen-11''"111 referência àqueles casos jurídicos cujas decisões proferidas irradiam seus efeitos1111 1',,1 ítica material.
I\s segunda e quarta definições não parecem ser aplicáveis ao sistema aqui implemen-Ind", ;1uma porque a doutrina do stare decisis não existe, ao menos oficialmente, nas pla-MMfllrídicas brasileiras, sendo que o instituto da súmula vinculante ainda engatinha, recémIlftlltIdo que é, embora se possa afirmar que mesmo o precedente no direito constitucional1111111'americano não é de todo rígido, conforme expressamente lançado em Lawrence v.I I' I.IS, 16e no direito constitucional brasileiro exista sempre a possibilidade de se rediscutirl'I'lt'll11illada interpretação constitucional firmada anteriormente, de acordo com interpre-1111,1\11grafada na ADIn n. 4048-lIDF,17 e a duas porque não há, propriamente escrevendo,I AIIt'"l'S da interpretação constitucional nacional, havendo, quando muito, determinados1" i111ípios de interpretação, os quais, uma vez não respeitados não torna o Supremo1'llllIlI1alFederal ativo judicial, mas apenas eiva a interpretação operada com a pecha de1lt!lId;t- v.g., pense-se na interpretação da Constituição às tiras, e não sistematicamente.
1\ última definição, que diz com a possibilidade de o juiz julgar orientado pelo resul-Indo de sua decisão, especialmente no que toca aos efeitos sociais dela advindos, e se no,11011111('constitucional norte-americano se refere ao juiz que é liberal ou conservador, já1~!Vt'('spasmo de existência no Brasil, ao menos em uma de suas variantes, particularmen-!tI 110 período imediato pós-ditadura militar, mais conhecido por transição democrática, no1111111SI' produziu bastante material jurídico referente às motivações ideológicas da senten-\n t' quando então o debate a respeito da orientação político-ideológica dos juízes era pre-
"I I.aw rence v. Texas, 539 U. S. (2003): "The doctrine of stare decisis is essential to the respect accorded to the1I11I"ments of the Court and to the stability of the law. It is not, however, an inexorable command", p. 16.I" voto do Justice Kennedy, pela Corte.
I/ 1{l'querente: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Requerido: Presidente da República, Rel. Min.I;iImar Mendes.
73
sente e forte, todavia, atualmente o tema parece ter perdido fôlego, ainda que, na searaconstitucional-penal o debate se mantenha aceso entre garantistas e não-garantistas.
Resta a definição que identifica o ativismo judicial com a legislação judicial. Estaparece se aplicar a uma eventual idéia de que o Supremo Tribunal Federal pode ser enqua-drado como uma Corte ativista judicial ou ativa judicialmente, desde que se pense que noseu cotidiano decisório, quando, ao interpretar a Constituição, cria normas para a socieda-de em geral, ainda que no varejo do caso individual, e não no atacado do caso objetivo,referentes tanto a direitos individuais quanto a direitos sociais.
O mais relevante, entretanto, nessa práxis decisória, vem sendo a institucionalizaçãodo Supremo Tribunal Federal como instância deliberativa dos grandes temas atinentes àsociedade brasileira, o que se não é novidade no que se refere à produção de efeitos napolítica formal, já começa a produzir efeitos recentes na política material, seja ela consti-tucional ou ordinária.
A idéia de ativismo judicial, portanto, atribua-se o significado que se quiser a ela,presente no debate constitucional norte-americano, se espraiou de uma tal maneira quehoje bem se pode afirmar a sua presença na maioria dos países ocidentais. No Brasil não édiferente. País que teve sua história constitucional marcada pela presença manifesta elatente de crises, traduzidas na decretação useira e vezeira de estados de exceção, back~ground nada propício à criação de um caldo cultural constitucional, vive hoje uma norma-lidade democrática na qual o debate existe e serve ao recrudescimento da esfera pública dasociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal não poderia passar incólume por esseprocesso. Tímido no início do período de democratização dos anos oitenta e noventa, énesta década que o Tribunal se firma como precursor de um ativismo judicial de maneiramais forte e, ao que parece, solidificada sobre estruturas de decisão que vão além dos casosconcretos para espargir seus efeitos de forma erga omnes.
Como se pode perceber, a hesseana força normativa da Constituição depende da con-cepção que se tem do próprio texto escrito. Se se tomá-lo na conta de um documento comforça suficiente a produzir eventos na sociedade de acordo com os princípios ali positiva-dos é crível que a força normativa intrínseca a ele se manifeste.
A concretização dessa aparente força metafísica da Constituição é realizada pelas ins-tituições de uma determinada sociedade. No caso do Brasil, que é o que interessa neste'ensaio, o responsável por essa tarefa tem sido o Supremo Tribunal Federal, e isso por duasrazões: a) tem, paulatinamente, transmudado a sua própria interpretação constitucional;b) produz, com esse modo de proceder, um cada vez mais alto grau de institucionalizaçãode si próprio.
Um caso paradigmático dessa atuação é representado pela decisão cautelar proferidana ADln n. 3.964-4/DF,18 na qual ficou assentado que o Poder Executivo não pode reedi-tar, na mesma sessão legislativa, medida provisória revogada. O tema é bastante complexoe por isso mesmo comporta uma descrição mais pormenorizada. Tratou, na espécie, de seperquirir a respeito do poder constitucional do Chefe do Executivo Federal de revogar
18 Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB, Requerido: Presidente da República, ReI. Min.Carlos Britto.
74
Ilwdid<lprovlsond uma vez editadil Pill'iI, Illgo dl'pois, reeditá-Ia, sendo que nesse meio1"IllPO a pauta do Legislativo desbloquear-se-ia pela revogação operada. Os Ministros, porIllilioria, entenderam que tal ação configurava fraude à Constituição, pois que ela mesmaproibia essa prática.
O fundamento adotado foi a violação ao disposto nas normas do artigo 62, § 10, da( :ol1stituição, que proíbe a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória quelenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Embora aI,'dação ali expressa não faça menção à hipótese de revogação da medida provisória pelopróprio agente político que a editou, a maioria vencedora entendeu que era caso de seIlllerpretar a norma como que contemplando, implicitamente, a hipótese, a despeito do,Irgumento proferido pelo Min. Eros Grau de que o Tribunal estaria usurpando o poder, onstituinte derivado ao criar nova figura não estampada no texto.
O caso ganha contornos de dramaticidade porque traz à tona uma abordagem, no dizerti" POSNER,19mais agressiva do Judiciário quando em análise de ato político. É que envol-vida está, também, no desenrolar da argumentação, a norma do artigo 62, § 6º, da( ol1stituição, que determina que se a medida provisória não for apreciada em até quarenta"cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente,,'m cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a vota-1';0, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando (grifou-se).
Com efeito, esse modo de atuar do Executivo, ao editar, revogar e reeditar, na mesma11''ssão legislativa, uma mesma medida provisória, com redação se não idêntica, similar emqll<lsetodos os seus aspectos, dá mostras de efetiva possibilidade de controle da agenda doLegislativo por parte do primeiro, o que, se numa apreciação jurídica representa fraude à(:onstituição e quebra do princípio da separação e harmonia dos poderes, numa aprecia-I,:to política significa frustrar a própria ação política, a própria auto-reprodução do sistemaI'0lítico, a própria política material, e não mais apenas formal, frustração essa causada pelopróprio sistema político a ele mesmo e para a qual não parece haver outro meio de defe-lIiI, nem mesmo uma suposta auto-imunização, que não o recurso ao sistema jurídico.
Esse evento, então, tem que ser compreendido como sendo, de um lado, exemplo de,'pl icação judicial de princípio formal positivado no texto constitucional, e de outro lado,'xl'mplo de frustração ou bloqueio de funcionamento do sistema político pelo próprio sis-lI'ma político, o que, se não foi pensado pelo legislador constituinte derivado, responsável1','Iaalteração do texto constitucional inicial para nele positivar normas que de fato e dedireito limitassem o poder de editar medida provisória - fato esse que, de sua vez, permi-I" a atual interpretação constitucional da mesma norma -, pode ser considerado fruto dat'olllplexidade dinâmica da política materialmente considerada.
I'I "One is for the Justice to accept the political character of constitutional adjudication wholeheartedly andvote in cases much as legislators vote on bills. The other alternative is, feeling bashful about being a poli-tician in robes, to set himself ar herself a very high threshold for voting to invalidate on constitutional~rounds the action of another branch of government. The first, the 'agressive judge' approach, expands tlwCourt's authority relative to that of other branch of governrnent. The second, the 'modest judge' approach,teUs the Court to think very hard indeed befare undertaking to check actions by other branches of government", Richard A. POSNER, A Political Court, Harvard Law Review, v. 119, novo 2005, pp. 31-102 (54).
75
o que vem de ser escrito é traduzido na asserção de que o sistema jurídico pode,interpretar dispositivo constitucional que prescreva limitação formal ao exercício do si.tema político, interferir diretamente na ação política levada a cabo pelos agentes responsáveis. Neste passo é válido pensar que a decisão de que se trata, por exemplo, produziefeito positivo não só ao resguardar o "direito" do Legislativo a tomar as rédeas do establecimento de sua própria agenda, o que poderia ser considerado um efeito formal da decisão, mas também ao assegurar talvez aquilo que seja mais caro ao processo legislativo, qué a obtenção de consenso majoritário sobre a deliberação - discussão e votação - das matérias a ele apresentadas, consenso esse que ainda não existe se a medida provisória não foapreciada pelo Poder Legislativo.20
Essa forma de compreensão judicial é evento novo na jurisprudência da Corte, po'que possui significado que vai muito além de um suposto controle dos requisitos formaiexigidos para a edição de medida provisória (urgência e relevância), os quais são controlados judicialmente apenas quando se configurar eventual abuso legislativo, e também dum controle das regras formais do sistema político quando presente eventual violaçãodireito subjetivo das minorias, o que sói acontecer na formação das comissões parlamentares de inquérito, embora no voto do Ministro Relator Carlos Britto possa ser extraído uinício de idéia de que a formulação da pauta legislativa é matéria afeta à economia interna da Casa, portanto, interna corporis.
Há, então, na decisão em foco, uma real vontade de Constituição levada a efeito pelSupremo Tribunal Federal, o que se verifica em outro caso considerado como paradigmneste ensaio.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4048-1/DF,21 anteriormente citada,tendo por objeto a Medida Provisória, depois convertida em lei, que criava créditoextraordinários, a Corte, em apertada maioria, 6 X 5, entendeu, em franca revisão de suconsolidada jurisprudência, que poderia controlar a constitucionalidade de lei orçamentária e a criação de créditos extraordinários para verificar se estes cumpriam os requisitoconstitucionais da relevância, da urgência e para atender a despesas imprevisíveis e urgen_~tes, estas qualificadas pelo próprio texto constitucional como sendo despesas decorrentede guerra, comoção interna e calamidade pública.
Do ponto de vista jurídico a decisão emitida, sem embargo da restrita maioria, foicom base em requisitos definidos expressamente na Constituição (art. 167, § 3º), o que per~mite afirmar que essas normas definidoras de conceitos podem ser consideradas como pos~suidoras de significado próprio e constitucional, isto é, constituem-se elas mesmas empadrões manejáveis judicialmente, isto é, postulados que podem ter a sua racionalidadeverificável, o que representa, de per si, uma secularização do político, desde que se penseque matéria alguma possa fugir ao controle judicial só porque tem origem divina, e paI'
20 Esse tipo de decisão judicial leva à conclusão de que o sistema jurídico e o sistema político atuaram deencontro à, no dizer de Lourival VlLANOVA, "dialética de posições e contraposições que é característic'llda estrutural conflitual do facto político", Política e Direito: relação normativa, in Escritos Jurídicos eFilosóficos, op. cit., p. 372, exatamente porque anularam essa mesma conflitualidade.
21 Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Requerido: Presidente da República, Rel. Min.Gilmar Mendes.
76
111111"lado l' portanto, diferenciando-se, doutri nariamente, dos denom inados pac1rócs"'iI'"'j;iveis judicialmente que não estão expressos na norma constitucional e que por is,m""11"" ser indicados pejos Ministros da respectiva Corte Constitucional.
1\ expressão padrões manejáveis judicialmente vem do direito constitucional nOrle-,11I1I'11,':lnO,lá mesmo onde a Suprema Corte aplica a doutrina das questões políticas par;]IIn .. ,11I:llisar,no mérito, determinados casos jurídicos. Imuniza, de forma absoluta, deci-.1\"" .I,. governo que por uma razão ou outra não possuem o ante citado padrão.
1':111 um artigo intitulado Judicially Manageable Standards and ConstÍtutÍonal~,,',,"il1~, FALLON, JR. descreve a distinção entre significado da norma constitucional eI',t.l,:,() manejável judicialmente, para com relação ao primeiro afirmar que a Corte reali-'li I"O('('SSO de especificação, e com referência ao segundo argumentar que se efetiva pro-IIW'" dco implementação.22 Em análise da jurisprudência daquela Suprema Corte o autor"lIllIll('ra três categorias de considerações operativas que informam os critérios adotadosIli'" .I,·cisões para se determinar o que é um padrão manejável judicialmente: a) inteligibi-111111<1,';b) desideratos práticos; c) valores levados em conta pela Corte para responder à
tjlll"";IOde suficiência que permita a adjudicação.Não é o caso aqui, neste pequeno ensaio, de se descrever todos os argumentos lança-
11,11.I'0r FALLON, JR. no artigo que vem de ser citado, até porque sua extensão é conside-II'vl·1(' seu conteúdo, em maioria, se refere à técnica de interpretação constitucional exis-11'111(. no direito constitucional norte-americano, contudo, tais condicionantes não impe-111'111:I utilização de algumas idéias ali manifestadas no direito constitucional brasileiro,111,1"l1aconsecução de se lançar alguma luz no debate proposto.
() Supremo Tribunal Federal, embora não admita expressamente, flerta com a dou-11111.1das questões políticas, quando decide que pode apreciar atos do Legislativo e doF_,·, til ivo que firam garantias formais, o que, a contrario sensu, implica afirmar que quan-ti" "sses atos não ferirem direitos e garantias formais não serão examinados pelo mesmoI I11111l1a1.A diferença para os casos jurídicos aqui perscrutados em comparação com aque-111"v('iculadores de uma questão política sui generis é que nos aqui descritos há norma11111':1itucional possuidora de sentido expresso como que a potencialmente solicitar: pos-~IIII I':ldrão manejável, por favor, interpretem-me. Nesses casos o produto pode ser, e emMI'I,IIo é, uma decisão consistente, pois que, além de ser inteligível a questão jurídica1"1Il(;I.não depende ele, ato decisório, de cognição a respeito, por exemplo, de matéria que"."'):1 além da capacidade empírica da Corte, além de sua habilidade para gerar resultadoItll'visível e além de sua capacidade para estruturar uma análise que em princípio poderiaII'Vilr:.lresultados corretos,23 em suma, produz imediatamente efeitos concretos ao impe-,11, :1atuação do político nos moldes em que o foi antes da cassação de seus atos.
Decisões como as que vêm de ser expostas não parecem causar maiores discordâncias"'1"1ic:.lSno jurídico nem irresignações práticas no político, o que pode tornar os casos1IIIIstitucionais de mesmo jaez, e uma vez decididos, em casos fáceis, em oposição aos mais
11 Ilichard H, FALLON, JR., Harvard Law Review, v. 119,2006,pp. 1274-1332(1283).1I Idem, pp, 1287-1291.
77
1~)lllOSOS e citados hard cases, estes sim, de suas vezes, propiciadorl's de l11aior discussãotendo em vista sua complexidade.
Esses temas rondam e acabam por desembocar na vulgata expressa pelo termo judi-cialização da política. LOEWENSTEIN, já na década de 50, alertou para o problema, afir-mando que estabelecer uma Corte como supremo árbitro do processo de poder, este que éa parte central da "judicialização da política", converteria o sistema de governo em uma"judiciocracy")4 Finaliza argumentando que a judicialização do processo de poder seriaexitosa apenas se nenhum interesse vital dos exercentes do poder fosse adversamente afe-tado. Esses argumentos, uma vez tomados em conta de consideração e aplicados à jurispru-dência que se vem produzindo atualmente pelo Supremo Tribunal Federal pode forneceralgumas relevantes observações a respeito do tema. A primeira delas refere-se ao fato deque haverá, sempre e sempre, um campo da política imune à apreciação judicial, por maisque esta ou aquela presidência do Supremo Tribunal Federal impinja eventual ativismojudicial à Corte, seja por meio de intervenções esporádicas e aleatórias nos processos dedeliberação, seja mesmo quando vota, em ambos os casos tentando, com ou sem sucesso,"controlar" o decidido pela maioria, evento que, ao menos na Suprema Corte norte-ame-ricana é atribuição, construída pela praxe, inerente ao denominado Chiei Justice.
A segunda delas é que um limite claro ao escrutínio judicial pode ser aquele relativoà competição dos partidos políticos pela tomada de poder, esta também se constituindo emcoração do processo político, e do qual já escrevia a respeito SCHUMPETER para, inclusi-ve, tomar essa condicionante como característica essencial da democracia,25 o que faz daimunização um princípio de preservação da própria democracia, argumento mais denso doque o simples apelo ao respeito ao princípio da separação de poderes.26
E a terceira delas é a imunização do próprio processo político como um todo, e nãoapenas de determinados atos tomados na sua normal condução, ao controle judicial, de ve~que política significa algo mais que uma simples decisão da Mesa do Parlamento que res-trinja, formalmente, eventual direito da oposição, tornada, no jurídico, minoria.
De igual maneira ao caso anteriormente descrito, aqui também a Corte, a despeitode analisar requisitos formais expressos nos dispositivos constitucionais, produziu, comsua decisão, efeitos diretos na política material, contudo, a interpretação levada a caboteve por fundamento preceito explicitamente plasmado no texto constitucional, semapelo a qualquer elemento situado em campo intelectivo não sujeito ao controle deverossimilhança.
Esses dois casos ilustram com bastante força de significação a confusão, teoricamen-te tratada por BOLINGBROKE no longínquo 1734, em sua famosa A Dissertation Upon
24 Karl LOEWENSTEIN, Political Power and the Governmental Process, The University of Chicago Press,1957, p. 260.
25 Joseph A. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, HarperPerennial, New York, 1975, pp.269-283.
26 É o caso das Resoluções n. 22.610/07 e 22.733/08, do Tribunal Superior Eleitoral, que tratam da fidelidadepartidária e que já são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4086, proposta pelo Procurador-Geral da República e sob relatoria do Min. Joaquim Barbosa, sob vários fundamentos, dentre os quais, o deque aquele tribunal teria, indevidamente, legislado.
78
I'"tf",.~.n entre Constitui<;<1o{' (;ovl'rI1(), niada, aqui no país, por atos normalivos advin.I,," .lo político. Por Constituição ele entendia o conjunto de leis, instituições (' coslunwsd,'"v;,dos de certos e fixados princípios da razão e dirigidos a certos e fixados objelos do1"'11,I',',blico e que compõem o sistema geral com o qual a comunidade concordou serII"vnllada. Por Governo ele compreendia a particular condição de conduta na qual odí' 1)',"111(' maior e seus subordinados mantém na administração dos negócios púhlicos,1'1""::11'de conceitos distintos, BOLINGBROKE afirmou que o cidadão não pode ser"""I'," do Governo e inimigo da Constituição, uma vez que se entenda que o governo é"""L"lo pela última.
()ul ra não foi a compreensão de Thomas PAINE, que em seu livro Rights oi Man.'.lH"''I'''' i!'icamente na segunda parte que veio a lume em 1792, cujo título é OiConstiwti(}n.~,1""I',IIlIla por qual razão constituições e governos são termos usados separada e distinta""'11"'. para responder que uma Constituição não é um ato de um Governo, mas de Ulll
1""'11 que constitui um governo, é propriedade da nação, e governo sem uma Constituição,11",,1('1'sem um direito.
I':screvendo no contexto do Parlamentarismo inglês, o que é bastante apropriado à,",,",,,,, que ora se empreende, desde que se pense que o instituto da medida provisória foiIII'I"'l'lado da experiência parlamentarista italiana e positivado na experiência presiden-,lltI'~":t brasileira, BOLINGBROKE argumentava, já naquele distante tempo, que embora111"".' segurança para as liberdades seja provida, é a integridade que depende da liberdade,I ti., ",dependência do Parlamento que é a pedra-de-toque que mantém o todo reunido, e~I' ,.1., I" tocada ou removida, a Constituição cai em ruínas, e PAINE, de sua vez, escrevia11'1"li governo representativo é liberdade.
() problema político da espécie normativa denominada medida provisória parece11""01,, exatamente no fato de que é instituto moldado a fazer carreira no sistema par1a-11I1'III:trista,sistema onde o Parlamento é protagonista na condução da política, e que, umaVI.' ""plementado no sistema presidencialista, onde o papel principal de regente da polí-11111, ;,he ao Presidente da República, causa mesmo um tipo de paralisia legislativa quan-li" .I,. sua utilização. Contudo, a crítica feita com relação a eventual ofensa ao Legislativo11/1111 I';,rlamento vale, com muito maior força de argumento, para o sistema presidencia-1111111,pois que em nada se diferencia da primeira se se levar em conta que a ofensa é con-1111 " (:ollstituição: fraude à Constituição na linguagem jurídica e ataque à instituição par-IIIII"'''I:tr na linguagem política.
( ) modo de funcionamento do sistema político aqui indicado, pelo qual o próprio sis-I~I",' hloqueia sua comunicação, pode ter como causa um certo desapreço pela Cons-111,",.,11" isto é, uma falta de vontade de Constituição, o que produziria a pouca ou quase111I',,,:,,'nte força normativa da Constituição e, por conseqüência, a impossibilidade de se'1111,""'Iciar entre Governo e Constituição. Se não é errado argumentar com essas palavras.IIIIItI',"'11não parece incorreto afirmar que a correção de rumos adotada por quem comp('-
I' 11"lIry St. John, Visconde BOLINGBROKE, A Dissertation Upon Parties, in Political Writings, CambTidg"1'"lv('rsity Press, Cambridge, 1997, Letter X, pp. 88-97.
#11 1"'111'.11 in Books, New York, 1934, pp. 185-209.
7LJ
lente para fazê-lo, no caso, o Supremo Tribunal Federal, é extraída do mesmo texto cons-litucional, o que demonstra uma certa força normativa a dele irradiar, ou seja, se não sevive o melhor dos mundos constitucionais possíveis no Brasil, de igual efeito não se viveo pior deles.
Os dois casos concretos decididos pelo Supremo Tribunal Federal e aqui analisadosservem a dois propósitos: a) demonstrar, faticamente, como é possível a aplicação de posi-ções intelectuais a respeito de temas constitucionais sobre a matéria sub judice, criando,dessa maneira, um novo e profícuo material jurídico a servir de manancial para a forma-ção da teoria constitucional; b) se essa práxis referente à interpretação constitucional seinstitucionalizar, há espaço para se afirmar que o Supremo Tribunal Federal tem sido judi-cialmente ativo, e isso não porque lança mão se processos decisórios atinentes à política,mas simplesmente porque efetiva o controle de constitucionalidade. No estertor, as duasformas de se alterar o texto constitucional produzem a sua adaptação à complexa realida-de social, e aquele, uma vez adaptado, pode já evoluir.
V. Relevância
Descrito o processo pelo qual a Constituição pode ser considerada resiliente no sen-tido de se adaptar às mudanças feitas em seu texto, passa-se agora a analisar a sua relevân-cia, se é ou não relevante à sociedade moderna e em que grau, se positiva a resposta à pri-meira indagação, essa relevância se manifesta.
Para que a descrição aqui empreendida seja adequada impõe-se uma análise, aindaque breve, do conceito de Constituição, este que se configura no ponto de partida de qual-quer ensaio no qual se pretenda descrever e, se for o caso, normatizar a respeito da rele-vância do texto constitucional.
A discussão a respeito do conceito atual de Constituição, se deriva ele da Antigüi-dade, se já se fazia presente no Medievo ou se é produto genuíno da Modernidade está dehá muito instaurada na teoria constitucional, menos na dogmática constitucional e maisnuma teoria constitucional produzida pela ciência política. Os argumentos orbitam emtorno da afirmação e da negação de que o conceito moderno de Constituição deita raízesna politeia dos gregos. McIL WAIN talvez tenha sido o precursor da polêmica ao afirmarque de todos os significados aos quais a palavra constituição é suscetível, o grego poli teiaconforma-se como o mais antigo,29 no que é seguido pela prestigiada EnciclopédiaBritânica.30 FlORA VANTI argumenta que o problema é mais simples do que deixa enten-der a crítica historiográfica e que por politeia deve-se compreender o instrumento concei-
29 CharlesHowardMcILWAIN,Constitutionalism:Ancient & Modem, Comell UniversityPress, Ithaca,1947,p. 26.
30 SegundoHerbert John SPIRO:"Aristotle's classificationof the 'formsof government' was intended as aclassificationof constitutions,both goodand bad.Undergoodconstitutions- monarchy,aristocracy,andthe mixedkind to whichAristotleappliedthe sameterm politeia - one person. a few individuaIs,or themanymIe in the interestofthe wholepolis. Underthe bad constitutions- tyranny. oligarchy,and demo-cracy- the tyrant, the rich oIigarchs,or the poor demos, or people, rulc in their own interest alone",ConstitutionandConstitutionalGovemment,v. 16,15-ed., 1993,p. 690.
80
1111.1 do qual se serve o peI1S<lI1WIlIOpolll i('o do sl'culo IV na busca de uma fórma d~'gover-1111.Id'·lfuada ao presente} I SALDANHA se posiciona ao lado dos que negam a origem naAlIllgiiidade,32 MOHNHAUPT escreve que o conceito de politeia foi decisivo para (J
dr"H'llvolvimento do conceito de Constituição na Modernidade, embora ressalte que a tra-11111,,111da palavra poli teia pela de Constituição não deixe de ser problemática, pois quefi 11'11'1lcles tinha diante de seus olhos a situação constitucional da polis dos séculos 1V e V,I' 1'''11anto naquela época não se pensava em Estado de Direito, quando muito em '_reoriad'l l':slado,33 enquanto LUHMANN, de sua vez, argumenta se tratar o conceIto deI 1111:'1iluição de um conceito moderno oriundo do Setecento,34 já para STOURZH o termo1"'/11 ;,';a foi traduzido para o inglês como commonwealth, polity ou government.35
Assentado, então, que a idéia atual de Constituição é uma aquisição evolutiva daM"cI('rIlidade, tendo em vista diferenças específicas referentes às estruturas sociais vigen1"'111;1sociedade antiga e na sociedade moderna, impõem-se como modelos de discussãoi 1I111·(·iIOSproduzidos na própria Modernidade.
I{ccorrente na teoria constitucional é a classificação empreendida por LOEWENS'11: IN l'1ll seu livro Polítical Power and the Governmental Process,36 título com trajetóriaI111'.[:ll1lecuriosa em sua tradução, pois foi traduzido para o alemão como VerfassungslehreI' 1,.11:1o espanhol como Teoría de la Constitución. Nesse li:-To, n~ capít~lo V, intitulado1'1", (:onstitution, LOEWENSTEIN tenta elaborar uma classIficaçao atualIzada para aque-11'I<'l11pO, década de 50 do século passado, e para tanto lança a idéia de se considerar onto-1111',1< :lInente a Constituição, abordagem ontológica essa que não diz com a substância ouI (1111 o conteúdo, mas sim com a concordância da realidade do processo de poder com as11(11111 as constitucionais.
Dessa premissa decorrem três tipos: a) constituição normativa; b) constituição nomi-11.11,() constituição semântica. A normativa é aquela que, além de legalmente válida, efllll;1ser real e efetiva deve ser plenamente obs~rva~a por todos os ~e~s de~t~natário~, d~ve1'111.1r integrada na sociedade estatal; a nominal ImplIca que as condIçoes socIO-ec.ono~lllc~S1I1I"lam contra, no respectivo tempo, a completa concordância das normas constItucIOnaISI (1111as exigências do processo de poder; e a semântica é aquela cuja realidade ontológica
MaurizioFlORAVANTI,Costituzione,nMulino,Bologna,1999,p. 14.NelsonSALDANHA,FormaçãodaTeoriaConstitucional,Forense,RJ, 1983,pp.102-103. ..Ilcinz MONHAUPT,VerfassungI: Konstitution,Status, Legesfundamentalesvon der Anuk bISzurAufklarung,in HeinzMONHAUPTe Dieter GRIMM,Verfassung:Zur Geshichtedes Begriffsvon derAntikebiszur Gegenwart,Duncker& Humblot,Berlin,2002,pp. 6-9. .NiklasLUHMANN,Lacostituzionecomeacquisizioneevolutiva,in GustavoZAGREBELSKY,PIerPaoloPORTINAROe JõrgLUTHER(acura di),n futuro dellacostituzione,Einaudi,Torino,1996,pp. 83-84.GeraldSTOURZH,Constitution:ChangingMeaningsofthe Term, in TerenceBALLe J. G. A. POCOCK(ed.),ConceptualChangeand the Constitution,UniversityPressof Kansas,1988,pp. 35-54.
11, O sub-títulodo livro é: An analysisof the politicalpower institutionsand techmquesof contemporarysocietyfromthe viewpointofpoliticalpowerasthe coreofallgovernment,The,U~iversityofC~icagoPress,Chicago,1957.Emrealidadeessaclassificaçãopropostapor LOEWEN.STEINJ8 tmha sId~escnta no artIgotambémdesuaautoriaintituladoReflectionson the ValueofConsUtutlOnsm OurRevolutlOnaryAge,cons-tante do livroConstitutionsand ConstitutionalTrends sinceWorldWar n, ArnoldJ. Zurcher (ed.),NewYorkUniversityPress,cujaprimeiraediçãodatade 1951,e a segundaediçãode 1955,pp. 191-224.
I1I'
1I
I',
81
é nada além da formalização da alocação existente do poder político em benefício dos questão no poder e no controle da execução da maquinaria estatal.
Giovanni SARTORI e Marcelo NEVES reelaboram o conceito de LOEWENSTEIN arespeito da Constituição semântica, o primeiro no artigo cujo título é Constitutionalism:A Preliminary Discussion,37 onde propõe classificar as Constituições em garantista, nomi-nal e de fachada ou falsa. A primeira é aquela que contém dois básicos elementos, quaissejam, um plano de governo e uma declaração de direitos; a nominal ele designa a queLOEWENSTEIN denomina de semântica, utilizando-se dos mesmos termos, é aquela cujarealidade ontológica é nada mais que a formalização do poder político em favor dos quegovernam; e a Constituição de fachada é aquela que tem apenas a aparência de Consti-tuição verdadeira, contudo, é sempre desconsiderada, especialmente naquilo que diz comos direitos fundamentais.
NEVES, de sua vez, argumenta que a Constituição semântica de LOEWENSTEIN édescrita de forma mais adequada pelo termo instrumentalista, pelo qual os donos do poderdispõem dela à sua mercê por ser ela um instrumento de dominação.38
A classificação de LOEWENSTEIN, a despeito de ser ainda apenas ligada à idéia delimitação do poder, de respeito aos direitos individuais, e sem embargo da correção quelhe fazem SARTORI e NEVES, pode, todavia, ser considerada válida em um aspecto bas-tante importante, se não o mais importante, atinente à concretização do texto constitucio-nal, e que é exatamente a atuação da política concertada com a Constituição.
Essa é a preocupação que perpassa por toda a descrição do autor e que, se trazida aostempos atuais, especificamente no contexto de realidades semi-periféricas, de cujo exem-plo o Brasil é forte ilustração, pode contribuir para uma maior compreensão dos eventosde alteração constitucional ocorrentes.
A insuficiência da classificação proposta por LOEWENSTEIN se relaciona ao fato deque uma Constituição, para ser concretizada, exige uma descrição que vá além daquela queindique que o texto constitucional deva possuir um plano de governo e uma declaração dedireitos. Vale dizer, a teoria constitucional não pode mais se satisfazer apenas com um enfo-que que divida a Constituição em conteúdo funcional e conteúdo ideológico. A classifica-ção proposta, então, é como que validada pelo seu contrário, isto é, há sempre a necessida-de de um, para citar um termo psicanalítico, "ambiente facilitador"39 para que a normaconstitucional se concretize na realidade, contudo, há casos em que, para que isso aconte-
37 The American Political Science Review, v. 56,n. 4 (Dec. 1962),pp. 853-864.A mesma classificação foi rati-ficada no artigo Constitución, in Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 2007,pp. 13-27.
38 Marcelo NEVES, A constitucionalização simbólica, op. cit., p. 109.39 Quem criou e trabalhou com esse termo foi o psicanalista inglês Donald W. WINNICOTT, termo esse que,
no comentário autorizado de Conceição A. Serralha de ARAÚJO, assim se expõe: "ambiente facilitador.referente às condições físicas e psicológicas que favorecem esse desenvolvimento (desenvolvimento globaldo indivíduo)", O ambiente em Winnicott, Winnicott E-Prints, v. 4, n. 2005,pp. 21-34(40).Como conse-qüência do transporte desse conceito da psicanálise para a teoria constitucional, pode-se considerar aConstituição como a "mãe ambiente, que são as condições psicológicas de sustentação (holding) no tempoe no espaço, de manejo (handling) e de possibilidade de contato adequado com a realidade, oferecidas pelapessoa cuidadora do indivíduo, em geral, a mãe", idem, p. 39, com a mudança de "condições psicológicas"para "condições políticas e jurídicas".
82
1,'1, 11111,'a imposieJio da mudança do respectivo tcxto, seja porque' a "ideologia" que nortcou"I"'""'sso constituinte já não mais existe ou ao menos não se impõe como das mais impor111111'''"s.'ja porque no tempo presente há inumeráveis tipos de ideologias a se esgrimir (' a," IJ'," "'l'onhccimento constitucional, esta que parece ser a real luta por reconhecimento.
11;','Iqui, já, uma possibilidade de identificação do ambiente facilitador com o con11'11" ti., democracia. Mesmo WINNICOTT se aventurou a fornecer um conceito det1''I'"11r;lcia, ligado, este também, à sua teoria sobre o ambiente facilitador. No artigo''''"1'' 'f'IlOlI~hts on the Meaning ofthe Word 'Democracy'40 WINNICOTT se aventur:J,I!tI , "lltlie;ão de psicanalista, a contribuir com idéias sobre democracia, o que, para ele,11'11111v.'r, necessariamente, com o amadurecimento da sociedade, maturidade que é atin"101",!''''ndo não há interferência do exterior sobre o que ele denomina de ordinary good1I1'11"',' .' I raduzido pela linguagem psicanalítica como lares suficientemente bons, que sãoIIll'wl,'s capazes de gerar o fator democrático nato, e é essa não interferência que promo-VI'11 tI"lIlocracia, pois deixa às famílias a possibilidade de estabelecerem relações adequa-II,,~,','i re os pais e os filhos.
Na passagem de um conceito de democracia que privilegia o espaço privado a um que1111,,,1''''ênfase no espaço público, movimento esse muito mais de complementaridade e1111111"menos de exclusão de um pelo outro, vem à tona a idéia de SARTORI, para quem,1111111,1revisão da teoria democrática, democracia é representada pelo respeito da majority111/,' Il('los minority rights.41
Ila análise conjunta dessas duas conceituações pode-se afirmar que uma depende da11111111para se estabelecer e ter uma duração: a primeira mais centrada nas relações priva-11,,"" lia formação do cidadão com conseqüências imediatas na comunidade, e a segunda1111Ifi, 11 LI às relações de natureza pública com conseqüências mais imediatas na sociedade.1\ I" Iltll'ira tem a ver com o grau de informação daqueles que compõem o corpo eleitoral"IH'IIIIIICos quais aquele que decide é responsável; a segunda diz já com a luta pelo reco-Ultl" 'lIllento de direitos e garantias a ser travada nas arenas política e jurídica. E é nessel!lldo I.,órico que a relevância da Constituição vai se manifestar, servindo ela de parâme-11" II aIuação dos sistemas jurídico e político.
!\ necessidade de se operar a descrição atualizada dos eventos que informam a'1I\111.1I)~·a do texto constitucional é tão mais forte quanto mais se pense em que se deva evi-1111ti que SARTORI denomina de retrodicção,42 que é a aplicação da idéia de Constitucio-1111111"'10a Roma e a Grécia, o que inevitavelmente projeta um padrão moderno de referên-IltI " 11mmundo muito diferente e distante, ou, em palavras mais atuais, menos complexo.
N.lo se trata de desprezar as concepções clássicas a respeito de Constituição, mas simIh, d,'snevê-Ias e apontar suas deficiências se aplicadas à sociedade moderna. DieterIIIt IMM, no artigo de nome Il futuro della costituzione,43 traça um quadro pessimista sobre
~II I'o,,:,ld W. WINNICOTT, in Home is where we start from, London, Penguin Books, 1986,pp. 239-259.41 I,,, Ivanni SARTORI, Democracia, in Elementos de Teoria Política, op. cit., p. 54.~~ I ,'(lvJnni SARTORI, Comments on Maddox, The American Political Science Review, v. 78, n. 02 (Jun.
1')H,t),pp. 497-499(499)./u 11Futuro della costituzione, Gustavo ZAGREBELSKY, Pier Paolo PORTINARO e Jorg LUTHER (a cura01,), "p. cit., pp. 129-163.
LI capacidade regulatória da Constituição, e isso porque, segundo afirma, o progresso técni-co-científico gera medo do futuro e produz o direito humano à segurança, o que impõe aoEstado criar mecanismos de prevenção, antes que de comando e coerção, e que se manifes-tam indiretamente, tal corno o dinheiro, utilizado em penas pecuniárias e tributos.
No Brasil a Constituição, então, tem que manejar dois conceitos de direito humanoà segurança, seja aquele relacionado à segurança contra o risco causado pelas aceleradasinovações tecnológicas, seja aquele referente à segurança pública, de vez que nem mesmoeste direito cronologicamente anterior foi assegurado, ainda, ao povo.
Na desincumbência dessas tarefas o Supremo Tribunal Federal parece se sentir maisà vontade quando decide sobre direitos individuais, mesmo quando em jogo aquelesameaçados pelo risco, e daí a aplicação ou não de princípios corno o da precaução e o daprevenção. Já no que diz com os direitos sociais, cuja decisão, quase sempre, tem que des-prezar a aplicação do clássico programa condicional que informa o jurídico, para se apli-car o programa de fins caracteristicamente atinente ao político, há dificuldades de todaordem, especialmente aquela representada pela multiplicidade de possibilidades de deci-são e seu não enquadramento automático no esquema condicional se/então. O problemaparece estar mesmo é na especialização funcional dos sistemas, ainda que se deseje a rea-lização do contrário.
A diminuição da capacidade regulatória da Constituição é causada, então, pela manu-tenção de seu texto por assim dizer "clássico", onde se positivam normas de organizaçãodo Estado e de direitos fundamentais, numa sociedade que já não é mais aquela em que omodelo ou padrão do mesmo texto foi criado. E se nas sociedades centrais da modernida-de o fosso entre texto e realidade já se mostra extenso, maior ainda é ele nas sociedadessemi-periféricas, o que produz o comprometimento de urna relevância talvez numa gra-dação elevada do texto constitucional para a própria sociedade.
A distância entre texto e realidade tanto mais aumenta quanto mais se pense na ace-leração do tempo social e dos eventos que se materializam na sociedade, dos quais são for-tes exemplos as questões previdenciárias, ecológicas e de saúde, as quais, ainda que discu-tidas, votadas e positivadas na Constituição, quando não apreciadas pelo simples fato denelas não se pensar à época da elaboração do respectivo texto porque elas então não exis-tiam, não são passíveis de aferição e controle por qualquer instituição, seja peloParlamento, seja pelo Supremo Tribunal Federal. Falta, para tanto, base teórica e empíri-ca, e sobra incerteza. Texto e realidade, então, separam-se, na sociedade moderna e refle-xiva, pela temporalização do tempo (passado presente e presente futuro, v.g., súmula vin-culante e casos jurídicos previdenciários).
Esse evento, todavia, não torna a Constituição, corno que num eterno retorno à con-cepção de LASSALLE, um mero pedaço de papel, pois se é certo que a sua relevância comoinstituição possibilitadora da ordem social sofre diminuição em grau, ela não desaparecepor completo, posto que na quase maioria dos temas sensíveis à sociedade seu texto é invo-cado, seja na forma de norma-parâmetro para se aferir a adequação do ordenamento infra-constitucional a ele, texto constitucional, seja na forma de norma-parâmetro a ser emen-dada pelo procedimento autologicamente estabelecido nele mesmo, texto constitucional.
Daí não se poder considerá-la, apenas, corno forma de organização da polis, pois quesuas normas positivam muito além de urna singela compreensão segundo a qual deve-se
84
IIII\'llIlldr () poder e prolegl'r (IN din'ilos fundamenlais; deve-se, demais disso, posilivar1I111111.1Sque Llssegurem, publicallll'lIll.', () processo de deliberação a ser levado a cabo tanlO1"11111';trLlll1ento quanto pelo Tribunal Constitucional.
( ls procedimentos de deliberação existentes na política e no direito são distintos1111111'',I. No Parlamento o fato de as proposições passarem pelo crivo das comissões e pelas111111''' ,11'ti iscussão e votação costumam prover as matérias de um acréscimo de sentido, ()'1111''li' II,nete na emissão e sopeso de visões de mundo em número maior do que a presen-1II li .. dl'liberação levada a cabo quando das decisões emitidas pelo Supremo Tribunal1'1'111'1,ti. ~I(é porque é na instituição política que se fazem presentes as ideologias existen-IIHIli .. ';II('iedade, enquanto que na Corte Constitucional se opera urna verdadeira reduç50,111',11I11l(lde incidência dessas mesmas ideologias. O resultado a ser obtido nesses proce-,IIIII"lIlllSé a produção de consensos e dissensos fortes na política e de consensos e dissen_"" 11,!lIIS no jurídico, a despeito de se denominar a este último de exercício de urna racio-111,1111.1.1('argumentativa, ainda que levado a efeito em audiência pública.
A distinção torna corpo se se pensar em que no político a deliberação é tornada sem1",,,1'"111 L'struturas de repetição, enquanto que no jurídico as estruturas de repetição mar-, 11111',lId história. Talvez as decisões produzidas no jurídico sejam mais consistentes exata-111'''11''Ilelo fato da presença da redundância. Temporalmente há economia de tempo no11111.11111,contudo, deliberações tornadas com base em eventual precedente representado11111'1"li mula vinculante tendem a empobrecer a racionalidade do próprio processo de deli-''''111\,111,quando então nem mais as ideologias que já sofreram um reducionismo em suaItllllltI,'SI:lção far-se-iam presentes, o que já foi afirmado pelo fustice Stevens quando da,Itll 1111111proferida no caso jurídico sobre a injeção letal corno método de execução de pena,I,. 111,1I'lereferente à lei do Estado do Kentucky.44
A relevância do texto constitucional, no quadro aqui desenhado, tem a ver com as, ttlldll,úes de possibilidade do cumprimento de sua função, e a consideração que se vaiIlIfl'l ;1respeito dessa mesma relevância depende da perspectiva adotada pelo observadorII tllI que ele compreende por função. Segundo Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO a1:011,,1iluição possui dez funções.45 Já para LUHMANN a Constituição é o acoplamento11_1111'11 ral entre os sistemas jurídico e político e nessa condiçã046 o que faz é apenas incre-1111'111:11'as comunicações entre esses mesmos sistemas.
A depender de qual descrição se adotar a Constituição continuará ou não a ter rele-VAIIII;1. Na concepção de LUHMANN há pouco espaço para que se confira capacidadeIv""laIÓria ao texto constitucional na sociedade mundial, e isso mesmo a despeito de se1.'111111'normatizar formatos de estados, em particular o Estado de Bem-Estar Social. A radi-t "lldade de sua concepção parece produzir mesmo efeitos na interpretação constitucional,11"1'JI'I não deveria mais possuir princípios próprios e distintos da interpretação do ordena-1111'1110infra-constitucional. Essa concepção pode até ter algum eco na sociologia, mas na11"1\111;'11ica constitucional sua utilidade é igual a zero, pois é a própria defesa do texto cons-
-
H 11",.(' v. Rees, 553U. S. (2008), p. 8 de seu voto.~~ M;lIloel Gonçalves FERREIRA FILHO, Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo, op. cit., p. 64.411 N1klas LUHMANN, EI Derecho de la Sociedad, Universidad Iberoamericana, México, 2002,pp. 540-541.
85
titucional que impõe interpretar-se a Constituição lançando-se mão de técnicas _próprias,E a defesa do texto constitucional, de sua vez, prova sua resiliência e sua relevâncIa, e podeser alçada à condi tio sine qua do funcionamento do sistema jurídico, o que engloba tudoo que vem de ser escrito neste ensaio,
FERREIRA FILHO faz mero trabalho de citação do que escreve CANOTILHO, e sepeca pela falta de originalidade, é absolvido pela repetição de háb~to ,que toma con:a d~teoria constitucional brasileira, O argumento pelo qual se atnbUI tant~s funçoe~ aConstituição traz consigo enorme carga de risco de que ela mes~a não consIga c~mpnr ,otelas embutido nesse ainda finalístico conceito de função, MaIs adequado, entao, senaconferir-se a ela a protagonização de alguns papéis, talvez os mais complexos, a ser desem-penhada nas denominadas questões constitucionais par excellence,
VI. Conclusão
Se há um excepcionalismo norte-americano, pode-se afirmar que há, ta~bém, umaespecificidade brasileira, representada pela existência si~ultânea ~a modermd,ade ,e dabarbárie, da civilização e da não civilização, da autopOlese dos SIstemas fun:lOnals dasociedade e da alopoiese desses mesmos sistemas e qu: faz ~om qu: ~ conclusao de todotrabalho que se pretenda científico dedique algumas lmhas a descnçao ~o que o~o~re nopaís, o que, se por um lado produz o enfraquecimento de um suposto carater, heunstI~o dequalquer esboço de pensamento, por outro ressalta a possibilida~e ~e ,~qUI f~ze,r vmgarpadrões civilizatórios já testados em outros lugares ou mesmo de cna~ I.delas pr~pnas a res-peito de problemas próprios. Daí a análise de alguns casos )UndlCOs deCldldos pelo
Supremo Tribunal Federal. . . ,O mundo vive o que se convenciona denominar de democraCla qualIflcada,. pela qual
os direitos humanos são ligados à separação de poderes, fórmu la bast~nte slII~ples deHOFFE47 e que, no Brasil, ainda não se manifestou por completo ..Isso eq~IVale a dIzer ~ueas estruturas sociais ainda não se adequaram à idéia de modermdade VIgente no,s p,als:scentrais, O desrespeito à dignidade humana representado pelos .al~os índices d: vlOlenClae pobreza e a atual luta de setores da excludente sociedade hrd~l~elra contra a lI~plen:en-I'ação de políticas de inclusão não-universalistas refletem a dificuldade de se mtroJetarllludanças na auto-reprodução histórico-social. . .
A política, de sua vez, fecha-se em uma espécie d<' autismo e faz de seu cotidIano. aI'('produção de práticas pouco modernas, comunicando sp, quando ISSOac_ontece, por melO
I. 'd I Resta o )'urídico como desaguadouro (k todas as frustraçoes causadas pelaI ( escan a os. d' .,oncretização da política pequena. Esse quadro t<llv('J'.seja [(·nexo do processo e mstIt~-
I· _ 'nda na-o acabado e no qual os pal)(·is !ll'otagol1lJ'.ados por esse ou outro SlS-I' IOlla Izaçao aI ' , .1('llIa ainda estejam em acomodação, o polit i('o aind;1 1('~;lIldn tempo para funclOnar maISdI' ,wmdo com o que preceitua a Constitlli~'ào (' o lurldl('o ,llnda procurando saber quem
"I" I'rúprio é e quais as suas funções.
I1 , 1'1'....1 IIOFFE, A Democracia no Mundo ti<- t1,'1",M,,,1111,,1:."01"';,SI', 2005.
"li
N,'1Il seria lllJis o caso dl' SI' Illdll),:ar a I'l'spl'ito de uma suposta forc,:a rcvolucionúri"oi" ( IIl1stituic,:ào,se teria ela capacidade para mudar estruturas sociais existentes ao I'empod,> ,.11;1 prol11ulgação,48 de vez que a brasileira faz aniversário de vinte anos. A l11udal1~'a01''''',,1',Ilu'Sl11asestruturas parece depender de um outro tipo de ação, ou ao menos de Ullla,1',,111Illl('grada, e não isolada, e que parta das instituições da sociedade. Como bem se podl'1"'1' "1,,,1',o dilema leva à escolha sobre qual conceito de Constituição deve preponderar:,,,' 1'"111Iativo-jurisdicional, delegando-se bastante poder ao juiz constitucional, ou se ins-111100IIIllal-política, com ênfase nas normas constitucionais não escritas e que orientam, por, "'00'1,10, o funcionamento do Parlamento.49 Por ora, no aniversário dos vinte anos dnI •'1",1illlição brasileira, prevalece a primeira, desenhando-se um quadro, ainda incipiente.d,' 1"I:islação pelos onze, o que pode se constituir, no longo prazo, em supressão do pro·, "','.0' oi" deliberação política pelo processo de deliberação jurídica, racionalização essa bas1'"11.·qllestionável, desde que se pense, no caso do direito individual, na apropriação inde\ 111." 1)('10 juiz constitucional, da realidade e não a sua subsunção à norma, mas o contrá-1111,",")Vertendo-se método clássico de interpretação do direito, v.g., a Súmula vinculan-I<' .I,IS a Igemas, e no caso do direito social, na insuficiência metodológico-interpretativa do1"lIprio cânone representado pela dupla se/então, forçando o intérprete constitucional a1'"1<,,11'mão de critérios de justiça, sem se saber, ao certo, qual(is) conteúdo(s) deve(m)1"""IIl'her essa forma.
":m estudo feito sobre a alocação do poder de decisão, se deferido diretamente ao1'11\'11(democracia direta), a representantes responsáveis perante o eleitorado (chamados1,,,111(('os) ou a representantes não responsáveis perante o eleitorado (juízes), MASKIN e11I{( )LE50 chegaram à conclusão de que a não responsabilidade é mais desejável quando o.,I"llmado é mal informado sobre a ação ótima das instituições (ambiente não facilitador),,01. '111do que a discricionariedade dos representantes não responsáveis deveria ser maisI"ooítada do que a dos responsáveis e que a não responsabilidade é preferível quando as1'IO'Ii.·rênciasda maioria devem infligir grandes e negativas externalidades sobre a minoriaI. IIlIceito revisitado de democracia).
A primeira conclusão, se aplicada no contexto nacional, permite a dedução de que o~IOIpremoTribunal Federal deve continuar a exercer seu poder na linha do que vem fazen-.111, isto é, decidindo com a marca da inovação geral e vinculante, sendo, portanto, ativoI'IOlicialmente, desde que se tome como parâmetro de comparação a desinformação que.lIll<laimpera na sociedade brasileira, ação essa que, de sua vez, também tem que ter limi-I.,s. sob pena de se comprometer a própria democracia, limites esses que devem ser cons-1111ídos ao longo do tempo de amadurecimento das próprias instituições e que pode ter na•I,11Itrinadas questões políticas um sinal adequado; a última conclusão diz com a função de
IH O mesmo pensa Paul BASTID. L'idée de constitution, Economica, Paris. 1985.p. 184.1'1 Sobre as duas concepções. ver Olivier BEAUD. Constitution et Droit Constitutionnel, in Dictionnaire de la
culture juridique, Denis ALLAND e Stéphane RIALS (org.), Puf. Paris, 2003.pp. 257-266.',11 Eric MASKIN e Jean TlROLE, The Politician and the Judge: Accountability in Govemment. The American
Political Science Review, v. 94.n. 4 (Sep. 2004).pp. 1034-1054(1049-1050).
87
garantia da Corte Constitucional, mais ligada à preservação das liberdlldes dússicas ciosmodernos, e que é mais aceita pela comunidade onde se travam os cleball's.
O aperfeiçoamento desses processos de institucionalização rumo a um ótimo desem-penho depende, dentre outras condicionantes, da capacidade de apr:nd~zage~ do~ sist~-mas político e jurídico: do primeiro se espera uma atuação mais constItuclOnal, Isto e, ma~sde acordo com as regras dos jogos democráticos que se encontram plasmados no respectI-vo texto; do jurídico se espera uma atuação menos suplementar e mais complementar à ati-vidade política, portanto, que ambos sejam cognitivamente abertos, tudo na consecução dese preservar a própria democracia. .. .
Em suma, o sistema político estabelece uma relação com o jurídIco, e se o pnmeuoapresenta falhas em seu funcionamento, o segundo entra em cena ~e~t~ndo co~sertar ~sações ou as omissões inconstitucionais: o limite fica por conta da prOlblçao de legIslar, pOlSse a lei tem caráter geral é porque ela deve ser feita pelo Parlamento; se pela CorteConstitucional, perde sua principal característica imanente que é a generalidade, de vezque ela, a generalidade, não consegue ser refletida em decisão onde se manifesta uma nãogeneralidade, mas sim parciais visões de mundo, em geral de .viés mor~lizador. Es~a rela-ção, sendo diretamente proporcional e normativa, é que permIte o s~rglmento de sl~t~masheterárquicos, tudo propiciado pela Constituição, ainda hoje e por ISSOmesmo, reslhentee relevante à sociedade.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, Conceição A. Serralha. O ambiente em Winnicott. Winnicott E-Prints. v. 4, n.1: 21-34, 2005.
BASTID, Paul. L'idée de constitution. Paris: Economica, 1985.BEAUD, Olivier. Constitution et Droit Constitutionnel. In: ALLAND, Denis; RIALS,
Stéphane (org.). Dictionnaire de la culture juridique. Paris: Puf, pp. 2~7-266, 200~ ..BOLINGBROKE, Visconde, Henry St. John. A Dissertation Upon Partles. In: Pollt1cal
Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.CALVINO, !talo. O mundo é uma alcachofra. In: Por que ler os clássicos. SP: Companhia
das Letras, 2002.CORWIN, Edward S. The Constitution as Instrument and as Symbol. The American
Polítical Science Review, v. 30, n. 6: 1071-1085, Dec. 1936.FALLON JR., Richard H. Judicially Manageable Standards and Constitutional Meaning.
Harvard Law Review. v. 119: 1274-1332 (1283), 2006.FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional contemporâ-
neo. SP: Saraiva, 2003.FlORA VANTI, Maurizio. Costituzione. Bologna: IlMulino, 1999.FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Obras Completas, v. XXI. RJ: Imago, 1996.GOMES DA SILVA, Paulo Thadeu. Questões políticas. Tese de doutorado, SP: Pontifícia
Universidade Católica, 2005.HOFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. SP: Martins Fontes, 2005.
88
--.----.~~_~~~ ~~.n.".n
111 IIMI':S. SIl'phl'll. Prl'COIll111itllll'lll al1d IIH' par<ldox of democracy. In: ELSTEH, 1011;:d ./\( ;STA I), Hunl' (ed.). ConsliWI ;ollilli,mJ and Democracy. Cambridge: Cambridgl'1IIIIv"lsily l'rl'ss, 1993.
"~III-:I:, 1\('('lIan D. The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism". Cali{'orn;"1 ,111 U('v;('w, v. 92: 1441-1477,2004.
1\, li II'MANS, 'rim. Courts and Political Institutions. Cambridge: Cambridge UniversilyI '10".:;. ')oo:~.
'111' \V 1':NS'n:IN, Karl. Polítical Power and the Governmental Processo The University 01'I 111,:Igll. 1957.
1{,·I'I(,t'Lionson the Value of Constitutions in Our Revolutionary Age. in: ZlJHI III-:H, Arnold J. (ed.). Constitutions and Constitutional Trends since World Warr 1/,N,·w Y ork University Press, 1955.
I , 1111\l1!\NN, Niklas. Teoría política en el Estado de Bienestar. Madrid: A I ianza1IIIIv,·rsidad,1997.
1':/ / )erecho de la Sociedad, México: Universidad Iberoamericana, 2002., , ,l1M!\NN, Niklas. La costituzione come acquisizione evolutiva. In: ZAG REBELS K Y .
IoIl1;LIVO;PORTINARO, Pier Paolo; LUTHER, Jõrg (a cura di). Il futuro della coslilll""11" Torino: Einaudi, 1996.
MA:.I" N, Eric; TIROLE, Jean. The Politician and the Judge: Accountability in1 ;"V"lIllllent. The American Political Science Review, v. 94, n. 4: 1034-1054, S('p.)()O·1.
MI II.W AIN, Charles Howard. Constitutionalísm: Ancient & Modem. Ithaca: Cornell1IIlIv('rsity Press, 1947.
M( INII !\lJPT, Heinz. Verfassung I: Konstitution, Status, Leges fundamentales von derl\ 1111 k his zur Aufklarung. In: MONHAUPT, Heinz; GRIMM, Dieter. Verfassung: 2urf :r'.,iI;dJte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Berlin: Duncker & Humblol,)om.
Nlo, V I':S,Marcelo. A constitucionalização simbólíca. SP: Martins Fontes, 2007.lIAINI':,Thomas. Rights of Man. New York: Penguin Books, 1984.IIII:;NI-:H, Richard A. A Political Court. Harvard Law Review, v. 119: 31-102 (54), Nov.
)00.,
IIH A la) JR., Bento. O relativismo como contraponto. In: Erro, ilusão, loucura. SP: Editora:\.1,2004.
IMI,I lANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. RJ: Forense, 1983.I "IIT< )HI, Giovanni. Constitución. In: Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza
I<d 11(lrial, 2007.Ikmocracia. In: Elementos de Teoria Política, Madrid: Alianza Editorial, 2007.(:onstitutionalism: A Preliminary Discussion. The American Polítical Science
Ur'l';l'w, V. 56, n. 4: 853-864, Dec 1962.(:omments on Maddox. The American Polítical Science Review, v. 78, n. 02: 497-
-1')'),Jun. 1984..1 :1111MPETER, Joseph A. Capitalism, Socialísm and Democracy. New York:IlilrperPerennial, 1975.
NI'II(I I, I lerbert John. Constitution and Constitutional Government. 15ª ed., v. 16, 1993.
8<.1
STOURZH, Gerald. Constitution: Changing Meanings of lhe Tcrtll. /11: I\/\I.L, Terence;POCOCK, J. G. A. (ed.). Conceptual Change and the ConstituLion. Univcrsity Press arKansas, 1988.
TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn (ed.). The Global Expansion of Judicial Power,New York: New York University Press, 1995.
VILANOV A, Lourival. Política e Direito: relação normativa. In: Escritos jurídicos e filo-sóficos. SP: Axis Mundi, 2003.
WINNICOTT, Donald W. Some Thoughts on the Meaning ofthe Word 'Democracy'. In:Home is where we start from. London: Penguin Books, 1986.
11.A TEORIA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRA Pós-1988
90