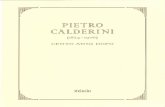Considerações sobre a Independência do Brasil e a Constituição de 1824
Transcript of Considerações sobre a Independência do Brasil e a Constituição de 1824
Considerações sobre a Independência do Brasil e a Constituição de 1824
David Gomes1
RESUMO: o presente artigo resgata duas pesquisas anteriores, realizadas,
respectivamente, como trabalho de conclusão de curso do bacharelado em direito da
UFMG e como dissertação de mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Direito da UFMG. Em seguida, apresenta projeto de pesquisa ora em curso também no
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, no nível do doutoramento. O que
une as três pesquisas é a preocupação com uma necessária releitura da Independência do
Brasil e da Constituição de 1824, bem como uma igualmente necessária investigação
dos efeitos que as leituras consagradas – e arraigadas no imaginário brasileiro – sobre
ambas produziram e têm produzido ainda hoje.
I – Considerações Iniciais
A primeira Constituição da história do Brasil como país independente data de
1824. Tendo sido dissolvida a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa em
novembro do ano anterior, coube ao Conselho de Estado, sob influência direta de Pedro
I (MELO FRANCO, 1972), redigir o texto que seria outorgado pelo imperador.
Fruto inevitável de seu contexto, à Constituição de 1824 era reservado o papel,
na linguagem da época (DECRETO, 1823), de erguer o país sob bases liberais. Todavia,
dadas a polissemia do liberalismo e a tensão entre correntes políticas distintas naqueles
primeiros anos depois da separação com Portugal, a pretensão liberal da Constituição
não se afirmava senão por meio de contradições internas e de atribuições de sentidos
normativos variáveis a seu texto.
1 Bacharel, mestre e doutorando em Direito pela UFMG.
Essas circunstâncias têm levado, ao longo dos anos, a posturas controversas
diante daquela Constituição. Para além do elogio que caracterizou todo o século XIX e
que também se pôde fazer ouvir, como menos força e freqüência, no século XX,
análises mais recentes ora caminham para seu desmerecimento e esvaziamento total de
sentido (CASTRO, 2007, p. 345-371), ora se perdem em observações e exigências
anacrônicas (BONAVIDES; ANDRADE, 2008, p. 97-118), ora, como é mais comum
acontecer, resumem sua importância à inclusão do poder moderador e aos
desdobramentos dessa inclusão.
Essas análises, em geral, retiram a Constituição do contexto jurídico, político e
social em que ela se insere para, tomando-a em abstrato, como texto descolado e visto
em simples oposição à realidade social, tecerem comentários e estabelecerem
conclusões.
Como conseqüência, aparece uma imagem distorcida não só da Constituição de
1824, mas de todo o denso e complexo período de consolidação da Independência do
Brasil e de sua organização sob uma forma jurídica moderna.
É com base nesse panorama que se encontra em curso, no âmbito do Programa
de Pós-Graduação em Direito da UFMG – Linha de Pesquisa “História, Poder e
Liberdade”, Projeto Estruturante de Pesquisa “Identidade e Reconhecimento”, Projeto
Coletivo de Pesquisa “Identidades, Reconhecimento e Novos Saberes Jurídicos” –
projeto de doutorado cujo tema-problema pode ser assim descrito: como compreender a
Constituição de 1824 reinserida em seu contexto, a partir tanto das relações que ela
estabelece com os meios jurídico, político e social, quanto das relações que ela
possibilita que sejam estabelecidas internamente a cada um desses meios?
Esse projeto, elaborado pelo autor do presente texto sob orientação do professor
Marcelo Cattoni, dá continuidade a outras duas pesquisas. A primeira delas, realizada
como trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Direito da UFMG, teve por
objetivo mapear leituras acerca da Independência do Brasil na historiografia em geral e
mais especificamente na historiografia do Direito. A partir desse mapeamento, foi
possível esboçar categorias de análises e problemas para investigações futuras.
A segunda dessas duas pesquisas, por sua vez, procurou desdobrar um dos
problemas levantados naquela primeira investigação. Realizada também no Programa de
Pós-Graduação em Direito da UFMG, no nível do mestrado, seu objetivo foi oferecer
uma crítica a interpretações correntes e consagradas da Independência brasileira,
buscando mostrar que ela representou bem mais do que uma mera continuidade na linha
de dominação antes exercida pela metrópole portuguesa e que esse processo de
separação jurídico-política contou com um número e com uma diversidade de atores e
de circunstâncias bem diferentes do que costuma ser relatado sobre o período. Por
conseguinte, o argumento central dessa segunda investigação foi no sentido de que a
Independência do Brasil deve ser tomada como momento de passagem do país à
modernidade jurídico-política, com todas as tensões envolvidas em qualquer momento
de passagem. Essa argumentação foi inserida num quadro mais amplo de reflexão
histórico-filosófica interessado em questionar o papel e os efeitos de certa filosofia da
história subjacente às leituras sobre a Independência do Brasil mais arraigadas no
imaginário social contemporâneo.
O objetivo do presente artigo é apresentar o modo como se pretende desenvolver
o projeto de doutorado ora em curso como desdobramento dessas duas pesquisas
anteriores. Tal apresentação pública de uma pesquisa ainda em curso e apenas em seus
passos iniciais não tem outro objetivo senão o de se abrir a críticas e convidar ao
diálogo.
II – Hipótese e Objetivos
A hipótese de pesquisa que se almeja demonstrar como tese possui um caráter
aparentemente tautológico: a Constituição constitui. Desdobrada, o que essa
hipótese/tese pretende afirmar é que a Constituição de 1824 representa o marco
inaugural da constitucionalização do Brasil, no sentido moderno do termo. Por um lado,
ela expressa, ainda que não exaustivamente, tensões jurídicas, políticas e sociais
relevantes ao tempo de sua elaboração, procurando organizar normativamente os
campos do direito, da política e também da sociedade. Por outro, tendo-a por
fundamento, surgem novas relações e práticas jurídicas, políticas e sociais, ao passo que
antigas relações e práticas têm seu sentido reconstruído a partir do referencial
interpretativo oferecido por ela.
Por conseguinte, e em uma perspectiva circular típica da relação entre os vários
elementos que compõem um projeto de pesquisa devidamente articulado, o objetivo
geral que se coloca é exatamente demonstrar que a Constituição de 1824 representa o
marco inaugural da constitucionalização, em um sentido moderno, do Brasil, ao
procurar organizar normativamente o campo do direito, da política e da sociedade e ao
possibilitar tanto o surgimento de novas relações e práticas jurídicas, políticas e sociais,
quanto a reconstrução, à sua luz, do sentido de antigas relações e antigas práticas.
Os objetivos específicos, isto é, os passos necessários para que se alcance esse
objetivo geral, podem ser assim elencados:
Analisar o debate em torno do conceito de Constituição desde a Revolução
do Porto e de seus desdobramentos no Brasil até o fim do primeiro reinado.
Analisar os debates parlamentares da Assembléia Geral Constituinte e
Legislativa do Império do Brasil.
Analisar o anteprojeto de Constituição elaborado e parcialmente discutido na
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil.
Analisar o texto constitucional de 1824.
Analisar as relações entre os poderes de 1824 até 1831.
Analisar debates parlamentares proferidos e petições populares levadas ao
poder legislativo entre 1824 e 1831.
Analisar problemas levados e argumentos levantados por indivíduos perante
o poder judiciário entre 1824 e 1831.
Analisar proclamações, decretos e demais atos normativos dos poderes
executivo e moderador entre 1824 e 1831, bem como petições populares
eventualmente levadas a esses poderes.
Analisar a literatura jurídica entre 1824 e 1831.
III – Justificativas e Referências Teóricas
Embora muito provavelmente seja o tema mais estudado da historiografia
brasileira (MALERBA, 2004, p. 60), a Independência do Brasil está longe de ser um
assunto encerrado. A história dos estudos e textos que a tomam por objeto remonta aos
anos imediatamente posteriores a 1822, quando testemunhas vivas do que havia
acontecido procuravam perpetuar a imagem daqueles fatos em relatos mais ou menos
objetivos, mais ou menos pessoais.
Alguns anos mais tarde, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
em 1838, representaria uma guinada importante nas pesquisas que sobre ela versavam.
Tendo como uma de suas principais motivações a politização da história que tivera
lugar no contexto da Independência e nos anos subsequentes a ela, faria parte de seus
objetivos oferecer um espaço institucional adequado para que se pudesse pensar e
escrever uma história nacional genuinamente brasileira e assentada em um campo de
experiência tipicamente moderno (PIMENTA; ARAÚJO, 2009, p. 135).
Dentro desse quadro, a necessidade de escrita de uma história da Independência,
distinta dos relatos fincados predominantemente na memória pessoal dos autores,
ganharia destaque, daí resultando aquela que se tornaria a obra clássica do século XIX
sobre aquele período: a “História da Independência do Brasil – até o reconhecimento
pela antiga metrópole, compreendendo, separadamente, a dos sucessos ocorridos em
algumas províncias até essa data”, de Francisco de Adolfo Varnhagen (1957).
Desde então, foram inúmeras as obras que se debruçaram sobre o processo que
culminou na separação jurídico-política entre Brasil e Portugal (COSTA, 2005;
MALERBA, 2006b), obras escritas por autores pertencentes a épocas diversas, apoiados
em concepções diferentes da história e em diferentes métodos da prática historiográfica.
Uma constante, porém, que perpassa toda essa larga e plural produção é o seu teor
político.
Michel Foucault, aos estudar os empreendimentos narrativos feitos a partir do
século XVI na França, em relação a seu passado e a suas origens, buscaria entendê-los
como uma lição de direito público. Como uma tal lição, essas narrativas, ao contarem o
passado e contarem sobre o passado, contariam, ao mesmo tempo, o que deveria ser o
direito e a quem caberia o exercício do poder (FOUCAULT, 2005).
Se no Brasil da fundação do Instituto Histórico e Geográfico ficava mais claro
esse papel atribuído à narrativa histórica, isso não deixou de ser igualmente verdadeiro
desde aquela época até os dias de hoje. Como qualquer fundação política, a
Independência brasileira continua a despertar interesses que vão além da mera erudição
que pode ser propiciada pela história. Também aqui, tanto antes como hoje, escrever
sobre a Independência, contar o passado e contar sobre o passado, envolve
inevitavelmente uma lição de direito público. Em outras palavras, uma dimensão de
responsabilidade política, de fundamentação do direito e de legitimidade do poder.
Nesse sentido, duas grandes linhas de abordagem da Independência podem ser
destacadas. Conquanto não sejam as únicas, são aquelas que com mais firmeza se
colocaram e que mais adeptos conseguiram reunir a seu redor nesses quase dois séculos
desde 1822. Em primeiro lugar, a narrativa como elogio. Tendo em Varnhagen (1957)
seu principal expoente, a narrativa elogiosa dá relevo ao fato de a separação jurídico-
política entre metrópole e colônia ter acontecido sem grandes traumas, sem grandes
derramamentos de sangue, mantido unido o território continental do país graças à
intervenção providencial de Pedro, artífice maior da Independência e árbitro único, a
certa altura, dos destinos do Brasil. Dentro dessa lógica, a fórmula monárquica é que
teria sido a principal responsável pelo sucesso da fundação do novo império, sendo este
nada mais do que uma dádiva da Casa de Bragança.
Essa via de interpretação teria grande força até as primeiras décadas do século
XX, retomando algum fôlego na década de 1970, por ocasião das comemorações do
sesquicentenário da Independência. A partir, porém, principalmente da década de 1930,
outra linha de abordagem começaria a ganhar terreno. Trata-se da narrativa como
ressentimento. Ela partiria de um diagnóstico próximo àquele da narrativa como elogio:
a Independência como resultado de um arranjo entre as elites que circundavam Pedro,
com ausência de rupturas e sem participação popular. Contudo, se para a narrativa como
elogio esse diagnóstico levava a um julgamento positivo, para a narrativa como
ressentimento o juízo teria sentido contrário: é como crítica que esse juízo seria
construído, mas como crítica destrutiva, não permitindo enxergar nada de positivo a ser
resgatado da experiência representada pela Independência. Sem demonstrar qualquer
possibilidade de aprendizagem histórica com todo aquele processo, essa narrativa
preferiria lançar seu foco àquilo que não foi, assumindo um tom nostálgico e ressentido.
Iniciada com mais força em meados da década de 1930 – sem que com isso se
queiram negar outras iniciativas críticas, mais pontuais e isoladas, anteriormente a essa
data – essa segunda via interpretativa permanece forte até os dias de hoje. Entre seus
representantes, figuram nomes e obras clássicos, como Raymundo Faoro (2004) e
Sérgio Buarque de Holanda (1970b). Mas também nomes e obras mais recentes, como
Luiz Werneck Vianna (1996), Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2003), Fábio
Konder Comparato (2007), Flávia Lages de Castro (2007), José Murilo de Carvalho
(2008), Paulo Bonavides e Paes de Andrade (2008), Gilberto Bercovici (2008) e
Martônio Mont’Alverne Barreto Lima e Juraci Mourão Lopes Filho (2010). Seja nas
reflexões específicas da história do direito, seja nas reflexões da história do Brasil em
geral, o ressentimento permanece dando a tônica de variados textos, que, em que pese
diferirem uns dos outros em pontos importantes, mantêm como elo a elaboração de uma
crítica estéril que faz pouco mais do que reforçar aquilo que pretende denunciar.
Na medida em que a Constituição de 1824 é indissociável do processo de
Independência, os julgamentos da narrativa ressentida acabam sendo estendidos a ela.
Assim, é possível encontrar tanto quem a descreva aos moldes de um adorno
institucional desprovido total ou parcialmente de força normativa, na perspectiva do que
seria um “constitucionalismo ornamental” (COMPARATO, 2007) ou do que seria uma
“constitucionalização simbólica” (NEVES, 2007), quanto quem afirme não ter sequer
havido Constituição no Brasil do primeiro reinado (BONAVIDES; ANDRADE, 2008).
As implicações políticas desse modo de se entender a Independência e a
Constituição de 1824 revelam-se em distintas oportunidades, que podem ser
condensadas no argumento, frequentemente levantado, de que o povo brasileiro seria
incapaz da democracia, uma vez que teria estado ausente – como participante ativo –
dos principais acontecimentos políticos de sua própria história, a começar pelo pecado
original materializado no e pelo processo de Independência. Desse argumento central,
decorrem conseqüências como a justificação – em face da suposta imaturidade política
do povo – de uma administração pública fechada e autoritária, de uma política
institucional auto-centrada e de um poder judiciário que se pretende, mais do que o
guardião, o substituto da cidadania.
É em face dessas circunstâncias e dos efeitos produzidos por uma crítica estéril e
por uma narrativa carregada de ressentimento que se justifica voltar uma vez mais à
Independência do Brasil e à sua primeira Constituição. Afinal, para além da narrativa
como elogio e da narrativa como ressentimento, novos estudos têm oferecido outras
possibilidades de compreensão daquele processo.
Valendo-se de novas concepções epistemológicas e metodológicas sobre a
história e sobre a prática historiográfica, um número significativo de historiadores tem
colocado em xeque não só o julgamento negativo operado pela narrativa como
ressentimento, mas também a própria leitura dos fatos que compõem o diagnóstico
compartilhado pela narrativa como elogio e pela narrativa como ressentimento.
Alterações na experimentação do tempo em direção a uma vivência temporal
tipicamente moderna (ARAÚJO, 2008), participação dos negros nas lutas da Bahia e
construção por parte deles de uma expectativa e de um sentido diferentes para o
processo de Independência (RIBEIRO; PEREIRA, 2009), presença ativa de grupos
distintos das elites na construção da incipiente esfera pública brasileira de início do
século XIX (MOREL, 2005): essas são apenas algumas das muitas revisões pelas quais
têm passado os próprios fatos que formam em seu conjunto o processo de separação
entre Brasil e Portugal. Tais revisões, se não negam por completo muito daquilo que
leituras correntes – como elogio ou como ressentimento – apresentam sobre o período,
permitem ao menos afirmar que essas leituras correntes são insuficientes diante da
complexidade dos acontecimentos que tiveram lugar na década de 1820 brasileira
(MOREL, 2005).
Sem permanecerem atadas à crítica estéril do ressentimento, e também sem
retornarem ao ufanismo ingênuo do elogio, o que essas revisões permitem é um olhar
sobre a Independência que a tome como possibilidade de aprendizagem, enxergando em
seu processo pontos positivos e negativos que, juntos, ajudam a que se compreenda
melhor a história do Brasil naquele momento, antes dele e desde então.
Assim abordada, a Independência se pode despir de boa parte dos rótulos e
caricaturas que costumam acompanhá-la, resultando daí que ela não mais se preste a
base de apoio para que se fale de uma incapacidade democrática ou de uma imaturidade
política do povo: ao contrário, passa-se a ter caminho aberto para que se compreenda o
processo da Independência como momento importante de aprendizagem política desse
povo, uma aprendizagem que nunca se completa, nunca se exaure, e que, ao apontar
para uma democracia por-vir, aponta irremediavelmente, ao mesmo tempo, para uma
democracia sem espera (CATTONI, 2011c). É, pois, a contribuição da Independência e
da Constituição de 1824 para a construção – sempre incompleta e sempre aqui e agora –
do Estado Democrático de Direito no Brasil que se encontra em pauta no presente
projeto de doutoramento: um estudo da Constituição de 1824 que, em renovadas bases
teóricas e contrariamente à negativa de normatividade implícita já a priori em qualquer
ideia de um “constitucionalismo ornamental” ou de uma “constitucionalização
simbólica”, procure entender o que ela, como Constituição, constitui.
Do ponto de vista da teoria da história, da epistemologia da história e
metodologia da história, três pilares sustentam este projeto. Em primeiro lugar, podem
ser citadas as reflexões que Paul Ricoeur tece na segunda parte de sua obra dedicada ao
estudo das relações entre memória, história e esquecimento (RICOEUR, 2007).
Assumindo como pressuposto a afirmação da autonomia do conhecimento histórico em
face do fenômeno mnemônico (RICOEUR, 2007, p. 146), Ricoeur dedica-se a
investigar aquilo que para ele comporia as três fases da operação historiográfica, a
saber: a fase documental, a fase explicativa/compreensiva e a fase representativa.
Na primeira delas, tem lugar a discussão sobre o testemunho e seu arquivamento
sob a forma de prova documental (RICOEUR, 2007, p. 155-192). Na segunda, entra em
cena o debate acerca dos modos de se articularem as possíveis respostas encontradas
para aquelas perguntas levadas aos arquivos, momento em que é recusada qualquer
oposição reducionista entre explicação e compreensão (RICOEUR, 2007, p. 193-245).
Na terceira, o foco se dirige à colocação dessas possíveis respostas em uma forma
literária específica (RICOEUR, 2007, p. 247-296).
Divisão para meros efeitos de apresentação das ideias como um discurso
coerente, uma vez se tratarem na verdade de etapas metodologicamente imbricadas
umas nas outras (RICOEUR, 2007, p. 147), o que transpassa cada uma dessas fases e
todas elas em conjunto é uma reflexão profunda sobre as possibilidades e limites da
história, como ciência e como prática, em sua pretensão de verdade.
A essa rica contribuição de fundo oferecida por Paul Ricoeur vêm somar-se duas
referências mais diretamente relacionadas ao trabalho metodológico. Embora em
Reinhart Koselleck uma metodologia da história dificilmente se separe de uma teoria da
história (FERES JÚNIOR, 2009b, p. 14-15), o arcabouço mais especificamente
metodológico da Begriffsgeschichte se preocupa com a relação entre mudanças sociais,
em sentido amplo, e mudanças conceituais correspondentes entre si (KOSELLECK,
2006a, p. 97-118). Isso torna necessária, por um lado, uma análise sincrônica capaz de
mapear determinados conceitos e as relações que eles estabelecem com seus sinônimos
e seus contrários, tanto onomasiológica quanto semasiologicamente (KOSELLECK,
2006b, p. 105). Tal perspectiva sincrônica, por outro lado, é completada por uma análise
diacrônica (KOSELLECK, 2006a, p. 105) que consiga lidar com as mudanças que
acompanham aqueles conceitos, permitindo que se fale, nesse sentido próprio, de uma
história dos conceitos.
Esse modo de proceder se une ainda a uma preocupação aguda com o problema
do tempo, ou melhor, da experimentação do tempo (KOSELLECK, 2006a, p. 305-327).
Tendo como categorias formais básicas o espaço de experiência e o horizonte de
expectativa, a Begriffsgeschichte procura entender como essas duas categorias se
relacionaram em distintos períodos históricos, uma vez que cada presente histórico é
composto de seu próprio passado e de seu próprio futuro, sendo sempre dentro de uma
maneira específica de enxergar a relação entre presente, passado e futuro que as ações
humanas surgem e se desdobram.
Constituindo-se mais diretamente como uma metodologia da história, a Escola
de Cambridge, ou Enfoque Colingwoodiano (FERES JÚNIOR; JASMIN, 2006b, p. 11),
lança todas as suas atenções para a dimensão sincrônica dos acontecimentos históricos.
Sua preocupação fundamental é entender o que os homens e mulheres que escreviam
estavam fazendo ao escrever (SKINNER, 1985, p. 11). Em outras palavras, como seus
textos ganhavam sentidos concretos num contexto específico no qual se inseriam? Com
quem dialogavam esses textos, a quem provocavam, a quem respondiam, quais debates
continuavam?
Dadas essas indagações, emerge a necessidade de reconstruções contextuais
profundas, rompendo com premissas caras, por exemplo, ao âmbito da história das
ideias (FERES JÚNIOR; JASMIN, 2006b, p. 14-15): é o olhar retrospectivo que insiste
em tratar os textos como todos homogêneos e um conjunto de textos de um mesmo
autor como uma obra homogênea, pois uma abordagem que considere os autores em seu
tempo e em face das questões concretas que se lhes apresentavam é obrigada a
reconhecer que dentro de um mesmo texto há linguagens distintas (POCOCK, 2003, p.
63-82) que se contaminam reciprocamente, e na obra de um mesmo autor, seja ele um
importante filósofo ou um irregular panfletário, há linguagens diferentes e não
necessariamente coerentes entre si, uma vez que em uma mesma langue (características
de determinada língua como um todo) existem várias paroles (performances particulares
de autores particulares que compartilham uma langue) (FERES JÚNIOR; JASMIN,
2006b, p. 20).
Essas referências no campo da ciência histórica prestam-se a fornecer uma base
rigorosa para a abordagem do passado aqui pretendida, sem que se corra o risco nem de
anacronismos nem de aproximações descuidadas e demasiado pretensiosas às fontes.
Mas, para dar uma sustentação teórica adequada ao presente projeto, tais referências
precisam vir completadas com outras que digam respeito à teoria da Constituição e ao
processo de constitucionalização brasileiro.
Quanto à teoria da Constituição, Jürgen Habermas (1998a) fornece um aporte
interessante ao refletir sobre o direito à luz de sua Teoria do Discurso. Nesse sentido,
uma teoria discursiva da Constituição permite compreendê-la valendo-se da tensão,
tanto interna quanto externa, entre facticidade e validade, entre realidade e
normatividade. Esse aporte possibilita romper com leituras dualistas que operam com a
premissa de um hiato intransponível entre os fatos e as normas, leituras essa que
culminam nas já citadas posturas referentes a um “constitucionalismo ornamental” ou a
uma “constitucionalização simbólica”.
Por conseguinte, pela ótica dessa tensão entre facticidade e validade, é possível
entender a Constituição, em seu sentido moderno, como um marco inaugural que se
volta ao futuro e que é capaz de dar início a um projeto dentro do qual se pode realizar
uma aprendizagem social (HABERMAS, 2001), sem que para isso seja necessário
reduzir a Constituição a uma simples utopia social ou a um substituto para tanto
(HABERMAS, 1998a, p. 530).
Por fim, pertence a Marcelo Cattoni (2011a) o referencial teórico acerca do
processo de constitucionalização brasileiro. O intuito de realizar uma releitura desse
processo, apta a romper com visões estereotipadas, reificadas e reificantes, da história
constitucional brasileira é delineado a partir de três marcos teóricos: a desconstrução, a
filosofia crítica da história e a reconstrução (CATTONI, 2011b, p. 20-41).
Valendo-se de um diálogo crítico com esses marcos, Cattoni busca demonstrar
que as relações da constitucionalização brasileira com o tempo histórico conformam um
processo não-linear, descontínuo, mas que pode ser reconstruído como processo de lutas
por reconhecimento e de aprendizagem social com o direito, um processo sujeito a
interrupções e tropeços, mas ao mesmo tempo capaz de corrigir a si mesmo (CATTONI,
2011b, p. 41).
Ambas as fontes, tomadas de empréstimo a Habermas e Cattoni, adéquam-se à
intenção tanto de estudar a Constituição de 1824 naquilo que ela constitui quanto de
inserir esse estudo numa perspectiva de aprendizagem possível com aquele momento
histórico representado pela Independência do Brasil.
IV – Operacionalização
O foco da pesquisa será direcionado a dois pontos: a relação dos poderes entre si
e a relação entre esses poderes e os indivíduos que compunham a sociedade da época.
Estabelecer, de um lado, a organização dos poderes do Estado e, de outro, um rol de
direitos fundamentais que assegurassem um espaço de proteção aos indivíduos perante o
Estado era a função prática primordialmente atribuída às Constituições liberais de fins
do século XVIII e do século XIX, feitas as ressalvas em relação à Constituição dos
Estados Unidos de 1787. Portanto, na medida em que a Constituição de 1824 era
pretendida como uma Constituição liberal – sem entrar nas disputas em torno da
polissemia do adjetivo –, o mais adequado é buscar compreendê-la nesses moldes, sem
lhe cobrar funções que não lhe eram atribuídas em seu tempo. Isso não significa, porém,
deixar de lado uma outra função importante, sobretudo da ótica república: a função da
Constituição como uma espécie de ata do pacto social. Essa função também será
investigada, em estreita relação com a organização dos poderes e com a garantia dos
direitos fundamentais.
A pesquisa consistirá basicamente na crítica de fontes e no diálogo crítico com
autores que igualmente se tenham debruçado sobre o tema.
Quanto às fontes primárias, consistirão em periódicos e panfletos avulsos
publicados no contexto da Independência e ao longo do primeiro reinado, para a análise
tanto do debate em torno do conceito de Constituição quanto das relações entre os
poderes. Os debates parlamentares da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do
Brasil serão estudados a partir de seu diário. Para análise do anteprojeto da Assembléia
de 1823 e da Constituição de 1824 serão utilizados os próprios respectivos textos. Os
debates parlamentares e as petições populares levadas ao poder legislativo durante o
primeiro reinado serão investigados a partir dos anais tanto da Câmara dos Deputados
quanto do Senado. Ações movidas, com conteúdos diversos e perante órgãos diversos,
servirão para a pesquisa dos problemas levados e dos argumentos levantados por
indivíduos perante o poder judiciário. Quanto ao poder executivo e ao poder moderador,
suas proclamações, decretos e demais atos normativos serão o alvo das investigações,
além de arquivos em que constem eventuais documentos e petições encaminhados a
esses poderes. Para as relações entre os poderes, serão utilizadas as fontes relativas a
cada um deles em específico, além dos periódicos e dos panfletos. Por fim, livros e
revistas da época oferecerão um panorama das discussões doutrinárias que eram
realizadas.
Embora a ênfase, do ponto de vista cronológico, recaia sobre os anos de 1824 a
1831, essas datas não serão adotadas como limites absolutos de um recorte temporal,
alcançando a pesquisa pretendida tanto os anos anteriores a 1824 quanto os anos
posteriores ao fim do primeiro reinado.
V – Considerações Finais
Como colocado no início do presente artigo, seu objetivo é o de apresentar a
maneira como se pretende dar desenvolvimento a um projeto de pesquisa no âmbito do
doutorado em Direito da UFMG, apresentação essa que se justifica pela possibilidade de
abertura pública a críticas e de convite igualmente público ao diálogo. Se pesquisa e
produção de conhecimento não se faz senão a partir exatamente de críticas e de
diálogos, é na esperança de ambos que se encerra este texto.
VI – Referências Bibliográficas e Bibliografia Preliminar do Projeto de Pesquisa
VI.1 Documentos da Época
ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. Obra completa. Disponível em:
<http://www.obrabonifacio.com.br/>. Acesso em: 29/03/2012.
BONAVIDES, Paulo; AMARAL, Roberto. Textos Políticos da História do Brasil. 3a.
ed. 10v. Brasília: Senado Federal, 2002.
BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados 1826-1831. Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes>. Acesso em
04/04/2012.
BRASIL. Anais do Senado 1826-1831. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/anais/>. Acesso em 04/04/2012.
BRASIL. Atas do Segundo Conselho de Estado 1823-1834. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/ACE/ATAS2-
Segundo_Conselho_de_Estado_1822-1834.pdf>. Acesso em: 04/04/2012.
BRASIL. Diário da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil
de 1823 (1823). Brasília: Senado Federal, 1973.
CANECA, Frei Joaquim do Amor Divino. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Org.
e int. Evaldo Cabral de Mello. Coleção Formadores do Brasil. São Paulo: Ed. 34, 2001a,
p. 53-99.
DECRETO de 12 de novembro de 1823. In: BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes
de. História constitucional do Brasil. 9a. ed. Brasília: OAB, 2008, p. 557.
VI.2 Demais Textos
ALENCASTRO, Luís Felipe de (org.). Império: a corte e a modernidade. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997.
ARAÚJO, Valdei Lopes. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação
nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Aderaldo e Rothschild, 2008.
ARAÚJO, Valdei. PIMENTA, João Paulo G. História. In: FERES JÚNIOR, João (org.).
Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2009, p. 119-140.
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Trad. Fernando Dídimo Vieira. Rev. Trad. Caio
Navarro Toledo. Brasília e São Paulo: Universidade de Brasília e Ática, 1988.
ARMITAGE, John. História do Brasil desde o período da chegada da família de
Bragança em 1808 até a abdicação de D.Pedro I em 1831. Rio de Janeiro: Edições de
Ouro, 1965.
AZEVEDO, Luiz Carlos de. Introdução à história do direito. 2a. ed., rev. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
BARATA, Alexandre Mansur. Maçonaria, sociabilidade e Independência (Brasil,
1790-1822). 2000. Tese (Doutorado). Unicamp, Campinas, 2000.
BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. In: LÖWY, Michael. Walter
Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. Trad.
Wanda Nogueira Caldeira Brant, [trad. das teses] Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutz
Müller. São Paulo: Boitempo, 2005.
BERBEL, Marcia Regina. A nação como artefato: deputados do Brasil nas cortes
portuguesas (1821-1822). São Paulo: HUCITEC: FAPESP, 1999.
BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do
Constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2008.
BERNARDES, Denis Mendonça. O patriotismo constitucional: Pernambuco, 1820-
1822. 2002. Tese (Doutorado). USP, São Paulo, 2002.
BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 6a. ed.
Brasília: OAB, 2004.
CALMON, Pedro. Introdução. In: BRASIL. Diário da assembléia geral constituinte e
legislativa do império do Brasil de 1823. Brasília: Senado Federal, 1973.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro
de sombras: a política imperial. 2a. ed. Rio de Janeiro: UFRJ: Relumé Dumará, 1996.
CARVALHO, José Murilo de. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 1998.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11a. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira (orgs.).
Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009.
CASTRO, Flávia Lages de. História do direito geral e Brasil. 5a. ed., rev. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007.
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (coord.). Constitucionalismo e História
do Direito. Belo Horizonte: Pergamum, 2011a.
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Notas programáticas para uma nova
história do processo de constitucionalização brasileiro. In: CATTONI DE OLIVEIRA,
Marcelo Andrade (coord.). Constitucionalismo e História do Direito. Belo Horizonte:
Pergamum, 2011b, p. 19-59.
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Democracia sem espera e processo de
constitucionalização: uma crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição
política brasileira”. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (coord.).
Constitucionalismo e História do Direito. Belo Horizonte: Pergamum, 2011c, p. 207-
247.
COMPARATO, Fábio Konder. Prefácio. In: FAORO, Raymundo. A República
inacabada. Org. Fábio Konder Comparato. São Paulo: Globo, 2007, p. 7-24.
COSTA, Wilma Peres. A Independência na historiografia brasileira. In: JANCSÓ,
István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec: Fapesp,
2005, p. 53-118.
DERRIDA, Jacques. História da mentira: prolegômenos. Trad. Jean Briant. Estudos
Avançados, v. 10, n. 27, 1996, p. 7-39.
DIAS, Claudete Maria Miranda. O outro lado da história: o processo de independência
do Brasil, visto pelas lutas no Piauí – 1789-1850. 1999. Dissertação (Mestrado).
IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, 1999.
DIPPEL, Horst. História do Constitucionalismo Moderno: Novas Perspectivas. Trad.
António Manuel Hespanha e Cristina Nogueira da Silva. Lisboa: Fundação Calouste,
2007.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político
brasileiro. 16a. ed. São Paulo: Globo, 2004.
FAORO, Raymundo. A República inacabada. Org. Fábio Konder Comparato. São
Paulo: Globo, 2007.
FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo Gantus (org.). História dos Conceitos:
debates e perspectivas. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Loyola/IUPERJ, 2006a.
FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo Gantus (org.). História dos Conceitos:
diálogos transatlânticos. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Loyola/IUPERJ, 2007b.
FERES JÚNIOR, João (org.). Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2009a.
FERES JÚNIOR, João. Reflexões sobre o Projeto Iberconceptos. In: FERES JÚNIOR,
João (org.). Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2009b, p. 11-24.
FIORAVANTI, Maurizio. Constitución: De la antiguedad a nuestros dias. Trad. Manuel
Martinez Neira. Madrid: Trotta, 2001.
FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las
Constituciones. Trad. Manuel Martinez Neira. Madrid: Trotta, 2003.
FOUCAULT, Michel. Aula de 11 de fevereiro de 1976. In: FOUCAULT, Michel. Em
Defesa da Sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Trad. Maria Ermantina
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 135-166.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. História breve do constitucionalismo no
Brasil. 2a. ed. ampl. Curitiba: UFPR, 1970.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e
desenvolvimento do urbano. 4a. ed. 2 v. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968.
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs). O Brasil Imperial, volume I: 1808-1831.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
GIL, Antonio Carlos Amador. Projetos de Estado no Alvorecer do império: Sentinela
da Liberdade e Typhis Pernambucano – a formulação de um projeto de construção do
Estado. 1991. Dissertação (Mestrado). IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, 1991.
HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el Estado democrático de derecho en
términos de teoría del derecho. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Trotta, 1998a.
HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the other: studies in political theory. Trad.
Ciaran Cronin e Pablo de Greiff. Cambridge: The MIT Press, 1998b.
HABERMAS, Jürgen. Constitutional Democracy: a paradoxical union of contradictory
principles? Political Theory, vol. 29, n. 6, dec. 2001, p. 766-781.
HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História geral da civilização brasileira. t. 2, v 1.
São Paulo: Difel, 1970a.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. A herança colonial – sua desagregação. In:
HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História geral da civilização brasileira. t. 2, v 1.
São Paulo: Difel, 1970b.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 12a. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio,
1978.
HOMEM DE MELLO, Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello. A constituinte
perante a história. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 1996.
JANCSÓ, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec,
Unijuí, Fapesp, 2003 (Estudos Históricos, 50).
JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec:
Fapesp, 2005, p. 53-118.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos
históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-RJ, 2006a.
KOSELLECK, Reinhart. Uma resposta aos comentários sobre o Geschichtliche
Grundbegriffe. In: FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo Gantus (org.). História
dos Conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Loyola/IUPERJ,
2006b, p. 97-109.
LEAL, Aurelino. História constitucional do Brazil. Brasília: Ministério da Justiça,
1994.
LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto; FILHO, Juraci Mourão Lopes. As Origens Do
Constitucionalismo Brasileiro: O Pensamento Constitucional no Império. Anais do XIX
Encontro Nacional do CONPEDI. Fortaleza, 2010, p. 6268-6279.
LIMA, Oliveira. O movimento da independência: (1821-1822). 5a. ed. São Paulo: 1972.
LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos: a guerra dos jornalistas na independência (1821-
1823). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
LUSTOSA, Isabel. As trapaças da sorte: ensaios de história política e de história
cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
MALERBA, Jurandir. Para a história da historiografia da independência. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 165, n. 422, p. 59-85,
jan./mar. 2004.
MALERBA, Jurandir (org.). A independência brasileira: novas dimensões. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006a, p. 11-18.
MALERBA, Jurandir. Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do
Brasil (c. 1980-2002). In: MALERBA, Jurandir (org.). A independência brasileira:
novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006b, p. 19-52.
MELLO, Evaldo Cabral. A outra Independência: o federalismo pernambucano de 1817
a 1824. São Paulo: Ed. 34, 2004.
MELO FRANCO, Afonso Arinos de. O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e
em Portugal. Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1972.
MELO FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Estudos de direito constitucional. Rio de
Janeiro: Revista Forense, 1957.
MELO FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Curso de direito constitucional brasileiro.
2a. ed. Rio de Janeiro: 1968.
MIRANDA, Jorge. O constitucionalismo liberal luso-brasileiro. Lisboa: Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001.
MONTEIRO, Tobias. História do império: a elaboração da independência. Rio de
Janeiro: F. Briguiet, 1927.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e
sociabilidades na Cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
MOTA, Carlos Guilherme (org.) Viagem incompleta:a experiência brasileira.
Formação: histórias. São Paulo: SENAC, 2000.
MOTA, Carlos Guilherme. Viagem incompleta:a experiência brasileira. A grande
transição. São Paulo: SENAC, 2000.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura e
política da independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revan.: FAPERJ, 2003.
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
NOVAIS, Fernando Antônio; MOTA, Carlos Guilherme. A independência política do
Brasil. 2a. ed. São Paulo: Hucitec, 1996.
PEREIRA, Vantuil. Ao Soberano Congresso: Direitos do cidadão na formação do
Estado Imperial brasileiro (1822-1831). São Paulo: Alameda, 2010.
PIMENTA BUENO, José Antônio. Direito público brasileiro e análise da Constituição
do Império. Brasília: Senado Federal, UnB, 1978.
POCOCK, J. G. A. The Machiavellian moment: florentine political thought and the
Atlantic Republican tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.
POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: EDUSP, 2003.
POCOCK, John G. A. Conceitos e discursos: uma diferença cultural? – Comentário
sobre o paper de Melvin Richter. In: FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo Gantus
(org.). História dos Conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: PUC-
Rio/Loyola/IUPERJ, 2006, p. 83-96.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 18a. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1983.
REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Entre a Autoridade e o Poder: a Construção da
Identidade do Sujeito Constitucional pelos Órgãos de Controle de Constitucionalidade
do Brasil Império e da Primeira República dos Estados Unidos do Brasil. 2006. Tese
(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2006.
REPOLÊS, Maria Fernanda. A identidade do sujeito constitucional no Brasil: uma visita
aos seus pressupostos histórico-teoréticos na passagem do Império para a República, da
perspectiva da forma de atuação do guardião máximo da Constituição. Revista da
Faculdade Mineira de Direito, v. 10, n. 20, 2o. semestre, 2007, p. 89-102.
RIBEIRO, Gladys Sabina; PEREIRA, Vantuil. O primeiro reinado em revisão. In:
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs). O Brasil Imperial, volume I: 1808-1831.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 137-173.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. 3 v. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora
UNICAMP, 2007.
RODRIGUES, José Honório. Independência: revolução e contra-revolução. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1975.
ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional. Trad. Menelick de
Carvalho Netto. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A repercussão da revolução de 1820 no Brasil –
eventos e ideologias. Revista de História das Idéias. v. 2. 1979, p. 1-52.
SKINNER, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. Trad. Juan
José Utrilla. v. 1. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.
SKINNER, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. Trad. Juan
José Utrilla. v. 2. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
SKINNER, Quentin. Visions of politics. v. 1. Cambridge; New York: Cambridge
University Press, 2002.
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História da Independência do Brasil – até o
reconhecimento pela antiga metrópole, compreendendo, separadamente, a dos sucessos
ocorridos em algumas províncias até essa data. 3a. ed. São Paulo: Edições
Melhoramentos, 1957.
VIANNA, Luiz Werneck. Caminhos e Descaminhos da Revolução Passiva à Brasileira.
Dados, v. 39, n. 3, Rio de Janeiro, 1996.
VIANNA, Luiz Werneck. A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil. Rio
de Janeiro: Revan/IUPERJ, 1997.
VIANNA, Oliveira. O idealismo da constituição. Rio de Janeiro: Terra de Sol, 1927.
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense,
2009.