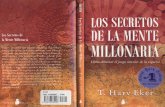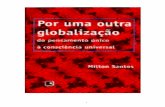CONSCIÊNCIA E MENTE
Transcript of CONSCIÊNCIA E MENTE
1
MMM EEENNNTTTEEE EEE CCCOOONNNSSSCCCIII ÊÊÊNNNCCCIII AAA
EEENNNSSSAAAIII OOOSSS DDDEEE FFFIII LLL OOOSSSOOOFFFIII AAA DDDAAA MMM EEENNNTTTEEE EEE
FFFEEENNNOOOMMM EEENNNOOOLLL OOOGGGIII AAA
André Barata
É entre a sensação e a consciência dela que se passam todas as grandes tragédias da minha vida. Bernardo Soares But maybe the problem is not with the world but with us. It’s important to notice that the existence of these explanatory gaps does not itself entail anything like dualism. The gaps, after all, could simply be gaps in our way of conceiving phenomena in the world, and not in the worldly phenomena themselves: they could all be a result of some limitations in the way we have of thinking about the world: the right way of thinking about the issues simply hasn’t yet occurred to us.
Georges Rey
7
Introdução
A colecção de ensaios que compõe este livro trata de uma
perplexidade suscitada por duas fortes convicções filosóficas. De acordo
com uma, aquilo a que as pessoas chamam ‘mente’ deveria explicar-se
por meio de acontecimentos nos nossos cérebros, seus processos
bioquímicos, biofísicos, físico-químicos, no quadro de uma dependência
natural do mental sobre o neural. Razões relativamente elementares e
pouco sofisticadas sustentam esta convicção – primeiramente, nenhuma
mente humana sobrevive à morte do corpo, do seu cérebro; depois,
muitos estados mentais deixam-se atestar numa sincrónica observação de
estados neurais que, de algum modo, lhes correspondem. A dependência
parece, pois, clara e intuitiva. Mas, já por outro lado, aquilo que toda a
gente reconhece como sendo o mundo real, exterior, ou seja, os estados
de coisas descritos pela Física, pela Química, pela Biologia, nada disso é
experimentado a não ser sob a pressuposição de uma mente que deles
faça experiência. Outras razões, tão elementares como as anteriores,
sustentam esta convicção – como só se atestam as exterioridades do
mundo real que tenham, de algum modo, sido dadas a experienciar, e
como toda a experiência a que se acede é experiência de uma mente e
para uma mente, então apenas pelo cabal esclarecimento do que seja a
experiência de uma mente se poderá esperar uma explicação para aquilo
que deveria explicar a mente. Eis a perplexidade: o explanans e o
explanandum, no que respeita ao problema mente/cérebro, estão
reciprocamente implicados num círculo de que não é fácil sair.
8
Com isto, pelo menos fica claro que há uma questão a enfrentar, a
saber – O que é a experiência mental e, em particular, a experiência
mental consciente?
Face a esta questão, a nossa principal expectativa com este livro
está em expor as condições sob as quais cremos ser possível uma
naturalização da experiência mental e, em particular, da experiência
consciente, dando, assim, continuidade aos esforços dos programas de
naturalização da intencionalidade empreendidos nas últimas décadas pela
Filosofia da Mente, e prolongados, mais recentemente, por tentativas de
naturalização da Fenomenologia. No entanto, neste âmbito, resultará,
desde logo, muito importante discernir entre aquilo a que chamamos, nas
nossas vidas mentais, mentalidade e aquilo que tomaríamos como uma
propriedade não necessária das mentes, a saber, serem providas de
consciência e, ainda, aquilo que tomaríamos como uma propriedade,
também não necessária, da consciência, a saber, a intencionalidade (Cap.
1).
Note-se, porém, que não é nossa pretensão resolver o problema
mente/corpo e explicar a vida das mentes humanas através do
conhecimento da actividade dos cérebros humanos, o que seria ir bem
para lá da esfera da filosofia. A nossa pretensão não está tanto em que
possamos resolver o problema da naturalização, problema essencialmente
científico, mas em tentar perceber sob que enquadramento as ciências
relevantes o poderão resolver. E isto corresponde razoavelmente à ideia
de uma epistemologia do problema mente/corpo. Ou seja, tratar-se-á aqui
de uma naturalização que começa por se pôr a si mesma em questão,
procurando dar um enquadramento adequado ao que deva ser entendido
por uma explicação natural do mental e, em particular, ao que se pode
esperar de uma tal explicação, que expectativas podemos nela fundar. E
no que diz respeito a essas expectativas, defenderemos que uma
explicação natural do que é da ordem do mental não pode pretender obter
o seu explanandum de forma ostensiva. Isto porque uma explicação
natural, entenda-se neurológica, da mente não pode ser mostrada – tal
significaria encontrar na perspectiva da terceira pessoa a perspectiva da
primeira pessoa, o que conduziria a absurdos evidentes (Cap.2).
9
Exposta a necessidade de formular uma moldura adequada ao
problema, e sob a presunção de que haja correlações sincrónicas entre
estados mentais e estados neurais, o que evidencia uma relação, entre o
mental e o neural, que não será de causa/efeito mas de sobreveniência
natural, sustentaremos que tal sobreveniência, apesar de natural, não
pode ser reconduzida aos casos normais de sobreveniência do biológico
sobre o químico, do molecular sobre o atómico, etc. Enquanto estes são
casos de sobreveniência inteiramente descritos na perspectiva da terceira
pessoa, envolvendo apenas uma diferença de escala de observação, já a
sobreveniência do mental sobre o neural envolve uma diferença entre o
que tem escala e o que, de todo, não tem escala, não sendo essa diferença
descritível a não ser pela contraposição da perspectiva da terceira pessoa
a uma perspectiva da primeira pessoa. Daí propormos chamar-lhe
sobreveniência especial em contraste com a sobreveniência normal,
ainda que ambas sejam naturais, isto é, explicitáveis numa mesma ordem
de coisas que é a natureza (Cap.2).
Reconhecer esta moldura explicativa do problema mente/corpo, a
título de uma epistemologia do problema, permitirá dar resposta à
suspeita, a que por vezes se dá expressão na literatura filosófica, de que
haja um mistério ou uma irresolubilidade de princípio do problema
mente/corpo. Mesmo independentemente da maior ou menor virtude de
uma resolução com base na tese da sobreveniência especial, um tal
mistério prende-se menos com as soluções que se adoptem como
respostas mais ou menos plausíveis para o problema do que com uma
forma equívoca de o conceber. Daí, haver pertinência em especificar,
consagrando-lhe importância, um problema epistemológico mente/corpo.
**
Admitindo o dualismo de perspectivas, a da primeira e a da terceira
pessoa, haveria que dar conta da sua razão de ser, o que, de acordo com
uma expectativa muito razoável, deve ser possível a partir de uma análise
das próprias condições subjectivas da experiência. Por outras palavras, a
distintividade dos objectos de experiência intencional, em contraste com
10
outras formas de experiência que apenas ostentam significação – como é
o caso dos qualia – ou mesmo experiências desprovidas de significação –
como é o caso dos sense data –, coloca-nos perante a necessidade de
proceder a uma análise caracterológica da experiência mental (Cap. 4).
Desta, resulta a distinção entre três caracteres da experiência mental, a
saber, o carácter ‘experiência’, o carácter ‘significação’ e o carácter
‘objecto’, caracteres acumuláveis apenas segundo esta ordem,
correspondendo o primeiro, no caso da percepção, à experiência dos
sense data, os dois primeiros à dos qualia, e o conjunto dos três à dos
percepta. Observe-se, contudo, que esta distinção analítica entre sense
data, qualia e percepta apenas diz respeito à percepção, devendo pois ser
possível indicar pares qualitativos destas distinções para actos de
qualidade diferente da da percepção. Donde, em termos genéricos,
afirmarmos que os percepta são um caso particular de objectos
intencionais ou de referentes, os qualia um caso particular de
significações não intencionais ou de arreferentes e, por fim, os sense
data um caso particular de experiências insignificantes ou de simples
insignificantes.
Estabelecida esta caracterologia da experiência mental, intentamos
dar dos qualia (e, generalizando, também dos seus pares qualitativos)
uma descrição, de teor fenomenológico, de alguns traços negativos (ou
seja, aquilo que podemos dizer não serem) e de alguns traços positivos
(ou seja, aquilo que podemos dizer serem). Em relação a estes,
procuraremos mostrar, nomeadamente, que os qualia se caracterizam por
uma unicidade experiencial, correspondem a propriedades da
experiência, resultam de propriedades relacionais, só são
experienciáveis nos percepta de forma indirecta, o seu esse não coincide
com o seu percipi, são dotados de objectividade.
Por fim, e de uma forma decisiva, o isolamento da experiência
desprovida de referência e de significação como uma experiência não só
privada mas, além disso, muda, conduz-nos à necessidade de dissociar,
analiticamente, o problema da experiência do da consciência – aquele
não supõe este, uma vez que a experiência insignificante – i.e, a pura
experiência dos sense data e seus pares qualitativos – é uma experiência
11
mental sem consciência. Este ponto é decisivo por pelo menos duas
ordens de razão.
Primeiramente, porque obriga a aceitar uma clara demarcação entre
mente e mente consciente: Analogamente à naturalização da
intencionalidade, que anula a pretensão de que a intencionalidade seja
uma propriedade exclusiva das mentes conscientes, com a ideia de uma
naturalização da experiência, o nosso propósito é esclarecer que a
pretensão de que a experiência mental seja necessariamente experiência
consciente é uma pretensão fundamentalmente errada. Não é essencial às
mentes humanas serem conscientes, ainda que seja a consciência o que
mais as distingue. Em tese, sustentamos que a experiência sensorial não
é, por si mesma, nunca experiência consciente, nem, muito menos,
intencional. Se dela temos consciência é apenas, desde pelo menos as
Investigações Lógicas de Husserl, através de uma abstracção de
percepções. Mas, bem vistas as coisas, nem assim acedemos
conscientemente aos sense data. Há acesso experiencial, sempre houve,
antes, durante e depois da percepção, mas acesso que não é consciente.
Ora, admitindo-se que há experiência mental não consciente, então deve
ser possível explicar naturalmente o que é a experiência mental sem
supor, nem pressupor, nessa explicação termos que envolvam uma
referência à consciência (Cap. 1).
Em segundo lugar, estando a consciência, em condições normais,
suposta no carácter ‘significação’ da experiência mental humana, por um
lado, e discernindo-se, no quadro de uma tipologia de significações (Cap.
3), um tipo particular de significação dita consciente, por outro, há,
então, uma transferência do problema da consciência para a problemática
em torno do sentido. Em suma, mente e consciência não só não são a
mesma coisa, como respeitam a domínios inteiramente distintos – a
mente é sempre relativa a uma experiência, ao passo que a consciência é
relativa a uma significação. Por isso, em tese, o que defendemos é que só
teorias categorialmente diferentes poderão explicar mente e consciência.
***
12
A investigação que levamos a cabo nos Caps. 5 e 6 começa por
avaliar os modelos simbólico-computacionais para a mudança de estado
mental e, em particular, para a explicação da causalidade mental. Com
esse intuito, são tomados em consideração programas de investigação
como o behaviourismo lógico, o funcionalismo do computador (com a
sua analogia Software/Harware), a Inteligência Artificial e a hipótese da
linguagem do pensamento. E concluímos pela aplicabilidade do modelo
simbólico-computacional (entendido genericamente) a uma compreensão
parcelar da cognição humana, ou seja, à compreensão de algumas
mudanças de estado mental, mas sem que, de todo o modo, questões
como saber o que é a mente, a consciência e a compreensão sejam por
essa via elucidadas. Tal conclusão só é alcançada tidos em conta, e
discutidos, os argumentos do filósofo John Searle contrários à
Inteligência Artifical, designadamente o célebre argumento do quarto
chinês e o da não dependência entre comportamento e consciência, e,
além destes, os do matemático Roger Penrose, em particular o argumento
da partida de xadrez.
Esta aplicabilidade parcelar – sob o que designaremos por
Princípio das três restrições – do modelo lógico-computacional da
cognição humana, permite discernir, sob o nível computacional da
cognição humana, um outro, mais básico, sobre o qual aquele se
implementa. É assim remetida a nossa investigação dinâmica para o
plano de um processo básico mental, onde ganham importância aspectos,
a nosso ver inexplicáveis de um ponto de vista computacional e, no
entanto, cognitivamente relevantes, como o fenómeno da compreensão e
da significação consciente. Em particular, relativamente à compreensão,
exporemos um conjunto de critérios próprios que culminam no critério
distintivo de uma avaliação momentânea do estado do sistema cognitivo.
****
O Caps. 7 é inteiramente dedicado a uma teoria da percepção nas
suas relações com a temporalidade. Desdobra-se aí, por um lado, a
actualidade de uma mente em uma actualidade hilética (A) e uma
13
actualidade significativa (A’) e possibilita-se, por outro, o
desdobramento desta última em uma actualidade significativa na posição
de primeiro plano (A’’) relativamente a uma actualidade significativa na
posição de pano de fundo (A’).
O primeiro desdobramento, entre A e A’, é a nosso ver ilustrável
com a tese husserliana, expendida em Da Síntese Passiva, de que os
actos perceptivos envolvem, além de um conteúdo propriamente hilético
dado pela proto-impressão (Urimpression) e a que fazemos corresponder
A, o fenómeno quer de uma retenção quer de uma protenção,
intencionalidades constituintes da vivência interna da temporalidade e a
que fazemos corresponder A’. Este desdobramento aprofunda
significativamente o corte entre mentalidade e consciência apontado
desde o Cap.1.
O segundo desdobramento, o da actualidade significativa num A’ e
num A’’, permitirá obter uma descrição fenomenológica de dois pontos
essenciais à dinâmica mental. Primeiramente, a constituição de
objectidades que se dão a experienciar sob diferentes aspectos,
preservando a sua identidade através de uma unidade temporal. Este
ponto é essencial, pois sem ele não seria possível compreender a génese
fenomenológica dos percepta, enquanto distintos dos qualia. Neste
sentido, vem complementar as conclusões obtidas na explicitação de uma
caracterologia da experiência mental. Em segundo lugar, este
desdobramento da actualidade significativa num primeiro plano sobre um
pano de fundo permite dar conta da natureza do tempo vivido
subjectivamente – o tempo subjectivo; permite mesmo estabelecer as
variáveis envolvidas em fenómenos como a “dilatação” ou “contracção”
do tempo subjectivo em relação ao tempo objectivo dos relógios.
Note-se que aspectos como a dinâmica reflexiva da crença, a
tomada de decisão, a experiência da compreensão, todos envolvidos no
processo de reconhecimento perceptivo, não se deixam captar por uma
descrição em termos simbólico-computacionais. Daí, sugerirmos um
duplo processo mental. Se o modelo simbólico-computacional da
cognição humana se adeqúa parcelarmente à cognição humana,
especificadamente à actividade inferencial, através de um reconstrução
14
que procura fundamentar, por exemplo, uma decisão, dando dela razões,
se, por outro lado, há um processo mental básico que não se deixa, a
nosso ver, descrever computacionalmente, então, perguntar-se-á, qual o
modelo mais adequado para obter uma descrição deste último? Em
resposta, sugeriremos o conexionismo dinamicista (na linha de Timothy
van Gelder e Robert Port), como modelo para a cognição básica e,
portanto, como modelo em que deve ser possível implementar a cognição
humana de natureza computacional. De acordo com esta variante do
conexionismo, uma simulação da cognição humana, no seu processo
básico, poderá ser modelada (pelo menos em princípio) através de
equações diferenciais que descrevam o comportamento do sistema ao
longo do tempo. Sob este modelo, as trajectórias possíveis de activação
numa rede neural serão, em princípio, representáveis num espaço de fase
como paisagens dinamicistas. Tais trajectórias poderão assumir a forma
de atractores, sejam de ponto fixo ou de ciclo limite, com “bacias” de
atracção.
Ora, este é um terreno fértil para aproximações entre neurociências
e fenomenologia como propõe o programa de uma naturalização da
fenomenologia, defendido por Francisco Varela entre outros, e retomado
em investigações como as de Robert Port e Tim van Gelder acerca da
percepção de objectos temporais. O nosso último estudo (Cap. 8) vem
subscrever a proposta de naturalização da fenomenologia na figura do
seu principal compromisso teórico, a saber, o pressuposto de que haja
constrangimentos mútuos entre fenomenologia e neurociências ou, ao
menos, uma iluminação recíproca entre essas duas áreas de investigação.
No essencial, trata-se de defender que há resultados proporcionados pela
fenomenologia que constituem evidência relevante em discussões
internas a neurociências e, paralelamente, há também resultados obtidos
pelas neurociências que têm valor no quadro de uma fenomenologia. O
ponto de vista de dentro, como o de fora, são naturalmente pontos de
vista sobre o mesmo. É precisamente esse vínculo que, sem arrogância
nem pretensiosismo disciplinar, faz da naturalização da fenomenologia
um programa intelectualmente aberto, capaz de produzir explicações
mente/corpo sob ângulos particulares ou locais, mas que, uma vez
15
integrados, exprimem progresso na ideia de uma explicação natural da
mente.
*****
Estes ensaios correspondem a parte significativa de uma tese de
doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa em 2004, e cuja
presente publicação permite-me agora perseverar no espírito e na letra dos
agradecimentos que na ocasião pude exprimir. Ao Professor Doutor João
Paisana, a quem, tragicamente, já não pude agradecer nada, devo duas palavras
que tempo algum apagará em mim da sua memória – uma pela amizade
filosófica que me ofereceu pessoalmente, outra pela paixão filosófica que me
ensinou enquanto professor e primeiro orientador de doutoramento.
Ao Professor Doutor Pedro M. S. Alves, agradeço ter-me aceite como
seu orientando de doutoramento num momento de graves hesitações,
conduzindo-me com simplicidade, estímulo e rigor ao prosseguimento de um
projecto de trabalho cujo sentido se tornara excessivamente pessoal. Devo-lhe,
acima de tudo, o interesse e o sentido que esta dissertação pôde ainda fazer e
oxalá possa ainda fazer.
Agradeço ao meu avô, Úlpio Nascimento, meu professor desde tenra
idade, e de quem ainda pude colher a imagem viva do homem de ciência.
Ao Urbano Mestre Sidoncha agradeço o comentário de parte importante
desta dissertação. Ao Desidério Murcho agradeço a permanente disponibilidade
para pensar comigo a divergência filosófica.
À Fundação para a Ciência e para a Tecnologia agradeço, uma vez mais,
uma política de apoio à investigação sem a qual não teria sido de todo possível
desenvolver este trabalho, bem como anteriores e, bem entendido, a minha
actual vida profissional.
À Rita, já não posso dizer que são os seus passos, entre os meus, que
fazem a nossa vida. Já o disse noutra ocasião. Tropeçamo-nos muitas vezes,
sobretudo com a tua paciência, agora ainda mais se juntarmos aos nossos os
passos da Mariana e do Mário. Mas tantos passos nunca são demais quando
acontece acertarmos todos num qualquer parque de diversões da nossa vida.
I
Mentalidade sem consciência
Desde Franz Brentano, quer a fenomenologia quer a filosofia da
mente têm procurado esclarecer as relações de implicação entre mente,
consciência e intencionalidade.
É a Brentano que se deve a apresentação da propriedade da
intencionalidade como critério para demarcar o mental do não mental. Na
sua esteira, a fenomenologia de Husserl, enquanto programa para uma
ciência das vivências intencionais, assumiu a mesma intencionalidade
como propriedade definidora da consciência. Ambas as teses se reportam
à intencionalidade; não obstante, não dizem o mesmo. A psicanálise de
Freud evidencia-o na sua difícil relação com a fenomenologia – os dois
programas são contemporâneos e ambos assumem o critério de Brentano;
contudo, enquanto a psicanálise de Freud presumiu um Inconsciente, que
tomou como seu objecto de estudo, e que ainda seria mental em virtude
da sua natureza intencional, a fenomenologia recusou, particularmente
com Sartre, a hipótese do Inconsciente com base na ideia de que a
intencionalidade não só seria necessária à consciência mas também
exclusiva à consciência. Neste sentido, de acordo com Sartre, afirmar um
inconsciente intencional mais não seria do que afirmar um absurdo: um
“inconsciente consciente”. Daqui seguir-se-iam consequências bem
conhecidas do pensamento de Sartre. Por exemplo, a de que supor um
18
inconsciente por detrás da consciência a mais não corresponderia do que
a uma forma de “má-fé”.
Todas estas relações de implicação
(1) Mente→Intencionalidade
(2) Consciência→Intencionalidade
(3) Intencionalidade→Consciência
são hoje difíceis de manter. Com efeito, a (3) contrapõem-se os
programas de naturalização da intencionalidade; a (2) contrapõe-se uma
“consciência fenomenal” que não implica intencionalidade, em contraste
com uma consciência realmente intencional, “de acesso”, segundo Ned
Block, ou “psicológica”, segundo David Chalmers; a (1) contrapõe-se,
exemplarmente, Hilary Putnam com a sua recusa de que as imagens
mentais e os pensamentos sejam intrinsecamente intencionais.
Independentemente da riqueza dos resultados que a fenomenologia
husserliana e a psicanálise freudiana obtenham, as implicações básicas
que os enquadram teoricamente foram abaladas. Mas o meu intuito é ir
um pouco mais longe e mostrar que a mente não só não implica
intencionalidade como também não implica consciência. Para isso,
procurarei dar conta de vários pontos de vista, provindos quer da
fenomenologia, quer da filosofia da mente, quer da neurobiologia, que
convergem para um reconhecimento de que existe experiência mental
sem consciência.
Admitindo este resultado, julgo seguirem-se algumas
consequências importantes quanto ao que possa ser o melhor ângulo de
abordagem ao problema mente/corpo. Em primeiro lugar, e
acompanhando Chalmers, o problema “duro” não residirá ao nível da
intencionalidade; no entanto, tão pouco se me afigura que resida ao nível
da consciência fenomenal. Dissociar o problema mente/corpo dos
problemas da intencionalidade e da consciência, constitui não apenas
uma forma de o “amenizar” como ainda a possibilidade de colocar sobre
melhores bases quer uma teoria da experiência mental quer uma teoria da
consciência.
19
1. Experiência mental sem intencionalidade
As experiências de pensamento concebidas por Hilary Putnam em
‘Brains in a Vat’1 visam mostrar que as imagens mentais e os
pensamentos, do mesmo modo que os objectos físicos, não dispõem de
nenhuma intencionalidade intrínseca. Assumindo a correcção do
argumento, é naturalmente o próprio critério de Brentano que é atingido.
Por exemplo, a imagem mental de uma árvore não é mais nem
menos intencional do que a imagem material de uma árvore; nem uma
nem outra representam mais uma coisa do que qualquer outra coisa.
Portanto, não será na intencionalidade que se poderá esperar encontrar
um critério seguro para demarcar o mental do não mental. Naturalmente,
um sujeito mental humano tenderá sempre a atribuir intencionalidade a
uma imagem mental; mas, e é esse o ponto, tal imagem mental não é por
si mesma acerca de nada, não possui intrinsecamente nenhuma
intencionalidade.2
Com isto, penso ficarem clarificadas as razões por que a
implicação (1), consagrada por Brentano, não pode ser aceite. A este
propósito, afirma Putnam:
Alguns filósofos saltaram, no passado, deste tipo de consideração para o que tomaram por uma prova de que a mente é de natureza essencialmente não-física. O argumento é simples (…). Nenhum objecto físico pode, em si mesmo, referir-se mais a uma coisa do que a outra; não obstante, os pensamentos na mente têm obviamente êxito ao referir-se a uma coisa em vez de outra. Então os pensamentos (e por isso a mente) são de natureza essencialmente diferente dos objectos físicos. Os pensamentos têm a característica da intencionalidade – podem referir-se a outra coisa; nada de físico tem «intencionalidade», salvo quando essa intencionalidade é derivada de algum emprego dessa coisa física pela mente. Ou assim é pretendido. Isto é demasiado
1 Cf. Putnam (1981). 2 Note-se que para Putnam ser inteiramente consequente, nem sequer deveria aceitar designar por
«imagem» a imagem mental, pois, por princípio, algo ser imagem implica ser imagem de alguma coisa, ou seja, representar, referir-se a algo, ser, em suma, provida de intencionalidade. Mas, se não é, intrinsecamente, imagem, não deixa, contudo, de ser mental. Por esta razão e para que o adjectivo «mental» não fique sem o substantivo que visa qualificar, proponho substituir a expressão «imagem mental» pela expressão genérica «experiência mental» e pela expressão mais particular «experiência visual», julgo que sublinhando, assim, o ponto central do argumento de Putnam.
20
apressado: postular simplesmente poderes misteriosos da mente não resolve nada. Mas o problema é muito real. Como são possíveis a intencionalidade, a referência?3
Não é inapropriado, em jeito de nota, lembrar também as teses de
Donald Davidson de que as sensações não são crenças, apenas causam-
nas, ou seja, que entre a experiência sensorial de uma mente – por
exemplo, a visual – e as suas crenças há apenas uma relação causal, não
podendo aquela ser entendida como um intermediário epistémico entre a
realidade e as nossas crenças acerca dessa mesma realidade. Tais teses
convergem, tal como as de Putnam, ainda que a partir de pontos de vista
distintos, para uma desimplicação de intencionalidade, representabilidade
ou significabilidade relativamente à pura experiência sensorial de uma
mente.
Ainda no que respeita a (1) – e mesmo relativamente a (2) –
existem manifestas demarcações no contexto da tradição
fenomenológica. Logo com Heidegger, a intencionalidade é entendida
como uma noção derivada e não originariamente requerida pelo que, na
linguagem do autor de Ser e Tempo, se diz como «vir à presença». Mais
tarde, com a descrição de uma «existência sem existente», também
Levinas leva o esforço fenomenológico – e é ainda disso que se trata –
aonde não há vivências intencionais, mas onde há, não obstante,
vivências. Trata-se de fenomenologia porque se trata de experiência;
simplesmente não de experiência intencional. Noutras palavras, não se
trata de experiência de alguma coisa, mas de simples experiência. Em
Totalité et Infini, Levinas expõe o ponto com toda a clareza que a sua
linguagem permite:
A relação com o infinito não pode, certamente, dizer-se em termos de existência (…). Mas, se a experiência significa precisamente a relação com o absolutamente outro, (…) a relação com o infinito realiza a experiência por excelência.4
3 Putnam, 1981: 24-25. 4 Levinas, 1961: XII.
21
Um outro fenomenólogo bastante atento à necessidade de
desimplicar a intencionalidade quer da mente quer da consciência é
Michel Henry. Sob a forma de um inquérito, este fenomenólogo
contrapõe ao «ver da intencionalidade» um outro registo de «revelação»:
A intencionalidade que tudo revela, como se revela a si mesma? Ao dirigir-se sobre si mesma não estaremos perante uma nova intencionalidade? Não se reduzirá, então, a questão a esta última? A fenomenologia poderá escapar ao amargo destino da filosofia clássica da consciência arrastada numa regressão sem fim, obrigada a pôr uma segunda consciência por detrás da que conhece – no caso uma segunda intencionalidade por detrás desta que se quer arrancar à noite? Ou então, haverá um outro modo de revelação que não o fazer ver da intencionalidade – uma revelação cuja fenomenalidade não seria mais a da «exterioridade» deste ante plano de luz que é o mundo?5
Resumindo, diferentes vias de argumentação, mesmo sob tradições
disciplinares distintas, evidenciam não haver necessariamente
intencionalidade pelo facto de ocorrer mentalidade. Neste sentido, não se
afigura sustentável o critério de Brentano. Mas, há igualmente bons
argumentos que tornam pelo menos discutível a ideia de que a mente
consciente implique intencionalidade.
2. Consciência sem intencionalidade
Se a consciência fosse necessária ou intrinsecamente intencional,
como pretende a fenomenologia original de Husserl, ter-se-ia então que
poderiam ocorrer estados mentais que, por não serem intencionais, não
fossem conscientes.6 Seria o caso dos qualia, admitindo que não sejam
intencionais, ou então, das imagens mentais e pensamentos de que
Putnam fala em ‘Brains in a Vat’. Porém, se a consciência não implicar
intencionalidade, ao arrepio da posição husserliana de que a consciência
é sempre consciência de algo, não será por aqui que se poderá garantir a
existência de estados mentais não conscientes. Ou seja: a
5 Henry, 2000: 49. 6 Note-se que tais estados mentais não estão evidentemente a ser pensados como estados
inconscientes à maneira de Freud, pois para este tais estados caracterizam-se como mentais ou psíquicos justamente por serem ainda estados intencionais.
22
intencionalidade não servirá de critério para distinguir o mental do
consciente.
Ora, que a consciência não implica intencionalidade, e que com
isso fica explícito um critério possível para distinguir o mental do
consciente, vê-lo-emos em seguida com Ned Block e David Chalmers,
autores que, não sem algumas diferenças, defendem a existência de uma
consciência não intencional. Denominam-na «consciência fenomenal»
em contraste com a «consciência psicológica», no dizer de Chalmers, e
com a «consciência de acesso», no dizer de Block. Daqui segue-se a
rejeição de (2). Com efeito, algo ser fenomenalmente consciente não
implica ser intencionalmente consciente. Block resume o ponto da
seguinte forma:
P-consciência é experiência. Propriedades P-conscientes são propriedades experienciais. Estados P-conscientes são estados experienciais, i.e, um estado é P-consciente se possui propriedades experienciais. A totalidade das propriedades experienciais de um estado são ‘como é que é’ tê-lo. Passando dos sinónimos aos exemplos, temos estados P-conscientes quando vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, e temos dores. As propriedades P-conscientes incluem as propriedades experienciais das sensações, sentimentos e percepções, mas também incluiria os pensamentos, os desejos e as emoções. (...) Tomo as propriedades P-conscientes como sendo distintas de qualquer propriedade cognitiva, intencional ou funcional. (Cognitiva = envolvendo essencialmente pensamento; propriedades intencionais = propriedades em virtudes das quais uma representação ou estado é acerca de alguma coisa; propriedades funcionais = e.g., propriedades definíveis em termos de uma programa de computador).7
As aludidas diferenças entre Block e Chalmers reportam-se
sobretudo às relações entre as duas espécies de consciência. Enquanto
Block admite, pelo menos conceptualmente, a possibilidade de uma A-
consciência sem P-consciência e vice-versa, Chalmers sustenta, através
do que denomina «Princípios de coerência», uma dupla implicação entre
consciousness (entendida como o lado fenoménico da consciência) e
awareness (entendida como o seu lado intencional). Por esta razão,
embora Chalmers, tal como Block, desimplique a intencionalidade da
consciência fenomenal, não deixa, ainda assim, de sustentar uma posição
7 Block, 1995: 380-381.
23
vizinha da da fenomenologia husserliana. Com efeito, ainda que a
consciência fenomenal não seja em si mesma intencional, só poderá
haver consciência fenomenal havendo consciência intencional. Neste
ponto em particular, inclinamo-nos para a posição de Block. E por duas
razões. Primeiramente, a possibilidade de ocorrência de consciência
fenomenal sem consciência de acesso (ou de consciousness without
awareness) parece ser perfeitamente atestável em experiências
qualitativas sem qualquer objecto intencional. Por exemplo, quando se
deixa de prestar atenção a um objecto, mas à maneira como é vivenciado.
Em segundo lugar, a possibilidade de ocorrência de consciência de
acesso sem consciência fenomenal (ou de awareness without
consciousness) resulta bastante evidenciada nos casos habitualmente
designados como casos de Blindsight.
3. Direcções de investigação do problema mente/corpo
A demarcação da mentalidade face àquilo que diz respeito à
intencionalidade, por mão de Putnam, torna possível enfrentar o
problema mente/corpo independentemente do problema da
intencionalidade (ainda que fosse precisamente este último o problema
que realmente interessava Putnam em Reason, Truth and History).
Digamos assim: Putnam bifurcou um problema em dois, e seguiu por
uma das vias bifurcadas, a saber, a que se preocupa com entender o que é
a intencionalidade. Para o presente, o que nos interessa é seguir pela
outra via bifurcada, a saber, a que se preocupa com entender o que é a
experiência mental.
Mas já por outro lado, com Chalmers e Block, a desimplicação de
intencionalidade na consciência fenomenal conduziu a uma especificação
do problema mente/corpo, a saber, a sua formulação como um problema
duro (hard problem). A sua “dureza” prende-se com uma resistência a
qualquer forma de tratamento, pois as estratégias de naturalização da
intencionalidade – estratégias, aliás, bastante bem sucedidas –, bem como
as abordagens funcionalistas à mente e o programa da IA deixam de ser,
pelo menos tanto quanto parece, aplicáveis.
24
Contudo, e uma vez mais, o que se obtém é sobretudo uma
bifurcação de um problema em dois – de um lado, o problema da
intencionalidade (problema que, como vimos, interessava
particularmente Putnam em ‘Brains in a Vat’) e, do outro, o problema da
consciência fenomenal e dos celebérrimos qualia. Não obstante, o facto
de o problema da mente não se encontrar na via que nos leva aos
problemas em torno da intencionalidade não significa que tenha de se
encontrar na via que nos leva aos problemas em torno da consciência
fenomenal e dos qualia. É claro que foi essa suposição que conduziu
muitos autores, especialmente os qualiófilos, a julgarem que seria aí que
se deparariam real e seriamente com o problema mente/corpo, o dito
problema “duro” para que já Thomas Nagel apontava com o seu ‘What it
is to be like a bat?’. No entanto, a meu ver, tal como não seria, para esses
autores, na intencionalidade que se deveria enfrentar o problema
mente/corpo, também não será no âmbito de uma consciência fenomenal
que ele poderá ser tratado. E isto porque julgo haver boa evidência contra
a terceira e derradeira implicação (3).
Dito por outras palavras, não será tanto no debate, entre qualiófilos
e qualiófobos, quanto à existência, ou não, de qualia, ou quanto ao seu
alegado carácter não intencional, que se jogará o essencial do problema
mente/corpo quando se pode evidenciar a existência de estados mentais
que não são nem intencionais nem conscientes.
4. Experiência mental sem intencionalidade nem consciência
Mas – perguntar-se-á – pode haver uma experiência mental sem
intencionalidade nem consciência? Fará algum sentido adjectivar como
mental e entender como experiência algo que não disponha nem de
intencionalidade nem de consciência?
Há, a meu ver, fortes e variadas razões para responder
afirmativamente a estas questões. Começo com uma razão muito simples,
assente na História natural das espécies animais. Seria muito pouco crível
sustentar a ideia de que, por exemplo, uma mosca, artrópode dotado de
receptores sensíveis, não disponha de experiência sensível; e, no entanto,
25
seria igualmente pouco crível sustentar a ideia de que, por isso ou por
qualquer outra via, as moscas dispusessem de uma consciência. Contra a
primeira ideia, contam argumentos como o simples facto de haver
receptores sensíveis; o facto de, apesar das diferenças, serem em muitos
aspectos mais semelhantes aos receptores sensíveis dos humanos; o facto
de moscas e humanos pertencerem à mesma árvore evolutiva, não
obstante a distância dos ramos em que se situam. Aliás,
filogeneticamente, é muito mais razoável sustentar que as espécies
animais começaram por ter experiência mental e só depois experiência
mental consciente. Contra a segunda ideia, contam argumentos como o
facto de as respostas da mosca, ao contrário das respostas conscientes,
serem necessariamente automáticas; ou o facto (embora não acessível aos
nossos olhos) de as moscas não possuírem capacidade de introspecção.
Mesmo que se resista a este tipo de argumentos, é ainda possível
encontrar outros na investigação de cariz não filosófico. No quadro da
investigação neurobiológica da consciência de António Damásio, em O
Sentimento de Si (The Feeling of What Happens), encontra-se a
exposição de informação empírica no sentido de mostrar que o estado de
vigília de uma mente não implica necessariamente o que o autor
denomina ‘consciência nuclear’. Essa informação decorre da observação
de patologias, através do que o autor classifica como um ‘método de
lesões’, que tem a vantagem óbvia de permitir «(...)a investigação de
mentes e comportamentos alterados, assim como a investigação de
regiões de disfunção cerebral anatomicamente identificáveis»8.
Ora, entre as diferentes disfunções tematizadas (sobretudo
automatismo epiléptico e mutismo acinético), interessa-nos a descrição
do caso de um estado avançado de Alzheimer que ilustra claramente a
necessidade de discernir entre o material sensorial experienciado em
estado de vigília e o seu acesso perceptivo consciente, ou, dito de outro
modo, as seguintes três condições: i) que há uma actualidade mental não
percepcionada; ii) que essa actualidade é ainda experiência mental; iii)
8 Damásio, 1999: 109.
26
que essa experiência actual mental não é consciente. O momento decisivo
da descrição de Damásio é o seguinte:
Contemplou longamente, mas nada pareceu ver. Em momento algum manifestou ou estabeleceu qualquer relação entre o retrato e o seu modelo bem vivo, sentado quase na sua frente, a uma distância de pouco mais de um metro. (…) O dobrar e desdobrar da fotografia aconteciam com regularidade, desde os primeiros tempos de desenvolvimento da doença, quando ele ainda tinha a noção de que qualquer coisa de estranho se estava a passar. Dobrar e desdobrar esta fotografia talvez tivessem sido para ele uma tentativa desesperada de se agarrar a uma certeza antiga. Agora era apenas um ritual inconsciente, executado sempre com a mesma lentidão, no mesmo silêncio e com a mesma ausência de ressonância afectiva.9
Com isto e em termos gerais, o que Damásio procura propor é que
não existe nenhuma implicação entre vigília e consciência – Nos sonhos,
há consciência sem vigília; noutras circunstâncias, evidenciáveis em
casos patológicos como o relatado, há vigília sem consciência. Se
assumirmos que todos estes estados são, apesar das suas privações, por
assim dizer, estados mentais, então há, obviamente, que distinguir neles
alguns que são sem consciência nem intencionalidade.
Retomando uma argumentação mais filosófica – entenda-se, uma
argumentação a priori – e menos patológica, faça-se uma breve
fenomenologia da distracção. Por exemplo, olhe eu para uma paisagem,
buganvílias digamos. As suas pequenas flores mascaram-se sob o manto
vermelho de flores fingidas. Reflicta eu sobre o fingimento das folhas –
como podem? – e, nisto, esqueça-me do olhar que nelas demorei. Vejo-as
por certo, mas que consciência ainda as alcança? Não as percepciono, só
me ficam as sensações. E ficam-me sem que eu fique com elas, pois eu já
estou noutro lado. Ora, esse ver sem consciência é ainda experiência
mental. É experiência visual sem intencionalidade (como Putnam já
mostrara); mas, além disso, também sem consciência.
Outra breve fenomenologia, agora da sonolência, também dá
indicação de experiência mental sem intencionalidade nem consciência.
Neste caso, há uma progressiva incapacidade de fazer percepção e tomar
9 Damásio, 1999: 130.
27
consciência do que se passa ao redor a partir da experiência sensorial,
incapacidade que nomeamos como ‘torpor’, ‘dormência’, ‘modorra’
(tudo sinónimos de ‘sonolência’), e que, no entanto, não afecta o ver que
nos entra pelos olhos adentro, enquanto estes se mantiverem abertos e
houver luz que os atinja. Mais uma vez, o que se tem é uma experiência
visual sem intencionalidade nem consciência.
5. Uma nova direcção de investigação do problema mente/corpo:
naturalizar a experiência mental
Das três desimplicações acima propostas, segue-se como
consequência a necessidade de distinguir na amálgama de problemas
ligados ao reputado problema mente/corpo uma teoria da
intencionalidade, uma teoria da consciência e uma teoria da experiência
mental, sucedendo que apenas esta última é imprescindível a uma teoria
da mente. Se se tratasse de pensar num lema, poder-se-ia dar-lhe a
seguinte formulação: O que é, ou parece, excepcional na mente humana
não lhe é essencial.
A partir do momento em que se admite a argumentação de Putnam
contra a ideia de que a intencionalidade esteja implicada no mental, então
não é claro em que termos a mentalidade pudesse ser definida
representacionalmente como pretendeu, por exemplo, Fred Dretske ao
afirmar que a mente é o lado representacional do cérebro. Seguramente,
também será isso, mas não é essencial que o seja – e esse é o ponto.
Naturalmente, dar conta de tudo o que é a mente humana implicará,
forçosamente, prestar atenção aos aspectos representacionais nela
envolvidos. Não é isso que está em causa, mas tão-só esses aspectos não
serem essenciais para a determinação do que é uma mente,
contrariamente ao posicionamento de Dretske e de outros defensores das
teorias representacionalistas da mente.10
10 Note-se que não é o caso que se esteja a pressupor que possa haver consciência não
representacional. Para isso, necessário seria que mentalidade implicasse consciência, o que não se verifica. Donde que não aceitar considerar a mente em termos essencialmente representacionais não signifique que se considere que a consciência possa ser pensada em termos não representacionais.
28
Por outro lado, a partir do momento em que se admite que a
inexistência de intencionalidade e de consciência não implica não haver
experiência mental, então também deixa de ser sustentável que o
problema duro do problema mente/corpo esteja realmente na consciência
fenomenal. Esta é seguramente importante na mente humana; contudo,
não lhe é essencial. António Damásio, neste ponto, é clarificador pela
maneira como discerne entre consciência e mente.11
Se apenas uma teoria da experiência mental é essencial para o
problema mente/corpo, declinando-se, assim, a pertinência quer de uma
teoria da intencionalidade quer mesmo de uma teoria da consciência,
então o que programaticamente deverá estar em causa na investigação de
tal problema será uma naturalização da experiência mental, e não uma
naturalização da intencionalidade, sequer da consciência. Em
contrapartida, qualquer sucesso que se venha a obter quanto a saber o que
é a experiência mental, e como é ela possível de um ponto de vista
naturalista, não implica nenhuma clarificação quanto ao que seja, ou
possa ser, a consciência. Aliás, daqui segue-se uma rejeição de que
correlações neurais da experiência visual possam ilustrar o que seja um
correlato neural de consciência.
Naturalmente, se a desimplicação de consciência na experiência
mental recoloca o problema mente/corpo em termos independentes da
consciência por um lado, já por outro também obriga a recolocar o
problema da consciência. Não o enfrentaremos agora, mas se fizer
sentido uma teoria experiencial da consciência, ou seja, uma teoria de
acordo com a qual uma descrição da consciência seja reconduzível a uma
descrição assente em termos experienciais, então o problema da
consciência não encontrará ao nível neural uma resposta directa. Em vez
disso, ter-se-á uma estratégia de dois passos: em primeiro lugar, uma
descrição da consciência em termos experienciais; em segundo lugar,
uma naturalização da experiência mental. Portanto, admitindo os pontos
de vista expostos, tentativas de naturalização directa da consciência
através do estabelecimento de correlatos neurais da experiência sensorial
11 Cf. também Monteiro, 2004: 34-39 para uma crítica à ideia de que «a “mente consciente” (frase
título de Chalmers) é o verdadeiro agente produtor da nossa “vida intelectual”».
29
falharão forçosamente o alvo, ainda que estejam no caminho certo, por
assim dizer, no que se espera quanto a uma teoria da experiência mental.
O importante, nisto, é só não serem suscitadas falsas expectativas através
de uma insistente confusão entre mentalidade e consciência.
Das três desimplicações atrás propostas e da dissociação entre
mentalidade e consciência levada a cabo, muito especialmente a
propósito da experiência sensorial, resulta não só uma recolocação do
problema mente/corpo e do problema da consciência, como se procurou
mostrar, mas igualmente, e de forma particularmente incisiva, uma
inflexão em alguns dos mais importantes debates acerca da natureza do
processo perceptivo e do estatuto dos perceptíveis. Ocupar-nos-emos em
seguida desta inflexão, procurando dar conta da sua eficácia quer na
resolução de debates como o do sensorialismo versus perceptualismo ou
o do realismo ingénuo versus representacionalismo quer para a
formulação de uma teoria da alucinação mais satisfatória. Procuraremos,
finalmente, matizar a impressão de que a inflexão proposta seja de tal
modo contra-intutiva que não faça sentido sustentá-la.
6. A experiência mental não consciente no debate
sensorialismo/perceptualismo
É moeda corrente de um certo senso-comum filosófico a ideia de
que a percepção é necessariamente percepção do visível, ou do audível,
ou do táctil, etc. Fala-se, em consequência, de percepção visual, de
percepção auditiva, etc., mas também de percepção interna e de
propriocepção, como percepção de diferentes tipos de perceptíveis – a
percepção visual como percepção do que se dá de algum modo a ver, a
auditiva como percepção do que se dá a ouvir, a propriocepção como
percepção de estados do organismo, etc. A meu ver, há nisto qualquer
coisa bastante errada. Por um lado, não encontro fundamento nesta
discriminação de classes de perceptíveis; por outro – e é aqui que
encontro a raiz do suposto erro – o sensorial e o perceptível não devem
ser confundidos.
30
Fixemos a atenção na percepção visual, permitindo-nos depois
generalizar para os restantes casos. Desde logo, a expressão «percepção
visual» induz em erro ao fazer crer que o perceber visual é realmente um
ver, que há uma homogeneidade, na dita percepção visual, entre o
perceptível e o visível. A fenomenologia de Husserl cedo detectou que o
que se tem é uma heterogeneidade entre a matéria hilética,
impressionalidade sensorial, e o perceptível intencional. Simplesmente,
notando isto, concede Husserl um privilégio difícil de sustentar à
percepção, a saber, o de ser ela a dar a ver. É célebre a sua afirmação nas
Investigações Lógicas de que não vemos cores, mas coisas coloridas, não
ouvimos sons, mas uma canção. Qual é o erro que creio existir nesta
afirmação? Não está na heterogeneidade assinalada, mas na sua inversão:
aquilo que Husserl diz não ser visível só pode ser entendido como não
sendo perceptível, pois realmente é visível; na verdade, é só mesmo
visível. Desfazendo a inversão operada pelo fenomenólogo, obter-se-ia
uma formulação como a que se propõe – em rigor, não vemos coisas
coloridas, mas cores; não ouvimos a canção, mas sons.
É exactamente o mesmo erro que subjaz à disputa entre
perceptualistas (entre os quais se inclui Husserl) e sensorialistas.
Basicamente, a disputa reside em se determinar se o ver é exclusivamente
perceptual – tese perceptualista – ou se não, havendo então espaço para o
reconhecimento de um ver sensorial – tese sensorialista. A disputa teve
por protagonistas mais recentes Christopher Peacocke (do lado do
sensorialismo) e William Lycan (do lado do perceptualismo), estando
ambas, a meu ver, certas no que respeita a pelo menos um aspecto do
problema, mas ambas erradas no que respeita à tese de fundo – a de que a
percepção dê a ver. Mostrar que a percepção nada dá a ver, essa é
precisamente a inflexão que aqui se propõe.
Resumirei a polémica entre estes dois filósofos aos momentos
cruciais para o meu ponto. Christopher Peacocke ataca o que designa por
‘tese da adequação’ (Adequacy Thesis) – i.e, a tese que «declara que uma
caracterização intrínseca completa de uma experiência pode ser dada
embutindo dentro de um operador como ‘aparece visualmente ao sujeito
31
que...’ alguma complexa condição respeitando objectos físicos»12. De
acordo com o autor, o perceptualismo extremado está comprometido com
esta tese da adequação; por isso, apresenta três contra-exemplos que, a
seu ver, a refutam e, assim, refutariam o excesso perceptualista. No
entanto, como veremos, persevera na ideia de que o material sensorial é,
enquanto tal, conscientemente acessível ao sujeito. Os contra-exemplos
que Peacocke apresenta são os seguintes:
1. Duas árvores são representadas como tendo o mesmo
tamanho físico não obstante uma ocupar mais espaço do
campo visual do que a outra. Assim, concluir-se-ia que o
conteúdo perceptivo respeitaria às árvores experienciadas
com uma certa grandeza, uma mais próxima do que outra,
etc., mas não respeitaria a outras propriedades da experiência
como a relativa ao espaço ocupado por cada uma das árvores
no campo visual.
2. Da visão monocular para a visão binocular do mesmo estado
de coisas a experiência é diferente. Assim, concluir-se-ia que
as propriedades não representacionais podem variar apesar
de o conteúdo representacional ser preservado.
3. Um cubo feito com uma armação de arame pode ser alvo de
percepções diferentes – ora com uma certa face à frente, ora
com outra face à frente –, sem que isto acarrete qualquer
mudança na disposição da armação de arame. Assim,
concluir-se-ia que os conteúdos representacionais podem
variar apesar de as propriedades não representacionais serem
preservadas.
Na posição oposta, encontra-se William Lycan, autor que procura
argumentar contra os três contra-exemplos de Peacocke. No essencial, de
acordo com Lycan, tais exemplos falham porque as propriedades não
representacionais que Peacocke julga neles identificar são na verdade
ainda propriedades representacionais, conquanto de um nível diferente do
12 Peacocke, 1983: 343.
32
dos objectos físicos quotidianos, como árvores, estradas, etc.13 Por
exemplo, a respeito do exemplo do cubo de arame, Lycan afirma que
«(...) as duas experiências do cubo partilham algumas formas, arestas e
linhas; e (…) todos esses itens são visualmente representados. Assim, há,
ao fim e ao cabo, uma semelhança representacional subjacente às
experiências de ver-como aspectualmente diferentes.»14
Com esta “representação perceptiva estratificada” (Layered
perceptual representation) Lycan julga poder identificar o material
sensorial com um certo estrato da representação perceptiva, ressalvando,
não obstante, a diferença face a outras camadas de representação
perceptiva, designadamente, as relativas à percepção dos objectos físicos
quotidianos. Ora, se Lycan tem razão, contra Peacocke, ao mostrar que o
acesso consciente ao material sensorial se resolve sempre numa
representação perceptiva – não devendo a estratificação obscurecer o
facto de se tratar sempre de percepção –, falha, porém, aliás tanto quanto
Peacocke, ao não distinguir o problema sobre o estatuto mental do
material sensorial da questão do seu acesso consciente. É no
reconhecimento de que há experiência visual não perceptiva que
Peacocke, por seu turno, tem razão, contra Lycan; simplesmente, não é
conscientemente acessível.
7. Consequências para uma teoria da percepção e da alucinação
A distinção entre consciência e mente, com a qual propomos ser
possível solucionar o antagonismo entre sensorialismo e perceptualismo,
permite, ainda em relação a uma teoria da percepção, opor uma objecção
aos posicionamentos que defendem um realismo ingénuo no que respeita
à correspondência entre as nossas representações mentais dadas pela
percepção e o mundo, dito exterior, percepcionado. Para esse efeito,
enfrentaremos o posicionamento de John Searle em Intencionalidade.
Expõe aí o autor uma classificação das teorias da percepção em três
13 Lycan, 1996: 152. 14 Lycan, 1996: 156.
33
tipos: a teoria representativa, o fenomenalismo e o realismo ingénuo.
Procuremos, pois, discutir a opção de Searle por esta última,
designadamente os argumentos com que exclui as duas primeiras teorias,
de modo a clarificar qual o melhor enquadramento, não só para uma
teoria da percepção, mas também para uma teoria da alucinação.
Ambas estas teorias [fenomenalismo e teoria representativa] diferem do realismo ingénuo por tratarem a experiência visual como sendo, ela própria, o objecto da percepção visual, privando-a, assim, da sua Intencionalidade. De acordo com elas, o que é visto é sempre, estritamente falando, uma experiência visual (em várias terminologias, a experiência visual tem sido chamada “sensação”, “dado sensorial” ou “impressão”). São confrontados, portanto, com uma questão que não se coloca ao realista ingénuo: qual a relação entre os dados dos sentidos que vemos e o objecto material que, aparentemente, não vemos? Esta questão não se coloca ao realista ingénuo porque, de acordo com a sua explicação não vemos quaisquer dados dos sentidos. Vemos objectos materiais e outros objectos e estados de coisas no mundo, pelo menos na maior parte do tempo; e nos casos de alucinação, não vemos coisa alguma, embora tenhamos, de facto, experiências visuais em ambos os casos.15
Por esta longa citação, atesta-se que Searle começa por criticar o
fenomenalismo e o representacionalismo por não distinguirem a
experiência visual do objecto da percepção visual, o que estaria na base
do facto de em ambas as teorias «o que é visto ser sempre, estritamente
falando, uma experiência visual». Independentemente do que concluam o
fenomenalismo e o representacionalismo, pelo menos tal como os
apresenta Searle, não só não se segue uma indistinção entre experiência
visual e objecto de percepção do facto de que só a experiência visual é
real e efectivamente vista, como é desse mesmo facto que se impõe clara
e distintamente a necessidade de distinguir experiência visual e objecto
de percepção. Tratar-se-á, pois, de verificar um non sequitur na
argumentação de Searle.
Em primeiro lugar, não parece credível, partindo de uma suposta
invisibilidade de experiências visuais (sejam sensações, impressões ou
dados sensoriais), o realista ingénuo poder concluir pela visibilidade de
objectos materiais ou estados de coisas no mundo. Em segundo lugar,
15 Searle, 1983: 58 (tr.: 88).
34
Searle antecipa a objecção mais previsível, da parte da teoria
representacionalista, ao realismo ingénuo: ver um objecto intencional não
significa ver um objecto material, pelo que o primeiro deve de algum
modo representar o segundo. Só que Searle contesta a ideia de que haja
uma tal relação entre um representante e um representado que se
denomine ‘representação’. Se o que vemos é um representante, então o
que é representado é, por princípio, invisível, e nesses termos importaria
saber como uma coisa visível pode estabelecer algum tipo de
correspondência com o que permanece absolutamente invisível. Segundo
Searle, esta é a enunciação de uma impossibilidade incontornável16.
Logo, o representacionalismo seria insustentável e o realismo ingénuo a
boa teoria. Contudo, não nos parece que tenha de ser exactamente assim,
nem sequer aproximadamente. Na verdade, tratar-se-á precisamente de
inverter a posição de Searle: um sujeito, em rigor, não vê estados de
coisas do mundo nem objectos materiais ou intencionais, mas tão-só
sensações; percepciona aqueles e só aqueles, mas tão-só enquanto
veiculados pelo material sensorial que vê.
Com efeito, a “percepção visual” não acrescenta nada de visível à
sensação. Daí, como se procurou evidenciar atrás, o pouco sentido que
faz falar de percepção visual17. Se se diz que aprendemos a “ver”, e que a
sensação é o que menos importa no “ver”, é porque o que importa não é
exactamente o visível mas o invisível percepcionado. Logo, nunca esteve
em causa na percepção um problema em torno da sua visibilidade, como
pretende Searle, mas, bem diversamente, em torno da sua invisibilidade.
E assim, não é o caso de que esteja em causa uma passagem do visível ao
16 «The main difficulty with a representative theory of perception is that the
notion of resemblance between the things we perceive, the sense data, and the thing that the sense data represent, the material object, must be unintelligible since the object term is by definition inaccessible to the senses. It is absolutely invisible and otherwise imperceptible.» (Searle, 1983: 59)
17 O único sentido pelo qual ainda se poderá continuar falar de percepção visual
será entendê-la como percepção causada por experiência visual; mas, em todo o caso, não se tratando realmente de aceder a percepta visíveis. Os percepta não são da ordem do sensorial; por isso, não são nem visuais, nem auditivos, nem tácteis, etc. Mesmo a experiência que um sujeito tem da sua vida perceptiva dá conta, com evidência, que a percepção, por exemplo, de uma cafeteira a assobiar sobre o lume do fogão é, de facto, uma só percepção causada por variadas fontes de experiência sensorial, e não a soma ou conjunção de várias percepções simultâneas – a que daria a ver a cafeteira, a que daria a ouvir o assobio, a que daria a cheirar o café pronto.
35
invisível, sequer o contrário. As sensações não se transformam em
percepções. As sensações são só o suporte da transmissão da informação
perceptivamente relevante. Ou ainda, por outras palavras: são causa de
percepção, mas não são elas mesmas perceptíveis.
Independentemente do valor das razões que nos levam a inverter a
posição de Searle, é possível demonstrar que a própria argumentação de
Searle se revela, em si mesma, contraditória. Vejamos como. É evidente,
a acreditar num mundo exterior com propriedades físicas identificáveis e,
digamos, não enganadoras, que se temos a experiência visual de uma
carrinha amarela (o exemplo é de Searle), então é porque essa
experiência visual foi determinada por uma carrinha amarela. E isto
significa pelo menos duas coisas: i) há uma experiência visual e há outra
coisa que a determina; ii) a relação de determinação entre uma e outra
deve ser de tal modo que a experiência visual represente objectivamente
algo daquilo que a determinou, pois de outro modo não faria sentido que
a experiência visual de uma carrinha amarela fosse determinada
precisamente por uma carrinha amarela. Ora, admitindo ii) verificamos
que a experiência visual é efectivamente um representante do objecto
material18, e admitindo i) verificamos que a experiência visual, ou seja, o
propriamente experienciado não é da ordem do objecto material. Sendo
assim, e admitindo finalmente que ter uma experiência visual é condição
para que chegue a haver percepção, não há, pois, nenhuma razão que nos
possa levar a concluir que o objecto percepcionado seja um objecto
material. Pelo contrário, apenas à experiência visual compete ser “o
veículo do conteúdo intencional”, ao passo que o objecto material, além
do seu papel causal, não dispõe de nenhuma outra função na percepção.
É claro que o objecto percepcionado deve corresponder ao objecto
material, mas daí não se segue que sejam ou possam, sequer, ser da
mesma natureza.
Esta suposta identidade entre o objecto material e o objecto
intencional – tese central do realismo ingénuo – mostra-se
18 É, porém, um representante não intencional, como um fóssil, um estrato
geológico ou uma fotografia. Todos estes representantes são, ou podem ser informativos, mas apenas para um sujeito consciente que se relacione com eles perceptivamente.
36
particularmente discutível quando Searle afirma que na alucinação
nenhum objecto é visto, sequer um objecto simplesmente percepcionado.
Segundo Searle, na alucinação apenas haveria experiência visual e
nenhum objecto19, o que se explicaria pelo facto de a identidade acarretar
que a ausência do objecto material significasse a ausência do objecto
percepcionado. Ora, este ponto de vista parece-nos obviamente
discutível. Quem alucina alucina algo que não é redutível à simples
experiência visual, alucina um objecto que, apesar de percepcionado, não
é correspondido por nenhum objecto material. Logo, dificilmente Searle
poderá sustentar sem contradição a tese da identidade. Uma alucinação só
pode figurar, representar, significar; o que é alucinado, na alucinação
visual, não é, pois, a experiência visual – que, por si, nada significa,
representa ou figura – mas um objecto de percepção, forçosamente
invisível. Portanto, se uma alucinação não figurasse, representasse ou
significasse nada, então nada seria alucinado, não haveria alucinação. É
D. Quixote que alucino, não uma experiência visual. Aliás, se as
alucinações podem acontecer é precisamente por o alucinado não
consistir em experiências visuais, mas em perceptíveis. Com efeito, os
perceptíveis dependem de uma série de factores com sede na
subjectividade e no processo cognitivo, ao passo que as experiências
visuais estão para lá – ou melhor, aquém – das nossas capacidades,
conscientes ou não, de discriminar, inferir ou conjecturar o que quer que
seja. De certo modo, poder-se-á afirmar que a experiência visual (bem
como toda a experiência sensorial), não obstante o seu carácter mental,
participa mais da realidade do que do sentido que um sujeito pode extrair
dessa realidade.20
Mesmo a ideia defendida por Fernando Gil, no seu Tratado da
Evidência, de que a alucinação não é tanto uma percepção sem objecto,
mas que, antes, será a própria percepção uma alucinação com objecto, é
uma ideia que avizinha o perceptível e o alucinável. Ora, a ideia agora
19 «In the case of visual hallucination the perceiver has the same visual
experience but no Intentional object is present.» (Searle, 1983: 58) 20 Bernardo Soares antecipa esta “realidade” da sensação e independência face à
subjectividade em termos muito claros: «O que as nossas sensações têm de real é precisamente o que têm de não nossas.» (Bernardo Soares, 2001: 334)
37
em causa em mais não consiste do que aprofundar essa vizinhança – se,
por um lado, o regime da percepção é um regime alucinatório, por outro
lado, tem-se que o alucinável mais não pode ser do que um perceptível.
8. Conclusão: por uma experienciologia
Atrás procurei sustentar duas ideias. Em primeiro lugar, que
existem experiências mentais que não são conscientes nem intencionais.
Fenomenologias da distracção e da sonolência mostram-no
indirectamente, e por vias diferentes, a propósito da experiência visual –
a da distracção por um desvio da actividade da atenção, a da insónia pela
ausência de tal actividade. Em ambas, é-se conduzido a admitir que há
ver, ainda que não haja consciência desse ver.
Em segundo lugar, procurei sustentar a ideia de que a percepção
não é da ordem do sensorial (entenda-se este como visual, auditivo,
táctil, etc.). No essencial, o argumento exposto é este: se subtrair a
percepção ao ver sensorial não subtrai nada de visível a este ver – facto
fenomenologicamente evidenciável –, então acrescentar-lhe percepção
também não lhe acrescenta nada de visível.
Aparentemente, este argumento apenas mostra que percepção e
visibilidade são heterogéneas, ou seja que os perceptíveis não são visíveis
e que, portanto, os visíveis não são objecto de percepção. Só que o que
digo da percepção é extensível à própria consciência, pois não vejo como
pudesse haver consciência que não fosse já de algum modo
apercebimento, ainda que não intencional – isto, no caso de se entender
«intencionalidade» como referência objectiva, ou seja, como propriedade
de algo ser acerca de algo, acerca de um objecto, o que não se verifica em
formas de consciência sem correlato objectivo e que tomo por formas de
consciência fenomenal de qualia.
Portanto, os visíveis não só não são perceptíveis, como nem sequer
são conscientes. Naturalmente, o que se diz da experiência visual é válido
para toda a experiência sensorial. Quer isto dizer que a experiência
sensorial não ser consciente não é uma possibilidade rara, resultado de
patologias ou simples registos menos frequentes da atenção, nem sequer
38
é um facto contingente como se se pudesse verificar também o contrário.
Na verdade, é uma necessidade – nenhum visível, audível, táctil, etc. é
consciente.
Custa, porém, aceitar que não haja nunca apercebimento do visível.
Apetece perguntar: Como assim? Quando estou atento ao vermelho e ao
verde, de uma flor e de uma planta, quando me deixo sensibilizar pela
experiência, não estou consciente da experiência? Recusar tais evidências
não será demasiado contra-intuitivo? Duas teses complementares
suavizarão porventura a estranheza que pode suscitar recusar-se a
possibilidade de um apercebimento do sensorial.
Primeiramente, recusar que haja consciência do sensorial, da
experiência visual por exemplo, não significa recusar nem que haja uma
experiência visual nem que haja uma concomitante consciência, ainda
que não do ver propriamente dito. Pelo contrário, em condições normais
de atenção, a vida mental envolve quer um fluxo experiencial de natureza
sensorial, o qual não é, em si mesmo, apercebido, quer um fluxo de
apercebimento consciente; portanto, dois contínuos mentais de
actualidade. Para ilustrar esta tese, proponho uma analogia. Imagine-se
dois filmes, duas películas, ambas a correr, uma sobre a outra. A primeira
traz nela a impressão do ver; a segunda, sobre aquela, é transparente,
absolutamente transparente. A dificuldade que de pronto se coloca é esta:
Como sei que as películas são duas e não apenas uma? Imagine-se, em
seguida, que entre os dois filmes há um intervalo de espaço, de tal forma
que aqueles dois nunca cheguem a tocar-se. Então, a maneira mais
simples de verificar que se trata de dois filmes sobrepostos, ainda que um
seja invisível, consistirá em explorar o interstício, esse espaço
impreenchível entre as duas películas, ou seja, entre a sensação e a
consciência, entre o ver experienciado e o invisível apercebido, como que
a surpreender a inconsciência pelo canto do olho. Bernardo Soares – já o
referi em epígrafe – di-lo assim: «É entre a sensação e a consciência dela
que se passam todas as grandes tragédias da minha vida»21. Na
distracção, o filme invisível deixa de estar “atento” ao filme do ver; na
21 Bernardo Soares, 2001: 484.
39
sonolência, o filme invisível como que cessa, deixando inteiramente
exposto o filme do ver – invisibilidade em excesso no caso da distracção,
visibilidade em excesso no da sonolência. Por isso, a distracção pede
estímulos para a corrigir, e a sonolência pede escuridão e silêncio para a
satisfazer.
Em todo o caso, perguntar-se-á: Como se pode aceder ao ver?
Simplesmente não se pode, porque aceder é já perceber – daí que, no
caso da percepção, o perceptualismo esteja certo na crítica que faz ao
sensorialismo. Então, como falar do visível se falar dele é como falar do
que não pode ser acedido? A percepção em particular, mas também todo
o acesso intencional, exemplificam uma possibilidade de atitude entre
outras. E quanto ao visível e à experiência sensorial em geral, a atitude
não pode ser de acesso ou de apercebimento. Donde que a pergunta
«Como aceder ao visível?» seja irrespondível. Por causa do visível
percebo algo, mas não porque o visível se torne perceptível. Por causa do
visível sensibilizo-me, mas não porque o visível sensibilize, isto
entendendo por «sensibilizar» tudo o que diga respeito aos qualia e à
consciência fenomenal. Com efeito, nem os percepta nem os qualia
acrescentam ou subtraem nada de visível ao visível, nada de sensorial ao
sensorial – ambos são heterogéneos face ao visível em particular e ao
sensorial em geral. E se ambos, entre si, se distinguem, uns como aquilo
de que a consciência é acesso objectivo, os outros como relações
qualitativas, a verdade é que ambos são da ordem do sentido invisível, o
sentido que as coisas do mundo fazem para um sujeito: por um lado,
coisas, objectos e entidades, ou tudo aquilo que a linguagem pode
denotar semanticamente; por outro, relações qualitativas, ou tudo aquilo
que a linguagem pode conotar e metaforizar semanticamente. Não é,
pois, o caso que os qualia e a consciência fenomenal estejam mais
ligados ao visível, ao audível, etc., do que a consciência intencional. Em
suma, os qualia não são da ordem da experiência sensorial.
A segunda tese complementar é a de que a experiência sensorial,
apesar de não consciente e inapercebível, não é inerte ou indiferente
relativamente a um sujeito mental. A experiência estética, longe de valer
como objecção a este ponto de vista, vem, se bem interpretada, dar razões
40
a esta “inconsciência experiencial”. Um exemplo pode ajudar a
esclarecer o ponto. Ouça eu música que aprecie. Seja, pois, uma versão
do Cry me a River. Não devo permitir que a atenção me distraia; há que
evitar, para ouvir a música, pensamentos ou outros focos de atenção; há
que não antecipar nada, não recordar nada, que interrompa o fluxo da
audição, que me faça descolar, permitindo assim uma distância, uma
diferença, entre o filme musical e eu próprio. Na realidade, todo o
esforço, mais ou menos bem sucedido, está em não se ser mais do que
esse filme auditivo, reprimindo, tanto quanto se consiga, o fluxo do
apercebimento consciente. Consiste isto num esforço de atenção – estar
atentamente distraído para que nada distraia a audição, o ouvir. Portanto,
ouço mas não reconheço nada, ouço mas não me apercebo de nada, ouço
e é tudo. Talvez me arrepie e talvez diga então «Mas isto é sentir!».
Note-se, todavia, que também esse arrepio é como a música: experiência
e só experiência; portanto, nem pensamento nem reconhecimento. Cada
palavra cantada, um estremecimento; cada volteio do saxofone outra dor;
e o baixo ressoando, etc. Visualmente, sucede o mesmo: há que evitar,
por alguns instantes pelo menos, recordar, antecipar, pensar o que quer
que seja, para que não suceda o sujeito descolar do ver de uma obra de
arte plástica, para que não se reinstale a dominação pelo reconhecimento,
pela antecipação e recordação. Por esta razão, um “empirismo radical”,
i.e., uma atenção à experiência aquém da consciência, seja intencional ou
fenomenal, é sempre da ordem do estético. E o que este faz é inverter a
ordem do ver – já não sou eu que vejo as coisas, são as coisas que me
fazem vê-las. A experiência provocando experiência, a experiência
experimentando-se: essa arriscaria, pode ser a essência da experiência
estética. Distinguir-se-ia assim pelo poder de se continuar. E o que se diz
aqui a partir do artístico não é menos válido se dito das pessoas, dos
amigos, até do próprio sujeito, a saber, que só encaramos realmente a
vida permitindo-nos provar radicalmente a experiência. O tédio da vida
surge quando desta já só vemos o que esperamos ver. É nesta
possibilidade de experiência sem dominação que se joga, pois, um
autêntico regresso às coisas, contra o tédio da vida. Em suma, não seriam
o inapercebimento e a inconsciência capazes de diminuir a importância
41
da experiência sensorial, quando é nela que se lança a própria experiência
da vida, nem que seja por instantes.
Finalizando, a identificação de um registo da vida mental
independente quer da consciência quer da intencionalidade abre todo um
campo de estudos sobre a experiência mental – crucial para o problema
mente/corpo, mas igualmente para o tratamento dos problemas da
percepção e da alucinação, e ainda, de uma forma bastante relevante,
para a tematização da experiência estética. Pela sua importância, e
mesmo pela sua quase plena anulação na tradição de estudos da Filosofia
da Mente, faz sentido sugerir que se consagre tal campo de estudo de
uma forma disciplinar – uma experienciologia.
43
II
Sobreveniência
Do ponto de vista do estado actual do conhecimento científico,
parece inevitável o caminho que levará, mais tarde ou mais cedo, a uma
explicação natural da mente, i.e, a uma recondução da mente à
condição de um fenómeno natural, descritível nos termos de uma
Física, dos seus compostos materiais e suas leis. Indesmentível parece,
porém, também ser uma peculiar capacidade de resistência a este tipo
de explicação, quando se ensaia traduzir o que é a mente noutros
termos que não os mentais, fazer equivaler a intencionalidade a algo
que não seja já de si intencional, em suma, não pressupondo no que se
diz aquilo de que se diz.
É certo que a história de uma pretensa condição irredutível do
mental face ao não mental é muito anterior a toda a investigação
propriamente científica no assunto. É uma história que precede em
muitos séculos as neurociências, remonta, pelo menos, aos bem
conhecidos argumentos de Descartes sobre a irredutibilidade da res
cogitans face à res extensa. Mas não é menos certo que, apesar dos
profundos avanços que os últimos decénios trouxeram, e que deixam
como que em cerco, rodeado por diversas frentes convergentes, um
núcleo de questões difíceis, maximamente relevantes do ponto de vista
filosófico, as dificuldades com que se confrontava Descartes se
encontram ainda, grosso modo, por resolver. Indicações claras disso
encontramos em argumentos como os do “hiato explicativo”, ou
presumíveis factos como os da existência de uma experiência
qualitativa irredutível às leis do mundo natural, e de uma
descontinuidade insuperável entre as perspectivas da primeira e da
terceira pessoa. Naturalmente, estes problemas assumem feições novas,
mais de acordo com a linguagem que a filosofia emprega
44
contemporaneamente, mas exprimindo exactamente o mesmo risco de
uma inexplicabilidade por princípio do mental pelo neural.
Ora, em tese, o que tentaremos neste primeiro estudo será
formular uma moldura mais adequada à resolução do problema
mente/corpo, para que deste se torne naturalmente possível dar uma
explicação científica22, nos termos de um fenómeno de sobreveniência.
Tratar-se-á, dito de outro modo, de mostrar que a pretensa
inexplicabilidade, mesmo mistério, que rodeia tal problema talvez não
resulte de nada senão uma forma equívoca de o conceber.
§1. A tese da sobreveniência
Se há uma razão intuitivamente forte para a defesa da tese da
sobreveniência é o facto de esperarmos que sempre que alguma
mudança nas nossas mentes se ocasione, tal tenha por base uma
mudança nos nossos cérebros. Não é despiciendo pensar que a ideia
conversa também tem o seu sustento, a saber que mudanças nos nossos
estados cerebrais provoquem mudanças nos nossos estados mentais. De
uma forma ou de outra, é-se conduzido a crer que haja uma correlação
entre os dois tipos de estados, os mentais e os cerebrais.
Genericamente, há uma outra razão para que, num mesmo registo
intuitivo, não se aceite que aquelas duas ideias sejam exactamente
conversas – o facto de esperarmos que diferentes estados cerebrais,
sejam numa só pessoa em diferentes instantes sejam em diferentes
pessoas, mesmos diferentes animais, possam corresponder a um mesmo
estado mental.
Em linguagem mais filosófica, a propósito destas intuições,
Stephen Stich formulou, através do que denominou ‘princípio da
autonomia psicológica’ (principle of psychological autonomy), a
principal característica que é atribuída a esta correlação:
22 Com esta reclamação de naturalidade não visamos afirmar que a possiblidade de explicação científica se torne fácil ou menos esforçada, mas sim que será mais consentânea com a natureza própria à explicação científica.
45
Imagine que estivesse disponível tecnologia que nos capacitasse para duplicar pessoas. Ou seja, nós podemos construir seres humanos vivos que sejam átomo a átomo, molécula a molécula réplicas de algum ser humano (ou, para o caso, de qualquer tipo de animal) e a sua réplica exacta. O que o princípio da autonomia sustenta é que esses dois humanos serão psicologicamente idênticos, que quaisquer propriedades psicológicas instanciadas por um desses sujeitos serão sempre instanciadas pelo outro.23
Este princípio da autonomia psicológica constitui o eixo nuclear
da ideia de que o mental sobrevém ao físico, de que os acontecimentos
mentais são sobrevenientes a acontecimentos cerebrais fisicamente
descritíveis na perspectiva da terceira pessoa. Tal como os fenómenos
da Química sobrevêm a fenómenos mais básicos descritos pela
Microfísica, deixando-se assim explicar por estes, esperar-se-ia, em
tese, que o mesmo pudesse ser feito a respeito da mente.
Donald Davidson é apontado por Kim como quem primeiramente
introduziu o tema da sobreveniência do mental sobre o físico, no seu
“Mental Events”.24 Mas se é o caso de que a correlação psicofísica
pressupõe a tese da sobreveniência, já não se pode dizer o mesmo da
conversa. Com efeito, pelo menos a priori a admissão da
sobreveniência não requer a admissão da tese da correlação psicofísica.
Nos termos de Kim, esta última deixa-se enunciar do seguinte modo:
«Para cada evento psicológico M existe um evento físico P tal que,
como matéria de lei, um evento de tipo M suceda a um organismo num
certo instante apenas no caso de um evento de tipo P lhe suceder no
mesmo instante»25. Aliás, justamente a propósito de Davidson, que
rejeita a possibilidade de se formularem tais leis psicofísicas, Kim
23 «Imagine that technology were available which would enable us to duplicate
people. That is, we can build living humans beings who are atom for atom and molecule for molecule replicas of some given human being. Now suppose that we have before us a human being (or, for that matter, any sort of animal) and his exact replica. What the principle of autonomy claims is that these two humans will be psychologically identical, that any psychological properties instantiated by one of these subjects will always be instantiated by the other.» (Stich, 1978: 259)
24 «...Mental characteristics are in some sense dependent, or supervenient, on physical characteristics. Such supervenience might be taken to mean that there cannot be two events alike in all physical respects but differing in some mental respect, or that an object cannot alter in some mental respect without altering in some physical respect.» (Davidson, 1970, citado por Kim, 1994: 576)
25 Kim, 1982, 1993: 178.
46
deixa claro que a tese da correlação psicofísica pressupõe a da
sobreveniência, não sucedendo porém a conversa.26 O próprio Donald
Davidson expõe no seu célebre “Mental Events” (1970) a
compatibilidade da tese da sobreveniência com a rejeição da tese da
correlação psicofísica:
Embora a posição que eu descrevo negue que haja leis psicofísicas, ela é consistente com a perspectiva de que as características mentais são de algum modo dependentes de, ou sobrevenientes a, características físicas. Tal sobreveniência pode ser tomada como significando que não pode haver dois eventos similares em todos os aspectos físicos, mas diferindo em alguns aspectos mentais, ou que um objecto não pode mudar em alguns aspectos mentais sem mudar em alguns aspectos físicos27
O ponto de Davidson, conhecido como monismo anómalo
(anomalous monism), envolve a distinção entre tipos (types) e
exemplares (tokens) de estados mentais e estados físicos, em especial
neurais, que não tomaremos em atenção aqui. Em todo o caso, tratar-se-
á de mostrar, para Davidson, que no plano dos tipos mentais
sobrevenientes não é possível estabelecer nexos nomológicos, ao
contrário do que sucede no plano dos tipos físicos/neurais, e, em
consequência, que também não é possível estabelecer leis psicofísicas,
mas apenas uma dependência (sem a implicação de um reducionismo
fisicalista). Porém, suspendendo por ora a distinção entre tipos e
exemplares, julgamos não ser o caso de que para cada sucessão de
padrões mentais não seja possível encontrar, a partir de certo nível de
abstracção, um nexo nomológico coextensivo do nexo nomológico que
se encontra para a sucessão de padrões neurais correlacionada com a
primeira sucessão. Trataremos mesmo de argumentar que os dois nexos
nomológicos assim correlacionados são um só e mesmo nexo
26 «I think it would be wrong to think of the Correlation Thesis as providing
evidence for the doctrine of psychophysical supervenience. For one thing, there are those who accept supervenience but not the Correlation Thesis, the latter being a stronger claim than the former.» (Kim, 1982, 1993: 179)
27 «Although the position I describe denies there are psychophysical laws, it is
consistent with the view that mental characteristics are in some sense dependent, or supervenient, on physical characteristics. Such supervenience might be taken to mean that there cannot be two events alike in all physical respects but differing in some mental respects, or that an object cannot alter in some mental respects without altering in some physical respects.» (Davidson, 1970: 88; citado por Kim, 1993: 57)
47
nomológico instanciado nos dois planos. Admitindo esta argumentação,
então só muito dificilmente se poderia ainda sustentar a rejeição
davidsoniana da possibilidade de formular leis psicofísicas. Aliás, se no
plano dos tipos mentais se verifica, como expõe Terence Horgan, uma
descrição holística, «envolvendo uma global, temporalmente
diacrónica, “interpretação intencional” da pessoa»28, então, a nosso ver
tal não deve ser pensado como uma anomalia do mental, mas
justamente como o correlato de aspectos físicos e neurais a que falta
encontrar uma descrição adequada. Propostas mais recentes promovidas
por autores como Timothy van Gelder, que desenvolve uma abordagem
dinamicista ao problema mente/corpo, ou Roger Penrose, que chega
mesmo a sugerir a necessidade de uma nova física, inscrevem-se, a
nosso ver, no quadro de uma não concessão de que haja qualquer coisa
como uma anomalia do mental e de uma investigação que ponha a
descoberto o tipo de descrição física e neural adequada ao mental.
Com estas observações, permitimo-nos saltar por cima da
distinção, consagrada por Davidson e aceite por Kim, entre as teses da
correlação psicofísica e da sobreveniência, para assentar na seguinte
tese da sobreveniência do mental sobre o neural – um plano de eventos
mentais diz-se sobreveniente de um plano de eventos neurais se, e
apenas se, se verificarem as seguintes condições:
1. cada evento mental, sucedendo num certo lapso de tempo, é
acompanhado por (i.e tem por correlato) um evento neural no
mesmo lapso de tempo;
2. a partir de certo nível de abstracção, o nexo causal de cada
sucessão de eventos mentais é o mesmo da sucessão
correlacionada de eventos neurais;
3. a causalidade de cada sucessão de eventos mentais é
necessariamente expressável nos termos da causalidade da
sucessão correlacionada de eventos neurais.
28 Horgan, 1994: 475.
48
Posta esta caracterização do que entenderemos doravante por tese
da sobreveniência do mental sobre o neural – mantendo-se o fundo de
que uma identidade entre estados neurais (ou seja: estados físicos
internos) oblige à uma identidade entre estados mentais –, há três
grandes desafios ou problemas que importa ter em atenção e que
orientarão o desenvolvimento deste capítulo – um desafio descritivo,
um desafio explicativo e, finalmente, um desafio epistemológico:
i) A primeira dificuldade diz respeito à identificação de
estados mentais e formula-se nos seguintes termos –
será possível fazer corresponder a um estado físico
descritível laboratorialmente na terceira pessoa um
determinado estado mental vivido por um sujeito na
primeira pessoa? Antes disso, será possível identificar
individual e rigorosamente a ocorrência de estados
mentais? Observe-se que esta primeira dificuldade não
deve perder de vista um dado relevante – o tipo de
correspondência em discussão não tem de ser
biunívoco, pois, de acordo com a tese da
sobreveniência, estados físicos diferentes podem
corresponder a estados mentais idênticos. Apenas não é
admissível que estados mentais diferentes possam
corresponder a estados físicos idênticos. (Desafio
descritivo)
ii) Superando a primeira dificuldade, resulta mesmo assim
evidente que a tese da sobreveniência do mental sobre o
neural não deve limitar-se a postular uma
correspondência entre os dois planos em causa. Mais do
que verificar certas correlações, está em causa explicá-
las, ou seja, vinculá-las segundo certas leis naturais,
embora não causais. É justamente esse valor
explicativo o que a tese da sobreveniência visa
acrescentar à formulação da principio da autonomia
psicológica (Desafio explicativo)
49
iii) Finalmente, há uma dificuldade, por excelência
filosófica, em torno do plano certo em que se deve
resolver o problema mente/corpo. Por exemplo, a
situação hipotética sugerida por Stich não tem qualquer
viabilidade física, pelo que não pode ser empregue
como um critério para a corroboração ou confutação
empírica da tese da sobreveniência do mental sobre o
neural. Em que termos e em que moldura
epistemológica se deverá colocar a discussão da tese da
sobreveniência em jogo é a questão que nos interessará
em último lugar. (Desafio epistemológico)
Estes três desafios, tal como os expusemos, encontram eco em
três aspectos que Kim associa à tese, tal como ele a expõe, da
sobreveniência – a covariação de propriedades, a dependência e o
fisicalismo não-reducionista.29 Com efeito, a covariação de
propriedades traz consigo o desafio da identificação das correlações e,
por maioria de razão, dos correlata em causa; a dependência
estabelece-se apenas em virtude de uma explicação que necessite tais
correlações; finalmente, o não-reducionismo prender-se-á, embora em
termos muito distintos dos de Kim, com o nosso desafio epistemológico
quanto ao âmbito certo em que se poderá resolver o mind/body
problem. Procurar-se-á em seguida tematizar cada um destes três
desafios.
§2. O desafio descritivo
O desafio descritivo desdobra-se em dois. Por um lado, saber
como proceder à identificação dos termos da correlação; por outro,
29 «Three ideas have come to be closely associated with supervenience: (1)
property covariation (if two things are indiscernible in base properties, they must be indiscernible in supervenient properties); (2) Dependence (supervenient properties are dependent on, or determined by, their subvenient bases); and (3) non-reducibility (property covariation and dependence involved in supervenience can obtain even if supervenient properties are not reducible to their base properties).» (Kim, 1994: 576)
50
saber como atestar a covariação, i.e, que a indiscernibilidade das
propriedades sobrevenientes esteja implicada na indiscernibilidade das
propriedades base.
a) Identificação
A mera definição de tipos de estados mentais é bastante
problemática, pois não há uma única discriminação possível desses
tipos, sendo muito heterogéneos os critérios que regem a discriminação.
Além deste problema, digamos, de ordem estritamente descritiva, há
ainda que ter em conta o problema em torno do estatuto das ocorrências
simultâneas, se é que se admite tais ocorrências.30
Em termos mais gerais, o problema relativo à identificação de
estados mentais começa por ser um problema em torno da sua
individualidade – a saber, se os podemos identificar como estados
individuais, dotados de uma natureza discreta, com limites definidos,
ou se, pelo contrário, a sua natureza é de tal modo que não seja possível
individuá-los, pelo menos ao ponto de se poder afirmar que dados dois
estados mentais, se verifica serem idênticos.
Por exemplo, não é claro que uma crença seja uma ocorrência, e,
no entanto, é frequente especificá-la como uma atitude proposicional ao
lado de outras (como a expectativa, o desejo, a esperança, etc.). De
facto, todas estas atitudes proposicionais, sejam direccionais ou
informativas31, podem ser assumidas conscientemente, ou mesmo
30 Genericamente estas dificuldades são assumidas por J. Kim nos seguintes
termos – «Much of our evidence for mind-body supervenience seems to consist in our knowledge of specific correlations between mental states and physical (in particular, neural) processes in humans and other organisms. Such knowledge, although extensive and in some ways impressive, is still quite rudimentary and far from complete (what do we know, or can we expect to know, about the exact neural substrate for, say, the sudden thought that you are late with your rent payment this month?» (Kim, 1994: 580-581)
31 São direccionais se as suas condições de satisfação resultarem de uma alteração do estado de coisas; são informativas se as suas condições de satisfação estiverem no actual estado de coisas. Georges Rey expõe esta diferença nos seguintes termos: «Propositional attitudes can be divided into two broad types, informational ones that merely represent the world “neutrally” as being one way rather than another, e.g. belief, suspicious, imagining; and directional ones which motivate an agent to act in one way or another with regard to a particular way the world might be, e.g. preference, desire, hate. In most discussions, philosophers use “belief” and “desire” as representative examples of each of these categories, but it shouldn’t be supposed that
51
comunicadas, em dado momento, mas isso não significa que até esse
momento não existissem de forma latente. Ilustrando um pouco o
ponto, eu poderia já acreditar que a solução do problema mente/corpo
estaria no fisicalismo não reducionista antes de o ter declarado pela
primeira vez, antes de eu ter pensado para mim mesmo que o
fisicalismo não-reducionista deveria ser verdadeiro, antes mesmo de
conhecer a expressão ‘fisicalismo não-reducionista’. De algum modo,
como na generalidade das minhas crenças, eu limitei-me a explicitar,
declarando-o, algo em que acreditava sem ter disso uma clara
consciência. Houve, naturalmente, situações em que mudei de opinião e
abandonei uma crença, como se até então tivesse estado sob a
influência de uma ilusão, mas nem este abandono nem qualquer
declaração da minha parte, não obstante ambos serem localizáveis na
ordem temporal dos acontecimentos, permitem uma identificação
individual do conjunto das propriedades relevantes. Sendo assim, não
parece razoável procurar identificar um estado mental individual em
termos de coordenadas espácio-temporais, sequer meramente
temporais, e, por maioria de razão, procurar uma correspondência entre
ele e um estado neural.
Mesmo evitando as problemáticas atitudes proposicionais e
fixando a atenção nos actos perceptivos, também aí são diversos os
problemas que se colocam à tentativa de identificar individualmente
estados mentais. O facto é que não é fácil individuar um estado mental.
Desde logo é sabido que não dispõe de coordenadas espácio-temporais
e naquelas de que dispõe é sempre enquanto testemunhadas pelo
próprio e não a partir de um ponto de vista público. A própria noção de
um estado individual é correlativa a um certo tipo de representação
conceptual, pela qual é equiparado a um objecto. Não obstante, a
questão sobre o carácter objectal destas representações só poderia
encontrar resposta sob a presunção de um outro acto intencional que
tivesse por objecto aquelas representações e isto numa sucessão
anyone thinks that these are the basic or ultimate attitudes that figure in ordinary mental talk, much less in psychological theory. They are simply representative of those categories.» (Rey, 1997: 19)
52
interminável que parece configurar um regresso ao infinito. Donde, não
ser apenas por os estados mentais não nos serem dados sob
coordenadas espácio-temporais que existe uma dificuldade em os
identificar objectivamente. A própria objectivação é um processo que
tem sempre por condição actos intencionais.
Finalmente, uma última dificuldade no estabelecimento de tais
correlações reside no facto de, entre o que há a identificar do lado
mental, se ter de tomar em consideração diferentes estratos de correlata
mentais. Com efeito, uma coisa é diferenciar neuralmente entre a
percepção e a recordação, outra é diferenciar neuralmente os seus
conteúdos representativos, ainda outra é fazê-lo no que diz respeito a
tipos (por exemplo, a dor entendida abrangentemente) e no que diz
respeito a exemplares (por exemplo, esta dor que sinto neste momento).
Com tudo isto, como estabelecer então uma correlação entre as
duas ordens de acontecimentos relevantes para a tese da sobreveniência
do mental sobre o neural?
Apesar das dificuldades enunciadas em obter uma identificação
individual de estados mentais, pareceria razoável defender, de um
ponto de vista epistemológico, uma outra estratégia a fim de se alcançar
pelo menos uma correspondência aproximativa entre a descrição de
estados neurais e a de estados mentais. Tratar-se-ia de dar a iniciativa
ao lado mais acessível, começando por realizar a identificação,
relativamente individualizada, de padrões de estados neurais. A
razoabilidade desta estratégia assentaria na ideia de que procurando
encontrar a situação mental que corresponde a um padrão neural bem
determinado (e não o inverso, que seria, como se viu, bastante mais
incerto), poder-se-íam reconhecer correspondências aproximativas, mas
dotadas de um grau de determinação relativo, com estados mentais. Em
circunstâncias laboratoriais, através de testes aí realizados, com um
controlo apertado das condições de observação e, sobretudo, sob o
efeito da repetição, obtêm-se – e obtiveram-se já – resultados indutivos
tão fiáveis quanto quaisquer outras inferências indutivas. Existem, hoje,
técnicas muito eficazes (encabeçadas pela TEP, tomografia por emissão
de positrões) que multiplicam o número de correlações a um tal nível
53
que nenhum tipo de suspeita permanece racionalmente aceitável. No
limite, esta estratégia entrega a iniciativa identificadora à neurologia,
competindo a uma fenomenologia informá-la das descrições
reflexivas/intuitivas que obtém das vivências, intencionais ou não, de
uma consciência. Paralelamente, competiria às ciências cognitivas
informar a neurologia das descrições funcionais que obtém quanto aos
desempenhos causais dos estados mentais. Considerando a
fenomenologia e a psicologia cognitiva abordagens da Filosofia da
Mente, então, concluir-se-ia, que não é esta que detém a capacidade de
solucionar, por si só ou sequer dominantemente, as dificuldades
relativas ao estabelecimento rigoroso das correlações entre estados
neurais e estados mentais.
Mas, em contrapartida, esta posição não pode deixar de ser
disputada, uma vez que, por mais difícil que seja a tarefa de individuar
fenomenologicamente estados mentais, a verdade é que a neurologia
não é de todo capaz de o fazer pela simples razão de não aceder a
nenhum estado mental. Por outras palavras, e empregando os termos de
Damásio, a neurologia, sob a sua perspectivação na terceira pessoa, não
acede a padrões ou imagens mentais, mas tão-só a padrões ou mapas
neurais32 que é capaz de individuar em função de um estímulo e fazer
variar ao longo de uma sucessão de estímulos diferenciados. Tais
padrões até podem encontrar-se profundamente distribuídos quer na
mesma região cortical quer em várias, seja simultaneamente, seja no
intervalo de uma fracção de segundo. Mas, note-se bem, tais padrões
neurais, mais ou menos distribuídos, só valem como um e um só padrão
neural sob a pressuposição de que, como correlato, haja um e só um
padrão mental. Ora, isto devolve-nos o problema sem que nenhuma
32 «Quando utilizo o termo imagem, quero sempre significar imagem mental. Padrão mental é sinónimo de imagem. Não utilizo a palavra imagem para me referir ao padrão de actividades neurais que pode ser encontrado, através dos actuais métodos da neurociência, nos córtices sensoriais quando eles estão activos – por exemplo, nos córtices auditivos em correspondência com uma percepção auditiva; ou nos córtices visuais em correspondência com uma percepção visual. Quando me refiro ao aspecto neural deste processo uso termos como padrão neural ou mapa. (...)» (Damásio, 1999: 36)
54
dificuldade tivesse, através desta via, sido efectivamente resolvida – Só
sob a pressuposição de que haja correspondência com um e um só
padrão mental em dado instante e sob dado estímulo, a neurologia
pode, de facto, afirmar que individualizou um e um só padrão neural.
Um exemplo simples, mostra como, apesar de todas as
dificuldades, é crucial o trabalho fenomenológico para a
individualização de estados mentais e, consequentemente, para o
estabelecimento rigoroso das correlações entre estados mentais e
estados neurais, entre padrões ou imagens mentais, por um lado, e
padrões ou mapas neurais, por outro. Naturalmente, a correlação entre
estímulo exterior e padrão neural pode revelar-se constante, sucedendo
o mesmo com a correlação entre estímulo exterior e padrão mental –
sempre que me é picado o braço, este dói-me e no meu cérebro verifica-
se certo padrão. Mas se a dor for acompanhada por uma série de outros
estímulos, em cada ocasião uma série diferente, então os padrões
neurais e mentais variarão e eis que alcançamos o seguinte resultado –
distinguimos entre padrões neurais apenas porque distinguimos entre
os padrões mentais. Mas se é assim, então não poderemos assumir,
caso não queiramos incorrer na falácia da circularidade, a posição
segundo a qual se defenderia que fosse através dos padrões neurais que
se distinguiriam os padrões mentais.
Concluindo este ponto relativo à identificação dos estados
mentais, poder-se-á afirmar: 1. Compete à fenomenologia
individualizar estados mentais, compete à neurologia encontrar os
correspondentes estados neurais. 2. A neurologia fixa padrões neurais
individuais em função da individuação exposta fenomenologicamente.
Se a correlação for fiável, tal fixação neurológica certifica a posteriori
– por corroboração – a individualização fenomenológica. Se a
correlação não for boa, sempre se pode pôr em questão se a
individualização fenomenológica é correcta.
b) Covariação
55
Kim referiu-se à covariação, como vimos atrás, através da
seguinte proposição – «se duas coisas são indiscerníveis nas
propriedades base, então têm de ser indiscerníveis nas propriedades
sobrevenientes». É a mesma ideia expressa pelo princípio da autonomia
psicológica, tal como o formula Stich. Na presunção de que as
propriedades dos estados mentais são sobrevenientes relativamente a
propriedades de estados físicos, então a formulação de Stich, também
exposta atrás, é perfeitamente adequada. Putnam, em artigo de
contraposição crítica à tese da sobreveniência, expõe o mesmo ponto –
«se conseguíssemos produzir um ser humano sintético que estivesse no
mesmo estado físico interno que eu em todos os aspectos, então esta
réplica de mim estaria também exactamente nos mesmos estados
psicológicos internos.»33
Porque há-de ser assim? Que tipo de necessidade está
comprometido neste “tem de ser assim”? E é de facto necessário?
Mesmo que seja necessária, por que razão não se afirma, também
necessariamente, a conversa e, por conseguinte, que a
indiscernibilidade entre dois estados físicos está numa relação de dupla
implicação, equivalência material pois, com a indiscernibilidade entre
os estados psicológicos internos? A resposta é aparentemente simples:
porque existem estados de coisas sobrevenientes que são entre si
indiscerníveis, tendo, porém, por base estados de coisas diferentes.
Exemplos disto não faltam. Basta pensar que vivemos, em diferentes
momentos das nossas vidas, estados psicológicos indiscerníveis, apesar
de em circunstâncias base muito distintas. Note-se que foi este tipo de
exemplos que valorizaram o posicionamento funcionalista, cuja tese
principal se pode resumir à afirmação de que «as propriedades
psicológicas são idênticas às propriedades funcionais»34,
posicionamento que não discutiremos antes do Cap. 5.
33 Cf. Putnam, 1998b. 34 Putnam define propriedade funcional como uma propriedade não física e
isto, diz ele, «(...)no sentido em que pode ser realizada por um sistema de modo absolutamente independente de qual possa, de certo modo, ser a sua composição ontológica ou metafísica.» E acrescenta: «As propriedades psicológicas apresentam as mesmas características: a mesma propriedade psicológica (e.g. estar zangado) pode
56
A discussão, por ora, centrar-se-á no estatuto da necessidade
afirmada pelo princípio da autonomia psicológica de Stich ou ainda
pela covariação de Kim.
Este aspecto necessitarista é bastante notório quando, entre
diversas formulações da tese da sobreveniência que Kim apresenta,
destacamos a que ele perfilha, a saber, a da sobreveniência global
(Global supervenience):
Sobreveniência global: quaisquer dois mundos que sejam indiscerníveis a respeito de P (i.e, mundos nos quais as propriedades físicas estão distribuídas nos indivíduos da mesma maneira) são indiscerníveis a respeito de M (ou seja, não podem diferir quanto ao modo como as propriedades mentais estão distribuídas)35
Note-se que nesta formulação Kim faz uso do idioma dos mundos
possíveis e, de acordo com ela, a sobreveniência é considerada
globalmente36. Significa isto que, independentemente da população
individual do mundo, o facto de as propriedades base de dois mundos
serem indiscerníveis determina necessariamente que as propriedades
sobrevenientes de ambos os mundos sejam também indiscerníveis.
ser uma propriedade dos membros de milhares de espécies diferentes, que podem ter uma física e química completamente diferentes (...).» (Putnam, 1989: 110-111)
35 «Global supervenience: Any two worlds that are indiscernible with respect
to P (i.e worlds in which physical properties are distributed over the individuals in the same way) are indiscernible with respect to M (that is, they cannot difer in how mental mental properties are distributed)». (Kim, 1994: 578)
36 Além da sobreveniência global, pode-se também considerar, em particular,
e como implicada por aquela, a sobreveniência local. Esta caracteriza-se por definir o fenómeno da sobreveniência a propriedades de um indivíduo, não atendendo a aspectos contextuais. David Chalmers expressa a diferença entre estas duas formas de sobreveniência nos seguintes termos: «B-properties supervene locally on A-properties if the A-properties of an individual determine the B-properties of that individual (...). In general, local supervenience of a property on the physical fails if that property is somehow contex-dependent – that is, if an object’s possession of that property depends not only on the object’s physical constitution but also on its environment and its history.» (Chalmers, 1996: 34). Contudo, para a presente discussão acerca da sobreveniência do mental sobre o neural a distinção entre sobreveniência global e local não é significativa. Recorrendo, uma vez mais, a Chalmers, o ponto é o seguinte - «If two creatures are physically identical, then differences in environmental and historical contexts will not prevent them from having identical experiences. Of course, context can affect experience indirectly, but only by virtue of affecting internal structure, as in the case of perception. Phenomena such as hallicunation and illusion illustrate the fact that it is internal structure rather than contex that is directly responsible for experience.» (Ibidem)
57
Por conseguinte, a questão que pronta e urgentemente se afigura
é a de saber que tipo de necessidade está aqui a ser afirmada?
c) O problema da necessidade na covariação
É pacífico que existem necessidades lógicas e necessidades
físicas, ou seja, certas verdades e falsidades cuja necessidade ou
contingência física é prescrita em função das leis físicas e cuja
necessidade ou contingência lógica é prescrita em função das leis
lógicas. Por exemplo, caso as leis físicas sejam aquelas que
conhecemos actualmente, sabe-se que é uma impossibilidade física a
velocidade da luz ser ultrapassada. Eis pois uma impossibilidade física.
Não obstante, concebe-se perfeitamente (sobretudo se quem concebe
for um físico) um conjunto de leis físicas das quais se seguisse a
possibilidade de a velocidade da luz ser ultrapassada.
Nestes termos, é perfeitamente razoável conceber possibilia
mesmo que sejam impossibilia físicos relativamente ao mundo actual.
Qual o estatuto destes possibilia? São possibilia lógicos é certo, mas
valem mais, do ponto de vista epistémico, do que meras possibilidades
lógicas e isto justamente por serem concebidos a partir de possibilia
físicos. Dito de outro modo: se nem tudo o que é logicamente possível é
fisicamente concebível, então ter-se-á de clarificar como se pode
discriminar o que é fisicamente concebível do que não o é.37
Ora, a este respeito, uma primeira limitação a indicar é a de que
não pode um sujeito conceber, por exemplo eu, o que quer que seja a
não ser a partir de um conjunto prévio de regras de concepção. Por
exemplo, concebo uma dada jogada possível numa partida de xadrez a
partir das regras do jogo. Assim, uma possibilidade é, ou não,
concebível em função de certas regras. Não posso conceber uma jogada
em que a dama salte casas se tal possibilidade não se segue das regras
do jogo. É claro que posso mudar as regras do jogo, tornando assim tal
jogada concebível. Agora, se me basta mudar as regras do jogo para
que algo inconcebível se torne concebível, que sentido faz a minha
37 Para uma posição antagónica cf. Desidério, 2002.
58
insistência em distinguir o concebível do que é tão-só logicamente
possível? Bom, é que nem todo o conjunto de regras é aceitável, sob
pena de já não estarmos a falar do mesmo jogo. Mas, perguntar-se-á, o
que faz com que um conjunto de regras seja aceitável e já outro
inaceitável? Qual o critério de distinção? A resposta consiste
simplesmente em o novo conjunto de regras poder seguir-se de um
subconjunto do conjunto das regras originais.
Voltando à física, as definições a ter em atenção são as seguintes:
- p é um possibilium lógico se e somente se for consistente com o
conjunto LL das leis lógicas.
- p é um possibilium físico se e somente se for consistente com o
conjunto LF das leis físicas do mundo actual.
- p é um concibilium físico se e somente se for consistente com
um conjunto LFC aceitável de leis da física
- LFC é um conjunto de leis físicas aceitável, e portanto
concebível, se se seguir de um subconjunto de LF
Talvez devamos considerar outras condições para falar em
conjuntos de leis físicas aceitáveis, mas a condição que proponho
parece-me crucial, sob pena de poder nem sequer fazer sentido
dizermos que ainda estamos a falar de física. Ora, a partir deste
momento, tenho garantida a diferença entre concibilia e inconcibilia e
tenho que nem tudo o que é logicamente possível é concebível. Isto
permite falar da relevância epistémica de certos possibilia lógicos que,
apesar de serem impossibilia físicos, são ainda assim concebíveis de
acordo com um segmento das leis físicas do mundo actual.
Posto isto, pensemos como trabalha um físico teórico que se
interroga sobre se a velocidade da luz pode ou não ser ultrapassada. Ele
considerará que se as leis físicas forem as que conhecemos, a
velocidade da luz não poderá ser ultrapassada. Então, que lhe resta
fazer? Ele sabe que algumas das leis físicas de LF se seguem de outras
leis físicas de LF, conhece pois as dependências existentes entre
diferentes leis físicas de LF e, pode assim conservar de LF apenas um
59
subconjunto de leis mais básicas, suspendendo as restantes,
suspendendo nomeadamente aquela ou aquelas que impossibilitam que
a velocidade da luz seja ultrapassada. A partir desse subconjunto de LF
(a que pertencem as leis físicas mais básicas do mundo actual), o nosso
físico tratará de recompor o conjunto que concebe de tal modo que dele
se siga a possibilidade da velocidade da luz ser ultrapassada.
Ora, isto permite esclarecer alguns pontos fundamentais quanto
ao estatuto das necessidades.
Em primeiro lugar, a necessidade e a contingência são prescritas
por leis, ou seja, sucedendo admitirmos a existência de leis físicas e de
leis lógicas, então devemos admitir a existência de modalidade física e
modalidade lógica, ou ainda, a existência de verdades físicas que são
necessárias/contingentes e a existência de verdades lógicas que são
necessárias/contingentes. Note-se que se houvesse um corpo de leis que
não fosse especificamente físico nem especificamente lógico, então ter-
se-ia uma outra modalidade que não seria nem especificamente física
nem especificamente lógica. Isto quer dizer que não seria possível, por
exemplo, indicar necessidades metafísicas a não ser que se dispusesse
de um corpo de leis metafísicas.
Em segundo lugar, existe um domínio mais lato do que o das
possibilidades física, a que chamámos o dos concibilia, mas que, ainda
assim, é mais restritivo do que o das possibilidades lógicas. Tal
domínio tem relevância epistémica a vários títulos – por um lado,
porque está enraizada num subconjunto de leis físicas, o que o torna
apenas um pouco mais frouxo, mais flexível, mas salvaguardando uma
certa familiaridade com o domínio dos possibilia físicos; por outro,
porque sem ele dificilmente se poderia compreender o modus operandi
de um físico sempre que lhe sucede ter de pôr em causa aquilo que se
julga serem as leis da física.
Em terceiro lugar, a necessidade e contingência dos concibilia é
determinável em função de um subconjunto de leis físicas admitidas, o
que significa que se trata ainda tão-só de necessidade e contingência
física.
60
Em quarto lugar, a haver necessidade metafísica, e atendendo a
que se entende por tal uma modalização última, insusceptível de se
converter numa contingência, ou seja, uma necessidade irrestrita, então
esta apenas será expressável, do ponto de vista formal, como uma
necessidade infinitamente reiterada a toda a modalização – Nec.... Nec
P. Ora, mesmo que seja o caso de haver necessidades metafísicas, não
está ao nosso alcance determiná-las.
Por fim, mas não menos importante, dever-se-á evitar confundir
leis físicas, aquelas que realmente existem no mundo actual, e as
formulações de leis que os físicos propõem nas suas teorias. Em
momento algum, tanto quanto se sabe, as leis físicas mudaram no
mundo actual, o que mudou foi a nossa visão delas, a teoria. Posto por
outras palavras, pode-se dizer que uma coisa são as leis físicas, outra
são as leis enunciadas numa teoria física. É que teorias físicas há
muitas, a de Aristóteles, a de Newton, a de Einstein; mas as leis físicas
são no mundo actual sempre as mesmas. O que Aristóteles, Newton e
Einstein procuraram descobrir foi sempre o mesmo conjunto de leis
físicas, aquelas que eles, como qualquer outro sujeito humano de que
tenhamos registo no nosso mundo, sentimos na pele quando nos cai,
por exemplo, uma maçã em cima da cabeça. Não passaria certamente
pela cabeça de quem eventualmente venha refutar a teoria da
relatividade restrita de Einstein que o que vem fazer é mudar as leis
físicas! Não, o que vem fazer é dar uma nova visão das mesmas leis
físicas, é dar delas uma nova teoria, onde é expresso um novo conjunto
de enunciados com a forma de leis. Esse ponto é deveras importante,
pois torna claro o seguinte facto: a necessidade física não está
dependente desta ou daquela teoria, não é relativa a uma teoria física;
ela apenas está dependente das leis físicas. E, nem por isso, passa a
valer como necessidade metafísica.
*
Ora, postas estas considerações gerais sobre o estatuto da
necessidade, regressemos ao problema do estatuto da necessidade
61
expressa no fenómeno da sobreveniência, dita global, do mental sobre o
físico.
O enunciado da sobreveniência global, afirma que se dois
mundos possíveis são indiscerníveis quanto a P, então também serão
indiscerníveis quanto a M.
Seja, pois, um qualquer mundo possível que não o mundo actual
e que seja, quanto a P, indiscernível do mundo actual. Seguir-se-á,
desta assunção, e segundo a tese da sobreveniência global, que os dois
mundos sejam indiscerníveis quanto a M.
Analisemos a necessidade expressa. É este um sequitur que
decorre das leis lógicas? Não, pois nenhuma lei lógica impede que um
mundo possível que seja indiscernível, quanto a P, do mundo actual
divirja, porém, deste quanto a M. Logo, não se trata de uma
necessidade lógica.
Será, então, um sequitur que decorre das leis físicas?
Aparentemente não poderia ser, pois então a tese da
sobreveniência global cairia de pronto. Com efeito, bastaria considerar
um mundo possível com outras leis físicas – o que é logicamente
possível – e a indiscernibilidade quanto a M não se seguiria
necessariamente.
No entanto, há um passo suplementar que sustenta a tese da
sobreveniência global, afirmando-se que dois quaisquer mundos
possíveis que sejam indiscerníveis quanto a P, terão necessariamente as
mesmas leis físicas e que esta será uma necessidade metafísica. Este é
um passo que se prende com a semântica modal e com o célebre tópico
kripkeano das verdades necessárias a posteriori. De acordo com este
posicionamento, há verdades cuja necessidade é menos restritiva que a
necessidade lógica, mas que, no entanto, é mais restritiva que a
necessidade física.
Mas, mesmo admitindo que houvesse tal necessidade
“metafísica”, e que quaisquer dois mundos possíveis fossem
indiscerníveis quanto a P, então, perguntamos, sob que leis se expressa
a necessidade de serem indiscerníveis quanto a M? Não poderão ser leis
físicas stritu sensu pois M não é físico, também não poderão ser leis
62
mentais pois P não é mental. Teriam de ser leis ponte, psicofísicas.
Mas, se apenas leis psicofísicas garantem que dois mundos
indiscerníveis quanto a P serão também indiscerníveis quanto a M,
então, a tese da sobreveniência global, tal qual Kim a formula, fracassa
– não é o caso que quaisquer dois mundos possíveis indiscerníveis
quanto a P sejam indiscerníveis quanto a M, apenas será esse o caso
entre aqueles mundos possíveis que partilhem as mesmas leis
psicofísicas. E desta feita já não é aceitável afirmar-se que dois mundos
possíveis que sejam indiscerníveis quanto a P, terão necessariamente as
mesmas leis psicofísicas.
Finalmente, restringindo-nos ao mundo actual, sob que lei
psicofísica se pode alegar que a indiscernibilidade quanto a P implica a
indiscernibilidade quanto a M? Sem a enunciação de tal lei, lei natural
entenda-se, nenhuma necessidade psicofísica se segue.
Isto não significa que não haja sobreveniência e que esta não seja
uma necessidade psicofísica no mundo actual. Simplesmente, tais
afirmações não se seguem do conjunto das leis lógicas, sequer do das
leis físicas de um qualquer mundo, incluindo o actual; apenas se
seguem de leis psicofísicas, as quais, contudo, podem, do ponto de vista
lógico, variar sem que variem as leis físicas em diferentes mundos
possíveis; logo, não é verdade que a indiscernibilidade de M esteja
implicada na indiscernibilidade de P. Assim, fica refutada a tese, tal
como é formulada por Kim, de uma sobreveniênca global do mental
sobre o neural.
Kim apresenta também uma versão fraca da tese da
sobreveniência que ele próprio rejeita (por razões que não avocaremos
aqui), mas que ainda assim importa analisar à luz destas nossas
considerações – «Sobreveniência fraca: Necessariamente (quer dizer,
em qualquer mundo possível), se quaisquer x e y (no domínio) são
indiscerníveis em P (P-indiscerníveis’), x e y são M-indiscerníveis».38
Ora, verifica-se, desde logo, que esta versão fraca da sobreveniência é
38 «Weak supervenience: Necessarily (that is, in every possible world), if any x
and y (in the domain) are indiscernible in P (‘P-indiscernible’ for short), x and y are M-indiscernible.» (Kim, 1994: 577)
63
igualmente inaceitável pelo facto de não dispormos de informação que
nos impeça de afirmar que pode haver mundos possíveis – que não o
mundo actual – em que x e y ocorram e sejam, a um tempo, P-
indiscerníveis e M-discerníveis.
A única versão aceitável de sobreveniência global tem de ser
ainda mais fraca, tão fraca que não chega realmente a proclamar nada:
terá forçosamente de impor como condições para a necessitação que o
universo de mundos possíveis em consideração seja composto por
mundos indiscerníveis quanto às leis-ponte entre P e M. Só assim de
dois particulares serem P-indiscerníveis se seguirá serem também M-
indiscerníveis. Uma vez que a sobreveniência global pressupõe, para
que uma sua formulação seja válida, aquilo que, em tese, advoga, então
não traz consigo nenhum compromisso epistemicamente relevante.
**
Há, todavia, uma óbvia intuição na tese da sobreveniência desde
que circunscrita ao mundo actual e despojada de quaisquer pretensões
metafísicas – justamente a da covariação, ou seja, que estados físicos
indiscerníveis no mundo actual estejam necessariamente
correlacionados com estados mentais indiscerníveis, sem que a
conversa suceda. O ponto em que insistimos atrás consistiu apenas no
dado de que esta intuição não estava demonstrada para outros mundos
possíveis que não o actual, que a necessidade por ela expressa não se
seguia nem lógica nem fisicamente, mas apenas de leis psico-físicas
que não estão dadas a priori. Mas se estas leis não estão dadas a priori,
por que razão se enuncia intuitivamente e a priori a tese da covariação?
Em suma: donde surge essa intuição?
A nosso ver, a resposta reside num certo paralelismo com a
causalidade física, designadamente com a ideia de que as mesmas
causas determinam necessariamente os mesmos efeitos, mas sem que os
mesmos efeitos tenham necessariamente as mesmas causas. A
assimetria da sobreveniência rever-se-ia na do princípio da causalidade.
Mas, justamente a propósito do princípio da causalidade, é possível dar
64
dele duas formulações, uma fraca ou geral, segundo a qual o estado do
sistema em t1 determina o estado do sistema em t2, e outra forte ou
estrita, segundo a qual o estado do sistema em t1 determina de forma
unívoca o estado do sistema em t2.39 Tendo esta distinção em vista,
note-se primeiramente que só a causalidade em sentido estrito obriga a
que a dois estados do sistema indiscerníveis, em t1, correspondam
outros dois estados de sistemas, em t2, também indiscerníveis, pois cada
um dos estados iniciais determina univocamente o estado subsequente.
Por outras palavras, apenas num sentido estrito o princípio da
causalidade estipula que às mesmas causas correspondam os mesmos
efeitos. Caso se prefira a formulação fraca do princípio de causalidade
não é verdade que estejamos obrigados a afirmar que às mesmas causas
correspondem os mesmos efeitos.
Ora, posto isto, é preciso notar que existe hoje evidência física,
designadamente microfísica, mais que suficiente para pelo menos não
admitir a formulação estrita do princípio da causalidade. É claro que é
defensável que a macrofísica não precise de abdicar da causalidade
estrita, mas também não é evidente que a sobreveniência das
propriedades mentais – prosseguindo o paralelismo – não seja um
assunto que envolva propriedades base descritíveis, nem que seja
parcialmente, em termos microfísicos40. Nestes termos, não é
inconcebível que o mesmo padrão neural possa ter por correlato
diferentes padrões mentais, refutando a necessidade da covariação, e
isto mesmo no mundo actual, com as suas leis físicas. Em todo o caso,
o problema é de natureza empírica, não sendo possível assumir, através
de razões de ordem formal ou de ordem estritamente física, uma
covariação estrita.
Concluindo, tudo isto não visa negar a covariação, visa tão-só
afirmar que permanece carente de fundamentação a prescrição a priori
da sua necessidade e que, assim, mais vale optar por uma formulação
39 Para um exemplo, cf. Amsterdamski, 1978: 70. 40 Sobre uma eventual desempenho da mecânica quântica na resolução do
problema mente/corpo, entre um considerável leque de artigos, cf. Stapp, 1995; Ludwig, 1995; e Byrne & Hall, 1998.
65
flexível da tese da sobreveniência do mental sobre o neural e da tese da
correlação psicofísica que subsista sem um compromisso forte com a
covariação, uma formulação que mantenha a ideia de que existe alguma
forma, expressável nomologicamente, de determinação das
propriedades sobrevenientes por parte das propriedades subvenientes,
ou de dependência destas em relação àquelas, no quadro estrito do
mundo actual ou de mundos possíveis com as mesmas leis psicofísicas.
Sem as mesmas leis psico-físicas nada obriga a que à
indiscernibilidade em P se siga a indiscernibilidade em M, do mesmo
modo que sem as mesmas leis físicas nada torna necessário que às
mesmas causas se sigam os mesmos efeitos.
Note-se ainda que, no âmbito da Filosofia da Mente, a covariação
da sobreveniência tem sido, frequentes vezes, posta em causa pela
hipótese dos qualia invertidos, cujo significado mais imediato se
resumiria à demonstração cabal da possibilidade de estados mentais
diferentes poderem ter por base estados físicos idênticos – ou seja, a
rejeição da assimetria da sobreveniência. Curiosamente, Kim assume-o
claramente41. No entanto, não é caso, como verificaremos no nosso
Cap. II, que sob tal circunstância de inversão dos qualia, se demonstre
que diferentes estados mentais possam ter por base o mesmo estado
físico. Bem pelo contrário, a inversão dos qualia não se faz sem uma
alteração do estado físico; logo, disto não se segue uma refutação da
tese de Kim da sobreveniência global, designadamente da necessidade
da sua covariação42. No máximo, o que se obtém é uma refutação do
41 «Many philosophers believe that ‘qualia inversion’ is perfectly conceivable
– that is, it is conceivable and perfectly intelligible that when you look at a ripe tomato, the colour you sense is the colour your physical duplicate senses when she looks at a fresh cucumber, and vice versa. Now if such a possibility is coherently conceivable, as it seems to be, that could defeat supervenience (…).» (Kim, 1994: 581)
42 D. Chalmers é um dos autores que afirma o carácter concebível de uma
inversão de qualia entre duas réplicas físicas, molécula a molécula – «One can coherently imagine a physically identical world in which conscious experiences are inverted, or (at the local level) imagine a being physically identical to me but with inverted conscious experiences).» (Chalmers, 1996: 100) Ora, nos termos em que definimos a nossa capacidade de conceber, mesmo que os simplifiquemos à ideia de uma “imaginação coerente”, não vemos sob que subconjunto de leis físicas, por mais
66
funcionalismo. Com efeito, uma inversão dos qualia num indivíduo
pode ocorrer sem que as suas propriedades funcionais (i.e, os seus
desempenhos causais) sejam alteradas, o que impossibilita a pretensão
do funcionalismo de que todos os estados mentais possam ser definidos
funcionalmente. Aliás, indo um pouco mais longe, esta neutralidade dos
qualia relativamente à descrição funcional dos estados mentais de um
indivíduo, torna perfeitamente concebível um indivíduo destituído de
qualia – suponha-se um zombie – , mas que, nem por isso, deixa de ser
descritível em termos de propriedades funcionais como qualquer ser
humano. Mas com esta possibilidade, obtém-se também um dos mais
sérios problemas – a que David Chalmers chamou “hard problem” – da
filosofia da mente, a saber: qual é o contributo dos qualia, e da
experiência consciente em geral, para a cognição e a vida mental em
geral.
***
Um último plano de consideração que importa agora levar a cabo
prende-se com a caracterização dos fenómenos de sobreveniência,
independentemente do caso, bem mais problemático, da sobreveniência
do mental sobre o neural. Procurar-se-á, desta forma, estabelecer num
enquadramento geral o que se entende por sobreveniência e quais os
compromissos a que ela obriga.
básicas que fossem, tal possibilidade seria concebível. Na verdade, parece poder-se aqui apontar duas confusões a Chalmers. Em primeiro lugar, confundem-se as condições sob as quais se pode falar de concibilia com as condições sob as quais se pode falar de possibilia lógicos. É certo que é logicamente possível uma inversão de qualia entre duas réplicas físicas, como é logicamente possível tudo o que não ponha em causa uma lei lógica. Simplesmente, não é o caso que tudo o que seja logicamente possível, seja também concebível. E neste ponto, pode-se verificar, muito claramente, que Chalmers só se socorre da possibilidade lógica – «To achieve such an inversion in the actual world, presumably we would need to rewire neural processes in an appropriate way, but as a logical possibility, it seems interely coherent that experiences could be inverted while physical structure is duplicated exactly.» (Ibidem). Em segundo lugar, também não é o caso, como indicámos atrás, que Kim tenha proposto uma sobreveniência lógica. A tese da sobreveniência global retira o seu sustento de uma alegada necessidade metafísica; não se compromete com uma necessidade lógica. E, assim, não é verdade que a admissão da experiência da inversão dos qualia constitua uma efectiva objecção à tese de Kim de uma sobreveniência global.
67
Tomemos em mãos um copo de água. A porção de água nele
contida tem certas propriedades como ser incolor, inodoro e saciar a
minha sede. Mas essa mesma porção de água mais não é, do ponto de
vista químico, do que uma porção de moléculas de água com certas
propriedades químicas; mais não é, do ponto de vista da física atómica,
do que uma porção de estruturas compostas por dois átomos de
hidrogénio e um de oxigénio, cada um destes tipos de átomos com
certas propriedades físicas; mais não é, do ponto de vista da física
quântica, do que uma estrutura composta por uma certa disposição de
partículas subatómicas, leptões e hadrões, cada uma delas com as suas
propriedades quânticas.
O primeiro facto que se extrai desta descrição trivial de diferentes
planos de atentarmos a uma entidade é simples: a porção de água é
sempre a mesma, ainda que consoante a escala a que a observemos lhe
descubramos propriedades distintas. Para verificar este facto, basta
proceder a observações do mesmo em escalas intermédias, por
exemplo, aumentando gradualmente a ampliação da imagem que nos dá
a ocular de um microscópio.
Por outro lado, não é menos trivial que para cada um destes
planos de observação dispomos de um conjunto de leis apropriado a
essa escala de observação, com o qual conseguimos dar explicações
bem sucedidas para esse plano. As leis químicas explicam
satisfatoriamente o comportamento químico da porção de água, as leis
da física atómica explicam satisfatoriamente o comportamento atómico
da porção de água, etc. Em ambos os casos, trata-se de explicações
causais, i.e, relativas à passagem de um certo estado a outro, à sucessão
de um certo evento por outro. Bastante menos triviais são os pontos que
se seguem.
Em primeiro lugar, as propriedades que verificamos em cada
plano escalar não são observadas em qualquer outra escala, são
específicas à sua escala de observação, não deixando, porém, por isso,
de ser propriedades reais. As propriedades da água à minha escala
natural não deixam de ser reais pelo facto de não se verificarem à
escala das propriedades químicas, nem estas deixam de ser reais à
68
escala das propriedades atómicas, etc. De outra forma, nenhuma
propriedade da água, independentemente da escala a que é relativa,
seria uma propriedade real, o que constituiria um absurdo. 43
Em segundo lugar, se a entidade observada num dos planos é a
mesma nos outros planos – se, por exemplo, a porção de água com que
tomei contacto real ao bebê-la por um copo é a mesma de que descrevo
a composição química, e, depois, progressivamente, a estrutura
molecular, atómica e subatómica –, então não é o caso que seja
realmente alguma das suas apresentações. Observe-a eu a olho nu, sob
a ocular de um microscópio, mesmo de um microscópio electrónico, ou
qualquer outro instrumento, o que observo é o mesmo. Digo observar e
não ver, pois naturalmente o que vejo pela ocular é radicalmente
diferente sempre que procedo a uma maior ampliação. Ainda que
houvesse uma escala última de observação, uma observação que não
escondesse outras, que acertasse na estrutura última de uma entidade
material como a da minha porção de água, mais não estaria a fazer do
que observar. Isto pressupõe a aceitação da distinção entre a
observação da realidade e a realidade observada.
Em terceiro lugar, as leis com que descrevo no quotidiano o
comportamento da água – por exemplo, como ela flui nos rios, ou como
ela influi na meteorologia –, as leis com que descrevo noutras escalas o
seu comportamento químico, atómico, subatómico dispõem, cada umas
por si, e à sua escala, de uma autonomia relativa face às restantes leis. É
frequentes vezes necessário recorrer a leis da física quântica para
explicar fenómenos à escala atómica, bem como recorrer a leis da física
atómica para explicar fenómenos à escala molecular. Por exemplo, o
comportamento da água no rebordo interior do copo explica-se por um
fenómeno muito peculiar da água conhecido pela expressão ‘pontes de
hidrogénio’, também não seria fácil explicar por que razão a água em
estado sólido ocupa mais espaço do que quando em estado líquido sem
43 A respeito da realidade do plano sobreveniente, afirma Kim: «(…) the causal relation between rising temperatures and increasing pressures of gases is no less “real” for being microreducible. To take microreducibility as impugning the reality of what is being reduced would make all of our observable world unreal.» (Kim, 1984b: 102)
69
invocar as suas propriedades à escala atómica e as leis que aí regulam o
seu comportamento. Mas seria despiciendo recorrer a algumas dessas
leis para explicar fenómenos meteorológicos; não que não se pudesse
dar tal explicação a partir de tais leis; simplesmente, há outros
conjuntos de leis mais apropriados e mais eficientes no esforço de
explicação. Por exemplo, seria absurdo explicar um defeito na
mecânica de um automóvel colocando-nos na escala subatómica, há
com certeza outras maneiras mais simples e mais eficientes de fornecer
uma cabal explicação.
Por último, se estes conjuntos de leis, cada um à sua escala,
dispõe de uma autonomia relativa, por um lado, já por outro essa
mesma autonomia relativa é indicação de um facto indesmentível –
cada conjunto de leis deve poder traduzir-se, digamos assim, nos
termos do conjunto de leis que vigoram no plano escalar inferior e
assim sucessivamente até onde alcançarmos. Por outras palavras, todos
os conjuntos de leis devem poder ser traduzidos, lidos de tal modo que
se sigam de um só conjunto de leis – que será, no estado actual das
nossas capacidades de observação, o correspondente à escala da física
quântica44. O que se diz das leis, dir-se-á também das propriedades,
pois cada propriedade a uma certa escala deve poder ser traduzida nos
termos das propriedades específicas às escalas inferiores. Esta
tradutibilidade enquadra, a nosso ver, o que Kim denomina
‘Requerimento da forte conectibilidade’45
Ora, tudo isto conduz a um enquadramento da ideia de
sobreveniência. Com efeito, se se trata de traduzir leis de escala
44 A isto o físico Böhr chamou ‘Princípio da correspondência’. Max Born
(outro laureado com o prémio Nobel da Física) descreve, do seguinte modo, a “ideia directriz” deste princípio – «Submetidas ao julgamento da experiência, as leis da física clássica provaram brilhantemente em todos os processos dinâmicos, macroscópicos e microscópicos, incluindo o movimento dos átomos considerados como um todo (teoria cinética da matéria). Deve, portanto, estabelecer-se como postulado incondicionalmente necessário que a nova mecânica, suposta ainda desconhecida, deverá em todos estes problemas chegar aos meus resultados que a mecânica clássica.» (Born, 1935: 114)
45 «The requirement of strong connectibility: For each mental property M there
is a physical property P such that necessarily, M is instantiated by a system at t if and only if P is instantiated by it at t.» (Kim, 1994: 579)
70
superior em leis de escala inferior, se se trata de traduzir propriedades
de escala superior em propriedades de escala inferior – afinal, temos
boas razões para crer que a realidade foi sempre uma, devendo haver
dela uma só descrição, e isto mesmo que não a saibamos ou possamos
dar – então impõe-se considerar outros conjuntos de leis, leis ponte
(bridge laws) entre diferentes escalas, que forneçam a tradução – e
prescrevam a sua necessidade ou contingência – das leis e propriedades
de uma escala para as de outra. As leis físico-químicas, as leis
biofísicas são disso exemplos, dizendo-se que os fenómenos biológicos
sobrevêm aos moleculares e que estes sobrevêm aos atómicos. E as leis
psicofísicas, admitindo a sobreveniência do mental ao físico, não serão
senão uma instância de leis ponte como aquelas.
Mas o que é então o sobreveniente? É o conjunto de leis e de
propriedades específicas a uma escala de observação superior que são
implicadas, através de um conjunto apropriado de leis ponte, por um
conjunto de leis e de propriedades específicas a uma escala de
observação inferior. Esta implicação é necessária, mas não logicamente
necessária. A sua necessidade é tão-só a prescrita pelas leis pontes
apropriadas. Portanto, fossem outras as leis pontes e, evidentemente,
seria outra a sobreveniência. E isto, mesmo que as leis específicas a
cada um das escalas fossem as mesmas. Mesmo sendo também as leis
ponte as mesmas, nada impede que estas leis prescrevam apenas uma
probabilidade, do que sobreviria necessariamente uma probabilidade,
mas contingentemente uma sobreveniência efectiva e não outra. Por
outro lado, não haveria sobreveniência se não houvesse leis pontes.
Sem estas, sendo que tal ausência é perfeitamente concebível, ter-se-
iam realidades entre si intraduzíveis, sem que alguma delas fosse
menos real que a outra.
Em todo o caso, havendo sobreveniência, seria de todo incorrecto
considerar que o subveniente está para o sobreveniente como uma
causa para um efeito, pois tal seria regressar às leis específicas a cada
escala, as únicas capazes de prescrever relações causais. As leis pontes
não prescrevem relações causais, nem sequer determinam qualquer
sucessão temporal; limitam-se a traduzir observações de diferentes
71
escalas, observações simultâneas46. Serve isto como explicação? Sim,
mas não como explicação causal, pois o que as leis ponte indicam é
única e exclusivamente como uma escala se integra noutra, como o que
sucede no que se observa numa escala se deixa explicar pelo que se
observa noutra, inferior.
A sobreveniência não servir como explicação causal, não
envolver qualquer consideração do tempo e, portanto, de processos
reais de transformação, significa, por um lado, que não deve ser
confundida com os processos causais que envolvem transformações
entre escala. Mas, já por outro, significa que tem um papel
determinante na explicação de tais processos. Uma ilustração clarifica o
ponto. As muitas descrições do processo pelo qual o bater de asas de
uma borboleta é capaz de, dando-se o tempo suficiente, originar uma
intempérie meteorológica do outro lado do planeta não são, por si,
exemplos de sobreveniência. O que nelas pode ser exemplo de
descrição de sobreveniência é a explicação, via leis ponte, de como os
efeitos meteorológicos correspondem a efeitos à escala do bater de asas
da borboleta. Note-se bem, contudo, que sem esta explicação via leis
ponte das correspondências entre efeitos, não ficaria completa a
explicação causal via leis físicas do fenómeno caótico exemplificado –
a continuidade entre causa numa micro-escala e efeito numa macro-
escala não é explicável sem o recurso a leis ponte.
De acordo com a maneira como a temos concebido, a
sobreveniência não é um processo, não é uma transformação, não se
inscreve na ordem temporal dos acontecimentos do mundo. Indicar uma
sobreveniência não é indicar nada do ponto de vista da realidade a não
ser que as suas diferentes apresentações estão numa certa
correspondência. Em rigor, pois, a sobreveniência nada diz
46 De facto, se, em termos de sobreveniência, digo que a uma variação
hormonal se segue a experiência de estar apaixonado, não o digo porque esteja a conceber um momento t1 em que ocorra a variação hormonal e um momento t2 em que ocorra a experiência de estar apaixonado (muito menos na ordem inversa). Digo-o, bem diversamente porque assumo que a variação hormonal é condição suficiente da experiência de estar apaixonado, ou seja, porque assumo que entre as duas há uma relação de implicação, entre um antecedente e um consequente, mas exprimindo não uma necessidade lógica, mas somente uma necessidade psicofísica.
72
directamente da realidade, mas tão-só das suas diferentes apresentações
face ao sujeito epistémico. Não estivesse em jogo a nossa posição de
observadores a certa escala, e não haveria lugar para um tal fenómeno
como a sobreveniência.
Ora, é neste enquadramento geral sobre a sobreveniência e as leis
pontes que a sustentam, que se inscreve, como espécie entre outras,
embora muito particular, como veremos em seguida, a sobreveniência
do mental sobre o físico e a sua prescrição segundo leis psicofísicas.
Mas este enquadramento geral do fenómeno da sobreveniência
permite desde já recusar um certo entendimento, dito epifenomenal, dos
planos sobrevenientes, pelo qual estes estariam na posição de efeitos de
um plano subveniente, sem, porém, poderem assumir a posição de
causas desse mesmo plano subveniente. Ora, de acordo com a nossa
proposta de caracterização do fenómeno da sobreveniência, um tal
entendimento epifenomenalista é apenas revelador de uma confusão
entre a relação de determinação/dependência prescrita por meio de leis-
ponte na sobreveniência e a relação de causa/efeito prescrita por meio
de leis causais. Já surpreendêramos a possibilidade de semelhante
confusão a respeito de uma vinculação entre uma estrita covariação
(por analogia com a assimetria causal) e a tese da sobreveniência, agora
reencontramo-la noutros termos, muito em especial, no caso da
sobreveniência do mental sobre o neural. Brian McLaughlin expõe o
ponto:
O epifenomenalista sustenta que os fenómenos mentais parecem ser causas apenas porque existem regularidades que involvem tipos de fenómenos mentais, e regularidades que involvem tipos de fenómenos mentais e físicos. Por exemplo, a instâncias de um certo tipo mental M (e.g. tentar alguém erguer o braço), tenderia a seguir-se instâncias de um tipo físico P (e.g. alguém erguer o braço). Inferir que instâncias de M tendem a causar instâncias de P seria, contudo, cometer a falácia de post hoc, ergo propter hoc. Instâncias de M não podem causar instâncias de P; tais transacções causais são causalmente impossíveis.(...) Estados e eventos mentais podem figurar na rede de relações causais apenas como efeitos, nunca como causas. 47
47 «The epiphenomenalist claims that mental phenomena seems to be causes
only because there are regularities that involve types (or kinds) of mental phenomena, and regularities that involve types of mental and physical phenomena. For example, instances of a certain mental type M (e.g. trying to raise one’s arm) might tend to be followed by instances of a physical type P (e.g. one’s arm’s raising). To infer that
73
Ora, o equívoco que se encontra aqui não é a ideia de que estados e
eventos mentais não possam causar estados e eventos físicos. Nisso, há
pleno acordo com a tese da sobreveniência tal como a temos
patenteado. Portanto, se fosse apenas isso que estivesse em causa na
tese do epifenomenalismo nada lhe haveria a apontar. Simplesmente
não é apenas isso que está em causa – afirma-se também, com o
epifenomenalismo, que os estados e eventos físicos causam estados e
eventos mentais. Mas como poderia assim ser se, por um lado, entre os
dois planos a determinação não é processual, não envolve nenhum
compasso de tempo, e, por outro, a causalidade é um processo que
envolve, entre a causa e o efeito, um lapso de tempo, uma diferenciação
entre um antes e um depois? Assiste-se, pois, e uma vez mais, à
confusão entre duas espécies de determinação, igualmente reais, e
igualmente atestáveis empiricamente, a saber, a determinação
propriamente causal e a determinação de uma plano sobreveniente por
um plano subveniente (ou, o que é equivalente, a dependência daquele
face a este).
Melhor do que no caso da sobreveniência do mental sobre o
neural, podemos confirmar em casos de simples sobreveniência natural
o carácter equívoco deste rebatimento da determinação prescrita pelas
leis-ponte que regulam a sobreveniência na determinação causal
prescrita pelas leis causais que regulam a sucessão de estados e eventos
num mesmo plano. Pense-se, por exemplo, na sobreveniência de
estados e eventos moleculares relativamente a estados e eventos
atómicos ou subatómicos. Obviamente, estes explicam aqueles, estão
na posição de explanans que explica o explanandum molecular, sem
que a conversa seja verdadeira48. Mas, só muito impropriamente, poder-
instances of M tend to cause instances of P would be, however, to commit the fallacy of post hoc, ergo propter hoc. (…) Mental events and states can figure in the web of causal relations only as effects, never as causes.« (McLaughlin, 1994: 277)
48 Tão obviamente quanto seria absurdo procurar reduzir a microcausalidade à macrocausalidade, ou inverter a redução de uma molécula de água a dois átomos de hidrogéneo e um de oxigénio (e cada um destes, por seu turno, a um certo conjunto de leptões e hadrões, no plano subatómico). É absurdo procurar um equivalente molecular de um electrão ou de um protão! As leis pontes não são, pois, bidireccionais, apenas permitem configurar uma redução do plano sobreveniente ao
74
se-ia daí seguir a afirmação de que tal explicação é causal. Já o vimos
atrás: as leis físicas só explicam causalmente eventos químicos se estes
forem reduzidos, por recurso a leis-ponte, a eventos físicos. Logo, não é
o caso que a explicação causal tenha sido de outra coisa que não
eventos físicos, exclusivamente eventos físicos. Por outro lado, nada há
de estranho no facto de o plano sobreveniente não dispor de nenhum
poder causal relativamente ao plano subveniente – com efeito, não
ocorreria a ninguém pensar que os eventos moleculares, observados à
escala da química, fossem a causa dos eventos atómicos e subatómicos
a que sobrevêm.
Tudo isto indica, a nosso ver, que a posição epifenomenalista
resulta de um equívoco entre dois tipos reais de determinação; mais em
particular, indica que tal posição é contraditória com a tese da
sobreveniência, pelo menos tal como a caracterizamos. Aliás, neste
ponto, importa objectar a Kim a sua afirmação de uma
compossibilidade entre as duas teses, a da sobreveniência do mental
sobre o neural e a do epifenomenalismo do mental, como sendo a
primeira a atestação de uma dependência e a segunda a tentativa de
atestação, entre outras, da natureza dessa dependência.49 Ora, tal
afirmação resulta do facto de Kim ter pretendido necessitar a
sobreveniência para lá do que leis psicofísicas pudessem prescrever,
dando-lhe uma base presumivelmente metafísica, o que (como
verificámos em §2, alínea c)) é insustentável. Assim, a sobreveniência
plano subveniente. De outro modo, não teríamos como identificar uma relação de dependência entre os dois planos, nem sequer poderíamos estabelecer a diferença, numa relação de sobreveniência, entre o que é sobreveniente mas não subveniente e o que é subveniente mas não sobreveniente.
49 «The thesis [da sobreveniência] says nothing about just what kind of
dependence is involved in mind/body supervenience. When you compare the supervenience thesis with the standard positions on the mind/body problem, you are struck by what the supervenience thesis doesn’t say. For each of the classic mind/body theories has something to say, not necessarily anything very plausible, about the kind of dependence that characterizes the mind/body relationship. According to epiphenomenalism, for example, the dependence is one of causal dependence; on logical behaviourism, dependence is rooted in meaning dependence, or definability; on the standard type physicalism, the dependence is one that is involved in the dependence os macro-properties on micro-structural properties; etc.» (Kim, 1994: 582)
75
ficaria dada independentemente das leis psicofísicas, ou seja,
independentemente de qual fosse a natureza da dependência, ficaria
dada num plano de abstracção em que não seria preciso comprometer
tal natureza da dependência afirmada.
Contudo, por mais vantajosa que fosse esta independência da
sobreveniência face àquilo que a necessita – o que permitiria
efectivamente isentá-la do debate sobre qual a natureza da dependência
afirmada – , o certo é que, como se verificou atrás, só a podemos
certificar com base em leis ponte que a necessitem.
Por seu turno, o interaccionismo mente/corpo, como alternativa
classicamente apontada, desde Descartes, ao epifenomenalismo, só vem
redobrar o equívoco apontado50. A este propósito, citemos Sofia
Miguens:
Em geral o epifenomenalismo é a concepção do mental de acordo com a qual este não tem por si poderes causais e portanto não tem efeitos físicos, é um “efeito sem efeitos”, o que proíbe desde logo pelo menos uma interacção do género cartesiano, e especificamente qualquer eficácia causal do mental sobre o físico.51
Com efeito, o epifenomenalismo proíbe o interaccionismo, tal
qual a sobreveniência fá-lo-ia, no que respeita a uma “eficácia causal
do mental sobre o físico”. Sucede, porém, que o epifenomenalismo
recai no erro do interaccionismo ao afirmar uma eficácia causal do
físico sobre o mental. De certo modo, poder-se-ia dizer que o
epifenomenalismo só falha por não retirar todas as consequências da
refutação do interaccionismo causal. Se o tivesse feito, então nada o
distinguiria da tese da sobreveniência tal como a expusemos, isto é,
como determinação (ou dependência) prescrita por leis ponte,
determinação distinta daquela outra determinação que qualificamos
como causal. Note-se que mesmo nos aparentemente triviais casos de
sobreveniência entre o molecular e o atómico, entre o atómico e o
50 Para lá da clássica referência ao interaccionismo cartesiano entre a res
extensa e a res cogitans, supostamente mediado pela glândula pineal (Cf. Descartes, 1641 e Descartes, 1649), encontra-se uma versão contemporânea do interaccionismo em Eccles e Popper, 1977.
51 Miguens, Sofia, 2002: 382.
76
subatómico, etc., é perfeitamente descartável qualquer pretensão
interaccionista entre os planos sobreveniente e subveniente. Por
exemplo, que sentido faz falar de uma interacção causal entre uma
molécula de água e os átomos que a compõem, entre ela e um dos
electrões que a compõem, entre ela e um dos quarks que a compõem?
§3. O desafio explicativo
Aceite a existência de correlações entre o que é da ordem do
vivido e o que é da ordem do laboratorialmente observado, o que,
insistimos, parece pouco discutível no estado actual de saber científico
sobre a matéria, levanta-se o nosso segundo desafio, relativo à
passagem das correlações às explicações. E este, ao contrário do
anterior, mostra-se já um problema bem mais difícil como poderemos
atestar pela condição misteriosa e paradoxal com que o problema
mente/corpo é confrontado através de argumentos como o da existência
de um “hiato explicativo”.
Esta dificuldade é claramente assumida por António Damásio
quando, por um lado, assume que as correlações, mesmo a sua origem,
estão bem fundadas, e quando, já por outro, se depara com a tal
condição misteriosa nas tentativas de dar resposta à simples pergunta
‘mas como?’. Nas palavras do investigador português:
Não há qualquer mistério no que diz respeito à proveniência das imagens. As imagens provêm da actividade de cérebros e esses cérebros fazem parte de organismos vivos que interagem com ambientes físicos, biológicos e sociais. Deste modo, as imagens surgem de padrões neurais (ou de mapas neurais), formados em populações de células nervosas (ou neurónios), que constituem circuitos ou redes. Há, porém, um considerável mistério no que respeita à forma como as imagens emergem dos padrões neurais. O modo como um padrão neural se torna numa imagem é um problema que a neurobiologia ainda não resolveu.52
52 Damásio, 1999: 367.
77
Sob o risco de se soçobrar numa inexplicabilidade por princípio
adivinha-se a própria possibilidade do fantasma do dualismo.53
a) Problema explicativo geral e problema explicativo específico
Por muito exacta que fosse a correlação entre estados mentais e
estados neurais, ou melhor entre as propriedades relevantes de uns e de
outros, ela de nada valeria para a resolução do mind/body problem se
não se fizesse acompanhar de certo tipo de explicação, que, como
vimos, deve ser fornecida por leis ponte que integrem a escala superior
na inferior, ou seja, que façam com que se siga na escala inferior o que
se segue na superior. Esta problemática não é, em parte, como vimos
atrás, distinta de todas as outras formas de sobreveniência que devemos
pôr a descoberto para integrar as nossas diferentes escalas de
observação da realidade. Mas, como se verificará em seguida, é
também bastante distinta na sua especificidade – tratando-se da
sobreveniência do mental sobre o físico parece haver uma
descontinuidade insuperável, nada à semelhança das restantes
sobreveniências exemplificadas. Por isso, revela-se aqui um duplo
problema relativo à explicação: um que diz respeito à epistemologia em
geral, e que pergunta como se justifica a passagem de uma descrição de
correlações entre diferentes escalas a uma explicação efectiva (mas não
causal) que ligue os correlata; outro que se pergunta por essa mesma
passagem naquelas correlações em que um dos termos é um estado
53 «Quando digo que as imagens dependem de e surgem a partir de padrões
neurais ou mapas neurais, em vez de dizer que as imagens são padrões ou mapas neurais, não estou a escorregar para um dualismo descuidado. Não estou a dizer que há um padrão neural por um lado e um cogito não material, por outro. Estou simplesmente a dizer que ainda não conseguimos caracterizar todos os fenómenos biológicos que têm lugar entre a) a nossa descrição actual de um padrão neural, a vários níveis biológicos, e b) a nossa experiência da imagem que tem origem na actividade do mapa neural. Existe uma lacuna entre o nosso conhecimento dos fenómenos neurais, a nível molecular, celular e de sistema, por um lado, e, por outro, a imagem mental cuja génese queremos compreender. Existe uma lacuna que deverá ser preenchida por fenómenos físicos ainda não identificados, mas presumivelmente identificáveis. A extensão da lacuna e a possibilidade do seu preenchimento no futuro constituem, é claro, assunto para debates.»( Damásio, 1999: 367-8)
78
físico (cerebral, neural) e o outro um estado mental (ou uma situação
mental descritível).
Georges Rey fez notar esta dupla vertente do problema
explicativo no seu Contemporary Philosophy of Mind (1997), mas não
sem introduzir uma confusão, muito recorrente quando se trata da
sobreveniência do mental sobre o físico, entre explicação causal e
explicação ponte. Com efeito, começa por chamar a atenção para a
necessidade de explicar correlações sem discriminar se se refere a
correlações e explicações ponte ou se se refere a correlações e
explicações causais. O exemplo que nos dá ajuda a fazer tal
discriminação. Por muito bem correlacionados que estivessem – e é
bem conhecido o facto de que estavam correlacionados há muito – o
calendário das marés e o movimento de translacção da Lua, semelhante
correlação só pôde integrar uma explicação causal a partir do momento
em que uma teoria da gravitação surgiu e estabeleceu essas correlações
num contexto explicativo causal. Este dado epistemológico,
designêmo-lo assim, de que a identificação, por muito precisa que seja,
de correlações não vale como explicação de nenhum dos factos
correlacionados, parece indisputável quer no que respeita a explicações
causais quer no que respeita a explicações ponte. Por maioria de razão,
qualquer correlação entre dados observáveis no cérebro e dados
observáveis na vida mental está evidentemente longe de, por si só,
consistir numa explicação do que quer que seja. Simplesmente: nunca
poderia tratar-se de uma explicação causal o que aí falta explicar. A
expectativa não pode residir, contrariamente ao que sugere o exemplo
de Rey, em obter uma explicação causal entre as propriedades físicas
do cérebro e as popriedades mentais da experiência, mas tão-só de uma
explicação ponte entre estes correlata.
O ponto para que chamamos a atenção é este: tal como a física
não explica causalmente os fenómenos químicos, também a neurologia
não explica causalmente os fenómenos mentais. Pelo menos assim não
sucede de forma directa. O que sucede é bem diverso: a física explica
causalmente fenómenos físicos a que a sobreveniência fez corresponder
fenómenos químicos; a neurologia explica causalmente fenómenos
79
neurológicos a que a sobreveniência fez corresponder fenómenos
mentais. É claro que isto só sucede sob a condição de estarem dadas as
leis ponte que prescrevem a sobreveniência.
Nada disto, sublinhe-se, revela alguma especificidade do
comummente designado problema mente/corpo. Encontramos essa
especificidade quando procuramos determinar leis pontes,
designadamente leis psicofísicas, que prescrevam pois a
sobreveniência, e a sua necessidade ou contingência, do mental sobre o
físico. E a respeito desta Georges Rey introduz um outro dado
epistemológico relativamente pacífico – o de os factos de nível inferior,
por exemplo atómico, necessitarem factos de nível superior, por
exemplo molecular (a palavra ‘necessitar’ é aqui empregue no sentido
preciso de algo tornar necessário algo; por exemplo, o nível de
realidade atómico é condição suficiente para o nível de realidade
molecular, pelo que este é uma condição necessária daquele). Aliás, à
luz deste dado, é razoável afirmar que assiste à explicação do mundo
físico um princípio de continuidade entre os níveis inferiores e os
superiores, pelo qual estes se revelam, a um tempo, dependentes
daqueles e dotados de uma autonomia relativa. Daí decorre a
necessidade de recusar certo reducionismo fisicalista por razões de
autonomia e irredutibilidade parcial de cada nível da realidade aos
níveis inferiores. Ora, o grande problema explicativo específico ao
problema mente/corpo, como Georges Rey sublinha a propósito da
célebre hipótese de Crick e Koch sobre a natureza neurológica da
consciência visual, é que, do cérebro para a consciência, parece haver
um manifesto salto sobre a continuidade exigida para que se possa
proceder a uma explicação causal, e isto por não haver, aparentemente,
nada que necessite integralmente a correlação mente/cérebro, em
particular uma lei ponte psicofísica. 54
54 Nos termos de Georges Rey – «Consider by way of recent example, the
Crick and Koch (1990) claim that the visual consciousness is correlated with a 40 Hz oscillation in layers five and six of the primary visual cortex. Paul Churchland (1995) goes so far as to claim that this is a plausible account of consciousness. That it isn’t, that something still is lacking, can be appreciated by simply thinking of such an oscillation outside of a living animal, say, in a radio or sine wave generator. Should such a device oscillating at such a frequency really be counted as conscious? This
80
Contra a ideia de que a correlação de Crick e Koch seja per se
uma explicação suficiente do carácter consciente, Rey chama a atenção
para o facto de uma oscilação não tornar necessária uma consciência.
Mas observe-se que o ponto pode ser levado mais longe: não é
propriamente o facto específico da oscilação que falha aqui como
explicação; se esse facto físico falha é porque, muito simplesmente,
nenhum processo físico, seja o apontado por Crick e Koch seja
qualquer outro descritível nos termos de uma Física, parece necessitar
uma mente. É esta a fasquia a que Rey coloca o problema55. Thomas
Nagel, em “Subjective and Objective”, exprime esta embaraçosa
descontinuidade entre o que é mental e o que é físico nos seguintes
termos:
A questão sobre como se pode incluir no mundo objectivo uma substância mental dispondo de propriedades subjectivas é tão crítica quanto a questão sobre como uma substância física pode possuir propriedades subjectivas. 56
Joseph Levine a este mesme propósito formula o seu “argumento do
hiato explicativo” (explanatory gap argument)57. Se Thomas Nagel,
com o seu célebre What it is like to be a bat?, expõe a dificuldade de
seems preposterous. If it is, then the 40 Hz oscillation can’t itself be the explanation of consciousness: as the examples show, it is at least possible that the oscillation should occur without consciousness: the oscillation don’t necessitate consciousness, in the way that molecular bonding necessitates freezing.» (Rey, 1997: 42-3. Itálicos nossos).
55 Afirma Rey – «There seems to be an explanatory gap that no one seems to
be able to think of any way of filling» (Rey, 1997: 43) 56«The question of how one can include in the objective world a mental
substance having subjective properties is as acute as the question how a physical substance can have subjective properties.» (Nagel, 1979: 201)
57 «There is more to our concept of pain than its causal role, there is how it
feels; and what is left unexplained by the discovery of C-fiber firing (the standard candidate for the neural basis of pain, despite its total empirical implausibility) is why pain should feel the way it does! For these seems to be nothing about C-fiber firing that makes it naturally “fit” the phenomenal properties of pain, any more than it would fit some other set of phenomenal properties. Unlike its functional role, the identification of the qualitative side of pain with C-fiber firing (or some property of C-fiber firing) leaves the connection between it and what we identify it with completely mysterious. One might say it makes the way pain feels into merely a brute fact. (Levine, 1983: 358; “Materialism and Qualia: the explanatory gap”, Pacific Philosophical Quaterly: 354-361. Citado por Gulick, 1993: 464-465)
81
uma teoria física da mente explicar o carácter subjectivo da
experiência58, e se J. Levine levanta o problema de um hiato
explicativo, ambos nos confrontando com o que dizem ser um mistério,
Stephen White leva o problema a um tal ponto em que conclui que o
plano mental é inexplicável de um ponto de vista físico59.
Como enfrentar este problema explicativo específico à
sobreveniência do mental sobre o físico? É aceitável a presunção de
uma não necessitação do mental pelo físico? E como explicar essa
presunção? Que é que faz com que a sobreveniência do mental sobre o
físico, diferentemente das restantes, não seja, pelo menos
aparentemente, determinável?
A nosso ver, e seguindo de muito perto a sugestão de Georges
Rey60, estas questões encontram resposta apenas através de uma
mudança de perspectiva, a saber, convertendo o que designámos por
‘problema explicativo específico’ num problema de natureza
fundamentalmente epistemológica. Por outras palavras: só se
responderá a estas questões alcançando um enquadramento mais
adequado para a tese da sobreveniência, denunciando o que se emprega
habitualmente, em vez de apontar ao mundo um paradoxo. Como
procuraremos mostrar, mais do que um problema em torno das
condições físicas do mundo, tratar-se-á, pois, de conceber de outra
forma a formulação do problema.
58 «If we acknowledge that a physical theory of mind must account for the
subjective character of experience, we must admit that no presently available conception gives us a clue how this could be done. The problem is unique. If mental processes are indeed physical processes, then there is something it is like, intrinsically, to undergo certain physical processes. What it is for such a thing to be the case remains a mystery.» (Nagel, 1979: 175)
59 Cf. White, 1991. 60 «But maybe the problem is not with the world but with us. It’s important to
notice that the existence of these explanatory gaps does not itself entail anything like dualism. The gaps, after all, could simply be gaps in our way of conceiving phenomena in the world, and not in the worldly phenomena themselves: they could all be a result of some limitations in the way we have of thinking about the world: the right way of thinking about the issues simply hasn’t yet occurred to us.» (Rey, 1997: 44).
82
b) Sobreveniência normal e sobreveniência especial
Face às dificuldades que se enunciaram, o principal objectivo a
perseguir em seguida consistirá em mostrar que existem elementos
suficientes para assentar na ideia de que entre o mental e o físico
podemos falar, pelo menos em tese, de sobreveniência, embora
salvaguardando uma sua especificidade face aos casos normais de
sobreveniência que encontramos na natureza.
Apresentamos três dados que nos persuadem de que entre o
mental e o neural se verifica um fenómeno de sobreveniência: i) há
correlações entre padrões mentais e padrões neurais; ii) tais correlações
são simultâneas; iii) os planos correlacionados são, cada um por si,
planos em que se verificam propriedades específicas e leis causais
específicas. Nisto, encontra-se a base para que, a propósito destas
correlações mente/corpo, sustentemos que há sobreveniência.
Contudo, a objecção do hiato explicativo sugere fortemente que
não há forma de necessitar fisicamente o mental. E, sendo esse o caso,
então não haveria sobreveniência. Terá de ser assim? A nosso ver, não;
a nosso ver, como já referimos, o hiato explicativo é superável por uma
inovador enquadramento da tese da sobreveniência do mental sobre o
neural na sua especificidade face às formas normais de sobreveniência.
Comecemos por distinguir, pois, as duas espécies de
sobreveniência, qualificando a que encontramos na natureza com o
adjectivo ‘normal’ e a que está em discussão, entre os correlata
mente/corpo, com o adjectivo ‘especial’.
De uma forma sistemática, podemos também indicar duas
diferenças entre a sobreveniência do mental sobre o físico –
Sobreveniência especial – e a sobreveniência com que nos deparamos
quando observamos a natureza a diferentes escalas e procuramos
integrar esses diferentes planos de observação – Sobreveniência
normal:
Contraste continuidade/descontinuidade – Na Sb-normal, entre
dois planos de observação é sempre possível encontrar um
83
terceiro plano de observação; na Sb-especial, apenas há dois
planos de observação, não sendo possível encontrar entre eles um
terceiro plano de observação.
Contraste escala/não-escala – Na Sb-normal, as diferenças entre
planos de observação são diferenças entre escalas de observação;
na Sb-especial, a diferença entre planos de observação não é mais
do que a diferença entre um plano onde há escala e um plano
onde não há escala nenhuma.
O contraste enunciado em último lugar, entre escala e não-escala,
indica que a Sb-normal só pode ocorrer no seio de um dos planos de
observação da Sb-especial, justamente o plano dotado de escalas de
observação que podem variar. Assim, há entre as duas espécies de
sobreveniência, a especial e a normal, uma pressuposição da primeira
pela segunda – A Sb-normal participa do plano subveniente da Sb-
especial. Logo, não podemos pensar a sobreveniência do mental sobre o
neural nos termos de um rebatimento de uma escala “macro” numa
escala “micro”, designadamente, empregando termos de Kim, de uma
relação macrocausal numa relação microcausal.61
Por outro lado, enquanto na Sb-normal podemos levar a cabo um
procedimento observacional que nos conduza à constatação de que
aquilo que vemos diferentemente (em virtude de uma adopção de
escalas de observação diferentes) é, afinal, o mesmo, bastando para isso
adoptar escalas de observação intermédias, já tal procedimento, no caso
da Sb-especial, se revela impraticável. Só que a inexequibilidade de um
procedimento não é razão suficiente para que não admitemos outros
que nos permitam verificar, por outras vias, porventura menos directas,
que, ao vermos diferentemente um padrão neural e um padrão mental,
estamos de facto a observar o mesmo.
Não é, pois, este contraste escala/não-escala que vem pôr em
causa a presunção de que entre o mental e o físico haja sobreveniência,
61 «(…) Macrocausal relations are supervenient causal relations – supervenient
upon microcausal relations.» (Kim, 1984b: 103)
84
mais em concreto, a presunção de que um padrão neural e um padrão
mental correlacionados sejam ambos apresentações reais do mesmo,
não sendo, pelo menos a priori, impossível formular uma lei ponte que
necessite tal correlação.62
A dificuldade reside realmente no outro contraste indicado, o
contraste continuidade/descontinuidade. É este contraste que faz
ressaltar a advertência assinalada por Rey e, a nosso ver, toda a esfera
de objecções em torno de um hiato explicativo. Porquê? Simplesmente,
porque aqui não é afirmada apenas a inexistência de um certo
procedimento (podendo, apesar disso, haver outros, mesmo que não
saibamos quais), mas uma descontinuidade incontornável entre os dois
planos da sobreveniência dita especial.
Posto isto, se quisermos sustentar a nossa tese de uma
sobreveniência natural (não metafisicamente necessitada) do mental
sobre o neural, que qualificamos ainda como especial (de forma a fazer
notar a sua especificidade), deveremos distinguir e jogar três “apostas”:
i) por um lado, a aposta de encontrar algum procedimento
observacional, que não o da observação intermédia, pelo qual
se ateste que dois padrões correlacionados, um neural outro
mental, são apresentações do mesmo;
ii) por outro, a aposta de encontrar uma base que permita a
formulação de leis ponte entre os dois planos correlacionados;
iii) por fim, a aposta de definir um enquadramento
epistemológico através do qual seja possível responder à
objecção que afirma a existência dum hiato explicativo entre o
explanans físico e o explanandum mental.
. Note-se que a terceira destas apostas já não é propriamente um
desafio explicativo – acerca dos termos em que se pode necessitar a
62 Com isto, julgamos ficar clara a compatibilidade entre sobrevenência e
teoria do duplo aspecto (Dual aspect theory). Uma caracterização da teoria é dada por Roger Bissell no artigo A Dual-aspect approach to the mind-body problem – «(…) any given process of the mind is actually one and the same process as some particular electro-chemical process of the brain, so that what appear to be two distinct processes are actually just two aspects of one and the same brain process, i.e., they are actually just one and the same brain process viewed from two different cognitive perspectives.» (Bissell, 1976: 18)
85
sobreveniência especial –, mas, diversamente, o desafio epistemológico
por excelência, dedicado à descoberta filosófica do enquadramento
mais adequado que se deve dar à tese da sobreveniência numa moldura
para a resolução do problema mente/corpo.
c)Determinação da base para a formulação de leis pontes que
necessitem a Sb-especial
Por ora, procuraremos responder à aposta de encontrar uma base
que permita a formulação de leis ponte capazes de necessitar as
correlações mente/corpo.
Para isso, comecemos por chamar a atenção para o modo como
tal constituição de leis ponte é obtida nos casos de Sb-normal. Aí, já o
sabíamos, os processos causais em cada um dos planos, o sobreveniente
e o subveniente, possuem uma legalidade própria. Também sabíamos
que as leis que regulam o plano sobreveniente dispõem de uma
autonomia relativa face às leis que regulam o plano subveniente.
Porém, a partir de certo nível de abstracção, consegue-se determinar
em ambos os planos uma mesma legalidade e descrever uma mesma
causalidade. Por outras palavras, a partir de certo nível de abstracção,
descobre-se que, além do mero facto da correlação espácio-temporal, os
planos correlacionados partilham as mesmas leis (abstraídas como o
que há de comum das leis causais específicas a cada plano escalar).
Ora, as leis pontes que necessitam a correlação e determinam a
sobreveniência são constituídas justamente tendo por base estas leis
comuns que se abstraem das leis específicas a cada um dos planos.
Posto isto, podemos mostrar que, pelo menos em princípio, nada
impede a formulação de leis ponte entre o mental e o físico, e
exactamente nos mesmos termos com que se formulam leis pontes na
Sb-normal.
Neste sentido, assumamos o seguinte. Sejam um padrão neural,
Pn, e um padrão mental, Pm; encontrem-se correlacionados, (Pn, Pm).
Por exemplo, a visão de um certo cartão colorido e a visão da imagem
86
de certo padrão neural obtida por, suponhamos, uma tomografia por
emissão de positrões.
Ora, tal qual na Sb-normal, a partir de certo patamar de
abstracção não é impossível descobrir entre os planos relativos a Pn e a
Pm um mesmo conjunto de leis abstractas que valha como base para a
formulação de leis ponte que necessitem as correlações entre os dois
planos. Um só exemplo permite ilustrar esta comunidade entre os dois
planos da Sb-especial – Tim van Gelder procurou mostrar, em especial
em “Wooden Iron?”, que há, no nivel de abstracção adequado, um
mesmo comportamento dinâmico, susceptível de uma mesma descrição
e até matematizável, entre certos padrões mentais e certos padrões
neurais relativos à percepção de melodias.63 Este modelo pode ser
entendido como uma hipótese científica, corroborável pelos dois planos
de experimentação a ter em conta – o propriamente físico e o mental.
De certo modo, é também esta dupla inscrição experimental a que
programas de investigação como a Neurofenomenologia, de Francisco
Varela e outros, levam a cabo. Também a nossa proposta, defendida
noutro trabalho64, de que a experiência fenomenologicamente descrita
da própria experiência mental em geral revela características de um
fenómeno de ressonância exemplifica a mesma dupla faceta
experimental e a possibilidade de encaminhar a investigação sobre o
mental para um patamar de abstracção onde seja possível encontrar
uma mesma legalidade – ou “meta-legalidade” – nos planos
correlacionados. Por fim, David Chalmers consagra este ponto com o
seu Princípio da coerência estrutural (Principle of structural
coherence), segundo o qual há uma «pormenorizada correspondência
entre as propriedades estruturais da informação processada no cérebro e
as propriedades estruturais da experiência consciente».65
63 Cf. nosso §65. 64 Cf. Barata, 2000: 217-258. 65 «It has long been recognized that there is a detailed correspondence between
structural properties of the information processed in the brain and structural properties of conscious experience» (Cf. Chalmers, 1997)
87
Todos estes elementos apontam pelo menos para a possibilidade
de um estabelecimento de leis ponte entre padrões neurais e padrões
mentais, de acordo com modelos susceptíveis de infirmação empírica,
aliás duplamente empírica – no sentido lato, de informação
experimental colhida quer no plano de observação relativo a padrões
neurais quer no plano de observação relativo a padrões mentais –, mas
igualmente susceptíveis de corroboração, exactamente nos mesmos dois
planos, e exactamente nos mesmos termos das exigências de
cientificidade de qualquer trabalho de investigação no domínio das
ciências naturais.
d) Princípio da descontinuidade mente/corpo
Agora, e retomando a objecção do hiato explicativo, segundo ela
temos que de nada serve necessitar as correlações (Pn,Pm) através de
leis-ponte, se, de facto, no momento em que temos Pn, e observamo-lo
atentamente, não descobrimos, seja a que escala for, nada como Pm.
Como se pode assim dar por fisicamente explicado o mental? A
peculiar circunstância de na Sb-especial, ao contrário de na Sb-normal,
apenas haver dois planos de observação, não sendo possível encontrar
entre eles um terceiro plano de observação, elimina, pois, segundo esta
objecção, qualquer expectativa de constatar uma presumível explicação
física do mental. Se essa explicação fosse aceitável então deveria
ostentar o seu resultado – uma mente. Mas isso é esperar uma
impossibilidade! Donde, o mistério de que Levine e Nagel falam.
Sistematizando, se há algo maximamente problemático no
problema mente/corpo é justamente o que poderemos designar por
Princípio da descontinuidade mente/corpo (PD), cujo enunciado
propomos que seja:
PD: Afigura-se tão impossível implicar no mundo tal qual observado fisicamente a observação de um estado mental como implicar nesta a observação de uma qualquer entidade minimamente aparentada com as entidades que reconhecemos como físicas.
88
São duas as impossibilidades em causa nesta proposição.
Primeiramente, a de alguém chegar, introspectiva ou reflexivamente, a
experienciar nos seus estados mentais – numa dor ou num prazer
sentidos em dado momento e em dado local por exemplo – uma
determinada configuração neural ou, simplesmente, o que quer que seja
que se prenda, mesmo no mais débil sentido que se possa imaginar,
com um estado físico.
Esta primeira afirmação pode ser considerada intuitivamente
evidente; no entanto, parece contradizer todas as formas de fisicalismo,
mesmo o não-reducionista característico dos que pugnam por teses
como as da sobreveniência, pois a estas é comum a ideia de que os
estados mentais têm por condição necessária estados físicos, sejam
neurológicos sejam sintetizados, sejam simplesmente fisicamente
materializados de outra forma que não estas. Mas, de acordo com PD,
nenhuma implicação de estados físicos se encontra nos estados mentais
vividos; nestes nada parece depender de, ou ser determinado por,
aqueles.
Em segundo lugar, PD afirma a impossibilidade de experienciar
em estados neurais do cérebro, observados e descritos através da
perspectiva da terceira pessoa, aquilo que se denomina, com maior ou
menor precisão, ‘consciência’, a sua ‘intencionalidade’ e as nossas tão
naturais ‘crenças’, ‘dores’, ‘prazeres’, ‘angústias’, etc. Menos intuitiva,
é certo, esta segunda impossibilidade – bem corroborada pelo
argumento de Rey – indica que nenhum estado físico necessita, ou
torna necessários, estados mentais. Curiosamente, apesar de menos
intuitiva, esta segunda impossibilidade é mais bem aceite pela ideia de
um fisicalismo eliminativista, ou seja, aquele fisicalismo que se propõe
eliminar, pura e simplesmente, os estados mentais enquanto estados
reais.66
Note-se bem que, face a PD, o problema não reside tanto no facto
de a sucessão dos estados mentais, descritível na primeira pessoa, ser
ou não determinada por uma sucessão de estados cerebrais, descritível
66 Cf. Churchland, Paul, 1981: 75.
89
na terceira pessoa67; nem sequer residirá na distinção muito intuitiva,
mas per se pouco explicativa, entre uma perspectiva da primeira pessoa
e uma perspectiva da terceira pessoa. Mais exactamente, o
problemático reside em conciliar a ideia de uma explicação física para
o facto de haver mentes com a inexistência de continuidade entre as
nossas observações do mundo físico e das nossas mentes, entre as
observações e descrições neurológicas dos processos físicos e as
experiências que um sujeito consciente vivencia. Ou mais
simplesmente: como explicar fisicamente a existência de uma mente,
não obstante a descontinuidade?
Esta é, a nosso ver, a dificuldade crucial que PD suscita
filosoficamente. É também a objecção óbvia que se pode apontar às
argumentações que procuram fazer equivaler uma eventual redução do
mental ao físico, e subsequente explicação causal, às reduções, e
subsequentes explicações causais de nível inferior, que se operam no
domínio científico-natural. É o caso, por exemplo, da argumentação de
John Searle em Intentionality, onde afirma designadamente que «o
problema mente/corpo é um problema tão real como o problema
estômago-digestão»68. Para Searle, o problema mente/corpo, se bem
abordado, nem sequer chega a constituir realmente um problema, pois
não levanta nenhuma outra dificuldade para além das que decorrem do
facto de o cérebro e de a mente corresponderem a duas escalas
diferentes, uma “micro” e outra “macro”. Donde, o autor afirmar que a
mente não é menos natural e biológica que o cérebro ou quaisquer
outros fenómenos biológicos, como a fotossíntese ou a digestão.
Só que, como se verificou acima, reduzir o problema mente/copo
a um problema de escala é perder de vista o que lhe confere uma
especificidade problemática inédita, a saber a inexistência de
continuidade entre a descrição física do que é da ordem do corpo e a
descrição fenomenológica do que é da ordem da mente. É esquecer os
67 De qualquer modo, convém deixar claro que Rey não rejeita a tese de Crick
e Koch; afirma apenas que continua a faltar qualquer coisa, qualquer coisa que a Paul Churchland parece escapar.
68 Cf. Searle, 1983: 262-272.
90
contrastes, atrás indicados, que diferenciam a sobreveniência que
qualificámos especial da sobreveniência normal, designadamente o
contraste continuidade/descontinuidade.
E, não obstante, para quem creia numa explicação natural da
mente, tal explicação não deverá afastar-se muito da simplicidade que
John Searle defende. A dificuldade, enorme dificuldade na tradição
filosófica e que parece ter escapado a Searle, não reside tanto na
explicação física da mente, mas, como temos enfatizado, na moldura
em que enquadraremos essa explicação.
§4. O desafio epistemológico
O que não há, até à presente fase desta investigação, é um
resposta para a seguinte dificuldade: apesar de concebermos que certa
imagem mental esteja perfeitamente correlacionada com certo mapa
neural, apesar de concebermos que possamos explicar, pelo menos a
partir de certo nível de abstracção, o comportamento mental
subsequente através da explicação causal do comportamento neural
subsequente, fica ainda assim por conceber como se explica
neuralmente o simples facto de haver vida mental. Como rejeitar,
perguntar-se-á, a perspectiva de um dualismo harmonioso entre mental
e neural? Como obter uma explicação neural para a posição do mental,
despojando assim de qualquer crédito tal perspectiva de um dualismo
mente/corpo? Ou deveremos resignar-nos ao estado de dúvida entre
uma alternativa dualista e uma alternativa monista? É esta, pois, a
formulação crucial do problema: como pode haver explicação do
cérebro para a mente se entre as descrições de um e da outra não existe
continuidade?
Parece, pois, que qualquer esforço de explicação da correlação
mente/corpo redunda em contradição: a necessidade de uma
continuidade é posta em conjunção com a impossibilidade de uma
continuidade. Eis pois a dificuldade que Searle não anteviu, a
dificuldade que Nagel, Levine e outros salientaram. Neste sentido, o
91
argumento do hiato explicativo tem uma função positiva: expõe um
problema que deverá ser tratado. Contudo, o seu inegável valor
heurístico esbarra com uma frequente incapacidade, por parte dos seus
proponentes, de apresentar algum tipo de saída para o problema.
a) A distinção percipi/esse
Porém, se se atentar bem ao que diz PD verificar-se-á que nele
não ocorre nenhuma contradição e que o paradoxo é apenas aparente.
Com efeito, a descontinuidade afirmada por PD reporta-se apenas às
descrições associadas ao corpo e à mente, não se reporta aos termos
dessas descrições. O que está em causa em PD é o facto de não ser
possível a um qualquer sujeito de experiência encontrar na sua
experiência objectiva do corpo, por mais completa que seja, a sua
experiência na primeira pessoa do mental e vice-versa. Mas, a
inexistência de continuidade entre a descrição física do que é da ordem
do corpo e a descrição fenomenológica do que é da ordem da mente
nada nos diz sobre se existe, ou não, continuidade real entre as
realidades descritas. Brevemente, PD diz respeito a uma
descontinuidade entre dois domínios de experiência, situando-se num
plano que apelidaremos percipi; já a explicação natural da correlação
mente-corpo diz respeito a uma continuidade entre dois domínios de
realidade, situando-se num plano que apelidaremos esse. Como a
descontinuidade entre as descrições não implica a descontinuidade
entre as realidades descritas, não há qualquer contradição entre os
esforços para obter uma explicação física da mente e o facto epistémico
de não ser possível encontrar no mundo físico um estado mental. Ou
seja, temos demonstrado que o hiato explicativo não é uma
inevitabilidade.
Esquematicamente, e tomando a seta de banda larga, abaixo
representada, como a orientação do que se assume como explanans
para o que se assume como explanandum (note-se que não se trata da
relação da causa para o efeito), o problema mente/corpo tem-se
92
resumido, genericamente, à questão sobre como nos será possível
admitir a seguinte continuidade explicativa:
De acordo com o que acabamos de expor, tal continuidade
explicativa não será alcançável a não ser que se proceda – para lá do
desdobramento entre um plano subveniente e um plano sobreveniente –
ao desdobramento entre um plano da experiência e descrição da
realidade, por um lado, e um plano da realidade experienciada e
descrita, por outro. Ou ainda, entre um plano percipi e um plano esse.
Resulta assim, como única via para encontrar tal continuidade
explicativa, um duplo desdobramento em quatro segmentos: percipi-
corpo, percipi-mente, esse-corpo, esse-mente.
Fig. 1 Esquema explicativo I
?
CORPO
MENTE explanandum
Explanans
Mente realismo (?) Pm
Continui- Desconti- dade nuidade
Corpo realismo(?) Pn
Plano esse
Plano percipi
Fig. 2 Esquema explicativo II
93
Note-se que não se visa aqui, e já, assumir duas pressuposições
discutíveis – a de que haja alguma diferença entre o percipi mental e o
esse mental, por um lado, e entre o percipi neural e o esse neural, por
outro. Se distinguimos um plano esse de um plano percipi, tal visa
reflectir tão-só as distinções conceptuais resultantes da assunção
evidente de dois planos de observação. Nestes termos, o desdobramento
percipi/esse é meramente analítico.
Não obstante, isto não faz com que se possa saltar, pelo menos de
um ponto de vista filosófico, sobre dois problemas suplementares: por
um lado, o da correspondência percipi/esse, pelo qual se elucide o valor
representativo da nossa experiência; por outro, o da discriminação de
tipos básicos de experiência, pela qual se elucide a descontinuidade
mente/corpo no plano percipi, designadamente explicando por que
razão é essa descontinuidade um facto da nossa experiência.
O primeiro problema prende-se sobretudo com o risco de se cair
no cepticismo face ao mundo exterior, risco que não é específico ao
problema mente/corpo, mas a toda e qualquer explicação que envolva
no seu explanans o mundo exterior. Inscrevendo-se as tentativas de
explicação física da mente nesse quadro, então, pelo menos de um
ponto de vista filosófico, não poderão deixar de certificar a
correspondência percipi/esse.
O segundo problema visa sobretudo justificar um dos pontos
reitores da nossa argumentação, a saber, o PD. Quando se diz não ser
possível encontrar uma dor num estado cerebral (ou quando se diz que
apenas podemos conhecer indirectamente as dores dos outros, através
do seu comportamento manifesto), deve ser notado que tal não pode ser
atribuído, pelo menos originariamente, ao facto de as dores serem
privadas e os estados cerebrais (bem como os comportamentos) serem
publicamente experienciáveis. Isso nem chega a ser parte da resposta;
antes é, na verdade, parte da pergunta. Já o desdobramento percipi/esse
participa da resposta, embora constituindo nela apenas uma parcela.
94
Limita-se a restringir os termos correlacionados ao plano percipi.
Porém, ao fazê-lo, permite converter o problema de saber por que razão
há necessariamente uma descontinuidade num problema que se reporta
apenas ao plano percipi. E sendo assim, então poder-se-á considerar
que as razões da descontinuidade necessária entre Pm e Pn se devem
encontrar de algum modo nas próprias condições da experiência. Dito
por outras palavras, dever-se-á tematizar a própria estrutura da
experiência de modo a que seja possível encontrar nela as razões para
uma descontinuidade entre a experiência do corpo e a experiência da
mente, ou ainda, entre a experiência objectiva daquele e a experiência
subjectiva desta.
Finalmente, há que denunciar um falso problema – não é verdade
que se tenha de assegurar a continuidade no plano esse. Em princípio,
esta está dada, pois corresponde à realidade propriamente dita, aquela
que subsistiria mesmo sem a posição de um observador. O que está
aqui em causa é apenas reconduzir as correlações mente/corpo de uma
posição em que se estabelecem sobre a descontinuidade percipi para
uma posição em que se estabelecem sob essa descontinuidade.
Escusado seria, sem motivo forte, introduzir uma nova
descontinuidade, agora no plano esse, como formulação, digamos, de
um dualismo radicalmente ontológico.69
b) Proposta de moldura epistemológica
Os elementos já fixados – PD e desdobramento percipi/esse – são
suficientes para que tomemos posição sobre o enquadramento adequado
que devemos dar à nossa tese da sobreveniência especial (do mental
sobre o neural) e, assim, para a “construção”, digamos assim, de uma
moldura epistemologicamente adequada à resolução do problema
mente/corpo. Procederemos a tal construção em três passos.
69 Dizemos “dualismo radicalmente ontológico”, para o discernir do
tradicional dualismo mente/corpo que mais não consiste no rebatimento, por manifesto equívoco, da descontinuidade do plano percipi no plano esse.
95
Se a tese da sobreveniência especial encontra sustento numa
dupla fonte de experiência – padrões ou imagens mentais fornecidos
pela perspectiva da primeira pessoa e padrões ou mapas neurais
fornecidos pela perspectiva da terceira pessoa –, então, com o
desdobramento esse/percipi, deveremos restringir o seu âmbito
explicativo ao plano percipi. Este é o primeiro passo.
Esta restrição da Sb-especial faz sistema com a restrição de PD
aos segmentos percipi, pois ambas decorrem da assunção da distinção
percipi/esse.
No entanto, se a Sb-especial for apenas verificada no plano
percipi, então, por si só, mostrar-se-á incapaz de valer como uma
autêntica explicação do problema mente/corpo. Isto, porque é todo o
plano percipi, e não apenas o seu segmento mente, que há que explicar.
Para ultrapassar este obstáculo, é preciso assegurar a
correspondência percipi/esse quanto aos termos relativos à perspectiva
da terceira pessoa, pois então poder-se-á assumir, de um ponto de vista
epistemológico, a informação obtida na perspectiva da terceira pessoa
no plano percipi como sendo informação fidedigna do plano esse. Por
outras palavras, se estivermos seguros de que o mundo físico é tal qual
o experienciamos na perspectiva da terceira pessoa, então poder-se-á
deslocar o segmento percipi-corpo da posição de explanandum para a
de explanans, dispensando uma sua explicação e restringindo, assim, o
esforço explicativo ao segmento percipi-mente. Este é o segundo passo.
Com isto, está, a nosso ver, perfeitamente assegurado o
suficiente, do ponto de vista do enquadramento epistemológico, para
explicar o segmento esse-mente como um natural fenómeno de
sobreveniência normal (já não especial) muito na linha do que Searle
defendeu em Intencionalidade. O problema é que Searle ignorou a
necessidade de se proceder a um terceiro passo, quando é evidente que
este enquadramento permanece insuficiente para que se possa afirmar
que se obteve uma explicação do segmento percipi-mente, o único que
vivenciamos subjectivamente, na perspectiva da primeira pessoa.
Ora, pelo facto de no plano percipi, e de acordo com a
sobreveniência especial, ser o segmento percipi-corpo que assume a
96
posição de explanans e não o segmento percipi-mente (este vale aí
apenas como explanandum sobreveniente), então poder-se-á assumir,
em virtude da correspondência esse/percipi, o mesmo para os
segmentos do plano esse. Ou seja: assumir que o segmento esse-mente
é o que há explicar no plano-esse, não participando aí da explicação; e
assumir que, embora esteja contido no explanans de todo o segmento-
percipi, é aí explicativamente neutro. Assim, torna-se necessário
distinguir dois níveis de explicação, um esse, outro percipi, em que o
primeiro é projectável no segundo. Este é o terceiro passo.
De uma forma mais sistemática, julgamos ter identificados os três
passos que estabelecem a almejada moldura para um adequado
enquadramento da tese da Sb-especial. São eles:
(1) Restrição da Sb-especial ao plano percipi
(2) Assunção do segmento percipi-corpo como segmento esse-corpo
(3) Projecção do explanandum esse-mente como explanandum
percipi-mente.
Além disso, sob estas três condições, o que se obtém quando se procede
a um enfrentamento do problema mente/corpo através da tese da
sobreveniência é:
- Em primeiro lugar, uma explicação no plano esse do segmento
esse-mente em função de (2), mas tão-só enquanto orientada pela
explicação no plano percipi do segmento percipi-mente, de
acordo com (1).
- E, em segundo lugar, a validação dessa explicação como
explicação do segmento percipi-mente, em virtude da condição
(3).
Esquematicamente, a moldura que propomos pode ser assim
representada:
Explicação esse Fig. 3 Explicação percipi
C (1) M plano percipi C M
(2) (3)
C M plano esse C M
Moldura explicativa para o problema mente/corpo
97
c) Superação do hiato explicativo
O ganho mais evidente que se alcança com este enquadramento
do problema mente/corpo consiste na superação da objecção do hiato
explicativo: se o que é realmente explicado é o segmento esse-mente, e
se o segmento percipi-mente apenas é explicado porque a validade
daquela explicação é projectável como sua explicação (em virtude da
neutralidade explicativa de esse-mente), então não é o caso que se
devesse esperar, sequer que fosse possível esperar, constatar o
segmento percipi-mente assim explicado.
O ponto capital aqui incide na necessidade de proceder à
distinção entre um problema mente/corpo propriamente dito e um
problema relativo à sua epistemologia filosófica, pois é na indistinção
entre estes dois problemas que localizamos o que poderemos considerar
um equívoco nas argumentações assentes na ideia de um hiato
explicativo que nos confronta com um “mistério” no problema
mente/corpo.
A nosso ver, tal “mistério” só se sustenta pela confusão entre três
pontos: existir uma explicação para o problema mente/corpo, descobrir
essa explicação e constatá-la. Com efeito, esperar-se-ia que explicar
fisicamente a mente consciente, ou seja, explicar a perspectiva da
primeira pessoa através da da terceira pessoa, fosse encontrar
fisicamente a mente, ou seja, encontrar na perspectiva da terceira
pessoa a da primeira pessoa.70 Esta é uma expectativa razoável para a
generalidade das explicações que nos damos dos fenómenos naturais:
Se visamos explicar um explanandum a partir de um explanans,
70 É exactamente essa expectativa que Nagel exprime em “What is it like to be a bat?” – «If physicalism is to be defended, the phenomenological features must themselves be given a physical account. But when we examine their subjective character it seems that such a result is impossible. The reason is that every subjective phenomenon is essentially connected with a single point of view, and it seems inevitable that an objective, physical theory will abandon that point of view.»(Nagel, 1979: 167)
98
esperamos, com a explicação, obter o explanandum de uma forma
ostensiva, pelo menos tão ostensiva quanto o explanans. Ora, tal, de
acordo com PD, é uma impossibilidade – seria o mesmo que esperar, a
nosso ver absurdamente, encontrar uma dor ou uma cor vividas no
cérebro. No entanto, esta não é uma expectativa necessária, pelo que o
facto enunciado por PD não impeça, por si mesmo, o esforço de uma
explicação.
Por princípio, pois, nada obsta a que se obtenha uma explicação,
sem que se possa constatá-la; que se alcance o explanandum, ainda que
não de uma forma ostensiva. E esse é, a nosso ver, o caso de uma
explicação do mental sobreveniente pelo neural subveniente.71
Ora, com isto podemos concluir que o que há de filosoficamente
problemático no problema mente/corpo não é tanto existir, ou não, uma
sua explicação física, nem sequer é a nossa capacidade, ou não, para
descobrir essa explicação física, mas o facto de ser impossível
constatá-la. Uma coisa é explicar a determinação do mental pelo
neural, outra bem diferente é a possibilidade de a constatar. A primeira
é um problema científico, a segunda um problema filosófico. Apenas a
confusão entre elas justifica o mistério e o paradoxo quando se
confronta o problema mente/corpo com o hiato explicativo. Em rigor,
sob a moldura que propomos, a única coisa que o hiato explicativo
demonstra não é que não haja explicação, ou que esta seja um mistério,
mas, tão-só, que a explicação do mental pelo neural não pode ser
constatada.
Uma ilustração expõe claramente o nosso criticismo.
Suponhamos uma situação imaginária em que pudéssemos contruir
uma réplica sintética de um ser humano, com os mesmos processos
neurais, uma réplica perfeita a partir de um conhecimento integral de
toda a física e toda a química envolvidas no organismo humano.
71 Mas, nem sequer se pode dizer que esta limitação seja exclusiva de uma
explicação do mental pelo neural. Por exemplo, quando a macrofísica explica a expansão do Universo com base num desvio do espectro luminoso tal explicação não é acompanhada por uma verificação ostensiva dessa expansão do Universo. Ninguém vê, de facto, o Universo a expandir-se!
99
Admitamos, além disto, que exista uma explicação física para a mente.
Então:
I. Com certeza, obter-se-ia assim a construção de um ser
tão capaz de consciência quanto o modelo humano.
II. Com certeza, na construção levada a cabo, estaria
incluída a explicação física da mente.
III. Com certeza, com I. e II. disporíamos dos meios para
produzir mentes.
Valeria isto como descoberta da explicação física? A resposta é
negativa, pois continuaríamos sem saber exactamente como é que uma
mente é determinada por certas disposições materiais e funcionais. A
mente não é fisicamente acessível. Mas não seria possível proceder a
uma localização mais exacta dessas disposições? A resposta parece
negativa, pois por mais exacta que fosse a localização do processo
físico relevante, nada disso fará com que a mente se torne fisicamente
acessível. Mas, vejamos como, de facto, não é assim e como, de facto,
não é necessária uma acessibilidade física à mente consciente. Após
admitirmos I.-III., com base apenas na admissão da existência de uma
explicação, poder-se-ia escrutinar que elementos não são necessários
nos humanos para que permaneçam dotados de uma mente consciente.
Um humano amputado não deixaria, por isso, de ser consciente tal qual
um homem com todos os membros. Isso é evidente e não parece que
demonstre alguma coisa. Por si só não, mas, bem entendida, boa parte
da resposta já está dada. Com efeito, as ciências neurológicas poderiam
prosseguir este trabalho de “amputação selectiva”, aliás segundo
técnicas bastante mais benignas que a irreversível amputação real,
identificando todos as disposições desnecessárias através de um
integral domínio do conhecimento relevante. Que obteríamos? Com
certeza I.-III., mas de um modo bastante mais satisfatório.
Conheceríamos, por exclusão de partes, e de um modo assaz exacto, as
disposições materiais e funcionais envolvidas na determinação física de
uma mente. Simplesmente, repetimos a pergunta, valeria isto como
descoberta da explicação física da mente?
100
A resposta é ainda negativa. Continuaríamos sem conhecer
exactamente como é que tais disposições determinam uma mente
consciente. Que falta, então? Tão-só o que falta a qualquer explicação
– uma teoria, uma teoria em que creiamos.
Note-se que de nada nos serviu a réplica artificial. Se alcançamos
uma identificação exacta das disposições materiais e funcionais
requeridas, só as poderemos encontrar por amputação selectiva num
modelo dotado de mente72. É claro que há uma maneira de saltar uns
passos – por antecipação teórica. Mas esta não será formulável sem
informação relevante. Portanto, a antecipação não muda
substancialmente os termos do problema. Quando é que acreditaremos
na teoria? Quando do seu domínio se puder retirar consequências que a
confirmem – ou, no respeito pela epistemologia popperiana, que a
corroborem. Mas este é já um problema demasiado geral e, portanto,
relativamente trivial no que respeita a uma explicação física da mente.
Estão, assim, dadas as condições para a descoberta científica de
uma explicação:
i) Localizar quais as disposições materiais e funcionais
relevantes para a determinação física do mental através do
estabelecimento de correlações entre padrões neurais e
padrões mentais. Estes últimos terão, naturalmente, de se
socorrer da perspectiva da primeira pessoa. No entanto, não é
problemático confiar no testemunho e nas respostas
comportamentais de um sujeito humano sob estudo, ambos
dados na perspectiva da terceira pessoa.
ii) Estabelecer uma teoria bem corroborada que necessite tais
correlações.
Agora, para isto não seria preciso, em momento algum, observar
fisicamente um padrão mental. Mesmo que tal seja uma
72 Neste sentido, vemos como particularmente inverosímil que possam ser bem sucedidas abordagens ao problema mente/corpo que não tomem por objecto directo de investigação a mente propriamente humana e a sua base neural. Este ponto de crítica atinge as teorias simbólico-computacionais que visam explicar o mental sem ter por base o conhecimento do nosso sistema nervoso.
101
impossibilidade – PD interdita-o –, essa impossibilidade em nada
impediu, de acordo com este cenário imaginário, que se declarasse a
possibilidade de uma explicação científica integral da determinação
física da mente. Uma explicação existe independentemente da sua
descoberta, e, por seu turno, a descoberta de uma explicação não
requer a constatação ostensiva do explanandum.
Ora, o nosso ponto é, então, o de se proceder a uma clara
distinção entre um problema mente/corpo para a ciência e um problema
mente/corpo para a filosofia.
Se o problema parecia maior, sobretudo em virtude de PD, tal
resolve-se, no entanto, a partir de um estabelecimento filosófico da
epistemologia adequada ao problema. Resumindo-se a isto, grosso
modo, o problema mente/corpo propriamente filosófico. Mais em
particular, e a partir do suposto de que a filosofia tem por fontes de
investigação a informação provinda da perspectiva na primeira pessoa,
designadamente a de natureza fenomenológica, e a capacidade de
proceder à análise de argumentos, podemos circunscrever o problema
filosófico a:
i) Explicitar e descrever a experiência na primeira pessoa;
ii) Explicar por que razão a mente experienciada na primeira
pessoa não é fisicamente acessível;
iii) Dar uma moldura epistemologicamente adequada à resolução
científica do problema mente/corpo.
d) O dualismo experiencial
Se se afirmou atrás existirem dois domínios de experiência foi
porque a descontinuidade entre a experiência da mente e a do corpo
delimitou esses dois domínios como domínios estranhos um ao outro.
Com efeito, nos termos atrás expostos, o princípio da descontinuidade
mente/corpo permite afirmar que esperar encontrar uma dor, uma
crença, um quale ou uma qualquer outra experiência “subjectiva” da
consciência no mundo dos factos físicos é como esperar encontrar um
fantasma no interior escuro do armário do quarto de uma criança. As
102
dores vividas, enquanto tais, não têm existência física. Simetricamente,
também não é possível esperar observar neurónios, neurotransmissores
no mundo da experiência exclusivamente “subjectiva” de uma
consciência, por muito que esta se dedique à introspecção.73
Ora, esta simetria acarreta não só a existência de dois domínios
de experiência, mas igualmente a irredutibilidade recíproca de um ao
outro.
A este dualismo experiencial poder-se-á chamar também ‘dualismo de
perspectivas/pontos de vista’ ou ‘teoria do aspecto dual’, conquanto
com a salvaguarda de que não se tratará de perspectivas, pontos de vista
ou aspectos diferentes dentro do campo da observação escalar. Os dois
domínios de experiência distinguem-se, como se viu atrás, pelo
contraste escala/não-escala. Por outro lado, verificámos também que os
correspondentes reais dos dois domínios de experiência são, sob uma
consideração estritamente conceptual, não apenas um, mas também
dois domínios distintos (situados no plano esse), embora, a haver
resolução do problema mente/corpo, deva haver entre eles alguma
forma de continuidade que não ocorre no plano da sua experiência. Não
se trata, pois, de perspectivas ou aspectos imediatamente dados como
perspectivas ou aspectos do mesmo, ainda que, mediatamente, sob a
apresentação de algum procedimento, se espere que sejam de facto
perspectivas ou aspectos reais do mesmo.
e) Eliminativismo, dualismo e reducionismo
Podemos por fim, e para lá da discussão do hiato explicativo,
tomar posição sobre algumas das propostas filosóficas relativas ao
problema de saber se é, ou não, possível uma redução do mental ao
físico.
73 Note-se que a simetria entre mente e corpo em PD, embora manifesta, não é
completa – todos os aspectos que reconhecemos como “objectivos” e da terceira pessoa vêm acompanhados de aspectos “subjectivos” e da primeira pessoa.
103
Admitido o dualismo experiencial, ou seja, a irredutibilidade
entre os dois domínios de experiência, importa, contudo, clarificar qual
o alcance dessa irredutibilidade, de tal forma que o esquema dual,
embora incontornável no plano percipi, possibilite ultrapassar o dilema
entre um dualismo e um monismo a respeito do problema mente/corpo,
ou mais precisamente, uma explicação da existência das mente que não
envolva mais, de um ponto de vista ontológico, do que a estrutura da
matéria, e suas disposições funcionais, que a Física já conhece ou
conceba vir a conhecer no quadro dos seus programas de investigação
científica.
Perante esta presunção, existem três posicionamentos teóricos
claramente diferenciados e muito debatidos na recente tradição de
estudos da Filosofia da Mente. Por um lado, o reducionismo que
considera possível reduzir as descrições não físicas da mente a
descrições físicas, tal qual a redução das descrições biológicas a
descrições químicas e destas a descrições microfísicas. Este é, de forma
muito explícita, o posicionamente de Searle em Intentionality. Por
outro lado, o dualismo que considera impossível uma tal redução das
descrições do que é da ordem do mental (ou, ao menos, parte do que é
dessa ordem) a descrições aceitáveis no quadro de uma teoria física.
Este é o posicionamento tradicionalmente atribuído a Descartes.
Finalmente, o eliminativismo que, em contraposição com os dois
posicionamentos anteriores, nem sequer aceita a pressuposição, por
parte destes, de que haja dois domínios de realidade, pelo que o
problema da possibilidade, ou não, de uma redução entre eles se resuma
a um falso problema74. Esta é a posição de Paul Churchland, entre
outros. Naturalmente, ou nem tanto, há que notar que o que o
eliminativismo se propõe eliminar nas correlações mente/corpo consiste
nos termos mentais. Donde que esta posição, em conjunto com a
74 «The thesis that our common-sense conception of psychological
phenomenon constitutes a radically false theory, a theory so fundamentally defective that both the principles and the ontology of that theory will eventually be displaced, rather than smoothly reduced, by completed neuroscience…. [It] is a stagnant of degenerating research program, and has been for millennia.» (Rey, 1997: 69)
104
reducionista, sejam versões do fisicalismo tal como o caracterizámos
acima.
f) Integração dos três posicionamentos na moldura proposta
Agora, apesar do claro antagonismo que se nota entre os
enunciados destes três posicionamentos teóricos, de acordo com o
dualismo experiencial e a irredutibilidade mente/corpo no plano percipi
atrás enunciadas pode-se mostrar que é possível, se não mesmo
necessário, marcar conceptualmente alguns pontos de conciliação onde,
na aparência, resultavam apenas relações contraditórias.
Tome-se em atenção, primeiramente, as teses eliminativistas. De
acordo com estas, os estados mentais simplesmente não existem, uma
vez que não podem ser descritos em termos físicos. Note-se, porém,
que semelhante tese, admitindo PD, é perfeitamente formulável em
sentido inverso, ou seja, afirmando qualquer coisa como “os estados
físicos não existem já que não podem ser descritos em termos mentais”.
Em termos lógicos, as duas formulações têm uma validade equivalente:
ou são ambas verdadeiras ou são ambas falsas em virtude da simetria de
PD. Por isso, expressar apenas uma delas induz em notório equívoco.
Não obstante, note-se que este irreducionismo não deixa de ser
eliminativo e em sentido duplo: as vivências “subjectivas” da mente
não têm existência física e as entidades fisicamente observáveis e
descritíveis na terceira pessoa não têm existência “subjectiva” na
mente.
O ponto a frisar aqui é que a tese eliminativista deve ser
entendida, para expressar com mais rigor o seu alcance, de parte a
parte. Nesse sentido, é perfeitamente aceitável desde que circunscrita
ao plano percipi. Ao fim e ao cabo, é justamente isso que PD afirma.
Mas já não será aceitável se a estendermos ao plano esse. E é nesta
extensão abusiva que reside o segundo equívoco do eliminativismo –
por muito evidente que seja a inexistência física da vivência
“subjectiva” de uma dor, daí não se pode inferir a inexistência física do
seu correspondente esse.
105
Admitir-se-ia, então, um enunciado dualista que afirmasse dois
domínios de existência, mental e física, ou ainda, à maneira cartesiana,
duas substâncias, extensa e cogitans – de acordo com o esquema atrás
traçado, os segmentos esse-mente e esse-corpo. Aqui, o equívoco reside
num rebatimento da descontinuidade de PD no plano esse, confundindo
aspectos relativos às perspectivas da primeira e da terceira pessoa com
a realidade propriamente dita de que essas perspectivas são justamente
perspectivas.
Por fim, deparamo-nos com o reducionismo, para o qual se
encontram diversas formulações com diversos entendimentos do que se
entende pela palavra ‘redução’. Aqui, limitar-nos-emos a indicar o
equívoco mais frequente, a saber, o de pensar a redução logo no plano
percipi, do que resulta a ideia de que a mente deve, paradoxalmente, ser
constatada no mundo objectivo perspectivado na terceira pessoa.
Posto isto, e procedendo a uma síntese, é possível afirmar que o
dualismo experiencial, tal como foi proposto acima, exprime, de forma
integrada e coerente, o que, sob certos ângulos de abordagem,
exprimem o eliminativismo, o dualismo e o reducionismo. A saber,
valendo como:
- Um eliminativismo em duas direcções simétricas no plano
percipi: eliminação do percipi-mente no percipi
correspondente ao esse-corpo, e eliminação do percipi-
corpo no percipi correspondente ao esse-mente. Em
contrapartida, expõe-se o equívoco de uma abordagem que
elimine o esse-corpo ou o esse-mente em função de PD.
- Um dualismo no plano percipi entre dois segmentos de
experiência entre si irredutíveis: percipi-mente e percipi-
corpo. Em contrapartida, expõe-se o equívoco de um
rebatimento da irredutibilidade no plano percipi numa
eventual irredutibilidade no plano esse.
- Um reducionismo ontológico, e eventualmente um
monismo ontológico, entre dois domínios de realidade:
esse-mente e esse-corpo, estando o primeiro na posição de
plano que sobrevém ao segundo. Em contrapartida, expõe-
106
se o equívoco de uma redução logo no plano percipi em
função de uma simplificação apressada da eventual
redução no plano esse.
Estes três pontos evidenciam o esclarecimento que a moldura
proposta traz aos diferentes posicionamentos que têm sido suscitados a
propósito do problema mente/corpo. É claro que não fornecemos uma
resolução para o problema mente/corpo, estamos longe disso. Nem
sequer era essa a nossa pretensão. A nosso ver essa deve continuar a ser
uma pretensão da ciência. Pretendemos apenas, e de um ponto de vista
filosófico, precisar qual o enquadramento mais adequado para a
resolução do problema em jogo – alcançar uma moldura,
epistemologicamente adequada, para uma resolução física do problema
mente/corpo. E julgamos tê-lo feito quer pela sustentação de uma tese
da sobreveniência – especial no plano percipi, e normal no plano esse –
quer pela defesa de uma reducionismo pelo qual não haja dificuldades
maiores do que as que respeitam a qualquer outra redução, como a da
estrutura molecular da matéria à sua estrutura atómica, subatómica, etc.
107
III
Significação
1. Significação e finalidade
As mentes humanas acedem a padrões sensoriais veiculados por
padrões neurais. O conhecimento neurológico de que dispomos acerca
do processo perceptivo inclui alguns elementos incontroversos. Por um
lado, sabemos que a retina codifica uma série de estímulos – tais como
o comprimento de onda e a amplitude de onda da luz que a sensibiliza.
Por outro lado, sabemos que esta sensibilização é transmitida ao NGL
(Núcleo geniculado lateral)75 e, depois, deste ao córtex visual. Esta
sequência deverá terminar numa última matéria sensível, digamos
assim, justamente aquele padrão neural que de algum modo originará,
embora não saibamos como, o padrão mental que aparece na
experiência visual. Também é conhecido o facto de todas estas matérias
sensíveis preservarem as correspondências entre estímulos e sua
localização na superfície da retina76. Donde, ocorrer no córtex visual,
sempre que se tem uma experiência visual, um mapa retinotópico.77
Ora, seguindo esta sequência de matérias sensíveis, cada vez
mais adentro do cérebro, aparentemente não se poderia concluir outra
75 «The ordering and arrangement of visual inputs to the LGN is kept strictly
in register with that in the retina, and this ordering is sustained through to the occipital lobe of the cortex. Cells of the LGN have wavelength-dependent receptive fields similar to those of ganglion cells, with concentric on-center and off-center fields.» (Greenstein & Greenstein, 1999: 284)
76 «The accurate projection of visual inputs from the retina to the brain
requires the preservation of the order of the original visual layout on the retina, the so-called retinotopic map. The map is plotted on the retina in terms of an orderly arrangement of photoreceptors and their associated ganglion cells. Thus, adjacent visual inputs are plotted by adjacent ganglion cells, somewhat analogous to the plotting of pixels by a computer.» (Greenstein & Greenstein: 1999, 282)
77 «The primary visual cortex contains an ordered map of the visual field.»
(Greenstein & Greenstein: 1999, 286)
108
coisa senão que o que vejo sensorialmente na experiência visual
consiste em estados internos do meu corpo. Supondo, apenas para fins
de argumentação, que a derradeira matéria sensível é o córtex visual,
então seria esta matéria do meu corpo o que seria sensorialmente
“visto” na experiência visual. Contudo, esta linha de argumentação
resulta contra-intuitiva, uma vez que toda a evidência aponta para que
se diga que a experiência visual (bem como o percipi que dela possa
resultar) seja de facto relativa ao mundo exterior e aos objectos
exteriores que o povoam; nada, pois, que possa ser confundido com
estados internos do meu corpo, ou com o material – neurónios, muito
plausivelmente – de que este é feito. Assim expostas, estas duas linhas
de argumentação parecem colocar-se, uma face à outra, em posição
contraditória.78
Haverá saída para este impasse? A questão é, creio, sobretudo
uma questão conceptual, pelo que procurarei, no essencial, obter uma
resposta da mesma natureza.
Imaginemos, pois, um dispositivo mecânico dotado de um retina
artificial apenas sensível ao claro e ao escuro, e cuja sensibilização se
faça discriminando duas e apenas duas regiões, uma correspondendo a
78 Em recensão no New York Times ao Looking for Spinoza - Joy, Sorrow, and
the Feeling Brain de António Damásio, Colin McGinn aviva a contraposição entre estas duas posições: «The final, grand claim of the book is simply absurd: that all mental states are perceptions of the body. Damasio is aware that readers may find this view a shade paradoxical: ''The statement departs radically from traditional wisdom and may sound implausible at first glance. We usually regard our mind as populated by images or thoughts of objects, actions and abstract relations, mostly related to the outside world rather than to our bodies.'' Indeed we do. We usually suppose that we see things outside us, as well as seeing our own body; and we suppose the other senses work likewise. We also suppose that our thoughts manage to be about the world beyond our bodies. Yet we are solemnly assured that science refutes this ''traditional wisdom.''
What has really happened is that Damasio has made an elementary confusion, and that infects his entire discussion. It is true that whenever there is a change in our mental state there is a change in the state of our body, and that this bodily state is the ground or mechanism that makes the mental state possible. But it is a gross non sequitur to infer that the mental state is about this bodily state. When I see a bird in the distance my retina and cortex are altered accordingly; however, that doesn't mean that I don't really see the bird but only my retina and cortex. The body is indeed the basis of my mind's ideas, but it is not their object. Once again Damasio has neglected the intentionality of mental states, with grotesque consequences. Moreover, this generalized view would obliterate his theory of the emotions, since it would convert every mental state into an emotion, given that emotions are defined as ''ideas of the body.''» Cf. McGinn, Colin. New York Times (Fev 23, 2003)
109
todo o lado esquerdo da retina, a outra a todo o seu lado direito. Obtêm-
se então apenas quatro possíveis apresentações, que na forma de pares
ordenados serão: (claro, claro); (claro, escuro); (escuro, claro); (escuro,
escuro). Contudo, materialmente o que se tem sensibilizado nessa retina
artificial para cada uma dessas possíveis apresentações não é senão um
fotorreceptor. Digamos que, no caso de (claro, escuro), o que efectiva e
materialmente se tem sensibilizado na retina artificial é (x, y),
sucedendo serem x e y fotorreceptores. Do mesmo modo, nas retinas
humanas o que é efectiva e materialmente sensibilizado são certos
grupos de células, em particular, cones e bastonetes.
Imaginemos em seguida que a sensibilização da retina artificial é
comunicada a uma cadeia de outras superfícies sensíveis até atingir
uma derradeira. De superfície em superfície terá de haver um
isomorfismo79 que preserve na derradeira a informação colhida logo na
primeira matéria sensível. Mas nada obriga a que as diferentes matérias
sensíveis sejam compostas pelos mesmos elementos materiais. Os
mapas retinotópicos replicados nos nossos cérebros também não são,
evidentemente, novas retinas, matérias compostas por cones e
bastonetes. Assim, convirá distinguir não só as diferentes matérias
sensíveis, mas igualmente os materiais que as compõem. Uma forma
simples de o fazer é indexar um número natural a x e a y, para que por
esse número se determine de que matéria sensível se trata – cada
matéria sensível ocupa um e um só lugar na ordem da cadeia que vai da
primeira, a retina artificial, à derradeira. Por exemplo, caso a
estimulação na retina seja (claro, escuro), então esta apresentará
materialmente M1 (x1, y1) activados; a matéria sensível que ocupe o
lugar n na ordem apresentará, por seu turno, Mn (xn, yn) activados.
Postulemos que a posição n seja justamente a da derradeira
matéria sensível. Então, não haverá, obviamente, uma Mn+1.
79 Uma definição da relação de isomorfismo é dada por Hofstadter, no seu
Gödel, Escher, Bach – «The word ‘isomorphism’ applies when two complex structures can be mapped onto each other, in such a way that to each part of one stucture there is a corresponding part in the other structure, where ‘corresponding’ means that the two parts play similar roles in their respectives structures.» (Hofstadter, 1979: 49)
110
Posto isto, perguntemos pelo que vale para o dispositivo como
informação. Aparentemente, não importará para o desempenho do
dispositivo outra coisa senão as diferenças entre as activações, pois as
quatro possíveis activações de Mn – (xn, xn), (xn, yn), (yn, xn) e (yn, yn) –
só são realmente informativas porque são isomórficas relativamente às
quatro possíveis activações em M1. De acordo com isto, o conteúdo
informativo de cada uma das activações em Mn definir-se-ia à custa das
restantes três possíveis activações. Esta correlação entre activações
possíveis é, justamente, o que se preserva de matéria sensível em
matéria sensível. E assim sendo, uma activação por si só – por
exemplo, a de (x1, x1),...., (xn, xn) – não forneceria qualquer tipo de
informação.
Mas já por outro lado, perguntar-se-á, em que sentido se diz que é
a correlação que dota certa activação de valor informativo? Mais
abstractamente ainda: o que faz com que algo valha como informação?
Regressemos ao nosso dispositivo mecânico e suponhamos que ele
possui M1,..., Mn como fonte de informação em vista de um certo
propósito ou finalidade. Suponhamos ainda que tal finalidade consiste
tão-só em mover-se em rotação para a claridade, obtendo assim energia
para alimentar um pequeno gerador. Isto, dispondo de um painel solar
em posição vertical e capaz de captar energia de luz que incida numa
janela de 180º; e também estando situado no centro de uma sala
redonda e com um único foco luminoso. Nestes termos, em
circunstâncias que capte (escuro, escuro) rodará sobre si mesmo 180º;
captando (claro, claro), deixar-se-á ficar na mesma posição; captando
apenas numa região o escuro, girará 90º ou para a sua direita ou para a
sua esquerda consoante a região escura seja à sua esquerda ou à sua
direita.
Esta descrição do nosso dispositivo – baptizemo-lo com o nome
‘Iluminado’ – permite dar uma resposta um pouco mais satisfatória à
pergunta sobre o que faz com que algo valha como informação. Com
efeito, (xn,xn) vale como informação porque importa para a realização
da finalidade do dispositivo mecânico. Não tivesse ele uma finalidade,
e (xn, xn) não valeria como informação.
111
Contudo, se esta dependência da informação face a uma
finalidade – algo só é informativo em vista de uma finalidade –
constitui um avanço, por outro lado parece constituir um recuo no que
respeita à primeira ideia atrás indicada – a de que a informação está na
correlação isomórfica e não na materialidade activada. Efectivamente,
fosse o Iluminado sujeito a uma inversão do claro e do escuro, fossem a
ele aplicados uns óculos invertores e a sua finalidade preservar-se-ia –
encontrar o (claro, claro) – sem que o seu comportamento motor a
satisfizesse uma vez sequer. Isto porque a informação não estaria de
facto no que é isomórfico mas apenas no material activado.
Regressemos, pois, ao laboratório e ao trabalho de design do
nosso dispositivo para criar uma sua segunda geração – o Iluminado II.
Se na versão prévia tínhamos um dispositivo capaz de movimento de
rotação, dotado de uma retina artificial e de um painel solar, agora o
Iluminado II dispõe, além disso, de uma memória. Mas face ao
Iluminado I tem algo menos, a saber, não tem pré-definido o modo
como as activações em Mn importam para a satisfação da finalidade.
Com isto, julgamos poder dizer que, ao contrário do seu antecedente, o
Iluminado II é um dispositivo capaz de aprendizagem e que é tal
capacidade que dá conta do modo como as correlações isomórficas
chegam a ser informativas.
Comecemos pela aprendizagem. O dispositivo é posto em
movimento – um movimento inicial forçado, façamos assim. Uma
sucessão de sensibilizações são memorizadas nesse período – (xn, xn)
satisfaz a finalidade; (yn, yn) não satisfaz. A sua finalidade é deslocar-se
para o que o alimenta energeticamente. Como (yn, yn) não satisfaz a
finalidade, o dispositivo vai rodar em qualquer direcção. Neste caso, a
memória não parece importar muito. Mas rodar quanto, 90º ou 180º?
Aqui a memória já parece importar: o resultado das sensibilizações
anteriores (yn, yn) foi sempre o de que o comportamento que melhor
satisfaz a finalidade é rodar 180º. Ora, se a memória puder desencadear
o comportamento que registou como sendo o que realiza a finalidade,
eis pois elucidado o seu contributo.
112
Agora, suponhamos que no momento anterior àquele em que se
impôs ao dispositivo o seu movimento inicial, lhe haviam sido
colocados os tais óculos invertores. Então, obviamente, as
memorizações teriam sido outras, precisamente as inversas – e (xn, xn)
valeria do ponto de vista informativo exactamente o mesmo que (yn, yn)
no Iluminado II sem óculos invertores. Eis, pois, que o que importa à
satisfação da finalidade do Iluminado II não é propriamente a matéria
activada em Mn, mas o que nela é isomórfico com a realidade exterior.
Mas se a suposição for ligeiramente diferente, se a aposição dos
óculos invertores suceder apenas quando o dispositivo já tiver
memorizadas associações entre (yn, yn) e a tarefa “rodar sobre si mesmo
180º”, entre (xn, xn) e “permanecer imóvel”, etc., então verifica-se
facilmente que não podemos restringir o que consideramos ser dotado
de valor informativo às correlações. Com efeito, sucederá
imediatamente à introdução dos óculos invertores um período de
comportamento falhado, e assim será justamente em virtude das
associações memorizadas. Estas indicavam um tipo de comportamento
para as activações em Mn que deveria ser bem sucedido e que, afinal, se
revela agora sempre mal sucedido. Não será, todavia, isto que
condenará o Iluminado II. O período de insucesso suscita também
novas associações, as quais, fortificando-se à custa do insucesso
reiterado do comportamento, acabam por dar origem a um
comportamento bastante imprevisível – ora são as velhas associações a
determinar o comportamento, ora são as novas. Naturalmente, este
período de confusão acabará por ser superado, pois as velhas
associações serão sempre mal sucedidas, ao passo que as novas
resultarão inevitavelmente em sucesso. Assim, e em vista da finalidade
do dispositivo, estas acabarão por ser privilegiadas em detrimento
daquelas.
Que sucedeu? Simplesmente que o Iluminado II rectificou a sua
aprendizagem ao longo de um período de adaptação em que
primeiramente experimentou um total insucesso, depois, e
progressivamente, uma grande confusão, um relativo sucesso e,
finalmente, o regresso do nível de sucesso que alcançara antes da
113
introdução dos óculos invertores. Mas todo este período de adaptação
não teria existido se não tivesse sido o caso de que antes, durante e
depois desse período a matéria activada em Mn fosse, por si mesma,
dotada de valor informativo. Por outras palavras, ser xn ou ser yn
activado é informativo mesmo que as correlações sejam as mesmas.
Pensemos agora na experiência da inversão do espectro luminoso
num sujeito humano. Sucedesse-me tal inversão e eu percepcionaria o
mesmo estado de coisas, embora o visse diferentemente. É claro que o
ver diferentemente poderia transtornar-me provisoriamente, mas tão-só
enquanto não me apercebesse de que o estado de coisas era
exactamente o mesmo, devendo apenas proceder à suspensão das
associações que fixara a respeito das cores, pelo menos até perceber
que o que me sucedera fora uma inversão do espectro e até dominar
sem erros a nova semântica das cores. É claro que seria difícil, pelo
menos durante algum tempo, não me enganar ao expressar
linguisticamente o que vejo, mas isso só vem realçar o facto de haver
uma semântica dos qualia. Tal qual para o Iluminado II a matéria
activada em Mn informa; para mim, a sensorialidade materialmente
experienciada significa.
Mas, note-se bem, por si mesma a sensorialidade que eu
experiencio nada significa. Se eu tivesse nascido com os tais óculos
invertores do espectro da luz nunca teria experimentado outra
semântica dos qualia embora a sensorialidade experienciada fosse
outra, tal como com o Iluminado II caso a este os óculos tivessem sido
apostos antes de qualquer memorização. E isto quer dizer pelo menos
três coisas: primeiro, há que não confundir experiência sensorial e
qualia – os mesmos qualia podem ser realizados por experiências
sensoriais invertidas80; segundo, a semântica dos qualia não está ao
80 Paralelamente, há que denunciar o que poderia ser pelo menos um
equívoco de linguagem – a inversão do espectro luminoso não consiste necessariamente numa inversão dos qualia. Esta sucede apenas se ao espectro luminoso se encontra associada uma semântica dos qualia. Nesse caso, então à inversão do espectro luminoso deverá seguir-se, naturalmente, uma inversão da semântica dos qualia, ou simplesmente uma inversão dos qualia. Mas, não havendo tal associação, então à inversão do espectro luminoso não se segue nenhuma inversão dos qualia.
114
mesmo nível que a semântica dos estados de coisas, ainda que em
ambos os casos se trate de significações e não de experiência; e que,
nos termos de uma analogia com o Iluminado II, por um lado, os qualia
significam como a matéria activada em Mn informa, por outro, que os
estados de coisas significam como as correlações em Mn informam.
No nosso dispositivo artificial, xn e yn apenas contam
informativamente por não serem indiferentes, e não o serem apenas
quer dizer que contribuem com informação relevante para a realização
da finalidade. Sucede, porém, que xn e yn poderiam contar exactamente
ao contrário, ao passo que a correlação entre xn e yn já não poderia
contar de outra forma. Este facto explica-se por as correlações
experimentadas pelo dispositivo serem isomórficas à realidade dita
exterior e ser nesta e apenas nesta que reside ultimamente a fonte de
informação. Dito de outro modo: se xn e yn informam da realidade,
fazem-no apenas indirecta e relacionalmente – as correlações
memorizadas são as da realidade; os xn e yn activados são apenas os xn e
yn da matéria sensível. Analogamente, o vermelho e o violeta que
vemos não são senão o vermelho e o violeta da nossa derradeira matéria
sensível. “Lá fora”, digamos em M0, aquilo que sensibiliza a retina são
comprimentos de onda diferentes, não são o vermelho e o violeta tal
qual os vemos. Duas espécies animais diferentes mas ambas dotadas de
sistemas visuais capazes de distinguir diferentes comprimentos de onda
poderão muito naturalmente ver cores diferentes quando as suas retinas
são estimuladas pelo mesmo comprimento de onda, o que uma verá
poderá não ser sequer minimamente aparentado com o que a outra toma
por uma cor, qualquer que seja.
Neste sentido, a experiência sensorial só pode ser interna, ao
contrário dos estados de coisas apercebidos. Estes, apesar de
materialmente realizados na experiência sensorial interna, são
exactamente os mesmos estados de coisas que os que existem na
realidade externa. Nem sequer se trata de afirmar uma identidade entre
estados de coisas, pois são os mesmos. A sua natureza meramente
relacional e significativa abstrai-os de uma localização material interna
ou externa ao cérebro. Como o mesmo triângulo isósceles pode ser
115
desenhado em diferentes superíficies, também o mesmo estado de
coisas pode ser realizado interna e externamente ao cérebro.
Já os qualia, embora não possam ser considerados, como sucede
com os estados de coisas, da realidade dita exterior pelo facto de
dependerem da experiência sensorial interna, também não podem ser
considerados, à semelhança da experiência sensorial, como uma
significação interna, isto por dependerem, enquanto significação, dos
estados de coisas externos.
Estas diferenças não impedem que haja uma semântica dos
qualia; impedem, como já se referiu, que esta esteja ao nível de uma
semântica dos estados de coisas.
Para precisar este ponto, retomemos novamente o nosso
dispositivo artificial. Verificámos que, em última análise, o que importa
para o seu comportamento é a informação que colhe da realidade, ou
seja, a correlação entre as diferentes sensibilizações de Mn e não como
se materializam essas diferenças. Esclarecemos, depois, que a
materialização só importa em virtude de ser materialização disso que
importa ultimamente; se os meios assinalam os fins, então podem, se
bem que somente com um estatuto derivado, valer como fins.81 Ora,
isto permite distinguir uma finalidade última de finalidades derivadas.
No nosso exemplo, a finalidade última é “alimentar-se de energia” e a
finalidade derivada é “deslocar-se de forma a encontrar (xn, xn)”. Face a
esta finalidade derivada xn vale informativamente, mas face à finalidade
última xn só vale por interposta parte, a saber, por a finalidade derivada
concorrer para a realização da finalidade última.
Isto obriga a discriminar conceptualmente, dentro da totalidade
das significações, aquelas que são derivadas da que é a significação
última, e isto em função da colecção de finalidades derivadas que se
escalonam sob uma finalidade última. Nestes termos, a semântica dos
qualia não é senão uma semântica derivada da dos estados de coisas.
81 Encontramos uma ilustração disto quando tomamos o sinal pela coisa, por exemplo o fumo pelo fogo. Em geral, os qualia significam menos que os estados de coisas exactamente da mesma forma que os sinais naturais significam menos que aquilo de que são sinais. A este propósito é ainda de notar que só impropriamente se diz ‘O fumo significa fogo’; propriamente, o que se tem é ‘O fumo significa, em parte, o mesmo que o fogo”.
116
No entanto, é ainda possível escrutinar uma outra semântica dos
qualia de acordo com a qual estes não estão pelos estados de coisas,
como que em sua representação, pelo simples facto de já não estarem
submetidos a nenhuma finalidade que envolva comportamento exterior.
Por exemplo, o conjunto das associações a uma cor memorizadas por
mim ao longo da minha biografia – ou, do ponto de vista da linguagem,
toda a conotação da palavra que designa essa cor – também significa
independentemente de qualquer comportamento que eu pudesse decidir
em função do seu significado. É que nada obriga – presumimos que a
evidência aponta mesmo em sentido contrário – que haja apenas uma
finalidade última e que, mesmo havendo mais que uma, todas tenham
de ser finalidades que envolvam a realidade exterior. Assim, se por um
lado toda a significação é significação face a uma finalidade, já por
outro nem toda a significação se constitui como resposta
comportamental a um dado estado de coisas real. Pode haver
finalidades contemplativas, digamos assim. O encantamento da criança
ao rodar, montada num cavalinho luminoso, num carrossel é todo ele
significação, sem que haja alguma finalidade exterior a prescrever que
significação é essa.
Também não é de enjeitar a tese de que a finalidade última,
mesmo que fosse uma em cada uma das idades do ser humano, seja
diferente de idade em idade, de etapa em etapa do seu
desenvolvimento. Admitindo-a, desta tese segue-se a admissão de que
as significações mudam, todas elas globalmente, com a idade.
Finalmente, mesmo que fosse sempre uma e só uma a finalidade
última, certas significações poderão estar – e estarão com certeza – pré-
definidas. Quer dizer: certas significações estão determinadas a priori,
independentemente do concurso da experiência memorizada; por
exemplo, o cheiro da mãe para o bebé, que é algo que o satisfaz, o
choro do bebé para a mãe, que é algo que não a satisfaz.
É razoável supor que o design produzido pela natureza seja um
tal em que as significações pré-definidas estejam conciliadas com a
finalidade última – aliás, também pré-definida. Mas não é menos
razoável chamar a atenção para o facto de os comportamentos
117
instintivos, resultantes de significações pré-definidas a priori, poderem,
em virtude de alterações do ambiente real em que o sistema natural está
situado, entrar em contradição com a finalidade última. Afinal, tal qual
na história do nosso dispositivo artificial, uma pré-definição das
significações pode conduzir ao desastre. Foi o que sucedeu ao
Iluminado I em virtude da inflexibilidade das suas “significações” pré-
definidas. Obviamente, terão um papel importante nas etapas mais
precoces do desenvolvimento da criança, sobretudo por não haver ainda
experiência suficiente para se constituir uma aprendizagem eficaz. Mas
não será menos óbvio que a capacidade de adaptação vale como uma
vantagem que dispensa, pelo menos em parte, o crivo da selecção
natural. E isto em ordem das disposições naturais. Por outras palavras:
não seria a aprendizagem algo natural se não se pudesse dizer que o
conflito com o instinto natural é ainda algo muito natural82.
*
O que acabamos de expor permite clarificar a percepção como
um processo pelo qual se acede a um dado estado de coisas através de
uma dada apresentação material da derradeira matéria sensível. Em
concreto, com esta distinção entre a sensorialidade experienciada e o
estado de coisas acedido através daquela, diferenciam-se três aspectos
da vida de uma mente – sensibilia, qualia e percepta. Todos estes
aspectos são mentais no sentido em que envolvem experiência mental.
E podem diferenciar-se em termos de perspectivas: acede-se na
perspectiva da terceira pessoa, dita objectiva, aos estados de coisas
percebidos. Em contraste, vivencia-se na perspectiva da primeira
pessoa, dita subjectiva, os qualia. Por fim, aos sensibilia, isto é, à
82 O extinto alce irlandês, famoso pelas suas desmesuradas armações, ilustra
bem o caso de uma finalidade derivada que entrou naturalmente em contradição com a finalidade última, conduzindo assim a espécie ao desastre. Com efeito, a sobrevivência da espécie ficou comprometida pela própria pré-definição, digamos instintiva, do comportamento na ocasião da escolha de parceiros para acasalar. Entre estes eram mais bem sucedidos – na finalidade de acasalar – os que dispunham de maiores armações, quando, em virtude das alterações climatéricas suscitadas pelo término da época glacial, a selecção natural tornava os alces com armações menos vistosas os mais bem adaptados.
118
experiência sensorial propriamente dita, não corresponde nenhuma
perspectiva, pois, pese embora tratar-se de experiência mental, é
inteiramente desprovida de consciência. Ora, sem consciência, e
forçosamente sem sujeito de consciência, não há “pessoa” a que se
possa reportar a experiência sensorial.
Se a analogia com o dispositivo artificial que fomos desenhando
ajuda a elucidar a relação entre estes diversos aspectos numa mente
humana, falha porém por inteiro no que toca a se entender o que é a
experiência mental e por que razão é mental a experiência sensorial.
Com efeito, se nas mentes humanas há experiência mental, a verdade é
que nos dispositivos artificiais de que temos falado não se tem mais do
que o equivalente a uma câmara de vídeo que vai captando informação
para subsequente processamento. Como vimos, a experiência sensível,
a visual por exemplo, preserva a relação entre os elementos estimulados
– o mapa retinotópico no caso da experiência visual. A relação entre os
elementos visuais – cor, brilho, localização – deve ser a mesma que a
que se verifica entre os elementos correspondentes em cada matéria
sensível, a começar pela retina. Até aqui a analogia com as nossas
versões do Iluminado funciona bem. Mas o problema central no
problema mente/corpo vem a seguir: O que são esses elementos que
adjectivamos visuais? Os outros são populações de células
especializadas, por exemplo neurónios da zona V1, ou do NGL, ou
ainda bastonetes e cones da retina, mas que não vemos. Os elementos
visuais, ao contrário, são já mentais. O que os torna mentais? O que os
torna visuais? Não é a consciência nem qualquer significação
associada. Também não é, pelo menos por si só, o valor informativo
que possa ter, pois tal não é exclusivo do que é mental. Retomando o
nosso Iluminado, seja em que versão for, a pergunta central que se
afigura é esta: que tipo de design lhe daria a experiência mental visual
que lhe falta?
2. Tipos de significações
Se pudemos, num simples dispositivo artificial como o nosso
Iluminado II, caracterizar como significação a relação, fixável numa
memória, entre uma dada apresentação material do estado de coisas
externo e o cumprimento da sua finalidade, então não é o caso que toda a
significação seja significação para uma consciência, sequer para uma
mente. A significação consciente e a significação mental são, de acordo
com esta perspectiva, apenas espécies particulares de significação.
Do mesmo modo, se se apreciar a noção de intencionalidade num
plano de abstracção tal que a definamos, à partida, como sendo apenas a
relação de “ser acerca de”, então a intencionalidade consciente (ou
mental) é também apenas um espécie entre outras. Com efeito, qualquer
uma das apresentações materiais em Mn (a derradeira matéria sensível),
independentemente do facto de haver ou não consciência ou de haver ou
não mente, diz-se dotada de intencionalidade a partir do momento em
que se verifique que realiza um dado estado de coisas, ou seja, se se
verificar ser acerca de tal estado de coisas. Toda a significação de
estados de coisas, enquanto relação entre esse estado de coisas e uma
dada finalidade, diz-se pois intencional justamente por se reportar, qua
significação, a uma realidade independente da matéria que a apresenta.
Por exemplo, (xn, xn) no nosso Iluminado II e (yn,yn) caso este tivesse
sido “ligado” com uns óculos invertores significam o mesmo estado de
coisas justamente por serem acerca de um mesmo estado de coisas.
Note-se, porém, que nem toda a significação é intencional, pois nem toda
a significação envolve a relação, por mais abstracta que seja a nossa
consideração, de ‘ser acerca de’.
a) A simples significação e a significação intencional
Comecemos por sistematizar as condições de satisfação da
significação, para depois fixar as da intencionalidade. Assim, no que
respeita à significação temos por condições: i) haver um sistema provido
120
de uma finalidade e capaz de realizar um leque de acções possíveis em
função do cumprimento dessa finalidade; ii) tal sistema ser materialmente
sensível a estímulos; iii) tal sensibilização ser relevante para a adopção
de um dado comportamento em detrimento de outros comportamentos
possíveis. Desta forma, um sistema que preencha estas condições diz-se
um sistema com apresentações dotadas de significação. Uma amiba, por
exemplo, é um sistema desta natureza, digamos, um sistema de
significação ou, mais enfaticamente, de simples significação. O nosso
dispositivo artificial de primeira geração – o Iluminado I – é outro
exemplo. O que é que essas apresentações significam? Simplesmente um
dado comportamento, bem ou mal sucedido, e nada mais.
Como é claro, isto só muito genericamente corresponde ao que
intuitivamente consideramos ser a significação. Mas tal deve-se apenas a
razões de privação, designadamente privação de intencionalidade, de
reflexão e de consciência, mas não de privação de algo que seja essencial
à simples significação.
As condições de satisfação da intencionalidade ou da significação
intencional são já bem mais restritivas do que as da simples significação,
pois envolvem a recepção de informação de duas naturezas distintas, a
informação fornecida pelo simples facto de haver diferentes
sensibilizações, por um lado, e a informação, veiculada através daquela,
relativa ao estado de coisas externo. É apenas esta informação acerca da
realidade exterior que merece a qualificação de significação intencional –
justamente pelo facto de apenas esta se apresentar como sendo acerca de
algo que não ela mesma. A informação estritamente sensorial não é, per
se, acerca de nada, pese embora o facto de ainda assim poder ser
informação significativa.
Este ponto é capital, devendo ser cabalmente clarificado. Já
verificáramos atrás que se a informação estritamente sensorial chega a
significar alguma coisa tal fica a dever-se a apenas três ordens de
factores: i) ou significa porque se trata de uma significação pré-definida;
ii) ou significa porque se trata ou de uma significação derivada – como
atestámos com a experiência de pensamento da inversão dos qualia –, o
que pressupõe uma finalidade última; iii) ou significa porque se trata de
121
uma significação contemplativa. Ora, as significações pré-definidas – i) –
consistem apenas na conexão entre um dado comportamento possível e
uma dada apresentação sensível, não estabelecem nenhuma relação entre
esta apresentação e um apresentado que não ela mesma. Assim, não é o
caso que envolvam uma relação intencional. Por seu turno, as
significações derivadas – ii) – não são pré-definidas, uma vez serem
constituídas pela experiência memorizada num sistema, mas, ainda
assim, não deixam de ser significações em virtude de uma mera conexão,
mesmo que cessável, entre um dado comportamento possível e uma dada
apresentação sensível. A experiência da inversão dos qualia demonstra
que uma apresentação sensível tanto pode ser, impropriamente, acerca de
um estado de coisas como de um qualquer outro estado de coisas, pelo
que, propriamente, ou seja, per se, ela não seja acerca de nenhum estado
de coisas. O subentendimento da relação intencional nos qualia não se
deve realmente a estes, mas ao facto de a sua significação resultar de um
empréstimo por parte de uma significação efectivamente intencional
entre a apresentação de um estado de coisas e o estado de coisas exterior
por ela apresentado. Por fim, as significações contemplativas – iii) –
também não são intencionais, pois, ao contrário das anteriores, nem
sequer repercutem na realidade via um dado comportamento. Nestas, o
que é posto em relação com a apresentação sensorial é o próprio estado
interno do sistema, tomado globalmente e não na particularidade deste ou
daquele comportamento (externalizável ou não). Nestas, então, o que é
significado é o comportamento interno do próprio sistema.
Obviamente, do que se disse resulta que nem toda a significação é
intencional e que nem toda a significação intencional é consciente. Estas
duas asserções são confirmadas, respectivamente, pelas significações
atribuíveis às apresentações na Mn do Iluminado I, por um lado, e pelas
significações atribuíveis às apresentações memorizadas no Iluminado II,
por outro.
Atente-se agora ao facto de a significação intencional requerer
necessariamente a capacidade de associar apresentações a
comportamentos, designadamente de guardar em memória tais
associações e de as empregar no cumprimento da finalidade. Este facto
122
corresponde ao que se chama ordinariamente aprendizagem. Mais
tecnicamente, entenderemos por aprendizagem o estabelecimento, dentro
da diversidade das apresentações, daquilo que nelas é representativo de
um mesmo estado de coisas, e em função de uma mesma finalidade.
Assim, podemos dizer que a existência de significações intencionais está
condicionada pela existência de um sistema de significação dotado de
capacidade de aprendizagem. Se considerámos o Iluminado I um sistema
de simples significação, podemos considerar agora o Iluminado II um
sistema de significação dotado de capacidade de aprendizagem ou, em
termos mais simplificados, um sistema de aprendizagem. Naturalmente,
este sistema ainda está longe de constituir um bom exemplo, digamos
exemplar, do que habitualmente reconhecemos como sistemas de
aprendizagem. Mas, uma vez mais, tal fica a dever-se à privação de
aspectos muito característicos, mas não essenciais, tais como a reflexão e
a consciência.
b) A significação reflexiva
Tal como se pode conceber um dispositivo artificial que fixe na
memória a associação entre uma dada apresentação e um dado
comportamento bem sucedido – bem como as associações entre uma
dada apresentação e cada um dos comportamentos mal sucedidos –, que
seja, pois, um sistema, digamos assim, que aprenda “com a experiência”
a determinar o seu comportamento em função de estados de coisas,
também se pode conceber dispositivos bem mais complexos,
designadamente dispositivos dotados de capacidade de reflexão. Estes
serão de tal modo que não se limitem a proceder a associações entre
apresentações e comportamentos, bem ou mal sucedidos, mas procedam
também a associações, num segundo plano, entre as associações mais
básicas em função do seu significado comportamental. Por exemplo,
suponha-se uma terceira versão do nosso dispositivo artificial – o
Iluminado III. Suponha-se que este, além de proceder às associações,
cada uma per se, entre as quatro apresentações possíveis e o leque de
comportamentos possíveis, associando por exemplo (yn, yn) a uma
123
rotação de 180º e (xn, xn) a um não movimento, proceda também à
associação, de segunda ordem, entre essas diferentes associações em
função do seu comportamento respectivo. Assim, sucederá que cada
activação de uma associação de primeira ordem será acompanhada por
uma activação da associação de segunda ordem, ou seja, estaremos
perante uma dupla activação. Atribuiremos, pois, a cada apresentação, e
em virtude da activação de primeira ordem, não apenas as significações
separadas ‘este comportamento sim’, ‘este comportamento não’, ‘este
outro também não’, ‘nem este’, mas, em virtude da activação de segunda
ordem, ainda a significação complexa ‘esta posição na relação entre as
diferentes apresentações possíveis e os diferentes comportamentos
possíveis’.
O que se ganha aqui é a passagem de um plano de associações
entre si isoladas, valendo cada uma apenas per se, a um plano de
interdependência entre as diferentes associações base, de tal modo que a
activação de cada uma desta active, na associação de segunda ordem, as
restantes.
Nestes termos, o que o Iluminado III terá de vantajoso face ao
Iluminado II será uma capacidade de aprender mais depressa sempre que
as associações de primeira ordem fracassem, em virtude, por exemplo, de
uma aposição de óculos invertores. E isto porque, enquanto o Iluminado
II teria de refazer cada uma das suas associações de primeira ordem
exclusivamente à custa de novas apresentações, já o Iluminado III poderá
refazer a totalidade das suas associações sem que tenha de o fazer
exaustivamente, uma a uma; antes, aproveitando a interdependência
fixada na associação de segunda ordem. Com efeito, suponha-se que o
Iluminado III com os óculos invertores ainda só associou (yn, yn) ao
comportamento bem sucedido ‘não mover-se’; então, em virtude da
dupla activação, também associará, na associação de segunda ordem, (yn,
yn) a ‘esta posição na relação entre as diferentes apresentações possíveis
e os diferentes comportamentos possíveis’. Ora, esta significação
suplementar é o que falta ao Iluminado II e que permite ao Iluminado III
não ter de esperar pela experiência de os restantes comportamentos não
serem bem sucedidos com (yn, yn), para proceder às respectivas
124
associações, nem ter de esperar pela experiência de qualquer outra
apresentação ter por comportamento mal sucedido o comportamento que
se mostrou bem sucedido com (yn, yn).
Assim, se o nosso segundo dispositivo artificial dispunha de uma
apreciável vantagem adaptativa face ao dispositivo que apresentámos em
primeiro lugar, verificamos agora que o Iluminado III também exibe uma
apreciável vantagem adaptativa face àqueles. Com as significações de
segunda ordem, reflexivas, a aprendizagem envolvida na adaptação a
novas condições ambientais pode não ter de se fazer exclusivamente à
custa de apresentações. Aliás, tal como um sujeito humano sujeito à
experiência da inversão dos qualia, através da troca das cores pelas suas
complementares, pode aperceber-se de que se trata de uma inversão sem
ter de verificar, uma a uma, a inversão das cores.
Estas associações de segunda ordem, obrigam-nos a redefinir a
noção de significação. Por um lado, a significação de uma apresentação
deixa de se resumir a um certo comportamento bem ou mal sucedido e
passa a incluir também a posição dessa apresentação na correlação entre
as diferentes apresentações possíveis e os diferentes comportamentos
possíveis em função de uma finalidade. Observe-se que, assim, a
significação de uma apresentação não se pode dizer meramente
diferencial como se fosse apenas a diferença para com as diferentes
apresentações; nela, está sempre presente um certo comportamento, bem
ou mal sucedido. Por outro lado, aquilo que se diz dotado de significação
deixa de se resumir a apresentações em Mn e a apresentações
memorizadas, para passar a incluir associações bases – estas, sim,
significam apenas a posição que assumem na correlação com as restantes
associações.
Além disto, tem-se que nada impede, por princípio, que
associações de terceira ordem, ou de ordem ainda superior, se constituam
e, assim, passem a incluir-se na significação, cada vez mais aprofundada,
de uma dada apresentação memorizada.
Finalmente, se o Iluminado II dispunha de significações
intencionais pelo facto de as suas apresentações serem acerca de algo que
não elas mesmas, tem-se que somente com o Iluminado III podemos falar
125
de uma memória efectiva de estados de coisas. É que naquele o
comportamento já era de facto uma função de estados de coisas e não de
meras apresentações, pelo que reconhecíamos estas apresentações como
apresentações dos estados de coisas; no entanto, tais estados de coisas
não estavam fixados na memória – tal só é possível com a passagem à
reflexão. Podemos pois substituir a definição atrás dada de estado de
coisas – como o que é comum na diversidade de apresentações face ao
cumprimento da finalidade através de um dado comportamento – pela
seguinte formulação mais geral: a fixação de uma dada correlação entre
apresentações possíveis e comportamentos possíveis.
Nesta nova formulação pontuam duas importantes diferenças:
primeiramente, o estado de coisas deixa de estar definido à custa de um
dado comportamento; em segundo lugar, também deixa de estar definido
em função de uma dada finalidade. A importância destas diferenças é
notória. Por um lado, o mesmo estado de coisas passa a ser activado por
diferentes comportamentos possíveis; por outro, mesmo que a finalidade
se alterasse não seria por isso que o estado de coisas deixaria de ser o
mesmo. Evidentemente, ambas as diferenças não poderiam ser tidas em
conta caso não houvesse a passagem à reflexão.
c) O problema da consciência e da mentalidade
De acordo com as definições que expusemos atrás, o facto de um
sistema patentear simples significações, significações intencionais,
mesmo significações reflexivas não implica que patenteie, em caso algo,
significações conscientes ou significações mentais. É claro que todos
aqueles tipos de significações poderão ser mentais, mesmo conscientes,
simplesmente na condição do sistema suportar, em virtude das suas
disposições materiais e funcionais, significações mentais ou mesmo
conscientes. Não era seguramente esse o caso em qualquer uma das
gerações do nosso dispositivo artificial. Sabêmo-lo tão seguramente
quanto sabemos que nenhuma das disposições materiais e funcionais com
que concebemos qualquer dos três Iluminados foi pensada no sentido de
lhes dar qualquer coisa análoga àquilo que caracterizamos como sendo
126
próprio a uma significação mental ou a uma significação consciente. Por
exemplo, nada no design dos nossos dispositivos foi pensado para lhes
proporcionar uma experiência mental da matéria sensibilizada, uma
vivência subjectiva dessa experiência, um acesso perceptual aos estados
de coisas veiculados pela sensibilização.
Não obstante, a isto poder-se-á contra-argumentar em duas
direcções, aliás aparentemente opostas:
- Ou afirmando que a mentalidade e a consciência poderiam
emergir, sem que nos déssemos conta, mesmo sem que nos
pudéssemos dar conta, das disposições materiais e funcionais
entretanto estabelecidas, como que a nos surpreenderem –
afinal, como se a mentalidade e a consciência pudessem ser
apenas um subproduto, embora real.
- Ou afirmando que a mentalidade e a consciência que
atribuímos aos nossos estados, o carácter consciente que
atribuímos às significações patenteadas pelas nossas mentes
humanas, nada acrescenta, na verdade, a disposições
materiais e funcionais da mesma natureza que aquelas que
atribuímos aos sistemas anteriormente descritos – afinal,
como se a mentalidade e a consciência pudessem ser uma
certa ilusão a que os sistemas supostamente “mentais” e
“conscientes” estariam condenados.
Estas duas posições mostram-se antagónicas pelo menos num
ponto: a primeira afirma a realidade da mente consciente, ao passo que a
segunda afirma o seu carácter ilusório. Revelam-se, porém, muito menos
antagónicas quando atentamos ao facto de que, em conjunto, partilham
dois pontos, a saber: i) um sistema ser mental e consciente nada
acrescenta ao seu desempenho; ii) as significações na “mente” humana
são tão mentais e conscientes quanto as significações de dispositivos
artificiais concebidos com disposições materiais e funcionais da mesma
natureza daqueles que descrevemos atrás: ou são ambas mentais e
conscientes ou são ambas não mentais e não conscientes.
127
Concorre a favor de qualquer uma destas posições o facto
(presumível) de ser possível conceber, de acordo com disposições
materiais e funcionais da mesma natureza das descritas atrás, um
dispositivo artificial – chamemos-lhe o Iluminado Supremo – cujo
comportamento se mostre indiscernível do comportamento supostamente
mental e consciente de um qualquer sujeito humano. Ou ainda, e talvez
com mais tento: cujo comportamento seja, pelo menos equiparável, no
que respeita às nossas expectativas acerca do modo como um sistema
mental consciente se deve comportar, ao comportamento de uma outra
“mente” humana. Admitindo este facto – não é preciso ser muito
visionário para o admitir –, então só movidos por uma intuição não
justificada, só aprisionados por um preconceito fundado em
circunstâncias completamente alheias ao caso, é que não poríamos a
questão “Não será esta máquina tão consciente quanto qualquer mente
humana?”
Prosseguindo ainda esta contra-argumentação, teríamos, em
seguida, de enfrentar o dilema, entretanto criado, entre as duas posições
atrás descritas – será o Iluminado Supremo mental e consciente como os
sujeitos humanos, ou serão estes não mentais e não conscientes como o
Iluminado Supremo?
d) A significação consciente
Pese embora estas dificuldades, sempre podemos insistir na ideia
de que a existência de consciência tal qual a vivenciamos, por um lado, e
a existência de mentalidade tal qual a experienciamos, por outro,
pressupõem, cada uma por si, certas disposições materiais e funcionais
como suas condições necessárias. A indicação de condições necessárias
para que haja consciência ou mentalidade sempre partiu, ao fim e ao
cabo, do suposto razoável de que nem todos os sistemas de significação
são conscientes, e que alguns desses sistemas de significação nem sequer
são mentais – por exemplo, julgamos poder afirmar que uma amiba não
128
revela nada que nos faça dizer tratar-se de uma sistema dotado de estados
mentais e, ainda menos, de significações conscientes. Desta forma, a não
ser que se prove que todas as condições necessárias estão dadas –
cabendo o ónus da prova à contra-argumentação –, não há motivo
suficiente para que não se prossiga no esforço de determinação do
conjunto de tais condições necessárias, esforço tanto mais justificável
quanto se conseguir determinar, de facto, condições suplementares às dos
sistemas de significação intencional reflexiva que discriminem
claramente os sistemas que presumimos mentais e conscientes daqueles
em que não presumimos nenhuma consciência, sequer mentalidade.
Contudo, logo aqui há que deixar claro que os problemas ligados
ao carácter mental das nossas significações e ao carácter consciente das
nossas significações são de natureza radicalmente distinta. A melhor
forma de dar conta desta diferença será porventura fazendo o seguinte
contraste – enquanto o que se pode considerar consciente, ou não
consciente, são significações, aquilo que se pode considerar mental são
menos significações do que experiências. Obviamente, o facto de as
significações estarem assentes em experiências mentais – por exemplo,
uma experiência visual – faz com que se afirme que tais significações se
digam mentais. No entanto, a mentalidade afirmada não é tanto atributo
dessas significações quanto das experiências em que se materializam. O
facto, aliás, de a sensorialidade experienciada não ser, em si mesma,
provida de qualquer significação (sequer consciência), torna bem notória
a indiferença do problema da experiência mental relativamente aos
problemas quer da significação quer da consciência. Já este último deve
ser pensado no quadro de uma especificação do problema da
significação, ou seja, determinar o que é a significação consciente. Mas,
se faz todo o sentido pôr o problema da consciência sob a forma de uma
investigação acerca da significação consciente, já quanto ao problema da
mentalidade, e com a não-significabilidade que se acaba de lhe apontar,
conclui-se que não faz sentido procurar determinar, no quadro de uma
tipologia de significações, o que seja uma significação mental.
Nestes termos, retomaremos agora a nossa exposição no sentido de
procurar determinar algumas das condições necessárias, mesmo que não
129
todas (e, portanto, também não uma condição bastante), para que haja
significação consciente, pondo de parte o problema da mentalidade. Caso
determinemos essas condições necessárias e caso alguma delas não seja
satisfeita pelo nosso Iluminado III enriquecido com todo o software que
concebamos, então ter-se-á que este não será um sistema consciente.
A primeira dessas condições é a de que o dispositivo disponha de
significações contemplativas, isto é, aquelas significações em que o que é
significado por uma qualquer apresentação sensível é o comportamento
interno do próprio sistema. Para isso, é preciso que concebamos o nosso
dispositivo de tal modo que já não se atenha apenas à finalidade exterior
de “manter-se energeticamente alimentado”, mas que, além dessa,
disponha de uma finalidade interna, digamos, a de “estar bem”, que dê
significado aos diferentes comportamentos internos que o sistema pode
ter, designadamente que os avalie em função de significações pré-
definidas.
Os sistemas que satisfaçam esta condição podem encontrar-se,
relativamente àqueles que a não satisfaçam, numa posição de vantagem
adaptativa. Com efeito, em sistemas bastante complexos, providos de um
exército de finalidades derivadas, devidamente escalonadas numa
hierarquia com múltiplos níveis de dependência, e associações de várias
ordens, realizar-se uma permanente avaliação ao estado interno do
sistema pode constituir uma real vantagem adaptativa face a sistemas que
não a realizem.
Perguntar-se-á, porém, se não bastaria, para isso, incluir nas
disposições funcionais do dispositivo, designadamente no seu software,
um procedimento de controlo e de retro-acção com base numa
“monitorização” do comportamento interno do sistema. Essa é a proposta
de autores como David Armstrong, William Lycan e David Rosenthal83.
É certo que serviria, é certo que poderíamos dotar uma geração avançada
do nosso Iluminado com tal “monitorização”, existe hoje, ou haverá
83 Cf. Armstrong, 1981; Rosenthal, 1990; Lycan, 1990. Armstrong e Lycan reconhecem-se como inscritos na tradição de Locke e Kant quanto a um entendimento da consciência como monitorização da mente, em contraste com a tradição cartesiana de identificação da consciência com a mente.
130
seguramente dentro de algum tempo, tecnologia informática bastante
para isso84. Simplesmente, devemos ter aqui em atenção duas reservas.
Em primeiro lugar, devemos atentar no facto de que o suporte das
mentes humanas não é qualquer um, mas aquele que a natureza adaptou,
ao longo da evolução, e que esse suporte pode não suportar uma tal
“monitorização”. A velocidade de processamento de um computador é
algo que podemos incrementar, ao passo que qualquer coisa de análogo a
isso nas redes neurais do cérebro humano – qualquer coisa como a
velocidade de transmissão de impulsos – é evidentemente insusceptível
de ser incrementado.
Ora, basta a suposição de que os nossos cérebros não suportem
uma tal “monitorização” disposta funcionalmente, através de um
software mental, para que, admitindo que as mentes humanas não deixam
por isso de monitorizar, devamos estabelecê-la noutros termos que não os
de uma disposição funcional, mas de algo pensável como sendo resultado
do facto de haver consciência. Por outras palavras: o curso da evolução
natural dos sistemas de significação, conquistando, passo a passo, novas
vantagens adaptativas, pode ter feito das significações contemplativas (e
presumivelmente conscientes) uma resposta, entre outras possíveis, para
uma maior adaptabilidade às mutações ambientais. Fossem os nossos
84 David Armstrong dá-nos uma clara enunciação da consciência como
procedimento introspectivo de controlo e retro-acção (feedback) sobre os estados internos da mente, por um lado, e do procedimento análogo que a tecnologia informática nos proporciona através de um acesso, de nível superior, e em tempo real, digamos assim, ao processamento em paralelo que ocorre num nível inferior, por outro. Cf., em particular, Armstrong, 1981: 726-727 – «If we have a faculty that can make us aware of current mental states and activities, then it will be much easier to achieve integration of the states and activities, to get them working together in the complex and sophisticated ways necessary to achieve complex and sophisticated ends.
Current computer technology provides an analogy, though I would stress that it is no more that an analogy. In any complex computing operation, many different processes must go forward simultaneously: in parallel. There is need, therefore, for an overall plan for these activities, so that they are properly coordinated. This cannot be done simply in the manner in which a “command economy” is supposed to be run: by a series of instructions from above. The coordination can only be achieved if the portion of the computing space made available for administering the overall plan is continuously made “aware” of the current mental state of play with respect to the lower-level operations that are running in parallel. Only with this feedback is control possible. Equally, introspective consciousness provides the feedback (…) in the mind that enables “parallel processes” in our minds to be integrated in a way that they could not be integrated otherwise. It is no accident that fully alert introspective consciousness characteristically arises in problem situations, situations that standard routines cannot carry one through.»
131
cérebros materialmente outros, fossem, por exemplo, compostos não por
neurónios mas por placas de silício, fossem, em suma, outras as
limitações, e talvez não tivessem nunca chegado a suportar mentes
conscientes. Quer isto dizer que há boas razões para crer que a solução de
“monitorização” que a natureza desenvolveu nas mentes humanas, de tal
modo que estas sejam conscientes, possa ser diferente da tal
“monitorização” que a tecnologia informática nos fornece, tanto mais
quanto é no mínimo concebível que esta não implique consciência.
Com efeito – e este é o segundo ponto de reserva – dever-se-á ter
em atenção que tal “monitorização” não implica um acesso a estados
internos do sistema. Daí o nosso uso das aspas. Trata-se efectivamente de
um acesso ao comportamento interno do sistema, mas não à
internalidade, por assim dizer, do sistema. Neste sentido parece-nos
equívoca a ideia de que a “consciência seja o funcionamento de
mecanismos internos de atenção direccionados a estados e eventos
psicológicos de ordem inferior”85. Se há uma consciência “monitora” não
parece que incida sobre o que é de ordem inferior na mente, o que
implicaria um acesso à internalidade do sistema, mas ao todo. Contudo,
há um ponto comum: é que um sistema consciente não poderia dispensar
um certo acesso ao comportamento interno do sistema. Desta forma,
temos identificada uma condição necessária que qualquer sistema
consciente tem de satisfazer, partindo da expectativa, bem fundada na
evidência de que dispomos nas nossas próprias mentes, de que um
sistema consciente “monitorize” o seu comportamento interno. Só que,
como vimos, tal condição está longe de ser suficiente.
****
Procuremos encontrar nas significações contemplativas novos
aspectos que condicionem a existência de significações conscientes.
Naturalmente, tal determinação de condições não poderá deixar de se
85 «(...) Consciousness is the functionning of internal attention mechanisms
directed upon lower-order psychological states and events» (Lycan, 1990: 755)
132
basear nas expectativas que temos sobre o que seja a nossa própria
consciência, tal qual a vivamos na primeira pessoa e dela demos uma
descrição fenomenológica. Isto poderá configurar uma metodologia
equívoca, designadamente se se tomar a particularidade da consciência
humana pela generalidade da consciência, mas só será assim caso não
possamos fazer abstracção daquela particularidade.
Uma primeira condicionante de relevo consiste em estas
significações contemplativas tal como as vivenciamos nas nossas mentes
revelarem um regime bastante diferenciado do da “monitorização” de um
processamento paralelo. Se se trataria de aceder a uma rede de
associações, disposta, suponhamos, numa rede neural em processamento
paralelo, então há que reconhecer que justamente é isso que não é
conscientemente experienciado. Aquilo que é acedido conscientemente
nas significações contemplativas é um certo efeito que decorre do todo da
rede de associações quando nesta algo em particular é activado (em
função da sensibilização e do processo mental de activação de
associações correlacionadas de acordo com o disposto para as
significações intencionais e reflexivas). É este efeito que significa, acerca
do todo do sistema, que “está bem”, “está mal”, “sinto-me bem”, “sinto-
me mal”, “tudo vai bem”, “alguma coisa vai mal”, etc. É a esta
significação holística que acedemos. E só depois da percepção de que
alguma coisa está mal se procurará ultrapassar a vagueza do todo em
direcção a uma circunscrição precisa do que está mal. Esse é o momento
da introspecção. Saliente-se, desde já, a economia deste regime, a
conformar-se perfeitamente com o tipo de soluções que a natureza
costuma promover e, muito em concreto, com as limitações das
disposições materiais do nosso cérebro.86
86 Há abundante evidência vivencial quanto a este carácter holístico das significações contemplativas. Por exemplo, não sobreviveríamos aos riscos da vida sem respostas intuitivas aos problemas que se nos colocam, respostas que resultam do todo do sistema sem que acedamos a nenhuma parte precisa dele, i.e, respondemos sem que acedamos exactamente à razão por que respondemos assim e não de outra forma. Sucede que pedimos que o sistema reaja, como todo, ao problema; sucede que aceitamos, pelo menos de pronto, a sua reacção como uma resposta. É claro que o sistema pode assim errar, é mesmo razoável admitir que erre mais vezes empregando esta reacção holística do que se empregasse outro procedimento de monitorização, mas errar umas tantas vezes num curto lapso de tempo, num regime económico, vale com certeza como vantagem adaptativa face a um menor número de erros mas num lapso de tempo de tal
133
Note-se, porém, que não está apenas em jogo afirmar que as
significações contemplativas são holísticas. O procedimento de
“monitorização” do processamento paralelo também se poderia fazer
apenas a um certo nível reflexivo sem acompanhar todos os níveis
escalonados, ou seja, monitorizando certo nível hierárquico e não todos.
Ou então, numa versão alternativa, poder-se-ia fazer apenas como
esboços, múltiplos esboços do que sucede na mente.87 Simplesmente,
ainda assim estaria a aceder a processamento, quando nas significações
contemplativas não há acesso dessa natureza, mas tão-só à reacção do
todo, a um efeito do todo que é significado88. Nem sequer faz sentido
afirmar que se trata de um acesso de ordem superior como sustenta
David Rosenthal na sua teoria do pensamento de ordem superior89. Na
verdade, a consciência não pode ser um pensamento de ordem superior,
pois este reporta-se a estados de coisas, mais ou menos abstractos, ao
passo que o acesso consciente é tudo menos abstracto. Tão pouco faz
sentido a alternativa de uma teoria da percepção de ordem superior90,
pois com isso estar-se-ia a impor que a consciência fosse um caso
particular de percepção, quando é esta que é um caso particular daquela –
ao fim e ao cabo, as percepções de ordem inferior também são
conscientes. Se a consciência, por hipótese, fosse uma percepção de
ordem superior, como se explicaria, então, a percepção?
O ponto aqui reside em as significações contemplativas não
acederem senão ao efeito do comportamento interno do sistema, que tal
acesso, embora seja holístico relativamente a esse comportamento, não
resulta como algo de ordem superior (fosse isso uma percepção ou um
pensamento).
forma alargado que, nele, provavelmente a diferença entre erro e não erro já nada importará do ponto de vista da sobrevivência.
87 Reportamo-nos aqui à “teoria dos múltiplos esboços” de Daniel C. Dennett. 88 Em função desta dupla condicionante reactiva/efeitual e holística das
significações contemplativas, se quisermos indicar um analogon para a mente humana, mais facilmente encontra-lo-emos nos procedimentos de controlo e retroacção dos organismos vivos do que nos procedimentos que a tecnologia informática nos apresenta.
89 Cf. Rosenthal, 1990. 90 Cf. Güzeldere, 1995: 791 e ss.
134
Um último aspecto diferenciador realça o contraste entre a esfera
das significações fixadas na rede, quaisquer que sejam, simples,
intencionais e reflexivas, por um lado, e as significações conscientes. É
que as primeiras estão para as segundas, de um ponto de vista anímico,
como significações absolutamente inertes, meramente disposicionais,
para significações que animam a vida mental, a orientam numa
actualidade consciente. Se as primeiras têm um valor epistémico evidente
– permitem decidir do sucesso ou não do sistema em função de uma
finalidade a cumprir –, só as segundas, contudo, as dotam de um valor
anímico. Reportando-nos à evidência das nossas próprias mentes
conscientes, que anima os pensamentos, as percepções, os qualia senão a
significação contemplativa do efeito do todo das associações quando com
eles em interacção? A rede de associações é inerte, nela não há desejos
nem crenças. O que dá vida à mente é uma significação que não está
contida na rede de associações, é uma associação básica a um
comportamento interno básico que não o comportamento interno da rede.
É esse comportamento básico que é significado quando a rede é posta em
jogo com a novidade. Trata-se de um comportamento vivencial.
135
*****
Concluímos esta tipologia das significações, sistematizando num quadro
os quatro tipos genéricos que apurámos e as respectivas diferenças
quanto ao que neles é significado e visado, por um lado, e quanto às
disposições requeridas e tipo de finalidade envolvida em cada um, por
outro:
SIGNIFICAÇÕES Significado Visado Disposições
requeridas Finalidade
Simples Comportamento externo do sistema
Nada Associação Apresentação/ Significado
Finalidade pré-definida
Intencionais Posição face à correlação de comportamentos externos possíveis
Estados de coisas (s/tematização)
Anterior + Memória e capacidade de aprendizagem
Finalidades derivadas escalonáveis
Reflexivas Posição face à correlação de comportamentos de 2.ª ordem (ou de ordem superior)
Estados de coisas (c/tematização)
Anterior + Associação de 2.ª ordem
Tematização das finalidades derivadas e suas posições hierárquicas
Conscientes Orientação vivencial do estado interno do sistema
Estados internos do sistema relativos a estados de coisas (s/tematização)
Associação Efeito holístico e efeitual/reactivo do comportamento interno do sistema / Significado consciente
Vivência (s/tematização directa) da finalidade interna
IV
Caracteres da experiência
1. Os Pontos de vista da primeira e terceira pessoas
A posse ou não de referente é, a nosso ver, critério suficiente para
discriminar se uma dada experiência é tematizável pela perspectiva da
terceira pessoa ou não. Nestes termos, há que distinguir entre
experiências com sentido e referente, por um lado, e experiências sem
referente mas nem por isso desprovidas de sentido, por outro. Também
sabemos, desde o Cap. I, que existem experiências sem sentido, o que
confirmaremos agora a partir da tematização de um certo tipo de
experiência visual que denominarei ‘ver confuso’. Posto isto podemos
discriminar, através da distribuição das possibilidades de ocorrência de
sentido e de referência, três tipos de experiência:
- estados de coisas/objectos intencionais/referentes (ou seja:
actos dotados de objecto intencional ou referência objectiva)
– como os referentes da percepção, a recordação, a
imaginação;
- significações não intencionais ou arreferentes (ou seja: actos
dotados de sentido mas sem referente) – como os qualia a
respeito da percepção;
- experiências desprovidas de significação ou, simplesmente,
insignificantes – como os sense data ou sensibilia a respeito
da percepção.
137
Note-se que, em rigor, não se trata de três tipos de experiência que
concorram entre si; o que estabelece a tipologia é a ocorrência de um,
dois ou três caracteres, respectivamente: apenas experiência, experiência
com sentido, experiência com sentido e referência. Por outras palavras, o
carácter ‘experiência’ é presente aos três tipos e não difere de uns para os
outros. É nele que reside a mentalidade dos estados de um sujeito
humano. O factor de diferenciação não está, pois, no carácter
‘experiência’, mas nos dois restantes caracteres que podem acompanhar o
primeiro – ‘significação’ e ‘objecto/referência’.91
Note-se ainda que pelo facto de os objectos não dependerem da
qualidade do acto92 – tanto podem ser objectos de um acto perceptivo
como de qualquer acto intencional –, os caracteres ‘significação’ e
‘experiência’ também não estão de forma alguma vinculados a uma
qualidade determinada de acto. Por outras palavras, cada qualidade do
acto – seja perceptivo, de memória, imaginativo, etc. – pressupõe a
possibilidade destes três tipos de experiência, pois pode ser intencional
como não o ser, e pode ser significativo como não o ser. Se se discute as
relações entre sense datum, quale e perceptum, outro tanto deve ser feito
para a recordação, a fantasia, etc. Donde que seja preferível classificar o
sense datum como um subtipo de experiências insignificantes (carácter
único: ‘experiência’ de qualidade perceptiva), o quale como um subtipo
de arreferentes (‘significação’ + ‘experiência’ de qualidade perceptiva), o
perceptum propriamente dito como um subtipo de objectidade
intencional (‘objecto intencional/referência’ + ‘significação’ +
‘experiência’ de qualidade perceptiva).
91 Observe-se que aqui se fala de experiência em dois sentidos distintos –
experiência como acto e experiência como momento do acto. Na segunda acepção a palavra aparece entre aspas e antecedida pela palavra ‘carácter’: carácter ‘experiência’. O emprego da mesma palavra nos dois casos visa chamar a atenção para o facto de que não há experiência sem o carácter ‘experiência’, ou seja, que a experiência como acto herda a sua experiencialidade do carácter ‘experiência’. Por outro lado, a experiência como acto pode coincidir com o carácter ‘experiência’ caso nela não se encontrem os restantes caracteres que a podem acompanhar – ‘significação’ e ‘referência’. A afirmação de tal coincidência não se deve, pois, a uma confusão terminológica.
138
Esta complicação terminológica pode ser obviada empregando
expressões como ‘os sense-data e seus pares qualitativos’, ‘os qualia e
seus pares qualitativos’, ‘os percepta e seus pares qualitativos’,
entendendo por pares qualitativos o tipo de experiência idêntico para as
restantes qualidades de acto. Não obstante o uso que façamos deste
artifício, interessa empregar designações genéricas e precisas para os três
tipos de experiências. Por isso, propomos falar de insignificantes,
arreferentes e referentes.
Parece claro que a perspectiva da terceira pessoa corresponde aos
referentes (os objectos visados por actos intencionais). Já a perspectiva
da primeira pessoa corresponde aos arreferentes (qualia e seus pares
qualitativos)93. Sobre os insignificantes, isto é, as sensações e seus pares
qualitativos, nenhuma perspectiva é possível pela simples razão de que
não possuem qualquer sentido. Neles nada é perspectivado precisamente
por neles nada ser reconhecível. E se se estranhar a existência deste tipo
de experiência basta recordar todas aquelas situações em que nada se
reconhece no que se dá a ver. Refiro-me às situações de ver confuso
como a que Wittgenstein expõe nas Investigações Filosóficas:
Subitamente uma pessoa vê diante de si aparecer uma coisa que não reconhece (pode ser um objecto que lhe seja bastante conhecido, mas numa posição fora do habitual, iluminado de outra maneira); o não-reconhecimento dura talvez alguns segundos.94
A experiência por que se passa nesses breves segundos de não
reconhecimento – momentos em que se vê algo sem que se percepcione
coisa alguma – não é confundível com a experiência dos qualia, pois
93Sydney Shoemaker emprega a oposição entre propriedades intencionais e
propriedades qualitativas (ou fenoménicas), fazendo corresponder as primeiras a objectos intencionais – e por isso mesmo com a propriedade, de segunda ordem, de permanecerem idênticos através de diferentes estados mentais em que sejam visados – e as segundas aos qualia. «If Fred’s house looked yellow to him at both t1 and t2, then with respect to colour his house ‘looked the same’ to him at those two times in the sense that is experiences of it on those two occasions were of the same objective colour, or had the same colour as their ‘intentional object’. Call this the intentional sense of ‘look the same’. But in another sense his house did not ‘look the same’ to him at the two times; call this the qualitative sense of that expression.» (Shoemaker, 1982: 647).
94 Wittgenstein, 1953: 545.
139
nessas há uma evidente reconhecimento, ainda que não se trate de um
reconhecimento objectal. Note-se ainda que o não-reconhecimento pode
não resultar apenas de uma dificuldade de percepção, mas ser induzido
por um certo registo de atenção, pelo qual um sujeito permanece
atentamente distraído (em vez de distraidamente atento ou, ainda,
atentamente atento), i.e, um modo da atenção em que me distraio das
coisas para que as coisas não me distraiam, em que evito a tematização
do carácter ‘significação’.95
Podemos tentar sistematizar as diferenças atrás apontadas por meio
de um quadro:
Experiência Significação Referência
Estímulo
Sense-datum X
Quale X X
Perceptum X X X
(assinalam-se com ‘X’ os caracteres cuja ocorrência se verifica)
Se a perspectiva da primeira pessoa e a da terceira pessoa são
mutuamente irredutíveis tal resulta do facto preciso de a referencialidade
importar uma certa exterioridade, cuja natureza está de todo excluída dos
qualia e seus pares qualitativos. Não há nenhum termo comum que faça a
ponte entre o quale vermelho que vivencio aquando a percepção do lápis
vermelho e esse mesmo lápis vermelho que vejo defronte de mim neste
exacto momento. O que torna privada uma experiência arreferente não é,
95 Isto significa que é sempre possível, num certo registo de atenção, converter
um quale numa sensação. Veremos adiante que também toda a percepção pode ser convertida num quale. Ou seja: através da focalização da atenção para certos registos, é sempre possível dispensar na experiência de uma representação intencional os caracteres ‘significação’ e ‘objecto’ que nela ocorrem. Contudo, note-se, numa experiência em que não ocorram tais caracteres não é possível suscitá-los por nenhuma modificação do modo da atenção. Não se deve confundir este trabalho da atenção que permite a conversão do olhar com a abstracção, numa experiência, de um seu momento. A diferença é que a conversão acede a uma experiência enquanto acto, ao passo que a abstracção simplesmente isola momentos do acto (cujo acesso resulta apenas de forma derivada).
140
portanto, ser eventualmente mais interna do que uma qualquer outra
experiência. A ideia de uma experiência ser mais interna ou mais
intrínseca que outra não faz qualquer sentido. Bem diversamente, o que
torna privada a experiência de um quale, ou um seu par qualitativo, é não
visar nenhum objecto96. Mais ainda: não visa um objecto porque não
pode.
Com isto são suscitadas duas questões: i) porque é que os qualia, e
os arreferentes em geral, não são intencionais (estando por isso limitados
à perspectiva na primeira pessoa)?; ii) porque é necessário uma
consciência intencional, aquela que visa objectos e tem-nos como seus
referentes, para que possa surgir o ponto de vista da terceira pessoa?
No que se segue centraremos, por simplicidade, a discussão nos
qualia, assumindo, pois, como legítima a generalização a todos os
arreferentes.
2. O que os qualia são
Definimos qualia como estados mentais, de qualidade perceptiva,
dotados de dois caracteres, ‘experiência’ e ‘significação’. Podemos
defini-los, alternativamente, como certa qualidade de experiências
dotadas de significação mas desprovidas de referência intencional, ou
ainda, como certa qualidade de experiências representativas não
intencionais. Todas estas definições se equivalem. Por outro lado,
julgamos ser possível reconhecer um conjunto de outras características
96 A respeito desta afirmação de que os qualia são privados por não serem
objectais (e apesar de serem significativos), interessa anotar as observações de Luísa Couto Soares sobre a crítica de Wittgenstein às ‘linguagens privadas’ – «Nada nos impede de conciliar a crítica wittgensteiniana, lúcida e pertinente, com uma perspectiva da subjectividade do sentir na qual se reencontram a dimensão ‘privada’, enquanto sentir de um sujeito, com a dimensão ‘pública’ que lhe é conferida precisamente pelo seu carácter intencional. A ideia principal de Wittgenstein na sua argumentação contra a linguagem privada é precisamente corrigir o modo de entender as sensações como ‘fenómenos internos’, ‘objectos de sentido interno’, apresentando-no-los como ‘estados de um organismo vivo’. O que é posto em causa é precisamente o estatuto ‘objectal’ das sensações, sentimentos, dores, etc.(...)» (Soares, L. Couto, 2000: 53)
141
aos qualia (bem como aos seus pares qualitativos, isto é a todos os
elementos da classe dos arreferentes).
a) Unicidade aspectual
Os qualia possuem um só aspecto experiencial. Quer isto dizer que
aquando a experiência de um quale não é possível distinguir nela o que é
propriamente experiência e o que é representação, embora esses dois
caracteres sejam distintos e ambos estejam presentes. Um exemplo
poderá elucidar esta unicidade aspectual: um dia perguntei a uma criança
de 2 anos de que cor era a minha pasta de cabedal, ao que ela me
respondeu que era cor-de-laranja, o que me levou, no primeiro instante, a
pensar se a deveria corrigir já que a cor que eu esperava ver identificada
seria o castanho. Em vez de a corrigir perguntei-me a mim mesmo por
que razão eu esperava a resposta ‘a mala é castanha’, quando, bem vistas
as coisas, a cor da mala era mais alaranjada do que castanha. Com
certeza, não seria o caso de eu não saber distinguir cor-de-laranja de
castanho – Com certeza domino a paleta das cores tão bem quanto a
minha filha de dois anos!
A resposta para esta situação algo paradoxal é simples: eu vi a
mala como castanha, não me apercebendo que seria muito mais adequado
vê-la como cor-de-laranja, porque a minha experiência qualitativa da cor
da mala estava condicionada pelo conhecimento prévio que eu dispunha
(mas a minha filha não) de que os objectos de cabedal em geral são
acastanhados. Ora, tal conhecimento prévio não pode deixar de constituir
parte da significação do quale que experienciei, pelo que esteve activa
nessa minha experiência. No entanto, aquando essa experiência, não
distingui em momento algum um carácter “significação” de um carácter
“experiência”. Bem diversamente, o que experienciei era já o produto de
alguma forma de interacção entre esses dois caracteres. O castanho que
vi era já informado, digamos assim, pela significação associada. E foi
apenas esse que vi. Donde, generalizando, poder dizer-se que os qualia
possuem apenas um aspecto experiencial; generalizando ainda mais, os
arreferentes são caracterizados por uma unicidade aspectual. Para
142
finalizar, repeti a brincadeira com a minha mulher que respondeu, sem
hesitações, “a mala é castanha”.
b) Propriedades da experiência do objecto
Numa percepção, isto é, numa experiência em que um objecto é
visado intencionalmente, os qualia não são propriedades do objecto da
experiência, mas propriedades da experiência do objecto. Posso
reconhecer num objecto de percepção, uma maçã por exemplo,
propriedades como ser grande ou ser vermelha. Tais propriedades são
reconhecidas no objecto experienciado, não na sua experiência. Mas, por
outro lado, as propriedades do como é que é (o ‘what it is like’ de T.
Nagel) o vermelho da maçã e mesmo a sua grandeza são propriedades
reconhecidas na experiência do objecto, não no objecto propriamente
dito.
Há, contudo, autores, como Gilbert Harman, que defendem que
estas últimas propriedades – os qualia – são ainda propriedades do
objecto e não da sua experiência. Por exemplo, o ser vermelho da maçã é
uma qualidade da maçã experienciada, não da experiência propriamente
dita97. Michael Tye, por seu turno, afirma que não faz sentido falar de
propriedades da experiência, pois, afirma ele, as suas experiências não
serão concerteza coloridas – não há experiências azuis, há tão-só
experiências que representam um objecto como azul98.
97 «When you attend to a pain in your leg or to your experience of the redness of
an apple, you are attending to a quality of an occurrence in your leg or a quality of the apple. Perhaps this quality is presented to you as an intrinsic quality of the occurrence in your leg or as an intrinsic quality of the surface of the apple. But it is not at all presented as an intrinsic quality of your experience.» (Harman, 1990: 668)
98 «Standing on the beach in Santa Barbara a couple of summers ago on a bright,
sunny day, I found myself transfixed by the intense blue of the Pacific Ocean. Was I not here delighting in the phenomenal aspects of my visual experience? And if I was, doesn't this show that there are visual qualia?
I am not convinced I experienced blue as a property of the ocean not as a property of my experience. My experience itself certainly wasn't blue. Rather it was an experience that represented the ocean as blue. What I was really delighting in, then, were specific aspects of the content of my experience. It was the content, not anything else, that was immediately accessible to my consciousness and that had aspects that were so pleasing» (Tye, M. 1992. “Visual qualia and visual content”. In The Contents of Experience, edited by T. Crane. Cambridge: Cambridge University Press, p. 160 – citado de Martin, 1999)
143
Ora, M. Tye não se engana ao afirmar que o azul tem que ver com
representações; engana-se, isso sim, em supor que os qualia não
disponham desse carácter representativo. Quando se diz que os qualia
são propriedades da experiência, em contraste com as propriedades do
objecto de experiência, não está em causa o carácter representativo
daquela experiência; está simplesmente em causa que se trate de uma
representação intencional, isto é, dotada de um objecto. O equívoco de
Tye reside apenas no facto de confundir qualia com experiências não
representativas, i.e, com as sensações, tal como as definimos. E a estas,
de facto, não faz sentido nenhum atribuir propriedades como ser azul ou
vermelha, pois delas só há uma experiência indirecta, de não-
reconhecimento. Este tipo de equívoco é, aliás, muito pronunciado, como
salientarei no próximo parágrafo, nos próprios “qualiófilos”.
O argumento de G. Harman, segundo o qual os qualiófilos fazem
uma atribuição confusa de certas características do objecto de experiência
à experiência propriamente dita desse objecto, aplica-se, exactamente
como o de M. Tye, caso os qualia sejam entendidos como experiências
desprovidas de significação. Mas não sendo esse o caso, é esse mesmo
argumento que revela uma confusão entre propriedades representadas de
forma não intencional na experiência e propriedades representadas no
objecto intencionalmente visado na experiência.99
Para clarificar este ponto, retome-se o exemplo da minha mala de
cabedal. Quando afirmo que ela é grande, pesada e castanha mais não
faço do que listar algumas propriedades do objecto mala. Quando
procuro descrever o tom exacto do castanho da mala aquilo em que me
basearei para levar a cabo com algum sucesso a descrição será o conjunto
das outras experiências que me são reconhecíveis na experiência actual.
Tomo, pois, duas atitudes diferentes consoante o meu interesse esteja nas
propriedades do objecto experienciado ou nas propriedades da
experiência do objecto. Quando presto atenção ao objecto intencional e
99 Uma posição crítica relativamente aos argumentos de M.Tye e G. Harman,
algo semelhante a esta, é exposta por Georges Rey – «Harman is presenting us with a wrong prediction (...). I think we can attend to ‘intrinsic’ properties of our experience, but without indulging in qualiaphilia and regarding those properties as properties of the representation.» (Rey, 1997: 302)
144
às suas propriedades, a minha atitude é procurar reconhecer relações de
pertença ou inerência entre um subjectum (o objecto) e acidentes (as suas
propriedades objectivas). Digo então “a minha mala é castanha”, “a
minha mala é pesada”, etc. Mas nessa circunstância não prestarei atenção
às propriedades da experiência desse objecto. Quando é a estas que
presto atenção, a minha atitude é procurar reconhecer relações de
semelhança e dissemelhança entre o presente quale e outros qualia que
participam da minha memória de experiências. Digo então “o castanho da
minha mala é como um cor de laranja sem brilho e algo escurecido”, “o
peso da minha mala faz-me lembrar quando era pequeno e tinha de levar
todos aqueles livros escolares para as aulas”. Na primeira atitude
reconhecem-se relações de pertença, ao passo que na segunda atitude
reconhecem-se relações comparativas. Naquelas, ao dizer-se ‘x A’ ou
‘x A’ toma-se o objecto como um conjunto cujos elementos são
propriedades; além disso, assume-se um compromisso com a consistência
lógica. Nas relações comparativas reproduzem-se experiências mais
públicas que contrastam ou se assemelham com a experiência actual;
neste caso, o compromisso assumido é para com o efeito de
verosimilhança100.
Assim, quando se descreve um quale tal não poderá ser feito
segundo o modo como se descreve um perceptum. Sob este modo de
descrever percepta, regido por relações de pertença de propriedades a um
objecto, todo o quale é inefável. Mas daqui não se pode inferir,
evidentemente, que os qualia sejam absolutamente inefáveis, pois, como
se viu, é possível dar deles uma descrição em termos de relações
comparativas com outras experiências, sem que umas pertençam a outras,
sem que haja um X do qual se afirme um conteúdo a ele subordinado –
em suma, em que, bem pelo contrário, as experiências se dizem inter
100 Estabelecemos aqui uma filiação forte da diferença entre a atitude própria à
tematização de representações não intencionais e a atitude própria a representações intencionais (no caso da percepção, respectivamente qualia e percepta) na diferença aristotélica entre logos hermeneutikos e logos apofantikos. Na sequência desta filiação, a retórica e a poética, em contraste com o discurso sobre a verdade, são discursos que dão a experienciar propriedades comparativas de uma experiência, que reproduzem experiências para delas tirar um efeito experienciável (sob o compromisso da verosimilhança).
145
pares. Se a teoria dos conjuntos pôde servir de modelo à silogística
aristotélica é porque limita o discurso sobre a verdade a proposições, i.e,
a enunciados que têm por estrutura a relação de pertença de um
predicado a um sujeito. Ora, é justamente por esta razão que a descrição
dos qualia não pode ter lugar a não ser por intermédio do discurso não
proposicional, nem pode obedecer aos princípios de não-contradição e do
terceiro excluído.
Indo um pouco mais longe, contra o design de uma imanência
dotada de limites que são ou não transcendidos por propriedades,
consoante se prediquem ou não dela – uma imanência reificada mas da
qual não é possível qualquer experiência –, a descrição dos qualia, como
o discurso não proposicional em geral, correlaciona experiências num
mesmo plano, articula-as contingentemente num registo de permanência
nesse mesmo plano. Produz, em síntese, uma autêntica imanência
experiencial a que corresponde, arriscando um célebre conceito
deleuziano, um plano de imanência.
c) Experiência indirecta dos qualia nos percepta
Do ponto anterior extraem-se duas consequências da maior
importância. A primeira é a de que, numa representação intencional, as
propriedades da experiência não são directamente experienciadas. Uma
tal consequência contradiz frontalmente a ideia, tão consensual quanto
confusa, de que os qualia são experienciados directamente e, em todo o
caso, experienciados mais directamente que os objectos de percepção.
Por curioso que seja, verifica-se justamente o contrário. Eu só
experiencio as características qualitativas de uma experiência perceptiva
se converter a percepção num quale, isto é, se deixar de prestar atenção à
objectidade intencionada para dirigir a minha atenção exclusivamente
para a experiência dessa objectidade. E esta convertibilidade de
percepções em qualia, bem como de todas as representações intencionais
em não intencionais, pode ser tomada como um princípio central para
uma teoria geral da experiência. Era esta a segunda consequência a
retirar.
146
Estamos cientes do facto de que este princípio da convertibilidade
das percepções em qualia (e, em geral, das representações intencionais
em não intencionais) contradiz certas interpretações das observações
resultantes de casos de Blindsight. No essencial, tais interpretações
apontam no sentido de haver percepção de objectos sem que haja, de
todo, qualia. Ou seja: afirma-se que algo é reconhecido sem que disso se
tenha alguma forma de experiência. Os casos de Blindsight como, em
geral, todos os casos denominados percepções inconscientes
(unconscious perceptions) podem, contudo, ser interpretados
diversamente. Por exemplo, Chalmers defende que «este tipo de caso não
pode produzir evidência contra uma ligação entre a organização
funcional e a experiência consciente».101 Evitar-se-á entrar aqui nesta
discussão, tanto mais porque este exemplo patológico evidencia que
numa percepção as propriedades do objecto experienciado não são
também elas experienciadas. E nisto não há desacordo. O ponto de
divergência reside apenas em saber se é possível experienciá-las, através
de uma conversão de atitude que focalize o quale em detrimento do
perceptum, ou se tal não é, de todo, possível.
Mais interessante é notar que Chalmers vai bem mais longe com o
seu princípio da coerência entre awareness e consciousness do que nós
com o que denominámos princípio da convertibilidade das percepções
em qualia. Aquela tese de Chalmers aponta para uma dupla
convertibilidade (mas apenas em termos de atitude), pois, de acordo com
ele, a todos os qualia correspondem formas de consciência-de
(awareness). Ora, todos os exemplos de qualia dados até ao momento
indicam claramente que neles não há nenhum carácter intencional, pelo
que a tese de Chalmers é facilmente refutada. Não obstante, o interesse
aqui está sobretudo em dar conta do modo como Chalmers interpreta, a
nosso ver de forma equívoca, esses mesmos exemplos.
Note-se que o princípio não é o de que sempre que temos uma experiência consciente estamos conscientes (aware) da experiência. Aqui, o central são os juízos de primeira ordem, não os de segunda
101 Chalmers, 1996: 227.
147
ordem. O princípio é que quando temos uma experiência, nós somos conscientes (aware) dos conteúdos da experiência. Quando experienciamos um livro, estamos conscientes (aware) do livro; quando experienciamos uma dor, estamos conscientes de algo doloroso (aware of something hurtful); quando experienciamos um pensamento, estamos conscientes do que quer que esse pensamento seja acerca. (...)
O elo entre experiências e juízos de segunda ordem é muito mais indirecto: embora tenhamos a capacidade de relatar as nossas experiências, quase sempre relatamos os conteúdos da experiência, não a própria experiência. Só ocasionalmente recuamos e relatamos a nossa experiência do livro vermelho; usualmente apenas pensamos no livro. Enquanto os juízos de segunda ordem são infrequentes, os de primeira ordem são ubíquos.102
O equívoco salta à vista pelo confronto entre os dois primeiros
exemplos: se é verdade que “quando experiencio um livro estou dele
consciente” é porque, no caso, há um objecto da experiência (i.e, um
objecto visado por uma consciência intencional); mas a afirmação
‘quando experiencio uma dor tenho consciência de algo doloroso’ não é,
de todo, verdadeira, pois, no caso, pode não haver um objecto de
experiência, pelo que resulta absurdo atribuir-lhe, com necessidade, uma
consciência intencional. Um exemplo célebre serve-nos na perfeição: a
experiência da angústia não dispõe de nenhum objecto a que se possa
referir. E agora, que exemplo de juízo de segunda ordem poderá
Chalmers dar da experiência da angústia?
Em rigor, não é só uma mas duas as confusões a explicitar no
raciocínio de Chalmers. A primeira está em ele não reconhecer senão
experiências de objectos, falando em juízos de primeira ou de segunda
ordem consoante se tematize o objecto ou a experiência, respectivamente.
Não reconhece, pois, que as atitudes que tomemos face a uma
102 «Note that the principle is not that whenever we have a conscious experience
we are aware of the experience. It is first-order judgments that are central here, not second-order judgments. The principle is that when we have an experience, we are aware of the contents of the experience. When we experience a book, we are aware of the book; when we experience a pain, we are aware of something hurtful; when we experience a thought, we are aware of whatever it is that the thought is about. (…)
The tie between experiences and second-order judgments is much more indirect: although we have the ability to notice our experiences, most of the time we notice only the contents of the experience, not the experience itself. Only occasionally do we sit back and take notice of our experience of the red book; usually we just think about the book. Whereas second-order judgments are infrequent, first-order judgments are ubiquitous.» (Chalmers, 1996: 221)
148
experiência estão condicionadas pelo tipo de experiência em causa. Ou
dito de outro modo: classifica tipos de experiência – consciousness e
awareness – em função das atitudes e não o inverso103. Mas a
impossibilidade de uma awareness da angústia refuta-o.
A segunda confusão, que redunda aliás em contradição, reside na
assunção implícita de que só há efectivamente uma experiência – a
experiência do objecto – e que a diferença se situa apenas no plano dos
juízos que dela faço. Observe-se que Chalmers tematiza, na passagem
acima transcrita, ou o vermelho do livro ou o objecto livro sempre a
partir da mesma experiência. Mas, nem a experiência se deixa analisar
por um ou por outro lado sem passar a ser uma outra experiência (os
nossos exemplos dos pontos anteriores bem o mostram), nem, bem vistas
as coisas, é consistente supor que os juízos de segunda ordem não sejam,
tal como os de primeira ordem, eles próprios experienciáveis.
d) Qualia exigem distinção esse/percipi
Uma vez que os qualia são as propriedades da experiência e sendo
que essas propriedades são de alguma maneira experienciáveis (se não
como acederíamos aos qualia?), então é relevante levantar a questão de
se saber se entre a experiência de um quale e o quale propriamente dito
há alguma diferença. Segundo alguns autores a distinção não faz em si
mesma qualquer sentido, pois, empregando um exemplo habitual, uma
dor coincide com o sentir dessa dor. Dizem então, a respeito dos qualia,
esse est percipi. O argumento até é bastante simples, no entanto, consiste
numa generalização apressada. Com efeito, o exemplo da dor autoriza a
falar em esse est percipi por nele se poder admitir que não há dor senão
enquanto é sentida, por um lado, e não há sentir dor que não seja dor, por
outro. Certos autores nem sequer aceitam esta equivalência, mas
103 O mesmo tipo de equívoco parece estar presente na seguinte afirmação de
Colin McGinn – «what the experience is like is a function of what it is of, and what it is of is a function of what it is like». (McGinn, 1988: 298) Isto não significa que McGinn esteja equivocado quando, por outro lado, afirma que «(…)perceptual experiences are Janus-faced» (Ibidem). É que esta última afirmação é pronunciada a respeito das experiências perceptivas, ao passo que aquela generaliza uma implicação de duplo sentido independentemente do tipo de experiência em causa.
149
admitindo à partida que é verdadeira, dela não se pode obter uma
generalização que preserve a verdade, pois qualquer exemplo de
representação intencional infirma-a. Nesses casos, pense-se numa
qualquer percepção, por exemplo a de uma maçã vermelha, é evidente
que há experiência e que ela tem propriedades a que chamamos qualia;
simplesmente, essas propriedades não são tematizadas enquanto tais – o
vermelho da maçã está lá, é o quale inerente à percepção, mas não é
experienciado enquanto quale. Logo, em qualquer percepção, embora
haja um esse dos qualia não há deles um percipi. Ele age sobre a
percepção, mas passa em si mesmo inapercebido. Logo, esse non est
percipi a respeito dos qualia.
Se temos o caso de nas representações não intencionais parecer,
como no exemplo da dor, não haver distinção possível entre a dor e o seu
sentir não é porque aí se verifique esse est percipi, mas tão-só pelo facto
de os qualia estarem comprometidos com uma unicidade aspectual que
não permite ao sujeito da experiência discernir o que é propriamente
experiência do que é significação. Mas mesmo num exemplo como o de
se sentir uma dor, que é a experiência de um quale, supor que esse est
percipi (ou seja, que a dor e o seu sentir são o mesmo) conduziria ao
absurdo todas aquelas familiares estratégias de comportamento que
empregamos para evitar sentir uma dor que, no entanto, temos. Será que
tentar distrair-me de uma dor de estômago é uma conduta absurda? E
será que por evitar senti-la, procurando sentir outras coisas, ela deixa de
existir? Não parece que assim seja em ambos os casos. Talvez por isso
quando pensamos morder os dedos em situações de desespero, tal ajude
um pouco a tolerar a situação, embora na verdade não resolva nada.
Esta redução ao absurdo não é tão simples quanto possa parecer,
pois, apesar dela, ainda se pode sustentar que não há dor que não seja
sentida e que não há sentir dor sem dor. Basta reconhecer que podemos
sentir mais, ou menos, uma dor, e que as nossas estratégias face à dor vão
todas no sentido de que a sintamos menos. Mas reconhecer isto é
justamente reconhecer que entre uma e outra há uma clara diferença, ou
seja, que é falso afirmar esse est percipi a respeito da dor.
150
e) Os qualia e propriedades relacionais
Os qualia são produto de propriedades relacionais, mas não são
eles próprios propriedades relacionais. Da exposição do ponto relativo à
unicidade aspectual dos qualia retira-se facilmente esta conclusão. Nesse
ponto mostrámos que um quale não discerne entre o carácter
‘experiência’ e o carácter ‘significação’, nem que o primeiro carácter é
informado pelo segundo, havendo pois entre eles uma relação, e que o
quale é produto dessa relação ou interacção entre os dois caracteres.
Contudo, como vimos no ponto anterior, uma coisa é falar de
qualia outra é falar de experiência de qualia. Quando eu pronuncio um
juízo de percepção como ‘a minha mala é castanha’ tenho por base uma
percepção dotada de um quale, ou seja, uma experiência dotada de
propriedades e que é experiência de um objecto. Quando me dou conta
do facto de a minha mala não ser castanha mas alaranjada, tenho uma
experiência do quale, ou seja, uma experiência das propriedades da
experiência do objecto. É precisamente neste segundo caso, em que além
do esse tenho o percipi do quale, que é possível discernir as propriedades
experienciais e suas relações e verificar que o quale experienciado é
produto de propriedades relacionais. Ou seja, se chego a saber que os
qualia são produto de propriedades relacionais é porque tenho deles uma
experiência, na qual é possível reconhecer essas propriedades.
f) Condicionamento dos qualia
Os qualia envolvem pelo menos três ordens de condições: o
estímulo, as condições de receptividade e as condições de
reconhecimento. Quando se afirma que os qualia são produto de
propriedades relacionais, importa identificar, tanto quanto for possível, os
termos em relação nessas propriedades. No exemplo que se segue,
determinaremos três desses termos, que designaremos por condições base
das propriedades relacionais dos qualia.
Quando me encontro constipado e com o nariz obstruído, o tabaco
sabe-me mal. Não me parece possível haver dúvidas quanto ao facto de o
151
sabor se alterar nessa circunstância e que tal alteração do sabor não é
devida ao tabaco que fumo, sendo antes induzida pelo estado do meu
organismo, que não pode ser o mesmo por me encontrar constipado e
com as vias respiratórias obstruídas.
Antes e depois de me constipar, o tabaco sabe-me, pois,
diferentemente. Uma tal alteração é perfeitamente reconhecível. É, por
conseguinte, uma experiência dotada de sentido; e trata-se obviamente de
um quale. O problema que se levanta é outro. Consiste no facto de
ninguém saber exactamente como me sabe o tabaco, esteja eu constipado
ou não. É possível a um outro fumador reconhecer a situação de alteração
do sabor pela recordação da sua própria experiência de alteração de sabor
nessa circunstância. Mas como saber se o tabaco lhe sabe exactamente da
mesma maneira que a mim? Mesmo alguém que não conheça o sabor do
tabaco, pode compreender a minha situação por analogia com o sabor dos
alimentos ou do café. De certo modo, não é pois difícil alguém
compreender porque me sabe diferentemente o tabaco, embora sem que
possa saber como me sabia dantes o tabaco e como me sabe quando me
encontro constipado. O que se diz do sabor do tabaco, dir-se-á, mutatis
mutandis, do modo privado como sinto o sol bater na cara, como vejo o
sol pôr-se, etc. Os qualia, como já verificáramos, são privados e a sua
experiência é também privada.
Este exemplo, como qualquer outro, demonstra que o sabor, apesar
de experienciado de forma directa, depende necessariamente das
condições de uma receptividade, que mais não é do que o estado do
organismo do sujeito da experiência, e das condições de um
reconhecimento, que não é mais do que a memória de sentido do sujeito
(i.e a correlação de experiências que se imanentizam num só plano), e,
portanto, não apenas do poder diferenciador do tabaco que fumo. Por
isso, se denominámos qualia aquelas propriedades que se dizem da
experiência e não do objecto da experiência, ou seja, as propriedades de
uma representação não intencional, houve também que lhes reconhecer, a
respeito da sua constituição, um carácter necessariamente relacional.
Mais em particular, importa agora reconhecer pelo menos três factores
em relação: o estímulo extra mens, as condições de receptividade desse
152
estímulo numa experiência e, finalmente, as condições de
reconhecimento dessa experiência numa significação. No nosso exemplo
do fumador, ter-se-ão, pois, certos compostos moleculares que afectam as
pupilas gustativas e desencadeiam um processo fisiológico bem
complexo de recepção, tratamento e transmissão da informação. Este
processo culmina na sensação, a qual, por si, não é experienciável de
forma consciente; dela não é possível nenhum reconhecimento (recorde-
se que o exemplo de sensação que considerámos atrás era justamente
caracterizado por uma experiência de não-reconhecimento). A
experiência do quale resulta, finalmente, do reconhecimento subjectivo e
espontâneo de uma significação na experiência. É o momento em que
direi “gosto deste tabaco!”, “sinto mesmo a falta de nicotina!”, “estou
viciado nisto!”, etc.
Assim, poder-se-á representar esquematicamente a constituição dos
qualia como tendo três ordens distintas de condições:
Qualia O estímulo Condições de
receptividade
Condições de reconhecimento
Fig. 9
153
g) Qualia e identidade
A identidade entre qualia só pode ser pensada como uma
identidade entre o complexo relacional que está na sua base. Dito de
outro modo, a pergunta ‘É o quale o mesmo ou não?’ é uma pergunta
sem sentido a não ser que se converta essa questão numa outra ‘É o
complexo de condições que está na sua base o mesmo ou não?’ Este
ponto é fundamental no debate contra um dos mais reputados qualiófobos
– Daniel C. Dennett.
Há uma certa maneira de argumentar que se caracteriza por rejeitar
a existência de algo por se rejeitar a sua descrição objectiva, esquecendo
que tal argumentação só é válida se se certificar primeiramente que a
descrição é válida. Esse esquecimento pode dar lugar a toda a espécie de
argumentos do homem de palha, que mais não são do que uma instância
de falácias semânticas. Vem isto a propósito porque parece ser esse o
caso na argumentação de Dennett no seu célebre Quining Qualia –
segundo a sua descrição, os qualia seriam descritos como propriedades
não relacionais, inefáveis, privadas e acedidas directamente. Como esta
descrição não é aceitável por si mesma, então, conclui o autor, é verdade
que os qualia não existem.
Com efeito, Daniel C. Dennett advoga a ideia de que se deve
quinizar os qualia (i.e, eliminá-los) através da refutação das propriedades
de segunda ordem que supostamente os caracterizariam: não são
propriedades intrínsecas, mas relacionais; não são introspectivamente
objectiváveis, apenas o são pela perspectiva da terceira pessoa; e nem
sequer são mais privadas e inefáveis do que quaisquer outras. Ned Block,
numa linha em que o seguimos, nega que os qualia tenham alguma vez
sido pensados como não sendo relacionais, não vendo pois no carácter
relacional que Dennett lhes aponta qualquer razão para os ‘quinizar’104.
Aliás, tal como os definimos atrás, os qualia são produto de propriedades
104 «Dennett, for example, has supposed in some of his writings that it is of the
essence of qualia to be non-relational, incorrigible (too believe one has one is to have one) and to have no scientific nature. This is what you get when you let an opponent of qualia define the term.» (Block, 1994: 514)
154
relacionais que têm por base pelo menos três ordens de condições. Um
sucedâneo do argumento de Dennett, embora apresentado sob a forma de
uma contradição, é empregue por Jennifer Church a propósito da P-
consciência (phenomenal consciousness) de Ned Block:
As propriedades fenoménicas de um estado têm de ser propriedades possuídas em virtude de alguma relação entre o estado e um sujeito, e, no entanto, não podem ser propriedades relacionais por ser suposto serem intrínsecas aos estados que as possuem. Se, por outro lado, se aceita que as propriedades fenoménicas são propriedades relacionais, parece plausível supor que as relações relevantes são alguma espécie de relações de acesso(...).105
O erro está em pensar que o único carácter dos qualia é a experiência
quando, como se viu, não é o caso que assim seja. Uma boa razão para
este erro pode residir na confusão entre a unicidade aspectual dos qualia
e uma suposta unicidade de carácter dos mesmos. Dessa presunção
decorre uma confusão entre sensação e quale que deve ser posta a claro.
Por um lado, os qualia são obviamente relacionais, e entre os termos da
relação um deles é o Pano de fundo (background), o que implica acesso,
mas de forma alguma intencionalidade.106 Por outro lado, o que nos
qualia é intrínseco é o carácter experiência, o qual não é menos
intrínseco nas percepções. Mas não há contradição nenhuma, a respeito
dos qualia, entre um acesso a significações, ser intrínseco e ser
relacional. As sensações é que não são relacionais, nem dotadas de
sentido, muito menos de acesso.
Talvez a simplificação dos tipos de experiência numa grelha com
apenas duas entradas seja uma outra fonte destas confusões, talvez o
próprio Ned Block tenha de algum modo contribuído para isso ao
estipular uma dualidade forte entre P-consciência (phenomenal) e A-
105 «The phenomenal properties of a state must be properties had in virtue of some relation between the state and a subject, yet they cannot be relational properties because they are supposed to be intrinsic to the states which have them. If, on the other hand, one accepts that phenomenal properties are relational properties, it seems plausible to suppose that the relevant relations are some sort of acess relations…» (Church, Jennifer, 1995: 425)
106 A noção de um Pano de fundo (Background) é retirada de John Searle, a que
corresponde a seguinte definição: «The Background is a set of nonrepresentational mental capacities [restringindo aqui o alcance de ‘não representacionais’ a ‘não intencionais’] that enable all representing to take place.» (Searle, 1983: 143)
155
consciência (acess), sobrevalorizando naquela o carácter experiência em
detrimento do carácter significado. Em todo o caso, há que chamar a
atenção para o facto de que é também ele quem afirma que P-consciência
e A-consciência, apesar de fortemente distinguidas, interagem.
Regressando a Dennett, um exemplo, entre os muitos que nos
apresenta, é este – Dois homens experimentados no sabor do café
trabalham para uma casa de cafés com a precisa função de preservarem
as características do sabor original do café produzido nessa casa. Sucede
que ambos os senhores, ao fim de seis anos, lamentam o facto do café
agora já não lhes saber da mesma maneira e isto apesar do café ter
preservado as mesmas qualidades objectivas. De acordo com um deles,
Mr. Chase, o café nem sequer sabe diferentemente; sucedeu, tão-
somente, que os seus padrões de satisfação evoluíram com o passar dos
anos de tal forma que esse sabor já não lhe agrada – na verdade, o mesmo
sabor sabe-lhe agora mal. O que mudou, de acordo com Mr. Chase, foi
apenas o seu gosto. Já Mr. Sanborn, o outro provador, julga, pelo
contrário, que o sabor do café se alterou efectivamente e que lhe sabe mal
não porque tenha mudado de gostos, mas precisamente por o sabor não
ser o mesmo. Do seu ponto de vista, também o café é o mesmo, pelo que
o que mudou foi a maneira como se constitui o sabor.
Face ao exemplo dos provadores de café, Dennett pergunta qual
dos dois provadores tem razão, se é que não sucedeu com ambos um
pouco das duas coisas. Perguntando o mais simplesmente possível: É o
quale o mesmo ou não? E disto conclui o autor que:
i) Não está ao alcance de nenhuma das duas personagens
responder a esta questão de forma introspectiva, pelo
acesso directo a essas experiências.
ii) Sê-lo-á, bem pelo contrário, através de formas indirectas
que não passam pela introspecção, formas ditas na terceira
pessoa.
Aqui, o problemático é que a própria questão ‘É o quale o
mesmo?’ revela imprecisão pois como se pode dizer tratar-se, ou não, do
mesmo o que é relacional? Seria necessário que a relação e cada um dos
156
termos da relação fossem os mesmos. Mais do que isso, seria necessário
determinar quais e quantos são os termos relacionais e de que modo
verificar a identidade, ou não, entre os termos em diferentes tempos. Ao
não considerar os qualia produto de propriedades relacionais de um
complexo de condições, como vimos no ponto anterior, Dennett limita-se
a extrair uma conclusão a partir de uma premissa falsa, conclusão cujo
valor de verdade permanece, pois, indeterminado. Não obstante, as
afirmações i) e ii) são, a nosso ver, verdadeiras; simplesmente não
servem, em nada, para quinizar os qualia, a não ser que o entendimento
que temos destes coincidisse com a caracterização que deles dá Dennett.
E não é esse o caso.
Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que Dennett levanta um
importante problema acerca da objectividade da experiência dos qualia.
h) Qualia e objectividade
Não sendo objectidades, os qualia podem ainda assim ser dotados
de alguma objectividade. Se aprofundarmos os dois últimos exemplos,
deparamo-nos com o facto de um fumador experimentado, como um
provador de cafés, ou um escanção, etc., terem uma perspectiva na
primeira pessoa bastante precisa das suas avaliações de gosto. Não só
tematizam de algum modo as propriedades dos qualia que experimentam,
como o fazem de tal forma que o resultado é dotado de alguma
objectividade, no sentido mínimo de que pelo menos saberão
experienciar, com elevado grau de precisão, diferenças, até mesmo muito
subtis, entre qualia. Afirmar o contrário equivale a afirmar que todo o
escanção é inevitavelmente um falsário ou que é absurdo perder tempo a
discutir as diferenças entre um Jack Daniel’s e um bom Irish ou entre um
Peterson e um Captain Black, etc. Não considerando tão desagradáveis
suposições, interessaria detectar em que termos se constitui uma
objectividade em torno dos qualia, note-se uma objectividade sem
objectualidade. Em todo o caso, no que respeita ao presente ponto, temos
por certo, nem que seja por recurso a reduções ao absurdo, que os qualia
são dotados de algum tipo de objectividade.
157
3. O que os qualia não são
É certo que qualiófobos como Dennett forçam um pouco a
descrição dos qualia, mas não deixa de ser igualmente certo que reina
muita confusão nas definições qualiófilas dos mesmos. E a este respeito
interessa mostrar claramente que a nossa definição de quale não
corresponde com exactidão à que tem sido consagrada na literatura sobre
o assunto. Tome-se o caso de uma célebre definição de Sydney
Shoemaker, em The Inverted Spectrum – qualia são «as características
qualitativas ou fenoménicas da experiência dos sentidos».107 De acordo
com esta definição, quale é o aspecto qualitativo de uma dada
experiência perceptiva, ao qual é preciso acrescentar, caso se trate
efectivamente de uma percepção, um aspecto intencional.
Correlativamente, dirá um qualiófilo, uma percepção possui um conteúdo
intencional e um conteúdo qualitativo. Caso se trate de uma experiência
mental desprovida de objecto intencional, por exemplo uma dor, então
não se disporá de outro conteúdo senão o conteúdo qualitativo, nem de
outro aspecto senão o experiencial.
Pondo de parte as noções de conteúdo, cujo compromisso podemos
dispensar (até porque está contaminada pela ideia de uma relação de
pertença do conteúdo ao continente), esta definição é equívoca por duas
ordens de razão associadas:
i) Esta formulação tanto pode definir quale como sensação,
dependendo isso do sentido que se atribua à expressão
‘características qualitativas ou fenoménicas’.
ii) como os exemplos geralmente apresentados de qualia são
efectivamente qualia no sentido em que os definimos,
então fica pouco claro, de acordo com a definição de
107 Shoemaker, 1982: 649.
158
Shoemaker, como distinguir neles o carácter ‘experiência’
do carácter ‘significado’.
Isto leva a pensar que se deixou escapar na teorização dos qualia
um ponto determinante e no qual muito temos insistido – o de que, para
lá das representações intencionais e das experiências não representativas,
existem representações não intencionais, precisamente aquelas que são
distintivas dos qualia. E se assim é, então terão sido, algo ironicamente,
os qualiófilos quem mais bem eliminou os qualia ao confundi-los com
sensações.
O primeiro facto relevante a ter em conta aqui é que não é possível
deixar de distinguir entre exemplos de experiências com sentido mas não
referenciais, como a dor ou o vermelho de uma maçã vermelha, e
exemplos de experiências completamente desprovidas de sentido, como
aquelas em que não ocorre reconhecimento nenhum, seja objectal ou não.
O segundo facto relevante é que só o primeiro tipo de exemplos tem sido
apresentado na bibliografia sobre qualia como efectivos exemplos de
qualia, o que indica muito claramente que tipo de experiência se tem tido
em mente quando se utiliza tais exemplos. Destas duas premissas retira-
se a conclusão de que os qualia têm um carácter próprio que os distingue
das sensações. Esse carácter como afirmámos é a ‘significação’, pelo que
os qualia se dizem experiências com sentido, ou representativas, mas não
intencionais. Aliás, outra coisa não diz Ned Block numa interessante
nota, quando chama a atenção para aspectos não experienciais (mas
também não intencionais) da P-consciência:
Eu digo que a P-consciência não é uma propriedade intencional e que diferenças intencionais podem produzir uma diferença P-consciente. Digo também que as propriedades P-conscientes são frequentes vezes representacionais. A minha perspectiva é a de que, embora o conteúdo P-consciente não possa ser reduzido a ou identificado com conteúdo intencional, os conteúdos P-conscientes têm frequentemente um aspecto intencional, e também que os conteúdos P-conscientes muitas vezes representam de um modo não-intencional primitivo.108
108 «I say both that P-consciousness is not an intentional property and that
intentional differences can make a P-conscious difference. I also say that P-conscious properties are often representational. My view is that although P-conscious content
159
Se um quale significa como pode ele não visar nada? Ou
reformulando: o que é significar sem significar algo que se diga então
visado intencionalmente? O que pode ser uma representação não
intencional?
Caso não se obtivesse uma resposta para estas questões, e fôssemos
obrigados a recusar a ideia de uma representação não intencional,
confrontar-nos-íamos com um das seguintes situações: i) ou se remete os
qualia para o plano das sensações; ii) ou se remete os qualia para o plano
das representações intencionais; iii) ou, pura e simplesmente, se elimina
os qualia, afirmando que entidades como essas parecem existir, mas não
têm na verdade qualquer correspondente real. A primeira posição é
defendida por todos aqueles que não reconhecem aos qualia nenhum
poder representativo (entre os quais parecem estar alguns qualiófilos!). A
segunda é defendida por aqueles que procuram mostrar que os qualia são
dotados de intencionalidade (por não admitirem outras representações
que não as intencionais), mas também todos aqueles que sustentam que
não há sensações sem um conteúdo perceptual prévio, o que é uma
posição ainda mais inflexível. Finalmente, a terceira tem tido, como
acabamos de verificar, em Daniel C. Dennett o seu principal defensor.
Mas, muito antes deste, já as Investigações Lógicas de Husserl parecem
assumir uma posição eliminativista a respeito dos qualia.
Logo na primeira das suas Investigações Lógicas, o fenomenólogo
distingue entre sentido, ou significado, e referência objectiva. Além
disso, distingue, na Quinta Investigação e de forma muito clara, entre o
objecto intencional visado (i.e, o referente objectivo) e o que denomina
‘conteúdos verdadeiramente imanentes’ da vivência intencional. De
acordo com a nossa abordagem à temática dos qualia seríamos
naturalmente levados a fazer corresponder a estes tais conteúdos
verdadeiramente imanentes. Contudo, Husserl, a este propósito, não só se
refere a sensações – o que poderia não passar de uma diferença
cannot be reduced to or identified with intentional content, P-conscious contents often have an intentional aspect, and also P-conscious contents often represent in a primitive non-intentional way.» (Block, 1995: 408)
160
terminológica –, como parece não admitir a distinção entre o que
designámos sensação e quale. É frequentemente citada a seguinte
passagem:
Se os chamados conteúdos imanentes são meramente intencionais, os pertencentes à consistência real das vivências intencionais, não são intencionais; integram o acto, tornam possível a intenção como pontos de apoio necessários, mas eles mesmos não são intencionais, não são os objectos representados no acto. Não vemos sensações de cor, mas coisas coloridas; não ouvimos sensações de som, mas a canção da cantora, etc.109
Estes elementos reais da vivência, que constituem o seu conteúdo
propriamente imanente, não são por si mesmos intencionais. Por isso, não
são referenciais. Mas na medida em que são a vivência propriamente dita,
então há deles uma experiência vivencial que se caracteriza por ser não-
temática. Ou seja: embora eu não tematize o vermelho da maçã que vejo
defronte de mim, é certo que o vivo numa consciência não-temática. Este
mesmo vermelho da maçã vermelha, como o som da canção que ouço e a
que Husserl chama sensação, pelo menos corresponde a exemplos típicos
de qualia. Note-se, porém, que a sensação tal como Husserl a entende
não distingue entre a experiência representativa não intencional (os
qualia como temos vindo a afirmar) da experiência muda, ou seja, as
sensações. Esta indistinção poderá resultar, de uma posição de Husserl,
de acordo com a qual, os qualia não existiriam. Aliás, são várias as
indicações de Husserl nas Invest. Lógicas no sentido de que a implicação
de significação por parte da referência objectiva ou da intencionalidade é
uma implicação recíproca110. Mais do que isso, a própria recusa de um
acesso às cores independentemente dos objectos que de facto possuem
cor (e aos sons independentemente de um objecto de audição) aponta
claramente nesse sentido. Finalmente, a afirmação de que há um primado
da percepção sobre a sensação lê-se como a afirmação de que a
experiência começa sempre por ser intencional (ou, o que é o mesmo,
109 Cf. Husserl, 1901. V, §11. 110 Cf. nosso Cap.V.
161
referencial) e que a sensação, bem como o quale, só pode ser tematizada
abstractamente.
Assim, no âmbito das Investigações Lógicas há que retirar duas
conclusões. Primeiramente, o que Husserl não parece admitir não é tanto
que haja experiências não intencionais, mas que haja significações não
intencionais, isto é, representações não intencionais. Donde que
excluindo os qualia, apenas restam as sensações como “conteúdos
verdadeiramente imanentes” do acto intencional. Em segundo lugar, que
tais experiências não intencionais, as ditas sensações, não têm lugar
senão como “pontos de apoio necessários” de uma intenção. Ou seja:
arriscando a generalização, para Husserl não há experiência sensorial
independente de experiência perceptiva, e a sua tematização só é
possível, num segundo momento, derivado, por abstracção da experiência
perceptiva; quanto aos qualia, esses estão eliminados à partida, uma vez
que entre representação e intencionalidade há uma implicação de duplo
sentido.
4. Experiência e comunicação
Com este parágrafo renovamos a questão pendente de saber como é
possível uma objectividade sem objectualidade e, subjacente a estas, uma
significabilidade não intencional (ou arreferencial). O título do parágrafo
reproduz o título de um artigo de João Paisana, autor que, por vias
bastante distintas das que estiveram em jogo nas páginas anteriores,
afirma o seguinte:
O enunciado de experiência é ante-predicativo e pré-objectivo, não é um enunciado de conhecimento. O seu sentido objectivo não se funda no conhecimento de um objecto. Por outras palavras, o seu sentido não pode ser determinado pelas suas condições de verdade, entendidas estas através da referência e da predicação.111
111 Paisana, 2000: 79.
162
Nesta passagem está condensado todo um conjunto de afirmações
relevantes: i) há enunciados, ditos de experiência, que não são
predicativos, ou seja, que não têm por base a relação entre um sujeito e
os predicados que lhe pertencem; ii) tais enunciados possuem sentido; iii)
dispõem de uma objectividade ou de um sentido objectivo; iv) as
condições de tal objectividade não são condições de verdade e excluem,
além da predicação, a noção de referência.
Ora, confrontando estas afirmações com a nossa afirmação de que
há uma objectividade sem objectualidade (e uma significabilidade sem
referência), salta à vista o paralelismo. Não só opusemos qualia e
percepta (como consciência fenoménica e consciência intencional)
através do critério de que existem significações desprovidas de
referência, como indicámos que a atenção na experiência dos qualia (e,
generalizando, em toda a consciência fenoménica) estabelece relações
comparativas – de semelhança, dissemelhança experiencial – sob o
constrangimento da verosimilhança, ao passo que, na experiência dos
percepta (e, generalizando, em toda a consciência intencional), a atenção
estabelece relações de pertença – entre um substrato, dito sujeito de
predicados, e as propriedades que lhe pertencem – sob o constrangimento
da verdade.
Com este paralelismo por base, podemo-nos autorizar procurar
encontrar pontos de apoio para a questão sobre como chega a haver uma
significabilidade sem referência e uma objectividade sem objectualidade.
Ou seja, procurar na investigação em torno das condições de
objectividade dos enunciados de experiência a resposta adequada à nossa
pergunta sobre a objectividade dos qualia em particular e a dos
arreferentes em geral. E nesse novo território de investigação ganha
pertinência a tematização de uma oposição, muito discutida no âmbito da
filosofia hermenêutica, entre “ente” e “objecto”, sendo que este resulta de
uma modificação daquele pela qual é convertido num sujeito de
predicados, cujas relações são de pertença e se verificam internas ao
próprio objecto, cortando assim uma relação prévia (e constituinte de
sentido objectivo) com a significabilidade e o mundo.
163
João Paisana reconhece a este plano pré-objectal e pré-teórico o
privilégio das dimensões prática e poética da experiência, em detrimento
de uma dimensão teórica, caracterizada em termos de predicação.
A experiência não conduz directamente ao objecto; o que é encontrado de modo imediato na experiência deverá antes ser caracterizado como ente disponível ou como utensílio, isto é, ente intramundano. Deste modo, deveremos afirmar que a experiência não tem fundamentalmente, e muito menos exclusivamente, uma dimensão teórica. Uma dimensão de conhecimento. O sujeito da experiência não pode ser caracterizado essencialmente como sujeito cognitivo; ao inverso ele encontra o ente comportando-se de forma prática ou mesmo poética (artística)112
Aliás, o estabelecimento de pontes entre a problemática dos qualia,
tal como tem sido tratada nas últimas décadas pela filosofia de expressão
anglófona e esta via de investigação privilegiada na filosofia continental,
muito em particular a partir da filosofia hermenêutica e da comunicação
(desde o longínquo Dilthey) tem sido experimentado por nomes da
filosofia norte-americana como Gilbert Harman e Piotr Boltuc113.
Não obstante, de acordo com a nossa exposição anterior, existem
experiências de não-reconhecimento que são desprovidas do carácter
significação, experiências mudas que nada significam e em nada se
reportam ao sujeito da experiência. Tais experiências, que denominámos
insignificantes, correspondem aos sense data e seus pares qualitativos.
Por este facto, embora toda a experiência dotada de sentido (seja ela
dotada de referência ou não) pressuponha um “espaço de diálogo”, pelo
que tal experiência não se possa dizer muda, não é aceitável daqui
concluir universalmente, como faz João Paisana, que «não tem
112 Paisana, 1997: 83. 113 Piotr Boltuc, a este propósito, afirma o seguinte: «The first person statements
are based on an immediate experience (or on a hermeneutics) of qualia, and not on proof of any kind.» E referindo-se a Harman acrescenta: «Harman adopts Dilthey's notion (he calls it Das Verstehen) which refers to the understanding non-reducible to the method of physical science in studying the mind. Das Verstehen refers to the irreducibly first-person experience necessary for understanding certain claims e.g. ‘Pain!’ As Harman put it, obviously following Nagel: "You can know everything objective there is to know about a person without knowing what it is like to be that person".» (Cf. Boltuc, 2000)
164
fundamento falar de experiências privadas ou mudas»114. Aliás, se as
experiências de não-reconhecimento são, a nosso ver, mudas e privadas,
as experiências não-referenciais, embora não sejam mudas (pois
significam algo e é possível ao sujeito que as experiencia dizer delas
alguma coisa), não deixam, por isso, de ser privadas. Com efeito, a
unicidade aspectual que caracteriza os arreferentes não permite que o
carácter significação com a sua dimensão pública seja discernido do
carácter experiência, do que se segue que a dimensão pública e dialogal
da constituição do arreferente não limite a privacidade da sua
experiência. Resumidamente: i) há experiências mudas, não há
significações mudas; ii) há significações privadas, não há objectos
privados.
Finalmente, temos então que se deve distinguir entre experiência
intencional e experiência representativa, sendo que esta só exclui as
sensações. Por seu turno, à consciência estrita de sensações podemos
chamar experiência muda, uma vez que não dispõe de qualquer
significado próprio, nada representa e dela, enfim, nada pode ser dito.
Desta tripla distinção, resulta uma rejeição de que a intencionalidade seja
uma propriedade essencial da consciência.
Já por outro lado, a célebre afirmação kantiana de que «o “eu
penso” deve poder acompanhar todas as minhas representações», dizendo
respeito a toda a consciência representativa, respeita também aos qualia.
No entanto, as sensações e toda a experiência muda em geral, ao
excluirem-se do âmbito da consciência representativa, não são, de acordo
com o ponto de vista que defendemos aqui, acompanhadas por uma auto-
consciência, isto é, não são reportáveis a um ‘Eu penso’ kantiano.
Significa isto que nem toda a experiência é acompanhada por uma
experiência de si.
Mas é possível ir mais longe, designadamente afirmando, pelo
menos em tese, que a pura experiência de sensações e seus pares
qualitativos, ou seja, o que chamámos experiência muda, é uma
experiência sem consciência.115
114 Paisana, 2000: 79. 115 Cf. Nosso Cap. I.
165
Com efeito, uma experiência muda, não acompanhada pelo “eu
penso”, despojada de significação e de experiência de si poderá ainda
dizer-se uma experiência consciente? Se nada é apercebido, se nada é
presente a um sujeito, então que diferença pode fazer essa experiência da
simples circunstâncias de dois quaisquer objectos inanimados se
encontrarem um defronte do outro?
Concluindo, se a experiência não implica consciência, então uma
teoria da experiência não pode ser enquadrada em, muito menos feita
coincidir com, uma teoria da consciência. Por outro lado, se a
consciência implica significação – note-se que no nosso Cap. III apenas
falámos de consciência enquanto adjectivo de certas significações, não
todas –, então é no quadro de uma teoria da significação que se deverá
enquadrar uma teoria da consciência.
Desta forma, contra a ideia de que uma teoria da mente deva
compor-se por uma teoria da consciência e por uma teoria do conteúdo
significativo, concluímos que o que está em causa na compreensão da
mente é uma teoria da experiência e uma teoria da significação, sendo o
problema da consciência, por um lado, inteiramente estranho à primeira,
e, por outro, apenas uma incidência, ainda que maximamente relevante,
desta última. A mente consciente, em suma, resolve-se numa equação
que envolve apenas dois termos: Experiência e Sentido.
Recapitulando:
i) há três caracteres da experiência – ‘experiência’, ‘significação’
e ‘referência’;
ii) a ocorrência de um, dois ou três desses caracteres é critério
suficiente para discriminar, respectivamente, uma experiência
muda, uma experiência representativa e uma experiência
intencional;
iii) a estas duas últimas há que associar, respectivamente, uma
experiência de si e uma experiência objectal, por um lado, e
uma perspectiva na primeira pessoa e outra na terceira pessoa,
por outro.
iv) São os tipos de experiência representativa e intencional que
determinam as perspectivas e não o inverso, conquanto seja
166
sempre possível converter uma experiência intencional numa
experiência representativa através da substituição da perspectiva
na terceira pessoa pela da primeira pessoa (note-se que a
conversa não é possível).
v) A perspectiva da terceira pessoa caracteriza propriedades de um
objecto e fá-lo por meio de relações de pertença; a perspectiva
na primeira pessoa caracteriza propriedades de uma experiência
significativa e fá-lo por meio de relações comparativas (de
semelhança, dissemelhança, contraste, etc.) entre experiências.
vi) Há experiências mudas, não há significações mudas; há
significações privadas, não há objectos privados
vii) Há experiências sem consciência: é o caso das experiências sem
significação.
viii) Uma teoria da consciência deve ser enquadrada não numa teoria
da experiência, mas numa teoria da significação.
V
Funcionalismo, IA, Linguagem do
Pensamento
Nos capítulos anteriores defendemos uma moldura resolutiva do
problema mente/corpo assente nas ideias de uma dualismo experiencial e
de uma sobreveniência especial, de acordo com as quais sustentámos a
existência de uma relação de determinação/dependência entre os estados
do cérebro e seus padrões neurais, por um lado, e os estados da mente e
seus padrões mentais, por outro.
Agora, prestaremos atenção aos posicionamentos que procuram dar
conta do fenómeno “mente” através das relações que ele mantém quer
com os inputs do mundo quer com os outputs comportamentais. Pela
nossa parte, evidenciaremos a inadequação que cremos estar subjacente à
relação entre estes posicionamentos, exemplarmente representados pelo
funcionalismo em sentido lato, e o propósito de explicação do que é um
estado mental consciente.
Em contrapartida, se o funcionalismo se revela adequado é
enquanto uma teoria da dinâmica de uma mente, i.e, sob a pressuposição
de que há uma mente, acerca da qual, porém, importa ainda elucidar o
seu regime de mudança.
.
1. Subsegmentos de experiência ‘objectiva’
Sob este novo ângulo de abordagem, evitar-se-á tomar em
consideração a experiência subjectiva, genericamente classificada como
perspectiva da primeira pessoa, para intentar uma caracterização da vida
mental em termos objectivos. Contudo, posto de parte o segmento
‘subjectivo’ da experiência, há ainda que proceder à divisão do segmento
da experiência ‘objectiva’ em três subsegmentos – um subsegmento
relativo aos dados postos a nu pela neurofisiologia; um outro relativo à
168
informação do mundo colhida pelos sentidos; e, por fim, um
subsegmento relativo às expressões comportamentais que atribuímos a
uma mente. Note-se que estes subsegmentos estão todos inscritos no
corpo – as saídas (outputs) comportamentais são comportamento de um
corpo; as entradas (inputs) provenientes do mundo exterior só chegam a
“entrar” por meio dos órgãos sensoriais do corpo; e o objecto de
observação da neurofisiologia é, evidentemente, parte constituinte do
corpo.
MENTE
input output
ESTÍMULO CÉREBRO COMPORTAMENTO
Ora, esta subsegmentação esteve na base de uma recolocação dos
esforços teóricos no sentido de explicar a mente: é o caso do
behaviourismo lógico e do funcionalismo e, dentro deste, do emprego da
distinção Software/Hardware como analogia para a distinção
mental/neural. De tal analogia esperar-se-ia, portanto, pelo menos
heuristicamente, que o vocabulário mental pudesse ser inteiramente
traduzido nos termos de uma descrição funcional das relações entre
entradas (inputs) e saídas (outputs) de um sistema.
Será possível que uma tal descrição funcional seja suficiente para
caracterizar um estado mental? Será, nesses termos, possível identificar
os estados de uma mente com estados estritamente funcionais?
a) Do behaviourismo lógico aos pressupostos básicos do funcionalismo
Para respeitar a ordem histórica, há que referir antes do
funcionalismo os posicionamentos que, na verdade, estiveram na sua
Fig. 1
169
génese. Primeiramente, o behaviourismo lógico e Gilbert Ryle que, com
o seu célebre erro categorial116, expôs a necessidade de não tomar os
estados mentais como objectos, à maneira das coisas materiais que
ocupam um certo espaço físico, mas antes como propriedades
disposicionais, isto é, disposições para o comportamento, as quais
poderão, ou não, se efectivar.
Sob esta nova perspectiva – o behaviourismo lógico ou analítico117
–, propunha-se que os estados mentais, enquanto disposições para o
comportamento, pudessem ser definidos rigorosamente por meio de
enunciados condicionais contrafactuais. De acordo com este ponto de
vista, a consideração dos estados mentais como estados de algum modo
internos e de algum modo substanciais deveria ser recusada. De certo
modo, tal consideração mais não faria do que devolver, repetindo o erro
categorial, aos estados mentais o estatuto de coisas substanciais. Pelo
contrário, os estados mentais não estariam nem no interior nem no
exterior de um espaço, por muito metafórico que seja o emprego aqui
feito de expressões como ‘interior’ ou ‘exterior’.
As objecções ao programa do behaviourismo lógico são bastante
bem conhecidas e, a nosso ver, não há sobre elas grande margem de
contestação. Além da dificuldade em precisar o que se entende por
‘disposição’, se se identifica os estados mentais com disposições para o
comportamento, então aqueles deixam de estar para estes como causa, o
que leva a perguntar muito simplesmente “o que causa o
116 Por ‘erro categorial’ entende-se o erro de encontrar encontrar sob uma certa
categoria de objectos um dado objecto que, no entanto, pertence a outra categoria de objectos. Um exemplo, entre os muitos dados por Ryle, é o seguinte – «A foreigner visiting Oxford or Cambridge for the first time is shown a number of colleges, libraries, playing fields, museums, scientific departments and administrative offices. He then asks “But where is the University? I have seen where the members of the Colleges live, where the Registrar works, where the scientists experiment and the rest. But I have not yet seen the University in Which reside and work the members of our University.” It has then to be explained to him that the University is not another collateral institution, some ulterior counterpart to the colleges, laboratories and offices which he has seen. The University is just the way in which all that he has already seen is organized. When they are seen and when their co-ordination is understood, the University has been seen.» (Cf. Ryle, 1949: 11-24; citado de Rosenthal, 1991: 53)
117 Para uma definição – «analytic (or logical) behaviourism: statements
containing mental vocabulary can be analysed into statements containing just the vocabulary of physical behaviour.» (Byrne, 1994:134)
170
comportamento?”. Por outro lado, há uma evidente circularidade nos
enunciados condicionais contrafactuais que definem os estados mentais,
pois envolvem sempre referências a outros estados mentais que só se
deixam, por sua vez, definir através daqueles.118. Finalmente, ao rejeitar
os estados internos, esta versão do behaviourismo levanta uma objecção
bastante trivial – não ficaremos assim irremediavelmente constrangidos à
condição de “zombies”?
Como reacção ao behaviourismo, surgiram as denominadas teorias
da identidade tipo/tipo que, no essencial, defendem a tese de que cada
tipo de estado mental se identifica com um certo tipo de acontecimento
cerebral. Por exemplo, a dor identificar-se-ia com uma activação das
fibras C119. Sucede, porém, que tais identificações denunciavam o que se
tornou habitual chamar, espirituosamente, um certo chauvinismo. Com
isto, quis-se mostrar que a haver identidade seria apenas entre exemplares
(tokens), por exemplo entre um exemplar de dor – esta dor em particular
que sinto agora – e um exemplar de activação das fibras C – esta que é
dada a observar no cérebro no presente momento. Naturalmente, outras
espécies animais, outros seres, mesmo com uma constituição material
muito distinta dos seres humanos, não têm por isso de deixar de sentir
dor. Assim, a identidade tipo/tipo fracassa, sobretudo pelo que se poderia
considerar uma reacção excessiva face à pouca atenção que o
behaviourismo dedicava ao cérebro humano. Aquilo em que o
behaviourismo pecou por défice, as teorias da identidade tipo/tipo
pecaram por excesso.120
118 John Searle explicita claramente esta circularidade – «There seemed to be a
problem about a certain form of circularity in the analysis: to give an analysis of belief in terms of behavior, it seems that one has to make reference to desire; to give an analysis of desire, it seems that one has to make reference to belief.»(Searle, 1992:53).
119 É sabido que o correlato neural da dor não se encontra exactamente na
estimulação das fibras C. Em todo o caso, para efeitos de argumentação filosófica, tem-se tomado esta correlação como exemplo, pois não é muito relevante saber exactamente qual a correlação em jogo quando o que está em causa é a própria ideia de haver uma correlação.
120 Outra importante objecção às identidades tipo/tipo foi desenvolvida por
Donald Davidson (Davidson, 1970: «Mental Events» in Essays on Action and Events. Oxford: Oxford University Press, 1980.) no que é hoje conhecido como tese do monismo anómalo. Em “Mental Events”, sem obstar a uma posição materialista monista pela qual se identifiquem ocorrências mentais com ocorrências físicas, Davidson
171
A crítica às identidades tipo/tipo, ao explicitar a ideia de que um
mesmo tipo de estado mental pode ser realizado em distintos suportes
materiais, ao consagrar a própria distinção entre tipo e exemplar,
permitindo assim uma investigação relativamente autónoma dos tipos de
estados mentais, conduziu à formulação do programa genericamente
designado como funcionalismo.
Diversamente do behaviourismo lógico, o funcionalismo não
recusa, nem sequer evita como a versão metodológica do behaviourismo,
considerar os estados mentais estados internos, o que elimina, de uma
assentada, as objecções de circularidade, de ausência de causalidade
restringe-a ao nível dos exemplares (esta ocorrência mental particular de uma certa impressão nos meus dentes, por exemplo, com esta ocorrência física particular de uma certa activação de fibras na região apropriada do meu córtex cerebral), isto é, rejeita que seja válida uma tal identificação ao nível dos tipos. Muito esquematicamente, o ponto de Davidson consiste em mostrar que não é possível obter leis psico-físicas que regulassem relações causais entre tipos de estados mentais – por exemplo, a dor em geral – e tipos de estados neurológicos – por exemplo, a activação de certas fibras; e que tal impossibilidade remontaria, primeiramente, a uma outra impossibilidade, a saber, a de formular leis psicológicas. A razão por que não é possível, segundo Davidson, formular leis psicológicas prende-se com a imponderabilidade, no plano mental, dos “efeitos” que se seguiriam das “causas” – o facto de em dada ocasião um dado evento mental originar outro evento mental não determina que noutras ocasiões a mesma sequência de eventos mentais se verifique. Donde, não ser possível formular leis psicológicas, pelo menos num sentido próximo àquele com que falamos de leis estritas a propósito das leis físicas, leis que correlacionam causalmente tipos. Mais rigorosamente, entre ocorrências descritas em termos mentais não é possível formular leis estritas, i. e, leis que não careçam de pronto de cláusulas ceteris paribus e que tenham um efectivo poder preditivo. E não sendo possível uma tal formulação de leis psicológicas à semelhança das leis físicas, então, como consequência, afirma Davidson, não será menos impossível estabelecer, no plano físico, uma legalidade concordante com a mudança de estado no plano mental. Logo, conclui, não é possível formular leis psico-físicas, i.e, leis ponte entre tipos de estados físicos e tipos de estados mentais.
Note-se, pois, que é o reconhecimento do carácter anómalo da sucessão de estados mentais – entenda-se anomalia face a uma sua interpretação nomológica, i.e, que se deixasse exprimir sob a forma de leis no sentido estrito – o passo crucial do argumento de Davidson. É a partir dele que se enjeitam as tentativas de obtenção quer de leis psicológicas quer de leis psico-físicas.
O monismo e o materialismo são, pese embora, salvaguardados: como, em tese, segundo Davidson, ao nível exemplar-exemplar (token-token) estados mentais e estados físicos se identificam – se aqueles podem estar numa relação causal com estes é porque podem ser descritos em termos físicos –, então a expressão nomológica das relações causais entre exemplares de estados físicos é também adequada aos exemplares de estados mentais, sucedendo, simplesmente, que estes não deverão ser descritos noutros termos que não físicos. Aqui, a pressuposição é que as ocorrências concretas não se dizem, primariamente, mentais ou físicas; as descrições que delas damos é que se dizem mentais ou físicas.
A principal dificuldade que o argumento de Davidson tem enfrentado, e sobretudo através das objecções de J. Kim, é a de que dele se seguiria um corolário obviamente epifenomenalista. Para uma discussão actualizada desta ameaça epifenomenalista, cf. Teixeira, Célia, “O Monismo Anómalo de Donald Davidson e a Ameaça Epifenomenista” (www.librairie.hpg.ig.com.br/LB-CeliaTeixeira03.htm).
172
mental e, naturalmente, de imprecisão da noção de ‘disposição para o
comportamento’. Mas se devolve o carácter interno aos estados mentais,
fá-lo sem perder de vista a rejeição behaviourista de que os estados
mentais sejam entidades semelhantes, mesmo apenas análogas, aos
objectos materiais. Preserva-se assim a herança de Ryle. Por outro lado,
preserva-se também a importância epistémica do comportamento como
parte crucial de uma teoria da mente.
A ideia básica do funcionalismo é bastante simples: os estados
mentais podem ser definidos pela sua função e não por aquilo de que são
feitos121. E se assim for, então os estados mentais dir-se-ão multiplamente
realizáveis no sentido em que a mesma função pode ser obtida a partir de
suportes materiais diversos. Por exemplo, a moeda não deixará de ser
moeda pelo facto de fazermos variar o suporte material de que é feita.
Seja ela metálica, de papel, de plástico será sempre moeda se a sua
função for a de ser moeda, isto é, um valor através do qual se possam
realizar transacções de bens. Qualquer objecto que desempenhe essa
função, será moeda, desde as conchinhas às moedas de cobre, bronze,
ouro, etc.
Obviamente isto não significa que o suporte material não tenha
interesse do ponto de vista de uma abordagem funcionalista. Com efeito,
é necessário que o suporte obedeça a uma certa configuração que lhe
permita realizar a função. O que se diz é que essa configuração pode ser
instanciada de múltiplas maneiras; não que possa ser instanciada de
qualquer maneira. Por exemplo, não é possível que uma porção de água
líquida ou de oxigénio gasoso possa realizar a função de ser moeda se
tais porções não puderem ser quantificadas e, sobretudo, não puderem ser
facilmente manuseadas. Outro exemplo: a raridade física do objecto é
outra condição do seu valor – quanto menos disponível for um objecto
que desempenha o papel de moeda mais propícia será a sua valorização
em detrimento de outros que se encontram abundantemente.
121 The basic idea of functionalism is simple enough. Many things in the world
are what they are, not particularly by virtue of what they’re made of, but by virtue of what function, or role, they serve in some sort of system. (Rey, 1997: 165)
173
Posto isto, convém precisar as noções expendidas de função e de
realizabilidade múltipla. Primeiramente, há que notar que a propriedade
da realizabilidade múltipla não se encontra apenas nas funções e no facto
destas poderem, por princípio, ser multiplamente realizáveis. É facto que
atribuímos essa mesma propriedade a tipos naturais, sem que para isso
haja o concurso de aspectos funcionais. Por exemplo, o tipo natural
ressonância é realizado por suportes materiais diversos – ao fim e ao
cabo distinguimos entre ressonância electromagnética, ressonância
acústica, etc. Mesmo cada um destes subtipos é multiplamente realizado.
Basta pensar na imensa lista de instrumentos musicais que se distinguem
por terem caixas de ressonância com diferentes formas, diferentes
volumetrias, etc.
Se estes exemplos mostram que a realizabilidade múltipla não é
uma propriedade exclusiva das funções, mostram, já por outro lado, que
muitas das definições funcionais não são suficientemente definitórias.
Por exemplo, ao definirmos o que são violinos, meios violinos, violas,
violoncelos, contrabaixos, podemos fazê-lo funcionalmente, isto é, pela
sua função; mas nunca saberemos distinguí-los adequadamente se não
tivermos em atenção também aquilo de que são feitos e como são feitos,
com que forma, com que grandeza. Este hibridismo função/suporte
material que se verifica em muitas das definições que damos dos
objectos, sobretudo dos objectos que de alguma maneira nos servem nas
nossas práticas122, não deve ser confundido com a definição de funções
como a de moeda, cuja natureza é, per se, funcional. Não é por as
definições funcionais de objectos (e mesmo de tipos) serem, em regra,
insuficientes que as funções propriamente ditas deixam de ser
completamente definíveis em termos funcionais.
O que é então uma função? Em termos gerais, uma função é uma
relação entre os termos de um sistema funcional, podendo ser
122 Por exemplo, uma cadeira não deixará de ser uma cadeira pelo facto de
fazermos variar o suporte material de que é feita, o tamanho, a forma, o número de pernas que possui. Seja ela metálica, de madeira ou de PVC, estofada ou não, grande ou pequena, das de quatro ou apenas de três pernas, será uma cadeira se a sua função for a de ser cadeira, isto é, servir para que uma pessoa se possa nela sentar de forma reclinada.
174
explicitamente caracterizada através das relações que mantém com os
restantes termos do sistema. Um exemplo muito frequente na bibliografia
específica permite ilustrar esta definição geral.
- Seja um sistema automático de venda de bilhetes que admite moedas
de 1€ e ½ €. E que emite bilhetes com preço único de 1€.
- A estrutura material da máquina de bilhetes deve incorporar pelo
menos dois estados internos, S1 e S2, de modo a desempenhar a sua
função:
i) Um estado S1 que se mantém em estado S1 e emite um bilhete
quando é introduzida uma moeda de 1€, e que passa a S2
sempre que é introduzida uma moeda de ½€.
ii) Um estado S2 que passa a estado S1 e emite um bilhete sempre
que é introduzida uma moeda, sucedendo que quando a moeda é
de 1€ dá de troco uma moeda de ½€.
Sistematizando, obtém-se o seguinte quadro:
Entradas Interior do sistema Saídas
1€ S1
S2
S1
S1
B
B, ½€
½€ S1
S2
S2
S1
B
Este sistema funcional pode ser alvo de complexificações
sucessivas. Para isso, basta que na máquina de moedas entrem moedas de
valor diferente, moedas de outras divisas, sejam admitidas formas
diversas de pagamento; e emitidos bilhetes diversificados, etc.
Naturalmente, com isto ter-se-á de multiplicar os estados internos do
sistema. Mas, enquanto o suporte material realizar bem as funções, não
há razões, senão práticas, para reconhecer, conceptualmente, um limite à
complexificação. Ora, esta multiplicidade de estados internos em relação
é definível. E é justamente nesta definibilidade, por princípio, dos estados
internos de um sistema que reside a vantagem face a uma abordagem
175
estritamente comportamentalista que trataria de negligenciar, se não
mesmo eliminar, esse lado interno do sistema.
Como definir, então, um estado interno S? É estar num dos estados
internos do sistema, estados que estão relacionados entre si e com as
entradas e saídas no sistema da determinada forma. Que forma? De
acordo com o exemplo anterior, S1 é estar no estado que, quando é dada
entrada uma moeda de ½€, passa ao estado S2, e que, quando é dada
entrada uma moeda de 1€, se mantém no mesmo estado emitindo um
bilhete. É claro que S é também um estado material que o construtor da
máquina saberá descrever do ponto de vista físico com toda a exactidão
exigível. Mas o ponto importante aqui é que a caracterização funcional
de S1 e S2 é, analogamente, tão rigorosa quanto aquela, no que se pode
exigir a uma descrição funcional. As duas abordagens são perfeitamente
congruentes; simplesmente, obedecem a propósitos distintos.
Isto significa que cada estado S admite duas descrições que os
definem rigorosamente, uma funcional outra material. Deste dupla
descrição não se segue uma duplicação de entidades; segue-se, isso sim,
uma duplicação de propriedades, as físicas e as funcionais. Mas isto só
vem demonstrar que nem todas as propriedades de um estado têm de ser
propriedades físicas, o que não significa que as propriedades não
materiais, no caso as funcionais, não possam ser reduzidas a propriedades
físicas.
*
Quando nos perguntámos pelo que era um estado interno, S, num
sistema funcional, afirmámos que consistia na relação determinada que
esse estado interno mantém, por um lado, com os restantes estados
internos do sistema e, por outro, com as entradas e saídas no sistema.
Nestes termos, do ponto de vista funcional, S tem uma natureza
meramente relacional. Pois bem, o que o funcionalismo da mente propõe
resume-se à consideração dos estados mentais como estados internos de
um sistema funcional, que deverão, assim, ser caracterizados através das
relações determinadas que mantêm, por um lado, com os restantes
176
estados mentais relevantes e, por outro, com as entradas de estímulos e as
saídas de comportamento no sistema. Por outras palavras, o
funcionalismo define, em geral, os estados mentais através dos seus
desempenhos causais a três níveis:
- O efeito de estados corporais em estados mentais – a retina, por
exemplo, recebe informação visual relativa a um certo animal que está
diante de mim, mudança de estado corporal que causa o estado mental da
percepção de um cão agressivo.
- O efeito que os estados mentais têm uns sobre os outros – a
percepção do cão agressivo causa em mim o receio de ser atacado, receio
que, por seu turno, desencadeia uma série causal entre estados mentais
diferenciados que me conduz a decidir trepar uma árvore.
- Finalmente, o efeito que os estados mentais têm, através de
expressões comportamentais do corpo, no mundo – o estado mental
‘devo trepar a árvore’ causa a deslocação do meu corpo em direcção à
árvore.
Deste modo, o modelo de entendimento funcional da mente pode
esquematizar-se da seguinte forma:
Levantam-se, porém, duas dificuldades técnicas: i) a
realizabilidade múltipla de uma função não é adquirida se o enunciado
que define um estado funcional não se desvincular da realização
particular em que ocorre; ii) por outro lado, contrariamente aos estados
internos do sistema funcional da máquina de bilhetes, quando se propõe
M1 M2 Estímulo Comportamento
Fig. 2
177
entender a mente como um sistema funcional, não é o caso de que se
disponha de um acesso directo aos seus estados internos. Ora, para
ultrapassar estes dois obstáculos, procede-se a uma análise funcional dos
estados internos – a ramsificação dos enunciados funcionais, ou seja, a
sua conversão em frases de Ramsey.
Seja uma teoria da mente T desenvolvida segundo a estratégia
funcionalista. De acordo com esta estratégia, T será composta por um
conjunto de enunciados que caracterizam expressamente os estados
mentais como estados funcionais, isto é, que os definem, de acordo com
o que vimos atrás, por meio das relações que mantêm quer com outros
estados mentais quer com as entradas de estímulos e saídas de
comportamento do sistema. Significa isto que num qualquer enunciado
de T ocorrem duas espécies de termos: ou termos mentais ou termos
relativos a entradas/saídas do sistema funcional. Ora, o que a
“ramsificação” do enunciado funcional determina é simplesmente a
substituição dos termos mentais que nele ocorrem por variáveis ligadas
através de quantificadores existenciais.
Desta forma, os enunciados de T deixam de conter qualquer
referência a estados mentais; ou, por outras palavras, a definição
funcional de um qualquer estado mental deixa de conter no seu definiens
referências a outros estados mentais. Assim, a dificuldade, atrás
apontada, de não ser possível aceder directamente aos estados mentais é
ultrapassada, pois, admitida a ramsificação, deixa de ser requerido o
acesso aos estados mentais propriamente ditos.
Por outro lado, proceder-se à ramsificação dos enunciados de T
significa proceder-se à formalização parcial de um estado funcional dado,
através de uma generalização existencial (substituindo os termos mentais
por variáveis ligadas). Justamente em virtude dessa generalização, a frase
de Ramsey obtida é multiplamente realizável – i.e, as múltiplas
realizações de um enunciado de T são estados funcionais “concretos”
como aquele que esteve na base da generalização; cada valor assumido
pelas variáveis corresponde a uma realização funcional de um enunciado
de T. Assim, a dificuldade associada à necessidade de exprimir a
178
característica multiplamente realizável dos sistemas funcionais fica
manifestamente ultrapassada.
Observe-se bem que ‘realizabilidade múltipla’ significa aqui um
mesmo estado funcional abstracto (cuja definição é dada por uma frase
de Ramsey) poder ser realizado por múltiplos estados funcionais
determinados; não significa que um mesmo estado funcional
determinado seja ou possa ser realizado por múltiplos suportes materiais.
Isto porque cada estado funcional determinado – i.e, cujos termos são
todos constantes e não variáveis ligadas – corresponde a um estado físico
igualmente determinado. Atente-se, pois, que só dissipando uma leitura
ambígua é aceitável afirmar que os estados funcionais são realizáveis por
múltiplos suportes materiais. Em tal afirmação, por estados funcionais
não se entende os estados funcionais determinados, mas aqueles em cujos
enunciados no lugar dos termos mentais ocorrem variáveis ligadas.
Exposta esta característica da realizabilidade múltipla como
característica dos sistemas funcionais, é bastante relevante dar conta de
algumas boas razões para a reconhecer na mente humana. Se bem que
indirectamente, seriam presumivelmente também razões para
desenvolver uma teoria da mente enquanto sistema funcional. Sob este
propósito, Frank Jackson expõe um conjunto de cinco razões deste tipo, a
saber:
- No estado actual do conhecimento, não sabemos determinar o que é
que realiza um estado mental;
- Conceptualmente, podemos imaginar seres fisiologicamente muito
distintos de nós, mas que, ainda assim, disponham de estados mentais
(Empregando a expressão célebre de Ned Block, não é razoável
permanecermos “chauvinistas” quanto à mente);
- Empiricamente, é possível verificar que o cérebro humano jovem é
dotado de considerável plasticidade, o que evidencia o facto de a
estrutura interna dos cérebros poder ser muito diversa;
- Empiricamente, é também hoje já um dado adquirido que uma parte
do cérebro humano pode realizar uma função que deixou de ser
realizada, em virtude de lesões de diversa natureza, por outra sua
parte.
179
- Finalmente, pelo menos conceptualmente, é possível substituir partes
do nosso cérebro por componentes artificiais (através de técnicas de
implante) que preservem uma função em risco.123
2. Objecções ao funcionalismo: Qualia versus funcionalismo
Do ponto de vista do funcionalismo, os estados qualitativos ou
qualia deverão poder ser inteiramente descritos como estados funcionais,
à semelhança de quaisquer outros estados mentais. Porque são estados
mentais, então, de acordo com o funcionalismo da mente, a sua
caracterização deverá ser funcional. A questão que se coloca é a de saber
se essa caracterização é suficiente. Se sim, então duplicados funcionais
disporão dos mesmos estados qualitativos. Ora, contra-exemplos como a
inversão do espectro apontam claramente no sentido de que duplicados
funcionais possam não dispor dos mesmos estados qualitativos, pelo que
a caracterização funcional destes estados não resulta suficiente para os
discriminar entre si.
Uma solução de compromisso procurará complementar o
funcionalismo com uma caracterização não funcional. É essa a posição
de Ned Block, para quem a discriminação entre estados qualitativos
envolve a descrição física do sistema material que os suporta. Significa
isto que duplicados físicos não podem estar na base de qualia diferentes,
já não sendo esse o caso em duplicados funcionais, para os quais a
inversão do espectro, por exemplo, parece ser uma possibilidade
incontornável. Isto não acarreta uma rejeição integral do funcionalismo.
Para Block, tratar-se-á apenas de «desistir do funcionalismo como uma
teoria da experiência (ou, ao menos, do seu aspecto qualitativo),
123 Cf Jackson e Braddon-Mitchell, 1996: 43-44.
180
preservando o funcionalismo como uma teoria do aspecto cognitivo da
mente.»124
Uma objecção a este tipo de solução tem sido formulada da
seguinte forma: se se afirma que os qualia não são caracterizáveis
funcionalmente, então ter-se-á de afirmar que são caracterizáveis
directamente pelo seu suporte material. Empregando a analogia
Software/Hardware, na caracterização dos estados mentais qualitativos,
ou seja, naqueles estados mentais que são experienciados apenas na 1.ª
pessoa, os qualia como a vivência da dor ou da cor, estariam
necessariamente em causa aspectos da ordem do Hardware. De acordo
com esta objecção, Ned Block comprometer-se-ia com a tese, por sinal
excessivamente forte, de que os qualia, contrariamente aos estados
funcionais, não seriam multiplamente realizáveis.125 Ou ainda, de que
incorreria, algo ironicamente, num “chauvinismo” a respeito dos
qualia.126
Contudo, esta objecção só teria relevância se o carácter
multiplamente realizável de um estado mental tivesse por condição
necessária esse estado mental ser um estado funcional. Ora, não é o caso
que assim seja. Se é certo que os duplicados físicos, de acordo com o
principio da autonomia psicológica de Stich e a tese da covariação de
Kim, terão de ter os mesmos estados mentais, sejam qualitativos ou não,
isso não se opõe, porém, à existência de estados mentais caracterizáveis
em termos funcionais. E sendo assim, então o único facto em jogo, em
argumentos como o da inversão do espectro, é o de os qualia não serem
estados funcionais à maneira dos estados não qualitativos, facto que não
124 «…To give up on functionalism as a theory of experience (or at least of its
qualitative aspect), retaining functionalism as a theory of the cognitive aspect of the mind.» (Block, 1990: 677)
125 Uma formulação desta objecção é dada por Stephen White – «Thus according
to physicalist-functionalism1[o de Ned Block, segundo o autor], functional states underdetermine qualitative states, and only further specification of the physical details of the way in which the functional states are realized would determine which, if any, qualitative states the subject occupies. Being a condition of neurons, as opposed to being a condition of silicon chips is, on this theory, very possibly part of the essence of pain» (White, 1986: 696)
126 Diz-se ‘ironicamente’ porque o termo é introduzido por Block na sua crítica à
teoria das identidades tipo-tipo.
181
implica, conceptualmente, que tenham de ser definidos exclusivamente
pela sua natureza material.
Aliás, empiricamente, há boas indicações de que diferentes
suportes materiais podem estar na base de idênticos estados mentais,
independentemente da possibilidade, ou não, de dar destes uma
caracterização exclusivamente funcional. O ponto aqui em foco é, pois,
como já se verificou atrás, que o dado de os estados mentais serem
multiplamente realizáveis não é um dado que deva ser, prima facie,
atribuído exclusivamente ao funcionalismo. Daí que a rejeição do
funcionalismo a respeito dos estados qualitativos não implique que estes
não sejam, ainda assim, multiplamente realizáveis. Então, de acordo com
a analogia Software/Hardware, não resulta nada óbvio que, de uma
eventual rejeição do funcionalismo, se siga necessariamente uma
caracterização dos qualia em termos de Hardware. Por exemplo, um
movimento ondulatório é multiplamente realizável sem que, no entanto, a
sua identificação seja feita em termos funcionais. A sua identificação é
feita não por um qualquer desempenho causal, mas através de uma
frequência (ou um comprimento de onda) e uma quantidade de energia.
Mais genericamente, a própria ideia de que haja fenómenos de
sobreveniência, sejam mentais ou não, envolve a possibilidade, como se
viu atrás127, de que os estados sobrevenientes sejam multiplamente
realizáveis, isto é, tenham por base estados subvenientes distintos. No
entanto, nada na tese de uma sobreveniência do mental com base no
neural se compromete a priori com o funcionalismo.
3. Searle versus funcionalismo: o argumento do quarto chinês
O argumento de John Searle assenta numa experiência de
pensamento. Suponha-se um quarto no qual alguém é colocado e aí
encontra uma caixa com caracteres chineses e uma espécie de guião,
escrito na sua Língua natural, que lhe fornece um conjunto de regras
127 Cf. nosso Cap. I.
182
através do qual consegue determinar como juntar caracteres chineses, sob
a presunção de que o sujeito da experiência é capaz de identificar os
caracteres da caixa e os do guião pela sua forma. Suponha-se, por outro
lado, que lhe é fornecido um segundo conjunto de regras, na sua Língua
natural, que lhe ensina com que conjunto de caracteres chineses deverá
responder a um conjunto de caracteres chineses, entendido como uma
questão, que lhe seja entregue por baixo da porta do quarto.128
A ideia da experiência resume-se a tentar mostrar que uma
adequada relação entre as entradas e saídas do quarto – feito equivaler a
um sistema – não tem de implicar qualquer compreensão ou conteúdo
semântico por parte do sujeito da experiência; nem por parte do guião ou
o que quer que seja identificável no sistema.129
128 O argumento do quarto chinês foi pela primeira vez exposto em “Minds,
Brains and Programs” nos seguintes termos – «Suppose that I’m locked in a room and given a large batch of Chinese writing. Suppose furthermore (as is indeed the case) that I know no Chinese, either written or spoken, and that I’m not even confident that I could recognize Chinese writing as Chinese writing distinct from, say, Japanese writing or meaningless squiggles. To me, Chinese writing is just so many meaningless squiggles. Now suppose further that after this first batch of Chinese writing I am given a second batch of Chinese script together with a set of rules for correlating the second batch with the first batch. The rules are in English, and I understand these rules as well as any other native speaker of English. They enable me to correlate one set of formal symbols with another set of formal symbols, and all that “formal” means here is that I can identify the symbols entirely by their shapes. Now suppose also that I am given a third batch of Chinese symbols together with some instructions, again in English, that enable me to correlate elements of this third batch with the first two batches, and these rules instruct me how to give back certain Chinese symbols with certain sorts of shapes in response to certain sorts of shapes given me in the third batch. Unknown to me, the people who are giving me all of these symbols call the first batch “a script”, they call the second batch a “story”, and they call the third batch “questions”. Furthermore, they call the symbols I give them back in response to the third batch “answers to the questions”, and the set of rules in English that they gave me, they call “the program”.» (Searle, 1980: 418 in Rosenthal, 1991: 510)
129 Encontra-se uma formulação resumida, bem como ligeiramente alterada, do
argumento em Searle, 1992: 45 – «I believe the best-known argument against strong AI was my Chinese room argument that showed that a system could instantiate a program so as to give a perfect simulation of some human cognitive capacity, such as the capacity to understand Chinese, even though that system had no understanding of Chinese whatever. Simply imagine that someone who understands no Chinese is locked in a room with a lot of Chinese symbols in the form of questions; the output of the system consists in Chinese symbols in answer to the questions. We might suppose that the program is so good that the answers to the questions are indistinguishable from those of a native Chinese speaker. But all the same, neither the person inside nor any other part of the system literally understands Chinese; and because the programmed computer has nothing that this system does not have, the programmed computer, qua computer, does not understand Chinese either. Because the program is purely formal or syntactical and because minds have mental or semantic contents, any attempt to produce a mind purely with computer programs leaves out the essential features of the mind.»
183
Ao fim e ao cabo, o sujeito da experiência procede apenas a
operações formais, “sintáticas”130, desprovidas de qualquer conteúdo
semântico. Comenta Searle em The Rediscovery of Mind – «o argumento
assenta na verdade lógica simples de que a sintaxe não é o mesmo que,
nem é, por si, suficiente para a semântica».131
São pelo menos três as objecções que nos últimos vinte anos se
levantaram contra a conclusão que Searle presumiu extrair da sua célebre
experiência de pensamento. Em primeiro lugar, de que não é ao sujeito
da experiência, nem ao guião por que este se segue, que se deverá
atribuir, ou não, conteúdo semântico, mas ao sistema na sua globalidade.
Em segundo lugar, objecta-se que a experiência falha
completamente o seu propósito, pois as operações formais que o sujeito
da experiência realiza não são evidentemente equivalentes às operações
formais que um autêntico falante realiza; e somente nos termos de uma
equivalência funcional entre umas e outras faria sentido verificar se há
conteúdo semântico no quarto chinês.132
Em terceiro lugar, para lá das objecções anteriores, há ainda uma
muito elementar – é que não é de todo razoável esperar que a experiência
de pensamento de Searle funcione bem. Ela nunca passaria um teste de
Turing.133
130 Em rigor, para Searle, tais operações formais nem sequer serão sintáticas. Vê-
lo-emos no nosso §32. 131 «The argument rests on the simple logical truth that syntax is not the same as,
nor is it by itself sufficient for, semantics.» (Searle, 1992: 200 (tr.:233)) 132 «The fact that the Chinese room and/or is occupant might put out Chinese
symbols to Chinese symbol inputs in a way indistinguishable from the behaviour of a normal Chinese speaker is entirely irrelevant to CRTT [i.e, Computational representational theory of thought]. The question for CRTT is rather: is what is happening inside the room functionally equivalent to what is happening inside a normal Chinese speaker?»(Rey, 1997: 271)
133 Para uma apresentação do Teste de Turing, cf. Formosinho & Branco, 1997:
193-194 – «Em qualquer circunstância, uma máquina só pode ser considerada inteligente se tiver capacidade de interaccionar de forma inteligente com o mundo exterior. Para Turing o critério último de inteligência é a capacidade de “diálogo” com pessoas. Consideremos uma pessoa que está a transmitir e a receber mensagens com recurso a um teclado e a um écran, para uma outra pessoa e para um computador, a funcionar em salas separadas. A pessoa vai tentar adivinhar em que sala está a outra pessoa ou o computador, mediante as perguntas que faz e as respostas que recebe. Turing considera um programa “inteligente” se, ao fim de muito tempo deste tipo de “diálogo”, a pessoa se considerar incapaz de adivinhar em que sala está o computador. Presentemente não há nenhum programa capaz de passar o “teste de Turing”.»
184
O Teste de Turing está hoje perfeitamente banalizado na
experiência de um qualquer utente de chats (“sítios” de conversação em
directo por intermédio de ligação à internet). É muito frequente, se não
mesmo o mais frequente, um utilizador de chat manter conversas,
presumivelmente tão interessantes quanto quaisquer outras, com um
interlocutor do qual só conhece as palavras que aparecem transcritas no
monitor do seu computador. Além disso, não será com certeza absurdo o
utilizador perguntar-se, a dado passo, se o seu interlocutor é de facto uma
pessoa. Com efeito, não é factualmente tão raro quanto isso verificar-se
que o interlocutor afinal já não é a mesma pessoa, ou seja, que sob o
mesmo nickname (uma espécie de pseudónimo) se escondem diversas
pessoas que se fazem passar por uma só, bem como o inverso – uma só
pessoa comparecer no chat sob diferentes personalidades assumidas, etc.
Mas tal como nestes casos, é também possível conceber uma
desconfiança acerca de um interlocutor, mas agora no sentido em que não
passe de um programa a computar respostas mais ou menos razoáveis aos
inputs que recebe. Na verdade, existem mesmo certos servidores que, de
certo modo, o fazem nos seus chats, embora de um modo tão rudimentar
que basta um minuto de conversação para que o teste de Turing funcione.
Simplesmente, qualquer utilizador de chat tem uma noção mais ou menos
clara de que poderia estar de facto a conversar apenas com uma máquina,
que tal poderia suceder sem que pudesse provar o contrário, que tal é
perfeitamente concebível. Dito ainda de outro modo, há uma razoável
impressão de que não se dispõe de um critério suficiente para certificar
que os interlocutores de um chat não são de facto um programa. Com
efeito, o programa pode recorrer a uma memória de conversação de chats
imensa, pode dispor de formas de reconhecimento de outras conversas
semelhantes já ocorridas ou em decurso, estabelecer temas e subtemas até
a um pormenor ínfimo, pode também estabelecer graus de conhecimento
e ignorância de acordo com o perfil do carácter assumido, pode assumi-lo
de acordo com uma tabela bastante fina de sucesso de conversação em
virtude do interlocutor, pode adoptar tons de discurso distintos, pode
185
dispor de rotinas de coerência para evitar a contradição sobre matérias de
facto acerca da sua biografia e dos seus, pode cometer erros sob um certo
regime de controlo, desencadear processos afectivos com maior ou
menor complexidade, interpretar o discurso do seu interlocutor, fazer-se
seu psicanalista, seu confessor, seu amigo, seu amante, etc.. Em suma, a
questão que se coloca já não é tanto o que pode ser (ou simular, se se
preferir) um programa que computa o papel de interlocutor de uma
conversa, mas o que não pode ser. E aí não parece que o comportamento
manifesto possa alguma vez servir de critério suficiente.
Por outro lado, não é difícil reformular a experiência do quarto
chinês na experiência do chat. Suponha-se que o programa que computa
as respostas está instalado num Hardware desligado daquele que envia as
respostas ao interlocutor humano, pelo que, para que se efectue a
conversação, tenha de haver alguém, um funcionário nos escritórios do
servidor, que, deslocando as mãos do teclado de um computador para o
outro, vá reproduzindo as respostas e as perguntas. Para se ter
reconstruída a experiência de Searle, basta acrescentar a condição de que
o funcionário com a ingrata função de copiar a conversação sem nela
poder participar desconhece por completo a Língua em que a conversa se
realiza. Suponhamos que é Chinês.
A primeira importante observação a fazer é a de que nesta
experiência fica bastante claro que a figura do funcionário é de todo
irrelevante para o problema. Não é dele que se espera uma compreensão
das respostas e perguntas que vão surgindo; o seu desempenho é, aliás,
praticamente maquinal. Exactamente do mesmo modo, na experiência do
quarto chinês, não é do sujeito enclausurado no quarto que se espera que
venha a adquirir alguma compreensão das respostas e perguntas com que
se depara; mais uma vez, o seu desempenho é, praticamente, maquinal.
Se se espera uma compreensão na experiência que propomos será uma
compreensão por parte do programa que computa respostas, pois é ele, e
só ele, o interlocutor da conversa. Identicamente, no quarto chinês, o
interlocutor enclausurado não é a pessoa que lá está, aliás perfeitamente
dispensável, mas o guião que indica como responder às perguntas que
chegam ao quarto. Porquê? Porque é ao programa e apenas a ele que cabe
186
as tarefas de “reconhecer” as entradas em Chinês, de “interpretar” o que
nelas é dito, de lhes “responder” apropriadamente. Não é, pois, do
sistema qua sistema, na sua globalidade, que se poderia esperar alguma
compreensão, pois não é a ele que cabem as tarefas associadas à
compreensão.
A segunda observação a fazer é a de que com a reformulação que
propomos fica bem mais patente o bom funcionamento do argumento do
quarto chinês. Nada o impede, por princípio, de passar o teste de Turing.
Por fim, o facto de as operações formais não serem as mesmas no
caso de um autêntico falante de Chinês e no caso de um programa de
respostas em Chinês a perguntas em Chinês não só é irrelevante, como só
vem apoiar o ponto de Searle. Com efeito, se operações formais distintas
podem resultar no mesmo comportamento funcional, com a diferença de
umas serem acompanhadas de compreensão e outras não, então não é o
caso que a compreensão possa ser definida pelo comportamento
funcional, falta qualquer coisa.
Desta forma, ficam bloqueadas as três objecções atrás apontadas.
Ainda assim, perguntamos, estaremos obrigados a considerar que estes
interlocutores artificiais não chegam a realizar qualquer compreensão de
Chinês?
Note-se que Searle não pretende demonstrar que todo e qualquer
dispositivo artificial não é capaz de compreensão pelo facto de ser
artificial. Searle assume explicitamente a ideia de que são os processos
cerebrais que determinam os estados mentais conscientes, pelo que a
compreensão genuína de um estado mental deve poder ser determinada
por um cérebro artificial. Searle pretende, tão-só demonstrar que a
concepção de que ter uma mente equivale a ter um programa, tese do
funcionalismo do Software, ou ainda, da IA-forte, é uma concepção
errada.
O que está em jogo, para Searle, é, pois, a decisão entre duas vias
de investigação para explicar a mente. Uma que presume ser possível
explicar o que é da ordem do mental através do comportamento, dos
desempenhos causais, da computação, menosprezando o suporte
material; outra, que procura explicar o mesmo através do suporte
187
material, menosprezando os aspectos funcionais e computacionais. E
entre as duas vias, Searle opta pela segunda.
Agora, devemo-nos colocar a seguinte pergunta – Como pode
Searle saber que o computador do quarto chinês não possui compreensão,
como pode ele certificar-se disso? Em todo o caso, haja ou não
compreensão, ela só se revelaria na primeira pessoa. Se Searle não expõe
nenhum critério positivo para certificar a existência de compreensão,
então sem que este seja satisfeito, o facto de a compreensão não se
revelar na perspectiva da terceira pessoa mostra-se irrelevante.
É claro que o argumento do quarto chinês assenta na certeza de que
um tal critério de compreensão, mesmo não se sabendo ao certo qual,
apenas supondo a sua existência, não é satisfeito pelas condições que se
encontram na experiência formulada por Searle. Com efeito, resulta
razoavelmente óbvio o facto de que uma pessoa que não compreenda
Chinês não passará a compreender Chinês só por manusear um guião de
respostas a perguntas; resulta igualmente óbvio que tal guião nunca
poderia ser considerado capaz de compreensão de espécie alguma. Seria
o mesmo que presumir que um manual de Fisica, por ser de Fisica,
compreendesse os enunciados que traz impressos nas suas páginas!
Mesmo o sistema, enquanto integração de todos os elementos da
experiência – a pessoa enclausurada no quarto, o guião, as regras para
usar este –, não revela qualquer compreensão. Assim, mesmo não
sabendo qual o critério para a compreensão, sabemos, com toda a certeza,
que não é satisfeito na experiência do quarto chinês. É este o engenho da
formulação inicial de Searle.
Contudo, quando se pensa num programa de um computador – por
exemplo, na reformulação do argumento que propusemos, mas também
na que se encontra em Searle, 1992 – há pequenas diferenças que
poderão, a nosso ver, constituir grandes diferenças. Repare-se que
substituindo o guião e as suas regras de uso pelo computador estamos, na
verdade, a transferir algum do trabalho do sujeito enclausurado para o
computador. O “reconhecimento” das questões, dos caracteres chineses
nelas impressos, da correlação entre eles, passa a ser uma tarefa própria
ao computador. Por outro lado, se o guião era simplesmente manuseado,
188
o computador funciona como um sistema integrado que processa
informação. O programa que corre no computador não é redutível a um
guião, nem sequer à consideração conjunta do guião, das regras e do
sujeito. Chegam estas diferenças a fazer diferença?
Julgamos que sim, porque vêm obscurecer a evidência com que o
argumento expunha a não satisfação de um critério para a compreensão.
Com efeito, agora, já não há algo que possamos dizer, de forma
inequívoca, não ser capaz de compreensão. E se Searle afirma que o
argumento assenta na ideia de que nenhuma sintaxe gera semântica, só
podemos concluir que argumenta circularmente, pois é justamente isto
que se intenta demonstrar.
Searle replicará que o computador nada vem acrescentar, do ponto
de vista funcional, às operações entre um sujeito e um guião. Assim, a
experiência do quarto chinês, ao estabelecer as relações entre um sujeito,
um guião e um conjunto de regras, representaria uma ilustração das
partes envolvidas no funcionamento de um computador, enquanto
sistema integrado, mas que mais não poderia ser do que uma máquina
que realiza operações de acordo com um guião.
Só que um computador pode fazer muito mais: pode “aprender”
(entre aspas porque poderá não ser uma aprendizagem genuína),
reformulando o guião; pode “reflectir”, procedendo ao desdobramento de
níveis no guião; pode “inferir”, gerando respostas que não estão no
guião134. A razão por que não pode ser consciente, por que não podemos
deixar cair as aspas, essa é que não é dada por Searle, pelo que ficamos
sem saber se, de facto, não chega mesmo a compreender.
Esta dúvida torna-se particularmente pertinente se atentarmos no
facto de um computador proceder a todo um conjunto de operações que
estão também implicadas numa compreensão genuína:
“reconhecimento”, “aprendizagem”, “reflexão”, “inferência”,
simplesmente sem que possamos afirmar peremptoriamente que haja
compreensão genuína, pelo que devemos manter todas essas operações
sobre a neutralidade de umas aspas. A dúvida torna-se pertinente porque,
134 Vimos como todas estas operações podem ser concebidas artificialmente na
nosso Cap. II.
189
assim, como esta reprodução de operações implicadas na compreensão
dita genuína, se obtêm algumas boas razões para que se estenda a dúvida
a esta mesma compreensão que presumimos genuína nas mentes
humanas.
Dito de outro modo, até se pode concordar com Searle neste ponto
– a sintaxe não gera semântica – , mas para concluir um ponto oposto ao
que Searle julga poder concluir, a saber, que nunca há realmente uma
semântica e uma compreensão genuínas. Isto, porque é pacífico que a
sintaxe pode gerar uma “semântica” e uma “compreensão” entre aspas.
Com efeito, é perfeitamente concebível que um computador responda, à
maneira de Dennett, como se compreendesse. Pelo menos
informativamente, as relações sintácticas podem exprimir as relações
semânticas. O próprio Searle o reconhece135.
Note-se que não se trata aqui de imitar o comportamento associado
a uma compreensão genuína; trata-se, antes, de obter esse mesmo
comportamento, de facto duplicado ou espelhado, e porque,
processualmente, decorre de operações internas como o reconhecimento,
a aprendizagem, a reflexão, a inferência, as quais, sucede, mas apenas
circunstancialmente, serem imitadas. Portanto, se a simulação sucede a
montante do comportamento manifesto, então, este comportamento,
enquanto resultado dessas operações, não resulta, a jusante, propriamente
por simulação do comportamento, mas com o mesmo efeito das mesmas
operações, estas simuladas, aquele não. Aliás, uma boa forma de testar se
a simulação das operações é a correcta consiste em verificar se delas
decorrem os mesmos comportamentos. Ora, nestes termos deixa de ser
claro que a compreensão dita genuina nas mentes humanas seja apenas
simulada nos computadores.
Julgamos, pois, que estas razões vêm comprometer fortemente os
objectivos do argumento do quarto chinês. É certo que não demonstram
que os computadores chegam a compreender alguma coisa – também
aqui continua a faltar a satisfação de um critério para a compreensão –,
135 «Within certain well-known limits the semantic relations between
propositions can be entirely mirrored by the syntactic relations between the sentences that express those propositions.» (Searle, 1992: 203)
190
mas julgamos que demonstram, pelo menos, que não é óbvio que os
computadores não compreendam coisa alguma, mais em particular, que
não compreendam no mesmo sentido em que nós, dotados de mentes
humanas, julgamos compreender. E esse era o ponto de Searle.
4. Searle versus IA -forte: Argumento contra a existência de relações
sintácticas no mundo físico
Talvez em virtude de estas dificuldades, Searle tenha sentido
necessidade de fortalecer o seu ponto de vista através do recurso a um
segundo argumento em A Redescoberta da Mente (The Rediscovery of
the Mind).136 O ponto a demonstrar, agora, é que as relações no quarto
chinês, como quaisquer relações intrínsecas ao mundo físico, não são
sequer, nem podem ser, relações sintácticas. Já não se trata de afirmar
que a sintaxe não gera semântica; mas, mais basicamente, que não há
sintaxe descritível fisicamente. Isto, porque, nos termos de Searle, «o
problema verdadeiramente profundo é que a sintaxe é essencialmente
uma noção relativa a um observador»137. Assim, contra a ideia de que
num nível de abstracção adequado se obtém uma descrição lógico-
sintáctica de um sistema, que apesar de abstracta lhe é intrínseca, Searle
afirma que tal descrição depende de uma atribuição exterior, por parte de
um observador.
Perguntar-se-á: como conclui Searle isto?
Para alcançar esta conclusão, Searle começa por clarificar o sentido
com que se fala de realizabilidade múltipla a propósito do funcionalismo
do computador. Enquanto os carburadores e os termóstatos – exemplos
136 «This is a different argument from the Chinese room argument, and I should have seen it ten years ago, but I did not. The Chinese room argument showed that semantics is not intrinsic to syntax. I am now making the separate and different point that ssyntax is not intrinsic to physics. For the purposes of the original argument, I was simply assuming that the synctatical characterization of the computer was unproblematic. But that is a mistake.» (Searle, 1992: 210)
137 «The really deep problem is that syntax is essentially an observer-relative
notion.» (Searle, 1992: 209 (tr: 243))
191
do autor – são multiplamente realizáveis em função da produção de
certos efeitos físicos, pelo que estão condicionados pela natureza física
dos materiais que os compõem (por exemplo, sabemos que não podemos
fazer carburadores a partir de pombos), já a realizabilidade múltipla que
se invoca a respeito dos estados computacionais nada tem que ver com o
que quer que releve da natureza física, a não ser a posse de uma
complexidade razoável, mas tão só de propriedades sintácticas.
Ora, segundo Searle, isto implica duas consequências. Por um lado,
que é sempre possível dar de um qualquer objecto uma descrição de tal
modo que, sob essa descrição, esse objecto será um computador digital.
Por outro lado, que é sempre possível para um qualquer programa e para
um qualquer objecto, desde que suficientemente complexo, dar deste uma
descrição tal que esteja a implementar aquele programa.138
Significa isto que afirmar que os nossos cérebros sejam Hardware
é algo trivialmente aceite por Searle pois qualquer objecto pode ser assim
interpretado. Significa ainda que afirmar que os nossos cérebros são o
Hardware onde corre o programa “mente” é algo pouco ou nada
relevante, pois em qualquer objecto dotado de razoável complexidade,
como é o caso do cérebro, pode correr tal programa (caso exista).
Searle acentua este contraste entre a realizabilidade múltipla no
funcionalismo do computador e a que se verifica nos carburadores e nos
termóstatos, rebaptizando aquela como uma realizabilidade universal, o
que já não seria admissível no caso em que apenas estejam em causa
fenómenos físicos. Nestes termos, resulta que se há um facto real na
física que faça com que algo seja um carburador, já não se pode dizer que
haja «um facto da matéria em relação aos cérebros que faça deles
computadores digitais»139. Nem poderia haver – mesmo que
138 «On the standard textbook definition of computation, it is hard to see how to
avoid the following results: 1. For any object there is some description of that object such that under that
description the object is a digital computer. 2. For any program and for any sufficiently enough complex object, there is
ssome description of the object under which it is implementing the program.» (Searle, 1992: 208)
139 «…A fact of the matter about brains that would make them digital
computers.» (Searle, 1992: 208 (tr.:242))
192
restringíssemos a noção de computação de tal forma que já não fosse
universalmente realizável – , pois se os assumimos como computadores
digitais é justamente apenas em virtude de uma interpretação extrínseca à
descrição física do sistema, uma mera atribuição que é feita aos
processos cerebrais.
Donde, Searle concluir, genericamente, que «noções como
computação, algoritmo e programa não nomeiam características
intrinsecamente físicas dos sistemas. Os estados computacionais não são
descobertos dentro da física, são atribuídos à física.»140
Admitindo o argumento de Searle em geral e esta conclusão em
particular, poder-se-á considerar que o programa forte da IA se encontra
refutado? Não poderá tal programa assumir como sua premissa a
conclusão de Searle? Mais em particular: não poderá assumir que a
identificação do par cérebro/mente com o par Hardware/Software resulta
de uma atribuição? Julgamos que sim. Contudo, não basta isso para
impedir a refutação. Searle faz seguir desse carácter extrínseco,
meramente atribuído, da computação uma espécie de irrelevância
epistémica. Tal qual o cérebro, que pode efectivamente ser o Hardware
onde corre o programa “mente”, também qualquer outro objecto, desde
que seja dotado de uma complexidade equivalente, o poderá ser. Assim,
para que a IA-forte, ou o funcionalismo do computador, sejam
sustentáveis é preciso que demonstrem a relevância epistémica da
atribuição computacional ao cérebro, ou seja, que demonstrem a
existência de uma especificidade que impeça a equivalência entre essa
atribuição e uma qualquer outra atribuição a um qualquer outro objecto.
Se se obtiver um tal resultado, então Searle não terá, de facto, refutado as
pretensões da IA-forte.
Ora, essa relevância epistémica deixa-se escrutinar por um simples
critério, a saber, o poder explicativo da atribuição. Sob a forma de uma
pergunta, temos então que responder ao seguinte: pensar o cérebro como
o Hardware onde corre o programa “mente” explica o comportamento
140 «Notions such as computation, algorithm, and program do not name intrinsic physical features of systems. Computational states are not discovered within the physics, they are assigned to the physics.» (Searle, 1992: 210 (tr.: 243-244))
193
deste último de algum modo que possamos considerar satisfatório,
designadamente mais satisfatório que descrições computacionais de
outras entidades com complexidade equivalente ao cérebro?
Searle defende que não pode haver qualquer coisa como um poder
causal na sintaxe, pois ela não existe realmente a não ser aos olhos do
observador141; consequentemente, nenhuma explicação causal pode ser
dada por propriedades sintácticas que se atribuam ao cérebro. Tais
propriedades simplesmente não têm eficácia física porque não são físicas.
Neste ponto, porém, é facil opor à posição de Searle dois factos. Por um
lado, o comportamento dos computadores é explicável e, embora possa
ser explicado em termos físicos (afinal, não passa de um circuito
electrónico), pode também ser explicado sintacticamente. Por outro lado,
preferimos em regra a explicação sintáctica à explicação física do
comportamento do computador. Com efeito, a explicação do facto de a
uma dada entrada corresponder uma dada saída no computador é
cabalmente dada pelas operações sintácticas que ele realiza, sendo, em
regra, desnecessário descer ao nível da descrição física dessas operações.
Onde está, então, o erro na argumentação de Searle? Tão-só no facto de
Searle ter pressuposto que os poderes causais da sintaxe se deveriam
reportar a efeitos físicos. Obviamente, não é o caso. Os efeitos causais da
sintaxe, os outputs digamos, são também eles identificados
independentemente do facto de serem assim ou de outra forma do ponto
de vista físico. Aqui, neste ponto em particular, o paralelo com a
sobreveniência é elucidativo: as propriedades moleculares de um sistema
explicam causalmente fenómenos moleculares, não explicam os
fenómenos subatómicos subjacentes e explicam o que explicam mesmo
que nada se saiba destes.
Searle prossegue, porém, o seu esforço argumentativo ainda por
uma outra via, a saber, recusando a ideia de que uma simulação por
computador do funcionamento da mente, designadamente de aspectos
141 «The implemented program has no causal powers other than those of the
implementing medium because the program has no real existence, no ontology, beyond that of the implementing medium. Physically speaking, there is no such thing as a separate “program level”.» (Searle, 1992: 215)
194
como o pensamento ou a linguagem, possa explicar esse funcionamento.
Em termos gerais, afirma Searle, as simulações computacionais não
fornecem explicações causais dos fenómenos simulados142. Por exemplo,
o facto de um processador de texto simular uma máquina de escrever não
faz, de forma alguma, com que privilegiemos aquele como explicação
para o funcionamento desta, muito menos como explicação causal143. Por
que razão haveríamos de conceder às simulações computacionais um
poder explicativo especial?
Esta pergunta pode ser interpretada como uma reformulação da
pergunta, atrás enunciada, sobre a necessidade de indicar um critério de
relevância epistémica, designadamente do cérebro qua Hardware
enquanto explicação causal da mente qua Software. Com efeito, se uma
simulação computacional da mente for capaz de explicar o seu
comportamento, então, por maioria de razão, a interpretação do cérebro
como se fosse um computador digital adquire toda a relevância
epistémica necessária para caucionar o programa da IA-forte.
Existirá uma resposta positiva à exigência de um critério de
relevância epistémica? A nosso ver, sim. Procuremos demonstrar porquê.
Vimos que, para Searle, o facto de um processador digital de texto
simular o funcionamento de uma máquina de escrever, e o facto
epistémico de essa simulação não explicar, se não num nível de
abstracção excessivamente abstracto e pobre, o funcionamento da
máquina de escrever, exemplificaria bem por que razão uma simulação
computacional do funcionamento dos nossos cérebros fica muitíssimo
aquém do que se esperaria de um autêntico explanans.
No entanto, também vimos atrás, na nossa crítica ao argumento do
quarto chinês, que as simulações tanto se podem localizar ao nível do
142 «It is simply not the case in general that computational simulations provide
causal explanations of the phenomena simulated.» (Searle, 1992: 218) 143 «I am for example typing these words on a machine that simulates the
behavior of an old-fashioned mechanical typewriter. As simulations go, the word processing program simulates a typewriter bettter than any AI program I know of simulates the brain. But no sane person thinks: “At long last we understand how typewriters work, they are implementations of word processing programs.”» (Searle, 1992: 218)
195
comportamento manifesto como, mais ou menos a montante disso, nas
operações que causam esse comportamento. Vimos que simulações a
montante podem causar o mesmo comportamento e que esse
comportamento já não se pode dizer, em rigor, simulado ou imitado – ele
resulta o mesmo porque resulta das mesmas operações e não porque
tenha sido simulado. Ora, posto isto, não é preciso pôr em risco a
sanidade do nosso juízo, como parece sugerir Searle, se afirmarmos que
uma simulação computacional das operações a montante de um dado
comportamento explica causalmente esse comportamento enquanto
decorre causalmente das operações simuladas. Analogicamente, não
sucede que sempre que encontramos um mesmo fenómeno realizado em
circunstâncias distintas, o mais natural é procurarmos encontrar, num
nível de descrição adequado, uma mesma explicação causal para esse
fenómeno? É claro que podemos não encontrar tal explicação causal;
sabemos que ela deva situar-se a montante, num plano que possa ser
considerado determinante do fenómeno. Mas se a encontrarmos, e se a
reproduzirmos alcançando assim o fenómeno, não estaremos a dar uma
explicação causal deste? Não é isso que se faz nos laboratórios quando se
reproduz – se simula! – o conjunto das condições que originam um
fenómeno que se deseja explicar? Ora, levando a sério a analogia, o que a
IA-forte precisa de fazer para responder positivamente ao critério da
relevância epistémica é exactamente o mesmo que qualquer químico faz
no seu laboratório, a saber, simular as operações que uma mente realiza e
esperar que da simulação resulte o mesmo comportamento manifesto.
Conseguindo-o, tal simulação vale, com toda a propriedade, como uma
explicação do comportamento mental.
Com isto, julgamos rebater o argumento de Searle – temos que, por
princípio, nada obsta a que uma simulação computacional explique
causalmente um fenómeno simulado. O ponto sensível reside em
deslocar a simulação para o nível das causas, não a deixando ficar no
nível dos efeitos. Dito de outro modo: deixando que os efeitos sejam
também efeitos numa simulação.
Não obstante, falta ainda demonstrar que o que a IA-forte faz é
simular causas e não simular efeitos. Com efeito, uma coisa é afirmar que
196
o pode fazer, que por princípio nada obsta a tal; outra, bem diferente, é
mostrar que o faz, e como o faz.
Para isso, argumentaremos da seguinte forma: se admitirmos que
parte significativa das nossas vidas mentais consiste em realizar
operações algorítmicas pelas quais de certas crenças e desejos se inferem
outras crenças e desejos – chamemos a isto ‘pensar’ –, então devemos
reconhecer que parte significativa das nossas vidas mentais pode ser
sujeita a uma descrição computacional ao nível de operações.
Por exemplo, creio que 2+2=4 porque realizo certa operação,
descritível em termos estritamente lógico-sintácticos, a que chamamos
‘soma’. Quem define a soma nesses termos pode também definir a
multiplicação, a exponenciação nesses termos. Replicar-se-á que essas
operações são formais. Seja. Mas quando afirmo ‘creio que amanhã
estará um bom dia’, ‘desejava simpatizar com aquela pessoa’, ‘creio que
fizeste mal ao proceder assim’, etc., que mais estamos a fazer que a
processar crenças e desejos de acordo com certas operações
algorítmicas? Ao perguntarmos por que cremos no que cremos, porque
desejamos o que desejamos, respondemos, em regra, com outras crenças
e desejos é certo, mas apenas porque aquelas se seguem destas sob
alguma operação descritível em termos estritamente sintácticos.
Justificar uma crença ou um desejo mais não é do que explicitar o modo
como se computam certas crenças e/ou desejos. Donde, ser parte bastante
significativa das nossas vidas mentais aquela a que podemos dar uma
descrição computacional.
Ora, se pudermos simular essas operações num computador, então,
se dessa simulação resultar o mesmo comportamento, temos dada uma
explicação causal do comportamento das mentes. Indo ao nervo da
questão, nós só simulamos computacionalmente operações mentais
porque tais operações mentais são vividas conscientemente como
operações computacionais. É porque são vividas justamente como
operações computacionais que uma sua simulação ganha poder
explicativo.
Há, contudo, três observações que vêm limitar, mas de forma
alguma eliminar, o alcance epistémico da IA-forte.
197
Em primeiro lugar é, a nosso ver, claro que nada disto faz com que
um computador compreenda o que quer que seja. Para tal necessário
seria descobrir a operação de que resulta a compreensão. Só assim,
teríamos o que simular. Por outro lado, quando os computadores simulam
compreensão e consciência, pelo menos aqueles que conhecemos, apenas
simulam um efeito não estando, evidentemente, a dar nada que valha
como explicação genuína da compreensão e da consciência. Mesmo
descobrindo-se o processo real que determina uma compreensão
consciente, necessário seria, para que explicássemos esta, que tal
processo fosse privilegiadamente descritível em termos computacionais,
fosse vivido assim, o que não é o caso. Logo, não há nenhuma boa razão
para pensar que se possa explicar através de uma simulação
computacional a compreensão e a consciência humanas. Que aquela
simule estas, isso é evidentemente possível; que as explique, isso é que
não parece, a nosso ver, de todo sustentável.
Em segundo lugar, temos que é habitual considerar que as
justificações são sempre a posteriori. Isso poderá significar que as
operações que constam das nossas justificações não tenham sido de facto
as operações que determinaram as crenças e desejos que assim
justificámos. Mas, mesmo que não sejam realmente computacionais as
operações que determinam as nossas mudanças de estado mental, se é o
caso que justificamos tais mudanças de estado mental em termos
sintáctico-computacionais, e se é o caso que essas justificações podem
influir em, condicionar, mesmo determinar, novas mudanças de estados
mentais, então não é, de todo, dispiciendo assinalar um poder causal
nessas justificações. Por outras palavras, uma interpretação sintáctico-
computacional de um sistema como a mente, pese embora o facto de
apenas ser atribuída a posteriori, e de forma exterior, a esse sistema (cuja
descrição intrínseca resume-se a termos estritamente físicos), pode, ainda
assim, inscrever-se nas operações físicas que determinam, seja
causalmente seja por sobreveniência, as nossas mudanças de estado
mental. Muito intuitivamente, é difícil não aceitar que, uma vez
encontrada por mim a justificação para uma crença ou um desejo de que
eu me reconheça portador, mesmo uma acção de que eu seja autor, tal
198
justificação não valha como parte da determinação de ocorrências futuras
dos mesmos crença, desejo e acção. Uma derradeira forma de expor este
ponto: a fundamentação com que me muno, mesmo que a posteriori,
pouca valia teria – valia não só epistémica mas prática – se não pudesse,
de algum modo, tornar-se fundação.
Se isto afiança o programa da IA-forte enquanto explicação, por
simulação computacional, do “pensar” – na medida em que este seja
computacional –, salvaguarda, porém, um plano de determinação desse
mesmo “pensar” que não é computacional; que, pelo menos, não o é da
mesma maneira que as justificações que nos damos144. A determinação
computacional é real, quando sucede, mas só o é justamente por que se
traduz numa determinação física. Por conseguinte, não é sequer aceitável,
a nosso ver, que todo o “pensar” – pense-se, em particular, naquele que
resulta exclusivamente por evocação – possa ser explicado através de
uma simulação computacional. Nestes termos, é claro que o esforço
reflexivo de uma mente pode ser pensado como o de fazer com que todas
as suas mudanças de estado sejam resultado de inferências; mas, seria
absurdo afirmar que resultem sempre assim, inferencialmente, mesmo
que não possam ser explicadas sem se afirmar, uma vez sequer, que
resultem assim. Admitir a realidade da determinação sintáctico-
computacional não significa, de todo, fazê-la substituir a determinação
física.
144 Isto indica que se devem distinguir dois níveis da vida mental, um tematizável como computacional, outro, mais básico, que deveremos ainda procurar explicitar. Desenvolveremos este ponto adiante. Todavia, é possível desde já dar uma indicação desta distinção. Se admitirmos que, tal qual as crenças e os desejos, também os algoritmos que realizamos são adquiridos, pelo menos em parte, em função de circunstâncias como a cultura e a educação – ao fim e ao cabo, é uma evidência que ao ensinarmos ensinamos, sobretudo, a pensar –, então devemos reconhecer que os cérebros podem realizar diferentes funcionamentos mentais (pelo menos diferentes naquilo que seja educável), designadamente diferentes operações computacionais. Ou seja: um mesmo cérebro, como o seu funcionamento físico, pode realizar diferentes funcionamentos computacionais. Aspectos conhecidos da neurologia como a plasticidade do cérebro apontam no sentido de uma relativa indeterminação de base que permite uma realizabilidade múltipla – longe de se poder dizer universal – de funcionamentos sintáctico-computacionais de uma mente. Note-se que esta realizabilidade múltipla define-se com um orientação down-up da base para o topo, e não, como é habitual, com uma orientação up-down do sobreveniente para o subveniente.
199
Por fim, uma terceira observação limitativa do alcance da IA-forte
consiste na desvinculação entre uma descrição sintáctico-computacional
e a descrição de estados mentais. Note-se que aqui já não está em causa
saber se é possível explicar computacionalmente a compreensão
consciente ou a mudança de estado mental, mas tão-só se, nesses termos,
é possível responder à pergunta ‘o que é um estado mental?’. Veremos,
em seguida, através da análise de mais um argumento de Searle, que a IA
não é capaz de responder a essa pergunta.
Fica, no entanto, para encerrar este ponto, a formulação resumida
do conjunto de três restrições – chamemos-lhe Princípio das três
restrições – ao alcance da IA-forte:
Primeira restrição – Não visar explicar a compreensão e a
consciência de uma mente humana.
Segunda restrição – Não visar explicar toda a mudança de estado
mental, mas tão-só aquela que se reporte ao pensar computacional,
designadamente inferindo proposições a partir de outras
proposições.
Terceira restrição – Não visar explicar como chega a haver uma
mente, mas restringir-se a explicar a mudança de estado mental.
5. Searle versus dependência consciência/comportamento
a) Consciência e comportamento
Face à terceira restrição que acabamos de formular ao alcance do
programa da IA-forte, a discussão assume, do ponto de vista conceptual,
uma feição inteiramente distinta – deverão os estados mentais ser
originariamente entendidos em termos funcionais?
Este é justamente o tipo de questão que John Searle coloca a
respeito do funcionalismo enquanto teoria que visa explicar o mental. E
nos seus termos, o que importa é desde logo «pôr em causa a concepção
200
de acordo com a qual o mental tem uma ligação interna importante com o
comportamento»145. Nesse sentido, expõe uma experiência de
pensamento, com dois desenvolvimentos distintos:
Suponha-se que o suporte material dos processos cerebrais que
explicam os estados mentais e as funções entrada/saída num indivíduo é
alterado, através de intervenções que operem à substituição progressiva
do suporte por componentes de silício, sem que isso acarrete, pelo menos
conceptualmente, qualquer alteração dos estados mentais e das funções
entrada/saída. Até aqui, nada temos que não milite a favor do
funcionalismo da mente.
Suponha-se agora os seguintes desenvolvimentos. Em primeiro
lugar, que tal intervenção visa preservar os desempenhos
comportamentais e sua adequação aos estímulos de entrada, apesar de
uma perda progressiva de consciência por parte do sujeito. Em segundo
lugar, que tal intervenção conduz à perda de toda a expressão
comportamental, apesar de o sujeito permanecer perfeitamente
consciente.
Ora, o que estas experiências de pensamento procuram ilustrar é notório:
(1) É conceptualmente possível considerar um cérebro que perca a
consciência até ao ponto de se encontrar em morte mental sem, por
isso, deixar de preservar as funções entrada-saída exteriormente
observáveis.
(2) É conceptualmente possível, se não mesmo empiricamente
verificável, considerar um cérebro que perca toda a expressão
comportamental sem, por isso, deixar de haver estados mentais
conscientes.
Atendendo ao facto de que são três os termos em jogo – os processos
cerebrais, os estados mentais conscientes, as funções entrada/saída de
estímulos/comportamentos – formalizemos, para efeitos de maior
simplicidade, os termos em conjunção num triplo ordenado.
145 «Initially the aim (…) is to challenge the conception of the mental as having
some important internal connection to behaviour.» (Searle, 1992: 65 (tr.: 87))
201
(c,m,f) : é o triplo ordenado composto por um processo cerebral, um
estado mental consciente e uma função entrada/saída ou
estímulo/comportamento, respectivamente.
Ora, de acordo com Searle, tanto é possível considerar um triplo
ordenado (c, m, f) em que m é nada – o que corresponde à situação (1) –
como um triplo ordenado (c, m, f) em que f é nada – o que corresponde à
situação (2).
Face a estes resultados, conclui Searle que a existência de funções
entrada/saída entre estímulos e comportamento não é condição suficiente
nem necessária para a existência de estados mentais. Logo, procurar
explicar os estados mentais por meio daquelas funções resulta numa
tarefa espúria – «Ontologicamente falando, o comportamento, o papel
funcional e as relações causais são irrelevantes para a existência de
fenómenos mentais conscientes.»146 Nestes termos, Searle presume, e a
nosso ver bem, refutar o funcionalismo enquanto teoria da experiência
mental.
Contudo, a partir desta conclusão, Searle avança um pouco mais,
designadamente propondo um princípio que denomina princípio da
independência da consciência e do comportamento. Para esse efeito,
começa por sistematizar a sua posição crítica face ao funcionalismo em
três pontos:
A maioria dos filósofos que venho criticando aceitaria as duas seguintes
proposições:
1. Os cérebros causam fenómenos mentais conscientes;
2. há uma espécie de ligação conceptual ou lógica entre os fenómenos
mentais conscientes e o comportamento exterior.
Mas o que as experiências de pensamento ilustram é que estas duas
proposições não podem ser defendidas consistentemente com uma
terceira:
3. A capacidade do cérebro de causar a consciência é conceptualmente
distinta da sua capacidade de causar o comportamento motor. Um sistema
146 «Ontologically speaking, behaviour, functional role, and causal relations are
irrelevant to the existence of conscious mental phenomena.» (Searle, 1992: 69 (tr.:91))
202
poderia ter consciência sem comportamento e comportamento sem
consciência.
Mas, dada a verdade de 1. e 3., temos de renunciar a 2. Assim, o
primeiro ponto a derivar das nossas experiências de pensamento é aquilo a
que poderíamos chamar “o princípio de independência da consciência e do
comportamento”.147
A rejeição justificada da proposição 2. vale como uma refutação do
funcionalismo, pois tal proposição está pressuposta na tese funcionalista
de que o comportamento, entre outros desempenhos causais já referidos,
é parte essencial da definição de qualquer estado mental. Posto isto, se o
comportamento não é condição suficiente nem necessária de nenhum
estado mental, então evidentemente não participa da definição deste. O
problemático não reside, a nosso ver, neste ponto. Reside antes na
afirmação searliana de um princípio da independência da consciência e
do comportamento. Em concreto, a objecção que se colocará resume-se à
salvaguarda, por assim dizer, de algum modo de causalidade entre os
estados mentais conscientes (m) e o comportamento manifesto (f). Isto
não quer dizer, de forma alguma, que os estados mentais se definam pelo
comportamento nem sequer que este seja condição suficiente ou
necessária daqueles. Daí que a presunção de refutação do funcionalismo,
nos termos que Searle expõe, não seja beliscada. O que está em jogo é
uma aparente simetria que Searle encontra entre comportamento e mente
que deixaria de exprimir uma relação causal entre esses dois termos. E é
esta a objecção, no fundo a exigência de uma maior precisão, que se
coloca – embora haja comportamento sem consciência e consciência sem
147 «Most of the philosophers I have been criticizing would accept the following
two propositions: 1. Brains cause conscious mental phenomena. 2. There is some sort of conceptual or logical connection
between conscious mental phenomena and external behaviour.
3. The capacity of the brain to cause consciousness is conceptually distinct from its capacity to cause motor behaviour. A system could have consciousness without behaviour and behaviour without consciousness.
But given the truth of 1. and 3., we have to give up 2.. So the first point to be derived from our thought experiments is what we might call “the princip le of the independence of consciousness and behaviour”.» (Searle, 1992: 69 (tr.: 92))
203
comportamento, há que salvaguardar que a consciência (ou seja, os seus
estados mentais) causa comportamento, sem que a conversa seja
verdadeira.
b) Princípio da não implicação e Princípio da dependência relativa
Ora, para justificar a nossa tese de que a consciência causa, de
algum modo, comportamento, trataremos de mostrar, em primeiro lugar,
que, contrariamente ao que afirma o princípio de Searle, há uma efectiva
dependência entre consciência e comportamento ou, mais exactamente,
entre estados mentais conscientes e funções entrada/saída.
Sejam dois triplos ordenados (c1,m1,f1) e (c2,m2,f2). Assumindo,
por 1., que os cérebros causam fenómenos mentais conscientes;
assumindo, por 3., que os cérebros causam o comportamento motor
exterior; então, temos que consciência e comportamento são ambos
efeitos causais do cérebro. Assumindo, por fim, o suposto causal de que
às mesmas causas não se podem seguir efeitos diferentes, então, podemos
inferir, de acordo com as proposições 1. e 3. de Searle, que:
i) se f1 e f2 são idênticos e m1 e m2 são diferentes, então c1 e c2
terão, necessariamente, de ser diferentes;
ii) se f1 e f2 são diferentes e m1 e m2 são idênticos, então c1 e c2
terão, necessariamente, de ser diferentes;
iii) se f1 e f2 são diferentes e m1 e m2 são diferentes, então c1 e c2
terão, necessariamente, de ser diferentes;
iv) se f1 e f2 são idênticos e m1 e m2 são idênticos, então c1 e c2
poderão ser ou idênticos ou diferentes.
Note-se que i), ii) e iii) decorrem do facto de efeitos diferentes, seja no
que respeita ao comportamento, sejam no que respeita ao estado mental
consciente, não poderem ter as mesmas causas. Já iv) decorre do facto de
diferentes causas poderem produzir o mesmo efeito.
Note-se, por outro lado, que o emprego dos termos “efeito” e
“causa” é um emprego excessivamente liberal. Na verdade, como
podemos defender no nosso Cap. II, rigorosamente, e contra a proposição
204
1. de Searle, não é o caso que os estados cerebrais causem estados
mentais. Há efectivamente uma determinação, mas não causal; antes,
uma determinação por sobreveniência. Em todo o caso, para os
objectivos do argumento de Searle contra o funcionalismo, bem como
para os objectivos da nossa objecção ao princípio da independência, esta
precisão de dois tipos de determinação, uma causal e outra por
sobreveniência, não faz diferença no que respeita a i)-iv). Isto, porque do
mesmo modo que se admitiu uma assimetria causal – os mesmos efeitos
podem ser determinados por causas diferentes, mas as mesmas causas
não podem determinar efeitos diferentes –, também se admite, nos termos
de uma covariação que as mesmas sobreveniências podem ser
determinadas por diferentes subveniências, ainda que as mesmas
subveniências não possam determinar sobreveniências diferentes.
Esquematicamente, temos então o seguinte quadro de dependências:
Retomemos, agora, as duas situações que decorrem da experiência
de pensamento de Searle:
Primeira situação – uma qualquer função entrada/saída ou
estímulo/comportamento pode estar, como não estar, conjugada com um
estado mental consciente. Isto é quanto basta, de acordo com Searle, para
refutar o funcionalismo.
Ora, atendendo ao nosso quadro de dependências, podemos
estabelecer que se c1 causa f1 e m , por um lado, e se c2 só causa f2, por
outro, então c1 c2 (mesmo que os f’s sejam idênticos), pois os efeitos,
na sua globalidade, são diferentes, pelo que não podem ter sido
determinados pelas mesmas causas. Dito de outro modo: se temos
(c1,m,f1) e (c2,~m,f2), então f1=f2 c1 c2.
Efeitos f1-f2 = ≠ = ≠
m1-m2 = = ≠ ≠
Causas c1-c2 = ou ≠ ≠ ≠ ≠
205
Assim, apesar de não haver, do ponto de vista conceptual,
nenhuma dificuldade em fazer fracassar um teste de Turing, seria de todo
impossível fazer fracassar um duplo teste que, além de testar f1=f2,
verificasse c1c2..
Significa isto que f não é indiferente, do ponto de vista causal, a m.
Caso ocorra m1=m2, não é necessário que c1c2 para que f1=f2. Mas caso
se verifique que m1m2, então será necessário que c1 c2 para que f1=f2.
É claro, assim, que apesar de f não ser condição suficiente (sequer
necessária) de m, se verifica que f depende de alguma maneira de m.
Segunda situação – um qualquer estado mental pode estar, como
não estar, conjugado com uma função entrada/saída nos termos expostos
por Searle. Formalmente, obtêm-se os triplos ordenados: (c1,m1,f) e
(c2,m2,~f).
Ora, pelas mesmas razões, podemos inferir nestas conjunções que
m1=m2 c1 c2.
Significa isto que m não é indiferente, do ponto de vista causal, a f.
Caso ocorra f1=f2, não é necessário que c1 c2 para que m1=m2. Mas caso
se verifique que f1f2, então será necessário que c1 c2 para que m1=m2.
É claro, assim, que apesar de m não ser condição suficiente (nem
necessária) de f, se verifica que m depende de alguma maneira de f.
Concluindo, tem-se então que, diversamente do que Searle afirma
sob a forma de princípio, não existe uma independência da consciência e
do comportamento. Pelo contrário, consciência e comportamento, ou
ainda, estados mentais conscientes e funções entrada/saída, encontram-se
numa dependência recíproca, ainda que se trate evidentemente de uma
dependência relativa, mais exactamente, relativa aos processos cerebrais
que “causam” (na verdade, determinam) os estados mentais e,
subsequentemente, o comportamento. Por estas razões, propomos
substituir o Princípio da independência da consciência e do
comportamento searliano por dois outros princípios: o Princípio da não
206
implicação mente-comportamento (PNI) e o Princípio da dependência
relativa mente-comportamento (PDR), cujos enunciados são
PNI: Um sistema pode dispor de estados mentais conscientes sem, por
isso, estar implicada qualquer função estímulo/comportamento; um
sistema pode dispor de funções estímulo/comportamento sem, por isso,
estarem implicados quaisquer estados mentais.
PDR: Num sistema, qualquer variação nos estados mentais não
acompanhada por uma variação nas funções estímulo/comportamento
implica uma variação no suporte material do sistema; o mesmo é
implicado em qualquer variação das funções estímulo/comportamento não
acompanhada por uma variação nos estados mentais.
6. A hipótese da Linguagem do Pensamento
A hipótese da linguagem do pensamento (doravante LOTH), vulgo
mentalês, tal como é apresentada inicialmente por Jerry Fodor, deixa-se
formular nos termos de um argumento: o facto de as linguagens naturais
serem aprendidas envolve uma cadeia de pressupostos que terminam na
implicação de uma linguagem prévia não aprendida. Mais em particular,
a aprendizagem dos significados dos predicados empregues numa dada
Língua não se faz sem que tais predicados e suas condições de verdade
sejam representados numa outra Língua. Nas palavras de Fodor:
Aprender uma língua (incluindo, é claro, uma primeira língua) involve
aprender o que é que significam os predicados da língua. Aprender o que é
que significam os predicados da língua envolve aprender uma
determinação da extensão desses predicados. Aprender a determinação da
extensão desses predicados envolve aprender que eles se subsumem a
certas regras (i.e., regras de verdade). Mas uma pessoa não pode aprender
que P se subsume a R a não ser que tenha uma linguagem na qual P e R
possam ser representados. Assim, uma pessoa não pode aprender uma
linguagem a não ser que possua uma linguagem. Em particular, uma
pessoa não pode aprender uma primeira língua a não ser que já disponha
207
de um sistema capaz de representar os predicados nessa língua e as suas
extensões. E, sob pena de circularidade, tal sistema não pode ser a língua
que está a ser aprendida. Mas, as primeiras línguas são aprendidas. Então,
pelo menos algumas operações cognitivas são levadas a cabo em outras
linguagens que não as linguagens naturais. 148
De uma forma bastante simples, permitimo-nos resumir o
argumento à afirmação do seguinte: conhecer uma palavra de uma língua
(aprendendo-a) pressupõe, necessariamente, reconhecer o seu significado
noutra língua. É forçosa a aceitação deste pressuposto? É relativamente
claro, na aprendizagem de uma segunda língua – por exemplo, um falante
de português que aprende Inglês –, que as significacões dos predicados
não são aprendidas sem que haja uma representação na língua natural
desses predicados e das suas condições de verdade. Por exemplo,
aprendo o significado de ‘is green’ porque me represento, na minha
língua natural, o predicado ‘é verde’ e as suas condições de verdade.
Mesmo quando não existe uma correspondência imediata entre o
predicado na língua que aprendo e o predicado na minha língua primeira,
posso representar aquele dando dele uma descrição definida na minha
língua. Confrontando a satisfação das condições de verdade numa língua
e noutra língua acabo por estabelecer uma correspondência razoável e,
mais importante, razoavelmente controlável149. Nestes termos, o
problema da aprendizagem de uma segunda língua traz implícitos os
problemas da tradução entre línguas.
148 «Learning a language (including, of corse, a first language) involves learning what the predicates of the language mean. Learning what the predicates of the language mean involves learning a determination of the extension of these predicates. Learning a determination of the extension of the predicates involves learning that they fall under certain rules (i.e., truth rules). But one cannot learn that P falls under R unless one has a language in which P and R can be represented. So one cannot learn a language unless one has a language. In particular, one cannot learn a first language unless one already has a system capable of representing the predicates in that language and their extensions. And, on pain of circularity, that system cannot be the language that is being learned. But first languages are learned. Hence, at least some cognitive operations are carried out in languages other than natural languages.» (Fodor, 1975: 63-64)
149 Naturalmente, há que ter aqui em conta os conhecidos problemas, suscitados por Quine, em torno da indeterminação da tradução. Donde, falarmos apenas em termos de razoabilidade. A tradução diz-se indeterminada no sentido em que não pode ser completamente determinada, não no sentido em que não possa sequer ser relativamente determinada.
208
Ora, isto avaliza o argumento de Fodor no sentido em que a
aquisição de uma segunda língua pressupõe uma língua primeira –
conhecemos aquela, reconhecendo-a nesta. Contudo, o argumento
reporta-se à aquisição de uma primeira língua, e o que afirma é que a
aprendizagem desta requer uma outra língua. Perguntar-se-á, mas se é
assim, também essa língua pressuposta – a linguagem do pensamento –
não deveria pressupor outra e assim em diante num regresso ao infinito?
A isto, Fodor responde negativamente, pois já não se trata de uma língua
aprendida, mas tão-só de uma língua que se conhece. Na verdade, não é
preciso reconhecer o que já se conhece. O ponto da pressuposição não se
prende, pois, com o facto de haver, ou não, uma língua, mas com o da
sua aprendizagem. É a aprendizagem, e não a língua que se aprende, que
pressupõe um língua outra.150
a) LOTH: discussão de objecções
Esta resposta levanta duas dificuldades. Por um lado, a mesma
objecção de um regresso ao infinito pode, porém, estear-se noutro
aspecto linguístico que não a aprendizagem, a saber, a compreensão. Vê-
lo-emos adiante. Por outro lado, se a LOTH não é uma linguagem
aprendida, perguntar-se-ia se, com isso, Fodor quer dizer que se trata de
uma linguagem inata ou, em alternativa, que se trata de uma linguagem
adquirida, ainda que de um modo diverso da aprendizagem. Esta
segunda dificuldade só pode ser resolvida através da anulação da
alternativa, ou seja, reconhecendo que a LOTH é inata embora a sua
semântica seja adquirida. Supor que a semântica da LOTH fosse inata, ou
seja que os seus conceitos e suas significações fossem inatos, resumiria
um absurdo inaceitável; supor que a LOTH enquanto realização cerebral
não fosse algo da ordem da natureza e não da ordem do cultural, embora
enformável por esta, contradiria a própria hipótese avançada por Fodor.
Em The Language of Thought, Fodor parece, as mais das vezes, não ter
150 «My view is that you can’t learn a language unless you already know one. It
isn’t that you can’t learn a language unless you’ve already learned one.» (Fodor, 1975: 65)
209
evitado, pelo menos de forma clara, a armadilha da alternativa, a ponto
de afirmar o carácter inato de toda a semântica de LOTH151, o que resulta
altamente inverosímil, se não absurdo152. Como Aydede clarifica, a
hipótese da LOTH não exige nenhum compromisso com a tese de que a
semântica de LOTH seja inata153. Fodor juntou as duas, o que Aydede
chega a qualificar como um “infortúnio histórico”154, quando a primeira
pode susbistir sem a segunda. No entanto, é o próprio Fodor que dá
indicações precisas sobre o modo como a semântica da LOTH pode ser
adquirida, pese embora o carácter inato de LOTH. Com efeito, Fodor
reconhece que se pode pensar a LOTH como dispondo de estados de
maior ou menor diferenciação semântica, e entendendo tal diferenciação
como sendo determinada pelo ambiente155.
151 Cf. Fodor, 1975: 82-97. Ilustrativamente – «...At least one of the languages
which one knows without learning is as powerful as any language that one can ever learn.» (Fodor, 1975: 82)
152 John Searle caricatura, entre muitos outros autores que também o fizeram, o
erro de tomar como exclusiva a disjunção entre natureza e cultura, entre inato e adquirido – «Another form of incredibility, but from a different philosophical motivation, is the claim that each of us has at birth all of the concepts expressible in any words of any possible human language, so that, for example, Cro-Magnon people had the concepts expressed by the word ‘carburetor’ or by the expression ‘cathod ray oscillograph’. This view is held most famously by Fodor (1975)». (Searle, 1992: 249n).
153 «However, it should be emphasized that LOTH is not per se committed to
such a strong version of nativism, especially about concepts. It is certainly plausible to assume that LOTH will turn out to have some empirically (as well as theoretically/a priori) motivated nativist commitments especially about the structural organization and dynamic management of the entire representational system. But this much is to be expected especially in the light of recent empirical findings and trends of contemporary cognitive and developmental psychology as well as psycholinguistics. This, however, does not constitute a reductio. On the other hand, LOTH is by no means committed to the innateness of all concepts or even some of them. It is an open empirical question how much nativism is true about concepts, and LOTH should be so taken as to be capable of accommodating whatever turns out to be true in this matter. LOTH, therefore, when properly conceived, is independent of any specific proposal about conceptual nativism.»(Cf. Aydede, 1998)
154 «It is historically unfortunate that Fodor ran his arguments for the innateness
of all concepts in the same book (1975) in which he first elaborated and defended LOTH in such a way that the connection between LOTH and an implausibly strong version of nativism looked very much internal. As a result, this historical coincidence has led some people to think that LOTH is essentially committed to a very strong version of nativism, so strong in fact that it seems to make a reductio of itself (see, for instance, P.S. Churchland 1986…).» (Cf. Aydede, 1998)
155 Fodor admite logo em The Language of Thought esta possibilidade – «The
view presently being proposed doesn’t require that the innate conceptual system must literally be present “at birth”,only that it not be learned. (…) The environment may have a role to play in determining the character of one’s conceptual repertoire quite distinct
210
Face a este problema, julgamos que o equívoco que boa parte dos
críticos da proposta de Fodor comete (e que o próprio Fodor não soube
clarificar de uma forma cabal em The Language of Thought) terá residido
em supor que ao se afirmar que conhecer uma primeira língua envolve
necessariamente o seu reconhecimento na LOTH ter-se-ia de afirmar
também qualquer coisa como ‘uma diferença só será reconhecível em
LOTH se já for conhecida em LOTH’. Ora, se, ao invés, admitirmos que
a especificação semântica de novas significações se faz por uma
progressiva diferenciação de significações prévias, mais ou menos
indiferenciadas, e, no limite, de um conjunto de significações básicas
inatas ou, mesmo, de uma única significação inteiramente indeterminada,
então o pressuposto de que só se aprende uma significação linguística em
virtude de um seu reconhecimento noutra língua, em particular em LOTH
não vem colidir com o poder desta de proceder à aquisição de novas
significações.
Seja por exemplo o nome ‘pai’ que uma criança aprende nos seus
primeiros passos linguísticos. De acordo com uma generalização
espontânea, a criança julgará, a princípio, que todos os pais se chamam
‘pai’. Depois, só depois, e em virtude de uma progressiva diferenciação,
é que aprenderá que pai só há um e que cada um tem o seu. De certo
modo, ganhará em precisão o que a decepção lhe ensinar. Admitindo isto,
então o que começa por ser reconhecido em LOTH não será o significado
real de ‘pai’, a palavra que consta dos dicionários de Português, mas um
significado bastante indeterminado. E é só depois, em função da
interacção com o ambiente, do bom e mau uso que a criança vai fazendo
da palavra, uso controlado por utentes competentes – por exemplo, o
próprio pai da criança – que se obterá, na própria LOTH, a necessária
diferenciação para que sejam erradicados os maus usos da palavra. Daí, a
necessidade da criança experimentar a palavra; fazê-lo não é realmente
experimentar algo porque aprendeu, antes é aprender porque
experimentou. O ponto, note-se bem, consiste em transferir o essencial
from its role in fixing the set of concepts that one’s repertoire contains…»(Fodor, 1975: 96)
211
do processo de aprendizagem para a própria LOTH. É nesta e não na
língua a aprender que se faz realmente a aprendizagem da significação
das palavras, de quais são as suas condições de verdade. Desta forma,
não é, de todo, aceitável supor que, pelo facto de LOTH ser inata, ela não
adquira novas significações; não as adquirisse ela, e nenhuma língua
poderia ser aprendida! Assim, e em termos mais próximos aos empregues
por Fodor, a representação da extensão de um predicado é de facto
reconhecida em LOTH, mas tão-só de uma forma indeterminada,
sucedendo que a sua determinação se faz a posteriori e no seio de LOTH.
Simplesmente, isto não se faz sem que se possa prescindir da
pressuposição de uma semântica já dada, por mais indiferenciada que
seja. Donde, Fodor não descrever a sua LOTH como sendo dotada apenas
de uma sintaxe, mas também ainda de uma semântica. As representações
mentais da LOTH são, de acordo com a presunção de Fodor,
representações de algo, acerca de algo, portanto, dotadas de
intencionalidade156. A nosso ver, não poderia ser de outro modo, pois
sem uma semântica não haveria o que reconhecer naquilo que se aprende;
a própria aprendizagem não teria qualquer sentido.
Agora, esta postulação de uma sintaxe e de uma semântica sujeitar-
se-ia, aparentemente, às objecções de Searle, já analisadas atrás, sob a
forma do argumento do quarto chinês – se a semântica envolve algum
tipo de compreensão, então, se as operações sintácticas não são as
apropriadas para gerar compreensão, não se tem que essas operações
numa LOTH possam conferir-lhe uma semântica. E a isto Fodor,
aparentemente, não daria resposta. Em particular, a denúncia de uma
falácia de ignoratio elenchi na objecção de um regresso ao infinito
centrado na noção de compreensão, não responderia ao ponto crucial em
discussão – como pode Fodor atribuir uma semântica a estados cerebrais?
156 Jackendoff explica o ponto da seguinte forma – «Fodor intends that LOTH
has a syntax (in the broad sense) and a semantics. The expressions in LOTH are mental representations, and they represent something: entities in the world. Put differently, Fodor insists that LOTH is intentional: it is about something. Fodor admits that his view is intensely problematic: after all, how do expressions in the head make contact with the things they are supposed to be about? Fodor (1991), for example, aspires to develop a “naturalized” semantics, that is, “to say in nonsemantic and nonintentional… terms what makes something a symbol”.» (Jackendoff, 2002: 279)
212
Mas não é bem isso que se verifica. No que toca à objecção, Fodor
dissocia a compreensão de predicados da representação das suas
extensões. A seu ver, a compreensão não envolve tal representação; só a
aprendizagem a envolve157. Nisto, não mostramos desacordo; aliás,
defendemos mesmo que a aprendizagem faz-se porque, previamente, se
tem obtida a compreensão. Contudo, isto só nos diz que a compreensão
não exige algo, não nos diz porque há compreensão; diz-nos que algo não
é necessário para que haja compreensão, não diz o que é necessário para
que haja compreensão.
Servirá esta insuficiência para refutar a hipótese da LOTH?
Julgamos que não, pois não é o caso que Fodor afirme que a semântica é
gerada sintacticamente. E se não é esse o caso, então a argumentação de
Searle falha o alvo. Fodor afirma – digamos que com o estatuto de
postulados – que a LOTH possui uma sintaxe e, além disso, uma
semântica. É claro que a pergunta ‘como pode Fodor atribuir uma
semântica a estados cerebrais?’ permanece sem resposta; mas não será
isso o bastante para que devamos interditar a atribuição de uma
semântica a estados cerebrais. Mesmo Searle não afirma outra coisa – a
semântica deve poder ser explicada causalmente a partir de processos
cerebrais. O criticismo incide apenas numa abordagem sintáctico-
computacional de tais processos. Mas Fodor, repetimos, não infere a
semântica da sintaxe, postula ambas.
Este ponto é particularmente sublinhado por Aydede a propósito da
discussão do alcance do projecto de Fodor em proceder a uma
naturalização da intencionalidade. Esta deve, de algum modo, poder ser
naturalizada. Nisso, quer Fodor quer os seus críticos, designadamente
Searle, estão de acordo. Só que o que Fodor realmente leva a cabo nesse
esforço de naturalizar a intencionalidade resume-se a expor duas ideias:
por um lado, que as operações sintácticas preservam as propriedades
semânticas e, por outro, que há uma racionalidade implementada ao nível
157 «What I said was that learning what a predicate means involved representing
the extension of that predicate; not that understanding the predicate does. A sufficient condition for the latter might be just that one’s use of the predicate is always in fact conformable to the truth rule.» (Fodor, 1975: 65)
213
das representações internas da LOTH. Mas, em momento algum, Fodor
dá uma resposta ao suposto problemático subjacente a estas ideias, a
saber, como chega a haver uma semântica em LOTH, como chegam as
representações internas a ser efectivamente representações
intencionais.158 Em termos muito abreviados: o programa de
naturalização da intencionalidade de Fodor não explica, de facto, a
intencionalidade e a semântica; simplesmente explica de que modo
aspectos sintácticos influem na semântica, de que modo esta é preservada
através de operações sintácticas, mas isto sempre sob a suposição de que
haja semântica.
O ponto relativamente ao qual Fodor permanece inteiramente em
silêncio, de acordo com Aydede, é justamente o velho problema
conhecido na literatura filosófica mais recente pela designação ‘Desafio
de Franz Brentano’159. O mesmo autor acrescenta ainda uma segunda
forma de colocar o problema, ou melhor, de mostrar como Fodor não
responde ao problema de fundo. Distinguindo-se entre símbolos atómicos
e símbolos moleculares160, i.e, reconhecendo-se que para além dos
primeiros há símbolos compostos e, por isso, dotados de uma estrutura
158 «Fodor, the most ardent defender of LOTH, once identified the major mysteries in philosophy of mind thus:
«How could anything material have conscious states? How could anything material have semantical properties? How could anything material be rational? (where this means something like: how could the state transitions of a physical system preserve semantical properties?).»
LOTH is a full-blown attempt to give a naturalist answer to the third question, is an attempt to solve at least part of the problem underlying the second one, and is almost completely silent about the first.» (Aydede, 1998: 14)
159 «But where do the semantic properties of the mental representations come
from in the first place? How is it that the syntactically structured symbols represent anything? How can they mean anything? How is (original) intentionality possible in a world composed of pure matter? This is Brentano's challenge to a naturalist.» (Aydede, 1998: 22). Cf. Brentano, 1874: 88-89.
160 «There are two levels or stages at which this question can be raised and answered:
(1) At the level of atomic (simple) symbols: how do the atomic symbols represent what they do?
(2) At the level of molecular (phrasal complexes or sentences) symbols: how do molecular symbols represent what they do?»
(Aydede, 1998:24)
214
sintáctica, é possível reconhecer que as propriedades semânticas destes
últimos estão dependentes das suas propriedades sintácticas; indo um
pouco mais longe, é possível, dadas as representações atómicas e as
operações sintácticas, determinar o que representam esses símbolos
moleculares, quais as suas condições de verdade, qual a sua semântica.
Ora, a este nível a hipótese da LOTH revela um efectivo poder
explicativo. Só que nada diz, a um nível infra, acerca do modo como os
símbolos atómicos chegam a representar alguma coisa – «LOTH
simplesmente assume que os símbolos/expressões atómicos na LOTH de
alguém têm os significados, sejam quais forem, que têm»161.
Significa isto que:
i) o projecto de naturalização da intencionalidade é um projecto
válido;
ii) o projecto particular, digamos assim, que Fodor leva a cabo de
naturalização da intencionalidade é parcial; diz apenas respeito
a símbolos moleculares, os quais podem ser interpretados como
“frases” da LOTH, não deixando por isso de pressupor já a
intencionalidade das representações mentais atómicas;
iii) nada é dito sobre como naturalizar as representações
atómicas.162
Outro tipo de objecção a que Fodor procura dar resposta denuncia
que a hipótese da LOTH em mais não consiste que em admitir que haja
uma linguagem privada, o que não deveria poder ser aceite em virtude do
célebre argumento de Wittgenstein contra as linguagens privadas. Neste
161 «The official line doesn't propose any theory about the first stage, but simply assumes that the first question can be answered in a naturalistically acceptable way. In other words, officially LOTH simply assumes that the atomic symbols/expressions in one's LOTH have whatever meanings they have.» (Aydede, 1998: 24). «Naturalizing intentionality is something about which LOTH is officially silent at least at the level of atomic symbols.» (Ibidem) «But, the official line continues, LOTH has a lot to say about the second stage, the stage where the semantic contents are computed or assigned to complex (molecular) symbols on the basis of their combinatorial syntax or grammar together with whatever meanings atomic symbols are assumed to have in the first stage.» (Ibidem)
162 «Naturalizing intentionality is something about which LOTH is officially silent at least at the level of atomic symbols.» (Aydede, 1998:24)
215
ponto, Fodor não enjeitará a ideia de que a LOTH seja uma linguagem
privada; antes procurará limitar o alcance do argumento de Wittgenstein,
de tal modo que não impeça, de facto, a existência de linguagens
privadas, mas que venha afirmar tão-só que não é possível determinar se
nestas, em virtude do seu carácter privado, o uso dos termos é, ou não,
consistente. Por outras palavras: o argumento de Wittgenstein, de acordo
com a interpretação de Fodor, apenas demonstra que só num plano de
procedimentos públicos (portanto, não privados), em que se verifique que
um termo é bem empregue, se pode saber que esse termo é bem
empregue. Não demonstra, em suma, que o uso dos termos não é
coerente, pois pode haver um uso coerente sem que se disponha de um
critério público que o verifique. Pode-se ter x, mesmo que não se possa
verificar x.163
b) LOTH: sistematicidade, produtividade e racionalidade
Discutido este conjunto de objecções, introduziremos em seguida
alguns aspectos que uma fenomenologia do pensar facilmente consegue
explicitar – a sistematicidade, a produtividade e a racionalidade do
pensar – e que militam a favor da hipótese de uma LOTH.
A sistematicidade e a produtividade da linguagem são espelhadas
no pensamento. Entende-se por sistematicidade das “frases” do
pensamento o facto de as partes que as compõem se encontrarem numa
relação sistemática. Por exemplo, quem pensa e diz que o João ama a
Maria é igualmente capaz de pensar e dizer que a Maria ama o João – ou,
em geral, as relações Amar(a,b) e Amar(b,a), ou, ainda mais
genericamente, R(a,b), R(b,a), S(a,b,c), S(b,a,c), S(c,a,b), etc. E isto 163 «As many philosophers have pointed out, the most that the argument shows is that unless there are public procedures for telling whether a term is coherently applied, there will be no way of knowing whether it is coherently applied. But it doesn’t follow that there wouldn’t in fact be a difference between applying the term coherently and applying it at random. A forteriori, it doesn’t follow that there isn’t any sense to claiming that there is a difference between applying the term coherently and applying it at random. These consequences would, perhaps, follow on the verificationist principle that an assertion can’t be sensible unless there is some way of telling whether it is true, but surely there is nothing to be said for that principle.» (Fodor, 1975: 70)
216
apenas porque tais frases vêem os seus significados determinados em
virtude do modo como os elementos que as compõem se encontrem
combinados. Com efeito, João amar Maria não significa o mesmo que
Maria amar o João; o primeiro pensamento pode ser verdadeiro e o
segundo ser falso, bem como, obviamente o contrário. Naturalmente, tal
variação na significação prende-se com as propriedades sintácticas das
frases. Ora, se estas devem ser explicadas de um ponto de vista
materialista, se devem ter um correspondente cerebral, então necessário
se torna atribuir propriedades sintácticas a esse correspondente cerebral.
Braddon-Mitchell e Frank Jackson resumem o ponto da sistematicidades
nestes termos:
Se os exemplares (tokens) físicos no cérebro que codificam proposições
não possuíssem estrutura interna, se a estrutura que codifica a proposição
expressa pela frase ‘aRb’ [ou assim: R(a,b)] não possuísse uma relação
sistemática com a estrutura que codifica a proposição expressa pela frase
‘bRa’[R(b,a)], difícil seria ver por que razão isto deveria ser assim.164
Por outro lado, admitindo que a vida mental consiste numa
sequência de atitudes proposicionais, isto permite um tratamento destas
como dispondo de uma forma lógica que é realizada cerebralmente na
sintaxe das representações mentais da LOTH. A este respeito, Fodor
defende que as atitudes proposicionais são objectos complexos, dotados
de partes165; que estão relacionados de acordo com uma certa forma
lógica – diferentes atitudes proposicionais podem exibir a mesma forma
lógica (por exemplo, a crença de que não existe unicórnios e a crença de
164 «If the physical tokens in the brain that encode propositions had no internal
structure, if the structure that encodes the prooposition expressed by the sentence ‘aRb’ had no systematic relationship with the structure that encodes the proposition expressed y the sentence ‘bRa’, it is hard to see why this should be so.» (Braddon-Mitchell & Jackson, 1996: 166)
165 Fodor, 2002: 15.
217
que não existem anjos)166; e que sobrevêm às relações sintácticas de uma
LOTH167.
Já a produtividade prende-se com a capacidade que um utente de
uma qualquer língua dispõe de produzir frases que nunca proferiu e de
compreender frases que nunca escutou. Naturalmente, tal produtividade
resulta da natureza combinatorial das frases, ou seja, da sua estrutura
sintáctica. É também por isso que nos é possível dizer um número
indefinido de frases a partir de um número finito de elementos. Ora, esta
característica da produtividade das línguas não só se encontra também no
nosso pensar168 como dificilmente se deixaria explicar naquelas se não se
encontrasse no pensar. Note-se, pois, que a produtividade e a
sistematicidade não são apenas algo que se verifica quer nas línguas quer
no pensar; são algo cuja ocorrência nas línguas só se explica, em tese,
pela sua ocorrência no pensar. De que modo? Simplesmente, com vimos
acima, por sobreveniência.
Além deste compromisso com a tese da sobreveniência, importa
dar conta da relação da hipótese da LOTH com o funcionalismo. Embora
haja um pressuposto base comum quer à hipótese da LOTH quer à
proposta do funcionalismo do computador, a saber, uma mesma
abordagem sintáctico-computacional, entre as duas há a assinalar pelo
menos uma importante diferença. Enquanto o funcionalismo descreve um
dado estado mental, um desejo por exemplo, nos termos do seu papel
causal, o qual é reconduzido à descrição do comportamento do sistema,
assumindo esta descrição como explanans do estado mental, já de acordo
com a hipótese da LOTH o comportamento do sistema, em vez de
explicar, é explicado pelo estado, o qual, por seu turno, se deixa
reconduzir à descrição das operações computacionais internas ao sistema.
166 Fodor, 2002: 14-15. 167 «The logical form of a propositional attitude supervenes on the syntax of the
mental representation that corresponds to it.» (Fodor, 2002: 17) 168 «Supporters of the language of thought hypothesis point out that if thought is
like language in having a syntax, then we can explain the productivity of thought in the same way as we explain the productivity of language.» (Braddon-Mitchell & Jackson, 1996: 167)
218
Nos termos de Frank Jackson e Braddon-Mitchell, para Fodor não será o
caso de que, por exemplo, o desejo de chocolate seja desejo de chocolate
porque cause um comportamento de busca de chocolate; diversamente, é
o estado mental de desejo de chocolate «que causa o comportamento de
busca de chocolate porque é um desejo de chocolate»169. Outro modo de
exprimir esta diferença consiste em reconhecer que o funcionalismo
dispõe de uma orientação de explicação de fora para dentro, ao passo
que a LOTH orienta as suas explicações de dentro para fora. Recorrendo
uma vez mais a Braddon-Mitchell e a Frank Jackson, temos que:
Os teóricos da linguagem do pensamento avançam com uma história
dentro-fora que identifica o objecto proposicional independentemente do
papel funcional, e vê as frases de mentalês que codificam a proposição
como determinantes, em parte, do papel funcional. O funcionalismo, por
contraste, é uma história fora-dentro que vê o papel funcional como
determinante do objecto proposicional.170
Não obstante, o facto de estas duas orientações divergirem,
trocando o explanans pelo explanandum, não opõe realmente a hipótese
da LOTH ao funcionalismo, apenas expõe que estas duas perspectivas
teóricas assumem, de um ponto de vista epistémico, pontos de partida
distintos. Na verdade, a proposta de Fodor vem inscrever o
funcionalismo do computador na própria materialidade, digamos assim,
do cérebro, ao procurar descortinar neste, de uma forma empírica,
processos que possam ser interpretados como operações sintáctico-
computacionais. Neste sentido, e como bem nota Murat Aydede, uma das
169 «According to functionalism, the role played determines the propositional
object (…). But accordingly to the language of thought account, functional role primarily settles whether the state is a belief or a desire, not what its propositional object is. (…) The direction of explanation is the reverse of that which obtains in the case of functionalism. The desire for chocolate is not the desire for chocolate because, roughly, it (typically) causes chocolate-seeking behaviour. For Fodor, the state causes chocolate-seeking behaviour because it is a desire for chocolate.» (Jackson & Braddon-Mitchell, 1996: 165)
170 «The language of thought theorists advances na inside-out story that
identifies the propositional object independently of the functional role, and sees the sentence of mentalese that encodes the proposition as in part determining the functional role. Functionalism, by contrast, is an outside-in story that sees the functional role as determining the propositional object.» (Jackson & Braddon-Mitchell, 1996: 165-166)
219
teses que compõem a hipótese da LOTH, consiste na afirmação de um
materialismo funcionalista – «as representações mentais (...) são, num
certo nível adequado, entidades funcionalmente caracterizáveis que são
realizadas pelas propriedades físicas do sujeito que possui atitudes
proposicionais (se o sujeito é um organismo, então as propriedades
realizadoras serão presumivelmente as propriedades neurofisiológicas no
cérebro ou o sistema nervoso central do organismo).»171
c) LOTH: conformação ao Princípio das três restrições
A hipótese da LOTH mostra-se perfeitamente consentânea com as
três restrições que indicámos atrás para uma teoria computacional da
mente e, por maioria de razão, para o programa da IA-forte.
Reformulamos essas restrições:
Primeira restrição – Não visar explicar a compreensão e a consciência de
uma mente humana.
Segunda restrição – Não visar explicar toda a mudança de estado mental,
mas tão-só aquela que se reporte ao pensar computacional,
designadamente inferindo proposições a partir de outras proposições.
Terceira restrição – Não visar explicar como chega a haver uma mente,
mas restringir-se a explicar a mudança de estado mental.
Face à primeira destas restrições, Fodor trata de postular a
semântica em vez de a inferir da sintaxe. Desta forma, não se
compromete com a tese de que a compreensão, envolvida na semântica,
seja de natureza sintáctico-computacional.
171 «Functionalist Materialism. Mental representations so characterized are, at
some suitable level, functionally characterizable entities that are realized by the physical properties of the subject having propositional attitudes (if the subject is an organism, then the realizing properties are presumably the neurophysiological properties in the brain or the central nervous system of the organism).» (Cf. Aydede, 2002; também Aydede 1998)
220
Quanto à segunda restrição, há que notar que é claramente
assumida em Fodor (2002), mas, além disso, que já o era desde Fodor
(1975)172.
Por fim, a terceira restrição decorre da segunda. Se há mudanças de
estados mentais que não são explicáveis sintacticamente, então não é o
caso que a sintaxe possa, por si só, causar estados mentais. Sobre o que
causa, ao certo, os estados mentais, logo dotados, quando intencionais, de
uma semântica, Fodor nada diz; no entanto, se há um outro nível que
deva ser tematizado, isso não significa que seja ilegítima, dentro dos
limites que as nossas restrições prescrevem, a diferenciação proposta pela
hipótese da LOTH entre um plano sobreveniente, já mental, dotado de
forma lógica e um plano subveniente, ainda neural, dotado de relações
sintácticas.
172 «Mental states, insofar as psychology can account for them, must be the consequences of mental processes. Mental processes, according to the view that we’ve been entertaining, are processes in which internal representations are transformed. So, those mental states that psychology can account for are the ones that are the consequences of the transformation of internal representations. How many mental states is that? The main argument of this book has been that it comes to more than none of them. The present point, however, it also comes to less than all of them.» (Fodor, 1975: 200)
221
VI
Compreensão
Abordámos atrás problemas relativos à causalidade mental, mais
em particular, ao processo de mudança de estado mental enquanto
processo descritível em termos computacionais. Nesse quadro geral,
procurámos, no Cap. anterior, reconduzir a proposta funcionalista aos
termos de uma teoria acerca da dinâmica da mente, retirando-a do
âmbito problemático sobre o que seja um estado mental. Para isso
argumentámos pela insuficiência de uma definição funcional dos
estados mentais. A existência de uma feição qualitativa em todo e
qualquer estado mental e o problema da ocorrência simultanânea de
estados mentais valem, a nosso ver, como aspectos que inerem à plena
definição de um estado mental e que, no entanto, não são susceptíveis
de esclarecimento através de uma análise funcional. O princípio das
três restrições que apontámos quer ao programa da IA-forte quer à
hipótese da LOTH são outros indicadores dos limites de uma
satisfatória apreensão por parte do funcionalismo, lato sensu, quer do
que seja um estado mental quer do que seja a mudança de estado
mental. Já, por outro lado, rejeitámos o ponto de criticismo face ao
funcionalismo que alega, genericamente, que o funcionalismo nem
sequer é conciliável com uma teoria adequada da causalidade mental.
Reportámo-nos em particular à argumentação de John Searle,
designadamente aos seus argumentos do quarto chinês, da inexistência
de sintaxe no mundo físico e da independência da consciência face ao
comportamento.
Com o presente Cap., procuraremos mostrar que a todo o
processo cognitivo algorítmico subjaz um processo básico, estabelecer
alguns dos princípios fundamentais pelos quais se realiza este processo
básico e, ainda, como se torna possível inscrever o computacionalismo
da mente nesse processo.
222
1. Penrose e o argumento da partida de xadrez
Roger Penrose, matemático de formação, celebrizou-se nas
últimas décadas, muito para lá do seu domínio de especialidade, em
virtude de um conjunto de teses controversas quanto à possibilidade de
uma nova física, ponte entre a macrofísica einsteiniana e a microfísica
quântica, e quanto à possibilidade de residir nessa física “intermédia” a
solução para o problema eminentemente filosófico acerca da natureza
da consciência e da compreensão.
Tradicionalmente, os programas da Inteligência Artificial têm
partilhado a ideia de que a inteligência e a compreensão humanas são
de natureza computacional ou, ao menos, são de tal natureza que
podem ser simulados computacionalmente. Por computação, entende-se
aquelas operações que qualquer computador realiza, ou seja, o
resultado do cálculo (não necessariamente aritmético) através de um
algoritmo. Por exemplo, uma partida de xadrez jogada por um
computador. Ora, o que Roger Penrose defende é que o jogador
humano de xadrez não joga xadrez da mesma maneira que o
computador; ao contrário deste, joga não computacionalmente. Isto não
significa que o computador não nos possa vencer; pelo contrário,
tenderá a vencer-nos tanto mais quanto maior for a sua capacidade de
computar, mas isso tão-só por se tratar de um jogo computacional.
Mais precisamente, em que consiste computar? Roger Penrose
responde com exemplos matemáticos. Peça-se para determinar um
número que não seja a soma de três números quadrados.
Computacionalmente, proceder-se-á passo por passo (experimentando o
cálculo, segundo a ordem dos números naturais) até se encontrar o
número que de facto não seja a soma de três números quadrados.
Agora, se este exemplo encontra resposta ao sétimo passo, outros há em
que, pelo mesmo modo de proceder passo por passo, se verifica que a
computação é interminável. Por exemplo, se se pedir para determinar
223
um número que não seja a soma de quatro números quadrados. Ora, que
este cálculo é impossível esse é um teorema do matemático Joseph-
Louis Lagrange (1736-1813). Mas como o alcançou ele, se
computacionalmente o cálculo prosseguiria infindavelmente sem se
poder decidir sobre a possibilidade ou impossibilidade de determinar
um tal número que não fosse a soma de quatro números quadrados?
Poderia Lagrange dispor (ou simplesmente qualquer pessoa que
compreenda o seu teorema) de um outro algoritmo com que computasse
o resultado do teorema? De acordo com Penrose não. Em primeiro
lugar, porque, segundo a sua interpretação do famoso teorema da
incompletude de Gödel (1906-1978)173, «o procedimento
computacional não poderá compreender a totalidade do raciocínio
matemático para decidir se determinadas computações não
terminam»174; assim, e em segundo lugar, se Lagrange chega a
compreender o seu teorema e qualquer outra pessoa chega a
compreender Lagrange tal compreensão não deverá ser alcançada
computacionalmente. Desta forma, um teorema matemático mostrar-se-
ia relevante para uma das mais antigas teses sobre as mentes humanas,
a saber, que estas fazem o que nenhuma máquina poderá simular – e
que nessa diferença estão contidas todas as características que mais
distintivamente atribuímos às mentes humanas como a criatividade, a
liberdade, a intuição, etc. De certo modo, como que reafirmando as
razões de Descartes no séc. XVII, embora com outras noções,
designadamente a de máquina – já não a ideia de uma mecanismo
universal, mas a de realizações da máquina ideal de Turing.
Outra importante diferença, aliás também relativamente a muitos
pensadores contemporâneos, consiste no facto de tal impossibilidade –
173 «Na sua forma original o teorema de Gödel encontra-se no trabalho ‘Acerca
de Proposições Indecidíveis dos Principia Mathematica e sistemas relacionados’. Simplificando o seu resultado, o teorema diz que se adoptar para a aritmética um sistema formal como foi aí apresentado, se este sistema for consistente ... existe uma proposição que é verdadeira e que não é demonstrável no sistema. Deste resultado segue-se ainda um segundo teorema, esta agora acerca da consistência do sistema, segundo o qual nãoo é possível realizar uma demonstração da consistência do sistema formal recorrendo apenas aos meios do próprio sistema.» (Lourenço, 2001: 681)
174 Penrose, 1997: 118.
224
a da compreensão humana poder ser simulada por uma máquina de
Turing – não resultar de uma qualquer natureza intrínseca da mente que
a tornasse irredutível ao mundo físico. Bem diferentemente, tal
impossibilidade, a resultar, resultaria do facto de haver sistemas físicos
não simuláveis por uma máquina de Turing, isto é, haver sistemas
físicos não computacionais (mas nem por isso indeterministas) e que a
mente humana seria apenas um desses sistemas. Mais em particular, a
respeito da estrutura física da mente, Penrose propõe que haja um nível
quântico de computação cerebral que se processaria nos microtúbulos
que se encontram junto às sinapses entre neurónios, e que esse nível
não seria simulável como pretendem os programas da IA. Esta tese a
respeito dos microtúbulos é de difícil sustentação para muitos
investigadores, sobretudo por ser pouco crível que nesses microtúbulos
estejam dadas as condições de isolamento exigidas. Mas essa é a tese
mais científica de Penrose, caberá à experimentação infirmá-la ou
corroborá-la.
Em termos filosóficos, importaria sobretudo sublinhar duas
grandes teses: que a tese da não computabilidade, em Penrose, é
primeiramente uma tese física – «Procuramos na física a não-
computabilidade que faça a ligação entre os níveis quântico e
clássico»175 – , e só depois dirá respeito à mente humana. Trata-se
primeiramente de rejeitar a ideia de que toda a acção física é
reconduzível à acção de uma máquina de Turing, e, em segundo lugar,
que a compreensão humana é um desses processos não simuláveis. É,
pois, exteriormente à mente que Penrose procura provar uma
especificidade não computacional da mente que tem sido
tradicionalmente defendida de um ponto de vista de dentro –
«necessitamos não só de uma nova física, mas também de que esta
nova física seja relevante para a actividade do cérebro»176.
Por mais controversas que sejam as respostas que Penrose propõe
desde Emperor’s New Mind, 1989 (A Mente Virtual na ed. Port. da
175 Penrose, 1997: 109. 176 Ibidem.
225
Gradiva), e Shadows of the Mind, 1994 (com recepções muito críticas
de destacados filósofos como Daniel C. Dennett177 e Hilary Putnam) até
The large, the small and the human mind, 1997, o certo é que
constituem hoje um marco incontornável na discussão de problemas
como o de saber se a matemática e a física têm algo a contribuir para
uma explicação científica da mente humana, se esta explicação exige a
constituição de uma nova física, se o mistério da consciência humana
não está de certo modo associado ao mistério de uma nova física.
2. Discussão do argumento de Penrose
Em A Ideia Perigosa de Darwin (Darwin’s Dangerous Idea,
1995), Daniel Dennett acusa Penrose de ter cometido o erro,
relativamente trivial, de ignorar certa classe de algoritmos a que não se
aplicam as consequências do teorema da incompletude de Gödel.
Segundo Dennett, tratar-se-ia da classe dos algoritmos “arriscados”, a
que justamente atribui o principal papel no quadro da Inteligência
Artificial.
É exactamente nisto que as pessoas da inteligência artificial acreditam:
que existem algoritmos arriscados, heurísticos, para a inteligência
humana em geral, tal como há para jogarem bem às damas e ao xadrez e
para milhares de outras tarefas. E foi aqui que Penrose cometeu o seu
grande erro: ignorou este conjunto de algoritmos possíveis – o único
conjunto de algoritmos com que a inteligência artificial alguma vez de
preocupou – e concentrou-se no conjunto de algoritmos sobre os quais o
teorema de Gödel nos diz algo.178
177 Por exemplo – «Penrose propõe uma revolução na física, centrada numa
nova teoria, ainda não formulada, da “gravidade quântica”, que ele espera que explique como o cérebro humano transcende as limitações dos algoritmos. Penrose pensa que o cérebro humano, com os seus especiais poderes de física quântica, é um gancho celeste ou uma grua?» (Dennett, 1995: 447)
178 Dennett, 1995: 440.
226
Ora, sem contrariar a veracidade do facto apontado por
Dennett179 – a saber, que certos algoritmos arriscados, heurísticos,
escapam à limitação imposta pelo teorema de Gödel –, não é, a nosso
ver, o caso que Dennett possa extrair algumas das consequências que
julga poder extrair desse mesmo facto. Reportamo-nos, sobretudo, a
duas ideias que deverão ser contrariadas. Por um lado, a de que pelo
facto de uma realização da inteligência humana ser simulável pela
inteligência artificial isso signifique de alguma forma que aquela deva
ser de natureza computacional180 – ora, não se vê nenhuma razão de
princípio para reconhecer que algo computacionalmente simulável deva
ser, por isso, computacional.181 Por outro lado, que a formulação de um
qualquer critério com que se possa discernir entre inteligência humana
e inteligência artificial deva situar-se no plano de uma avaliação das
realizações.
179 Stan Franklin é outro autor que aponta a Penrose o facto de se ter esquecido
dos algoritmos heurísticos – «Não estará aqui em causa uma confusão entre níveis de abstracção? Nas minhas aulas de IA focamos frequentemente a programação heurística, os programas que geralmente dão a resposta certa mas em que não há a certeza de que o façam. Em todas as aulas, procuro inquietar os meus estudantes com a questão seguinte: Como é que um programa destes pode ser heurístico correndo num computador que só opera algoritmicamente? A resposta que pretendo aponta para uma diferença entre níveis de abstracção. Um programa de IA que realize uma pesquisa heurística no espaço de um problema está simplesmente a executar um algoritmo a um nível automático. Nada garante que este algoritmo encontre o estado-objectivo. Num nível superior de abstracção está a realizar uma pesquisa heurística.» (Franklin, 1995: 152)
180 «Some of this research has been heralded by critics as the death knell of
Artificial Intelligence or, more specifically, the symbol-crunching variety known as GOFAI – Good Old Fashioned Artificial Intelligence (…), and the impression has been created in many quarters that non-linear neural networks have wondrous powers altogether off-limits to mere computers, with their clunky, brittle algorithmic programs. But what many fans of neural networks have overlooked is the fact that the very models they advertise to prove their point are computer models, not just strictly deterministic but even, down in the engine room, algorithmic. They are non-algorithmic only at the highest level.» (Dennett, 2003:106).
181 «Comecemos por deixar claro que a crítica do paradigma computacional
não significa negar a importância dos computadores digitais na simulação de modelos de fenómenos cognitivos. Na perspectiva dinamicista que apresentaremos como alternativa, o computador digital é um instrumento imprescindível para a simulação e estudo do sistema dinâmico abstracto que modela o fenómeno cognitivo. Simplesmente, utilizar computadores para simular qualquer processo não significa admitir que esse processo faz computação. Tal como, por se poder calcular com um computador a trajectória de um projéctil, não se segue que esse projéctil computa a trajectória, também pelo facto de se poder simular modelos de fenómenos cognitivos não se segue que esses fenómenos sejam computação.» (Costa, 2001: 68)
227
Procederemos à discussão do problema em três etapas. Em
primeiro lugar, e radicalizando a posição de Dennett, procurar-se-á
defender que nenhuma realização da inteligência humana estará, por
princípio, fora do alcance da capacidade de simulação da inteligência
artificial. Nestes termos, não resulta possível encontrar um critério
positivo de discriminação entre o que seja inteligência artificial e o que
seja inteligência humana. Nada obriga a que, por princípio, um teste de
Turing fracasse.182
Contudo, após este primeiro ponto, procurar-se-á mostrar que,
ainda assim, é possível discernir muito claramente em que se distingue
a inteligência expressamente computacional de uma outra
distintivamente humana e fá-lo-emos não por um confronto directo
entre computadores e mentes humanas, mas pela identificação dessa
diferença entre duas formas de inteligência no seio das próprias mentes
humanas.
Com estes dois pontos, poderemos então, numa terceira etapa,
considerar que o debate sobre os limites da inteligência artificial deverá
ser reformulado – não se tratará de saber se há alguma coisa que as
mentes humanas façam e que um computador, por princípio, não possa
fazer, mas, se no seio das mentes humanas há evidência de uma
inteligência não computacional ou, ao menos, não expressamente
computacional, i.e, uma inteligência que se distinga não por obter
resultados diferentes da inteligência artificial mas por os obter
diferentemente.
Para estes efeitos, retome-se o exemplo do jogo de xadrez,
frequentes vezes empregue por Penrose e não menos vezes discutido,
em profícua réplica, por Dennett. Mais em particular, retome-se uma
certa circunstância de jogo em que o computador faz uma jogada de
pouca valia em virtude, segundo a análise do matemático183, da sua
natureza computacional. Em concreto, a circunstância de jogo
tematizada por Penrose é aquela, já em final de jogo, em que um dos
182 Este ponto é retomado, em boa medida, do nosso Cap. VIII. 183 Penrose,1997: 109-111.
228
jogadores se encontra em manifesta inferioridade quanto ao valor das
peças podendo apenas evitar a derrota se preservar intacta a sua barreira
de peões, o que o conduzirá a um lisonjeiro empate. De acordo com
Penrose, mesmo bons Softwares de jogo de xadrez cairiam na
“esparrela”, digamos assim, de sacrificar a consistência da sua barreira
defensiva de peões por uma troca aparentemente vantajosa de um peão
por uma peça mais valiosa, uma torre por exemplo. Este erro de jogo é
atribuído por Penrose à incapacidade do Software em fazer o que a
inteligência humana faz, avaliar o jogo na sua totalidade.
Obviamente, o exemplo de Penrose é um deplorável exemplo –
qualquer pessoa pode experimentar com um qualquer mediano
Software de xadrez se o seu adversário artificial cairá na esparrela de
desfazer a sua barreira defensiva a troco de um ilusório ganho
momentâneo e verificará que tal não sucede com a maioria dos diversos
Softwares com alguma qualidade disponíveis no mercado a preços
muito aceitáveis. Mas mesmo que não se queira enveredar por esta via
de argumentação, menos elevada do ponto de vista conceptual, não é
mais difícil demonstrar, em termos estritamente conceptuais, por que
razão o argumento de Penrose se revela claramente insuficiente.
Imagine-se que o programador do Software de jogo de que
Penrose nos fala tenha lido o seu O grande, o pequeno e a mente
humana, onde é descrita esta grave falha. Naturalmente preocupado
com eventuais reclamações por falta de qualidade do seu produto,
receando mesmo que lhe fosse exigida a devolução do dinheiro com ele
gasto, se não mesmo indemnizações pelas razões mais diversas, a sua
mais imediata acção seria pensar como corrigir o produto. E, nesse
sentido, julgamos poder presumir que concluiria uma de duas: ou
desenvolve o poder do Software em antecipar lances, computando
cursos alternativos de jogo em número suficiente para que no cálculo
do valor da jogada o Software reconheça o desastre que seria, a prazo,
um imediato ganho na troca de um peão da barreira defensiva por um
torre, ou limita-se a “colar” ao programa principal do Software uma
rotina que prescreva muito simplesmente um valor tanto maior de
229
conservação da barreira defensiva quanto maior for a inferioridade em
termos de valor de peças numa determinada fase do jogo.
A primeira das duas alternativas tornaria o Software mais
“inteligente”, mas inafortunadamente ou ter-se-ia que também o
processador que faz correr o programa seria muito mais rápido ou então
a inteligência do Software demorararia uma eternidade por lance a se
revelar. Daí, permita-se o aparte, que não abone muito a favor da
inteligência de um Software os seus lances eternizarem-se; daí, muitas
vezes, cedermos à impaciência, quando há essa opção, de um nível
mais fácil de jogo (um medium ou um easy em detrimento de um hard).
Para ultrapassar estas contingências que em grande medida ultrapassam
o programador, pode ele muito bem decidir-se pela segunda alternativa,
a de criar uma solução bem mais simples, e bem mais frequente,
consistindo na aplicação de rotinas e subrotinas ao Software para
determinadas circunstâncias de jogo (como aberturas,
desenvolvimentos e finais de jogo). Ora, esta via resolve de pronto e
sem grandes custos tecnológicos a grande falha computacional que
Penrose julgava ter encontrado. O programador, aliás, mostrar-se-ia
certamente muito agradecido por quaisquer outras falhas do mesmo
quilate que Penrose quisesse fazer o favor de apontar, conquanto para
isso existam bons manuais de xadrez, cuja qualidade se atesta por
exporem justamente um conjunto de instruções de sucesso quanto à
avaliação das diferentes fases de uma partida de xadrez.
Com isto, perguntar-se-ia, onde param as razões de Penrose se
não se verifica haver alguma capacidade humana em jogar xadrez que
não possa ser simulada pela inteligência artificial? Haveremos de as
reencontrar, pelo menos algumas, bastando para isso prosseguir o
argumento.
Eu sou um modestíssimo jogador de xadrez e vez por outra ainda
acalento a esperança de melhorar o meu desempenho. Com esse fito, lá
vou espiolhar os poucos manuais de xadrez que guardo na minha
estante em busca das importantes técnicas de avaliação da posição das
peças no tabuleiro que distinguem o meu modesto desempenho de
outros melhores que o meu. Chamemos a estas formas de avaliação
230
instruções de sucesso e, entre estas, uma é certamente aquela que
prescreve o alto valor da barreira defensiva de peões em circunstâncias
de jogo desfavoráveis. Há, naturalmente, muitíssimas outras; no
essencial, os manuais de xadrez distinguem-se, entre si, pela qualidade
do conjunto de instruções de sucesso que comunicam. Agora, isto vem
a propósito de um facto, digamos psicológico, embora crucial para o
nosso argumento, com que me deparo sempre que me dedico ao estudo
destes manuais – é que me sucede uma de duas possibilidades: ou
aprendo a aplicar a instrução de sucesso de forma adequada, com
proveito para o meu desempenho; ou, além disso, compreendo a
instrução de sucesso no seu alcance, apreendendo as razões que a
justificam enquanto instrução de sucesso.
O escrutínio entre estas duas possibilidades de estudo de um
manual de xadrez coloca-se igualmente, sem que incorra numa
generalização abusiva, para qualquer outro manual e reflecte, aliás,
também duas atitudes no ensino bem distintas. Por exemplo, tratando-
se de ensinar alguém a jogar um jogo, há duas formas de o ensinar.
Numa, ensina-se a proceder de certa forma quando sucede tal e tal, e a
proceder de uma outra forma quando sucede algo diferente. Na outra,
diz-se ‘experimenta assim, e vê o que sucede’, ‘experimenta agora
desta maneira, e vê o que sucede diferentemente’. As duas formas
ensinam a ganhar uma partida, mas só a segunda ensina a jogar
propriamente o jogo. Ora, é justamente a esta diferença que apelamos
para distinguir entre o componente computacional da inteligência e
algo mais que nos faz, por exemplo, desejar jogar um jogo. Por outras
palavras: digam-me que, por princípio, um computador pode fazer tudo
o que eu faço – há boas razões, as de Dennett por exemplo, para crer
que sim. Mas creio também que, por princípio, um computador nunca o
fará da mesma maneira que eu. Quais são as minhas razões? É que eu
também sei fazer de computador, basta que eu jogue um jogo
limitando-me a dominar as suas regras e instruções de sucesso,
obedecendo às primeiras aplicando as segundas – serei então como um
computador. Mas que absurdo seria pensar que alguém desejaria jogar
um jogo desta maneira!
231
Ora, a aprendizagem computacional de um conjunto de
instruções de sucesso distingue-se da aprendizagem propriamente
humana por não requerer nenhuma compreensão das instruções que se
aprende – bastará aprender a reconhecer as circunstâncias em que é
pertinente a aplicação da instrução de sucesso e, depois, aprender a
aplicá-la de forma adequada. Não será necessário, de todo,
compreender nenhuma das instruções de sucesso. Por exemplo, faça eu
de mim mesmo um jogador de xadrez que defronta outro jogador
humano. Como jogo menos bem que o meu adversário poderíamos
admitir que eu pudesse consultar um manual durante o jogo. Caso tal
não fosse eticamente admissível aos olhos do meu adversário, eu
também poderia memorizar um manual de xadrez – poder-se-ia, então,
concluir muito razoavelmente que eu estaria em condições de vencer o
meu adversário de circunstância, mas que de forma alguma, em
circunstância alguma, eu estaria em condições de me considerar alguém
capaz de vencer realmente o jogo. Levando a diferença a que se apela
aqui ao extremo de uma formulação paradoxal, dir-se-ia que não é por
eu vencer um jogador adversário, mesmo todos os jogadores que me
queiram defrontar, que se concluirá uma vez sequer que eu venci o
jogo; e também que não é por vencer o jogo que me posso autorizar a
concluir que estou capaz de vencer, uma vez sequer, um qualquer
jogador. Os computadores, por exemplo, derrotam jogadores, mas
nunca vencerão o jogo. Eu, por exemplo, venço o jogo quando tenho o
gozo de o compreender.
3. Atitude computacional e atitude compreensiva
Antes do debate das teses de Roger Penrose (iniciado com o The
Emperor’s New Mind, de 1989), a distinção que vimos elaborando entre
dois níveis de problemas, um computacional outro compreensivo, no
que respeita à inteligência humana, foi cabalmente formulada por Ray
Jackendoff em Consciousness and the Computational Mind (1987),
232
onde se discrimina, no quadro da problematização clássica de
Descartes, um problema mente/corpo computacional de um problema
mente/corpo fenomenológico, o primeiro ligado à questão ‘Como é que
um cérebro raciocina?’, e o segundo à questão ‘Como é que um cérebro
pode ter experiência?’. A estes dois problemas, Jackendoff acrescenta
ainda um terceiro acerca da relação entre os dois anteriores, em busca
de uma resposta à questão ‘Qual a relação entre estados computacionais
e experiência?’ – tendo a este chamado problema mente-mente 184.
No presente momento não procuramos explicar como chega a
haver experiência, muito menos como chega a haver computação, nas
mentes humanas. Apenas se procura esclarecer qual é a relação, se é
que há alguma, entre a experiência, designadamente a experiência da
compreensão, e a cognição mental. Neste sentido, interessa-nos
sobretudo, empregando as distinções de Jackendoff, dar resposta ao
problema mente-mente.
Que é que se argumentou até ao presente momento?
Primeiramente, que não há razões de princípio que impeçam a
capacidade da inteligência artificial simular qualquer resultado da
inteligência humana. Não obstante, e em segundo lugar, que a diferença
entre as duas formas de inteligência permanece legítima. Em terceiro
lugar, que tal distinção, longe de opor computadores e humanos, opõe,
isso sim, duas formas das mentes humanas serem inteligentes. Usámos
a título de ilustração a nossa experiência de estudo de manuais para dar
conta dessas duas formas diferentes de inteligência, diferença que se
deixa atestar pregnantemente em duas atitudes que podemos adoptar
face a um jogo. Evidentemente, as consequências que extraímos no que
respeita aos jogos deixam-se generalizar a quaisquer outras actividades
inteligentes. Pense-se num exercício aritmético simples – 33=?.
Computacionalmente, poderemos realizá-lo por que sabemos que três
elevado à potência de três equivale à multiplicação 3x3x3 e que, feito o
184 «Consequently, Descartes’ formulation of the mind-body problem is split into twoo separate issues. The “phenomenological mind-body problem” … is, How can a brain have experiences? The “computational mind-body problem” is, How can a brain accomplish reasoning? In addition, we have the mind-mind problem, namely, what is the relationship between computational states and experience?» (Jackendoff, Ray, 1987: 20 ; citado de Varela et al.., 1991: 52)
233
cálculo destas multiplicações, o qual por seu turno se deixa reduzir a
simples adições (3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3), obteremos o valor 27.
Compreenderemos a exponenciação pela relação que mantém com a
multiplicação; compreenderemos a multiplicação pela relação que
mantém com a adição; compreenderemos a adição pela relação que
mantém com a ideia de número. Compreendemos os passos
computacionais pela análise da sua complexidade, isto é, pela sua
recondução a séries de computação mais simples. Mas nem sempre
assim sucede. Por exemplo, sucede com frequência sabermos que as
equações de segundo grau (da forma ax2+bx+c=0) se resolvem por uma
fórmula – a fórmula resolvente –, mas não sucede com menos
frequência aplicarmos essa fórmula sem conhecermos a sua
demonstração. Nesse caso, o nosso registo de inteligência é
estritamente computacional. Uma criança no início da sua escolaridade,
empregando outro exemplo ainda mais elementar, pode memorizar toda
a tabuada da multiplicação e empregá-la com sucesso em operações
aritméticas mais complexas sem compreender efectivamente por que
razão quando diz que 8x8=64 de facto é assim e não de outro modo.
O mais curioso é que esta diferença, a que temos feito apelo,
entre duas inteligências não difere da que tem sido expressa desde os
alvores da Filosofia e, mais claramente ainda, no livro A da Metafísica
de Aristóteles185, entre a experiência (empeiria) e a ciência (a episteme,
mas mesmo a techné), o saber que (hóti) e o saber porque (dióti). O
próprio estagirita tem o cuidado de fazer notar que não há
necessariamente maior realização no saber-porque do que na
experiência-que, pelo que a discriminação entre ambos pode não ser
atestável pelas suas realizações. O ponto está na presença ou ausência
de razões que respondam à pergunta ‘porquê assim e não de outra
forma?’, ou, empregando o termo que mais nos convém, na presença ou
ausência de compreensão. Supor que Aristóteles saiba dar uma resposta
adequada ao debate em que se defrontam Penrose e os promotores da
teoria computacional do cognição mental humana poderá parecer
185 Cf. Aristóteles, Metafísica A, 1.
234
extravagante, atendendo à enorme distância temporal a que Aristóteles
se encontra de qualquer coisa como os debates em torno da Inteligência
Artificial, mas não só é verdade que distância temporal e distância
conceptual estão longe de ser coincidentes, como, neste ponto em
particular, trata-se de escrutinar uma boa perspectiva conceptual de
outra que falha redondamente o alvo. Com efeito, a força dos
argumentos que pretendem resistir à ideia de que as mentes humanas
possam ser dispositivos computacionais não dista conceptualmente dos
argumentos aristotélicos que pretendiam resistir à ideia de que o
conhecer as causas e os fundamentos últimos de algo pudesse coincidir
com o conhecimento meramente descritivo do homem de simples
experiência. Dito de outro modo, o que está em causa no debate sobre
os limites da inteligência artificial não é essencialmente diferente do
que estava em causa na distinção aristotélica, a propósito da natureza
do conhecimento humano, entre empeiria, por um lado, e tecné e
episteme, por outro.
4. Aproximações ao problema da compreensão
Perguntar-se-á: mas o que é isso de compreender? Não se vai,
indo por aí, resolver ilusoriamente um problema, baptizando
simplesmente algo em que concentramos todas as dúvidas como se a
um mistério nos devêssemos conformar? Expôs-se atrás que se
compreende uma instrução de sucesso para um dado jogo quando se
compreende as razões do sucesso que resultam da aplicação dessa
instrução, que se compreende uma operação aritmética complexa
quando se compreende as operações aritméticas mais simples que nela
estão subentendidas. Generalizando, dir-se-ia que a compreensão não
resulta ex nihilo, mas de outras compreensões – por exemplo, não
poderia compreender o que é a exponenciação sem compreender o que
é a multiplicação e não poderia compreender esta sem compreender a
adição; não poderia compreender o cálculo integral, sem compreender o
235
cálculo diferencial, e não poderia compreender este sem compreender o
conceito de limite de função e este sem o de função; etc. Mas é seguro
que haja sempre esta implicação de uma pré-compreensão? É ela
generalizável a toda e qualquer compreensão? E, caso o fosse, o que
poderia, então, ser uma primeira compreensão? Ao fim e ao cabo, por
que começa a compreensão? Por fim, perguntamos, em que termos o
que possa ser a compreensão pode estar para lá do alcance da
inteligência artificial, se é que é esse o caso? Estas são algumas das
questões que resultam imediatamente do que acabamos de sugerir.
Uma segunda aproximação ao problema poderá tornar mais
precisas algumas destas interrogações e, de algum modo, dar resposta a
outras. Introduziremos, nesse sentido, um segundo facto psicológico,
tão trivial quanto o que se expôs atrás, relativo à existência de duas
maneiras das mentes humanas realizarem qualquer coisa inteligente.
Trata-se do facto de que quando compreendo uma demonstração, tal
compreensão suscitar uma certa satisfação que adjectivaremos de
intelectual. Por que me sucede essa satisfação intelectual? Por que me
sucede, por exemplo, um certo fascínio quando compreendo a
demonstração geométrica do teorema de Pitágoras? Que relação existe,
se é que existe alguma, entre essa satisfação intelectual, mesmo
fascínio, e o facto propriamente dito da compreensão? Já a propósito
dos jogos havíamos caracterizado como distintivo da inteligência
humana o que chamámos ‘gozo da compreensão’, algo aparentemente
inacessível a uma inteligência estritamente computacional, mas
essencial para que valha a pena do ponto de vista de uma mente
humana perder um instante que seja com um jogo.
Tome-se em atenção a demonstração de um qualquer teorema. O
mais frequente é um adolescente em idade escolar aprender a aplicar
com sucesso um teorema numa série diversíssima de circunstâncias
sem, porém, nunca chegar a aprender a sua demonstração. Até aqui
nada de novo, tal aplicação é perfeitamente possível sem que se
compreenda o teorema e com o mesmo sucesso em termos de
desempenho do que quem o aplique dispondo da sua compreensão. Não
será despiciendo fazer notar que é exactamente isso que sucede, a título
236
de exemplo, com o teorema de Pitágoras como é ensinado em idade
escolar. Agora, a demonstração desse, como de qualquer outro teorema,
é ela mesma de natureza computacional – os teoremas deixam-se
inferir, através de regras de inferência, a partir de outros teoremas ou de
um conjunto inicial de axiomas –, o que envolveria num manto ainda
mais obscuro o que possa ser “compreender”, esse fenómeno
aparentemente pouco atreito a uma abordagem computacional. Se
demonstrar é ainda proceder computacionalmente, então que
suplemento pode merecer a designação de não computacional numa
demonstração?
A proposta heurística que avançamos para dar resposta a estas
questões, em particular a esta última, consiste numa analogia com o
conceito de acaso. Este fascina-nos por muitas razões, algumas mais
transparentes outras nem tanto, de certo modo o acaso é uma imagem
de poder incontrolado que tanto nos pode dar a felicidade como a
destruição, pôr-nos no caminho certo como impedir-nos de lá chegar
por maiores que sejam os nossos esforços; pomos a tónica na
incapacidade de o controlarmos em definitivo, pois assim é como se
valesse como a contra-imagem do esforço da razão e da vontade
humanas. Nele parece haver algo que excede a possibilidade de
qualquer computabilidade. E, no entanto, tal como o definiu o
matemático oitocentista Antoine Augustin Cournot (1801-1877), tal
fenómeno não consiste em nada mais do que a intersecção de duas
séries causais independentes186. O problema aparentemente misterioso
do acaso resolve-se no pouco misterioso facto de que duas séries
causais se desenvolvem independentemente uma da outra, e que tal
186 «HASARD ! Ce mot répond-il à une idée qui ait sa consistance propre, son
objet hors de nous, et ses conséquences qu’il ne dépend pas de nous d’éluder, ou n’est-ce qu’un vain son, flatus vocis, qui nous servirait, comme l’a dit Laplace, à déguiser l’ignorance où nous serions des véritables causes? A cet égard notre profession de foi est faite depuis longtemps, et déjà nous l’avons rappelée incidemment dans le cours des présentes études. Non, le mot de hasard n’est pas sans relation avec la réalité extérieure; il exprime une idée qui a sa manifestation dans des phénomènes observables et une efficacité dont il est tenu compte dans le gouvernement du Monde; une idée fondée en raison, même pour des intelligences fort supérieures à l’intelligence humaine et qui pénétreraient dans une multitude de causes que nous ignorons. Cette idée est celle de l’indépendance actuelle et de la rencontre accidentelle de diverses chaînes ou séries de causes.» (Cournot, 1875 :151-152)
237
independência é relativa à nossa incapacidade de abarcar uma série
causal do mundo completa. Donde, a célebre tese de Laplace (1749-
1827), defendida na sua Théorie Analytique des Probabilités, em 1812,
de que o acaso seria banido caso dispuséssemos do conhecimento das
condições iniciais do universo e de uma Fisica completa do universo187.
Ora, o que vimos propor é pensar a compreensão como a intersecção
de duas séries computacionais aparentemente independentes uma da
outra. Por exemplo, compreendo a operação aritmética da
exponenciação por relação à operação aritmética da multiplicação, e
esta por relação à da adição – compreendo o cálculo 33=27 por relação
ao cálculo 3x3x3=27, e este por relação ao cálculo
(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3). A analogia com a definição de Cournot de
acaso reporta-se, pois, às ideias de intersecção, série e de
independência. No exemplo que expomos, estão em causa três séries de
operações que poderíamos computar sem compreender as anteriores,
bastando para isso aplicá-las de forma bem sucedida. A compreensão
resulta quando uma série se revela afinal dependente de outra, quando
tal dependência é demonstrada, quando os resultados de uma são
explicados pelos resultados de outra.
Note-se que, entendida assim, a compreensão é sempre relativa a
algo188. Além disso, já não é o caso que se coloque o problema de uma
regressão até ao momento de uma hipotética compreensão primeira. Por
exemplo, é possível compreender a operação da exponenciação a partir
da da multiplicação, sem que, no entanto, se compreenda esta a partir
da da adição. É concebível que uma criança saiba que 82=64 porque
compreenda, conceptualmente, que o quadrado de um número é igual à
multiplicação desse número por ele próprio e saiba, por experiência,
que 8x8=64. No entanto, pode não ter nunca chegado a compreender,
conceptualmente, por que razão 8x8=64. Pode muito bem ter
187 Cf. Laplace, 1812. 188 Esta relatividade da compreensão não só invalida, a nosso ver, a presunção
de que haja tal coisa como uma compreensão absoluta como valida a ideia de que do mesmo se possam adquirir múltiplas compreensões, consoante a base a que cada uma é relativa.
238
simplesmente memorizado uma tabuada da multiplicação. Isto significa
que a compreensão não tem de resultar fundada noutra compreensão,
prévia – duas cadeias algorítmicas podem estar uma para a outra como
algo que se compreende para algo que faz compreender, sem que, no
entanto, cada uma, por si mesma, se diga compreendida.189
O fascínio do teorema de Pitágoras é a este título, como a muitos
outros, exemplar – que o simples desenho de certos triângulos nos lados
de um quadrado, como o fez Ptolomeu, revelem que a soma do
quadrado dos catetos seja igual ao quadrado da hipotenusa, que exibam
pictorialmente esse resultado é isso que nos faz dizer ‘Agora
compreendi!’. Duas séries perfeitamente lineares de proceder a cálculos
revelam-se subitamente dependentes uma da outra, uma explicando a
outra, dando a sua razão de ser, demonstrando-a. Eis, então, o ponto
crucial: o cruzamento das duas séries não resulta de uma operação
algorítmica, simplesmente sucede sem que se possa dizer que tal facto
tivesse de algum modo sido determinado – é justamente neste aspecto
que julgamos que o acaso e a compreensão partilham um mesmo poder
de fascínio!
Mas será tanto assim, será que cruzar séries aparentemente
independentes não é parte do que caracteriza o que Dennett designou
por algoritmos heurísticos? E se sim, por que não admitir que, definida
a compreensão desta forma, então haveria computadores que
compreendem? Por exemplo, suponha-se um algoritmo que proceda da
seguinte forma: i) percorra de forma aleatória um domínio de
algoritmos, por forma a seleccionar um par de algoritmos ainda não
seleccionados, ii) teste se os dois algoritmos seleccionados exibem uma
mesma regularidade, iii) classifique o tipo de regularidade identificado
consoante se dê o caso, ou não, de um dos dois algoritmos
seleccionados poder valer como explicação do outro, iv) exponha, pelas
vias de saída disponíveis, a explicação possível encontrada numa
189 Noutros termos, julgamos poder afirmar que a semântica da operação
compreendida não é mais do que a sintaxe da operação que serve de base à compreensão. Por exemplo, a semântica da exponenciação é a sintaxe da multiplicação, a semântica desta é a sintaxe da adição, etc.
239
Língua natural como o Português, v) faça seguir tal explicação pela
expressão “agora, compreendi!”
Replicar-se-á que esta será apenas uma forma de levar a
simulação até à compreensão, através da conversão desta num
resultado, entre todos os outros que a inteligência artificial é capaz, por
princípio, de simular. Mas por que razão se haveria de considerar isso
pouco? Ao fim e ao cabo, não é desta forma dado um procedimento
algorítmico que realiza, ou ao menos pode realizar, demonstrações
(note-se que não digo “simula”), e que explicita verbalmente uma
compreensão? Sim, é certo que sim, mas, no entanto, o algoritmo não
realiza uma compreensão genuinamente em função da demonstração,
mas tão-só porque o programa computa essa resposta de compreensão
quando se dá o caso de alcançar algo que reconheça como uma
demonstração. Nesse sentido, não se tratará de uma compreensão
genuína, mas tão-só de uma compreensão simulada.
Com os elementos expostos, esta discussão arrisca a ser
inconclusiva, pois porque para que se possa considerar uma tal
distinção entre o que seja genuinamente uma compreensão e o que seja
apenas uma compreensão perfeitamente simulada necessário será
primeiramente determinar se pode existir, ou não, um critério e, se sim,
então, que critério é esse.
Uma terceira via de aproximação ao problema da compreensão
procura expor esse critério como sendo a própria consciência. Com
efeito, quando uma mente humana realiza, sintáctico-
computacionalmente, duas séries de operações – por exemplo, a
exponenciação e a multiplicação – não está apenas em causa, falando-
se de compreensão, que uma delas se revele uma especificação da
outra, mas também que haja experiência consciente quer das duas
séries, cada uma por si, quer do momento, eventualmente suscitador de
compreensão, do “cruzamento”. Em termos simples: não há realmente
compreensão sem consciência porque esta é de natureza experiencial.
Note-se, a este propósito, que até pode haver algo de computacional na
decisão de cruzar as duas séries; não se vê é como nessa decisão
pudesse estar contida a compreensão.
240
Somos, assim conduzidos a dizer que a mente humana,
diversamente de um computador, tem consciência das computações que
realiza, sucedendo que a compreensão genuína envolve uma
consciência aparentemente inacessível à mera computação, por mais
complexa que seja, de um processador automático. Trata-se de chamar
a atenção para o facto de que as mentes humanas têm consciência das
suas computações, experienciam-nas e que, tanto quanto as aparências
o revelam, isso não sucede com os computadores – mesmo que fossem
exactamente as mesmas as computações realizadas por uma mente
humana e por um computador, distinguir-se-iam estes dois
“processadores” pelo critério de terem ou não experiência dessas
computações, i.e, terem ou não consciência delas. Em suma, tratar-se-á
de afirmar que a compreensão é de natureza experiencial.
Um exemplo, mais uma vez de natureza psicológica, exibe de
forma bastante clara esta diferença. Coloquemo-nos na posição de
leitores de um texto qualquer, suponhamos um poema, um artigo de
opinião, uma receita culinária, tanto faz, desde que se trate de algo
legível. Suponhamos que em duas circunstâncias temporalmente
distintas, por exemplo, ontem e no presente momento, eu tivesse lido o
mesmo texto, e que o tivesse feito razoavelmente bem nas duas
ocasiões, a ponto de não levantar a suspeita a quem me ouvisse ler de
que entre as duas ocasiões uma alteração radical sucedera, a saber, a de
que, numa das ocasiões, não importa qual, eu não lera senão
maquinalmente, isto é, seguindo as regras e cumprindo as instruções de
sucesso para que resultasse para o auditório uma leitura, mas sem que,
em momento algum, eu prestasse de facto atenção ao que ia dizendo.
Não exprime este exemplo a diferença entre o que posso fazer, sempre
com igual competência do ponto de vista dos resultados, em dois
registos, porém, inteiramente distintos, um em que está em jogo a
tensão entre compreender e não compreender, outro que, pura
simplesmente, não mantém nenhuma relação com a experiência da
compreensão, sequer da incompreensão? Não é a essa diferença que
nos reportamos quando dizemos a alguém ‘está a ler, mas não está a
escutar o que lê’?
241
O exemplo da leitura revela-se ainda mais rico quando pensamos
numa criança que aprende a ler – ela aprende como ler, seguindo regras
e aplicando instruções de sucesso, e enquanto aprende, sucede-lhe
corrigir a sua competência imperfeita com o momento da compreensão.
Soletrando as palavras que lê, a criança só se dá por convencida quanto
à sua capacidade de ler quando experiencia o reconhecimento daquilo
que soletra, quando tem a experiência do que quer dizer o que lê. Por
exemplo, lê alto qualquer coisa como ‘coraçaú’ e, num instante,
apercebe-se do erro e corrige para ‘coração’. Corrige-se assim o
reconhecimento gráfico pelo reconhecimento acústico. Uma situação
equivalente seria a de um professor que ao ler um teste escrito de
frequência de um aluno encalha na palavra ‘curassao’ e que só ao lê-la
uma segunda vez, em voz alta, compreende o erro, de natureza
ortográfica, do aluno – tratava-se, afinal, da palavra ‘coração’, pensará
o professor. Aqui, uma vez mais, corrige-se pelo reconhecimento
acústico uma falha de reconhecimento gráfico. Em ambos os casos
verifica-se que por uma actividade computacional não gerar a
compreensão, como seria de esperar, procura-se outra que o faça e
assim suprima a falha da outra.
Estes exemplos, além de exporem a diferença não pouco
importante entre reconhecimento acústico e reconhecimento gráfico,
exibem o facto, que mais nos importa agora, de a um mesmo
processamento de informação gráfica tanto poder seguir-se uma
compreensão como não se seguir compreensão ou incompreensão de
espécie alguma. E isto é o bastante para não autorizar que se formule a
ideia de que um certo processamento de informação gráfica, por
exemplo o da leitura, seja condição suficiente da sua compreensão. Era,
note-se, exactamente isto que se concluía no exemplo de uma partida de
xadrez, em que uma mente humana ou pode jogar apenas
computacionalmente um lance ou procurar compreendê-lo, sem que daí
resulte alguma diferença nos resultados materiais publicamente
verificáveis. E a mesma conclusão é extensível a todas as actividades
expressamente computacionais de uma mente humana – ou temos delas
242
uma experiência, seja de compreensão ou de incompreensão, ou não é o
caso que tenhamos uma experiência.
Com esta alternativa fica claro que o critério da consciência,
terceiro critério para a compreensão, é pertinente para distinguir dois
níveis da vida mental humana, dois níveis de processo mental. Logo,
não será com certeza impertinente aplicá-lo no âmbito da inteligência
artificial. Por outro lado, fica também claro o facto, que reportámos às
mentes humanas, de o nível compreensivo não se seguir
necessariamente do nível computacional. Ora, isso constitui um bom
argumento contra a ideia, quando nos reportamos a “mentes artificiais”,
de que o nível compreensivo, experiencial, propriamente consciente de
uma mente decorreria muito naturalmente do nível computacional. Se
assim não sucede com as mentes humanas, por que razão se haveria de
aceitar tal posição? A verdade é que os exemplos acima expostos
sugerem muito fortemente que o nível compreensivo de uma mente
humana resulta a pretexto do nível computacional, mas de forma
alguma determinado por este. O facto de as mentes humanas poderem,
em geral, proceder a tarefas regidas por algum tipo de algoritmo sem,
no entanto, terem a experiência de compreensão das razões por que o
estão a fazer – é este o facto que sugere fortemente a ideia de que a
compreensão, pela sua própria natureza, não possa ser reconduzível
numa sua explicação teórica aos processamentos computacionais que
compreende.
Mas retomando os momentos propriamente ditos de
reconhecimento e de compreensão exemplificados com as leituras
deficientes, perguntar-se-á: não serão eles resultados de outros
algoritmos, em paralelo com o da leitura maquinal? É que, desta feita,
replicar-se-á que não há objecção de princípio a que um outro
processamento de informação, em paralelo com o primeiro, gere o tal
reconhecimento, a tal experiência de compreensão que supostamente
permaneceria essencialmente estranha a um mero processador. Em
particular, da mesma forma que é perfeitamente concebível um
Software que tenha por entradas sinais gráficos e por saídas sinais
sonoros, isto é, palavras escritas e palavras ditas respectivamente,
243
procedendo assim à leitura (não menos maquinal que a que
descrevemos, por exemplo, numa criança de cinco anos), também é
concebível que nesse mesmo Software outro algoritmo tenha por
resultado uma compreensão. Ou não? Pense-se num algoritmo que
tenha por entradas as saídas do primeiro – as palavras lidas –, as
confronte com registos de memória, assinale um ou mais, assinale
depois registos associados aos primeiros, memorize tudo o que assinala,
memorize todos os seus próprios passos, não tenha nenhum output a
não ser a alteração da sua memória. Não estaremos desta maneira a
fazer o design de um algoritmo de compreensão? Respondo que ainda
não, embora já tenho faltado mais. Estaremos a fazer apenas o design
de um algoritmo de aprendizagem. O que já não é pouco. Imagine-se,
por exemplo, um Software de xadrez com capacidade de aprendizagem
– a cada partida jogada, a cada lance mesmo, algo mais fica
memorizado, mais uma associação entre lances, mais uma avaliação.
O que falta para a compreensão? A experiência ao que parece.
Reformule-se a questão: o que falta ao design do Software de xadrez
para que haja experiência? Esta é a questão que introduzirá o quarto e
último critério que proponho para a compreensão, a saber, o que
denominanei critério da avaliação momentânea, mas que, como
veremos em seguida, é apenas critério da compreensão realizada por
mentes humanas.
5. Critério da avaliação momentânea
Empregando um argumento caro a Dennett, a sobrevivência da
espécie privilegiaria certamente aqueles seres que avaliassem o mais
depressa possível e o mais correctamente possível cada situação de
vida. Ora, as mentes humanas (as pessoas pois!) vivem no tempo, sob a
pressão de avaliações praticamente momentâneas, em que está em
causa uma pronta capacidade de decidir e de agir em conformidade.
Naturalmente, sabemos que a pressa não é boa conselheira, mas
244
sabemos igualmente que muitas vezes é entre fracções de segundos que
se joga a diferença entre a vida e a morte. Daí que a capacidade de
avaliação momentânea seja um dado tão incontornável das vidas
humanas como a falibilidade dessas mesmas avaliações. Perguntem-
me: por que decidiste fazer desta maneira e não daquela outra maneira,
é que era muito mais fácil, mais racional, mais elegante, etc.? Só posso
responder: bem sei que sim, agora compreendo-o claramente, mas, na
ocasião, só me lembrei de trepar pela árvore acima. Nós, de certo
modo, deixamos as nossas mentes decidir; só depois, vamos à procura
das razões que assistam à decisão e não raras vezes surpreendemo-nos,
ou nem tanto, por compreendermos que poderíamos ter decidido
diversamente e por compreendermos que nos decidimos sem que razões
nenhumas fossem, pelo menos expressamente, tidas em conta. Uma
espécie de intuição. Como, por exemplo, quando me perguntam ‘Achas
isto bom ou mau?’ e eu respondo uma coisa ou outra, ou quando
exclamo ‘Como isto é belo!’, ou quando me dizem ‘Simpatizo com
aquela pessoa’. Se digo que é bom, que é belo, se me dizem que é
simpático, se fazemos assim a todo o momento avaliações – hoje, por
exemplo, está um bom dia –, também é certo que sabemos que
avaliámos o que avaliámos sem que tivéssemos tido em conta razões
explícitas que sustentem por que achamos algo bom, belo, simpático,
etc.
A nossa sugestão é que esta capacidade da avaliação
momentânea é o critério último da compreensão, precisamente porque
tal capacidade não nos seria possível sem consciência, sem experiência.
Aliás, há uma forma muito curiosa de pensar o problema da inteligência
artificial e que se resume a isto – se a consciência, a compreensão, a sua
experiência propriamente dita, constituem a solução naturalmente
encontrada para satisfazer o critério da avaliação momentânea, se nada
nos diz que não sejam possíveis outras soluções, se, designadamente, a
inteligência artificial conseguir, em virtude do aumento logarítmico da
velocidade de processamento e do processamento paralelo maciço,
conseguir o mesmo resultado, então a consciência revela-se, afinal,
perfeitamente dispensável do ponto de vista da eficiência da avaliação.
245
Isto significa que a consciência e a experiência da compreensão
são meios para a inteligência humana, mas que, se não formos
“chauvinistas” quanto à inteligência, outros meios podem valer para
uma inteligência, seja artificial ou qualquer outra – alienígena, divina,
etc. A contrapartida é que uma inteligência artificial satisfazer o critério
da avaliação momentânea não é necessariamente, nem pouco mais ou
menos, um critério de consciência. Em tese, sê-lo-á efectivamente tão-
só no caso das mentes humanas; em tese, ou, se se preferir, por
hipótese, podemos pensar que a natureza terá desenvolvido nas mentes
humanas a consciência para alcançar o que na inteligência artificial é
alcançado por uma velocidade de processamento de todo incompatível
com os constrangimentos neurofisiológicos que estabelecem as
condições de existência, digamos assim, de uma mente humana.190
A partir desta perspectiva, a consciência e o carácter experiencial
da compreensão valem não apenas como parte do problema, ou mesmo
como o problema crucial (que é o que tradicionalmente tem sido feito),
mas também, mesmo sobretudo, como parte da solução.
Perguntar-se-á, porém, mas por que razão candidatamos a
consciência, a experiência propriamente dita de uma mente, a ser parte
da solução? Por que razão, mais em pormenor, a candidatamos a ser
190 «O tempo reactivo dos seres humanos é da grandeza dos 500 milésimos de segundo. Isto é, para categorizar uma percepção, recuperar uma memória, resolver a ambiguidade de uma palavra numa frase ou realizar um único acto cognitivo, um ser humano precisa de cerca de meio segundo. ‘Cerca de’ deve ser interpretado tendo em conta um factor de 10 mais ou menos, ou seja, entre 50 milisésimos de segundo e alguns segundos. O tempo de disparos neurais consecutivos é de aproximadamente 5 milésimos de segundo. Assim, o número de disparos por reacção é de cerca de 500 dividido por 5, ou 100 disparos neurais... Note-se que estamos a falar do tempo de reacção e não do tempo de decisão, i.e., sem tempo de pausa para deliberar, mas apenas o suficiente para que surja uma ideia. Mas nenhum computador sequencial computa uma coisa de jeito em 100 passos sequenciais... Donde se conclui que os sistemas nervosos têm de depender bastante do seu paralelismo maciço... Recorde-se que os computadores calculam muito mais rapidamente do que os neurónios humanos.» (Franklin, 1995: 191) «No cérebro dá-se um processamento em paralelo em larguíssima escala. Apenas como exemplo, consideremos as primeiras etapas do processamento visual, que são já relativamente conhecidas. Em cada instante estão a ser realizadas, para todas as regiões da imagem recolhida pela retina, operações de detecção de contornos com todas as direcções, de detecção de movimentos em todas as direcções e para uma larga gama de velocidades, etc. Isto implica um número elevadíssimo de neurónios, todos funcionando em paralelo, com grupos de neurónios a realizarem cada uma destas operações sobre capa pequena região da imagem.» (Almeida, 1999: 6)
246
uma boa solução para explicar como as mentes humanas satisfazem o
critério da avaliação momentânea?
Invoquemos uma vez mais o designer do Software de xadrez com
que temos tratado o problema da compreensão. Chegáramos atrás ao
esboço do que poderia constituir um Software capaz de aprendizagem,
mas ainda não de experiência. Considerámos que faltava algo, e
considerámos – talvez nos devêssemos surpreender! –, que já não era
tanto isso que faltava. Mas veremos agora que não é tanto de
surpreender. Com efeito, façamos, conjuntamente com o designer, o
seguinte exercício: i) demos já bastantes exemplos da diferença que se
instancia nas próprias mentes humanas entre um tipo de inteligência
computacional, ou ao menos muito semelhante à que é efectuável no
quadro da IA simbólica, e outro tipo de inteligência que envolve
compreensão e que não parece poder, de acordo com as razões que
apresentámos atrás, encontrar todas as suas condições na
computabilidade; ii) tendo, então, em vista esta diferença, procuremos
apoiar nela uma proposta de design para um Software de xadrez capaz
de experiência de compreensão.
Como haveremos de proceder? Primeiramente, e em vez de
calcular o melhor lance, o algoritmo deveria proceder à recolecção de
um conjunto de candidatos a lances; em seguida, deveria calcular para
cada um desses lances candidatados o conjunto de cursos de jogo
possíveis (dentro da sua capacidade de antecipar um certo número de
lances, capacidade que resulta da velocidade do processador) que se lhe
seguiriam com maior ou menor probabilidade, testando assim
computacionalmente o valor de cada candidatura; finalmente, com a
atribuição de um valor a cada um dos candidatos a lance, jogaria aquele
cujo valor fosse maior. Esta sequência de três fases não deve andar
longe de uma descrição adequada do processo que conduz um jogador
humano a decidir-se por uma certa jogada em detrimento de outra.
Mas, como bem dá para notar, a primeira destas três etapas é
aquela em que se localiza o ponto quente da discussão – as restantes
são perfeitamente enquadráveis numa descrição computacional. A
questão dífícil reside em saber como é possível a tal “recolecção de um
247
conjunto de candidatos a lances”; mais precisamente, nem é em rigor na
recolecção que reside a dificuldade – aí tratar-se-á apenas de apanhar a
fruta da árvore –, mas no facto de haver qualquer coisa como
“candidatos a lances” – ou seja, fruta na árvore! Como surgem eles?
Como chegam a apresentar-se? Sob que procedimento? Será este ainda
de natureza computacional, mesmo que de forma não expressa? Um
artigo de Drew McDermott, no conjunto daqueles que fizeram o debate
pós-embate Kasparov/Deep Blue, parece inclinar-se para uma resposta
positiva a esta última questão – tudo não passaria de uma diferença
entre um processamento inconsciente e outro consciente191. Mas há
fortes razões para nos acautelarmos com um resposta divergente. É que
não é de todo líquido que o processamento de informação (pré-
consciente nas mentes humanas) que conduz à apresentação das
candidaturas seja um processamento de informação à maneira de um
dispositivo computacional. É possível avançar com uma outra resposta
se se der crédito ao debate em torno do estatuto dos estados mentais a
que chamamos crenças, especificadamente se são de natureza
proposicional como propõe Jerry Fodor, ou se são mais como mapas na
linha de Ramsey, Dretske192 ou Jackson e Braddon-Mitchell193, ou
ainda, se são representações de estados de coisas ainda não
191 «Suppose most of their skill comes from an ability to compare the current position against 10,000 positions they've studied. (There is some evidence that this is at least partly true.) We call their behavior insightful because they are unaware of the details; the right position among the 10,000 “just occurs to them”. If a computer does it, the trick will be revealed; we will see how laboriously it checks the 10,000 positions. Still, if the unconscious version yields intelligent results, and the explicit algorithmic version yields essentially the same results, then they will be intelligent, too.» (Cf. McDermott, 1997)
192 «I have always liked Ramsey’s (1931) image of beliefs as maps by means of which we steer. As I now see it, beliefs become maps, acquire representational powers, in the same process, the learning process, as that in which the information from which they derive their content gets its hand on the steering wheel.» (Drestske, 1994: 264) (Ramsey, F.P. 1931. The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays. London: Routledge & Kegan Paul.)
193 «The alternative to LOTH is an account of belief that sees belief as map like. For LOTH, individual beliefs are fundamental; while on the map view systems of belief are fundamental. Inside us is a hugely complex structure that richly represents how things around us are in an essentially holistic way. (…) It has recently been argued that there is empirical evidence that our brains represent how things are around us in something like the way an internal map or hologram might. » Jackson & Braddon-Mitchell, 1998: 705-706)
248
proposicionalizados. Ora, só à primeira destas três alternativas – a
defendida por Fodor, se ajusta o modelo da IA simbólica, isto é, de uma
manipulação de símbolos mentais discretos, por princípio
individualizáveis, pertencentes a uma “linguagem do pensamento”.
Além destas razões, outras existem que se prendem com o facto,
bem conhecido, de se distinguirem dois níveis de actividade mental
inteligente, um consciente e outro inconsciente, que McDermott
pretende fazer corresponder à diferença entre um algoritmo explícito e
outro não explícito. Simplesmente, se assim fosse não se perceberia que
desempenho poderia ter a consciência na compreensão humana, não se
perceberia mesmo por que razão haveríamos de ter uma consciência –
por que não imaginarmo-nos as nossas mentes a realizarem todo o
processamento num nível inconsciente? E assim de que serviria a uma
mente dispor de experiência e consciência?194 Será simplesmente para
desfrutar do maravilhoso que é o mundo? Em suma, parece perder-se
assim de vista a determinação do contributo da consciência e da
experiência da compreensão para a cognição.
Procuremos, então, pensar essa problemática apresentação dos
“candidatos a lances”. Dando por adquirida a capacidade de
aprendizagem do nosso Software de xadrez, vejamos como poderíamos
modelá-la à semelhança do que com ela faz um jogador humano. Para
isso convém começar por prestar atenção ao jogador humano.
Face ao facto evidente de o jogador humano aproveitar o que
aprendeu, ao longo da sua vida de partidas e torneios, para melhorar o
desempenho do seu jogo, há que fazer uma primeira nota de relevo – a
aprendizagem recordada não é necessariamente, sequer
privilegiadamente, algorítmica. Pode, por exemplo, o jogador recordar-
se de uma mesma situação de jogo que lhe sucedera num certo torneio
há anos atrás e que, então, na partida em causa, optara por um certo
desenvolvimento de lances que lhe não fora feliz. Decide, assim, optar
agora por uma outra alternativa de jogo que espera pelo menos não lhe
194 Este tipo de questões é que justificam para David Chalmers a formulação
de um “hard problem” relativo à cognição – justamente o de saber qual o papel da consciência na cognição. Cf. Chalmers, 1995: 200-219.
249
ser tão negativa. A evocação ficou evidentemente a dever-se à
semelhança entre as situações de jogo – esse é o trabalho da memória
de associações –, mas não é menos evidente que poderia ter sido outro
o circunstancialismo da evocação. Suponha-se que a situação de jogo é
inteiramente diferente daquela que corresponde ao seu estilo habitual
de conduzir a partida e que, apercebendo-se disso, o jogador declina um
lance que lhe costuma ser habitual pelo facto de não ver com clareza a
que é que, na presente situação de jogo, isso o conduzirá no intervalo
de meia dúzia de lances. Semelhanças e dissemelhanças como estas (e
muitas outras) estão subjacentes ao trabalho de evocação da
aprendizagem por parte da memória. Situações tipo explicadas em
manuais de grandes mestres, lances laboriosamente reflectidos em casa,
aspectos de estilo, tudo isso faz parte do evocável pela memória, e tudo
isso tem um certo valor em função dos resultados obtidos outrora
noutras partidas. O jogador avança com o seu lance após avaliar, dentro
do tempo de que dispõe, todas as evocações relevantes e se convencer
de que uma é melhor do que as restantes ou, ao menos, se convencer
que o seu lance é, atendendo às circunstâncias, bom. Naturalmente,
muita coisa pode falhar e a muitos níveis. Por exemplo, pode ter faltado
a evocação certa no momento certo e só depois vir – qual partida da
memória – para perturbar um temperamento pouco dado à serenidade.
As evocações trazem novas evocações a partir do momento em que o
jogador, na intimidade das suas memórias, escolhe testar uma delas e,
no entanto, pode também aí a memória pregar a sua rasteira. E ao
escolher certa via, e aplicando as suas excelentes capacidades de
cálculo (presumamos que sim) pode também suceder ao jogador
enganar-se no cálculo, esquecer um peão avançado uma casa e que o
derrotará ao fim de poucas jogadas, etc.
Qual é o ponto? O jogador gasta muito mais do seu tempo
disponível de lance a evocar e a escolher entre as evocações uma em
particular para que dela se sigam novas evocações do que simplesmente
a computar um algoritmo. De certo modo, o jogador limita-se a
conduzir o trabalho da sua memória até obter uma evocação que o
satisfaça. Este é o desígnio. É certo que também passa parte do seu
250
tempo a computar consequências que resultem da escolha de um dado
lance, mas na maior parte do seu tempo de jogada confia na memória e
nas computações que noutras ocasiões realizou. E se computa é
justamente para alcançar algo novo, uma experiência nova, a
memorizar e a evocar em ocasiões futuras; ou seja, tem a computação
ao serviço do desígnio de obter uma experiência que satisfaça.
É claro que o procedimento da rememoração pode ser pensado
como se fosse ele mesmo o resultado de um algoritmo, mas esse é um
problema que se encontra a montante do problema da compreensão.
Admitindo que as associações mentais são fixadas pela conectividade
da rede neural do cérebro humano, é admissível a existência de um
algoritmo que face a cada entrada processe certa ou certas saídas. Aliás,
factos psicológicos como o da relativa constância das associações – do
tipo “a visão de certo rosto evoca em mim frequentes vezes um outro
rosto” – podem sugerir a existência de um procedimento algorítmico.
Simplesmente, não é aí que está o “toque especial” que presumimos
tornar tão peculiar a inteligência humana. Este encontra-se mais a
jusante, no preciso facto de haver experiência e escolha, apresentações
e decisão.
O jogo das associações livres de palavras é a este propósito
exemplar. Por exemplo, se me perguntam o que me diz uma cor e
depois outra, responderei muitas coisas, muitas delas provavelmente
extravagantes, sem que entre elas se encontre qualquer forma explícita
de activação a não ser o facto de estarem associadas na minha memória
e de o estarem em moldes tão distintos como a contiguidade espacial, a
sucessão temporal, a semelhança conceptual, a partilha de uma
propriedade, a comum associação com um terceiro, etc. Depois, restará
escolher. Repare-se como esta natureza da memória não é senão aquilo
que está em causa, muito em particular, no poder das metaforizações,
tornando expressas associações implícitas, fazendo de uma associação,
por vezes com a idade do mundo, uma experiência inédita.
Em que é que a experiência contribui para a cognição desta
associação? Ela já lá estava; simplesmente agora tornou-se consciente e
de uma forma explícita. Cognitivamente, que importa esta diferença? É
251
que na experiência inédita de uma associação metafórica experiencia-se
também o efeito dessa associação nas outras associações que com ela
costumam fazer sistema, há como que uma repercussão espontânea do
que é inédito no que é o resto do mundo relativo a essa associação e,
em tese, propomos que tal sucede em virtude da sua vinda à
experiência, da sua actualização na consciência. Estas ideias são muito
menos estranhas do que poderia parecer à primeira vista, inspiram-se,
aliás, na nossa experiência de fenómenos naturais que qualquer física e
química clássica explica.
Um modelo material muito cru, mas valioso pela sua
simplicidade, poderia ser este: i) faça-se uma rede de tubos de plástico,
em que os tubos comunicam uns com os outros um pouco à maneira de
uma rede conexionista; ii) considere-se que essa rede tubular pode estar
em dois e apenas dois estados: em enchimento, por se verter nela um
líquido, por exemplo água; ou simplesmente vazia; iii) considere-se que
o enchimento pode ser iniciado em qualquer um dos tubos da rede,
partindo daí o enchimento dos restantes de acordo com a disposição
dada de canalizações; iv) considere-se que há um constrangimento
relativo ao tempo de enchimento, não ultrapassando este um certo
período de tempo t, durante o qual a rede tubular jamais poderia chegar
a ficar totalmente enchida; v) considere-se que há também um
constrangimento quanto à quantidade de líquido a verter, pelo que à
medida que o líquido se vá distribuindo, durante o período t, menor vai
sendo a sua pressão. Seja este modelo então. Agora, considerem-se
duas condições adicionais relativas à funcionalidade da rede: que esta
rede tubular se encontra em permanente alteração (vi) e que a alteração
é feita às cegas (vii). Estas condições adicionais impõem que a única
via para verificar a correcção da rede tubular consista em proceder ao
enchimento da rede no ponto em que ela foi alterada – a alteração será
incorrecta se o enchimento reflectir-se num mau funcionamento da
rede, i.e., não atingindo canais óbvios, vertendo água para fora da rede,
etc.; a alteração será correcta se se seguir ao enchimento o mesmo
funcionamento de sempre, i.e., se atingir os canais óbvios, se não verter
252
água para fora da rede, etc.. Não fora o enchimento e não haveria
percepção das alterações na rede.
Por outro lado, o facto do enchimento local da rede se desenrolar
durante um certo período de tempo t não traduz apenas uma
perduração; envolve também uma certa capacidade por parte de quem
acede à experiência do enchimento de antecipar efeitos – em
circunstâncias normais, i.e., de funcionamento adequado da rede, o
conservador da rede esperará que certos canais óbvios sejam atingidos
pela “maré”.
Substitua-se agora esta rede de tubos de plástico pela rede neural
(também ela de natureza tubular); substitua-se o acto de verter um
líquido no nódulo onde ocorre a alteração da rede pelo acto de um
estímulo electroquímico no mesmo nódulo. Que é que se obtém?
Ressalve-se, desde já, que aqui não está ainda a ser proposta uma
teoria da consciência, uma explicação do que seja a consciência, uma
descrição de como chega a haver consciência numa rede neural – Isso
seria o mesmo que pensar que a rede de esgotos de Lisboa poderia
reunir as condições suficientes para que tivesse experiência e, portanto,
consciência!195 Apenas se está a procurar determinar mais precisamente
qual o papel da consciência, e da experiência da compreensão, na
cognição, qual o seu contributo para a inteligência humana. E nesse
preciso sentido, é possível indicar, admitindo a analogia, alguns pontos
importantes. Admita-se, ex hipotesis, que há um homúnculo dentro das
nossas mentes, um homúnculo que esteja para a rede neural como o
conservador para a rede de esgotos de Lisboa
Em primeiro lugar, a analogia mostra que o aspecto experiencial
de uma mente humana não tem por função única e exclusivamente
estabelecer uma imagem do mundo em certo instante, mas sobretudo
uma imagem das repercussões que esse mundo trará nos instantes
vindouros. É certo que a apresentação de um mundo não pode deixar de
ser pensada como algo que activa certas regiões do córtex cerebral
195 Por outras palavras, e nos termos já referidos de Jackendoff, o problema em
tratamento é o problema mente-mente e não o problema mente/corpo (nas suas duas versões, mente computacional e mente experiencial) .
253
visual (nomeadamente, as zonas V1 e V2); é igualmente certo que duas
apresentações diferentes hão-de activar diferentemente essas mesmas
regiões, e que isso exprime um isomorfismo, que isso é um
constrangimento implicado pela fidedignidade da informação sensorial.
Mas o processo de activação está longe de terminar aqui. Tal qual a
rede de plástico em enchimento, a activação prosseguirá pelos canais
óbvios, no caso situados no córtex de associação, distribuindo o sinal
electroquímico pela parcela da rede relevante. Ora, se a experiência for
pensada como um fenómeno natural que implica esta repercussão de
efeitos temos aí uma justificação do seu contributo para a cognição –
conhecer algo é ter a experiência da sua repercussão. A experiência é
pensada como o motor que propulsiona uma repercussão.
Note-se que a imagem das repercussões nos instantes vindouros
não é ela mesma uma imagem instantânea – vai-se desenrolando no
tempo, tal qual o enchimento. E como as repercussões na rede neural
devem, para que nos sejam úteis, efectivar-se a tempo de não se
deixarem surpreender pelo mundo, isto significa que a mudança no
mundo é antecipada passo a passo pelas fases do processo de activação
num dado período de tempo t. Por outro lado, cada ponto da rede
permanece durante algum tempo activado o que revela o carácter
duplamente temporal da activação – segundo o nosso analogon da rede
tubular em enchimento, sucede que quer a propagação do enchimento
se desenrola no tempo, quer cada ponto da rede permanece com líquido
de enchimento durante um certo lapso de tempo. Aliás, este carácter
duplamente temporal da activação ajusta-se de forma exacta à distinção
fenomenológica, cunhada por Husserl, entre retenção e protensão.
Em segundo lugar, tal qual com a rede de plástico em
enchimento, a activação local da rede neural consiste na única forma de
avaliar o funcionamento da rede após uma alteração. Ou seja: o
homúnculo, digamos o sujeito da mente, não tem acesso à sua própria
rede neural a não ser em virtude de uma sua activação. A rede neural
não é o sujeito; este limita-se a procurar aceder-lhe. E quando lhe é
facultado o acesso apenas obtém um pedaço de mapa com o bónus de
uma avaliação nos termos bastante simples de um funcionamento que
254
não defrauda, que não põe em causa a confiança. Neste sentido,
conhecer algo equivale, além de à experiência da sua repercussão, ao
reconhecimento global da rede como continuando a funcionar
adequadamente, i.e., como rede cujas activações, no seu curso,
antecipam o curso da experiência, como rede cujas activações mantêm,
ao longo de uma história de alterações, um certo padrão de
continuidade.
Este padrão de continuidade no que respeita ao funcionamento da
rede, e que está em causa no reconhecimento global, não pode ser
pensado sem o tal sujeito homuncular da mente – equivalente mental do
conservador da rede tubular. E neste e não na própria rede porque esta é
neutra. É, pois, no sujeito da mente que reside a capacidade de
avaliação e de aceitação das repercussões que a activação da rede exibe,
capacidade que envolve uma teleologia, i.e., uma colecção de desígnios
de que o sujeito da mente é portador. Tais desígnios são variáveis,
correspondem a necessidades organísmicas, a fome por exemplo, mas,
no seu conjunto, a cada momento da vida de um sujeito exprimem a
vitalidade de uma mente. É em função de tais desígnios, uns mais
prementes do que outros, de certo modo uns mais importantes do que
outros, numa hierarquização flutuante, que a rede vai sendo avaliada,
que as repercussões vão sendo experimentadas. Por exemplo, face a
dois desígnios diferentes – sejam a fome e a sede – a mesma rede
neural, portanto com as mesmas repercussões para um mesmo estímulo
sensorial, obterá satisfações diferentes, resultado que induzirá
comportamentos diferentes, até à consumação da satisfação.
255
VII
Percepção, tempo de percepção, percepção
de tempo
Conceptualmente, o tempo é independente da sua experiência. É
possível dar dele uma descrição conceptual sem que nela ocorram
termos que se reportem à experiência do tempo por parte de um sujeito
consciente. Mas já sob um ponto de vista fenomenológico, pode-se
caracterizar a experiência subjectiva do tempo como sendo ela mesma
temporal, o que justifica a expressão de um tempo subjectivo,
coincidente com a sua experiência. De acordo com um modelo
esquematizado de percepção que começaremos por apresentar,
procuraremos evidenciar que este tempo subjectivo é a relação de
mudança/duração entre actualizações vividas subjectivamente e um
contínuo experiencial. Tal contínuo é explicitável como resultado de
uma retenção das actualizações e explica a experiência da consciência
como fluxo temporal de experiências. As quantidades de tempo
subjectivo vivido são sensíveis ao grau de atenção, pelo que se fornece
assim um princípio de explicação para as assimetrias entre tempo
subjectivo e tempo objectivo.
256
1. A percepção como processo: ciclos e fases
a) Ciclos do processo perceptivo: campo objectal, estrutura
objectal e objecto
Toda a percepção envolve um discriminado perceptivo; contudo,
atendendo à natureza processual da percepção – trata-se de um processo
no qual se podem identificar fenomenologicamente diversos ciclos –,
assinalar-se-á que a boa discriminação perceptiva (não se dirá a
perfeita) é o ciclo culminante de um progresso discriminativo que
envolve a delimitação de um campo objectal, a fixação de uma
estrutura objectal e, finalmente, a identificação de um objecto.
Por exemplo, sejam, em certa circunstâncias, más as condições de
percepção, e diga um dado sujeito de percepção "Parece-me que há ali
alguma coisa". A expectativa neste juízo de percepção é a de que seja o
que for que esteja ali se tratará necessariamente de alguma coisa e não
de nada. O olhar do sujeito procurará, pois, ver um objecto onde ainda
não vê um objecto, procurará identificar-lhe o que o distingue enquanto
objecto no pouco que se dá a ver, atendendo às débeis condições para o
exercício do ver. Ora, enquanto se confronta apenas com uma
expectativa de objecto, o sujeito de facto não constitui empiricamente
nenhum objecto. E no entanto uma expectativa objectal é intencionada,
naturalmente uma expectativa carente de progresso. Tal progresso
dependerá então da iteração da percepção, num processo que se
desenvolve por ciclos.
Num primeiro ciclo do processo perceptivo, o olhar do sujeito de
percepção, ao procurar ver um objecto, tenta reconhecer no pouco que
vê, tenta circunscrever no campo perceptivo global, um campo menos
extenso onde localizar o objecto, um campo objectal. Por campo
objectal entende-se a parcela do campo perceptivo global em que recai
a expectativa de encontrar o objecto e que é, portanto, a extensão de
campo que recebe a atenção perceptiva. Este campo objectal distingue-
se de um objecto de percepção por não comprometer ainda nenhum
componente objectivante. Por exemplo, quando, na penumbra, se
257
reconhece uma deslocação que se procura atestar como deslocação de
alguma coisa, fixa-se a extensão em que ela ocorre como um campo
objectal, mas sem que se disponha ainda de algo que seja do próprio
objecto. Trata-se da marcação de um campo espacial, uma marcação
meramente topográfica que ainda nada contém de objectivante.
Num segundo ciclo, já fixada a atenção perceptiva num campo
objectal, o “olhar” procurará reconhecer nele algum componente
objectivante, isto é, algum componente de uma estrutura objectal, a
qual, porém, também não é ainda o objecto de percepção. Por estrutura
objectal entender-se-á, já não a extensão do campo em que o objecto –
de acordo com uma expectativa mais ou menos bem fundada – deverá
localizar-se topograficamente, mas a extensão do objecto propriamente
dito, embora apenas enquanto este ainda permanece por reconhecer.
Por exemplo, quando, na penumbra, se reconhece certo contorno, certo
conjunto de linhas, certa mancha, fixa-se a extensão em que estes
componentes ocorrem como uma estrutura objectal, conquanto não se
consiga ainda dizer de que objecto se trata efectivamente.
Num terceiro ciclo, a submissão dos componentes, na sua relação
com a estrutura objectal (dado indispensável pois é através dele que se
pode fundar uma expectativa de proporção e de relevância dos
componentes face ao todo objectivo), à memória do sujeito activará e
actualizará um objecto de percepção.
Com este terceiro ciclo não se dá por concluído o processo
perceptivo; bem pelo contrário dir-se-á que tal processo – de natureza
iterativa – se aprofunda com a entrada em jogo dos operadores da
percepção objectiva, a saber, operadores epistémicos como a
interpretação e a descrição, mediados por uma grandeza de crença que
se visa maximizar.
Note-se que a actualização de conteúdos de objecto não ocorre
apenas após a actualização dos componentes objectivantes como se
estes fossem identificados na sua totalidade antes da expectativa de um
dado perceptum surgir. Na verdade, a atenção perceptiva é desde cedo
orientada por um conteúdo de objecto já actualizado quando ainda
procede ao reconhecimento e actualização de novos componentes
258
objectivantes. Aliás, é justamente pelo facto de esta actualização de
novos componentes objectivantes ser concordante, ou não, com a
expectativa de dado perceptum, que se "mede", por assim dizer, o grau
de crença que esse perceptum alcança.
Só se obterá uma boa percepção quando se alcançar a
maximização da crença. E para isso o perceptum actualizado serve
como fio condutor do processo perceptivo. Dito ainda de outro modo:
está para os componentes objectivantes como uma hipótese
interpretativa para o trabalho corroborante de uma descrição por si
orientada.
Nestes termos, a relação entre os componentes objectivantes e a
estrutura objectal dá lugar, uma vez suscitada uma expectativa, mais ou
menos bem fundada, de perceptum, à relação entre esses mesmos
componentes objectivantes e o perceptum objectivo propriamente dito.
Mas, no essencial, tais componentes – linhas, manchas, contornos, etc.
– são apercebidos exactamente como o são os objectos. Não haveria
deles alguma consciência senão mediada por um apercebimento que
envolve uma sequência de fases características de todo o ciclo de
percepção e que não dispensam o trabalho de uma memória.
b) Três Fases do ciclo perceptivo: Submissão, activação,
actualização
Toda a actualidade para uma mente é experiencial. No entanto, se
a actualidade sensorial ou hilética é também experiência de uma mente,
tal facto não lhe garante nenhuma espécie de acesso consciente à sua
matéria sensorial. Importa, aqui, distinguir entre experiência (sempre
caracterizável como actualidade e inactualidade) e acesso consciente à
experiência, ou ainda, entre a experiência de uma mente e a experiência
para um sujeito consciente. A partir do momento em que é possível
evidenciar que o material sensorial é actual não há razão para o não
considerar experienciado. A sua percepção não é uma condição
necessária da sua experiência.
259
Posta a distinção entre duas instâncias de actualidade, uma
hilética ou sensorial e outra significativa ou perceptual, é possível
descrever o processo de reconhecimento perceptivo, nos seus traços
mais elementares, como um processo em que da submissão à Memória
do sujeito de um dado conteúdo sensorial actual decorre, como
resultado, a actualização – num segundo contínuo, dito significativo –
de um dado conteúdo perceptivo.
Esquematicamente, uma cadeia de ciclos conducentes a uma
percepção objectiva deixa representar-se pela Fig.1. É interessante
notar, desde já, como este processo perceptivo, baseado em ciclos
reiterados, se distingue claramente de um processo de associação de
ideias desencadeado por uma percepção. Com efeito, na associação de
ideias, diversamente do que sucede na percepção, os ciclos envolvem
apenas o contínuo actual significativo (A’), exceptuando-se um
primeiro momento, inicial, que desencadeie perceptivamente o
processo. Já a percepção requer uma contínua retoma, ainda que sob
sucessivos ciclos, do conteúdo sensorial actual presente na actualidade
hilética (A).
A Fig. 2 esquematiza esta diferença.
O esquema mais geral do processo perceptivo revela-nos, para
cada ciclo, três fases consecutivas – em primeiro lugar, uma fase de
Fig. 1 Fig. 2 A’ A
O processo de uma cadeia de atribuições causais, sucedendo-se umas às outras, é representado pelo “zig-zag” entre o continuum actual de conteúdos significativos e a memória.
Memória Memória
260
submissão de material à Memória do sujeito; em segundo lugar, uma
fase de activação de um determinado conteúdo significativo na
Memória; em terceiro lugar, uma fase de actualização do conteúdo
activado no contínuo actual significativo. Representamo-las assim:
Relativamente a estas três fases do processo perceptivo, há um
conjunto de aspectos a ter em conta quer no que diz respeito à relação
inter-fásica que compõe um ciclo do processo perceptivo, quer no que
se reporta a cada uma das etapas intra-fásicas.
Inter-fasicamente, o primeiro facto fenomenológico a explicitar
resume-se ao carácter consecutivo mas não necessitado da passagem
do processo perceptivo de uma fase à seguinte. Ou seja: da submissão
de um certo material sensorial à Memória não se segue necessariamente
que a Memória chegue a activar um certo conteúdo que lhe
correspondesse, por um lado, e sucedendo tal activação de um
conteúdo, dela não se segue necessariamente a actualização desse
conteúdo no contínuo actual significativo, por outro. Dois exemplos
ilustram bem este carácter contingente da passagem inter-fásica da
percepção: a sobreposição de um esforço perceptivo a um outro em
curso e que se vê, assim, interrompido, e o caso das experiências de ver
confuso. No primeiro exemplo, o facto de a atenção sobre um dado
material sensorial ser repentinamente sobrelevada pela necessidade de
dirigir a atenção para outro material sensorial – pense-se num grito de
Fig. 3
Memória/Activação
Submissão
Actualização
A’ A
261
socorro – interrompe o curso de uma percepção seja qual for a etapa
fásica em que ele se encontre. Já na circunstância de um ver confuso –
usemos de exemplos de penumbra – é o próprio processo perceptivo
que não é capaz de se completar, por não conseguir, na fase de
activação, obter uma clara activação deste ou daquele conteúdo, em
contraste com outros.
Ainda inter-fasicamente, o segundo facto a dever ser explicitado
é o carácter recursivo ou cíclico do processo perceptivo, o qual no seu
curso tende – tanto mais quanto mais difícil for a percepção em causa –
a realizar mais do que uma submissão, à Memória, de material
sensorial. Este facto é por si só bastante evidente pois uma eventual
limitação a apenas uma consulta do material hilético resultaria muito
arbitrária e contra-intuitiva. Com efeito, nas experiências de ver
confuso, um sujeito esforça-se por submeter mais material hilético à
Memória na expectativa de que seja superada a dificuldade perceptiva.
Mas existe um outro tipo de considerações que sustentam este carácter
recursivo do processo perceptivo. Com efeito, já pudemos argumentar
atrás no sentido da existência de uma estratificação da percepção,
envolvendo pelo menos os seguintes níveis de estratos hierarquizados:
primeiramente, o de uma segmentação de um campo espacial objectal
no seio do campo de percepção; em segundo lugar, o da fixação de
componentes objectivantes numa estrutura objectal; e, finalmente, o da
actualização de um objecto de percepção. Ora, tal estratificação implica
a sucessão de vários ciclos inter-fásicos, cada um relativo a cada um
dos estratos da percepção.
Fig. 4
Memória
t1 t2 t3
hylé
A’
A
262
Note-se que a estratificação da percepção pressupõe que a
actualização de conteúdos nos ciclos inter-fásicos anteriores seja
preservada na passagem às actualizações resultantes dos ciclos
posteriores. Dito de outro modo, no processo inter-cíclico, que realiza a
individuação da objectidade percepcionada, há retenção das
actualizações anteriores nas posteriores.
Note-se também que este carácter recursivo ou cíclico do
processo perceptivo permite dar resposta às perguntas sobre o modo
como chega a haver uma antecipação da intentio, condição para que
chegue a haver uma intuitione real. É que uma mente não começa
simplesmente por ter a expectativa de ver, por exemplo, um pato e,
depois, sabe-se lá por que arte de adivinhação, chega mesmo a ver um
pato. A sucessão dos ciclos a que corresponde uma estratificação dos
percepta é acompanhada por uma estratificação das expectativas
perceptivas, de tal modo que num primeiro ciclo a expectativa começa
por se reportar apenas à presença em campo de um objecto, depois,
num segundo ciclo, à de uma certa estrutura objectal e, finalmente,
apenas no último ciclo, a expectativa se reportará a um certo objecto,
um pato por exemplo. Se uma mente chega, pois, a esperar ver um pato
é porque, em fases anteriores, nos conteúdos por elas actualizados, se
apresenta uma certa estrutura objectal que induz tal expectativa.
*
Intra-fasicamente, notemos apenas a contingência na fase da
submissão, a primeira fase do ciclo mental. A submissão do material
sensorial (ou hilético) à Memória pode ser voluntária, embora no caso
de uma percepção normal seja espontânea. Por exemplo, no esforço em
percepcionar alguma coisa em certo material há evidentemente uma
voluntariedade na submissão. Fora casos como estes, a submissão
decorre espontaneamente, i.e, sem o concurso da vontade do sujeito da
mente.
A submissão pode ser entendida como um acto de atenção, pelo
qual um certo estímulo é conduzido à Memória, tendo por efeito
263
esperado a activação de certos conteúdos memorizados e sua
actualização no contínuo actual significativo.
Se, por um lado, temos que a submissão pode ser voluntária ou
involuntária, por outro, importa notar o facto de que a submissão não
decorre necessariamente da presença de novos estímulos. A submissão
pode suceder, e é natural que assim seja, mas pode também não
suceder. O simples facto de uma boa percepção ter sido atingida – o
que é determinável pelo satisfação do princípio da maximização da
crença – é suficiente para que a mente deixe de realizar o esforço de
submissão, seja ele protagonizado voluntariamente pelo sujeito da
mente, seja ele apenas função do processo espontâneo da mente (e
passivo do ponto de vista do sujeito de vontade). Por outro lado,
diferentes índices de atenção de uma mente – empiricamente
mensuráveis por recurso a testes – reflectirão, muito naturalmente,
índices diferenciados de submissão. Adiante procuraremos evidenciar
que tais variações se traduzem em variações na percepção subjectiva do
tempo.
2. Interpretação do modelo husserliano no esquematismo
proposto
Expostos os patamares intra-fásico, inter-fásico e inter-cíclico do
processo perceptivo, tal como os propusemos no parágrafo anterior, e
subentendendo o modelo husserliano de constituição passiva do objecto
de percepção na consciência imanente do tempo, um novo nível de
consideração é suscitado a respeito da identificação do sentido
objectivo dos percepta e também a propósito da necessidade de
concretizar a distinção entre esse sentido objectivo dos percepta e o
sentido lógico próprio à actividade predicativa do juízo.
Comecemos pelo que concerne ao desenvolvimento de uma «ex-
plicação» fenomenológica. Tal como Husserl a expõe em Experiência e
Juízo, ela envolve, como sua condição, o desdobramento do contínuo
264
actual significativo em dois, A’ e A’’, sendo que em A’ é actualizada e
retida a objectidade na posição de explanandum e em A’’ são
actualizados os conteúdos na posição de explanans.
Assim, sendo x a objectidade a ex-plicar e ax, bx, cx os conteúdos
nela ex-plicados, obtém-se a seguinte modificação do nosso esquema
perceptivo:
Na ex-plicação fenomenológica de uma percepção, a mesma hylé
que está na origem da actualização perceptiva da objectidade x, está na
origem de outras objectidades ax, bx, cx. Dando-se a retenção da
actualidade de x, os componentes ax, bx, cx são actualizados sobre a
actualidade de x.
Observe-se, contudo, que o x não se preserva actualizado ao
longo do contínuo temporal apenas em virtude da retenção inerente à
própria forma da consciência temporal, pois essa é uma condição de
todo o aparecer consciente, a saber, que se converta numa retenção em
progressiva modificação até à sua desaparição. Na verdade, o que a
distingue da simples retenção, a esta preservação de x ao longo do
processo de explicação perceptiva, é o facto de x tornar a ser, a cada
nova submissão do material hilético, uma vez mais actualizado (Fig. 5).
Fig. 5 A’’ ax bx cx
A’ x x x x A (hilé)
memória
t1 t2 t3
265
Com efeito, a actualização de x não se limita a preceder as
actualizações de ax, bx, cx, como se estas não a implicassem. Antes as
acompanha de forma necessária, pois, se cada uma destas é activada, é-
o forçosamente sobre a activação de x. Assim, sucede, pois, que a uma
mesma submissão se seguem duas activações e correspondentes
actualizações.
Esta dupla actualização, em sobreposição significativa, tem a
particularidade de fazer com que o x e o ax (ou os bx, cx) venham à
presença em simultâneo e se modifiquem, também simultaneamente,
em retenção até à desaparição simultânea de ambos (Fig. 6 e 7).
Partilham, pois, a mesma unidade temporal. Se todos os aspectos ax, bx,
cx se constituem como aspectos de x (e não x aspecto de cada um deles)
é pela simples razão de que, ao longo do curso da explicação
perceptiva, cada novo aspecto é actualizado literalmente sobre a mesma
actualidade x, de cada vez revivescida (e não o inverso). Note-se que é
a vivência da coincidente unidade temporal entre o objecto de
percepção e o seu aspecto, embora cada um dispondo da sua, ou seja, a
vivência das simultâneas aparição, modificação para o passado
imediato e desaparição, que estabelece o elo objectivo entre a coisa e o
seu aspecto. Este consiste naquilo que resulta activado para lá do x e
que, em consequência disso, é co-actualizado com x.
Fig. 6 Fig. 7 ax A’’ ax
r(ax) x A’ x
r(x) A
hylé hylé
266
Os resultados esquematizados da presente proposta de teorização
do processo perceptivo podem enquadrar os resultados esquematizados
por Husserl nas Lições de 1905 sobre a consciência imanente do tempo.
Com efeito, se se representar, de acordo com a nossa esquematização,
uma sucessão de aspectos ax, bx, cx, qua aspectos de x – isto é, de tal
modo que, para a actualização de cada um, tenhamos que a sua unidade
temporal seja acompanhada pela unidade temporal de x e com ela
coincida –, obtém-se a Fig. 8, na qual se encontra inscrito, a
sombreado, o célebre triângulo rectângulo com que Husserl representa
a modificação contínua do agora da consciência em imediatamente
passado e deste no seu imediatamente passado num progressivo
afundamento.
Fig.8
Notar-se-á, evidentemente, que são, não apenas um, mas dois os
triângulos de Husserl inscritos na nossa representação. Tal só pode ser
atribuído, segundo a teorização proposta, a um desdobramento, sempre
possível, do contínuo actual significativo, desdobramento no presente
caso necessário, em virtude da dupla actualização de conteúdos da
memória do sujeito. Não fora esta dupla actualização efectuada em dois
contínuos distintos (A’ e A’’), mas, por suposição, num só (A’), e o que
se obteria seria um resultado inteiramente diverso. Em vez de se obter
ax qua aspecto de x, em que x é uma entidade individual, e ax apenas
um momento dessa entidade, obter-se-ia uma das duas seguintes
situações:
267
- Ou a actualização de duas entidades individuais
contemporâneas, isto é, objectivamente conectadas no tempo,
mas sem que, entre elas, houvesse outro nexo,
designadamente sem que, de ambas, se pudesse afirmar tratar-
se da mesma entidade.
- Ou, no caso de ax e x não se encontrarem previamente
individualizados, a actualização de uma só entidade, que não
seria nem ax nem x, mas sem que nela houvesse qualquer
diferenciação entre ax qua aspecto e x qua objecto de que ax
fosse aspecto.
A particularidade que permite experienciar a diferença entre uma
entidade e um seu aspecto é o facto de se verificar, pois, uma dupla
actualização, mas em contínuos distintos, particularidade que
possibilita a permanente actualização de x como entidade individual
distinta dos seus aspectos, vivida qua perceptum subsistente,
independentemente do aspecto particular com que aparece. O corte
transversal do triângulo resultante de A’ reflecte esquematicamente esta
independência da subsistência do x percebido face a este, aquele ou
aqueloutro aspecto particular, pois mais não revela do que a série x-rx-
r2x-rnx. Somente no triângulo resultante da modificação temporal de
A’’ é que encontramos, em corte transversal, a série cx-rbx-r2ax (Fig. 9).
Fig. 9 ax bx cx
rax rb x r 2ax
x x x rx rx r 2x
hylé
268
Finalmente, só pelo desdobramento da actualidade significativa
em A’ e A’’ – esta como que sobreposta naquela, ambas modificando-
se de acordo com a lei do fluxo temporal da consciência –, se
compatibiliza a experiência de um aspecto de x com outros seus
aspectos.
Outra forma de ex-plicação perceptiva consiste num
deslocamento da atenção perceptiva do x para um seu aspecto ax, mas
de tal modo que este aspecto seja tomado como objectidade
independente, visada em primeiro plano, ao passo que o x de que é
aspecto é remetido para um pano de fundo da atenção perceptiva. Nesta
circunstância, o desdobramento da actualidade significativa em A’ e
A’’ não é acompanhado pela activação e actualização de x em A’.
Sucede que em A’ a activação de conteúdos é desinvestida pela
atenção, daí decorrendo, em consequência, uma rarefacção dos
conteúdos actualizados, bem como uma rarefacção das próprias
actualizações.
3. O processo mental em A’’ como relógio do tempo subjectivo
Este último ponto é particularmente importante, pois introduz na
teorização em curso a necessidade de distinguir “tempos” de ciclos
mentais, de tal modo que o tempo objectivo transcorrido entre dois
ciclos trifásicos completos varie consoante se trate de uma apreensão
perceptiva em primeiro plano ou de uma em pano de fundo. Enquanto
nesta o tempo que medeia dois ciclos tende a aumentar, rarefazendo as
activações e as subsequentes actualizações, o que fica a dever-se a um
desinvestimento da atenção, já naquela que recebe a maior parte da
atenção perceptiva, esse mesmo tempo inter-cíclico medido por um
relógio diminui.
269
Perguntar-se-ia como pode a atenção suscitar uma diminuição do
tempo inter-cíclico no contínuo em primeiro plano. A esta pergunta
responde-se com a possibilidade de a atenção incrementar o ritmo de
submissões à memória do sujeito e, portanto, com isso, aumentar o
ritmo de activações e de actualizações. Por outro lado, perguntar-se-ia
como pode a atenção suscitar um aumento do tempo inter-cíclico no
contínuo em pano de fundo, mas a isto, por seu turno, responde-se com
a possibilidade da mente não actualizar todas as activações de certo tipo
(aquelas que se repetiriam) da memória.
Sejam exactamente estas as variáveis em jogo, ou sejam outras, é
perfeitamente possível explicar fenómenos trivialmente expressos como
sendo “deslocações da atenção”, “para um pormenor” ou, revertendo o
processo, “para o todo”, ou simplesmente algo como sendo a
obediência ao apelo “não prestes atenção a isso, mas àquilo”, tudo isto
através da gestão dos tempos inter-cíclicos, tal como se deixam
descrever dentro do nosso modelo de processo perceptivo.
Esta mesma variação dos tempos inter-cíclicos permite dar conta
da variação do ritmo com que o sujeito de uma mente vive o tempo.
Com efeito, num contínuo significativo caracterizado por um tempo
inter-cíclico menor ter-se-á que um corte transversal desse contínuo,
comparativamente ao corte transversal de outro contínuo caracterizado
por longos tempos inter-cíclicos, revelará, em termos relativos, uma
maior distância face à actualidade para um mesmo “agora” modificado
em retenção. Entre ambas as situações, a diferença residirá numa maior
vivência da mudança própria ao fluxo temporal quanto menor for o
tempo inter-cíclico. Por outras palavras, se os tempos inter-cíclicos
diminuem, então a vivência subjectiva do fluxo do tempo será mais
recorrente; se os tempos inter-cíclicos se alongam, então a vivência
subjectiva desse mesmo fluxo será mais esparsa.
Note-se que este dado parece ser infirmável pela popular
impressão de que quanto maiores os índices de atenção de um sujeito,
quanto maior a sua concentração, mais depressa parece passar o tempo
objectivo que medimos nos relógios. Mas, tal infirmação é aparente,
pois, na verdade, sucede necessariamente, em circunstâncias de atenção
270
esforçada (desde que não ao próprio passar do tempo), um
desdobramento da actualidade significativa em um pano de fundo (A’)
e um visado em primeiro plano (A’’), o que faz com que intervalos
inter-cíclicos menores em A’’ sejam acompanhados por intervalos
inter-cíclicos maiores em A’. Nestes termos, uma atenção esforçada,
face a uma atenção sem esforço, ao aumentar os tempos inter-cíclicos
do processo mental em A’ suscita a impressão de que decorreu um
certo lapso de tempo inferior ao lapso de tempo medido por um relógio.
Isto porque a medição deste tempo objectivo (medido pelos relógios) é
correspondida, subjectivamente, pela vivência da menor sucessão de
ciclos mentais, mas não pela vivência da sua maior periodicidade (i.e, o
tempo objectivo que medeia duas actualizações)196. Então, para uma
certa sucessão de ciclos um sujeito vai estimar um certo lapso de tempo
objectivo inferior ao de facto decorrido se a periodicidade desses ciclos
for superior ao valor normal. Um exemplo evidente encontra-se na
necessidade de um estudante, aquando a realização de um exame
escrito, de proceder a um constante acerto do seu “relógio interior”
perguntando que horas são no momento e pasmando-se não raras vezes
com o tempo (objectivo) que entretanto já passou.
Poder-se-ia ainda ser levado a pensar que há circunstâncias que
configuram contra-exemplos a esta ideia de que o tempo objectivo
passa mais depressa sempre que nos encontramos mais concentrados.
Por exemplo, todas aquelas circunstâncias marcadas por ansiedade face
a um qualquer acontecimento futuro, seja o início de um exame, que
parece nunca mais começar para o examinando, seja um parto, que
parece nunca mais acabar para uma futura mãe, etc. Circunstâncias
como estas parecem configurar um evidente contra-exemplo ao
exposto, pois não é o caso que nestas os protagonistas não estejam
196 Neste ponto, aproximamo-nos de forma evidente do pensamento de John
Locke, em An Essay concerning Human Understanding, sobre a natureza do tempo – «A atenção que pomos nas ideias da nossa mente e que nela aparecem, umas após as outras é o que nos fornece a ideia da sucessão e da duração, sem a qual careceríamos completamente de tais ideias. Não é, portanto, o movimento mas a série constante de ideias na nossa mente, enquanto estamos acordados, que nos fornece a ideia de duração.» (Locke, 1690: 237) Leia-se também – «examinando o que acontece na nossa mente, e como ali, da série das nossas ideias, constantemente desaparecem umas e aparecem outras, adquirimos a ideia da sucessão.» (Locke, 1690: 248-249)
271
muitíssimo mais activos do que em circunstâncias normais. A
explicação, porém, não é difícil. Aliás, faz destes casos figuras
exemplares do fenómeno em causa. É que em circunstâncias de
ansiedade o mais característico é a incapacidade de “ocupar” a vida
mental, de a conduzir a realizar outro processo mental além de prestar
atenção ao passar do tempo (em A’). Popularmente, diz-se que o bom
seria distrair o ansioso, ou seja, desviar a sua atenção para qualquer
coisa que o entretenha, o faça pôr em marcha o processo mental em
A’’. Confirmam, pois, estes exemplos a correlação entre vivência
subjectiva do tempo passado e a vivência do processo mental em A’’.
Ora, não fora esta variação dos tempos inter-cíclicos e
dificilmente se poderia encontrar uma explicação adequada aos dois
fenómenos descritos, o da vivência “acelerada” ou “mais lenta” do
fluxo do tempo, por um lado, e o da vivência de um desacerto entre o
tempo objectivamente passado e o tempo subjectivamente passado, por
outro. Em suma, a vivência subjectiva do fluxo temporal e a vivência
subjectiva de tempo passado são tanto maiores quanto maior for o
processo mental em A’’; por isso, concluímos que o ciclo mental é a
unidade subjectiva do relógio mental.
273
VIII
Naturalização da fenomenologia
1. O problema
Não é raro a ideia de uma naturalização da fenomenologia
suscitar pronta e clara apreensão em auditórios de fenomenólogos. Com
efeito, é frequente indicar-se uma objecção de princípio aos esforços de
naturalização da fenomenologia na crítica que Husserl endereçou ao
psicologismo nas suas Investigações Lógicas. De certo modo, é como
se as tentativas de naturalizar a fenomenologia redundassem num
desconhecimento da origem e da natureza da própria fenomenologia.
Os termos gerais desta objecção husserliana ao psicologismo
determinam-se facilmente – ao procurar fundamentar
experimentalmente as leis da lógica, o psicologismo é conduzido a
aporias insanáveis. No essencial, sustenta-se que a lógica não pode, na
sua validade necessária e universal, ser fundada empiricamente. A
natureza indutiva e, portanto, também falível das leis psicológicas
contrasta claramente com a necessidade e universalidade a priori das
leis lógicas. Pode formular-se a aporia assim: fundamentar
empiricamente o que, por princípio, dispõe de uma validade
independente de leis empíricas resume um absurdo óbvio.
274
Ora, é neste quadro de insuficiência da abordagem psicológica
empírica que emerge a fenomenologia como aposta metodológica de
Husserl para as suas ambições de fundamentação da lógica e, em geral,
da vida intencional da consciência. E, nesses termos, a aposta é a de
uma fenomenologia como filosofia perene, com valor objectivo
análogo ao de uma ciência formal como a matemática. Só assim, na
verdade, a fenomenologia se poderia eximir às críticas apontadas ao
psicologismo positivista e se legitimar como alternativa mais bem
sucedida.
Antes de caracterizar o método fenomenológico (pelo menos
aquilo que nele resulta mais consensual), e tendo estabelecida qual a
razão por que falha o psicologismo, há que evidenciar por que
surpreende tanto e tantas vezes a ideia de uma naturalização da
fenomenologia. Uma formulação de João Paisana ajuda a clarificar o
ponto – «(…) as principais dificuldades e as próprias consequências
cépticas do psicologismo derivaram, segundo Husserl, da naturalização
da consciência, reduzindo como tal todas as vivências cognitivas a
simples factos empíricos, espácio-temporalmente determinados,
encerrados sobre si.»197 Assim exposto o pressuposto central do
psicologismo, a saber, o seu compromisso com um programa de
naturalização da consciência, e também exposto que é precisamente
essa naturalização da consciência o que há que evitar, sob pena de se
cair no círculo do cepticismo – a primeira tarefa a que Husserl se
propõe é exactamente desnaturalizar a consciência –, então qualquer
intuito de naturalizar a fenomenologia, quando a esta compete como
tarefa primeira desnaturalizar, redundaria em genuíno desconhecimento
da origem da fenomenologia e manifesta denegação da sua natureza e
especificidade. Numa palavra, naturalizar a fenomenologia seria anular
a fenomenologia convertendo-a em nada ou numa psicologia mal
disfarçada. No essencial, esta é a objecção. No essencial, será esta
objecção que procuraremos discutir.
197 Paisana, 1992: 39. (Itálico nosso.)
275
Importa circunscrever um pouco melhor a crítica aos programas
de naturalização da fenomenologia. Para Husserl, não se tratou, com a
fenomenologia, de recusar a possibilidade de uma psicologia do
silogismo, mas de recusar, isso sim, as pretensões fundacionais do
psicologismo, designadamente quanto a se poder fundar
psicologicamente as leis da lógica, isto é, com recurso a leis
psicológicas. Nem o método experimental nem os seus resultados
empíricos foram ilegitimados. Apenas certa pretensão subjacente
fundacionista. Em suma, o que ficaria aqui vedado à psicologia
empírica seria a tarefa da validade.
Isto que poderia vir consagrar a compatibilidade entre
fenomenologia e psicologia, vem, na verdade, constituir um passo no
refinamento da objecção à ideia de uma naturalização da
fenomenologia. Com efeito, já não se trata de limitar as pretensões de
uma abordagem empírica de uma ciência natural, mas de dar resposta à
pergunta que daí se segue, a saber: Que lugar prevê a fenomenologia,
do seu ponto de vista, para as ciências experimentais? Qual o lugar
epistemologicamente pertinente para a psicologia empírica e, por
generalização, para as ciências empíricas dedicadas ao estudo da
mente?
Postas as coisas nestes termos, a verdade é que o problema não
reside tanto na continuidade de uma psicologia experimental ou de uma
qualquer outra abordagem empírico-natural à vida intencional de uma
mente, mas, isso sim, na iniciativa, dir-se-ia mesmo “livre iniciativa”,
que elas podem ainda ter junto à fenomenologia. E é justamente aqui
que a fenomenologia – mau grado as boas intenções de Husserl, aliás
muito bem secundado por Merleau-Ponty – acabou por revelar o lado
mais duro no relacionamento com as ciências naturais. Já não está tanto
em causa dizer, entre aqueles que se opõem a uma naturalização da
fenomenologia, que esta deve desnaturalizar-se para perseguir os seus
objectivos fundacionais, mas sobretudo que ela tem prioridade sobre as
ciências naturais.
Por vezes, sente-se a impressão de que o cientista empírico – já
acossado pela ideia de que apenas dispõe de uma visão abstracta sobre
276
o real – nem sequer tem legitimidade para arrolar, por assim dizer, a
fenomenologia, naquilo que são os seus resultados, a favor ou contra
alguma tese em sede da sua investigação. Não vai mal aqui fazer notar
quão extravangante seria o inverso – por abstracta que seja, a ciência
das ciências empíricas, sendo dada à publicidade, está aí para uso
público, como cultura viva.
2. A ideia de uma naturalização da fenomenologia
O que propõe exactamente o programa da naturalização da
fenomenologia? Se atendermos ao programa de Francisco Varela de
uma neurofenomenologia198 o pressuposto assumido é duplo: é, por um
lado, o pressuposto de que as vivências fenomenológicas dispõem de
uma base natural biológica e, por outro, o pressuposto de que existe um
constrangimento recíproco ou mútuo (mutual constraints) entre estas
duas fontes de informação sobre a vida mental.
Quatro pontos devem ser esclarecidos:
a) Naturalizar a fenomenologia não é operar nela uma redução
naturalista. Varela é, a este propósito, explícito: «os dados
fenomenológicos não podem ser reduzidos à, ou derivados da,
perspectiva da terceira pessoa.»199 É justamente sob um
pressuposto de irredutibilidade que se pensa a naturalização da
fenomenologia como uma tarefa. Fosse ela redutível e não
haveria que lhe procurar um rosto mais natural, bastaria mostrar-
lhe a força da lei, da lei da natureza. Em suma, naturalizar a
fenomenologia é torná-la natural, devolvê-la a uma naturalidade
em que comparece o extra-fenomenológico.
b) A naturalização da fenomenologia não visa contestar nenhuma
presunção fenomenológica; nem mesmo a presunção de algum
tipo de prioridade é posta em causa. É simplesmente contestado
198 Cf. Varela, 1996 e Varela, 1997. 199 «Phenomenal data cannot be reduced or derived from the third-person
perspective.»Varela & Shear, 1999: 4.
277
que tal presunção tenha de ser tida em atenção quando não está
em causa a sua legitimidade, mas apenas potenciar as suas
virtualidades – «Explorar exposições da primeira-pessoa não é o
mesmo que pretender que as exposições da primeira pessoa
tenham algum tipo de acesso privilegiado à experiência.
Nenhuma presunção de algo incorrigível, final, fácil ou
apodíctico acerca dos fenómenos subjectivos precisa de ser feita
aqui».200
c) O ganho que resulta desta convivência, com a auto-contenção
devida, entre perspectivas da primeira e da terceira pessoa
consiste, pelo menos como possibilidade, na obtenção de uma
perspectiva mais global e integral da mente – «Seria fútil
permanecer com as descrições da primeira-pessoa de forma
isolada. Precisamos de as harmonizar e as constranger
construindo as ligações apropriadas com os estudos da terceira-
pessoa… Genericamente, isto deve resultar num progresso em
direcção a uma perspectiva global e integrada sobre a mente,
perspectiva em que nem a experiência nem os mecanismos
externos têm a palavra final. A perspectiva global requer portanto
o estabelecimento explícito de constrangimentos mútuos, uma
determinação e influência recíprocas. Em suma, a nossa attitude
em vista das metodologias da primeira-pessoa é esta: não saias de
casa sem elas, mas não te esqueças de também trazer contigo os
relatos da terceira-pessoa.»201
d) Finalmente, valorizando o teor informativo que se obtém – no
caso da fenomenologia, forçosamente com boas descrições e
200 «Exploring first-person accounts is not the same as claiming that first-
person accounts have some kind of privileged access to experience. No presumption of anything incorrigible, final, easy or apodictic about subjective phenomena needs to be made here». (Varela & Shear, 1999: 2)
201 «It would be futile to stay with first-person descriptions in isolation. We need to harmonize and constrain them by building the appropriate links with third-person studies… The overall results should be to move towards an integrated or global perspective on mind where neither experience nor external mechanisms have the final word. The global perspective requires therefore the explicit establishment of mutual constraints, a reciprocal influence and determination. In brief, our stance in regards to first-person methodologies is this: don’t leave home without it, but do not forget to bring along third-person accounts as well.» (Varela & Shear, 1999:2)
278
boas explicitações –, para Varela estará menos em causa o
trabalho hermenêutico e de exegese, a tender para o interminável,
do pensamento de Husserl, quanto os resultados da prática
fenomenológica, como com, por exemplo, a fenomenologia da
consciência imanente do tempo – «Nunca é demais sublinhar que
o meu uso da fenomenologia do tempo de Husserl não está
preocupado com uma leitura textual muito próxima para provar
ou refutar algum ponto no pensamento do autor.»202 A título de
exemplo, as descrições da consciência imanente do tempo devem
poder ser apropriáveis independentemente da maneira como
evoluiu ou deixou de evoluir o pensamento de Husserl. Com isto
não se pede mais para a fenomenologia do que para qualquer
realização cultural, seja um equação da física quântica, um
teorema da matemática, ou uma obra literária.
Evidentemente, há limites à apropriação extra-fenomenológica
dos resultados da fenomenologia. Quando a especificidade da tarefa
fenomenológica é posta em causa, resulta claro que o uso da
fenomenologia só pode ser interpretado como abusivo. Não
encontramos, porém, razões para sustentar que tais limites tenham sido
ultrapassados no programa de naturalização da fenomenologia acima
exposto nas suas linhas mais gerais. Já não diríamos o mesmo do
programa, bem diverso, de uma heterofenomenologia proposto por
Daniel Dennett. Não nos parece fenomenologicamente aceitável uma
heterofenomenologia sem uma prévia fenomenologia da experiência do
outro ou, por outras palavras, sem um prévio afrontamento do problema
da intersubjectividade. Um segundo limite à apropriação consistiria
numa indistinção entre fenomenologia e psicologia empírica. Com
efeito, se por via da ideia de abordagens na perspectiva da primeira
pessoa (em contraste com as da terceira pessoa) se amalgamassem e se
202 «I cannot overemphasize that my use of Husserl’s use of the phenomenology of time is not concerned with a close textual reading in order to prove or disprove a point in the author’s thought. I prefer to take my cues from Husserl’s style as an eternal beginner, always willing to start anew; this is the hallmark of phenomenology itself (but it has not always been the case in practice).»(Varela, 1999: 111)
279
tornassem indistintas imanência psicológica e imanência
transcendental, ou se se confundissem momentos reais e momentos
ideias da consciência – ao fim e ao cabo tudo isto releva da primeira
pessoa –, estar-se-ia, então, a desprezar a especificidade da
fenomenologia e, desse modo, a fazer dela uso abusivo. Ora, no nosso
entender, Varela não foi negligente a este respeito. Pelo contrário,
assume explicitamente a operação da redução na sua caracterização do
método fenomenológico, bem como a clara demarcação da
fenomenologia face a outras fontes enquadráveis no que genericamente
e pluralmente vale como perspectivas da primeira pessoa.
No que se segue, apresentaremos um modelo cuja génese é extra-
fenomenológica – tratar-se-á da versão dinamicista do conexionismo –
e que, porém, encontra na fenomenologia concordâncias que lhe dão
suporte e assim suportam também a perspectiva integrada que Varela
almeja alcançar.
3. O conexionismo dinamicista
De acordo com Patricia Churchland, a analogia com o
computador, base do funcionalismo do computador e do programa da
IA-forte, tem limites na própria neurobiologia que subjaz à mente
humana.203
Perante estas dificuldades, há uma via alternativa: o programa de
investigação habitualmente designado por conexionismo. Este, em vez
de partir da ideia de que a cognição pode ser entendida como um
203 «For an example of the dissimilarity between computers and nervous systems, consider that in conventional computers memory is likened unto a library, with each piece of data located in its own special space in the memory bank, data that can be retrieved only by a central processor that knows the address in the memory bank for each datum. Human memory appears to be organized along entirely different lines. For one thing, from a partial or a degraded stimulus human memory can ‘reconstruct’ the rest, and there are associative relationships among stored pieces of information based on considerations of content rather than on considerations of location.» (Churchland, Patricia, 1986: 459)
280
processamento ou manipulação de símbolos com base em regras
sintácticas de uma linguagem – o que corresponde, grosso modo, ao
computacionalismo simbólico –, tem por pressuposto central a ideia de
que a cognição se deixa descrever através de redes semelhantes à rede
neural, sendo assim possível simular a cognição humana tendo por base
o próprio cérebro.
Note-se, porém, que não é o caso de que a computação por meio
de símbolos não seja um modelo bem sucedido no que se pode designar
por níveis elevados da cognição. É nos níveis mais básicos da cognição
que o modelo computacional-simbólico – ou IA simbólica – mostra
falhas significativas, preferindo-se aí a alternativa conexionista, seja na
sua variante ainda computacional seja na sua variante dinamicista. Por
exemplo, ainda de acordo com Patricia Churchland, se aquele modelo
consegue obter bons resultados na cognição ligada à dedução de
teoremas ou à competência para jogar xadrez, onde a presença de regras
lógicas é decisiva, falha porém em pontos fundamentais na cognição
como o simples reconhecimento perceptivo ou a compreensão do
discurso.204 Mas, em contrapartida, se nestes pontos o modelo
conexionista obtém resultados assinaláveis, o mesmo já não se pode
dizer do seu desempenho no que designámos por níveis superiores da
cognição e no âmbito propriamente racional da vida mental.
Contudo, no seio do conexionismo descortinam-se ainda duas
vias, que, não obstante o pressuposto central indicado, não são
inteiramente conciliáveis. Uma segue o modelo geral do
computacionalismo, como modelo de manipulação de símbolos, vindo
apenas aprofundar este através da ideia do processamento múltiplo, o
que de facto autoriza uma abordagem computacional de redes, mas que
não deixa, por isso, de se sujeitar às objecções que a sua natureza
computacional levanta. A outra, bem diversamente, assenta numa
204 «Although sequential models can be extremely powerful, they have been
disappointing in the simulation of fundamental cognitive processes such as pattern recognition and knowledge storage and retrieval. (…) for those things we humans find quite difficult, such as chess and theorem-proving, conventional AI approaches have been quite successful, but for those things we find easy, such as perceptual recognition and speech comprehension, the success of the conventional approaches has been negligible.» (Churchland, Patricia, 1986: 458)
281
abordagem dinamicista que propõe um entendimento do sistema
cognitivo humano como um sistema dinâmico ou, pelo menos, a sua
explicação como se de tal se tratasse.
A objecção central aos sistemas conexionistas computacionais
reside no facto de não darem, nem poderem dar, conta da cognição com
um processo contínuo, pois mais não fazem do que caracterizar, por um
lado, o processo cognitivo através de uma sequência de saltos entre
estados e, por outro, cada um destes estados como estados estáticos.
Perguntar-se-á: o que se passa entre t1 e t2? A resposta computacional
não poderá ser outra do que uma exposição de outro momento discreto,
numa regressão ao infinito que falha pelo simples facto do tempo ser de
natureza contínua e não discreta. Caso não se enverede por esta
regressão ao infinito é então o salto que ganha uma aura mágica em
virtude de uma inexplicabilidade da sua natureza. De todo o modo, pela
mesma regressão ao infinito, que não pode deixar de estar na base de
uma explicação da cognição que se queira integralmente
computacional, a faculdade explicativa de um tal modelo torna a
fracassar. Para todos os efeitos, é sabido que um computador – analogia
favorita do computacionalimo da mente – ou está num estado ou está
noutro, sem que seja, pelo menos computacionalmente, possível
descrever uma posição intermédia.
Ora, o pressuposto de qualquer abordagem dinamicista é
justamente o inverso: o tempo real conta num sistema dinâmico. E se o
processo de cognição deve ser abordado a partir de um modelo que o
proponha explicar em termos de continuidade, então essa é, desde já,
uma razão forte para se levar a sério uma abordagem do sistema
cognitivo natural como sistema dinâmico.
Mas esta objecção de partida é simplesmente a mais evidente. Ao
lado da correlação entre cognição e tempo, existem outras que
sustentam a hipótese dinâmica. Timothy Van Gelder e Robert F. Port
em Mind as Motion expõem um conjunto de pontos em que uma
abordagem conexionista computacional fraqueja:
- continuidade no estado (continuity in state),
282
- as interacções simultâneas múltiplas (multiple
simultaneous interactions),
- escalas temporais múltiplas (multiple time scales),
- auto-organização e emergência da estrutura (self-
organization and emergence of structure) ,
- embutimento (embeddedness).205
a) Hipótese dinamicista – conceitos teóricos
Para uma breve apresentação do conexionismo dinamicista,
comecemos pelas definições mais elementares. Por sistema dinâmico
entende-se um conjunto de variáveis que assumem valores diferentes ao
longo do tempo. As variáveis do sistema não são mais do que os
aspectos relevantes para a descrição do comportamento dinâmico do
sistema. Para cada instante t, essas variáveis assumem um certo valor –
ao conjunto de valores assumidos pelas variáveis num dado instante t
chama-se estado do sistema. Ao conjunto de todos os valores de
variáveis possíveis chama-se espaço de fase. Com estes conceitos é
possível afirmar que a sucessão de estados de um sistema dinâmico é
representável por uma trajectória no seu espaço de fase,
correspondendo cada ponto dessa trajectória a uma descrição completa
do estado do sistema em dado instante206.
Por outro lado, o espaço de fase é um espaço n-dimensional em
que n é o número de variáveis do sistema. Desta forma, se o sistema
dispuser de duas variáveis, o seu espaço fase será bidimensional (um
espaço de duas coordenadas cartesianas), se o número de variáveis for
três, então o espaço fase será tridimensional e assim em diante.
Naturalmente, entende-se por variável do sistema um aspecto do seu
205 Cf. Gelder e Port, 1995:22-30. 206 «No espaço de fase, o estado completo de conhecimento sobre um sistema
dinâmico num determinado instante de tempo colapsa num pontoo. Este ponto é o sistema dinâmico – naquele instante. No instante seguinte, no entanto, o sistema terá evoluído, mesmo que muito pouco, de maneira que o ponto se move. A história do sistema ao longo do tempo pode ser representada pelo movimento do pontoo, traçando a sua órbita através do espaço de fase» (Gleick, 1988:178-9).
283
comportamento, representável no espaço de fase. Além de variáveis,
um sistema possui parâmetros constantes. Por exemplo, tal como dois
pêndulos terão comportamentos diferentes em função de propriedades
como a massa de cada um dos pêndulos, ou o comprimento do cabo que
liga a massa em movimento ao ponto angular do movimento, tais
aspectos fixos são os parâmetros. Com certos parâmetros o
comportamento do sistema dinâmico será de uma maneira, com outros
parâmetros o comportamento do sistema será naturalmente outro.
Tratando-se de descrever um sistema dinâmico, proceder-se-á,
pois, em primeiro lugar, à identificação do conjunto das suas variáveis
relevantes; em segundo lugar, à indicação do sucessor do sistema (em
geral, o tempo); e, por fim, à determinação da regra (ou dinâmica) pela
qual o sistema evolui, ou seja, pela qual evoluem as suas variáveis ao
longo do tempo.
Para dar destes conceitos uma imagem menos abstracta, tomemos
em atenção o exemplo do comportamento dinâmico de um pêndulo
simples207. Sejam quais forem as condições iniciais do movimento de
um certo pêndulo, designamente a sua posição inicial (considerando
que é largado dessa posição a uma velocidade nula), ele orbitará em
torno de um certo ponto, com órbitas e velocidade cada vez menores
em virtude do atrito, até se deter nesse ponto.
Na descrição deste sistema dinâmico o conjunto das variáveis
relevantes é a posição e a velocidade do pêndulo. Graficamente, essas
duas variáveis podem ser representadas num espaço de coordenadas
cartesianas, com o eixo das ordenadas Y para a velocidade do pêndulo
e o eixo das abcissas X para a sua posição. O estado do sistema para
um dado instante – ou seja, os valores das suas variáveis nesse instante
– é dado por um ponto do espaço cartesiano. Ao espaço de todos os
valores possíveis que as variáveis do sistema podem assumir dá-se o
nome, como definimos acima, de espaço de fase.
Graficamente,
207 Exemplos expostos, entre outras referências, em Formosinho & Branco,
1997 e Gleick, 1988.
284
A representação gráfica do comportamento de um qualquer
pêndulo sujeito às forças de atrito revela uma bacia de atracção para a
qual o pêndulo tende, em virtude da dissipação da energia do sistema,
acabando, mais tarde ou mais cedo, por se imobilizar no ponto de
coordenadas (0,0), ou seja, na posição vertical com velocidade nula. A
este ponto chama-se atractor do sistema208, justamente por ser o ponto
para que tende inexoravelmente a trajectória do sistema.
Naturalmente, se desprezássemos as forças de atrito a que o
pêndulo está sujeito, o comportamento do mesmo sistema seria
diferente – ter-se-ia a representação no espaço fase de um ciclo,
percorrido vez sobre vez. A amplitude da oscilação do pêndulo
dependeria da energia do sistema – quanto maior a energia maior a
amplitude. Nos relógios de pêndulo, em que é introduzida,
periodicamente, no sistema alguma energia suplementar de forma a
compensar a dissipação, é justamente este tipo de comportamento que
se alcança. Neste caso, já não chegamos à representação de um atractor
208 No caso, um atractor de ponto fixo.
Y Fig. 27 T0 X
285
de ponto fixo, em que o comportamento alcança um estado
estacionário, mas à representação de um outro tipo de atractor,
denominado atractor de ciclo limite, ou seja, em que o comportamento
do sistema se torna repetitivo209. Mas, se a introdução de energia no
sistema for excessiva o comportamento do pêndulo ao longo do tempo
pode acabar por não ser atraído nem para um estado estacionário nem
para um ciclo em repetição contínua. Neste caso, o comportamento
pode tornar-se caótico. Ainda assim, tal não significa que na aparente
desordem não haja uma ordem subjacente, ou seja, que o
comportamento caótico não tenha os seus padrões próprios, que, ao fim
e ao cabo, no espaço de fase não surja outro tipo de atractores que não
os de ponto fixo e de ciclo limite. Tratam-se dos atractores estranhos.
O mais evidente exemplo de sistema dinâmico estável é o sistema
solar. Materialmente, trata-se de um conjunto de nove planetas
conhecidos, orbitando em torno de uma estrela de dimensão média, o
Sol. Cada um destes dez corpos possui uma determinada massa, e as
órbitas de cada um desses planetas em torno do Sol é função das
respectivas massas, a do planeta e a do Sol, também, embora em menor
medida, das massas dos restantes planetas (em especial do planeta
Júpiter), da posição relativa de cada um destes astros face aos restantes
e de uma constante gravitacional G (no caso de se adoptar as equações
de Newton da Mecânica Clássica). O modo como se comporta o
sistema solar pode ser matematizado (a partir das equações de Newton
ou, se formos escrupulosos, a partir das de Einstein), de tal forma que
podemos descrever as velocidades e as posições relativas dos astros do
sistema solar – estas são as suas variáveis relevantes – para um
qualquer momento, seja no futuro, seja no passado. Isto significa muito
209 «Um outro tipo de atractor é o atractor de ciclo limite. No espaço de fase o
ponto que representa o sistema, em vez de parar, circula numa curva fechada, o que equivale a um movimento periódico de algumas variáveis do sistema. No caso do pêndulo isto corresponde a um movimento forçado de pancadas periódicas, como nos relógios de pêndulo.» (Formosinho & Branco, 1997: 140). «Um outro exemplo é o coração; as equações que descrevem o movimento deste órgão são não-lineares e conduzem a um atractor de ciclo limite. Porém, sob a acção de um choque o coração pode ser atirado para uma bacia de outro atractor, este de “ponto fixo”, e o coração pára. Também por acção de um choque eléctrico apropriado, o coração pode regressar de novo ao seu atractor periódico.» (Formosinho & Branco, 1997: 141)
286
simplesmente que existe uma equação, exprimindo matematicamente a
dinâmica do sistema, pela qual, a partir de cada conjunto de parâmetros,
se pode representar o comportamento orbital do sistema num espaço de
fase.
Por outras palavras, se designarmos por estado do sistema num
certo momento t o conjunto dos valores assumidos por cada um dos
planetas quanto às suas posições e velocidades no espaço de fase, então
podemos afirmar que é possível determinar, matematicamente, qual o
estado do sistema para qualquer momento t, a sucessão de estados do
sistema para um intervalo de tempo t0-ti e, finalmente, por meio do
cálculo diferencial210, qual o comportamento do sistema na sua
globalidade.
Naturalmente, se as posições relativas e velocidades iniciais
forem outras os resultados diferirão. O que se diz das variáveis dir-se-á
ainda com maior premência dos parâmetros equacionados – se as
massas ou o número dos astros do sistema forem alterados, ou
simplesmente se o sistema estelar for outro, ou ainda, o parâmetro da
constante gravitacional assumir outro valor numérico, então os valores
determinados para um dado estado do sistema serão outros e assim será
necessariamente também para o comportamento orbital de cada um dos
planetas do sistema. Um sistema estelar real, seja o solar seja qualquer
outro, não é mais do que uma instanciação do sistema dinâmico
matematicamente descritível. Aquele está para este como uma entidade
real para uma entidade matemática.
Este é um sistema dinâmico que nos permite uma considerável
capacidade de previsão – por exemplo, a data e o local donde se
poderão observar os próximos eclipses lunares e solares. Mas isso
sucede porque se trata de um sistema linear. Fora ele um sistema não
210 Quer dizer, procedendo ao cálculo da derivada das funções, em que o
tempo é variável, das curvas resultantes, ou seja, à determinação da função que expressa matematicamente o comportamento daquelas curvas.
287
linear – cujas equações, por exemplo, fossem quadráticas – e o
horizonte de predictibilidade seria bastante exíguo211.
Uma forma de representar graficamente as variações de
comportamento de um sistema dinâmico em função das variações de
valor dos seus parâmetros consiste em conceber o sistema como uma
paisagem com características orográficas na qual uma esfera desliza
sem obstáculos. A cada parametrização corresponderá uma paisagem
orográfica e um certo comportamento da esfera – ora deslizará em
direcção a um atractor de acordo com certa parametrização, ora
deslizará em direcção a outro atractor caso a parametrização também
seja outra. A esta possibilidade de o sistema evoluir em direcções
diferentes da paisagem dinâmica corresponde uma bifurcação.
Ora, a abordagem dinâmico-conexionista dos sistemas cognitivos
assenta exactamente nos mesmos pressupostos de uma descrição
dinamicista do sistema solar, embora de uma forma bastante mais
complexa quer em virtude do número de variáveis a ter em conta quer,
sobretudo, em virtude da determinação de quais são exactamente as
variáveis a ter em conta e as relações (a ser matematizadas) que existem
entre elas. Uma última dificuldade, porventura a maior, consiste no
facto de uma descrição dinamicista do sistema solar dispor de
parâmetros facilmente identificáveis e quantificáveis, ao passo que uma
descrição dinamicista de um sistema cognitivo está longe de poder
determinar quais são os parâmetros a ter em conta, e muito menos os
seus valores. Em síntese, mesmo que, ex hipothesis, se desse por
garantida a validade deste tipo de abordagem, dificilmente se
conseguiria formalizar um tal sistema para a cognição humana.
Nestes termos, supondo a constância de todos os parâmetros à
excepção dos relativos a inputs externos – digamos sensoriais –, ter-se-
211 «Hoje reconhece-se que os sistemas caóticos constituem, afinal, a
generalidade dos sistemas naturais. Excepção são os sistemas planetários lineares, conservativos, como parece ser o sistema solar. E mesmo neste sistema convém referir que se as massas de outros planetas próximos da Terra fossem muito maiores, teriam de ser incluídas no movimento da Terra (e da Lua) e as equações dinâmicas seriam não-lineares. A sonda Voyager revelou precisamente que alguns satélites de Saturno, que gravitam próximo dos anéis, mostram órbitas caóticas. Os próprios anéis também parecem ser devidos a fenómenos de auto-organização de um sistema não-linear.» (Formosinho & Branco, 1997: 153)
288
á que para cada tipo de input corresponderá uma dada paisagem
dinâmica e, consequentemente, um dado comportamento do sistema.
Dito de outro modo, a esfera rolará num dada direcção e exactamente
em direcção a um certo ponto. Este ponto corresponderá ao ponto
atractor.212
4. Um exemplo: a percepção de objectos temporais
Em “Wooden Iron?”, van Gelder procura compatibilizar a
abordagem fenomenológica à mente com a abordagem cognitivista;
mais em particular, procura fazer militar aquela a favor da variante
dinamicista do cognitivismo, dando uso, por assim dizer, à moldura
teórica que Varela havia proposto como neurofenomenologia.
Com o intuito enuciado, van Gelder expõe como o debate entre
dinamicismo e computacionalismo, interno à abordagem cognitivista,
encontra uma versão fenomenológica no debate entre as perspectivas
husserliana e meinongiana sobre a percepção dos objectos temporais.
Segundo a perspectiva de Meinong, a percepção de um objecto
temporal só sucede depois da doação de todas as fases do objecto
temporal na sua duração, após a qual deveria então ocorrer uma síntese
dessas fases numa unidade. Apenas quando realizada a síntese dessas
diversas fases do objecto temporal, este seria, segundo Meinong,
percepcionado qua objecto temporal, por exemplo qua melodia. A esta
212 Baseando-se no Lexin System, sistema dinâmico desenhado por Robert Port
para o reconhecimento acústico, van Gelder expõe como é possível aplicar este tipo de abordagem dinamicista a sistemas cognitivos simples – «The Lexin System, after a program of “training”, has come to be wired up in such a way that for each distinct tone, there is a single unique point attractor in the dynamical landscape of the system. This is a state of the system such that wherever the system happens to be, it will head toward and eventually end up in that state. When the system is “hearing” one tone, it will head in the direction of the attractor for that tone. When another tone is presented, the system bifurcates; the previous attractor is replaced by another in a different location, and the system then heads off toward the new attractor. Thus, as the auditory pattern unfolds over time, it causes a series of bifurcations which result in the system state being pulled first in one direction, then another.» (Gelder, 1999: 256)
289
perspectiva, Husserl contrapõe suficiente evidência fenomenológica
para que se imponha uma outra perspectiva de compreensão do
processo subjacente à percepção de objectos temporais. Com efeito, se
admitíssemos o modelo meinongiano, então, durante a audição de uma
melodia não teríamos senão percepção de uma mera sucessão de sons
exteriores uns aos outros, e só depois, terminada a audição, é que
alcançaríamos a percepção dessa sucessão de sons como uma melodia,
o que manifestamente não sucede. O sujeito de percepção constitui o
perceptum enquanto este se dá; percepciona a melodia enquanto a
escuta.
Ora, de acordo com Van Gelder este tipo de evidência
fenomenológica tem valor informativo e deve, por isso, valer como
constrangimento epistémico aos modelos cognitivistas. É o caso que
nós percepcionamos uma melodia de uma certa maneira e não de outra,
é também claro que a abordagem fenomenológica em geral, e no
presente caso a de Husserl, fornece uma descrição suficientemente
precisa e objectiva da maneira como se dá essa percepção, explicitando,
por outro lado, informação suficiente para demonstrar que essa mesma
percepção não se dá de uma qualquer outra forma. Portanto, não seria
razoável não reconhecer que os resultados da pesquisa fenomenológica,
quando fiáveis, devem informar as ciências cognitivas213.
A este respeito, e em termos mais radicais, cremos poder afirmar
que qualquer tentativa de tratamento do problema corpo/mente não
pode dispensar uma fenomenologia pela qual seja descrito o objecto
que justamente se pretende explicar – a mente. Em contrapartida,
sustentamos que a abordagem fenomenológica, por si só, é incapaz de
perscrutar na sua experiência os processos que lhe estão subjacentes.
Por mais objectiva e completa que seja a descrição de uma experiência
– por exemplo, a de uma dor –, nessa experiência não se encontrará o
213 “Although phenomenological observation cannot, in general, be presumed
to give direct insight into the nature of the mechanisms responsible for experiential phenomena, there must ultimately be an account of why those phenomena are the way they are given (at least partly) in terms of the nature of those mechanisms. For this reason, the nature of our experience should be regarded as having the potential to constrain our theories and models in cognitive science” (Gelder, 1999: 257)
290
menor disparo neural, sequer nada que se assemelhe, por vaga que seja
a semelhança, com entidades descritíveis de um ponto de vista
neurológico. Reciprocamente, por mais completa que seja a
neurociência de uma dor, por mais completa que seja a descrição dessa
dor em termos neurológicos, não se encontrará nessa descrição o menor
vestígio dessa dor, de qualquer outra dor, ou do quer que seja que valha
como experiência de uma mente.
E, não obstante, não só é possível estabelecer correlações
mente/corpo entre eventos neurais num cérebro e eventos experienciais
na mente correspondente, como não é impossível, pelo menos por
princípio, encontrar descrições comuns, mas constituídas
independentemente, ao plano dos eventos neurais, por um lado, e ao
plano dos eventos experienciais, por outro. Admitindo que essas
descrições comuns, uma física, a respeito de eventos neurais, outra
fenomenológica, a respeito de eventos experienciais, possam, na
verdade, ser a mesma descrição, então esta terá forçosamente de ser
adjectivada como estando, a um tempo, para lá do ponto de vista da
física e para lá do ponto de vista da fenomenologia. Ou seja: assumir
uma perspectiva que considere as descrições comuns aos dois pontos de
vista como uma mesma descrição, será, em rigor, assumir uma
perspectiva simultaneamente meta-física e meta-fenomenológica.
Tratar-se-á, em suma, de naturalizar a fenomenologia por uma
manifesta e informativa concordância entre as duas perspectivas, a
natural e a fenomenológica; simplesmente, de uma forma em que o
ponto de fecho que as compatibiliza implica um salto de perspectiva,
salto, a um tempo, para lá da perspectiva física e da fenomenológica.
Talvez o que não possamos dispensar é uma nova metafísica.
291
Bibliografia
ALMEIDA, Luís Borges de
(1999) “Rede Neuronais” in Colóquio/Ciências 23 (1999): 3-16. Lisboa: FCG.
ALONSO, Marcelo & FINN, Edward J.
(1992) Physics. Física. Tr.: Maria Alice Gomes da Costa e Maria de Jesus Vaz de Carvalho. Madrid: Addison Wesley, 1999.
ALVES, Pedro
(2000) “A doutrina husserliana dos actos intuitivos sensíveis e o tema da cosciência do tempo (1898-1911)”. Phainomenon 1 (2000): pp. 5-46. Lisboa: Colibri.
(2001) “Consciência do tempo e temporalidade da consciência – Husserl perante Meinong e Brentano”. Phainomenon 3 (2001): pp. 107-140. Lisboa: Colibri.
(2002) “Noema e Percepção na Fenomenologia de E. Husserl” . Análise 23 (2002). Porto: Campo das Letras.
AMSTERDAMSKI, Stefan
(1978) “Causalidade” in Enciclopédia Einaudi. Explicação (ed. Portuguesa), vol. 33. Tr.: Maria Bragança. Lisboa: IN-CM, 1996. 156-193.
ARMSTRONG, David
(1981) The Nature of Mind, “What is consciousness?”. Ithaca: Cornell University Press, pp. 55-67. [in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE (eds.), 1997: 721-728]
AYDEDE, Murat
(1998) “Language of Thought Hypothesis: State of the Art”, URL = <http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00000353/00/LOTH.SEP.html>.
(2002) "The Language of Thought Hypothesis", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2002 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2002/entries/language-thought/>.
BANICH, Mariet
(1997) Neuropsychology – The Neural Bases of Mental Function. Boston NY: Houghton Mifflin Company.
BARATA, André
(2000) Metáforas da Consciência – Da ontologia especular de Sartre a uma metafísica da ressonância. Porto: Campo das Letras.
292
(2001a) “Caracteres da Experiência”. Phainomenon 2 (2001): pp. 5-36. Lisboa: Colibri.
(2001b) “O recuo sartreano e o problema da crença”. Análise 22 (2001). Porto: Campo das Letras.
BECHTEL, William e ABRAHAMSEN, Adele
(1991) Le connexionisme et l’esprit – introduction au traitement parallèle par réseaux. Tr. : Joëlle Proust. Paris : Éditions la découverte, 1993.
BELL, David
(1990) Husserl – The arguments of the philosophers. London/New York: Routledge, 1999.
BITBOL, Michel
(2000) Physique et Philosophie de l’Esprit. Paris: Flammarion.
BLOCK, Ned
(1995) “On a confusion about a Function of Consciousness”, Behavioral and Brain Sciences, 18 (1995): pp. 227-247. [in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE (eds.), 1997: 375-415.]
(1994) “Qualia” in GUTTENPLAN, S. (editor), 1994: pp. 514-520.
(1990) “Inverted Earth” in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE (eds.), 1997: 677-693.
BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE (eds.),
(1997) The nature of Consciousness, Cambridge MA: MIT Press.
BOLTUC, Piotr
(2000) “Qualia, Robots and Complementarity of Subject and Object”, URL= <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Mind/MindBolt.htm>
BORN, Max
(1935) Atomic Physics. Física Atómica. Tr.: Egídio Namorado. Lisboa: F.C.G, 1986.
BRANQUINHO, João
(2001a) “Atitudes Proposicionais” in BRANQUINHO & MURCHO, 2001: 85-92.
BRANQUINHO, João & MURCHO, Desidério (Eds.)
(2001) Dicionário de termos lógico-filosóficos. Lisboa: Gradiva.
BRENTANO, Franz
(1874) Psychologie vom Empirischen Standpunkt. Pychology from an Empirical Standpoint. New York: Humanities Press, 1973.
BRONCANO, Fernando (Ed.)
293
(1995) La mente humana. Madrid: Editorial Trotta y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
BURGE, Tyler
(1979) "Individualism and the Mental", in P. FRENCH, P. et al, Midwest Studies in Philosophy, Vol. IV: Studies in Metaphysics. Minneapolis: University of Minnesota Press: 73-121.
BYRNE, Alex
(1994) “Behaviourism” in GUTTENPLAN, S, 1994: 132-140.
BYRNE, Alex & HALL, Ned
(1998) “Chalmers on Consciousness and Quantum Mechanics”, URL= <http://web.mit.edu/abyrne/www/ Conc&QM.html>.
CALDAS, Alexandre Castro
(2000) A herança de Franz Joseph Gall – O Cérebro ao Serviço do Comportamento Humano. Lisboa: McGraw Hill.
CARNAP, Rudolf
(1935) Philosophy and Logical Syntax. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.
CHALMERS, David
(1995) “Facing Up to the Problem of Consciousness” in Journal of Consciousness Studies 2 (3), 1995, pp. 200-219. URL= <http://www.imprint.co.uk/chalmers.html>
(1996) The Conscious Mind. Oxford: Oxford University Press.
CHURCH, Jennifer
(1995) “Fallacies or Analyses?”, in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 425-426.
CHURCHLAND, Paul M.
(1981) “Eliminative materialism and propositional attitudes”. Journal of Philosophy, 78 (1981): pp. 67-90.
(1984) Matter and Consciousness, Cambridge MA: The MIT Press.
CHURCHLAND, Patricia
(1986) Neurophilosophy: Toward a unified science of the mind-brain (Computational models of cognition and perception). Cambridge MA: The MIT Press.
CORBÍ, Josep & PRADES, Josep L.
(1995) “El conexionismo y su impacto en la filosofía de la mente” in BRONCANO, 1995.
COSTA, Fernando Almeida e
294
(2001) “Evolução, morfologias e controlo em sistemass artificiais: para além do paradigma computacional” in Análise 22, 2001, pp.65-93.
COTTERILL, Rodney
(1998) Enchanted Looms. Conscious Networks in Brains and Computers. Cambridge UK: Cambridge University Press.
COURNOT, Antoine Augustin
(1875) Matérialisme, Vitalisme et Rationalisme. Études sur l’Emploi des données de la science en philosophie. <URL= http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/ Cournot_Materialisme.pdf>
CRICK, Francis
(1994) The Astonishing Hypothesis – The scientific search of the soul. New York: Touchstone.
CRICK, Francis & KOCH Christof
(1990) “Towards a neurobiological theory of consciousness” in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 277-292.
DAMÁSIO, António
(1999) The Feeling of What Happens. O Sentimento de Si – O corpo, a emoção e a neurobiologia da consciência. Lisboa: Publicações Europa-América.
(2002) Looking for Spinoza. Ao Encontro de Espinosa. Lisboa: Publicações Europa-América.
DAVIDSON, Donald
(1970) “Mental Events” in FOSTER, L. & SAWNSON, J.W. (eds), 1970. Experience and Theory. Amherst: University of Massachussets Press, pp. 79-101.
(1974) “Thought and Talk” in GUTTENPLAN, S. (ed)., 1974. Mind and Language: Wolfson College Lectures. Oxford: Oxford University Press, pp. 7-23.
(1993) “Thinking Causes” in HEIL e MELE, 1993: 3-17. DENNETT, Daniel C.
(1987) The Intentional Stance. Cambridge MA: MIT Press.
(1988) “Quining qualia” in MARCEL, A. & BISIACH, E (eds.) 1988. Consciousness in contemporary science. Oxford: Oxford University Press, pp. pp.43-77.
(1991) Consciousness Explained. Boston/New York/London: Black Bay Book.
(1995) Darwin’s Dangerous Idea. A Ideia Perigosa de Darwin. Tr.: Álvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Temas e Debates, 2001.
(1996) Kinds of minds. [Versão portuguesa: Tipos de Mentes. Tr.: Maria Teresa Castanheira. Lisboa: Rocca/Temas e Debates]
295
(2003) Freedom Evolves. London: Allen Lane/The Penguin Press.
DRETSKE, Fred
(1994) “Dretske, Fred” in GUTTENPLAN, 1994: 259-265.
(2000) Perception, Knowledge, and Belief. Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
ECCLES, John & POPPER, Karl
(1977) The Self and its Brain,. Berlin: Springer-Verlag. EDELMAN, Gerald M. E TONONI, Giulio
(2000) Comment la matière devient conscience. Tr.: Jean-Luc Fidel. Paris: Éditions Odile Jacob, 2000.
EINON, Geoff S. & ROSE, Steven P.
(1978).“Cérebro”. In Enciclopédia Einaudi. Cérebro-Máquina (ed. Portuguesa), vol. 27. Tr.: Teixeira de Aguilar. Lisboa: IN-CM, 1996: 149-232.
EKELAND, Ivar
(1984) A matemática e o imprevisto – Símbolos do tempo de Kepler a Thom. Le calcul, l’imprévu. Tr.: José António Matias Lopes. Lisboa: Gradiva, 1993.
FLANAGAN, Owen
(1992) Consciousness reconsidered. Cambridge MA & London: The MIT Press.
FODOR, Jerry A.
(1975) The Language of Thought. Cambridge MA: Harvard University Press.
(1981) “Methodological Solipsism Considered as a Research Strategy in Cognitive Psychology", in Representations, Cambridge, MA: The MIT Press. [ROSENTHAL, 1991:]
(2001) The mind doesn’t work that way – the scope and limits of computational psychology. Cambridge MA & Oxford: The MIT Press.
FORMOSINHO Sebastião J. & BRANCO, J. Oliveira
(1997) O Brotar da Criação – Um olhar dinâmico pela ciência, a filosofia e a teologia. Lisboa: Universidade Católica Editora.
FRANKLIN, Stanley
(1995) Artificial Minds. Mentes Artificiais. Tr.: Margarida Vale do Gato. Lisboa: Relógio d’Água, 2000.
GELDER, Timothy van
(1996) “Wooden Iron? Husserlian Phenomenology meets cognitive science” in PETITOT, VARELA, PACHOUD, ROY, 1999: 245-265.
296
(1997) “The Dynamical Hypothesis in Cognitive Science”
<http://www.arts.unimelb.edu.au/~tgelder/papers/DH.pdf> GIL, Fernando,
(1993) Tratado da Evidência. Tr.: Maria Bragança. Lisboa: IN-CM, 1996.
(2001) La Conviction. Paris: Flammarion. GLEICK, James
(1987) Chaos: Making a new science. Caos – A construção de uma nova ciência. Lisboa: Gradiva, 1994.
GRAHAM, George
(19982) Philosophy of Mind – an Introduction. Oxford & Malden M: Blackwell Publishers
GRAYLING, Anthony C.,
(1997) An Introduction to Philosophical Logic (3ª ed.). Oxford & Malden MA: Blackwell Publishers.
GREENSTEIN, Ben & GREENSTEIN, Adam
(2000) Color Atlas of Neuroscience. Neuroanatomy and Neurophysiology. New York: Thieme.
GREGORY, Richard L. (dir.),
(1987) The Oxford Companion to the Mind. GULICK, Robert van
(1993) “Understanding the Phenomenal Mind: Are We Just Armadillos?” in LYCAN, 1999: 461-473.
GUTTENPLAN, Samuel (Ed.)
(1994) A Companion to the Philosophy of Mind. Oxford e Malden MA: Blackwell Publishers.
GÜZELDERE, Güven
(1995) “Is consciousness the Perception of What Passes in One’s Own Mind?” in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE, 1997: 789-806.
HALE, Bob & WRIGHT, Crispin (Eds.)
(1997) A Companion to the Philosophy of Language. Oxford e Malden MA: Blackwell Publishers.
HARMAN, Gilbert
(1990) “The Intrinsic Quality of Experience”, in TOMBERLIN, J. (ed.), 1990. Philosophical Perspectives. Atascadero: Ridgeview Publishing, pp. 31-52. [Também in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 663-675.]
HEIL, John & MELE, Alfred (eds.)
(1993) Mental Causation. Oxford: Oxford University Press.
297
HOFSTADTER, Douglas R.
(1979) Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. London: Penguin Books, 2000.
HORGAN, Terence E.,
(1994) “Physicalism (1)” in GUTTENPLAN, S, 1994: 471-479.
HUSSERL, Edmund,
(1890/1910) Early Writings in the Philosophy of Logic and Mathematics. Tr.: Dallas Willard. Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1994.
(1901) Logische Untersuchungen (2.ª ed.). Logical Investigations. Tr. N. Findlay. London: Routledge.
(1905) Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo. Tr. Pedro M. S. Alves. Lisboa: IN-CM, 1994.
(1906-07) Einleitung in die Logik und Erkenntnishtheorie (Husserliana XXIV). Introduction à la logique et à la theorie de la connaissance. Tr. Laurent Joumier. Paris: Vrin, 1998.
(1913) Ideen I – Idées directrices pour une phénoménologie. Tr. : Paul Ricoeur. Paris: Gallimard, 1950.
(1918-26) Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs-und Forschungsmanuskripten (Husserliana, Band XI). De la synthèse passive. Logique transcendantale et constitutions originaires. Tr. Bruce Bégout et Jean Kessler. Grenoble: Jérôme Millon, 1998.
(1938) Erfahrung und Urteil. Expérience et Jugement. Tr. : Denise Souche-Dagues. Paris : P.U.F., 1991.
JACKENDOFF, Ray
(1983) Semantics and Cognition. Cambridge MA/London: MIT Press/A Bradford Book.
(1987) Consciousness and the Computational Mind. Cambridge MA/London: MIT Press/A Bradford Book
(1992) Languages of the mind – Essays on mental representation. Cambridge MA/ London: The MIT Press/A Bradford Book..
(2002) Foundations of Language – Brain, Meaning Grammar, Evolution. Oxford: Oxford University Press.
JACKSON, Frank & BRADDON-MITCHELL David
(1996) Philosophy of Mind and Cognition. Oxford: Blackwell Publishers.
(1998) “Belief” in E. CRAIG (Ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge.
JACKSON, Frank and REY, Georges
298
(1998). “Mind, philosophy of”. In E. CRAIG (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge.
KANT, Immanuel
(17872) Kritik der reinen Vernunft. Crítica da Razão Pura. Tr.: Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: F.C.G.
KASZNIAK , Alfred (Ed.)
(2001) Emotions, qualia and consciousness. Singapore: World Scientific Publishing.
KIM, Jaegwon
(1982) “Psychophysical Supervenience”, Philosophical Studies 41 (1982): 51-70. [in KIM, J., 1993: 175-193]
(1984a) “Concepts of Supervenience”, Philosophy and Phenomenological Research 45 (1984): 153-176. [in Kim, J., 1993: 53-78]
(1984b) “Epiphenomenal and Supervenient Causation”, Midwest Studies in Philosophy 9 (1984): 257-270. [in KIM, J., 1993: 92-108]
(1993) Supervenience and Mind – Selected Philosophical Essays. Cambridge UK: Cambridge University Press.
(1994) “Supervenience” in GUTTENPLAN, S., 1994: 575-583.
KRIPKE, Saul
(1971) “Identity and Necessity”, in MUNITZ, Milton K. (ed.), Identity and Individuation. New York: New York University Press, pp.135-164. Reprinted in MOORE, A. W., 1993.
(1980) Naming and Necessity. Cambridge MA: Harvard University Press.
LENCASTRE, Marina P.A.
(1999) Epistemologia Evolutiva e Teoria da emergência, FCG.
LEPORE, Ernest & VAN GULICK, Robert (Edit.)
(1991) John Searle and his critics. Oxford & Cambridge MA: Blackwell Publishers.
LEVINE, Joseph
(2001) Purple Haze – The puzzle of consciousness. Oxford: Oxford university Press.
LOAR, Brian
(1991) Mind and Meaning, New York: Cambridge University Press.
LOCKE, John
(1690) An Essay concerning Human Understanding. Ensaio sobre o Entendimento Humano. Tr. (Coord.): Eduardo Abranches de Soveral. Lisboa: F.C.G.: Lisboa, 1999.
299
LUDWIG, Kirk
(1995) “Why the Difference Between Quantum and Classical Physics is Irrelevant to the Mind-Body Problem”, PSYCHE 2(16). <URL= http://psyche.cs.monash.edu.au/volume2-1/psyche-95-2-16-qm_stapp-2-ludwig.html>.
LUTZ, Antoine & THOMPSON, Evan
(2002) “Neurophenomenology – Integrating Subjective Experience and Brain Dynamics in the Neuroscience of Consciousness” Journal of Consciousness Studies, 10, No. 9-10, 2003, pp. 31-52.
LYCAN, William G.
(1987) Consciousness, Cambridge: MIT Press. (1990) “Consciousness as internal Monitoring”
TOMBERLIN, J. (ed.), 1990. Philosophical Perspectives, vol. 9. Atascadero: Ridgeview Publishing, pp. 1-14. [in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 755-771.]
(1996) Consciousness and Experience, Cambridge: MIT Press/Bradford Books.
LYCAN, William G. (Ed.)
(1990) Mind and Cognition – An anthology. Malden MA/Oxford: Blackwell Publishers, 1999 (2ª. Ed).
MACKAY, William A.
(1997) Neuro 101: Neurophysiology without Tears. Toronto: Sefalothek. [Neurofisiologia sem lágrimas. Tr.: J. L. Pio Abreu. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.]
MANDELBROT, Benoît
(1971) Les objets fractals. Objectos fractais. Tr.: Carlos Fiolhais e José Luís Malaquias Lima. Lisboa: Gradiva, 1991.
MARQUES, António
(2003) “O problema das outras mentes e o ponto de vista do cepticismo moderado de Wittgenstein” in ROMÃO, R. B., 2003. O cepticismo e Montaigne. Covilhã: UBI/Ta Pragmata.
MARTIN, Michael
(1999) “The Transparency of Experience”, URL= <http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/courses/concepts/martin.html>.
McDERMOTT, Drew
(1997) “How Intelligent is Deep Blue” in New York Times (de 14 de Maio de 1997) <URL= http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/courses/mindsandmachines/Papers/mcdermott.html>
300
McGINN, Colin
(1989) Mental content. Oxford: Basil Blackwell. (1988) “Consciousness and Content” [in BLOCK,
FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: pp]
McKAY , Thomas J. (2000) “Propositional Attitude Reports” in Stanford
Encylopedia of Philosophy <URL = http://plato.stanford.edu/entries/prop-attitude-reports >
McLAUGHLIN, Brian P.,
(1994) “Epiphenomenalism” in GUTTENPLAN, 1994: 277-288.
MIGUENS, Sofia
(2002) Uma Teoria fisicalista do conteúdo e da consciência – D. Dennett e os debates da filosofia da mente. Porto: Campo das Letras.
MILLER, Izchak
(1984) Husserl, Perception, and Temporal Awareness. Cambridge MA/London: The MIT Press/ A Bradford Book.
MURCHO, Desidério
(2002) Essencialismo Naturalizado. Coimbra: Angelus Novus.
NAGEL, Thomas
(1979) Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press. ( Canto edition, 1996).
PAISANA, João
(1992) Fenomenologia e Hermenêutica – A relação entre as filosofias de Husserl e Heidegger. Lisboa: Editorial Presença.
(1997) “Discurso Científico e Poético na Filosofia de Aristóteles”, Philosophica (n.º 9). Lisboa: Colibri.
(2000) “Experiência e Comunicação”. Phainomenon (n.º 1). Lisboa: Colibri.
PEACOCKE, Christopher
(1983) “Sensation and Content of Experience: a Distinction” in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 341-354.
PENROSE, Roger
(1989) The Emperor’s New Mind – Concerning computers, minds, and the laws of Physics. A mente virtual – Sobre computadores, mentes e as leis da Física. Tr.: J. F. Oliveira & Carlos Lourenço & Luís T. Da Costa. Lisboa: Gradiva, 1997.
301
(1997) The Large, the Small and the Human Mind. O Grande, o Pequeno e a Mente Humana. Tr.: David Resendes. Lisboa: Gradiva, 2003.
PETITOT, J., VARELA, F., PACHOUD, B., ROY, J-M (Eds.)
(1999) Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Writing Science). Standford: Stanford University Press.
PINKAS, Daniel (1995) La Matérialité de l’Esprit – Un examen critique
des théories contemporaines de l’esprit. Paris : Éditions la découverte.
PORT, Robert & GELDER, Tim van (Eds.)
(1995) Mind as Motion – Explorations in the Dynamics of Cognition. Cambridge MA/London: MIT Press/A Bradford Book.
POSNER, Michael e RAICHLE, Marcus
(19972) Images of Mind. Imagens da Mente. Porto: Porto Editora.
PUTNAM, Hilary
(1975) Mind, Language and Reality, “The Meaning of ‘meaning’”. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 215-271.
(1989) Reason, Truth and History. Razão, Verdade e História. Tr.: António Duarte. Lisboa: D.Quixote,1992.
(1994) “Putnam, Hilary” in GUTTENPLAN, S., 1994: 507-513.
(1998a) “Causalidade Mental”. Tr.: Pedro Santos, Disputatio 5 (Novembro 1998): 4-22.
(1998b) “Correlação Mente/corpo?”. Tr.: Pedro Santos, Disputatio 5 (Novembro 1998): 23-46.
REY, Georges
(1997) Contemporary Philosophy of Mind. Cambridge MA/Oxford: Blackwell Publishers.
ROSENTHAL, D.
(1990) “A Theory of Consciousness”, ZIF Technical Report, Bielefeld, Germany. [in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 729-753.]
(1991) The Nature of Mind, Oxford: Oxford University Press.
RYLE, G.
(1949) The Concept of Mind, London: Hutcheson. SAINSBURY, Mark
(1979) Russell – The Arguments of the Philosophers, Routledge, 2001.
SANTOS, J. Manuel & ALVES, Pedro & BARATA, André (Edts)
302
(2002) A Fenomenologa Hoje – Actas do Primeiro Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica. Braga: Phainomenon/Centro de Flosofia da Universdade de Lisboa
SARAIVA, Maria Manuela,
(1970) L’Imagination selon Husserl. A Imaginação segundo Husserl. Tr.: Isabel Támen e Pedro Mesquita. Paris: Centro Cultural Calouste Gulbenkian, 1994.
SARTRE, Jean-Paul
(1936) La Transcendance de l’Ego. A transcendência do Ego. Tr. Pedro Alves. Lisboa : Colibri, 1994.
(1943) L’Être et le Néant. Paris: Gallimard, 1993. SEARLE, John R.
(1969), Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. New York: Cambridge University Press. [Os Actos de Fala, Coimbra: Livraria Almedina, 1984.]
(1980) “Minds, brains, and programs”, Behavorial and Brain Sciences 3: 417-424. [in Rosenthal, 1991: 509-519.]
(1983) Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. New York: Cambridge University Press. [Intentionality. Intencionalidade. Tr.: Madalena Poole da Costa. Lisboa: Relógio d’Água, 1999.]
(1984), Minds, Brains and Science, Cambridge: Harvard University Press.
(1992) The Rediscovery of the Mind. Cambridge: MA, MIT Press. [The Rediscovery of Mind. A Redescoberta da Mente. Tr.: Ana André. Lisboa: Editorial Piaget, 1998.]
(1997) The Mystery of Consciousness. New York: New York Review Press.
SHOEMAKER, Sidney
(1981) “The Inverted Spectrum”, Journal of Philosophy, 74:7 (1981): pp. 357-381 [Também in BLOCK, FLANAGAN e GÜZELDERE, 1997: 643-662.]
SIDONCHA, Urbano Mestre
(2002) “Fenomenologia e o problema mente/corpo” in SANTOS & ALVES & BARATA, 2002: 143-159.
SMITH, Quentin
(1977) “On Husserl’s Theory of Consciousness in the Fifth Logical Investigation” in Philosophy and Phenomenological Research, Vol. XXXVII, June, 1977. URL = <http://www.qsmithwmu.com/on_husserl's_theory_of_consciousness_in_the_fifth_logical_investigation.htm>
SMITH, David W. & McINTYRE, Ronald
(1982) Husserl and Intentionality – A Study of Mind, Meaning and Language. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
303
SOARES, Maria Luísa Couto (2000) “A dinâmica intencional da subjectividade”.
Análise (n.º 21). Porto: Campo das Letras. (2001) Conceito e Sentido em Frege. Porto: Campo das
Letras. STAPP, H. P.
(1995) “Why Classical Mechanics Cannot Naturally Accommodate Consciousness but Quantum Mechanics Can”, PSYCHE, 2(5). URL= <http://psyche.cs.monash.edu.au/volume2-1/psyche-95-2-05-qm_stapp-1-Stapp.html)>.
STEWART, Ian
(1989) Does God play dice?.Deus joga aos dados? Tr.: Armindo Salvador. Lisboa: Gradiva, 1991.
STICH, Stephen
(1978) “Autonomous Psychology and the Belief-Desire thesis” in LYCAN, 1990.
STRAWSON, G.
(1994) Mental Reality, Cambridge: MIT Press. SUÁREZ, Alfonso Garcia
(1995) “Qualia: Propiedades Fenomenológicas”. in BRONCANO, 1995.
TEIXEIRA, Célia
(2002)“O Monismo Anómalo de Donald Davidson e a Ameaça Epifenomenista” URL= <www.librairie.hpg.ig.com. br/LB-CeliaTeixeira03.htm>.
TYE, Michael
(1992) “Visual qualia and visual content”. In The Contents of Experience, edited by T. Crane. Cambridge: Cambridge University Press
(1995) Ten Problems of consciousness, Cambridge: MIT Press.
VARELA, Francisco
(1996) “Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem” in Journal of Consciousness Studies, vol. 3, n.4, pp. 330-349.
(1997) “The specious present: A neurophenomenology of time consciousness”, in Naturalizing Phenomenology, 1999.
VARELA, Francisco & SHEAR Johnatan,
(1999) The View From Within, Thorverton: Imprint Academic.
VARELA, Francisco J.; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor
304
(1991) The embodied mind: Cognitive science and human experience, MIT Press, Cambridge, MA, USA. 1993 (paperback).
VILLANUEVA, Enrique
(1995) “Conciencia” in BRONCANO, 1995.
WANDELL, Brian A. (1995) Foundations of Vision. Massachussetts: Sinauer
Associated Publishers.
WHITE, Stephen L. (1986) “Te Curse of Qualia” in BLOCK, FLANAGAN e
GÜZELDERE, 1997: 695-717. (1991) The Unity of the Self, Cambridge. MA:
Bradford/MIT Press.
WITTGENSTEIN, Ludwig (1922) Philosophische Untersuchungen. Investigações
Filosóficas. Tr.: M. S. Lourenço. Lisboa: F.C.G., 1995. (1953) Philosophical Investigations. Investigações
Filosóficas. Tr.: M. S. Lourenço. Lisboa: F.C.G., 1995.