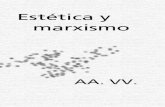Capitalismo romano, modernismo e marxismo. A proposito de algumas ideias de Jairus Banaji sobre o...
Transcript of Capitalismo romano, modernismo e marxismo. A proposito de algumas ideias de Jairus Banaji sobre o...
• • • História & Luta de Classes, N" 14- Setembro de �01: :...:...:- -.!3
Capitalismo romano, modernismo e marxismo. A propósito de algumas ideias de
Jairus Banaji sobre o trabalho assalariado'
Analisarei, neste breve artigo, algumas ideias expressas por Jairus Banaji em uma recente publicação, Theory as History. Essays on Modes of Production and Exploitation, em particular no seu quarto capítulo: ··workers before capitalism". Irei concentrar-me especialmente na segunda parte do capítulo em que o autor critica alguns fragmentos d'O Capital sobre o trabalho assalariado e retoma a i dei a da existência de um capitalismo no mundo antigo.2
Banaji reafirma, neste capítulo, a existência maciça de trabalho assalariado na sociedade romana. :\poiando-se em documentação diversa, destaca sua importância durante o período imperial e até tardomtigo.3 Numa conclusão preliminar relativa à primeira metade do capítulo, o autor afirma que a classe ::rabalhadora não é especificamente um produto do ::apitalismo e entende que as visões marxistas -ubestimaram radicalmente a extensão do trabalho J.Ssalariado nas sociedades pré-capitalistas. O argumento e que Marx não teve acesso à parte das informações de ._'}ue dispomos hoje em dia, mas, fundamentalmente, o autor destaca que "a razão mais fundamental que o levou simplesmente a ignorar a existência de trabalhadores assalariados antes do capitalismo é a força do primitivismo na tradição marxista." Banaji indica que o trabalho assalariado é percebido fundamentalmente como uma instituição moderna e, por consequência, o mundo antigo seria impermeável às instituições que caracterizam o capitalismo. Recorre a exemplos, especialmente do período tardo-antigo, ainda que também alguns da época anterior, para sustentar estas afirmações. Poder-se-ia estar de acordo com algumas destas ideias, especialmente as que tratam de deslocar o papel da escravidão como argumento básico para explicar a racionalidade da economia romana e, de fato, em termos gerais, concordo com estes postulados. Todavia, o autor utiliza estes argumentos para iniciar uma discussão de corte teórico mais profundo, em que, a partir dos elementos assinalados, afirma a existência de um capitalismo romano. Assim, apoia-se em Otto Rühle, que argumentou que a economia quase havia alcançado os umbrais do capitalismo sob o Império romano na Itália, bem como emArthur Rosenverg, que fala de capitalistas e proletários no mundo greco-romano; e ainda em
Tradução do original em espanhol por Fábio Afonso Frizzo e José E.M. Knust, revisão de Mário Jorge da Motta Bastos. •Universidad Nacional de La Plata/Universidad de BuenosAITes. 'BANAn. Jairus. Theory as History. Essays on Modes ofProduction and Exploitation. Leiden-Boston: Brill, 20 I O. ·m.,op.cit..p.l l7e ss.
Carlos García Mac Gaw'
Feliciano Serrao, que assinala a existência de um capitalismo compatível com as condições históricas da Antiguidade.
Causa certa surpresa que Banaji argumente que "sempre houve uma vertente modernista no pensamento de esquerda que nós precisamos desesperadamente salvar",4 porque, na realidade, o conflito entre as percepções modernistas e primitivistas tem sido progressivamente abandonado em razão das críticas profundamente elaboradas que permitem superar o impasse teórico que fundamentava a discussão.5 Em geral, a posição dos primitivistas apoiou-se especialmente na extensão reduzida da circulação mercantil e no papel limitado dos mercados na economia antiga, tal como assinalara Finley.6 Estas perspectivas foram uma reação aos historiadores que, como Mikhail Rostovtzeff e Tenney Frank, assumiram que as relações econômicas modernas proviam as ferramentas para entender a economia, independentemente do período que se estudasse. Como assinala Neville Morley, os primeiros economistas políticos consideraram que a organização do mundo antigo não era significativamente diferente do seu próprio, em parte porque não compreendiam completamente o alcance da Revolução industrial que ocorria ao seu redor. 7 Todavia, pouco depois, Marx iria opor-se a esta visão simplista da compreensão dos fenômenos econômicos em sua dimensão histórica, e Karl Bücher apresentaria o desenvolvimento histórico europeu a partir de três estágios: a economia doméstica, a economia da cidade e a economia nacional, que correspondiam em geral às características da Antiguidade, da Idade Média e da modernidade.8 Estas ideias encontraram uma expressão mais orgânica na polêmica que Max Weber e Johannes Hasebroek mantiveram com Eduard Meyer. Talvez convenha destacar também que as diferentes percepções dos modernistas e primitivistas variaram de acordo com os elementos postos em foco para realizar as análises.
\ . . ) "there has always been a modernist strand in left-wing thjnking which we desperately need to salvage". 5Para um balance sobre a questão ver em geral SCHEIDEL, W; VON REDEN, S. The Anciente Economy. New York: Routledge, 2002; e, em particular, o capítulo de ANDREAU, Jean. "Twenty Years after The Ancient Economy. p. 3 3 .49. 'FrNLEY, Moses. La Economía de laAntigüedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1974. p. 40-41. O livro em seu conjunto pode ser considerado como fundador das posições primüivistas. 'MORLEY, Neville. Theories, Models and Concepts in Ancient History. London-New York: Routledge, 2004. p. 35. 8MORLEY, op. cit.. p. 36. Para uma apresentação histórica sobre as perspectivas econômicas de primitivistas e modernistas ver, em geral, o capítulo 2. p. 33-50.
24- Capitalismo romano, modernismo e marxismo. A propósito de algumas ideias de Jairus Banaji sobre o trabalho assalariado • • •
Pleket, por exemplo, reconhece manter uma posição intermediária entre ambas correntes quando indica que, em linhas gerais, as características primitivas, précapitalistas, eram típicas da economia do Império Romano e da Idade Média Europeia, mas, ao mesmo tempo, em ambos os períodos houve nichos de uma economia capitalista, caracterizados pelo comércio estrutural, de longa distância, de artigos primários e de ltao, além de uma produção de tais bens para o mercado.9 Isto significa que, diferentemente de Banaji, que enfatiza o papel do trabalho assalariado e a existência do capital comercial, Pleket se apóia rio comércio de longas distâncias e na produção de mercadorias para afirmar o caráter capitalista - mesmo que fragmentário - da economia romana. Mas, como indica Banaji, toda uma vertente do materialismo histórico tem contribuído fortemente para a constituição da perspectiva modernista na medida em que tem dado ênfase especial ao estudo da organização das relações de produção, analisando as formas adotadas pela relação entre produtores escravos e meios de produção e os proprietários escravistas no processo produtivo. A vi/la escravista cumpriu um papel central em tais enfoques.10 No que diz respeito à opinião de Banaji, eu estaria mais propenso a crer que, na realidade, a falta de atenção em relação ao trabalho livree incluiria aqui não apenas o trabalho assalariado mas especialmente o colonato agrário republicano e altoimperial -, não é algo próprio dos marxistas, mas, em geral, dos historiadores da antiguidade que tenham centrado seu foco de atenção no escravismo- como feito
•PLEKET, H. W. "Agriculture in the Romam Empire in Comparative Perspective". In: SANCISI-WEEDERNBURG, H; VAN DEER SPEK, R. 1.; TEITLER, H. C.; WALLINGA, H.T. De Agricultura. In Memoriam Pieter Willem de Neeve (1945-1990). Amsterdan: J. C. Gieben Publisber, 1993. p. 317. O autor afirma também (ID. "Urban elites and Business in the Greek part of Roman empire. In: GARNSEY, P.; HOPKINS, K.; WHITTAKER, C. R. Trade in the Ancient Economy. London, 1983. p. 131-144.) que a ausência de uma burguesia comercial em Roma não é necessariamente um signo de que o comércio tinha um significado marginal em comparação a outras sociedades pré-industriais. Entende que existe uma carência de correspondência entre as classes sociais e as atividades econômicas, mais precisamente pela permanente disponibilidade de escravos e dependentes livres, libertos em particular, para a execução de empresas comerciais, em vez de uma diferença fundamental nas dimensões do setor não agrário em relação a outras sociedades. Crê que é necessário enfatizar uma diferença social fundamental entre, por um lado, uma burguesia diretamente comprometida com os negócios e, por outro, uma elite urbana e agrícola que investe em negócios delegando seus interesses a agentes. '"O melhor exemplo é CARANDINI, A. "Columella's Vineyards and the Rationalityod the Romam Economy. Opus, n. 2, 1983. p. 177-203; também DI PORTO, Andrea. Impresa collettiva e schiavo "manager"in Roma ântica (li sec. a.C.-li séc. d.C.). Milan: A. Giuffré, 1984; com uma perspectiva principalmente jurídica sobre o papel de escravos e libertos no comércio (cf. supra nota 4). Cf. CARANDINI, A. "Pottery and the African Economy". In: GARNSEY, P.; HOPKINS, K. WHITTAKER, C. R. Trade in the Ancient Economy. London. P. 145-162; onde o autor analisa a produção de cerâmica no norte africano, que não está baseada no trabalho escravo e diz que não foi somente o sistema escravista clássico no mundo antigo que foi exitoso produzindo bens para exportação em grande escala. A produção de valores de troca não havia estado ligada inevitavelmente ao fenômeno da escravidão (p. 155). Entre outros exemplos o autor recorda que a cerâmica do sul da Gália era produzida por artesãos camponeses de status livre.
pelo próprio Marx - independentemente das correntes teóricas a que pertençam.
Recuperando os preceitos modernistas, Banaji se associa à ideia da existência de um capitalismo romano. O ponto de partida para sua argumentação é uma nota de pé de página d'O Capital, em que Marx, estudando a compra e venda da força de trabalho no marco da transformação de dinheiro em capital, diz que
Nas enciclopédias referentes à antiguidade clássica pode-se ler a afirmação disparatada de que, no mundo antigo, o capital era plenamente desenvolvido, "mas que faltavam o trabalhador livre e o sistema de crédito". Também Mommsen, em sua História romana, incorre numa série de quiproquós.
11
Banaji, diferentemente de Marx, retoma positivamente os argumentos de Momrnsen. Reconhece que o interesse de seus comentários não se concentra na centralidade do trabalho livre para a acumulação de capital na economia moderna, mas sim em questionar a forma particular por meio da qual Marx argumenta que o uso do trabalho livre é um pressuposto lógico do capital. E agrega, "quando é claro que capitalistas individuais exploram o trabalho numa multiplicidade de formas, e isto não apenas quando o capital existe como manufatura na indústria doméstica ".12 Para exemplificá-lo, Banaji toma outra citação de Marx que transcrevo de forma completa:
Ela [a máquina] revoluciona radicalmente o contrato entre o trabalhador e o capitalista, contrato que estabelece formalmente suas relações mútuas. Tomando por base a troca de mercadorias, pressupuséramos, de início, que o capitalista e o trabalhador se confrontam como pessoas livres, como possuidores independentes de mercadorias, sendo um detentor do dinheiro e dos meios de produção e o outro o detentor da força de trabalho, mas agora o capital compra incapazes ou parcialmente incapazes, do ponto de vista jurídico. Antes, vendia o trabalhador sua própria força de trabalho, da qual dispunha formalmente como pessoa livre. Agora, vende mulher e filhos. Torna-se traficante de
I) escravos.
Sobre este fragmento, Banaji diz que "É fascinante ver que Marx refere-se aqui ao Capítulo 6, mais de 200 páginas após, e reenfatiza a natureza hipotética da suposição relativa ao trabalhador livre. Mas foi essa suposição que levou a seu ataque a
Mommsen ". 14
"MARX, Karl. O Capital - Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Livro I, Vol. I, p. 198, nota 39. Destaques e aspas como no original. '\ ... ) "when it is clear tbat individual capitalists exploit labour in a multiplicity of forms, and this not just wben capital exists as manufacture an domestic industry", BANAJI, op. cit., p. 128. '3MARX, op. cit., L. I,p. 452-453. 14( • • • ) "It is fascinating to see Marx referring back to Chapter 6 bere, over 200 pages !ater, and re-emphasising tbe hypothetical nature ofthe assumption about the free worker. But it was that assumption that prompted bis attack on Mommsen. ", BANAJI, op. cit., p. 128-9.
orrentes
lanaji se �omano. nota de
:3ando a lfCO da
·guidade :!.tada de ruunente �lha dor ambém incorre
retoma onhece "!ltra na �o:ào de :onar a �que o c-apital. iduais '""7/GS, e
atura Banaji forma
��� e suas
ra�ed�
f�omo fe
_ntes
�e1ro e
Gor da mpra
ponto flor sua �unha vende
;:e de
� "É ulo 6, ureza livre.
rue a
ptio de �3 9.
min a as
• here, ofthe
ID that
É necessário observar o contexto d'O Capital no qual se inscreve a citação de Marx. A mesma se encontra no marco da análise do papel da maquinaria na grande indústria e, em particular, trata-se do capítulo no qual Marx estuda as consequências da indústria mecanizada para o trabalhador, em que existe um subtítulo específico chamado "Apropriação pelo capital das forças de trabalho suplementares. O trabalho das mulheres e das crianças". 15 Toma-se óbvio, de acordo com este contexto, que o que Marx está analisando é a forma em que o capital aplicado à grande maquinaria modifica as condições de exploração dos trabalhadores, barateando o custo da força de trabalho através da incorporação do conjunto da unidade doméstica na indústria, estendendo a exploração às mulheres e crianças. Apresenta, assim, casos distintos a partir de informes de inspetores fabris e de anúncios de jornais solicitando crianças para ocupar postos de trabalho. Se continuarmos transcrevendo a citação, veremos o verdadeiro sentido da frase, já que Marx diz ali: "A procura de trabalho infantil lembra, às vezes, a procura de escravos através de anúncios que costumávamos ler nos jornais americanos".16 Quer dizer que Marx tinha perfeitamente claro que as crianças inglesas não eram vendidas como escravos por seus pais, mas que eram incorporadas como assalariados nas fábricas. Por isso assinala que "A procura de trabalho infantil lembra [ ... ]a procura de escravos". 17
Agora, se analisarmos a frase na qual se insere a nota de pé de página em que Marx critica Mommsen, veremos que o enfoque proposto por Banaji pode ser entendido, na verdade, de outra maneira. Nela, Marx diz que:
A fim de o possuidor de dinheiro encontrar no mercado a força de trabalho como mercadoria, é mister que se preencham certas condições. Por si mesma, a troca de mercadorias não implica outras relações de dependência além daquelas que decorrem de sua própria natureza. Assim, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado enquanto for e por ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. A fim de que seu possuidor a venda como mercadoria, é mister que ele possa dispor dela, que seja proprietário livre de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. 18
Pode se observar que Marx destaca o fato necessário de que os agentes econômicos que intervêm na produção atuem como possuidores de mercadorias, posto que a condição fundamental para o funcionamento do modo de produção capitalista é que o mesmo se organize sob esta lógica. Desta forma, uns possuem capital e meios de trabalho, enquanto outros só dispõem se sua força de trabalho para trocar no mercado. Marx não diz que não podem existir outras formas de exploração da força de trabalho no modo de produção capitalista, porém assinala na citação anterior, da página 452, que "tomando por base
"MARX, op. cit., L. I. p. 451-460. '6MARX, op. cit., L. I. p. 453. 11Grifomeu. 18MARX, op.cit., L. I., p. 198.
• • • História & Luta de Classes, N" 14 - Setembro de 2012 (23-::.- - �
a troca de mercadorias, pressupuséramos, de início. que o capitalista e o trabalhador se confrontam como pessoas livres, como possuidores independentes de mercadorias ... e isto segue sendo verdade mesmo que possam existir capitalistas que tenham escravos, ou outros produtores dependentes, como no caso da peonaje na América Latina. Estes escravos e peones submetidos podem ser funcionais à existência das relações capitalistas, e o capital poderá, muito bem, comprar suas pessoas ao invés de suas forças de trabalho. Porém, é claro que a lógica econômica sob a qual funciona o modo de produção capitalista é a concorrência no mercado entre os capitalistas e os trabalhadores.
Banaji transmite a falsa ideia de que Marx parece desdizer-se passadas duzentas páginas em sua obra,19 em relação ao que ele chama de "a natureza hipotética do pressuposto acerca do trabalho livre",20 natureza hipotética que o próprio Marx poria em questão ao assumir a "compra" das mulheres e crianças pelos capitalistas. Isto permite a Banaji retomar a defesa de Mommsen, que "pode ser defendido nos termos de sua caracterização da economia da República Romana como «baseada nas massas de capital e especulação»",21 ideia que- por outra parte- estaria presente também em Marx, quando classifica os escravistas americanos de capitalistas ou Catão de "proprietário de terras capitalista", etc.22
Banaji sustenta, além disso, que o fragmento de Marx da página 121, na qual há a referência crítica a Mommsen, "é um dos menos bem construídos em O Capitaf'.23 Ao contrário de Banaji, que parece não compreender totalmente o marco no qual se inserem estes recortes discursivos, considero que podem ser extraídas desses conclusões diferentes. A ênfase de Marx neste fragmento concentra-se claramente na questão do controle da força de trabalho por parte do trabalhador, como livre proprietário de seu trabalho, por meio de sua pessoa, para oferecê-la como mercadoria no mercado. Por isso, Marx assinala pouco antes que a troca de mercadorias não implica relações de dependência, salvo as que decorrem de seu próprio caráter. Porém, nas sociedades pré-capitalistas, o s trabalhadores normalmente se encontram imersos em redes de dependência que não os constituem como legítimos possuidores de sua força de trabalho. Pelo contrário, quando isto ocorre legitimamente, como no caso dos pobres de origem livre na sociedade romana, sua condição é assimilada à servidão por aqueles que contratam sua capacidade de trabalho. Esta é a relação de locatio-conductio, que não é urna relação de venda da força de trabalho, mas de aluguel da mesma ou de sua
'"MARx, op.cit., L. I., p. 452-453 . 20( . . . ) "the hypothetical nature o f the assumption about the free worker". 21( • • • ) "can be defended in terms of his characterisation ofthe economy of the Roman Republic as «based on masses of capital and on speculation»". "BANAn, op. cit., p. 129. O destacado na citação de Banaji faz referência a MOMMSEN, T. ( 1866), Rõmische Geschichte Bd. 3 ( 4ta ed.), Berlin. p. 504. 23( • • • ) "is one o f the least well constructed in Capital", BANAn, op. cit.,p. 127-8.
26 - Capitalismo romano, modernismo e marxismo. A propósito de algumas ideias de Jairus Banaji sobre o trabalho assalariado • • •
aplicação a uma obra determinada.24 Esta prestação era considerada própria de pessoas servis, posto que no mundo antigo o fato de se trabalhar para terceiros por um salário era visto como um fato indigno. Em um sistema econômico cujo fundamento está no intercâmbio de mercadorias, deve dar-se como pressuposto que os indivíduos disponham livremente de sua força de trabalho para poder vendê-la como tal. É por isso que Marx destaca, então, que, "partindo desta premissa" (isto é, de que o intercâmbio não implica em relações de dependência) a força de trabalho pode aparecer no mercado como uma mercadoria oferecida pelo seu próprio possuidor.26 Banaji, pelo contrário, entende que "se a predominância do trabalho livre é meramente uma premissa, que sentido faz arrastar a história para o cenário e contestar um retrato histórico da realidade?"27 O autor entende que esta "premissa" ("assumption") não tem nenhum efeito teórico no raciocínio, já que a toma como um pressuposto que contradiz a realidade, a saber, uma realidade na qual o trabalho assalariado coexiste com outras formas. Além disso, Banaji (2010: 128) argumenta que:
Acima de tudo, mesmo a afirmação "Com base neste pressuposto, a força de trabalho pode aparecer no mercado como uma mercadoria apenas se, e na medida em que, seu possuidor, o indivíduo no qual está a força de trabalho, oferece-a para venda ou a vende como uma mercadoria" deixa de ser uma dedução válida por que ignora a escravidão. A força de trabalho pode aparecer no mercado como uma mercadoria, e de fato o fez, até mesmo quando trabalhadores livres eram escassos ou inexistentes. 2�
Desta maneira, estranhamente, equipara-se a posição do trabalhador livre com a do escravo, pois este atende às necessidades do "mercado" que demanda força de trabalho. Banaji parece negar, portanto, toda diferença entre o livre possuidor de sua força de trabalho como mercadoria, o assalariado, e o escravo, cuja pessoa é comprada pelo senhor para cobrir a demanda da força de
24É a diferença existente entre locatio conductio operis faciendi e locatio conductio operarum. Ver DE NEEVE, P.W. Colonus. Amsterdam: J.C. GiebenPublisher, 1984. p. 4 ss. 25Estas percepções parecem remontar ao mundo grego. PLATÃO, República, 346b-d, afirma que a peculiaridade da arte do mercenário é receber um salário, diferenciando-o dos oficios: "a medicina produz a saúde, a arte do mercenário produz um salário, e o da arquitetura uma casa". '"MARX, op.cit., L. I., p. 198. 27( • • • ) "i f the predominance o f free labour is merely an assumption, what sense does it make to drag history in to the picnrre and contest a historical depiction of reality?". O fragmento citado por Banaji da edição inglesa de O Capital é o seguinte: "[o]n this assumption, labour-power can appear on the market as a commodity only i f, and in so far as, its possessor, the individual whose labour-power it is, offers it for sal e o r sells i t as a commodi ty". 28( • • • ) "Moreover, even the statement 'On this assumption, labourpower can appear on the market as a commodity only i f, and in so far as, its possessor, the individual whose labour-power it is, offers it for sal e or sells it as a commodity' fails to be a valid deduction because it ignores slavery. Labour-power can appear on the market as a commodity, indeed did, even when free labourers are scarce or nonexistent.", BANAJI, op. cit., p. 128.
trabalho. Como bem ressalta o próprio Banaji, a força de trabalho pode aparecer como uma mercadoria no mercado mesmo quando os trabalhadores livres são escassos ou inexistentes. O que se deveria destacar, em primeiro lugar, nesta afirmação é que o "mercado" não é "o" mercado, sobretudo nas sociedades pré-capitalistas, nas quais as condições de existência dos mercados são radicalmente distintas daquelas características das sociedades capitalistas, nas quais todos os bens se intercambiam como mercadorias, ao passo que, em uma sociedade como a romana, apenas uma pequena parte de tudo o que era produzido ingressava na esfera de intercâmbio. Por isso, seria conveniente ressaltar a distinção entre o mercado capitalista e os diferentes tipos de mercados pré-capitalistas. 29 Em segundo lugar, deveria ser ressaltado o fato de que as aftrmações de Marx pretendem destacar a lógica que organiza o funcionamento do modo de produção. No capitalismo esta lógica se fundamenta na apropriação de mais-valor no processo de trabalho, um aspecto marginal na sociedade romana cuja acumulação de excedentes provém basicamente da extração de renda por critérios extraeconômicos. Banaji assinala que: "O ponto destas observações não é negar a centralidade do "trabalho livre" para a acumulação de capital na economia moderna (formas modernas de capitalismo), mas para minar a forma particular como Marx tenta construir a ligação entre trabalho assalariado e capitaf'. 30
Estou de acordo com a ênfase de Banaji na questão teórica que pretende desvencilhar os distintos modos de produção da relação com as formas de exploração do trabalho (o que nos levaria à cômoda e x is t ê n c i a d e t r ê s m o d o s d e p r o d u ç ã o e m correspondência à escravidão, à servidão e ao trabalho assalariado). Entendo perfeitamente a vontade teórica de romper com essa ilusão. Porém, isso não quer dizer que se suponha uma regra que determine que em todos os casos deva ocorrer o mesmo e que, necessariamente, em todos os modos de produção o sistema econômico se organiza de maneira independente das formas de exploração do trabalho. O nexo entre trabalho assalariado e capital pode ser questionado em termos relativos, porém não a partir do critério teórico que supõe as reflexões invalidadas por Marx. Depreende-se logicamente que nas sociedades capitalistas existiram (existem) outras formas de trabalho para além do assalariado, porém não se pode negar a necessidade da relação com o mesmo. Se nós passamos do longo capítulo Xlll, "A maquinaria e a indústria moderna", do Livro I de O Capital, ao seguinte, "Maisvalia absoluta e mais-valia relativa", poderemos apreciar mais claramente esta necessidade teórica à qual se faz referência. Marx diz ali que:
"ver BANO, Peter F. The Roman Bazaar. A comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire. Cambridge: Carnbridge Uni v. Press, 2008. O autor apresenta nesse livro condições históricas próprias do mundo antigo para entender o alcance de seus mercados a partir de aspectos comparativos com a economia da Índia Mugal. '0( . . . ) "The point of these remarks is not to deny the centrality of'free labour' to the accumulation o f capital in the modem economy (modem forrns of capitalism) but to undermine the particular way Marx attempts to construe the link between wage-labour and capital.", BANAJI, op. cit., p. 128.
·-------- . . ··:::::r:
força de oria no
es são tear, em p·· não é 'talistas,
os são as das bens se em uma parte de era de �tar a
s tipos deveria
Marx 1za o lismo
·--valor jnal na dentes
lritérios destas
aba lho no mia
para
aji na tintos
pas de tõmoda o e m
rabalho rica de r que se 'casos
l:l todos rganiza
ào do o! pode a partir Lias por edades -aba lho egar a -amos klústria ··Mais
reciar -e faz
·tóricas �rCados a �-
of'free 'llodem
Marx .apitai.",
A produção da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a apropriação pelo capital desse trabalho excedente. Ela constitui o fundamento do sistema capitalista e o ponto de partida da produção da mais-valia relativa. Esta pressupõe que a jornada de trabalho já esteja dividida em duas partes: trabalho necessário e trabalho excedente. Para prolongar o trabalho excedente, encurta-se o trabalho necessário com métodos que permitem produzir-se em menos tempo o equivalente ao salário. A produção da mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da duração da jornada e trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações sociais. A produção da mais-valia relativa pressupõe, p o r t a n t o , u m m o d o d e p r o d u ç ã o especificamente capitalista, que, com seus métodos, meios e condições, surge e se desenvolve, de início, na base da subordinação formal do trabalho ao capital. No curso desse desenvolvimento, essa subordinação formal é substituída pela sujeição real do trabalho ao capital.3'
O funcionamento do sistema capitalista e o processo de acumulação baseado na produção de maisvalor relativo se fundam justamente na forma em que se organiza o processo de trabalho, no qual este está subsumido ao capital. Esta lógica não poderia funcionar sem assalariados que dependem do mercado no qual trocam seus salários por mercadorias, salário que ao menos devem ser equivalentes ao trabalho necessário. A produção do mais-valor relativo depende da existência desse sistema capitalista sem o qual o mecanismo não pode funcionar, e que consiste na diminuição do tempo de trabalho necessário em relação ao tempo excedente, através, por exemplo, do aumento da produtividade. Se o mais-valor absoluto tem um limite fisico, que é o tempo de trabalho necessário que o trabalhador precisa para reproduzir a força de trabalho que a produção voltará a demandar, ao contrário, o mais-valor relativo tem uma tendência ao crescimento que depende do processo produtivo em si mesmo e está relacionado com a capacidade de reinvestir o capital e conseguir baratear o custo do tempo necessário ao trabalhador. Assim, Marx continua,
In d i c a r e m o s , d e p a s s a g e m , f o r m a s intermediárias em que o trabalho excedente não é extorquido por coação direta ao produtor, ainda não estando este formalmente sujeito ao capital. Nessas formas, o capital ainda não se apossou diretamente do processo de trabalho. Ao lado dos produtores independentes, que exercem seus oficios ou lavram a terra com métodos tradicionais e antigos, encontramos o usurário ou o comerciante, o capital usurário ou o capital comercial, que os suga parasitariamente. A predominância dessa forma de exploraç
_ão numa
31MARX, op.cit.,L.l, p . 578-579.
• • • História & Luta de Classes, N" 14- Setembro de 2012 (23-27) • 27
sociedade exclui o modo capitalista de produção, para o qual pode servir de transição, como ocorreu nos fins da Idade Média. 32
Pode-se observar aqui que Marx fala de "capital" com dois critérios teóricos distintos. Um é o capital comercial ou usurário, que, no mesmo sentido que pode reconhecer Banaji, ou mesmo Mommsen, existia no mundo antigo. O problema é estender este conceito de capital comercial ou usurário ao conceito de capital resultante das interações socioeconômicas próprias do modo de produção capitalista. Quando o capital comercial não se apropria do processo de trabalho, não pode ser identificado teoricamente com o conceito de capital que emana do modo de produção capitalista, no qual existe uma subsunção formal do trabalho ao capital ou uma subsunção real do trabalhador ao capitalista. Por isso é que Marx indica que "A predominância dessa forma de exploração [isto é, o capital comercial ou usurário] numa sociedade exclui o modo capitalista de produção". Obviamente que, para que isto ocorra, também deve existir trabalho assalariado. Porém, a existência do capital usurário e de assalariados não pressupõe que o sistema econômico terminará inexoravelmente na subsunção dos assalariados aos capitalistas. Mais precisamente, o que Marx destaca é que o regime de produção capitalista, neste último caso, está excluído. Por outro lado, estabelecer a partir de um ponto de vista contrafactual que isso poderia ter chegado a acontecer no Império Romano tem o mesmo estatuto científico que a teoria do éter, mas isto é outra discussão. Talvez fosse conveniente manter o critério formal de chamar o "capital comercial" com o adjetivo de maneira permanente, ou chamá-lo "capital de tipo antigo", o que permitiria uma clareza conceitual. De todas as maneiras, quando se opera com tal licença e se fala de "capitalismo romano", chega-se a um erro teórico que supõe outorgar ao capital comercial a subsunção do processo de trabalho,
• - • 33 cotsa que na o ocorre na economia romana.
"MARX,op. cit., L. l , p . 579.
Artigo recebido em 15.1.2012 Aprovado em 30.4.2012
330bviamente, isto implica em matizes. WEBER, Max. Economia y sociedad. Méxjco: Fondo de Cultura Económica, 1987. p. 1025-27 e também 1 033-4; utiliza o conceito de "capitalismo antigo" justamente como uma forma de marcar a diferença com as condições econômicas do mundo moderno. Ver GARCÍA MAC GAW, Carlos. La ciudad antigua: aspectos económicos e historiográficos. Studia Historica -Histeria Antigua. Vol. 26, 20 08, p. 23 7-69. p. 242.