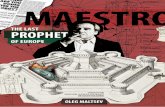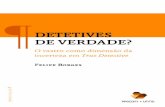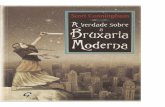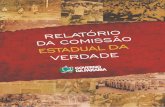A partir das ideias de Jean Rouche: Documentarismo - a verdade do cinema
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of A partir das ideias de Jean Rouche: Documentarismo - a verdade do cinema
A P ARTIR D AS ID E IAS D E JE AN RO UC H
DOCUMENTARISMO A V E R D A D E D O C I N E M A
“… reality turns into poetical expression, into human portrait, into an interrogation point about a time which escapes to Time, without restriction to the place in which such reality, once captured, takes place.”
- Pedro Costa ESTÉTICA NO CINEMA I Kate Saragaço-Gomes Nº858 Professora Marta Mendes DEZEMBRO 2013
2
CINEMA – A QUALIDADE DE PRESENTIFICAR
Não existem Homens, sociedades e culturas sem a existência de meios para se
comunicar. Por sua vez, essa comunicação deve estar ciente da sociedade que representa.
Isto é, os instrumentos culturais de que dispõe uma sociedade reflectem igualmente “estilos
cognitivos”, revelando algo acerca dos seus modos de pensamento e da sua própria
organização. É sob essa ideia que, ao considerarmos o registo etnográfico por meio artístico,
também a sua forma ganha relevância.
No contexto da antropologia visual, Margaret Mead pressentia e intuía já na sua época
que chegava o momento onde não bastaria “falar e discursar” em torno do Homem, apenas
“descrevendo-‐o”. Haver-‐se-‐ía de “mostrá-‐lo”, “expô-‐lo”, “torná-‐lo visível” para melhor
conhecê-‐lo, sendo a objectividade de tal empreendimento não mais ameaçada pela
presença da câmara do que pelo “caderno de campo” do antropólogo.
Considera-‐se para o efeito desta pequena dissertação o cinema, que no contexto
etnográfico é um trabalho de conservação privilegiado, salvaguardando o passado da
opacidade, sem perder o seu cariz artístico.
É nesta dualidade e na tentativa de distinguir o cariz artístico do etnográfico num filme,
que encontramos o mais invicto dos binómios. Onde se traça a fronteira entre realidade e a
ficção?
Em linguagem cinematográfica, a etnoficção acaba por ser uma docuficção etnográfica,
isto é, uma narrativa ficcionada, construída a partir de personagens nativas do local filmado,
que desempenham o seu próprio papel como membros de determinado grupo étnico ou
social. Quer isto dizer que, sendo ficção em termos narrativos, é documental na sua base,
referindo-‐se a lugares e pessoas existentes no contexto apresentado, onde apenas a linha de
acção é inventada e dirigida.
De alguma forma, faz-‐se surgir a ficção no coração da etnicidade e é assim que a
presença de elementos reais em histórias ficcionais (muito ao estilo daquilo que é
considerado, por excelência, O Cinema Português) é uma consolidação do presente – um
registo social e etnográfico, não antes experimentado por qualquer outra forma artística.
É a capacidade de captar o momento que torna especial a arte cinematográfica no que
toca ao registo do presente. Esse presente existirá sempre, desde que é captado.
O cinema tem esta qualidade de presentificar os seus sujeitos num espaço e tempo
abstractos. A sua habilidade nesta matéria encontra-‐se igualmente no seu carácter reflexivo
3
– contamina e deixa-‐se contaminar; partilha com as outras artes um mesmo espírito, sem
perder a sua autonomia, uma vez que possui os seus próprios recursos. É, segundo Bazin,
uma «arte impura», e é nesta característica que reside a sua capacidade superlativa de ser
meio de registo para a vida natural, estabelecendo e averiguando uma ligação ao mundo.
Tomando este papel de conservação, o cinema lembra, como registo, as
Wunderkammer da época renascentista. Estas salas, agregadoras de objectos e
antiguidades, eram tomadas como pequenos teatros da memória do mundo, reflectindo
algo acerca da família a que pertenciam mas também sobre as épocas sob as quais
acumulara o seu recheio. Assim, numa espécie de microcosmos, estas salas eram como que
uma microscópica reprodução histórica e constituem o início de colecções que hoje são
museus.
As obras cinematográficas são também um museu, cada filme sendo um microcosmos,
reflectindo temática e formalmente aquilo que foi o contexto da sua feitura. É neste sentido
que se torna clara a impossibilidade da dissociação das componentes
documental/etnográfica e ficcional.
DOCUMENTARISMO
A componente documental está sempre presente no cinema. Se as imagens do
documentário têm uma ligação especial com o representado, o Documentarismo lembra
que as imagens possuem uma autonomia própria e solicitam da nossa parte que nos
dirijamos a elas sem que nos percamos pelo acessório, ou seja, chamar constantemente o
que é exterior às imagens, como seja a veracidade ou não veracidade da representação.
O modo de representação observativo faz parte da essência do Documentarismo. O
distanciamento faz deste registo uma simples observação da realidade, no sentido em que
abre as possibilidades de opções dialéticas para o espectador. Este modo de registar
reflecte-‐se então também em escolhas formais; abre-‐se mão da montagem para percorrer o
tempo e o espaço de maneira a estar mais próximo do real, imergindo o espectador no que
concretamente existe, percorrendo com ele o tempo efectivo dos acontecimentos.
O projecto de realismo associado a esta representação, segundo a Dra. Penafria, pode ser
formulado do seguinte modo: «a principal questão que se coloca ao documentário não é a
da realidade, fidelidade ou autenticidade da representação, mas a ética da representação.»
4
A representação «documentarista» contém em si uma proposição ética que define a
principal questão em torno da ficção e da verdade e que torna clara a importância desta
representação não apenas no momento de realização mas também no momento da
recepção. Um filme que surge destas noções será, para os espectadores, uma proposta livre
à interpretação do que foi registado.
Relativamente à ideia do documentário representar a realidade e ser este o critério de
distinção, simples é perceber que nem a ligação que as imagens do documentário possuem
com o que tem existência fora delas é totalmente verificável, nem a imagem
cinematográfica de uma suposta ficção garante que tenha ocorrido uma total fabricação.
O termo Documentarismo é proposto pela Dra. Manuela Penafria, na sua tese sobre o
cinema documental, para “...designar uma perspectiva que coloca em destaque diferentes
modos de ver o mundo através do cinema e no cinema (...) pressupõe uma contiguidade
entre o filme documentário e o filme de ficção, apresenta-‐se como uma consequência da
dificuldade em distinguir o registo documental do registo ficcional e tem a utilidade de
destacar que a classificação de um filme importa muito menos que o modo como olhamos e
somos olhados pelo cinema...”
Segundo a descrição feita pela Dra. Penafria relativamente aos filmes de António
Campos1, este modo «documentarista» de registar passa precisamente pela elaboração
sobre um tema representativo de conjectura actual e pela deslocação ao local onde se
passam os acontecimentos que interessam, onde o filme resultará de «experiências vividas
com pessoas concretas em situações concretas».
Esta acepção acerca do Documentarismo implica já aspectos de construção da própria
obra, confrontando a importância que o processo tem para a atribuição de tal termo.
Referente aos aspectos considerados pela Dra. Penafria, a construção do tema e a sua
representação reflectem o «documentarismo» que existe ou não no filme.
Interessa, mais que o tema (que, nestes termos, será variável perante questões sociais
e politicas) reflectir acerca da sua representação e o que nela pode verificar este
«documentarismo» – a concretização de uma «poesia com os pés na terra2».
1 António Campos, um dos primeiros cineastas portugueses a dedicar-‐se à prática do filme documentário na perspectiva da antropologia visual, nomeadamente no início dos anos sessenta 2 expressão de António Campos a propósito de Um Tesouro, a sua primeira curta-‐metragem
5
Ao termo Documentarismo está portanto associada uma verdade, presente sobretudo
pela evocação provocada pelos elementos-‐verdade dentro da ficção que surge deles.
Associemos esta ideia a dois exemplos de forma a clarificá-‐la, ainda que em duas
vertentes:
Primeiramente, em Les Maîtres Fous, de Jean Rouche, encontramos um exemplo na
forma e uma analogia no conteúdo. É exemplo na forma, no sentido em que somos levados
para o local da acção e o resultado é a partir de «experiências vividas com pessoas concretas
em situações concretas». Relativamente ao conteúdo e à analogia que este estabelece com
a ideia de verdade reflectida, encontramos que o próprio acontecimento toma lugar
aquando do ritual de um grupo de homens que encarnam o papel de outros. Esta
encarnação de outro é uma verdade: reflecte em si algo de verdade e por isso é uma
verdade.
Les Maîtres Fous Aquele Querido Mês de Agosto
O segundo exemplo, Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel Gomes, segue
igualmente o contexto «documentarista». Elaborado a partir de um tema representativo,
encontra um lugar específico onde se apresentam situações concretas com determinadas
pessoas. No entanto, o sentido ficcional (de não-‐verdade) está, neste filme, mais depurado.
Se em Les Maîtres Fous a potência do falso se concretiza na acção registada, no filme de
Miguel Gomes, esse falso encontra-‐se na conjectura narrativa, desenrolando-‐se num
panorama real uma história imaginada.
A CÂMARA – UMA CONSCIÊNCIA
Questão fulcral ao reflectir sobre forma de representação deste Documentarismo é o
papel da câmara neste registo.
Manuela Penafria escreve, acerca de António Campos que “...tem a particularidade de
«fazer desaparecer» a presença da câmara e de proceder a um enquadramento dinâmico,
no sentido em que se adapta ao que está a filmar. Trata-‐se enfim, de uma câmara curiosa e
atenta a tudo quanto a rodeia que apreende, ou melhor, absorve, o que está à sua frente e
6
movimenta-‐se como uma força centripetal que atrai e enquadra pessoas e acontecimentos
em cenários naturais – e esta é uma câmara que se detém em especial, nas pessoas...”
O que se escreve acerca de Campos está próximo daquilo que deve ser quando se
pretende que a câmara seja um participante na acção, um testemunho humano com a
particularidade de registar, mas que não se altera por essa capacidade.
Esta distância «justa», que é descrita por Penafria, transforma a câmara numa
consciência «natural», provocando apenas o efeito de participante. É uma câmara que
substitui o olho humano.
No local, a câmara é uma consciência – uma força humana, não uma máquina – que
regista o acontecimento de forma a não fazer dele qualquer julgamento. Contrariamente
àquilo que acontece em muitos filmes deslocados desta vertente «documentarista», a
câmara não adopta uma presença omnisciente, toma antes uma presença própria, limitada
pelas características humanas daquele que a leva, de cuja consciência se apropria.
É neste sentido que, dentro destes moldes, a observação é participante. A câmara
presencia um microcosmos inserindo-‐se nele. Isto é, não vê de for a para dentro; está
dentro, faz parte e adquire uma visão interior só assim justa perante aquilo que regista.
De alguma forma, o sfumato está para a pintura como esta não-‐fronteira entre
documental e ficcional está para o cinema. Em ambos os casos, esta ténue diferença entre
fundo e fronte/facto e ficção reside numa técnica/forma de representação.
A VERDADE – REPRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO
Na nossa própria vivência somos deslumbrados por realidades nem sempre verificáveis.
Pensemos, por exemplo, na capacidade de sonhar ou imaginar, onde aquilo que
projectamos não é falso, apenas incapaz de ser totalmente verificado.
Verificável ou não, a verdade reside num campo que nos ultrapassa, num campo
intrínseco à nossa existência, de forma que não podemos controlar; porque tudo o que se
faz, mesmo quando fingido ou forçado, reflecte a verdade do sujeito.
A verdade que temos é apenas isso: a verdade que temos. É única e é nossa, é pessoal e
intransmissível. Nada daquilo que possamos fazer reflectirá algo que não aquilo que para
nós e em nós existe. Uma efabulação é um reflexo da verdade daquele que efabula.
Concretizar algo para além do nosso limite é uma impossibilidade; e ainda que de conceitos
7
se faça, esta afirmação é facilmente verificável: se me pedem para ser o meu pai, eu tomo
para essa interpretação a verdade que tenho dele em mim. A própria palavra sublinha esta
constatação:
interpretação
s. f.
1. Sentido em que se toma o que se ouve ou o que se lê, e que se julga
ser o verdadeiro.
2. Explicação (…)
4. Comentário, versão.
Por sua vez, é esta noção que confirma o sentido documental e verídico de qualquer
tipo de registo, em qualquer tipo de contexto.
A verdade, assim nomeada com um artigo determinante, é menos determinada do que
se espera. A verdade de um existe em paralelo com a verdade do outro. Nenhuma das duas
deixa de ser menos verdade pela existência da outra. A verdade está também na
honestidade que queremos ou não preconizar, mas reflecte-‐se sempre, inevitavelmente.
“Pensar se é possível conceber movimentos de ficção, gestos ficcionais, gestos não-‐
reais. Pode o corpo fazer algo não-‐real? Se me disserem: agora faz um movimento não-‐real.
Que faço? Nada. E esta distinção é importante. Com as palavras podes escrever palavras-‐
ficção. 3”
A ideia de potência do falso está nessa inevitabilidade de reflectir (um)a verdade.
O realizador Albert Serra transpõe esta ideia para o seu contexto cinematográfico de
forma bastante clara quando afirma convictamente, “Eu não filmo personagens, nem
actores. Eu filmo pessoas (...) O que gosto é do lado performativo da verdade do momento.
Todos os filmes são mais ou menos um certificado documental da verdade do momento, da
verdade de um actor a montar uma actuação. Também há essa leitura possível no filme. Por
exemplo, Humphrey Bogart é Rick no Casablanca (1942) mas ao mesmo tempo quando vês o
filme, se o Bogart a fazer de Rick faz um gesto, qualquer isso fica registado como algo do
domínio do documentário. Cada filme, em certo sentido, é um documentário sobre a
3 (citação) TAVARES, Gonçalo M., pág. 53, água, cão, cavalo, cabeça, 2ª edição, CAMINHO, 2006
8
rodagem do próprio filme. Portanto a verdade está sempre aí. Nesse sentido documental. Só
creio nesta verdade.”
E por que não extrair e construir verdades e ficções e vice-‐versa? O que se privilegia é a
verdade do cinema e não a verdade no cinema. A ambiguidade fílmica que encontramos
nestas questões é como que o reflexo da ambiguidade da realidade.
A concepção de verdade, neste sentido, está na possibilidade de construção de uma
verdade a partir do que é filmado, do que é provocado pela câmara. Uma representação que
aceite este híbrido, é uma representação etnográfica.
O EXEMPLO DE BEN RIVERS – This is My Land & Two Years At Sea
Na sua curta-‐metragem This is My Land, Ben Rivers segue Jack, uma espécie de eremita.
Jack mora sozinho numa casa no meio de uma floresta, longe dos vestígios da civilização,
mais perto daquilo que é um dia, quando este se preenche de necessidades e vontades, ao
invés de responsabilidades somente. É neste contexto que o sentido onírico que é tomado
se torna plausível, sentido esse que é partilhado com a longa metragem feita a partir das
mesmas bases – no mesmo local, com o mesmo protagonista – Two Years At Sea.
Pondo lado a lado estes dois filmes, temos uma concretização da ideia de que uma
história imaginada, quando filmada no contexto daquilo que se procura registar, contém de
facto um registo documental.
É precisamente este imaginário palpável que liga os dois filmes. Isto torna-‐se um facto
interessante a partir do momento em que percebemos os contextos das suas feituras e as
próprias intenções que, diferindo, acabam por revelar o mesmo tipo de espírito.
Quando recebeu o financiamento para a longa metragem, Ben regressou a Jack, “… I felt
like there was more to be done in his world.”
Ben entrou na vida de Jack, não apenas com a câmara; esta foi o meio de registo do
reconhecimento de Ben do mundo Jack e This is My Land é uma obra muito fragmentada,
baseada naquilo que Ben observou. A câmara, como reconhecemos no tipo de observação
participante, toma a sua consciência humana e mantém-‐se à referida distância justa.
Se por um lado se pode argumentar que Two Years At Sea se trata de uma ficção, pois
não é um acompanhamento, sem intervenção por parte do realizador, por outro, e
considerando o tipo de representação considerado pelo termo Documentarismo, o
9
resultado deste filme é um verdadeiro registo daquilo que é a vida de Jack.
Se em This is My Land, Ben construiu algo a partir de bocadinhos de realidade, em Two
Years At Sea revela ter programado algumas acções e a criação surgiu de situações
imaginadas. Estas diferenças na concepção são interessantes pelo facto de provarem, de
alguma forma, que existe uma essência indomável, que se revelará sempre naquilo que se
captura. Ambos os filmes, um mais documental e outro mais ficcional, reflectem, de uma
forma ou outra, o cariz onírico da vida deste eremita, o passado que o acompanha, a
envolvência da natureza que o rodeia.
É esta essência indomável que julgo ser a verdade que, intencionalmente procurada ou
revelada por meio do fingimento, é registada, sempre.
“There was a lot of ease with Jake so it was really easy to talk to him about repeating
actions, setting up scenes, doing things which he wouldn’t normally do, or he would
normally do, or things he would think about doing but would never have got round to doing
if I hadn’t been there. That’s how he puts it. He says he probably would have put a caravan
in the tree or made a raft, but he means he probably wouldn’t have got round to doing it.”
Na sua entrevista em The White Review, Ben Rivers acaba por resumir a ideia de verdade
no cinema aquando de uma construção a partir da efabulação do real:
“Q – You have intimated that some of the scenes are staged. They could be
described as reenactments of his daily routine and his imaginative life, you
ficitonalise his reality and picture his desires. Do you think staging produces a
“truer” picture of your subject?
BEN RIVERS — I believe in that implicitly actually, but it’s also not just about
him. It’s also about me, it’s about cinema, and it’s about world making and
what you want to do with that. ‘Truth’ is a hard word to use. It’s about making
something exist for itself; it’s not a representation of something. This is part of
the problem with the word documentary and it’s associations, but it’s also
what makes it an interesting form; you can play with those things. And they
have been played with right from the beginning. I always find it quite amazing
that the question comes up all the time when someone using documentary
10
forms shifts gear and fictionalises things. Some audiences and even other
documentary filmmakers are shocked, even though Robert Flaherty and
Humphrey Jennings did it, and Lumière did it right from the beginning. Of
course Herzog is the master of it. It happens repeatedly. It’s a ground I’m really
interested in because it’s not about facts or data. We’re fed so much data, too
much knowledge, too much information. I’m not interested in data. Obviously
there’s some I want to know, but there’s an insistence that we need to be told
everything and in a way that kills the imagination, which is a really important
tool for humans. That’s one of the reasons why art is so important. I’m
interested in making and watching films that can veer away from information
and fact telling, so you’re not being told everything at every turn.
The idea that something could be straightforward was always troublesome to
me. This applies to so-‐called realism too; most documentaries I saw on TV as a
younger person put me off entirely. It wasn’t until much later when I saw those
films, along with those by Rouch, Marker, Varda, Kramer and many others that
the form started to open up to me and become more interesting, partly
because it wasn’t about condescending the audience, and also because I began
to see this space of, as you say, one living inside the other. It was only in 2005
that I began to make something close to documentary almost by accident. I
wasn’t calling it that or thinking in those terms. The significant thing that
changed for me was that instead of constructing everything – the space,
inhabitants, objects – I was using existing ones. Then the editing became
completely free from the actual and at that point it is all about constructing a
film that works on its own terms, almost disregarding of the source. Each
subsequent film has developed from this process, some films remaining more
faithful to the actual place and person, while others veer off wildly in their own
way.”
11
UMA CONCLUSÃO
A impossibilidade de criar uma fronteira entre o documental e o ficcional surge quando
somos confrontados com filmes que acontecem no real, sobre o real com sujeitos
participantes nessa realidade e que, no entanto, são construídos por momentos ficcionados,
dirigidos – não totalmente espontâneos. São estes mesmos filmes que nos fazem
questionar/analisar a veracidade da ficção.
No filme Two Years at Sea, de Ben River, o sujeito que acompanhamos é uma pessoa
real, no seu ambiente natural, cumprindo acções que fazem parte da sua rotina e
concretizando outras que são do seu imaginário. Como poderemos discernentemente
categorizar uma construção deste tipo traçando a tal fronteira entre o documental e o
ficcional? O que pode fazer esta distinção? A intenção? Conteúdos temáticos? Aspectos
formais?
Coloquemos lado a lado este filme de Ben Rivers e o filme E agora? Lembra-‐me, de
Joaquim Pinto. Caso não conhecêssemos o contexto das suas feituras e outros aspectos da
sua produção/concretização, conseguiríamos distinguir categoricamente um e outro?
Não conseguimos separar a ficção do documentário – ambos residem no mesmo espaço.
12
BIBLIOGRAFIA
PENAFRIA, Manuela, O Documentarismo do Cinema – Uma reflexão sobre o filme documentário, Tese de Doutoramento – Departamento de Comunicação e Artes da Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2005. BOTO, Daniel Filipe da Costa, Aquele Querido Mês de Agosto – Análise do filme de Miguel Gomes, Dissertação de Mestrado em Estudos Artísticos – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2009 BAGGIO, Eduardo Túlio, O Cinema Documentário para André Bazin e o Dialectical Program: Dialética e a Ética, Universidade da Beira Interior, Portugal (UBI) & Universidade Estadual de Campinas, Brasil (UNICAMP) The White Review: Interview with Ben Rivers, conduzido por Alice Hattrick http://www.thewhitereview.org/art/interview-‐with-‐ben-‐rivers/ The Lumière Reader, Ben Russel on We Can Not Exist In This World Alone, 2008 http://www.lumiere.net.nz/reader/item/1812 À Pala de Walsh: Albert Serra: “Na minha vida nunca conheci um bom actor, são todos idiotas”, Entrevista com Albert Serra, conduzido por Luís Mendonça, 2013 http://apaladewalsh.com/2013/12/08/albert-‐serra-‐na-‐minha-‐vida-‐nunca-‐conheci-‐um-‐bom-‐actor-‐sao-‐todos-‐idiotas/