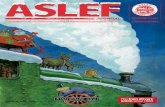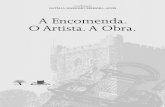Azulejaria romântica nos cemitérios portugueses (1850-1880).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Azulejaria romântica nos cemitérios portugueses (1850-1880).
AZULEJARIA ROMÂNTICA NOS CEMITÉRIOS PORTUGUESES (1850-1880) J. Francisco Ferreira Queiroz; CEPESE - Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade;
Rua do Campo Alegre, 1021, 4169-004 Porto; [email protected]
RESUMO Nesta comunicação, é abordada uma das mais desconhecidas vertentes da ornamentação
cerâmica na arquitectura portuguesa: a azulejaria romântica nos cemitérios, quer como aplicação tumular, quer como decoração das próprias estruturas cemiteriais. Apesar de não subsistirem muitos exemplos, vários dos que ainda existem são particularmente interessantes e reforçam a ideia de um gosto pelo azulejo muito peculiar e muito tipicamente português.
PALAVRAS-CHAVE: azulejos, cemitérios, Romantismo, Portugal 1. INTRODUÇÃO
Esta comunicação insere-se no nosso programa de Pós-doutoramento, em curso no CEPESE (Universidade do Porto), o qual intitula-se "Arte Tumular do Romantismo em Portugal". Dentro da temática da arte tumular, a azulejaria é precisamente um dos sub-aspectos menos considerados. Isso deve-se a uma conjugação de factores, dos quais destacamos quatro.
Em primeiro lugar, a temática do referido Pós-doutoramento, foi, por si só e durante décadas, considerada como marginal dentro da História da Arte. Apenas muito recentemente começou a ser merecedora de atenção generalizada por parte da comunidade científica.
Em segundo lugar; e por a azulejaria assumir características tipicamente portuguesas, que, em alguns aspectos, são mesmo exclusivas da cultura portuguesa; o enquadramento teórico internacional sobre a azulejaria aplicada à tumulária negligencia a existência de aplicações em azulejo, fazendo crer tratar-se de um suporte artístico não utilizado em túmulos e cemitérios, o que não é inteiramente verdade. Assim, apesar de raros, existem túmulos com azulejo nos cemitérios de Londres, por exemplo. No caso espanhol, há registo de algumas lápides oitocentistas em faiança, nomeadamente em Sevilha e, sobretudo, na região Valenciana, sendo que este género de peças encontra-se representado no acervo do Museu do Azulejo de Onda. No próprio cemitério do Père Lachaise, em Paris – modelo, por excelência, dos cemitérios românticos – existem exemplares de azulejaria e de outros tipos de faiança aplicada a túmulos, apesar de tardios, pouco expressivos e muito escassos em número. O caso do túmulo do ceramista Jules Paul Loebnitz (1836-1895), talvez o mais conhecido, sugere-nos a hipótese destes raros exemplos estarem sobretudo associados a tumulados com alguma ligação à área das artes cerâmicas, até porque, em todos os exemplos que fotografámos em Paris, as peças de revestimento em faiança sobrepõem-se à cantaria, não tendo função de revestimento de alvenarias.
Em terceiro lugar, é certo que a azulejaria dificilmente se destaca da efusividade da tumulária romântica portuguesa, que, ao nível do ornato e da monumentalidade, pode ser considerada como uma das melhores do mundo.
Por outro lado, e como quarto factor, realce-se a existência de muitos cemitérios portugueses de dimensão razoável, nos quais a azulejaria do período romântico, pura e simplesmente, não existe. Por conseguinte, estamos perante um suporte artístico pouco habitual em contextos cemiteriais, para a época em causa, apesar de, em alguns cemitérios sem azulejaria romântica, subsistirem outras peças cerâmicas do mesmo período, nomeadamente vasos, pedestais e estátuas, os quais não
poderemos tratar no contexto desta comunicação, dada a diversidade de exemplares que já localizámos em Portugal, ao longo de cerca de 17 anos de pesquisa e de levantamentos fotográficos em cemitérios.
Graças ao extenso trabalho já carreado, é hoje possível ter uma ideia da extensão do fenómeno da azulejaria romântica aplicada aos cemitérios portugueses, e de quais os seus aspectos mais interessantes, assim como os núcleos mais marcantes - que são muito poucos, considerando o número de exemplares e o impacto do azulejo na imagem geral do cemitério.
Por conseguinte, pretendemos sobretudo esboçar uma espécie de inventário resumido, o qual poderá um dia vir a ser concretizado na verdadeira acepção da palavra, tomando talvez, como base, este modesto trabalho. Não nos deteremos nos problemas de conservação dos artefactos. Aliás, e dadas as limitações impostas à extensão das comunicações, neste trabalho abordaremos somente o período de c. 1850-1880, focando os contextos em que surge a azulejaria romântica nos cemitérios portugueses, alguns modelos mais utilizados, possíveis influências e proveniências, estabelecendo analogias com a azulejaria de fachada. Tratando-se de uma abordagem que nunca foi feita em Portugal, é natural que possam se detectadas fragilidades, até porque não foi possível, por ponderosas razões, realizar levantamentos fotográficos em todos os cemitérios portugueses que remontem ao século XIX. Apesar de tudo, a amostra, de cerca de sete centenas de cemitérios, parece-nos suficiente para se poder tirar algumas conclusões, ainda que provisórias. Numa futura oportunidade, contamos abordar o período posterior a 1880, incluindo exemplos tardo-românticos, Arte Nova, e outros ainda mais epigonais.
Devemos muito do conhecimento que reunimos sobre este tema, à historiadora de arte Ana Margarida Portela Domingues, com quem empreendemos trabalho de campo sobre este e outros temas, durante muitos anos. Tributamos-lhe os nossos agradecimentos. Deixamos também um agradecimento especial ao genealogista Filipe Pinheiro de Campos, e ao Director Técnico do Instituto de Promoción Cerámica, José Luís Porcar, pela cedência de imagens utilizadas na apresentação.
2. AZULEJARIA ROMÂNTICA NOS CEMITÉRIOS PORTUGUESES (1850-1880)
Antes do Romantismo, são muito raros os exemplos portugueses de azulejaria de algum modo ligada a espaços tumulares, ou com representações da morte. As urnas pintadas nos azulejos da parede fundeira da Igreja da Misericórdia de Évora, assim como o altar e silhares dos flancos da cabeceira do Cemitério da Misericórdia de Setúbal, são alguns dos casos que podemos mencionar,
sendo que o exemplo de Setúbal é verdadeiramente excepcional e único no género (QUEIROZ [1]). A data de 1834 tem sido considerada como a mais consensual para balizar o início do período
romântico em Portugal, sobretudo ao nível social e político. Correspondendo ao ano em que se inicia o regime liberal, e em que voltam definitivamente ao país muitos exilados que haviam sido perseguidos aquando da governação opressiva de D. Miguel, essa baliza temporal também corresponde, sensivelmente, à criação dos primeiros cemitérios baseados em modelos românticos e à lei que os institucionaliza, em 1835, apesar de esta lei não ter tido aplicabilidade imediata, fora das principais cidades portuguesas.
Nos cemitérios românticos portugueses mais precoces, e que viriam a servir de modelo para os restantes – como o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, e o Cemitério da Lapa, no Porto – os primeiros monumentos de certa dimensão surgem em finais da década de 1830 (QUEIROZ [2]). Nestes primeiros túmulos, a cantaria trabalhada predomina: o lioz em Lisboa, e o granito no Porto. Para os primeiros vinte anos de desenvolvimento do fenómeno da tumulária romântica em Portugal, a julgar pelos exemplos subsistentes, a azulejaria está praticamente ausente, com excepção de alguns exemplos, precisamente no Cemitério da Lapa. Porque razão só os encontrámos no Cemitério da Lapa, e não no Cemitério dos Prazeres? Julgamos que isso se deve sobretudo a uma circunstância
de origem estética: os dois cemitérios-modelo nasceram a partir de pressupostos distintos. Enquanto que o Cemitério dos Prazeres baseou-se num modelo de filas de monumentos alinhadas em ruas, ficando por detrás as sepulturas rasas, no Cemitério da Lapa criou-se uma espécie de "campo santo", em que os túmulos mais aparatosos assumiam a forma de capelas e ficavam, em banda, nas orlas, de modo a enquadrar os demais túmulos, de menor dimensão, posicionados ao centro do tabuleiro cemiterial. Por conseguinte, e em prejuízo de uma explicação mais detalhada, que pode ser encontrada noutro estudo (QUEIROZ [2]), as capelas tumulares do Cemitério da Lapa foram concebidas para uma observação do seu exterior e também do seu interior, ao contrário do que sucedia com as capelas semelhantes do Cemitério dos Prazeres, geralmente mais pequenas (salvo raras excepções).
Figura 1. Cemitério da Lapa (Porto) Figura 2. Cemitério da Lapa (Porto)
Vemos surgir os primeiros exemplos de azulejaria aplicada aos cemitérios portugueses, de
acordo com o pressuposto do embelezamento de interiores tumulares, o qual até poderia fazer sentido nas capelas monumentais das secções laterais do Cemitério da Lapa – construídas em cantaria, mas geralmente com as paredes laterais em alvenaria, por estarem em banda com as demais – mas não se justificava minimamente nas suas congéneres de Lisboa – geralmente desafogadas e erguidas inteiramente em cantaria.
Supomos que, até finais da década de 1850, apenas três túmulos portugueses receberam azulejos, todos no Cemitério da Lapa:
- A capela monumental do negociante Filipe José de Almeida (n.º 21 da secção lateral do Cemitério da Lapa, hoje da família de Agostinho Ricon Peres), cuja concessão do terreno data de 1854 e que poderá ter sido erguida nesse ou nos anos seguintes, onde podemos ver azulejo do célebre padrão floral tipo Miragaia, numa rara variante em azul e negro, certamente de modo a adequar a uma função fúnebre aquele que era um padrão então muito em voga para fachadas portuenses [Fig. 1]. Note-se que o revestimento azulejar só pôde surgir aqui por os gavetões não se disporem até ao tecto. Trata-se de um tipo de revestimento que não faria sentido, por exemplo, num interior de uma habitação.
- O jazigo monumental do negociante João António de Freitas Júnior (n.º 23 da secção lateral do Cemitério da Lapa, mais conhecido como o jazigo do romancista Camilo Castelo-Branco), cuja concessão do terreno data de 1856 e que terá sido erguido nesse ou nos dois anos seguintes, uma
vez que João António de Freitas Júnior faleceu em 1858. Este jazigo invulgar, concebido como uma espécie de capela tumular aberta (QUEIROZ [2]), recebeu silhares de azulejaria pintada a azul sobre fundo branco, nos flancos do seu vestíbulo [Fig. 2]. O padrão, estampilhado e com ligeiros retoques, é hoje raro, apesar de se inserir no gosto dos padrões que então se usavam para revestir fachadas portuenses. A cercadura acusa o estilo da Fábrica de Santo António do Vale da Piedade, pelo que terá sido esta fábrica a executar os ditos azulejos, assim como os da capela mencionada anteriormente, atendendo ao facto de ter sido a fábrica que vulgarizou o padrão floral tipo Miragaia (DOMINGUES [3]).
- A capela monumental do negociante Manuel Dias de Freitas (1804-1883), cuja concessão do terreno data de 1858 (n.º 16 da secção lateral do Cemitério da Lapa). Nas paredes laterais, que não têm gavetões, pode ver-se um inusitado revestimento a azulejos azuis lisos, a toda a altura, com cercadura de azulejos de figura avulsa tipicamente fúnebre, alternando os crânios e tíbias, com os fachos cruzados invertidos e envolvidos por serpente em círculo, e com as ampulhetas aladas complementadas com gadanhas, sendo o azulejo de canto composto pelos símbolos das três virtudes teologais, Fé, Esperança e Caridade, tudo pintado a negro, como convinha [Fig. 3].
Destes primeiros três exemplos de
azulejaria aplicada a túmulos, dois podem ser atribuídos à Fábrica de Santo António do Vale da Piedade, que também terá sido a fábrica executante de dois outros exemplos, talvez dos mais antigos que podem ser encontrados em cemitérios fora do Porto, apesar de localizados em cemitérios dos arredores desta cidade, inspirados no Cemitério da Lapa. Referimo-nos a uma capela em banda no antigo Cemitério de Custóias, em que o padrão floral tipo Miragaia surge como revestimento das paredes interiores, e ainda a uma capela monumental no Cemitério de S. Cosme, em Gondomar, em que os azulejos, de padrão floral mais complexo, surgem na parede lateral exterior, indiciando intenção de não colocar esta capela em banda com as demais. O azulejo funcionava, assim como uma solução decorativa para uma parte da construção tumular que não levava cantaria. Estes dois exemplos serão da década de 1860.
No centro e sul do país, o mais antigo exemplo que encontrámos de azulejaria num cemitério, está na Ericeira [Fig. 4]. Trata-se do altar do próprio cemitério, mandado fazer em 1854 e oferecido por Joaquim Nunes das Neves para o cemitério da vila. Por debaixo do altar, um azulejo pequeno regista a data de 1888, que talvez corresponda à remoção do altar mais para trás, aquando de um eventual alargamento,
Figura 3. Cemitério da Lapa (Porto)
Figura 4. Cemitério da Ericeira
hipótese que não tivemos ainda oportunidade de confirmar, com base em pesquisa nos arquivos locais. Este painel é muito interessante, por registar um calvário, com Cristo Crucificado ladeado por dois ciprestes, tendo o crânio e as tíbias cruzadas ao pé da cruz. Nas orlas, e numa faixa propositadamente pintada a negro, a decoração inspirada nos grotescos renascença mistura elementos eucarísticos, como o turíbulo, com iconografia da morte romântica, como a ampulheta alada, os fachos invertidos, as gadanhas de Cronos, os mochos vigilantes, e até as tesouras das parcas, para cortarem o fio da vida. A guarnição apresenta azulejo marmoreado, complementado, no intradorso, com algum azulejo do padrão de pontos, o qual pode ser também encontrado em algumas fachadas azulejadas mais antigas de Lisboa (DOMINGUES [3]). Ainda assim, o facto deste ser um trabalho de azulejaria propositado e invulgar, torna-o merecedor de atenção e protecção patrimonial específica.
Azulejos de figura avulsa, com motivos fúnebres a negro, ainda que raros, podem ser também encontrados numa capela do Cemitério do Prado do Repouso (n.º 116), no Porto. Este é talvez o exemplo mais antigo que conhecemos de uma fachada principal azulejada com padrão fúnebre, podendo ser datado de finais da década de 1860 [Fig. 5]. Em outra versão, acusando talvez a execução por parte de outra fábrica, podem ser também encontrados azulejos com o mesmo tipo de padrão na fachada de uma capela do Cemitério de Mafamude, em Gaia, sensivelmente da mesma época. Em ambos os casos, a capela é de cantaria e alvenaria, ficando os azulejos a revestir a alvenaria, sendo de notar o facto de se assumirem como principal motivo decorativo.
Figura 5. Cemitério do Prado do Repouso (Porto) Figura 6. Cemitério de Valongo
Na capela tumular da família Figueira, no Cemitério de Valongo, talvez já da década de 1870, o
mesmo tipo de azulejos que se vê na aludida capela em Mafamude surge aqui, não só na fachada principal, como nos alçados laterais, dado que a capela, ao contrário do que sucede em Mafamude, não está em banda, apesar de alinhada com outras. Esta capela em Valongo é particularmente notável, por os azulejos do exterior surgirem também em todo o espaço acima do altar, formando, com a sua pintura, uma espécie de oratório, para aqui propositadamente pintado, em que o tom azul do arco, com motivos de parras e encimado por cruz, destaca-se do negro dos azulejos fúnebres,
ficando o espaço sob o arco fingido em azulejos branco lisos, para servir de enquadramento à cruz de madeira. Encontramos ainda azulejos brancos lisos na cobertura da capela tumular da família Avares, no Cemitério da Figueira da Foz, datável de 1869, apesar da datação dos azulejos nos suscitar dúvidas. De qualquer modo, aqui, a azulejaria assume quase apenas uma função de impermeabilização.
Outras capelas tumulares com azulejaria de revestimento na fachada principal, embora com padrão não fúnebre, são a de Manuel Pereira Pinheiro, no Cemitério de Campanhã [Fig. 7], e uma outra com o mesmo padrão de azulejo – a n.º 247 do Prado do Repouso, dos inícios da década de 1870 – padrão esse em tons de negro e castanho, relativamente apropriado ao fim tumular, e possivelmente executado na Fábrica de Massarelos. Pode ser visto ainda no alçado lateral de uma capela no Cemitério de Caminha. Também em tons de castanho e negro são os azulejos que revestem os vários alçados de uma outra capela no Cemitério do Prado do Repouso, incluindo o alçado posterior, assim como os azulejos do silhar atrás do altar da capela-ossário do Cemitério de Lordelo do Ouro, datáveis da década de 1870 ou inícios da década seguinte.
Apesar de tudo, encontrámos exemplos de azulejaria tumular completamente imprópria para o fim a que foi destinada, resultando em exemplos bizarros e, por conseguinte, também muito interessantes. O exemplo mais antigo que nos ocorre aqui mencionar é o de uma capela datada de 1863, no Cemitério de Ramalde [Fig. 8]. Os azulejos que revestem as partes interiores sem cantaria, são relevados e em tons de azul sobre fundo branco, podendo ser encontrados em fachadas da cidade do Porto. Em Custóias, uma capela sensivelmente da mesma época apresenta solução semelhante de azulejamento no interior, embora com padrão policromo e relevado de cores vivas – vermelho, amarelo e verde – o que se torna particularmente inusitado, tendo em conta que era um padrão em uso para fachadas urbanas, mas que geralmente não apresentava sequer três cores diferentes. Neste caso de Custóias, a alegria e a plasticidade dos azulejos contrastam com o oratório em madeira escura e o carácter fúnebre da construção [Fig. 9].
Figura 7. Cemitério de Campanhã (Porto) Figura 8. Cemitério de Ramalde (Porto)
Mas o caso mais interessante de azulejaria de relevo num interior tumular está em Anadia,
numa das capelas tumulares mais monumentais existentes em Portugal, tão grande que foi concebida como uma capela de solar, com as sepulturas espalhadas pelo chão: a dos Marqueses da Graciosa,
de 1879 [Fig. 10]. Este facto não deixa de ser relevante, dado que, até aqui, os túmulos que mencionámos pertenciam quase todos a negociantes e, quando não pudemos apurar a caracterização social dos tumulados, pelo menos fica claro que pertenciam à elite económica local, atendendo à dimensão dos túmulos. Ou seja, tudo indica que a azulejaria tumular portuguesa não se iniciou, nem se desenvolveu, por iniciativa de franjas populares da sociedade. Também não encontrámos indícios de uma qualquer relação de causa-efeito entre os "brasileiros" de torna-viagem e a azulejaria nos cemitérios portugueses, o que vem reforçar a tendência da historiografia da arte actual em considerar que a azulejaria do século XIX não foi um gosto partilhado especialmente por novos-ricos com fortuna feita no Brasil, como até há bem pouco tempo se cria. Na capela tumular dos Marqueses da Graciosa, os azulejos são relevados, em tons de azul e branco, com cercadura apropriada. Porém, a dimensão e motivo da cercadura não nos esclarecem se os azulejos foram feitos no Porto / Vila Nova de Gaia, onde o padrão foi muito comum em fachadas dessa época, ou em Lisboa.
Figura 9. Cemitério de Custóias (Matosinhos) Figura 10. Cemitério de Anadia
Não podemos deixar de mencionar aqui o cemitério de Montemor-o-Novo, pelo facto de possuir alguns exemplos de azulejaria tumular do século XIX. O mais antigo será de 1858, ou dos anos seguintes, e terá saído de alguma fábrica de Lisboa. Referimo-nos ao jazigo raso do Dr. João Elói Nunes Cardoso, falecido no dito ano, jazigo esse mandado construir por uma sua filha. A tabela onde foi colocado o epitáfio é em azulejo, apresentando a mesma diferenciação de caracteres que se usava, na época, quando os epitáfios eram insculpidos na pedra. Em volta, e revestindo toda a alvenaria da sapata do jazigo (exceptuando-se, pois a lápide de cantaria que dá acesso ao carneiro subterrâneo, e sua guarnição), encontra-se azulejo de padrão muito simples, na mesma tonalidade negra, evocando a ideia de luto [Fig. 11]. Estes azulejos de padrão formam um xadrez, embora em cada azulejo exista um quadrado escuro disposto na diagonal, sendo a justaposição dos azulejos a formar os quadrados brancos. A solução, já de si, é original, pois o jazigo seria esteticamente paupérrimo se não tivesse o revestimento azulejar. Porém, à sua cabeceira, e no muro do cemitério, encontra-se uma solução ainda mais invulgar: a formação de uma cruz, com os mesmos azulejos de padrão que revestem a sapata do jazigo. Este terá sido o primeiro jazigo do Cemitério de Montemor-o-Novo com revestimento azulejar, e um dos casos mais antigos do género na região sul do país, senão mesmo o mais antigo. Terá até servido de inspiração. De facto, o mesmo tipo de azulejos de padrão reveste os paramentos laterais e até a cobertura – o que é altamente invulgar - de uma capela deste cemitério, datável de finais do século XIX. O mesmo tipo de azulejos de padrão, mas com losangos em vez de quadrados, reveste ainda um outro túmulo, de alvenaria e com carácter vernacular, situado também neste cemitério, sem inscrições visíveis mas datável de c. 1860-1890.
Dos últimos vinte anos do século XIX, ou dos primeiros nove anos do século XX, é um painel de azulejos colocado no alçado lateral da capela tumular de Joaquim José Faísca (falecido em 1909), também em Montemor-o-Novo. Provavelmente, os azulejos foram executados na Fábrica Viúva Lamego, tendo em conta que foi essa a fábrica que executou os painéis semelhantes existentes no antigo refeitório do asilo de infância desvalida que funcionou no Convento de Nossa Senhora da Saudação de Montemor-o-Novo, do qual Joaquim José Faísca foi grande impulsionador e ainda o provável mentor da arca tumular, também revestida a azulejos, que reuniu na sala do capítulo os ossos das freiras (PORTELA [4]). Aliás, num dos painéis existentes no dito refeitório, encontra-se menção ao pintor, "J.P.", que poderá ser o mesmo autor deste painel existente no Cemitério de Montemor-o-Novo. O negociante Joaquim José Faísca, legou os bens ao dito asilo, dado que as suas filhas morreram muito jovens. Entre esses bens, estava o próprio jazigo de família. Daí que tenha sido considerado necessário – não sabemos se ainda em vida de Joaquim José Faísca ou logo depois da morte – assinalar esse legado no próprio jazigo, de modo a responsabilizar o dito asilo pela conservação do monumento tumular. O facto da tabela azulejada encontrar-se, não na fachada principal da capela, mas no alçado lateral, mais visível para quem entrava no cemitério, evidencia bem essa necessidade de tornar público o legado.
Figura 11. Cemitério de Montemor-o-Novo Figura 12. Cemitério de Campo Maior
Tabela semelhante em azulejo, mas mais antiga, insistindo de novo na pintura a negro, pode
ser encontrada no Cemitério de Campo Maior, num dos seus túmulos mais precoces, erguido em memória de José Vaz Touro (falecido em 1865), e construído por algum mestre de obras da região, dado que é inteiramente em alvenaria [Fig. 12]. Nestas circunstâncias, e tal como num dos casos que mencionámos para Montemor-o-Novo, a colocação de inscrições poderia ser feita através de uma lápide em pedra colocada sobre o reboco ou - o que serviria também perfeitamente - através de um painel de azulejos. Apesar disso, tabelas em azulejo oitocentistas, nos cemitérios portugueses, são muito raras. Um outro caso que podemos assinalar, é o do dístico à entrada do Cemitério de Elvas. Mesmo a numeração de jazigos, que poderia receber vantagem do uso de azulejos, quase sempre não foi feita através de artefactos cerâmicos. Uma excepção é o Cemitério de Santarém, em que algarismos e letras (correspondendo às secções) foram assinalados com azulejos brancos, pintados a negro.
Ainda dentro da categoria das tabelas em azulejo, não podemos deixar de mencionar aquela que é mais curiosa, por estar num alçado tumular em cantaria de granito, pela representação do modelo para as escolas do Conde de Ferreira, e pela longa explicação que é dada. Referimo-nos ao
jazigo-capela do professor de grego, Domingos de Almeida Ribeiro, cuja tabela alude a dois importantes legados – um dos quais o do próprio Conde de Ferreira – os quais teriam sido feitos por influência de quem redigiu os respectivos testamentos, ou seja, do próprio tumulado [Fig. 13].
Mencionemos ainda a capela tumular da família Cunha Pessoa, no Cemitério de Santo António do Carrascal, em Leiria, datada de meados da década de 1870 (PORTELA [5]). Tal como no caso anterior, o painel de azulejos resolveu engenhosamente o problema da nobilitação do alçado lateral de gaveto. Foi pintado ao gosto barroco, com anjos e decoração monocromática em azul. A própria legenda é arcaizante, pedindo, a quem passa, um Pai Nosso e uma Avé Maria [Fig. 14 e Fig. 15].
Figura 13. Cemitério de Agramonte (Porto) Figuras 14 e 15. Cemitério de Santo António do
Carrascal (Leiria) Também arcaizante, no estilo e no tema, é o curioso painel de azulejos existente na capela
tumular da família Sousa Menezes, em Vila Viçosa. Anjos recuperam várias almas das chamas do purgatório, tudo enquadrado por folhagens, panejamentos e ornatos que recuperam formulários anteriores ao Romantismo. Este painel ocupa a parte central do retábulo da capela e os seus azulejos foram pintados a azul sobre fundo branco, mas com algumas partes a amarelo - dentro da tradição barroca - concretamente, nas labaredas [Fig. 16]. A despeito da sua dimensão modesta e do limitado virtuosismo do artista pintor, este painel é dos mais interessantes da azulejaria devocional romântica, que tão forte decaimento sofreu neste período, face ao que sucedera durante o período tardo-barroco.
3. CONCLUSÃO
A azulejaria romântica nos cemitérios, quer como aplicação tumular, quer como decoração das próprias estruturas cemiteriais, continua a ser uma das mais desconhecidas vertentes da ornamentação cerâmica na arquitectura portuguesa. Apesar de não subsistirem muitos exemplos para o período abordado, vários dos que ainda existem são particularmente interessantes e reforçam a ideia de um gosto pelo azulejo muito peculiar e muito tipicamente português.
Apesar disso, no Portugal Oitocentista, os azulejos foram utilizados nos cemitérios apenas em determinados casos, sendo menos raros em certas regiões. Em Lisboa, por exemplo, não encontrámos qualquer exemplo evidente de azulejaria tumular anterior a 1880. No Porto e sua região, subsistem alguns casos de azulejaria em túmulos. Contudo, na sua maioria, são posteriores a 1880 e terão de ser abordados num outro trabalho. O mesmo aplica-se a vasos e a outras peças decorativas em materiais cerâmicos (terracota, faiança, etc.), cuja utilização em cemitérios portugueses parece ter sido até ligeiramente mais precoce que a dos azulejos, notando-se sobretudo a partir da década de 1860, particularmente no Porto e sua região. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] QUEIROZ, Francisco / PORTELA, Ana Margarida - Uma singular obra de azulejaria barroca em Setúbal. Porto: 2003 (separata das actas do II Congresso Internacional do Barroco, URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7499.pdf) [2] QUEIROZ, José Francisco Ferreira - Os Cemitérios do Porto e a arte funerária oitocentista em Portugal. Consolidação da vivência romântica na perpetuação da memória. Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: 2002. [3] DOMINGUES, Ana Margarida Portela - A ornamentação cerâmica na arquitectura do Romantismo em Portugal. Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: 2009. [4] PORTELA, Ana Margarida / QUEIROZ, Francisco - Contributos para a História da Arquitectura e do Urbanismo em Montemor-o-Novo, do século XVI ao século XIX. I – O Convento de Nossa Senhora da Saudação. II – O Cemitério de S. Francisco. Montemor-o-Novo: 2002 (separata de Almansor, n.º 1, 2ª série). [5] PORTELA, Ana Margarida / QUEIROZ, Francisco - O Cemitério de Santo António do Carrascal: Arte, História e Sociedade de Leiria no Século XIX (policopiado). OUTRA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA MELLER, Hugh - London Cemeteries. An Illustrated Guide and Gazetteer, Godstone – Surrey, Gregg International, 1985. URL: http://www.museoazulejo.org/es/serie.php?id=49, em Junho de 2012.
Figura 16. Cemitério de Vila Viçosa