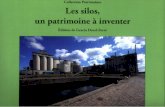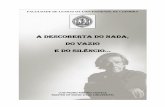Arenização do bioma Pampa
Transcript of Arenização do bioma Pampa
ARENIZAÇÃO DO BIOMA PAMPA1
Patrícia Bitello de Souza2; Rosele C. dos Santos
3 e Felipe Jochims
4
RESUMO
Os campos sul-americanos (Campos Sulinos) têm o equivalente a 70 milhões de hectares, situado
entre o Uruguai, norte da Argentina e sul do Brasil. Muitas comunidades biológicas em climas
sazonais têm sido degradadas e tornam-se desertos naturais em consequência das atividades
humanas, um processo conhecido, erroneamente, como desertificação. No Brasil, essas áreas se
formaram principalmente no semiárido nordestino e no Rio Grande do Sul. Embora essas áreas
possam ser inicialmente adequadas para a agricultura, o cultivo repetido, leva geralmente à erosão e
à perda da capacidade de retenção de água no solo. O resultado é uma degradação progressiva,
dificilmente reversível na comunidade biológica, com sucessivas perdas da cobertura do solo, a um
ponto tal, que a área assume a aparência de deserto. Assim, com base em revisões bibliográficas o
objetivo é relatar os pontos mais críticos do processo de arenização, que ocorre naturalmente, mas,
que está sendo agravada por ações antrópicas, e descrever propostas de recuperação, já testadas, que
não são apropriadas e as consideradas eficazes.
Palavras-chave: Campos nativos; Campos Sulinos; degradação; areais;
1. INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bioma (bio, vida; oma,
proliferação) é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo grupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e
história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria.
Na totalidade, os campos sul americanos (Campos Sulinos) tem o equivalente a 70 milhões
de hectares, situados entre as latitudes 24° e 35° S, abrangendo o território do Uruguai, norte da
Argentina e sul do Brasil (PALLARÉS et. al., 2005), fazendo parte do “Rio de La Plata Natural
Grasslands” (CARVALHO et. al., 2008), sendo a maior unidade biogeográfica com campos naturais
na América Latina e uma das maiores e mais importantes do mundo.
A parte brasileira dos Campos Sulinos é o Bioma Pampa, que é um dos seis Biomas
Brasileiros reconhecidos e sua parte situada dentro do Brasil representa 2,07% (176.496 km2) do
território nacional. Apesar de sua importância, o Pampa somente foi reconhecido como um Bioma
1 Trabalho apresentado como parte dos requisitos para a obtenção do título de Pós-Graduação Latu Sensu em MBA em
Gestão Ambiental pelo Instituto Educacional do Rio Grande do Sul/IERGS. 2 Bióloga pela UBRA (2010); aluna de Pós-Graduação em MBA em Gestão Ambiental 2012 (IERGS). E-mail:
[email protected]. 3 Professora convidada IERGS. Bióloga, Especialista em Licenciamento Ambiental, Mestre em Ciência do Solo pela
UFRGS. Aluna de Doutorado em Ciências do Solo, bolsista CNPq (UFRGS). E-mail: [email protected] 4 Doutor em Zootecnia pela UFRGS. Pós-Doutorado EMBRAPA/UFSM – Laboratório de Ecologia de Pastagens
Naturais/LEPAN
2
em 2004, quando foi desmembrado do Bioma Mata Atlântica. A parte Brasileira do Bioma Pampa
abrange a metade meridional do Estado do Rio Grande do Sul, na região Neotropical e faz parte do
domínio biogeográfico Chaquenho (CABRERA e WILLINK, 1980), compreendendo
aproximadamente 63% da área total do Rio Grande do Sul, se delimitando apenas com o Bioma
Mata Atlântica na metade norte do estado, aproximadamente ao paralelo 30º de latitude sul (IBGE,
2004).
Uma característica dos campos nativos é a sua riqueza florística, com cerca de 3000
espermatófitos campestres (BOLDRINI, 2002), apresentando diferentes formações campestres
naturais, cada uma com suas características particulares (Figura 1). Essas formações são
decorrentes, principalmente, dos diferentes tipos de solos (e sua fertilidade) da região, que por sua
vez, tem influência da sua origem basáltica e localização geográfica no período de sua formação
(para mais informações sobre o tema o leitor deve dirigir-se ao livro Campos Sulinos, cap. 1 –
Dinâmica dos campos no sul do Brasil durante o Quaternário Tardio).
Figura 1. Abrangência do Bioma Pampa no Rio Grande do Sul e seus diferentes sistemas ecológicos. Adaptado
de Hasenack et al., 2010.
Na região sudoeste do Rio Grande do Sul, um dos “tipos” de campo é conhecido como
Campos com Areais (HASENACK et. al.., 2010). O solo dessas regiões está associado a depósitos
superficiais arenosos que tem sua origem vinculada a processos fluviais e eólicos de clima
3
semiárido. Há cerca de três mil anos, esse local era dominado por um clima semiárido, e não úmido
como conhecemos hoje, e as dunas que constituem parte desses depósitos superficiais são uma
herança temporal (SUERTEGARAY e SILVA, 2009). A região geomorfológica do Planalto de
Campanha, a maior extensão de campos do RS, é a porção mais avançada para oeste e para o sul do
domínio morfoestrutural da bacia do Ibicuí e coberturas sedimentares. Nas áreas de contato com o
arenito botucatu, ocorrem os solos podzólicos vermelho-escuros, principalmente a sudoeste de
Quaraí a sul e sudeste de Alegrete, onde constata o fenômeno da desertificação. São solos, em geral,
de baixa fertilidade natural e suscetíveis à erosão (IBAMA, 2010).
O clima tornou-se úmido com o passar do tempo, o que permitiu a expansão da vegetação. A
umidificação do clima e os processos decorrentes da ação das águas, como o escoamento
concentrado na forma de ravinas e voçorocas, formaram sulcos no solo que, em alguns casos
atingiram os lençóis freáticos. Estes processos promoveram a remobilização das areias. Com isso,
os depósitos superficiais foram parcialmente removidos e originaram os areais. (INSTITUTO
CIÊNCIA HOJE – ICH, 2010). Estas, na continuidade do processo desenvolvem-se por erosão
lateral e regressiva, consequentemente alargando suas bordas. Por outro lado, à jusante destas
ravinas e voçorocas, em decorrência do processo de transporte de sedimentos pela água durante
episódios de chuvas torrenciais, formam-se depósitos arenosos em forma de leques. Com o tempo,
esses leques vão se agrupando e em conjunto dão origem a um areal. O vento que atua sobre essas
areias, em todas as direções, permite a sua ampliação (SUERTEGARAY, 2010), sendo então que os
areais do Bioma Pampa são de origem natural.
Embora essas áreas sejam “adequadas” para a agricultura, o cultivo repetido, ano após ano,
geralmente leva o solo a um processo erosivo e consequentemente a perda da capacidade de
retenção de água. Os nutrientes do solo podem também estar sendo consumidos de forma crônica
pela pastagem e utilizadas para fins energéticos (FLEISCHNER, 1994; MILTON et. al., 1994). O
resultado é uma degradação progressiva, dificilmente reversível da comunidade biológica, com a
perda da camada superficial do solo a um ponto tal, que a área assume uma aparência e
características de regiões de clima árido.
A destruição da vegetação nativa em uma área, ocasionada pelo uso intensivo (superpastejo,
queimadas, etc.), altera a ciclagem natural do sistema, levando a uma perda de produção da
biomassa e degradação da comunidade animal (inclusive humanos) que vive na área (ODUM,
1993). Por si só, a vegetação dessas áreas já é muito frágil. Solos com textura arenosa e silte-
arenosa apresenta um pH baixo, com altos teores de alumínio e carência de fósforo, potássio e
nitrogênio, infligindo pesadas restrições para a comunidade vegetal dessas áreas (SUERTEGARAY
e SILVA, 2009).
Um sistema bem conservado tem grande valor econômico, estético e social. Mantê-lo
4
significa preservar todos os seus componentes em boas condições: ecossistemas, comunidades e
espécies. O aspecto mais significativo e preocupante é a da extinção de espécies. As comunidades
podem ser degradadas e confinadas a um espaço limitado, mas na medida em que as espécies
originais sobrevivam, ainda será possível reconstituí-las (TOWNSEND et. al., 2010). Uma questão
vital para a biologia da conservação é quanto tempo levará para que uma determinada espécie se
torne extinta. A partir de uma redução dramática de sua área de ocorrência, ou após a degradação
e/ou fragmentação de seu habitat (GENTRY, 1986; JANZEN, 1986b).
Desde a colonização ibérica, a pecuária extensiva sobre os campos nativos tem sido a
principal atividade econômica da região. A progressiva introdução e expansão das monoculturas e
das pastagens com espécies exóticas têm levado a uma rápida degradação e descaracterização das
paisagens naturais do Pampa. Estimativas de perda de habitat dão conta de que em 2002 restavam
41,32% e em 2008, 36,03% da vegetação nativa do bioma pampa (IBAMA, 2010).
A perda da biodiversidade compromete o potencial de desenvolvimento sustentável da
região, seja pela perda de espécies de valor forrageiro, alimentar, ornamental e medicinal ou pelo
comprometimento dos serviços ambientais proporcionados pela vegetação campestre, como o
controle da erosão do solo e a ciclagem do carbono (MMA, 2010).
Em relação às áreas naturais protegidas do Brasil, o pampa é o bioma que tem menor
representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), representando
apenas 0,4% da área continental brasileira protegida por unidades de conservação. A criação de
unidades de conservação, a recuperação de áreas degradadas e a criação de mosaicos e corredores
ecológicos foram identificadas como as ações prioritárias para a conservação, juntamente com a
fiscalização e o desenvolvimento econômico e social.
2. DESERTIFICAÇÃO versus ARENIFICAÇÃO
Há na literatura científica um número expressivo de conceitos sobre desertificação. Estes
associam, de maneira geral, desertificação ao processo de degradação de terras decorrentes das
atividades humanas, ou seja, a desertificação aparece associada à destruição do potencial biológico
de terras áridas, semiáridas e subúmidas secas onde ocorre a deterioração da vida, uma interferência
na relação entre clima, solo e vegetação ocasionando o rompimento do equilíbrio desses três fatores
que compõem o meio. Segundo (DREGNE, 1986), a desertificação é o empobrecimento dos
ecossistemas terrestres sob o impacto do homem. Esse processo de deterioração pode ser
medido/observado pela redução na produtividade de plantas desejáveis, alterações indesejáveis na
biomassa e na micro e macro flora e fauna, deterioração acelerada do solo e um aumento nos fatores
de perigo/riscos (hazards) para a ocupação do homem.
5
A análise destes conceitos indica como causa da desertificação a atividade humana pela
exploração excessiva da natureza, causando a degradação do meio e, ao mesmo tempo, vincula
essas áreas de desertificação com o clima do local em questão ou se as modificações causadas no
ecossistema modifica o clima, o deixando “seco” (SUERTEGARAY, 2011).
O RS não se apresenta como região atingida pela desertificação. As razões são claras, o RS
tem sua localização geográfica em região de clima subtropical, com precipitação média anual de
1400mm, por consequência, está fora da zona onde o clima, juntamente com a ação do homem, tem
sido motivo principal da degradação.
Já o processo de arenização, segundo (SUERTEGARAY, 1997), é definido como um
processo de retalhamento de depósitos arenosos, pouco ou não consolidados, que acarretam nestas
áreas uma dificuldade de fixação de cobertura vegetal, devido à intensa mobilidade dos sedimentos
pela ação das águas e dos ventos. Consequentemente, arenização indica uma área de degradação
relacionada ao clima úmido, onde a diminuição do potencial biológico não desemboca em definitivo
em condições de tipo deserto. Ao contrário, as dinâmicas dos processos envolvidos nesta
degradação dos solos são, fundamentalmente, derivadas da abundância de água.
Arenização indica uma área de degradação, relacionada ao clima úmido, em que a
diminuição do potencial biológico não desemboca, necessariamente, em condições de tipo deserto
conforme definido no conceito de desertificação adotado após a Conferência das Nações Unidas
sobre Desertificação em Nairobi em 1977.
3. FORMAÇÃO DOS AREAIS
A área de ocorrência dos areais tem como substrato o arenito da formação Botucatu. Sobre
esta formação Mesozóica assentam-se depósitos arenosos não consolidados, originários da
deposição hídrica e eólica durante o Pleistoceno e Holoceno. São nestes depósitos que vão se
originar os areias (SUERTEGARAY et al. 2001). A formação dos areais, interpretada a partir de
estudos geomorfológicos, associada à dinâmica hídrica e eólica, indica que os areais resultam
inicialmente de processos hídricos. Os areais ocorrem sobre unidades litológicas frágeis (depósitos
arenosos) em áreas com baixas altitudes e declividades. São comuns nas médias colinas ou nas
rampas de contato com escarpas de morros “testemunhos”, que apresentam substrato rochoso onde
predomina solos originários do basalto, com maiores teores de argila e presença de cobertura
vegetal expressiva. Sobre outro aspecto, a formação de ravinas e voçorocas, processos que estão na
origem dos areais, podem também ser resultado do pisoteio do gado e do uso de maquinaria pesada
na atividade agrícola, originando sulcos e desencadeando condições de escoamento concentrado.
Uma das características da região sudoeste do RS é a presença de areais e focos de arenização.
6
Estes processos de degradação do solo têm sido interpretados de várias maneiras, principalmente,
àquelas que atribuem sua origem (ou ampliação) à ação antrópica. Parece ser um consenso à
interpretação de estudiosos de diversas áreas do conhecimento, foram fornecidos dados mais
significativos à ciência, sobre a gênese desses areais, explicando-os como de origem natural e
decorrente de processos hídricos atuantes sobre a litologia e solos específicos (SUERTEGARAY et
al, 2008).
Suertegaray (1987), em sua tese, propõe que o processo de degradação das áreas com
ocorrência de areais seja denominado de “arenização”, em substituição ao termo “desertificação”,
uma vez que as características climáticas da área, em particular, os índices de precipitação (média
de 1400mm anuais), não são características de ambientes áridos. Dentre as considerações dessa
autora, pode-se concluir que o processo de arenização é natural, pois a ação antrópica no início da
colonização do Rio Grande do Sul não seria causadora desta degradação, partindo-se do princípio
de que, neste período, não se praticava monocultura nem superpastoreio.
Considera-se que a gênese dos areais no que se refere à dinâmica da natureza pode ser
sintetizada em três fases. A primeira corresponde à formação de degraus de abatimento (UAGODA,
2004) a segunda à de ravinas e voçorocas e a terceira à formação do areal propriamente dito (Figura
2). Os degraus de abatimento não são exclusivos do processo de arenização, podendo ser
observadas sob outros tipos de substrato, seja no Rio Grande do Sul e mesmo no Uruguai e
consistem no lineamento tectônico do solo. Junto a estes lineamentos existe uma série de
descontinuidades estruturais, falhamentos ou fraturamentos. A representação dos padrões geológico-
geomorfológicos permite interpretar que o fluxo subsuperficial de água é vertical e condicionado
por descontinuidades de um substrato rochoso irregular (UAGODA, 2004 e SUERTEGARAY,
2011).
O escoamento da água “desestrutura” o solo (Fase 2 e 3, Figura 2). O fluxo condiciona o
carreamento de elementos agregadores, argila e silte, que estão presentes nas análises
granulométricas. Após os elementos cimentadores serem carreados, o esqueleto também o é,
aumentando a erodibilidade do terreno (SUERTEGARAY, 2011).
O processo inicial de formação de areais ocorre em áreas de biomassa reduzida evoluindo
para manchas arenosas ou areais propriamente ditos, passando por feições de degradação como
áreas de ravinamento e de formação de voçorocas. O retrabalhamento desses depósitos, no caso,
formações superficiais, provavelmente quaternárias, resulta de uma dinâmica morfogenética onde
os processos hídricos superficiais, particularmente o escoamento concentrado provoca ravinas ou
voçorocas e expõe, transporta e deposita a areia, dando origem à formação de areais que, em
contato com o vento, através do processo de deflação, tendem a uma constante remoção. Em
síntese, o progressivo desenvolvimento de ravinas e voçorocas levaria, em fases posteriores, a uma
7
coalescência de depósitos arenosos à jusante. Esta deposição, associada à expansão lateral e
remontante das ravinas e voçorocas, promove a formação do areal propriamente dito
(SUERTEGARAY, 2011).
Figura 2. Esquema representativo da gênese dos degraus de abatimento e formação de areais. Adaptado de
Uagoda, 2004.
Além disso, é sabido que o uso indevido do solo com acréscimo de agrotóxicos, culturas
inadequadas, ou incompatíveis com a região tem contribuído para a aceleração destas degradações,
mas identificá-lo como único fator de arenização é que torna o assunto controvertido.
4. DISTRIBUIÇÃO E ORIGEM DOS AREAIS
A região de ocorrência dos areais está localizada no sudoeste do estado do Rio Grande do
Sul - RS, a partir do Meridiano de 54° em direção oeste até a fronteira com a Argentina e o Uruguai.
Estes ocupam uma larga faixa onde localizam-se os municípios de Alegrete, Cacequi, Maçambará,
Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja, São Francisco de Assis e Unistalda (Figura 3).
Os trabalhos iniciais relativos à interpretação do processo de arenização no RS apresentam
como explicação para a origem dos areais, a busca de maior rentabilidade agrícola, a partir do
8
arrendamento de terras e a introdução da agricultura mecanizada, particularmente na lavoura de
soja. Porém a partir de relatos históricos, ficou demonstrado que a região de ocorrência de areais
apresenta estas características desde a época em que se iniciou a colonização luso-espanhola, numa
observação feita por em Avê-Lallemant, em 1858 quando em viagem por esta região, constatando
que anteriormente a colonização espanhola e portuguesa a região já apresentava a ocorrência de
areais (SUERTEGARAY, 1995).
Ainda em estudos de Suertegaray (1995), há referências que a gênese dos areais está
vinculada a três processos naturais: a deflação, o escoamento superficial e o escoamento
concentrado sob a forma de ravinas e voçorocas. Nos meses de verão, predomina a deflação. As
chuvas ocasionais e de curta duração, associadas às altas temperaturas e evaporação, provocam, em
alguns locais, o ressecamento do solo favorecendo a movimentação de suas partículas pela ação dos
ventos. No inverno, esse processo é menos significativo, dado o maior nível de umidade do solo.
Em períodos de chuvas prolongadas, entretanto, o escoamento superficial (especialmente em locais
de maior declividade e que apresentem ravinas e voçorocas) ocasionam o transporte e o acúmulo de
grande quantidade de sedimentos para as partes mais baixas do terreno. Tais sedimentos, com o
passar do tempo (após ressecamento), passam da mesma forma, a sofrerem ação dos ventos gerando
novos focos de areia.
Figura 3. Distribuição dos areais nos municípios do sudoeste do Rio Grande do Sul. Fonte: SUERTEGARAY,
2011
9
A repetição continuada desses processos, por vezes atuando conjuntamente (dependendo das
condições ambientais), impede a fixação da vegetação favorecendo, dessa forma, a intensificação da
erosão e a ampliação dos areais.
5. PRESSÕES AMBIENTAIS SOBRE O BIOMA PAMPA
O bioma Pampa tem sido local para investimentos estrangeiros no plantio de monoculturas de
espécies exóticas, com uma ilusória “solução para os problemas ambientais por tratar-se de plantio
de árvores” (FIGUEIRÓ e SELL, 2010).
A introdução de espécies exóticas tem sido pensada desde a década de 1980, sem, no
entanto, considerar os impactos que podem ocorrer sobre os ecossistemas do Bioma Pampa. Com a
introdução de monoculturas, os processos de degradação já estão em expansão em algumas áreas,
que podem resultar em erosão hídrica e na formação ou aumento no tamanho dos areais. Estes
processos são advindos do uso intensivo do solo, especialmente com a utilização da mecanização
agrícola, sem considerar a fragilidade do sistema (VERDUM, 2006).
No sudoeste do RS, a apropriação da natureza vincula-se à formação econômica e social do
Brasil. Esta paisagem natural, era (antes da ocupação) como ainda é, frágil, do ponto de vista das
condições ambientais, por estar em constituição recente, sob clima úmido, e apresentar, por esta
razão, elementos de fragilidade que advêm de sua fase semiárida ou árida anterior.
As áreas arenosas (areais) no estado do RS encontram-se localizadas na região conhecida
como campanha gaúcha – área de domínio da grande propriedade agropastoril. Este problema
tornou-se preocupação ecológica e veio à tona no momento em que emergiram na sociedade gaúcha
os movimentos de defesa do meio ambiente. A veiculação deste problema via imprensa ampliou a
discussão em toda sociedade rio-grandense. A imprensa passou, em muitos casos, a divulgar o
problema de forma alarmante, associando o fenômeno à ação antrópica. Em alguns casos, vinculou
a questão à utilização agrícola de certas áreas para o plantio da soja, a partir da expansão desta
lavoura (do então planalto – área originalmente colonial), para os campos do Rio Grande do Sul.
Apesar de ter sua origem comprovadamente vinculada às causas naturais, a consolidação do
quadro de degradação verificado atualmente, teve na participação do homem um fator decisivo e
que não pode ser ignorado. A escolha da alternativa de recuperação passa por uma avaliação das
propostas atualmente discutidas e que, conforme (SUERTEGARAY, 1995) são três: plantio de
gramíneas, introdução de árvores frutíferas em consorciação com gramíneas e o florestamento com
espécies exóticas (sistemas mistos). Testadas nos areais, as duas primeiras alternativas não
apresentaram bons resultados o que, desde já, compromete uma tentativa de análise. O quadro
repetiu-se também com as mudas frutíferas.
10
As condições específicas das áreas arenosas da região sudoeste são para MARCHIORI
(1995), o principal fator limitante à implementação dessas alternativas. O plantio de gramíneas,
segundo o autor, apesar de constituir-se numa técnica eficaz e comprovadamente testada em vários
locais do mundo, no caso dos areias do sudoeste gaúcho, está sujeita a encontrar dificuldades, não
só pelo fato de que uma pastagem estabelecida nessas condições será sempre “artificial”,
independentemente da espécie utilizada (autóctones, obtidas por melhoramento genético ou
agressivas) pelo fato de o homem não conseguir “construir” sistemas complexos e sustentáveis
como os feitos pela natureza ao passar do tempo. Além disso, mesmo com a implantação, o
ecossistema continuaria frágil, principalmente se submetido ao pisoteio de animais ou a maquinaria.
O plantio de frutíferas, da mesma forma, apesar de apresentar bons resultados em solos
arenosos, tende a enfrentar problemas considerando-se as condições da área a ser revegetada. Com
uma composição química extremamente pobre em nutrientes essenciais e uma estrutura que não
permite a manutenção de um bom nível de umidade, a sobrevivência das plantas tende a ficar
prejudicada, especialmente, em períodos de seca. Tais problemas apesar de poderem ser
contornados, implicariam custos demasiadamente altos.
6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA EXPANSÃO AGRÍCOLA
Uma das características da região sudoeste do RS é a presença de areais e focos de arenização.
Estes processos de degradação do solo têm sido interpretados de várias formas, principalmente,
aquelas que atribuem sua origem à ação antrópica.
Os campos sulinos são ecossistemas naturais com alta diversidade de espécies (vegetal e
animal). São os campos do Bioma Pampa e Mata Atlântica garantem características e serviços
ambientais importantes, como a conservação de recursos hídricos, a disponibilidade de
polinizadores, e o provimento de recursos genéticos. Além disso, têm sido a principal fonte
forrageira para a pecuária, abrigam alta diversidade e oferecem beleza cênica com potencial
turístico importante. A sua conservação, porém, tem sido ameaçada pela conversão em culturas
anuais e silvicultura e pela degradação associada à invasão de espécies exóticas e uso inadequado,
seja pela pecuária ou agricultura (MMA, 2009).
Nas últimas décadas, aproximadamente 50% da superfície originalmente coberta com campos
no RS foi transformada em outros tipos de cobertura vegetal. O Pampa, como bioma, é a reunião de
formações ecológicas que se inter-cruzam em uma formação ecopaisagística única, com intenso
tráfego de matéria, energia e vida entre os campos, matas ciliares (de galeria), capões de mato e
matas de encostas, suas principais formações (SUERTEGARAY, 2011). Em 2004, o Ministério do
Meio Ambiente ratificou a aplicação do termo BIOMA, para o Pampa.
11
Os campos constituem o habitat principal de uma parcela expressiva da fauna do sul do Brasil
e, em especial, do RS, onde esse ecossistema ocupa uma superfície maior. Algumas das espécies
mais populares e emblemáticas da fauna gaúcha são animais essencialmente campestres, como a
Ema (Rhea americana), a perdiz (Nothura maculosa), o Quero-quero (Vanellus chilensis), a
Caturrita (Myopsitta monachus), o João-de-barro (Furnarius rifus), o Zorrilho (Conepatus chinga) e
o Graxaim-do-campo ou “Sorro” (Lycalopex gymnocercus) (MMA, 2009).
Partindo do pressuposto que esses areais são originariamente naturais, duas hipóteses
explicativas podem ser levantadas. A primeira associa-se à modernidade da cobertura vegetal da
área. Desta forma, se admitiria uma descontinuidade espacial de expansão vegetal, promovendo esta
descontinuidade à existência das “manchas” de areia e dos lajedos (campos de pedra)
(SUERTEGARAY, 1992)
A segunda hipótese, diz respeito à existência de uma formação litológica recente
predominantemente arenosa que poderia ter sido inicialmente vegetada e, com a progressiva
umidificação do clima, teria sido progressivamente e contraditoriamente desvegetada em períodos
mais atuais, devido à continuidade do clima úmido que promoveu, em locais mais vulneráveis,
processo de voçorocamento. Desta forma, segundo esta hipótese, a origem dos areais estaria
associada à intensificação do escoamento superficial concentrado, em clima úmido, em região
pouco vegetada ou com vegetação vulnerável. (SUERTEGARAY, 1992).
Entre as controvérsias de interpretação, cabe destacar principalmente a questão da gênese dos
areais. Suertegaray (1988), baseada em dados históricos, explica a gênese dos areais como
decorrente de processos naturais tais como a formação e evolução de ravinas e voçorocas. Já Souto
(1985), coloca tal origem associada ao uso abusivo da vegetação pelo pastoreio, prejudicando o solo
e, mais recentemente, pela introdução do cultivo de soja ou milho na região. Cumpre dizer que os
registros históricos, como apresenta Suertegaray (1988), já indicam à existência de areais em
período anterior a ocupação da área por sesmarias.
A esta polêmica está associada uma segunda: aquela que diz que a causa é o pisoteio do gado
(chamada erosão zoógena) e/ou expansão da mecanização da lavoura. Rambo (1945) já registrava a
ocorrência de areais antes mesmo da introdução da mecanização e da expansão do soja que ocorre
na região no final da década de 60 e início dos anos 70.
As propostas de recuperação dessas áreas arenosas, na década de 70, iniciaram pela Secretaria
de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, com o “Plano-Piloto de Alegrete”. Este projeto,
após 20 anos de implantação, sofreu uma avaliação durante o I Simpósio sobre desertificação,
realizado em novembro de 1990 pela ABES (Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas) em
Porto Alegre.
Na avaliação, feita principalmente pelo proprietário que cedeu sua terra à experiência, o
12
projeto não alcançou os resultados almejados. Entre os problemas levantados durante a avaliação
foram apontados: uso de verbas públicas para recuperação de áreas de degradação (areais) em
propriedade particular; sistema de plantio inadequado, com espécies arbóreas plantadas em linha e
no sentido contrário às curvas de nível (montante para jusante), provocando com o tempo,
problemas de erosão hídrica; construção de esteiras para retenção de areia com material
transportado de longa distância; frustração com o plantio de acácia e cancelamento do projeto por
falta de verbas.
Recentemente vem se testando espécies nativas para a manutenção/recuperação de áreas. Para
isso, as espécies devem apresentar folíolos e ramos muito pilosos, além de um alto teor de
substâncias resiníferas, o que pode comprovar a sua evolução paralela a um paleoambiente
xeromórfico. Usualmente estas características denotam alta rusticidade e as tornam inadequada ao
consumo animal, o que é positivo quando se visa à utilização como planta de cobertura. Além disso,
as plantas de “recuperação” devem ter a presença de um vigoroso sistema radicular, o que a habilita
buscar água e nutrientes em profundidade e ser capaz de fixar nitrogênio (apresenta associação
simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio). Resultados já demonstram que algumas espécies
conseguem reduzir em até 93% de areia movimentada pela erosão eólica em núcleos de arenização
(ROVEDDER, 2003).
Convém ressaltar que, apesar de essas áreas serem naturais, a recuperação das mesmas é
importante. Para que esse processo seja bem sucedido, faz-se necessário evitar qualquer tipo de
stress negativo na área, ao menos no inicio da recuperação, como a utilização de animais para o
pastejo e principalmente interferências de máquinas agrícolas no solo.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação às áreas naturais protegidas no Brasil, o Pampa é o bioma com menor
representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Com base em
estudos das últimas décadas, pesquisadores já consideram que estas são uma das áreas de campos
temperados mais importantes do planeta. A criação de unidades de conservação, a recuperação de
áreas degradadas e a criação de mosaicos e corredores ecológicos são ações prioritárias para a
conservação, juntamente com a fiscalização, o desenvolvimento econômico e social, e acima de
tudo, a educação e a informação, são fundamentais para que a preservação deste bioma seja
possível. Foi constatado de que há falta de apoio de vários órgãos para que a informação correta
seja levada à população, assim, a utilização de dados científicos já publicados nos meios
acadêmicos devem ser adaptados e disponibilizados à população, para que a importância da
preservação do bioma não seja apenas algo estabelecido em legislação e exigido por meios legais,
13
mas algo naturalmente importante para todos os envolvidos direta e indiretamente com as áreas de
campos naturais.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa pecuária municipal. 2004.
Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 19 nov. 2009.
_______. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <http://www.mma.gov.br/portalbio>
Acessado em 04 de julho de 2012
_______. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível
em <http://www.ibama.gov.br/csr> Acessado em 04 de julho de 2012.
BOLDRINI, I. I. Campos sulinos: caracterização e biodiversidade. In: ARAÚJO, E.deL. et al. (Ed.).
Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. Recife: EDUFRPE, 2002.
p.95-97.
CABRERA, A. L.; WILLINK, A. Biogeografia da América Latina. 2. ed. Washington: OEA,
1980.117p.
CARVALHO, P. C. F. et al. Características estruturais do pasto e o consumo de forragem: o
quê pastar, quanto pastar e como se mover para encontrar o pasto. In: Symposium on Strategic
Management of Pasture, 4., 2008, Viçosa. Proceedings...Viçosa, 2008. p. 56-62.
DREGNE, H. E. Desertification of arid lands. In: F. El-Baz; M. H. A. Hassan (ed.). Physics of
desertification. Dordrecht, The Netherlands: Martinus, Nijhoff, 19 p., 1986.
FIGUEIRÓ, A. S.; SELL, J. C. O Bioma Pampa e o Modelo de Desenvolvimento em Implantação
no Alto Camaquã. VI Seminário Latino Americano de Geografia Física, II Seminário Ibero
Americano de Geografia Física. Universidade de Coimbra, Maio de 2010.
FLEISCHNER, T. L. Ecological costs of livestock grazing in western North America.
Conservation Biology, 1994.
GENTRY, A.H. . Endemism in Tropical versus temperate plant communities. In M. E. Soulé (ed.),
Conservation Biology: The Science os Scarcity and diversity, pp. 153 – 181. Sinauer Associetes,
Sunderland, MA, 1986.
HASENACK, H. et al. Mapa de sistemas ecológicos da ecorregião das savanas uruguaias em escala
1:500.000 ou superior e relatório técnico descrevendo insumos utilizados e metodologia de
elaboração do mapa de sistemas ecológicos. Porto Alegre: UFRGS. Centro de Ecologia, 2010.17 p.
(Relatório Técnico Projeto UFRGS/TNC, 4.).
JANZEN, D. H., The eternal external threat. In M. Soulé (ed.), Conservation Biology: The Science
of scarcity and diversity, pp. 286 – 303. Sinauer Associates, Sunderland, MA, 1998b.
INSTITUTO CIÊNCIA HOJE – ICH. Disponível em <http://www.cienciahoje.uol.com.br>
Publicado em 14.10.2010. Acessado em 04 de julho de 2012.
14
MARCHIORI, J. N. C., Vegetação e areais no Sudoeste do Rio Grande do Sul. Santa Maria:
Editora da Universidade de Santa Maria e Unijuí, 1995.
MILTON, S. J.; DEAN, W. R. J.; DU PLESSIS, M.A.; SIEGRIFIED, W. R. A conceptual model of
arid rangeland degradation. BioScience, 1994.
ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Editora Fundação Calouste Gulbekian, 2004.
PALLARÉS, O. R.; BERRETTA, E. J.; MARASCHIN, G. E. The South American Campos
ecosystem. In: SUTTIE, J.; REYNOLDS, S. G.; BATELLO, C. Grasslands of the world. Rome:
FAO, 2005. p. 171-219.
RAMBO, B. S. J. A Fisionomia do Rio Grande do Sul. Jesuítas no sul do Brasil. Porto Alegre:
Livraria Selbach, 1942.
ROVEDDER, A.P. Revegetação com culturas de cobertura e espécies florestais para a contenção do
processo de arenização em solos areníticos no sudoeste do Rio Grande do Sul. Santa Maria, 2003.
120f. Dissertação
(Mestrado em Agronomia). Programa de Pós-graduação em Agronomia. Universidade Federal de
Santa Maria
SOUTO, J. J. P., Deserto, uma ameaça? Estudo dos núcleos de desertificação na fronteira
sudoeste do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: DRNR, Secretaria da Agricultura, 1995.
SUERTEGARAY, D. M. A. Erosão nos campos sulinos: arenização no Sudoeste do Rio grande do
Sul. Revista Brasileira de Geomorfologia, v.12, n.2, 2011.
_________. Geografia física e geografia humana: uma questão de método - um ensaio a partir
da pesquisa sobre arenização. Programa de PósGraduação em Geografia da UFF (aula
inaugural/2010).
_________. Deserto Grande do Sul: Controvérsia. 2 ed. Editora da Universidade/UFRGS, Porto
Alegre, 74 p. 1998.
_________. Geografia No Contexto das Ciências. Boletim gaúcho de geografia, AGB. Porto
Alegre, v.22, p.7-16, 1997.
_________. O Rio Grande do Sul descobre seus “Desertos”. Santa Maria: Editora da
Universidade de Santa Maria, 1995.
_________. Deserto Grande do Sul, Controvérsias. Porto Alegre: Editora da Universidade –
UFRGS, 1992.
_________. Deserto, ação devastadora forjada pela mão do homem. Diário do Sul, Porto Alegre,
1988.
_________. Geografia ainda exige pouco raciocínio. Diário do Sul, Porto Alegre, 1987.
15
SUERTEGARAY, D. M. A.; SILVA, L. A. P. Tchê Pampa: histórias da natureza gaúcha. In: PILAR,
V. de P. et al. (Ed.). Campos sulinos: conservação e uso sustentável da biodiversidade. Brasília:
MMA, 2009. p. 42-59. v. 1.
SUERTEGARAY, D. M. A. ; GUASSELLI, L. A. ; ANDRADES FILHO, C. O. Influencia
morfoestructural en la génesis de los procesos de arenización en Rio Grande do Sul, Brasil. Revista
de Geografía Norte Grande (En línea), v. 1, p. 59-72, 2008.
SUERTEGARAY, D.M.A.; GUASSELI, L.A.; VEDUM, R. MEDEIROS, R. M.V.; BELLANCA,
E.T..; BERTÊ, A.M. DE A. Projeto Arenização no Rio Grande Do Sul, Brasil: Gênese, Dinâmica e
Espacialização. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de
Barcelona. Nº 287, 26 de marzo de 2001
TOWNSEND, C. R.; EGON, M.; HARPER, J. L.; Tradução: Leandro da Silva Duarte.
Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2010.
UAGODA, R. E. S. Degraus de abatimento: estudo comparativo em cabeceiras de drenagem: bacia
hidrográfica do Arroio Puitã e bacia hidrográfica das nascentes do Rio das Antas/RS. Trabalho de
Graduação. Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre. 93 p., 2004.
VERDUM, R. O pampa. Ainda desconhecido. Revista do Instituto Humanitas Unisinos - IHU
Online. São Leopoldo, 7 agosto de 2006, n°: 183, p.4-9.