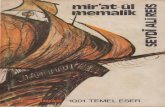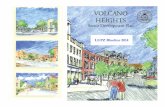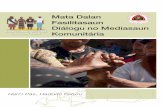ALBUQUERQUE, Pedro Gabriel Reis (2013) - Odamatan - Estudos sobre Timor
Transcript of ALBUQUERQUE, Pedro Gabriel Reis (2013) - Odamatan - Estudos sobre Timor
1. Introdução
! 1.1 Ao analisar, no quadro da CPLP, os diversos centros de criação literá-
ria em língua portuguesa é possível perceber diferentes níveis de produção.
Como prosopopeia de um maior fabrico literário parece adequada a metáfora
do triângulo com vértices infixados em Portugal, Brasil, e um terceiro “vértice-a-
resta” que engloba Angola e Moçambique. Dentro do triângulo é também perti-
nente elencar Cabo Verde. Por seu turno, à luz da metáfora evocada e no que
concerne o âmbito literário, Timor pertence a uma região periférica e engrossa
o grupo dos “parentes pobres” da lusofonia com modesta invenção no domínio
da literatura escrita.
! Muitos são os factores que concorrem para que tal aconteça e que, qua-
se em igual medida, escapam ao escopo da análise aqui encetada. Todavia, é
necessário ressaltar algumas características transversais à quase totalidade
dos países que compõem a CPLP. Desde logo, em relação ao número de falan-
tes, pode-se verificar que a língua portuguesa ocupa uma posição minoritária
no quadro das línguas faladas, mas, concomitantemente não ocupa uma posi-
ção subalterna. Este aspecto espelha uma valorização da língua portuguesa
que lhe confere um determinado prestígio político e relevo social. Por outro
20
TRANSPOSIÇÕES DICOTÓMICAS: A INFLUÊNCIA CULTURAL NA REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA DE LUÍS CARDOSO
PEDRO GABRIEL REIS ALBUQUERQUE
© P
EDRO
G. R
EIS
lado, transparece que a mesma língua não serve como veículo de comunicação quotidiana à
maioria da população e trata-se, sobretudo, de uma língua de escolarização e de acesso a
patamares sociais de maior prestígio.
! 1.2 No panorama sucintamente referido de diglossia ou poliglossia, é comum que o es-
critor se imiscua num universo multilinguístico, no qual a possibilidade de concretização literá-
ria se pode assumir mediante a utilização de diferentes línguas - desde a língua portuguesa
às línguas autóctones. Aqui convergem dois aspectos que é conveniente distinguir: a diglos-
sia resulta de uma situação social, enquanto que o bilinguismo e o poliglotismo deve ser lido
como uma prática individual. O primeiro prende-se com uma partilha territorial entre duas lín-
guas que serão alternadas de acordo com a situação em uso. É o exemplo de Moçambique
ou de Timor em que o português é a língua de instrução, de administração, por vezes da reli-
gião, e também uma ponte de ligação para o mundo ocidental. Em contraste, a língua nativa
é mantida na esfera familiar e informal. Por sua vez, o bilinguismo é um fenómeno individual
na medida em que é possível ao sujeito permanecer monolingue em contexto de diglossia.
! Em consonância com o exposto, inserido em tais contextos, o escritor fará uma escolha
quanto à língua em que se expressará. Relativo a Moçambique, Gonçalves observou, a este
respeito, que para os casos de adopção da língua portuguesa como língua de expressão lite-
rária existem diferentes possibilidades.
Há escritores que adoptam a norma europeia na sua escrita, outros que “salpicam” um discur-so regido pelo modelo europeu de vocabulário em línguas locais, e outros ainda que parecem preferir deixar que as normas do Português produzidas por esta comunidade de locutores se-jam parte do seu discurso literário. (GONÇALVES, 2000:3)
! Sobre esta questão, Luís Cardoso, em entrevista, referiu que a escolha dos timorenses
para a invenção literária costuma oscilar entre o bahasa (língua) indonésio e o português.
Para completar o périplo, é útil perceber que a filiação linguística se cumpre não tão-só com
a língua portuguesa, mas sobretudo com uma língua portuguesa reinventada e revitalizada.
A realização dos enunciados deixa transparecer determinadas pistas culturais que desvincu-
lam a escrita de Mia Couto ou de Luís Cardoso, entre outros, de um eurocentrismo e de uma
língua-nação (Cf. BRUGIONI, 2012). Este fenómeno abeira-se do conceito de ‘literatura homo-
glota’ que comporta os trabalho literários em línguas semelhantes às europeias mas que,
21
não são, rigorosamente, as mesmas línguas. Ou seja, tratam-se de variedades diatópicas de
idiomas como o inglês, francês, castelhano, e português difundidas pelo globo.
! Em articulação com a linha argumentativa assumida, as próprias idiossincrasias na ma-
nipulação da língua são passíveis de configurar uma demonstração do processo de alteriza-
ção, na medida em que demonstram uma identidade diferente da língua-padrão e não se in-
suflam com os códigos culturais e linguísticos eurocêntricos. Mais, as próprias cambiantes
nas realizações dos falantes são indicadores de uma variedade cultural. Não será pois, por
acaso, que muitas propostas de ensino de português, e estratégias de consciência linguísti-
ca, passem pela análise de textos que contenham exemplos como: colocação do pronome
átono antes do verbo (me ajudem); utilização do pronome <lhe> em vez do pronome <o> (eu
lhe imitava); utilização de <nela> em vez de <lhe> (pregar uma partida nela); eliminação do
artigo (meu pai); utilização do verbo <ter> com sentido de <haver> (tinha gente lá). Geralmen-
te, tais variedades são associadas a um espaço geográfico, e deixam transparecer a ideia de
que um dado universo contamina a língua com referências que lhe são próximas.
! É precisamente a tese da transposição do elemento cultural para o romance que se pro-
curará evidenciar na presente empresa. Pelo referido elemento, entende-se não tão-só a pos-
sível intersecção de informação que desvenda um universo extratextual (próximo ou não do
leitor que o ativa), mas sobretudo procurar evidenciar que o fenómeno mimético se alicerça
no modo peculiar como o autor percepciona a própria realidade, e por seu turno, como a pró-
pria cultura influencia o autor na invenção literária. Neste sentido podemos ler em linha com
Culler quando afirma que “to assimilate or interpret something is to bring it within the modes
of order which culture makes available, and this is usually done by talking about it in a mode
of discourse which a culture takes as natural.” (Cf. CULLER, 1975)
! Para o efeito, assumir-se-á como objeto de estudo o mais recente romance de Luís Car-
doso: O ano em que Pigafetta completou a viagem de circum-navegação. Num primeiro mo-
mento buscar-se-á apresentar a personagem histórica que foi António Pigafetta, perceber a
sua relação com a ilha de Timor e consequentemente com o romance. Posteriormente, pro-
blematizar-se-á a cosmogonia timorense e demonstrar-se-á a cosmovisão do povo de Timor.
Concluído o ponto anterior, é crucial buscar intersecções entre o personagem romanesco Pi-
gafetta e um ícone cultural que sirva como termo de verificação do objetivo da tese.
22
2. O Pigafetta-narrador no nascimento literário de Timor
Repouso
sob o bambu antigo dos ossos
pelas hastes antes de Pigafetta
fazer a circum-navegação
da minha dor.
Uma mulher
de olhos silenciosos
troca os cambatics
fibra a fibra
circum-navegação de Timor
Jorge Lautém
! 2.1 A ilha de Timor assume especial relação com o elemento marinho - o mar. O seu cor-
po geográfico assemelha-se a um sáurio com o rosto virado a oriente. As idiossincrasias do
crocodilo - os sulcos de tonalidades verdes que o confundem com o relevo timorense, até à
própria capacidade de submersão e imersão - fazem com que este animal seja prosopopeia
idónea da história geográfica da ilha de Timor.
! A geologia do jovem país revela uma formação diferente das ilhas vizinhas. Timor não
tem origem vulcânica e ter-se-á formado a partir da pressão de uma placa tectónica que fez
um pedaço de terra emergir acima da linha do mar. O crocodilo imiscui-se no mito etiológico
pois imbrica-se com a formação relativamente recente da ilha, e, é hoje o mais estilizado mo-
tivo nas representações nativas. Neste sentido, Cinatti destacaria que
Timor é uma ilha de formação comparativamente moderna. O aparecimento de recifes de coral em altitudes por vezes elevadas e o encaixamento marcado das ribeiras, indício de movimen-tos verticais recentes, confirmam a hipótese de o território ter estado submerso em tempos geo-lógicos não muito recuados, facto !que é corroborado pela mitologia nativa. (CINATTI, 1987:19)
! Sobejamente conhecida pelos mercadores filipinos e chineses que pelo mar se faziam
chegar a esta bela ilha em busca do sândalo branco, a Indonésia Oriental só seria dada a
conhecer aos europeus pela representação do jovem cartógrafo Francisco Rodrigues que
23
serviu o capitão António Abreu numa jornada concluída em 1512. (Cf. LOUREIRO, 1995:31; SOU-
SA, 2001:46) Volvidos dez anos, a ilha “onde nasce o sândalo” receberia António Pigafetta, no-
bre italiano, pajem e cronista do capitão-mor português Fernão Magalhães que capitaneava
a armada que intentava cumprir a viagem de circum-navegação. Ao italiano, chegado a 26
de janeiro de 1522, pertencem os primeiros registos conhecidos sobre os gentios de Timor.
Pigafetta identifica os reinos de Oibich (Oecússi), Lichsana (Liquiçá), Suai e Cabazana (Ca-
manassa) nos seus escritos. Em relação à indumentária, o italiano destacaria a nudez das
mulheres da cinta para cima, assim como a presença variada de ornamentos em ouro e la-
tão, tanto no homem como na mulher. É pertinente destacar que a tradição dos discos de
ouro ou ‘belak’, que torna explícito o valor social do homem pela ostentação do adorno, já
remontava pelo menos ao século XVI quando lemos “Et les hommes vont comme les
24
Podemos reparar nos quatro reinos apontados por Pigafetta. As
pedras ainda que posicionadas erradamente, parecem sugerir as
elevações montanhosas: Cablaque -2340m, Loelaco - 2000m;
Matebian 2370m; Merique 2100m; Ramelau - 2960m.
Livro de Francisco Rodrigues, folha 43. Pelo desenho é
representada a ilha de Alor.
femmes fors quilz ont et portent au col certains bagues d’or grandes et rondes comme un tail-
leur”. (PIGAFETTA, 1525:187)
! 2.2 É precisamente este nome de (António) Pigafetta, personagem biográfico que que-
bra o “silêncio” sobre os gentios de Timor, que Luís Cardoso recupera para o jogo de senti-
dos presente no seu mais recente romance - O ano em que Pigafetta completou a circum-na-
vegação. O corpo literário concretiza o fenómeno da intertextualidade, entre outros, com Re-
quiem para o navegador solitário. E, juntos, os dois romances cobrem o tempo histórico bali-
zado entre os anos precedentes à invasão japonesa, perpetrada em 1942, e o referendo que
restauraria a independência interrompida pelos indonésios.
! Ao adentrarmos no romance parece-nos que a epígrafe alógrafa de Vera Lúcia de Olivei-
ra em No coração da boca, se comparada com a recente história e com o “anexado” conti-
nuum de silêncios, se imbuí de uma certa intenção de recuperação da memória coletiva cuja
exteriorização surge, ainda, envolta numa áurea proibitiva. Neste sentido, a ausência de pon-
tuação pode ilustrar a necessidade de ruptura e um conflito entre o início da parole e o silên-
cio vigente:
Minha história não lhe conto mas se quiser invento Tenho história dentro elas vão nascendo e ficam Remoendo tenho um montão de histórias quanto Mais conto vão ficando verdadeiras Tem gente que chora e diz de onde vou buscá-las Respondo elas estão dentro de cada um de vocês (CARDOSO, 2013:8)
! Recuperado o marinheiro italiano que escreveu sobre Timor, é sob o signo da literatura
que o literato timorense parece assumir a responsabilidade de “perturbador de silêncios” ao
fazer o leitor circular por diferentes cronótopos infixados em factos históricos, e, também, em
personagens de egos experimentais cujas vozes resvalam para a própria história do eu-bio-
gráfico. Assim entrelaçadas, tais premissas permitem experienciar fenómenos complexos,
transversais à sociedade timorense na qual
personagens, paisagens, objetos e eventos interagem e negoceiam entre si práticas e projetos de subjetivação pelos quais seus respectivos mundos são elaborados e subvertidos. E como artista que é, Luís Cardoso nos inicia nesse universo através de linguagem literária magistral. (SILVA, 2011:192)
! Neste sentido e a a respeito da exteriorização, podemos ler, em Luís Cardoso, uivos do
que Deleuze concebeu como “uma literatura menor [isto é, que] não pertence a uma língua
menor, mas, antes, à língua que uma minoria constrói numa língua maior.” (DELEUZE, 2003:38)
25
De acordo com o último autor, a idiossincrasia de tal literatura prende-se com uma impossibili-
dade de escrever porque a consciência nacional é oprimida ou incerta. Em literatura menor
verificam-se elementos transversais como a possibilidade de leitura política, o eu-coletivo e a
desterritorialização da língua. Neste sentido, e servindo como conclusão, podemos ler uma
passagem da primeiríssima página do último romance, na qual Cardoso consagra a voz do
narrador na sandália esquerda, onde bate o coração e que atesta: “falo também pela minha
irmã gémea, a do outro lado, que dizem ser a da sensatez. Deve ser por isso que se mantém
silenciosa. Ralha-me e manda-me calar com uma voz oculta a que chamam consciência.” (CARDOSO, 2013:9)
3. O Pigafetta-personagem na representação literária de Cardoso !
! 3.1 Começando exatamente pelo final do título precedente adentramos na criação literária
de Luís Cardoso. Em entrevista à revista ACIDI (2012:11) o autor quando questionado sobre
quais os temas da sua escrita, responderia: “Sobretudo a História de Timor. Trabalho com
alguns historiadores do ISCTE: António Monteiro Cardoso, Luísa Tiago de Oliveira e Ana Moi-
ta Faria, que me têm ajudado muito, porque eu não sou historiador, mas vou buscar muitos
temas à História.” Este jogo é possível pois o romance ativa um determinado contexto, isto é,
liga-se a um universo de referências extratextuais directa ou indirectamente. “No caso do tex-
to literário, dir-se-á então que o seu contexto compreende elementos como as coordenadas
ideológicas, as visões do mundo, os eventos históricos, os estilos de época, as dominantes
de género, etc.” (REIS, 2008:199)
! A opção de Cardoso pela recuperação de temas históricos relaciona-se com o observado
por Mioara Caragea
A prosa, sobretudo o romance, recuperou a história, no duplo sentido de conto e de narração histórica, resgatando-a da zona para-literária a que esta tinha sido relegada na primeira meta-de do século, e reinventou o romance histórico, reformulando as suas convenções e estratégi-as. O revisionismo histórico, praticado pela literatura, tem um duplo objectivo: requestionar as versões tradicionais da identidade colectiva e ao mesmo tempo tornar semióforos os espaços brancos do passado ignorados até aí pelo discurso histórico oficial. (Caragea, s.d.)
26
! Todavia, o vínculo ou a predileção pelo tratamento do tema histórico não resvala para a
tipologia do romance histórico que pode ser tido como um documento que é ”(i) modelado
sobre a historiografia, focalizando o processo do devir histórico; (ii) respeita os
acontecimentos segundo a versão canonizada da história; e (iii) projecta, através das suas
personagens (tanto as ficcionais como as historicamente atestadas), a realidade externa com
rigor e detalhe.” (Martins, 2004:294) Neste sentido, Cardoso
liberta-se da responsabilidade de fidelidade ao real empírico que um leitor menos avisado lhe poderia exigir. Aliás, a massa dos leitores espera isso mesmo do romance do realismo mágico: que os faça conviver com figuras históricas, lembrando-lhes, de vez em quando, por um passe de mágica, através do fantástico e do maravilhoso, que, na realidade, pode não ter sido bem assim. (LARANJEIRA, 1992:102)
! A recuperação de Pigafetta alicerça-se na intencionalidade de revisionismo historiográfico
mas não se esgota em tal propósito. Antes, permite a criação de um universo feérico alinhan-
do-se com o elemento cultural timorense. Assim, é recuperada a cosmogonia timorense que
mescla real e irreal, verosímil e inverosímil onde figuras oníricas como ‘fadas’, ‘pontianas’,
‘fantasmas’ coexistem e coabitam o universo tido como real.
4. Diálogo de aproximação - Uma lulik (casa sagrada) e Pigafetta
!
! 4.1 Para uma leitura do universo em Luís Cardoso a partir do elemento ‘casa’ podemos
propor duas opções interligadas: a primeira consagra a “casa” como o universo romanesco
dual intraliterário e extraliterário, ou seja, o próprio romance é a casa onde coabitam os per-
sonagens e onde podemos inferir suas possíveis intersecções com um universo referencial,
externo ao mesmo; por outro lado, podemos concretizar uma aproximação aos pressupostos
simbólicos assentes na cosmogonia sui generis que consubstancia a casa timorense como
um pequeno universo em miniatura. Assim, a relação céu (morada espiritual) com o interior
da terra (residência dos espíritos infernais) de chave dicotómica é mediada pela casa de pila-
res assentes no chão e que se ergue em direção ao céu. A casa cumpre uma simbologia de
elementos diametralmente opostos com um elo de ligação: o mundo dos vivos - que recupe-
ramos no romance em questão. Assim, a hipótese interpretativa do romance, que aqui desen-
27
volvemos, aproxima a simbologia da casa e o personagem Pigafetta, na medida em que am-
bos lidam com símbolos polarizados e lhes servem de mediação.
! 4.2 É de crer que a cosmogonia timorense assenta em pilares dicotómicos, também
visível no “uso de pares de portas [que] reflecte a tendência das culturas timorenses para
classificar o mundo e as experiências em opostos complementares, incluindo interior/exterior,
quente/frio, esquerdo/direito, extremidade/tronco, vida/morte e sol/lua.” (BARRKMAN, s.d.:40)
Fazendo valer tal premissa centramos o enfoque da análise em Pigafetta. A figura do sacris-
tão, de nome exatamente igual ao italiano, cumpre o meridiano mediador entre a panóplia de
pólos opostos. A sua viagem pelo território timorense, em busca de um livro que ateste a sua
relação familiar com António Pigafetta (o italiano) logra diluir as fronteiras emparelhadas do
tempo e do espaço, da realidade e da ficção.
! O espaço bifurca-se entre um Oeste-Indonésia-Opressor que cumpre o potong bebek
angsa (matar o pato em indonésio) e um Este-Timor-Oprimido que encontra paralelismo na
rivalidade lorosae e loromono ou Kaladi e Firaku. Tais divisões criam
ressentimentos sempre pontos a serem despoletados em tempos de crise. Entre muitas outras coisas, os Firaku afirmam-se os mais antigos em Timor (“os de dentro”); os Kala-di acusam os Firaku de terem estado do lado colonial na grande revolta de 1912; os Fi-raku acusam os Kaladi de terem sido a “porta grande” da invasão indonésia. (SEIXAS; ENGELENHOVEN, 2006:21)
! Também em relação ao tempo, notamos o binómio antagónico presente-passado. Verifi-
cam-se recorrências a analepses num jogo em rodopio pelo tempo da invasão japonesa, e,
da presente integração indonésia. Pelo meio, a problematização da historiografia na qual infe-
rimos um recado, em jeito de carnaval literário, sobre o perigo da manipulação da verdade
quando se evoca aquele
que andava a tirar o retrato a toda a gente. Pretendia realizar uma exposição em Portu-gal sobre os povos de Timor. Algumas moças tiveram de baixar as lipas que lhes cobri-am os seios. Para mostrar como viviam nas suas aldeias. Embora andassem cobertas havia muito. Batizadas. Algumas estudavam no colégio das Clarissas. (CARDOSO, 2013:31)
! 4.3 Tal tópico questiona o espaço virtual entre “o que se diz” e “o que realmente é” e in-
flui para a dualidade real-irreal. Este tema imbrica-se em diferentes momentos na narrativa,
intersecta episódios com referentes extratextuais e: i) sugere-lhes nova interpretação (cf.
caso do navio Arbiru); ii) ao camuflar a identidade de Malisera (identificado como Adriano da
28
Fonseca em Requiem para o navegador solitário) mas cuja variedade de máscaras identitári-
as confunde a onomástica e a própria referência social, dado que ambas se diluem em figu-
ras outras como o cipaio Marcelo, Raio de Luz, Surafitun/Diogo; ou mesmo um asuwain cujo
povo timorense o representa artisticamente pela estátua, e, inclusive pela simbólica máscara
que permite a farsa; ao explorar igualmente, iii) o universo místico e onírico timorense com
as figuras denominadas de ‘pontiana’, mulheres-ave portadoras de elevado agoiro para
quem as vislumbra na noite ou o dur-hui, um animal híbrido de figura humana; iv) e, ainda,
ao recuperar mitos fundacionais nublados como a fundação de Los Palos por Pedro Mayor
das “Islas Perfumadas”. Neste palco de sentidos diluídos entre extremos polarizados e no
qual Pigafetta se movimenta, temos ainda, oportunidade para ler o humor fino do actante prin-
cipal quando este clama sofrer de escorbuto, como se o Pigafetta biográfico contaminasse o
Pigafetta literário.
! 4.4 Destacando o personagem principal, satirizado em “piga-mane, piga-feto”, (piga-ho-
mem, piga-mulher em língua tétun-prasa) este concilia, de certo modo, no seu corpo de ho-
mem com jeitos de mulher, a polarização masculino-feminino. Pigafetta, homem de mãos
delicadas, comprava baton e mascava. Se o leitor tiver presente o romance Olhos de coruja,
olhos de gato bravo acederá a um estereótipo pejorativo que consagra a masca de areca,
bétel e cal como ritual feminino quando lemos: ”Mateus mascava às escondidas. (…) Muitas
vezes esquecia-se de apagar as nódoas vermelhas da boca (…) Quem iria oferecer emprego
a um rapaz com lábios tinturados como os de uma mulher? (CARDOSO,2001:55-57)
! Pela viagem narrativa é-nos permitido inferir alguns aspetos relacionais entre estes dois
elementos. Neste ponto, notamos que a relação homem-mulher ou sol-lua é particularmen-
te violenta e infeliz. A mulher do “malae”, isto é, do estrangeiro, do (homem) que ali não per-
tence, e que carrega com ele esse epíteto como estigma ilustrativo da fugacidade da sua pre-
sença, será a “nona”. A tradução “neutra” para este termo é a de ‘mulher’ que ora oscila para
a conotação de “vendida” ou ‘prostituta’ ora comporta a acepção de “abandonada”. Aliás, a
consciência de abandono iminente paira sempre sobre a relação e é também visível na per-
sonagem principal de Requiem para o navegador solitário, “Catarina, a Grande...” cujo insul-
to estava nas reticências, e que ia sendo nona dos Capitães de Porto que lhe ofertavam ga-
tos como ritual iniciático de concubinato. Por seu turno, em O ano em que Pigafetta comple-
tou a circum-navegação, Isadora é prosopopeia da complexa relação entre os universos, dirí-
29
amos bélicos, másculo e feminil. Amada pelos indígenas, preferia, todavia, os malaes ou bai-
nós. Porém, quando se encontra “abandonada”, sem marido e desprotegida, experiencia o
drama da mulher frágil e cede à protecção de António Sakunar. Este, sob o signo do amor
obsessivo, sucumbe ao ascendente do ciúme - oriundo dos tempos em que Isadora preferira
o “bainó” - e perpetra múltiplos maus tratos como punição pelo passado. Por sua vez, tam-
bém Catarina padece de semelhante destino, embora lhe possamos entrever episódios inte-
ressantíssimos que lhe conferem uma enorme sensibilidade e o resvalo para a exaltação do
valor feminino. Na análise desenvolvida, interessa também destacar o fenómeno de ligação
entre os mundos metaforizados pelos diferentes géneros na passagem “fez-me a oferta de
dois tais. Com um cobriu-se a ele próprio pela cintura e pediu-me que fizesse o mesmo com
o outro.” (CARDOSO, 2007:68) É de salientar que aos olhos da cultura timorense também pode-
mos inferir o tais como entidade de ligação, uma oferenda interpretada como um gesto simbó-
lico de união entre doador e beneficiário, consumado de forma a ligá-los. (cf. BARRKMAN, s.d.)
! 4.5 Ainda a propósito da análise de símbolos opostos, os personagens de Isadora e
Sakunar são altamente densos, na medida em que permitem a leitura da alterização, ou
seja da consciência do ‘outro’ enquanto portador de traços identitários distintos. No que con-
cerne a(s) identidade(s), tais personagens “fronteiriços” permitem a ligação entre os elemen-
tos dicotómicos - branco e nativo. Isadora fora fazer o curso a Portugal, era culta, livre e boni-
ta. Tinha outro estatuto, e podia andar de minissaia, dançar o yé-yé ou apanhar boleia de um
bainó. As filhas dos liurais não podiam incorrer em igual comportamento. Por seu turno, Antó-
nio Sakunar evidencia o que Tyson (2006:427) sintetizaria como “mimicry, the attempt of the
colonized to be accepted by imitating the dress, behavior, speech, and lifestyle of the coloni-
zers.” Fenómeno especialmente visível quando lemos “queria ter um emprego na administra-
ção pública. Desta forma podiam tratá-lo como senhor António. Podia beber cerveja Laurenti-
na e fumar Português Suave.” (CARDOSO, 2013: 200)
! Outro aspecto curioso reveste-se no facto de que António parece um personagem dife-
rente nas diferentes cambiantes do nome próprio (António, Sakunar, Atói), sendo este últi-
mo, a forma de tratamento com que Pigafetta espera obter maior carinho ou tolerância do
seu agressor António Sakunar. A questão onomástica recupera a máscara de que falamos
anteriormente. Se considerarmos nas palavras de Feijó (2011:91) o nome como elemento da
constituição da persona social, um elo que liga a produção biológica e a reprodução social,
30
na exacta medida em que o nome é suposto representar a pessoa que o transporta, lemos
esta estratégia como uma forma de ocultação per si, onde a alteração de nomes dilui o seu
referente, ou seja a identidade do seu portador. A discrepância nos nomes parece sugerir um
diferente comportamento, na medida em que também recupera papéis distintos. Recorde-se
a título de exemplo, que os homens da Resistência Timorense possuíam nomes de código
que concretizavam o efeito descrito anteriormente. Assim, José Maria Vasconcelos tinha
como nome de código Taur Matan Ruak, Taka Dalan, Salasá ou Matebian; Konis Santana,
NKS, Makikit, Manuel Arcanjo Gonçalves, Mana Sara, entre outros, eram nomes de guerrilha
de Antonino Santana. (MATTOSO,2005:24-26)
! No que concerne o personagem Pigafetta, a alterização não se esgota nos trejeitos de
mulher em corpo de homem. Também a cor clara da pele do sacristão contribui para a segre-gação entre escuros e claros. Este tópico acarreta uma dimensão funcional e operatória do
conceito de alterização. Para Pigafetta a pele clara aproxima-o do “familiar” italiano, contudo,
conterrâneos apelidam o albino de “bicho”. Se a espaços podemos perceber um certo prestí-
gio associado à pele branca, menos óbvia, parece-nos a sugestão da cor albina, mais próxi-
ma do malae, e o destratamento por “bicho” que nos remete para o universo das lendas nati-
vas timorenses que afirmam que os brancos não eram mais do que fantasmas vindos debai-
xo da terra, do submundo. (cf. CARDOSO, 2003) De acordo com a última pista interpretativa po-
demos intersectar novamente a ‘casa’ e ‘Pigafetta’ na medida em que ambos se interligam
com os antepassados, com o mundo dos vivos, e com o universo onírico dos espíritos nefas-
tos. Conforme destacaria Thomaz (2008:268) a disposição da casa “tem uma significação mito-
lógica: a casa é um microcosmo, em que o sótão corresponde à morada dos antepassados,
a parte residencial ao mundo dos vivos e a parte inferior ao dos espíritos infernais.”
! A simbologia anterior estende-se à relação vida-morte onde a oposição semântica não
se cumpre de forma perfeitamente oponível conforme pressupostos eurocêntricos. Para além
da presença de seres fantásticos, o próprio fenómeno da morte é complexo. Na religião tradi-
cional
a morte (mate) é derivada da perda da alma (klamar), localizada na cabeça durante a vida do indivíduo. Antes da sua saída ou expulsão por um espírito maligno, a alma é chamada klamar moris (alma viva), fora do cadáver é klamar mate. A alma não morre, passa para o outro mundo, o mundo sobrenatural. Mas não imediatamente... (ESPERANÇA,2001:145)
31
! Se evocarmos o episódio da avó Aurora que só diz adeus ao seu espírito após o “reen-
contro adulterado” com o “marinheiro português” - interpretado por Demétrio - que foi brilhan-
te na forma como conseguiu convencer o espírito a largar o corpo da anciã, tal momento pa-
rece coadunar-se com o afirmado por Esperança pois o espírito fica “a meio”, pendente no
corpo, entre a vida e a morte, antes do abandono final.
! Em consonância com o exposto, a sugerida alternância de Pigafetta nos seus papéis de
sacristão, homem, mulher, bicho encontra paralelismo com variação da fisionomia da casa
de acordo com o espaço, as condições meteorológicas e os recursos naturais. Para uma lei-
tura eficaz desta evidência apresenta-se o seguinte esquema em tabela:
!
32
Elementos da casa
Localização geográficaLocalização geográficaLocalização geográficaLocalização geográficaLocalização geográficaLocalização geográficaLocalização geográficaElementos
da casaBobonaro Maubisse Baucau Lautém Viqueque Suai Oecusse
Cobertura ArredondadaCónica ou elíptica, quase
piramidal
Arestas arredonda-das, com 8
planos inclinados
4 águas muito inclinadas
2 águas principais e uma 3ª que
define a frente
4 águas inclinadas
Quadrangular (litoral) ou
Cónica (interior)
Forma da planta
Retangular 11m x 7m Retangular
Octogonal ou quadrangular
(Nunira)Quadrangular Retangular
14m x 7mQuadrangula
rRetangular 10m x 7m
Esqueleto
-2 grandes pilares, sagrados, de pau-ferro e mangueira; - Os 2 pilares definem a compartimentação da casa em 3 zonas: varanda, conexão central, outra eventual divisão
-4 pilares de “palavão” preto;- uma única divisão
-8 pilares de eucalipto;-Cerca de 8 metros de altura;-3 estruturas com três planos de pavimento
-4 pilares de pau-rosa que apoiam o vigamento;-Pavimento elevado a mais de 3 metros do solo
-Postes de tamarindo, jaqueira ou estacaria; -Divisão em três comparti-mentos: quarto de mulheres, quarto de homens, cozinha e arrecadação
3 plataformas
- pilares de eucalipto branco;
- 3 zonas distintas: 1 varanda e 2 divisões emparelha-das
Durabilidade 10-15 anos 30-40 anos 50-60 anos > restantes > restantes 30-40 anos 10 anos
! Completando a tabela anterior, acrescentamos os apon-
tamentos recolhidos por Cinatti que pela presença de material iconográfico transmitem uma ideia clara do conjunto de dife-renças identificadas nas casas sagradas distribuídas pelo terri-tório. Os telhados de colme compridos e verticais, assim como o içar da casa através de postes, justificam-se pela ele-vada pluviosidade. A casa sagrada de Lautém, é tida como das mais belas e é o centro prototípico da uma lulik em Timor-Leste.
! 4.6 Sob o signo da viagem, ‘Pigafetta’ e ‘circum-na-
vegação’, e também a própria casa, conforme se verá
mais adiante, carregam uma pertinente simbologia asso-
ciada ao universo da expedição. Trata-se, porém, de
uma viagem em redondo e de regressos como uma ver-
dadeira leitura em anáfora, isto é, uma necessidade de
manter um símbolo em destaque e verificar a evolução
da sua acepção em momentos ulteriores da narrativa (Cf.
SILVA 2003). Atente-se que o próprio retorno pode ser lido
como uma transparência cultural, na medida em que uma das pedras basilares das crenças
timorenses é a natureza cíclica da vida. A este respeito leia-se como exemplo os antepassa-
dos que começam no mundo inferior (rai husar - umbigo da terra) e ascendem ao mundo su-
perior e masculino controlado por Maromak. Daqui estão destinados a regressar ao mundo
inferior novamente. (Cf. HICKS 1987)
! Por seu turno, para conciliar romance e casa, recorremos a uma das variadas pistas pre-
sentes no incipit (Cf. REIS 2008) que é a ocultação de “alguém” no interior da habitação quan-
do lemos “Tess esqueceu-se de um maço de cigarros em cima da mesa (...) como se soubes-
se que alguém fosse precisar de fumar” (CARDOSO, 2013:27). Tal jogo concretiza duas dicoto-
mias num só momento: o início e final do romance numa leitura anafórica para a qual chamá-
mos a atenção previamente. Este momento é especialmente rico no fecho de jogos de senti-
do que fomos explanando sumariamente. A casa como que um organismo vivo, recupera o
personagem de Surafitun, Malisera ou Raio de Luz que nela se escondia: “uma parede falsa
abriu-se e de lá de dentro saiu um homem com uma barba de muitos anos.” (idem) E juntos,
33
Fig.3 – Esquema tipológico das plantas e alçadas
das casas sagradas de acordo com a localização
geográfica. (CINATTI, 1987:57)
casa e personagem, permitem de novo uma ligação com diferentes mundos pela recupera-
ção do passado e pela consequente confrontação do mesmo. Tal ligação é metaforizada nas
questões que os múltiplos personagens perguntam ao vulto. Paralelamente, a coopresença
de Malisera, na e com a casa, infixam-no desta feita no presente, no “mundo dos vivos” que,
ironicamente, acaba por ser fugaz dado que Sakunar o cobrirá com o silêncio eterno.
! Por último, parece-nos que a dicotomia final será a ocultação e desocultação da ‘verda-
de’ - permitida por Pigafetta e pela casa - e que é ativada pelo mediador-leitor que a desenca-
deia e lhe atribui sentido, interpretando-a no palco fulcral da referida ‘casa’. Encerrando a cir-
cum-navegação, retornamos ao início da nossa análise textual - ao mar e ao mito. A este res-
peito Pedro Rosa Mendes redigiria
casa extraordinária, construída na filiação mítica e arquitectónica do barco em que chegaram os primeiros antepassados (…) Navegação ancorada no meio da ilha, com búzios sem água, abrigo sem porta, altar sem sacerdote, canoa sem ondas. (ROSA MENDES, 2004:25)
! Tendo tal assunção presente, intersectamos pela última vez o símbolo-mor e Pigafetta,
na medida em que as crenças mitológicas timorenses conservam a ideia da origem externa e
de um povoamento concretizado através de imigrações marítimas sucessivas (representadas
na parte superior da casa e que sugerem um barco invertido) passíveis de entrecruzar a uma
lulik com o célebre cronista italiano e a sua aventura marítima.
Referências bibliográficas
BAKHTIN, Mikhail (1981) - Forms of time and of the chronotope in the novel - The Dialogic Imagination. 1981
BARRKMAN, Joanna - Husi bei ala Timor - Sira nia liman. Dili: Secretaria do Estado e da Cultura, Direção Na-cional da cultura, s.d.
BRUGIONI, Elena (2012) - Mia Couto - Representação, História(s) e Pós-Colonialidade. Vila Nova de Famali-cão: Edições Húmus, 2012
CARAGEA, Mioara s.v. “Metaficção historiográfica” - E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. de Car-los Ceia, consultado em 6-11-2013
CARDOSO, Luís (2003) - A última morte do coronel Santiago. Lisboa: Dom Quixote, 2003
34
__________ (2013) - O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação. Porto: Sextante Editora, 2013
__________ (2001) - Olhos de coruja, olhos de gato bravo. Lisboa: Dom Quixote, 2001
__________ (2007) - Requiem para o navegador solitário. Lisboa: Dom Quixote, 2007
CINATTI, Ruy (1987) - Arquitectura Timorense. Lisboa: I.I.C.T., 1987, pp.16-25
CULLER, Jonathan [1975] - Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. Lon-don: Routledge, 2002
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2003) - Kafka - Para uma literatura menor. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002
ESPERANÇA, João Paulo (2001) - Estudos de Linguística Timorense. Aveiro: SUL, 2001, pp.145-148
FEIJÓ, Rui Graça - “Tradução” e “Falsos amigos” (2011) - Questões em torno do uso de “nomes portugueses” in Timor-Leste in Ita maun alin...O livro do irmão mais novo: afinidades antropológicas em torno de Timor-Les-te. Lisboa:Ed. Colibri, 2011
GONÇALVES, Perpétua (2000) - Para uma aproximação Língua-Literatura em português de Angola e Moçam-bique in Via Atlântica, IV, pp. 214-223
HICKS, David (1987) - Space, Motion and Symbol in R.S. Kipp & S. Rodgers (eds), Indonesian Religions in Transition, Tuscon: University of Arizona Press, pp. 35-47, 1987
LARANJEIRA, José Pires (1992) - De letra em riste - Identidade, autonomia e outras questões na literatura de Angola, Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe. Porto: Ed. Afrontamento, 1992
LOUREIRO, Rui Manuel (coord.) (1995) – Onde Nasce o Sândalo – Os portugueses em Timor nos séculos XVI e XVII, Algueirão: Editorial do Ministério da Educação, 1995:31
MARTINS, Adriana Alves de Paula (2004) - “Um escritor encara-se no espelho: Gore Vidal em the Golden Age” in Máthesis, nº12 - XXIV Congresso da APEAA (Associação Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2004
MATTOSO, José (2005) - A dignidade - Konis Santana e a Resistência Timorense. Lisboa:Temas e Debates, 2005
PIGAFETTA, Antonio (ca) - Journal of Magellan's Voyage (manuscrito original, Biblioteca da Universidade de Yale EUA), 1525
REIS, Carlos (2008) - O conhecimento da Literatura - Introdução aos estudos literários. Lisboa: ed. Almedina, 2008
SEIXAS, Paulo Castro; ENGELENHOVEN, Aone (Orgs) (2006) – Diversidade Cultural na Construção da Na-ção e do Estado em Timor-Leste. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2006.
35
SILVA, Fátima (2003) - The role of lexical relations in the configuration of anaphoric relations in Revista da Fa-culdade de Letras Línguas e Literaturas. Porto, XX, II, 2003, pp. 657-672
SILVA, Kelly; SOUSA, Lúcio (org.) - Ita maun alin...O livro do irmão mais novo: afinidades antropológicas em torno de Timor-Leste. Lisboa:Ed. Colibri, 2011
TYSON, Lois – Critical Theory Today – A user-friendly guide. New York: Routledge, 2006
36