A TEORIA DOS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA - UMA EXPERIMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA SEGURANÇA...
Transcript of A TEORIA DOS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA - UMA EXPERIMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA SEGURANÇA...
A TEORIA DOS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA - UMA
EXPERIMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA SEGURANÇA REGIONAL
Brian Jefferson Quirino de Guzman1
Fábio Rodrigo Ferreira Nobre2
Resumo:
A dimensão regional de segurança vem ganhando progressivo destaque nas agendas
internacionais de pesquisa, em especial, após o fim da Guerra Fria (GF), e do domínio do
conflito bipolar de superpotências. Uma das principais contribuições para os estudos de
segurança é dado pela Escola de Copenhague (EC), centro de pesquisa ligado ao Copenhagen
Peace Research Institute e liderado por Buzan e Wæver. A EC foi responsável pela
implementação de diversos conceitos de fundamental aporte a tais estudos, como a Teoria dos
Complexos Regionais de Segurança e o processo de securitização. O presente artigo objetiva
comprovar a capacidade empírica de alguns destes conceitos através de uma sucinta aplicação
dos mesmos em dois casos distintos, o conflito colombiano e o filipino. O seguinte artigo
divide-se numa estrutura clara, da seguinte forma: após a introdução, é realizada uma
apresentação teórica e conceitual na qual expomos o arcabouço analítico que desejamos
utilizar. A próxima seção introduz uma apresentação histórica das dinâmicas em questão, a
fim de demonstrar razões para que seja possível abordá-las sob a perspectiva da segurança
internacional, tais como conflitos de baixa intensidade ou litígios fronteiriços. Em seguida,
abordamos a aplicação dos conceitos apresentados no primeiro capítulo, nas dinâmicas
escolhidas. Por fim, a última seção traz os resultados da pesquisa e as considerações finais.
Palavras-chave: Complexos Regionais de Segurança, Securitização, Colômbia, Filipinas.
1 Graduando do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
[email protected] 2 Aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Bacharel em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Membro associado da Associação Brasileira de Estudos de Defsa (ABED).
Considerações Iniciais
O fim da Guerra Fria ocasionou uma grande mudança nos estudos de segurança, e
embora não seja possível afirmar que estes estudos entraram numa crise de identidade, é
prudente analisar uma ruptura seguida por uma grande adaptação da sua agenda aos novos
temas. Uma das mudanças mais notáveis na agenda de segurança é a alteração de eixo do
nível global para o nível regional. Esta mudança é uma conseqüência direta do fim da
bipolaridade, a nova estrutura tendia a formulação de uma „teoria de dois mundos‟, dividindo
o sistema em um núcleo pacífico, e uma periferia turbulenta, passível de análise sob as
„antigas regras do jogo‟.
Novas preocupações tomavam conta da agenda, havia o temor de que conflitos
regionais e outras problemáticas, tais como o terrorismo e os rogue states, pudessem
representar um risco vindo da zona de conflito para a zona de paz. A nova agenda de
discussão, agora regional, abordou diversas questões, como a proliferação no leste e sul da
Ásia, e conflitos intra-estatais na América Latina. Desta maneira, o nível regional adquiria,
então, o destaque que o havia sido negligenciado (ou subordinado ao nível global) durante
todo o conflito bipolar.
O presente artigo propõe uma análise de alguns conceitos da Segurança Internacional,
especificamente de segurança regional. Para tanto, compreende-se a importância de uma
revisão bibliográfica e utilização do debate teórico sobre segurança regional, em especial,
utiliza-se da teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS) cunhada pelos autores
advindos da Escola de Copenhague, Barry Buzan e Ole Wæver (2003), para compreender
melhor o funcionamento das dinâmicas de segurança no nível regional. Além desta teoria,
outros conceitos da mesma temática, tais como a idéia de Penetration, Overlay, e o
importantíssimo conceito de Securitização, serão utilizados e aplicados. Lançamos mão,
também, dos conceitos de risco e ameaça, contribuições de Robert O. Keohane e Wallander
(1999).
A Escola de Copenhague é um dos principais centro de formação de pensadores do
âmbito da segurança internacional e dos Estudos de Paz. A Escola é composta por pensadores
pertencentes ao Copenhagen Peace Research Institute (Copri), e é responsável pela inclusão
de diversos dos abordados novos temas à agenda da segurança e das relações internacionais.
Além dos Complexos Regionais, a EC nos apresenta também, outros conceitos que a
aproximam da corrente construtivista das Relações Internacionais, tais como o processo de
securitização, que aponta fenômenos da segurança internacional como socialmente
construídos, através de um procedimento discursivo, pautado essencialmente na dinâmica
entre o que é dito e para quem é dito, referencial e objeto. Mostram que as ameaças são
construídas; são trazidas da condição inicial em que têm uma dada natureza e transformadas
para adquirir uma nova natureza.
Conceitos como overlay e penetration também são de primordial importância para
uma correta análise de dinâmicas de segurança internacional. Para que a aplicação destes
conceitos diversos seja feita de forma clara, escolhemos duas dinâmicas de segurança
presentes em duas regiões distintas, a relação Brasil-Colômbia, na América do Sul, e a relação
China-Filipinas, na Ásia, a fim de demonstrar como o bom emprego de tais conceitos é eficaz,
mesmo em localizações diametralmente opostas. As dinâmicas analisadas se assemelham
bastante no que diz respeito a uma interdependência de segurança, fortalecida pelos
processos de securitização e dessecuritização, esta pesquisa compartilha com Buzan e Wæver
a idéia de que a segurança deve ser observada na maneira como ela é percebida e tratada pelos
Estados.
Mais ainda, não é nossa intenção esgotar o tema de Segurança Regional através de um
debate conceitual entre as diversas correntes de pensamento que permeiam esse campo, mas
ao contrário, gerar uma discussão capaz de enriquecer essa área de estudo através do maior
entendimento de seus conceitos chave, aliados à análise de casos pertinentes e ilustrativos que
facilitem essa compreensão da realidade. O seguinte artigo divide-se numa estrutura clara, da
seguinte forma: após a introdução, apresentamos um ligeiro apanhado histórico da Escola de
Copenhague e dos autores que nos propomos a abordar. Em seguida é realizada uma
apresentação teórica e conceitual na qual expomos o arcabouço analítico que desejamos
utilizar.
A próxima seção introduz uma apresentação histórica das dinâmicas em questão, a fim
de demonstrar razões para que seja possível abordá-las sob a perspectiva da segurança
internacional, tais como conflitos de baixa intensidade ou litígios fronteiriços. Em seguida,
abordamos a aplicação dos conceitos apresentados no primeiro capítulo, nas dinâmicas
escolhidas. Por fim, a última seção traz os resultados da pesquisa e as considerações finais.
A ESCOLA DE COPENHAGUE
Geograficamente localizada na Dinamarca e epistemologicamente localizada entre as
correntes mais positivistas e abordagens mais críticas, a Escola de Copenhague (EC) é uma
das principais fontes de contribuições ao estudo da Segurança Internacional, desde o início
dos anos 90. Encabeçada por Barry Buzan e Ole Wæver, a Escola é composta por pensadores
pertencentes ao Copenhagen Peace Research Institute (Copri), e é responsável pela inclusão
de diversos novos temas à agenda da segurança e das relações internacionais.
A EC é marcada por uma tentativa de trabalhar questões mais setoriais, sob
perspectivas não tão tradicionalistas, como o construtivismo, o que a colocou numa posição
distante dos estudos estratégicos e de toda a tradição vigente nos Estados Unidos à época.
Embora comumente focada na segurança européia, os estudos da Escola, especialmente de
Buzan e Wæver, são de suporte fundamental à análises de segurança regional em qualquer
parte do mundo.
Esta instituição surgira frente a uma preocupação com os investimentos militares
ocorrentes nos anos 80, enquanto EUA e União Soviética reaqueciam a Guerra Fria através
da instalação de armas nucleares e escudos antimísseis em distintas áreas do planeta. A EC
representa, desta forma, um receio com as “limitações da abordagem unicamente estratégico-
militar” (VILLA & SANTOS, 2010, p. 118) e uma reação e aprofundamento de outros
aspectos até então ignorados no estudo da segurança.
O objeto referente dos Estudos Estratégicos é o Estado, na verdade, são os grandes
defensores de uma abordagem materialista que considera a posição estatocêntrica como um
aspecto dado, e não algo passível de discussão. As ameaças, para estes, são, primariamente,
externas, significando uma ameaça vinda de outro Estado, privilegiando os conflitos inter-
estatais. Reagindo a esta maneira monolítica de abordagem, a Escola de Copenhague
também viria a apresentar uma variedade maior no tocante aos níveis de análise.
As „novas correntes‟ adentram os estudos de segurança de maneiras muito distintas
entre si, durante o debate entre wideners e deepeners, podemos destacar o construtivismo, que
nesse momento, subdivide-se em duas novas correntes, o construtivismo convencional –
racionalista, considerado muito próximo aos tradicionalistas, por coincidências como, por
exemplo, de referencial, o Estado, e foco no comportamento deste Estado. Sua principal
inovação vem na proposta de tomar a segurança estatocêntrica, militar, tradicional, e explicá-
la por meios ideacionais, como crenças, normas, valores e cultura. – e o construtivismo crítico
– que tinha como referencial outras coletividades, além do Estado, esta corrente destaca o
papel da língua e adota uma metodologia sociológica e pós-positivista, faz uma crítica a
teorias como a da Paz Democrática.
Esta primeira seção do trabalho procura expor, de maneira sucinta, algumas das
importantes contribuições da Escola de Copenhague para a segurança internacional, em
especial a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS) e os conceitos relacionados
à securitização, com o intuito de demonstrar a importância dos mesmos para uma análise no
nível regional da segurança internacional. Adotaremos, aqui, uma postura epistemológica
associada ao construtivismo padrão ou convencional, por considerar as teorias utilizadas na
pesquisa como pertencentes a tal corrente.
A CONTRIBUIÇÃO E BUZAN E WÆVER
Para melhor compreender o debate teórico em questão, nos utilizaremos de dois
exemplos de dinâmica de segurança regional. A relação Brasil-Colômbia, na América do Sul,
e a dinâmica China-Filipinas, na Ásia. Antes de executar a então proposta aplicação dos
conceitos nestes dois exemplos práticos, em duas regiões tão distintas, apresentamos, em
seguida, a forma como estes são debatidos pela Escola em questão.
Para que se tenha uma compreensão clara do significado dos desdobramentos das
dinâmicas de segurança em voga, é primordial conhecer o debate teórico em questão. Uma
vez que as relações apontadas na presente pesquisa situam-se sob a perspectiva dos estudos de
segurança, faz-se mister a incorporação do debate sobre o tema, mais especificamente sobre a
segurança regional. Como aponta Rodrigo Tavares (2008) “qualquer conceituação de
regionalismo deve englobar sua natureza complexa e multidimensional.”3 Por conseguinte,
apresenta-se o debate teórico sobre as teorias dos Complexos Regionais de Segurança (CRS),
introduzido por Buzan e Wæver (2003), segundo os quais, a proximidade geográfica entre
Estados facilita o transbordamento de um aspecto, a interdependência de segurança está,
normalmente, organizada em blocos baseados em regiões: os complexos de segurança. Para
Buzan, no mundo pós-Guerra Fria o nível regional consegue destacar-se mais como o lócus
de conflito e cooperação para os Estados. Em termos metodológicos, esta escola lança mão do
nível de análise estrutural e/ou global, sendo o Estado a principal unidade de análise e o
referente de segurança (BUZAN e HANSEN, 2009).
Segundo esta teoria, a região seria um recorte espacial crucial para o entendimento das
ameaças, sendo o conceito de Complexos Regionais de Segurança (CRS) uma chave
interpretativa fundamental. Segundo os autores, um CRS pode ser definido como um conjunto
de unidades no qual os principais processos de securitização, dessecuritização, ou ambos, são
tão interligados que os seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados
3 “Any conceptualization of regionalism has indeed to acknowledge its complex and multidimensional nature.”
(TAVARES, 2005, p.3) Tradução do autor – Grifo nosso.
ou resolvidos de forma independente (2003, p. 491). Deve-se entender as unidades de que
falam os autores como sendo os Estados e o contexto em que a interdependência é decisiva
para explicação é a região.
Existem também os subcomplexos, definidos da mesma maneira que os CRS, mas
compreendidos dentro de um CRS maior. Os subcomplexos não são um fator necessário nos
CRS, mas também não são incomuns, especialmente quando a quantidade de Estados no CRS
é grande. Tomando como pressuposto que os Estados em questão – Colômbia e Brasil / China
e Filipinas – compartilham de uma externalidade em comum, uma problemática que viaja
mais facilmente por suas fronteiras, por estarem geograficamente mais próximos. Destarte,
podemos doravante classificar as dinâmicas de segurança dos países como sub-complexos do
CRS maior onde estão inseridos.
O conceito do qual nos utilizaremos para tratar a questão de tais dinâmicas de
segurança (o Complexo Regional de Segurança), também poderia ser compreendido como um
sistema regional. Para David Lake e Patrick Morgan (1997) um sistema regional é “um
conjunto de Estados afetados por, pelo menos, uma externalidade4, transfronteiriça, mas local,
que emana de uma área geográfica em particular”.5 (1997, p. 48) Partindo deste pressuposto,
podemos analisar que os autores consideram que mesmo os fatores locais, podem exercer
efeitos – que podem ser danosos (costs) ou benéficos (benefits) – aos outros Estados que
compartilham dos desdobramentos do problema. Os autores explicitam que um sistema
regional de segurança se dá quando tais externalidades representam uma ameaça real à
segurança física de indivíduos ou governos dos outros Estados.
Este debate, em especial, nos direciona a uma diferenciação básica entre os estudos
provenientes da Escola de Copenhaguen, de Buzan e Wæver, e aqueles apresentados por Lake
e Morgan. Devemos compreender uma distinção fundamental no tocante aos postulados
epistemológicos. Para Lake e Morgan, positivistas, ameaças regionais são produzidas, em
grande medida, como externalidades (negativas). Para Buzan e Wæver, ameaças são
socialmente construídas, não existem, necessariamente, no plano objetivo. Um complexo
regional de segurança é uma construção histórica e social, para Lake e Morgan, é objetiva,
dada a dimensão concreta da realidade geográfica. Desta forma, dentro do debate em apreço, é
possível reconhecer uma face do debate entre o realismo e o construtivismo das Relações
Internacionais.
4 Que se compreenda externalidade como “Uma ação de segurança tomada por um estado e não simplesmente
destinada a reduzir o bem-estar de um segundo" (P.49) 5 “a set of states affected by at least one transborder but local externality that emanates from a particular
geographic area” Tradução do autor.
Para Rodrigo Tavares (2008) complexos regionais são “marcados por baixos níveis de
integração regional, enredados por conflitos inter-estatais e intra-estatais. Eles correspondem
a regiões onde o principal ator internacional - o Estado - luta pela sobrevivência, segurança e
poder.” O autor ressalta que, nestas situações, a paz é tratada apenas como a ausência de
guerra, confundindo-se com o conceito básico de Galtung.6 Além disso, Tavares explicita que,
como a paz e a segurança são “bens públicos regionais” que precisam de mecanismos de
cooperação a serem produzidos, o fornecimento desses bens em um complexo regional é
escasso e deficiente.
Os conceitos supracitados se assemelham bastante no que diz respeito a uma
interdependência de segurança, fortalecida pelos processos de securitização e
dessecuritização, mais abordados adiante, esta pesquisa compartilha com Buzan e Wæver
idéia de que a segurança deve ser observada na maneira como ela é percebida e tratada pelos
Estados. Demonstrando, desta maneira, como uma externalidade, uma problemática de
segurança em comum – neste caso a crise colombiana – sofre um processo de spill over7,
transbordando suas fronteiras e atingindo países vizinhos e seu bem estar, e como a
securitização é feita, por parte do país receptor, apontando de que maneira acontece a
percepção deste país quanto aquela problemática.
Ampliando a intensidade do problema, soma-se a presença estadunidense, nas duas
dinâmicas abordadas, para compreender este fenômeno e suas implicações, lançamos mão da
idéia de penetration e overlay, termos cunhados por Buzan e Wæver para identificar o
envolvimento de uma super-potência em outro CRS que não o seu. Enquanto a penetração
ocorre quando uma potência de fora faz um „alinhamento de segurança‟ com Estados de
dentro de um CRS, podemos identificar um overlay no momento em que:
o interesse de uma grande potência transcende a mera penetração e vem dominar
uma região tão fortemente que o padrão local das relações de segurança cessa de
operar (...) normalmente resulta no estabelecimento de longa duração de forças
armadas da grande potência na região, e no alinhamento dos estados locais de
acordo com os padrões de rivalidade. (2003, p. 61)
A existência de uma considerável quantidade de contingente militar proveniente dos
Estados Unidos nas regiões é o tópico desta dinâmica de segurança, que se relaciona com as
questões de overlay e penetration tratadas nas teorias. Faz-se notável, desta maneira, a
importância da compreensão da forma como o país receptor interpreta a presença
6 Sua definição de paz negativa era „a ausência de guerra, violência física de grande-escala ou violência pessoal‟
(GALTUNG, 1969, p.34) 7 Que se compreenda spill over como um “transbordamento” da problemática em questão para além das
fronteiras do Estado.
estadunidense, pujante no aspecto militar. Se tais atividades representam algo que oferece
perigo ao seu bem estar, ou a segurança física do Estado em questão.
Uma vez demonstrada a fundamental contribuição dos autores para o problema em
apreço, lançamos mão de uma discussão complementar sobre ameaças. Wallander e Keohane
(1999) propiciaram debate sobre como as idéias influem na percepção dos atores sobre o
quais são as fontes de insegurança dos Estados. Para esse refinamento contribuem com o
conceito de risco. Para os autores, quando um Estado considera que está “enfrentando uma
probabilidade positiva de que outro Estado lançará um ataque ou buscará ameaçar sua força
militar por razões políticas, ele enfrenta uma ameaça”. 8
Entretanto, para caracterizar-se uma ameaça, uma situação deve obedecer algumas
premissas: (a) o Estado “ameaçador” em questão precisa ter as capacidades para efetuar o
ataque e (b) também precisa apresentar motivos para tanto, no ponto de vista do seu alvo em
potencial. Quando estas condições não são obedecidas, Wallander e Keohane esclarecem que
o Estado está perante a um risco.
É possível observar que as idéias e percepções exercem um papel primordial no
aparato conceitual destes autores. Ainda assim, lhes falta considerar um processo
intermediário, a partir do qual uma questão de segurança se torna um risco, ou passa a ser
interpretado como ameaça. Compreendemos que uma abordagem mais construtivista permite
captar essa transformação a partir do conceito de “securitização”. Segundo Buzan e Wæver
(2003, p. 491), a securitização funciona como um processo discursivo no qual é formado um
entendimento intersubjetivo dentro de uma comunidade de que algo é uma ameaça existencial
a um valor (território, soberania, princípios, vida) de um objeto de referência (Estados,
grupos, indivíduos). Ademais, este processo torna possíveis ações urgentes e medidas
excepcionais para lidar com a respectiva ameaça. Cabe destacar que os conceitos como risco,
ameaça e securitização seriam de fundamental importância para a análise de percepção de um
Estado em relação ao Estado “ameaçador”.
Ainda no âmbito ideacional, a tipologia utilizada pelos membros e seguidores da
Escola de Copenhague sobre amizade (amity) e inimizade (enmity) é uma ferramenta
interessante. De acordo com Buzan e Wæver (2003), a situação de segurança em um CRS
varia entre os pólos de amizade e inimizade. Do mais conflitivo para o mais pacífico, o padrão
de segurança varia de formação de conflito, regime de segurança à comunidade de
8 “…facing a positive probability that another state will either launch an attack or seek to threaten military force
for political reasons, it faces a threat.” (WALLANDER e KEOHANE 1999, P.91)
segurança. Seguindo estes padrões, poderíamos classificar o CRS sul-americano e o asiático
como “regimes de segurança”.
UMA EXPERIMENTAÇÃO DOS CONCEITOS
Uma vez dissecados os conceitos a serem aplicados – a ver, complexos regionais de
segurança, subcomplexos, securitização, spill over, overlay, penetration, risco e ameaça –
torna-se necessário compreender a sua aplicação. Para tanto, nos utilizaremos de duas
dinâmicas de segurança consideradas de vital importância para o funcionamento de dois
Complexos Regionais de Segurança distintos, a relação Brasil – Colômbia, no Complexo
Sul-Americano; e a relação China-Filipinas, no complexo Asiático.
Esta seção se concentra em apresentar, de forma sucinta, as duas dinâmicas em voga,
utilizando para isso os conceitos supracitados. Objetivamos, com tal processo, apontar a
validez empírica de tais conceitos e teorias mesmo em duas regiões distantes no espaço
geográfico e mesmo em relações de segurança.
O Caso Colombo-Brasileiro
Antes de se compreender o conflito colombiano, objeto de nossa análise nesta seção,
faz-se necessário situá-lo dentro de um Complexo Regional de Segurança, o sul-americano.
Exercício este, realizado por Barry Buzan e Ole Wæver no seu Regions and Powers (2003),
para os autores, embora o continente não seja palco de grandes embates entre os seus Estados,
não é possível afirmar que seja uma região pacífica. Historicamente, é possível analisar o
subcontinente como possuidor de uma realidade livre de grandes conflitos interestatais. Desde
a Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX, a região não é palco de conflitos de
alta intensidade entre os países sul-americanos. Contudo, uma avaliação como essa não resiste
a uma análise que fuja à dicotomia simplificadora de Guerra e Paz. Mesmo não constituindo
uma arena freqüente de guerras entre Estados, a América do Sul enfrenta conflitos de baixa e
média intensidade. Além disso, a distribuição de poder material entre os Estados da região é
extremamente assimétrica (MARES, 2001; ALSINA JÚNIOR, 2010).
O Complexo Regional de Segurança sul-americano é marcado, primordialmente,
por questões fronteiriças, como as travadas por Brasil e Argentina por longos anos. No
entanto, tal CRS também é caracterizado por embates relacionados à questões culturais, como
o idioma; além do constante spill over de políticas de um Estado para outro.
O conflito ora abordado, a relação Brasil-Colômbia, não responde unicamente a
nenhum destes aspectos, mas à um pouco de todos. As dimensões cultural, política e
fronteiriça permeiam a problemática. Contudo, esta se concnetra em apenas uma localidade
do Complexo Sul-Americano, destarte, é cabível classificar este embate como pertecente a um
subcomplexo do CRS em questão, o subcomplexo andino-amazônico.
A Colômbia é um Estado historicamente frágil, o seu processo de construção é
fundamentado em guerras civis e disputas políticas de grande porte, como a La Violencia9,
que pautaram uma espécie de desequilíbrio entre o governo e outras forças que se
desenvolveu cada vez mais, ao longo dos anos, até tornar-se uma realidade insustentável.
O país tem, atualmente, graves problemas com uma desintegração nacional. O governo
não tem controle sobre todas as regiões que formam seu território, uma vez que os grandes
grupos narcoguerrilheiros do país controlam várias áreas do Estado. Isto acontece graças a
uma tentativa de acordo proposto pelo então presidente Andrés Pastrana10
, entre as duas
partes, segundo o qual os grupos e o governo negociariam certas áreas – chamadas “zonas de
despejo”, nas quais não haveria presença de exército ou polícia – o plano era de que os grupos
guerrilheiros abandonassem suas atividades ilícitas e passassem a promover a reestruturação
dos locais e da sua população, através de atividades que favorecessem o desenvolvimento
local11
. No entanto, ao firmar um acordo de militarização com os Estados Unidos, o governo
parece descumprir sua parte, os grupos se rebelam ao sofrer um forte ataque do exército
colombiano, e o domínio das áreas foge das mãos do Estado, a essa altura, a política de
Pastrana chegou a ficar conhecida como uma “política de mão dupla”. Desta maneira, o
governo terminou por “conceder uma zona desmilitarizada equivalente a 40% do território
nacional”.12
A existência de tais grupos com total controle sobre áreas que deveriam estar sob a
égide do Estado caracteriza tal desintegração, que é fortemente agravada pela relação de tais
9 La Violencia foi uma época de conflitos armados intraestatais na Colômbia, compreendido entre os anos de
1948 e 1858. Os embates se deram entre membros de dois partidos colombianos, entre si, e contra os
guerrilheiros dos, então recém formados, grupos paralelos.
10 Andrés Pastrana Arango – Presidente da Colômbia no período de 1998 até o ano de 2002.
11 O governo de Andrés Pastrana foi marcado pela tentativa de negociação com os grupos armados, em especial
as FARC, por estas representarem a maior das forças insurgente na Colômbia. Um exemplo óbvio destas
tentativas de negociações foi a criação de tais zonas desmilitarizadas, onde os líderes do governo e da guerrilha
deveriam se reunir para tentar chegar em um acordo em comum, visando o processo de paz.
12 (VILLA e OSTOS, 2005. p.7)
grupos com o narcotráfico. São movimentos cujo surgimento oscila entre reivindicar o status
de movimentos de libertação nacional ou com a simples função de proteger traficantes; para
financiar suas ações tais grupos passaram a desempenhar algumas atividades relacionadas à
produção de coca13
. Tal afinidade entre os grupos guerrilheiros e o narcotráfico tornou a
situação colombiana ainda mais precária e, numa tentativa de combater o problema, o
governo acaba por, em 1999, apelar para uma ajuda estrangeira, por parte dos Estados
Unidos, o Plano Colômbia.
É válido destacar que a produção de entorpecentes no Estado colombiano crescia de
sobremaneira, nas décadas de 1980 e 1990, simultaneamente a um processo pelo qual era
diminuída nos países vizinhos, através de políticas diretas com investimento americano, em
complemento a uma política de substituição de produtos ilícitos por outras culturas. Em
especial no Peru e na Bolívia, tais políticas foram eficazes, em particular por que tais países
uma política de apoio por ao reforço externo parte de seus governos. Ainda assim, as roças
de coca migraram fortemente para a Colômbia, enriquecendo os cartéis e alicerçando as
ações dos grupos guerrilheiros. Ainda assim, o sucesso nos investimentos estadunidenses nas
regiões vizinhas foi um grande ponto de fomento à investida no território colombiano.
Apesar do seu caráter cultural, fortemente ligado às origens do estado colombiano,
este conflito acabou por se regionalizar durante o seu desenvolvimento. Destarte, o conflito
colombiano tornou-se dinâmica de segurança principal do subcomplexo andino-amazônico
de segurança. Tal processo de regionalização fica claro se observarmos as freqüentes
transgressões de territórios de países vizinhos, cometidas pelos guerrilheiros, e pelas
incursões realizadas pelas forças armadas colombianas. Diversos são os exemplos dessas
atividades em relação ao Brasil, por duas ocasiões, “o Exército Brasileiro (EB) teve contato
com guerrilheiros: uma em 1991, no Rio Traíra, e outra em 2002, nas proximidades de Vila
Bitencourt.” (RIPPEL, 2004, p. 93). Entretanto, a “crise regional desencadeada pela incursão
colombiana em território equatoriano, em março de 2008” (BORBA; CEPIK, 2010, p. 87) é
o maior exemplo de spill over do conflito colombiano para o subcomplexo em questão.
Quanto à participação estadunidense, deve ser levado em consideração o Plano
Colômbia, um pacote de combate as narcoguerrilhas, que foi apresentado por Pastrana
oficialmente aos EUA, apesar deste país ter participado da sua elaboração em 1999 (no auge
da citada política de mão dupla do estadista colombiano), embora tenha sido apenas
13
A Colômbia é o líder mundial no ramo da cocaína com produção estimada pela UNODC em 600 toneladas, o
que seria maioria absoluta mundial. (Anexo “A”, Mapa 1). (UNODC, 2008. p.69)
ratificado por Uribe14
, quando o programa de militarização do combate ao narcotráfico foi
consolidado. Só após 2001 os narcotraficantes passaram a ser identificados como
narcoguerrilheiros. Guzzi15
resume o plano objetivando os seguintes pontos: “(i) processo de
paz; (ii) economia colombiana; (iii) desenvolvimento social e democrático; (iv) luta contra o
“narcotráfico”; (v) reforma do sistema judicial e proteção aos direitos humanos” (GUZZI,
2006, P.62).
Como é perceptível, o pacote não surgira com o objetivo único de militarizar a luta
contra o tráfico na Colômbia com força suficiente para exterminar as narcoguerrilhas, além
disso, o plano parecia compreender outros âmbitos, como o social e político, além do
discurso pró-direitos humanos, segundo o Estado colombiano, seria um “plano para a paz,
prosperidade e fortalecimento do Estado”. Entretanto, ao longo das suas transformações, o
Plano Colômbia deixou de lado, paulatinamente, os outros pontos de apoio, concentrando-se
no engajamento armado contra os grupos que desestabilizam o país. Isso fica claro, se
apontarmos que, na sua gênese, um montante de 76% dos recursos do pacote era voltado para
a área social. Entretanto, num processo que se confunde com o aumento da securitização das
políticas estadunidenses, após os ataques de 11 de setembro em Nova Iorque, o plano foi
assumindo um caráter puramente militar.
No contexto internacional da Guerra Global contra o Terrorismo (GWAT) lançada
pelo governo Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001, Uribe tornou usual a
expressão “narcoterrorismo”, como forma de unificar as duas ameaças e intensificar a
participação estadunidense no combate aos grupos colombianos. Torna-se visível, aqui, a
importância do processo de securitização. Utilizando o discurso, o presidente Uribe tornou
a, então ameaça nacional, num problema de segurança também para os Estados Unidos,
provocando uma intensificação no combate, por parte daquele país.
Com um apoio funcional da Base de Manta, no litoral do Equador, podemos supor que
aproximadamente quinhentos soldados e agentes de inteligência norte-americanos estariam
alocados naquela base para monitorar aviões e plantações ilícitas na região sudoeste da
Colômbia, além daqueles que já existem, monitorando ações ou mesmo representando
contingente efetivo no Estado colombiano. Desta maneira, como apontam Villa e Ostos:
(...) esse posicionamento geoestratégico tem levado alguns autores a levantar a tese
– que a princípio pode parecer exagerada – de que a combinação entre militarização
14
Álvaro Uribe – Presidente da Colômbia desde o ano de 2002 até o ano de 2010..
15 (2006, p.62)
do combate ao narcotráfico e Plano Colômbia estaria operando uma redefinição dos
interesses norte-americanos na América Latina. Seria uma estratégia em que
Washington, já dominando seu mare nostrum caribenho, procuraria agora um
controle efetivo dos Andes, “essa terra nossa da América do Sul”. 16
Desta maneira, chegamos a outro conceito de fundamental importância utilizado pelos
teóricos de Copenhague. É perceptível a pujante atuação estadunidense no conflito
colombiano, uma vez que a penetração ocorre quando uma potência de fora faz um
„alinhamento de segurança‟ com Estados de dentro de um CRS, temos uma comprovação
empírica de penetration dos Estados Unidos no Complexo Regional Sul-Americano. No
entanto, não é possível classificar tal atuação como um overlay, pelo menos por enquanto.
Embora já exista um contingente militar americano na região, o padrão local das relações de
segurança não cessou de operar. Isto se dá, em grande medida pela balanceamento realizado
pelo Estado Brasileiro naquela região.
Uma clara militarização na região, entretanto, causaria, decerto, uma profunda
oposição por parte de países vizinhos, entre estes, o Brasil, uma vez que o país objetiva em
suas políticas alcançar e/ou manter o status de uma liderança e potência regional. Para
compreender a natureza do Plano Colômbia, em especial os seus impactos para os interesses
brasileiros na região, podemos, então, nos basear no posicionamento brasileiro e verificar se
as autoridades de tal Estado consideram aquele um processo ameaçador para a sua condição
no subcontinente sul-americano.
Partindo da perspectiva brasileira, podemos observar a questão colombiana não se
trata de uma ameaça, uma vez que as forças em questão, guerrilha, forças armadas
colombianas ou exército estadunidense não representam, pelo menos não simultaneamente as
duas premissas para tal, as capacidades para efetuar o ataque e/ou motivos para tanto, no
ponto de vista do seu alvo em potencial. Ainda assim, é possível compreender que os eventos
na Colômbia podem ser tratados como um risco, e, primordialmente, como uma
problemática que pode evoluir para algo maior. Além disso, torna-se explícita a ausência de
um processo de securitização claro e nítido quanto a esta questão. Tal carência faz com que o
Estado brasileiro não possua uma postura oficial frente ao Plano Colômbia e seus impactos.
O caso Sino-Filipino
16
(VILLA & OSTOS, 2005. p.10)
Para possibilitar uma abordagem eficaz do caso Sino-Filipino dentro dos parâmetros
conceituais propostos por esse artigo, faz-se necessário contextualizar o objeto de análise
segundo os limites geográficos e teóricos que o definem. Dessa forma, observaremos a China
e as Filipinas como nações que apesar de serem imensamente distintas na maioria de suas
características básicas: território, regime político e economia, vivenciam os mesmos
processos de interdependência de segurança à medida em que compartilham dos mesmos
desafios, notadamente as disputas fronteiriças que têm escalado significativamente em 2011.
Assim sendo, a aplicação dos conceitos de securitização, penetration e overlay na análise
dos litígios de fronteira Sino-Filipinas se mostrará uma ferramenta objetiva e eficaz, ao
retratar a dimensão regional e o escopo localizado do potencial conflito entre as duas nações
asiáticas. Nesse sentido, é importante observar que os conflitos e as ameaças à segurança dos
Estados viajam mais facilmente à curtas distâncias, dentro de uma lógica regional (Buzan e
Wæver, 2003).
Partindo dessa estrutura de análise e valendo-se da Teoria dos Complexos Regionais
de Segurança (RSC) para definir os limites geográficos das questões de segurança tratadas
entre os dois países, podemos observar que semelhante ao caso Colombo-Brasileiro, China e
Filipinas pertencem a um Complexo maior, que se divide sucessivamente em complexos
menores e subcomplexos. O Super Complexo Asiático abrange todo o referido continente, e
configura-se geograficamente como um dos maiores do mundo. China e Filipinas estão
inseridas no East Asian RSC, que além de englobar toda a Ásia Oriental também abrange o
continente australiano. Dentro desse complexo as Filipinas fazem parte do Subcomplexo
do Sudeste Asiático, uma região que historicamente é permeada de disputas e rivalidades
inter-estatais.17
Tratar de segurança internacional na Ásia é uma tarefa ampla e desafiadora, uma vez
que a própria forma com a qual as nações asiáticas lidam umas com as outras é, em certos
pontos, imensamente diferente dos países asiáticos. Historicamente todas as nações que hoje
compõem o subcomplexo do Sudeste Asiático, no qual se inserem as Filipinas, estiveram
envolvidas de alguma forma em conflitos intra-regionais. Isso foi resultado, em grande
medida, da extensa influência estrangeira ocidental e da cultura colonialista. Os movimentos
de independência e guerras civis antecederam, tiveram início e ultrapassaram os anos de
Guerra Fria fizeram da região uma das mais voláteis do mundo, ao mesmo tempo em que
17
A divisão da Ásia em Complexos Regionais de Segurança é abordada por Barry Buzan em: Buzan, Security
Architecture in Southeast Asia: The interplay of Regional and Global Levels, The pacific Review, Vol. 16, No.
2, Routledge, 2003.
acompanhou o surgimento do que viria a se tornar um dos mais bem sucedidos experimentos
de cooperação multilateral do mundo, a ASEAN.18
A criação da ASEAN em muito
influenciou as relações entre a República Popular da China e as nações do Sudeste Asiático,
notadamente as Filipinas. A forte influência norte-americana na região foi um dos principais
incentivos à consolidação da ASEAN como um entendimento de segurança. Em sua agenda
estava a mitigação de ideais comunistas que irradiavam, em grande parte, da China. O fato
de as Filipinas terem sido durante quarenta e oito anos, uma possessão norte-americana, e
posteriormente um protetorado antes de se tornar oficialmente independente em 1946
contribuiu ainda mais para o histórico de tensões entre os dois países, uma vez que a
presença militar norte-americana no país foi maciça durante todo o século XX e permanece
assim até hoje.19
Somente em 1975 as relações entre os dois países foram normalizadas ao
ponto do diálogo e intenções de cooperação (PEREIRA, 2003). Essa mudança aconteceu em
um período em que as nações fundadoras da ASEAN desfrutavam de um avanço
significativo em sua autonomia política no campo da segurança, alavancada sobretudo pela
sobrevivência da ASEAN em seus dez primeiros anos. Em 1976, seus membros assinaram o
TAC (Tratado de Amizade e Cooperação) que instituiu muitos dos princípios básicos que
regem as relações dentro da organização até hoje (MARCHIORI, 2006).
Ainda que de forma geral as relações Sino-Filipinas não tenham se deteriorado desde
então, a natureza competitiva comum às nações asiáticas nutriram uma série de questões
internacionais que de tempos em tempos geram tensões entre os dois países. Para efeito desse
estudo, nos concentraremos no litígio pela posse das Ilhas Spratley, um arquipélago
localizado no Mar do Sul China.
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a disputa pelas Ilhas Spratley têm sido um
objeto de constante conflito entre a China, as Filipinas, Vietnã, Taiwan, Malásia e Brunei
Darussalam, todos reivindicando soberania sobre o arquipélago. A importância estratégica
das ilhas, localizadas no caminho das principais rotas marítimas do Mar da China é um algo
reconhecido e altamente cobiçado por todas essas nações, sobretudo a China que desde os
18
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) foi criada em 1967 por Tailândia, Indonésia, Filipinas,
Malásia e Singapura. Hoje abarca todas os países do sudeste asiático com exceção do Timor Leste.
19 Até Novembro de 1992, em concordância com o Acordo de Bases Militares de 1947,Os Estados Unidos
Mantiveram e operaram grandes complexos na Base Aérea Clark, Complexo Naval Subic Bay, e diversas
instalações subsidiárias menores nas Filipinas. Em Agosto de 1991, negociadores de ambos os países chegaram a
um acordo sobre o rascunho de um projeto para uso do Complexo Naval de Subic Bay por forças Norte-
Americanas por mais 10 anos. Disponível em: Departamento de Estado dos EUA-
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2794.htm
anos 90 experimenta uma ascensão meteórica na escala de poder econômico e militar na
Ásia. As interações relativamente amistosas entre China e Filipinas, dois dos principais
litigiosos, não impediram a escalada das tensões em volta da disputa pelas ilhas.
Dentro desse contexto, é possível enxergar um claro processo de Securitização da
temática por parte de ambas as nações. Entendendo que a transformação de uma
problemática política em uma questão de segurança está baseada primordialmente no
discurso de seus interlocutores, faz-se necessário destacar as recentes declarações do
Ministro das Relações Exteriores das Filipinas, Alberto Del Rosario, que afirmou que as
Filipinas estão prontas para resistir a um ataque.20
Mais ainda, o discurso do Ministro Del
Rosario foi proferido na capital norte-americana, em visita com a Secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton. Esses fatores também elevam as evidências de Securitização da
temática por parte da China que declararam através de seu Ministro do Exterior Hong Lei
que as Filipinas deveriam cessar qualquer iniciativa unilateral que viria a ferir a soberania da
China, agravando a situação na região das Ilhas. O ministro acusou ainda as Filipinas de
lançarem comentários irresponsáveis que não condizem com os fatos.21
A presença de navios
de combate chineses na região desde Maio desse ano apenas confirmam o fato de que ambos
os países tratam a questão como um problema de segurança, evidente pelos alertas e
acusações mútuas de quebra de soberania do Estado.
Uma vez demonstrada a Securitização da problemática, é importante apontar a forte
influência norte-americana no assunto. Ainda que não exista um Overlay norte-americano
na região, é possível identificar o processo de Penetration de interesses estadunidenses na
questão, uma vez que a presença militar chinesa em uma área de vital importância
geoestratégica mina a influência sobretudo naval dos Estados Unidos naquelas águas. O fato
do discurso de Del Rosario ter sido proferido em consonância com a reafirmação das
parcerias militares entre EUA e Filipinas pode ser facilmente interpretado como uma aliança
de conveniências e interesses sobre a posse das ilhas. A capacidade única de projeção de
poder dos Estados Unidos é possivelmente o motivo pelo qual os norte-americanos são
capazes de gerar Penetration em diversos RSCs por todo o mundo, não sendo diferente no
caso do Subcomplexo do Sudeste Asiático.
20
Discurso do Ministro das Relações Exteriores das Filipinas, Alberto Del Rosario:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2794.htm
21 http://www.reuters.com/article/2011/06/08/china-philippines-sea-idUSL3E7H81HH20110608
Os conceitos de Risco e Ameaça, por sua vez, podem ser aplicados ao litígio das
Ilhas Spratley se atentarmos para o processo de escalada do conflito. A história de
disputas e conflitos na Ásia, de forma geral, contribui para uma contínua percepção de Risco
entre as nações. Em outras palavras, a maioria dos vários litígios que persistem até hoje estão
muitas vezes a um discurso de extrapolarem o campo político e se tornarem questões graves
de segurança. Os recentes desenvolvimentos na questão das Ilhas Spratley mostram que as
Filipinas já enxergam a presença chinesa como uma Ameaça. Isso ocorre pelo claro
reconhecimento filipino de que a China tem ampla capacidade de mobilizar material bélico
para tal manobra, algo provado pela presença agressiva de navios de guerra chineses no
arquipélago, e possui sobretudo motivo para tal confrontação. O discurso da quebra de
soberania é algo comum entre os dois países, assim como os avisos de que retaliações são
legítimas como forma de defenderem a integridade territorial de suas nações. O fato de
ambos considerarem as Ilhas Spratley como parte de seu território cria um limbo
extremamente perigoso, onde defensores e agressores se confundem com a mesma facilidade
e tendem a se afastar cada vez mais do campo político e dos diálogos diplomáticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contemporaneamente, a dimensão regional da segurança tende a ser um objeto de
destaque nos estudos estratégicos e de defesa. Na questão teórica, perspectivas não
positivistas passam a contribuir de forma expressiva para a compreensão da nova realidade
pós-era bipolar. Entre as quais, a Escola de Copenhague é uma das mais importantes.
Segundo Buzan e Hansen (2009), representantes da respectiva escola, o período pós-guerra
fria e a redução da presença e influência das superpotências (overlay) em várias regiões do
mundo permitiram a re-emergência de dinâmicas endógenas de segurança e conflito nestes
espaços geográficos. Buscando estudar as transformações na estrutura internacional de
segurança, Buzan e Wæver (2003) criam a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança
(RSCT). Segundo esta teoria, a região seria um recorte espacial crucial para o entendimento
das ameaças, sendo o conceito de Complexos Regionais de Segurança (CRS) uma chave
interpretativa fundamental.
Visando atingir uma validação empírica de diversos conceitos do âmbito da segurança
regional, nos propomos apresentar duas dinâmicas de segurança, ambientadas em regiões
distintas, e com diferentes motivações e desenrolar. Foi objetivado comprovar a possibilidade
de efetiva aplicação dos conceitos nos então abordados conflitos. O primeiro conflito em
questão é a histórica crise colombiana, e como reverbera na região, quanto aos países
vizinhos, especialmente a fronteira com o Brasil. O segundo caso abordado se dá entre a
China e as Filipinas, e seu desenrolar na região.
Quanto à problemática sul-americana, que se arrasta por longas décadas e tem raízes
históricas importantes, buscou-se demonstrar como o conflito atingiu um estágio insustentável
pelo Estado colombiano, forçando-o a apelar ao auxílio estrangeiro. Demonstrou-se o papel
fundamental do Plano Colômbia, que se desenvolveu como uma forma de trazer ao país
alguma esperança de reestruturação, após diversas tentativas fracassadas, por parte do seu
governo, de reorganizar um país que parecia rachar. A cooperação internacional aparecera
como solução prática e funcional para os problemas da Colômbia. Da mesma forma, o pacote
representa a final inserção estadunidense no conflito, ampliando o processo de penetration na
região, e regionalizando o embate, transbordando-o segundo a definição de spill-over. Por
parte do Brasil, torna-se visível o lapso de atenção dado ao conflito por muito anos, tornando
deficitária a securitização do tema. Nos últimos anos, foi possível observar que a preocupação
quanto a problemática aumentou, e o conflito passa a ser considerado como um risco, pelo
Brasil.
O Litígio Sino-Filipino pelas Ilhas Spratley é um estudo de caso em que se observa a
aplicação eficaz e objetiva dos conceitos de segurança regional abordados nesse artigo.
Entendendo que os conflitos tendem a seguir lógicas regionais, passando por processos de
Securitização e Spillover, elementos extremamente condicionados às dinâmicas dentro das
próprias regiões, optamos por concentrar os esforços dessa pesquisa em duas regiões em que
fosse possível aplicar os mesmos conceitos e obter resultados satisfatórios no entendimento de
cada problemática. O processo de escalada no litígio pelas Ilhas Spratley é um claro exemplo
das possibilidades empíricas de aplicação da Teoria dos Complexos Regionais de Segurança,
uma vez que os conceitos chave para tal abordagem se mostraram ferramentas de imenso
valor na análise dos desdobramentos da disputa. Mais ainda, a estrutura regional, que não
necessariamente limita a relação global dessa abordagem teórica impede o esgotamento da
temática, ou o comprometimento do conteúdo que é melhor explicado e compreendido dentro
do escopo geográfico, político e teórico que foi proposto e buscou ser atingido nesse artigo.
Os conceitos aplicados atingem com satisfação suficiente o papel de ferramentas de
análise de segurança regional, ao menos nos casos abordados, respondendo de forma quase
completa as questões levantadas, como pode ser observado na Tabela 1 – Anexo “A”. Essa
variada gama de conceitos e abordagens que possibilitam ao estudioso da segurança conseguir
formular um valioso arcabouço que alicerce a sua pesquisa, fazem da Escola de Copenhague
uma fonte do que há de mais sofisticado e sólido no estudo da Segurança Internacional.
REFERÊNCIAS
ALSINA Jr., João Paulo Soares. Política Externa e Poder Militar no Brasil: Universos
Paralelos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009
BBC NEWS. Spratly Islands Row: Philippine Triple riles China. Disponível em:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14230708 Acessado em 11/09/2011.
BUZAN, Barry; HANSEN, Lene. The key questions in international security studies: the
state, politics and epistemology. In: The evolution of international security studies.
Cambridge /New York: Cambridge University Press. 2009.p. 21-38.
BUZAN, Barry; WÆVER, Ole. Regions and Powers: the structure of international
security. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2003.
BUZAN, Barry. Security Architecture in Asia: The Interplay of Regional and Global
Levels. The Pacific Review, Vol. 16, No. 2, Rutledge, 2003.
GALTUNG, J., Violence, peace and peace research, Journal of Peace Research, 6(3). 1969
GUZZI, André Cavalier. As Relações Eua-America Latina: Medidas e Consequências da
Política Externa Norteamericana para Combater a Produção e o Tráfico de Drogas Ilícitas.
São Paulo: UNESP – UNICAMP – PUC/SP, Março, 2008.
LAKE, David, MORGAN, Patrick. Regional Orders: Building Security in a New World.
Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 1997
MARCHIORI, Frederico. Avanços e Retrocessos no Regionalismo no Sudeste Asiático.
Rio de Janeiro: Fundação Alexandre de Gusmão. 2006
MARES, David R. Violent Peace: militarized interstate bargaining in Latin America. New
York: Columbia University Press, 2001.
PEREIRA, Rui. A Questão do Mar do Sul da China no Contexto das Relações China/ Países
ASEAN. 2. Disponível em: http://www.ciari.org/investigacao/mar_sul_china.pdf Acessado em
21/09/2011, 2003.
REUTERS. China Scolds Philippines over Disputed Waters. Disponível em:
http://www.reuters.com/article/2011/06/08/china-philippines-sea-idUSL3E7H81HH20110608
Acessado em 21/09/2011
TAVARES, Rodrigo. Understanding Regional Peace and Security: A Framework for
Analysis. UNU-CRIS Working Papers, O-2005/17. Disponível em:
<http://www.cris.unu.edu/fileadmin/workingpapers/20051205112546.O-2005-17.pdf.>
Acessado em 19/04/2010, 2005
US DEPARTMENT OF STATE, Remarks with Philippines Foreign Secretary Alberto Del
Rosario. Disponível em: http://www.state.gov/secretary/rm/2011/06/166868.htm Acessado
em 11/09/2005
VILLA, Rafael Duarte; SANTOS, Norma Breda. Buzan, Wæver e a Escola de
Copenhague. In: MEDEIROS, M. et al (org.). Clássicos das Relações Internacionais. São
Paulo: Hucitec.
WALLANDER, Celeste A.; KEOHANE, Robert (1999). Risk, threat and security
institutions. In: Power and Governance in a Partially Globalized World. Robert Keohane
(Org.). London/New York: Routledge. 2002.
ANEXOS
ANEXO “A”
TABELAS
Tabela 1: Aplicação dos conceitos utilizados
CONCEITO /
DINÂMICA
ABORDADA
Caso Colombiano Caso Filipino
Complexo Regional
de Segurança Complexo Regional Sul-Americano
Complexo Regional
Asiático-Oriental
Subcomplexo
Regional de
Segurança
Sub Complexo Andino-amazônico Sub Complexo do Sudeste
Asiático
Securitização
Existente por parte do governo
colombiano, mas inexistente ou
irrelevante por parte do Estado
brasileiro.
Existente por parte de ambos
os governos, Filipino e
Chinês.
Spillover Forte, conflito amplamente
regionalizado.
Limitado. O conflito de
natureza política tende a
permanecer controlado pelo
princípio de não intervenção.
Penetration Forte, enorme participação
estadunidense.
Significativo. Interesses
estadunidenses são evidentes
mas ainda não há
mobilização concreta.
Overlay Inexiste, graças ao balanceamento de
poder realizado pelo Brasil na região.
Inexiste. O poder da China e
a autonomia consolidada pela
ASEAN minaram o Overlay
americano que existiu
durante a Guerra Fria.
Risco
Considerado risco ao Estado brasileiro,
pela possível evolução e ausência do
processo de securitização.
Considerado Risco por
ambos os países, sobretudo a
China.
Ameaça
Não se trata de uma ameaça, pois não
há motivações ou capacidade material
para tanto.
Considerado recentemente
como ameaça pelo governo
Filipino, dada a capacidade
de projeção de poder da
China.
Fonte: Elaboração própria.


























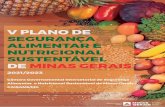


![[ALACIP] NOBRE, Fábio. A Participação Estadunidense no Conflito Colombiano sob a Ótica dos Complexos Regionais de Segurança- Penetration ou Overlay](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a2a98bb40f9952b01e216/alacip-nobre-fabio-a-participacao-estadunidense-no-conflito-colombiano-sob.jpg)













