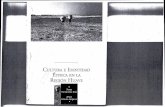A Gênese da Violência contra a mulher: estudo sobre suas implicações sociológicas em Pernambuco
Transcript of A Gênese da Violência contra a mulher: estudo sobre suas implicações sociológicas em Pernambuco
A GÊNESE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ESTUDO
SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES SOCIOLÓGICAS NO ESTADO
DE PERNAMBUCO.1
Anne Gabriele Alves Guimarães
Universidade de Pernambuco –
Arcoverde/PE
Juliana de Barros Ferreira
Universidade de Pernambuco –
Arcoverde/PE
Renata Souza e Silva
Universidade de Pernambuco –
Arcoverde/PE
Rita de Cássia Souza Tabosa
Freitas
Universidade de Pernambuco –
Arcoverde/PE
Resumo
Este estudo tem como objetivo escrever sobre os fatores notadamente sociológicos que
culminam nas agressões contra as mulheres. Para tanto, faz uma análise meticulosa de conceitos
primordiais para estruturar, juntamente com estatísticas, um concatenado teórico que ajude a
desmistificar os fatores envolvidos neste tipo de violência. Dentre os resultados alcançados,
verificamos a presença do já culturalmente impregnado “poderio” masculino sobre o feminino,
tido como vulnerável, suscitando em sentimentos de ódio e rivalidade entre os gêneros.
Investigar, portanto, um tema tão encravado e, ao mesmo tempo, estigmatizado em nossa
sociedade demanda ações que busquem reorganizar a logística cultural de transmissão de
paradigmas familiares.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Segurança Pública. Maria da Penha.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo fornecer uma análise das origens sociológicas da
violência contra a mulher no estado de Pernambuco através da interpretação de dados
1 Trabalho apresentado na Área de Conhecimento Direito da VI Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
DeVry Brasil, realizada entre 4 e 8 de maio de 2015 na UNIFAVIP – Caruaru/PE.
estatísticos; visando oferecer à sociedade civil e aos agentes da segurança pública escopo
teórico para melhor compreensão dos ciclos de violência doméstica, auxiliando em seu
combate.
Para a elaboração dessa pesquisa, construímos uma base teórica a partir da análise de
obras de diversos autores em temas como violência, patriarcado, machismo, violência de gênero
e violência doméstica. Posteriormente, realizamos uma interpretação qualitativa de dados
quantitativos concernentes à violência contra a mulher, fazendo uso dos conceitos previamente
apreendidos durante a fase de pesquisa teórica.
Antes de nos aprofundarmos nas investigações acerca do tema proposto, é necessário
fazermos um apanhado histórico geral.
Os conceitos acerca da palavra “violência” são variados. Desde os tempos da Idade
Antiga até os dias atuais, muito se foi formulado. Cálicles, em Górgias (PLATÃO, p. 48-93),
por exemplo, já relacionava a violência à desmesura e ao desejo. Porém o termo só passou a ser
questionado com destreza a partir de Hegel, Marx e Nietzsche, no século XIX.
Marcondes Filho (2001, p. 20-27) afirma que aquilo que culmina em abuso de poder
ou transgressão de respeito pode ser elencado como violento. Mas, se essa mesma violência
acontece em prol de uma causa, torna-se naturalizada.
Sociologicamente falando, Minayo (1994, p. 7) agregou ao conceito uma perspectiva
biopsicossocial. Somente situando o cidadão na esfera social é que se pode investigar se houve
ou não um comportamento violento.
Para os fins a que se destinam essa pesquisa, vamos enfatizar a violência de gênero e
seus desdobramentos, focando nos fatores que lhe originam. Portanto, é preciso que façamos
uma breve introdução conceitual a respeito do tema.
A distinção entre sexo e gênero, feita primeiramente por Simone de Beauvoir2, é
imprescindível para a formação do conceito de violência de gênero. Enquanto sexo corresponde
2 “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que
a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário
entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.” (BEAUVOIR, 1990. P 9)
a identidade biológica manifestada na anatomia do sujeito. Gênero, por sua vez, é “a construção
social do masculino e do feminino”. (SAFFIOTI, 1999, p. 82)
Como fator classificador dos seres humanos, o gênero também é responsável pelas
relações de dominação. A filósofa francesa Hélène Cixous (1981, p. 90-91) assevera que o
pensamento humano sempre funcionou por meio de dualismos, classificando os elementos
segundo dicotomias onde um deles é superior ao outro. No caso do gênero, os traços associados
ao gênero feminino – como a fragilidade, passividade e sentimentalismo – são historicamente
considerados inferiores aos traços masculinos.
Sendo considerado inferior, o gênero feminino é passível de dominação pelo gênero
mais forte, dando origem a um tipo especial de violência, a violência de gênero.
A Convenção Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
define violência de gênero como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como
no privado.” Entretanto, é sabido que é nas relações afetivas, ocorridas principalmente no
espaço doméstico, que a ocorrência desse tipo de violência é mais frequente.
Vale salientar que, embora muitas vezes se configure como violência doméstica, a
violência contra a mulher não é necessariamente sua única subespécie. A violência doméstica
tem várias faces, porém, como o foco deste trabalho é especificamente a violência de gênero,
utilizaremos essa expressão como sinônimo de agressões a mulher no ambiente doméstico.
DESENVOLVIMENTO
A violência contra a mulher, ainda que carregada de peculiaridades, carrega em seu bojo
muitas das significações supracitadas, principalmente no que tange à esfera biopsicossocial.
Para fins de especificação, de acordo com a lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, no
seu artigo 5º, “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial” [grifo nosso], seja no vínculo familiar ou em qualquer relação
íntima de afeto.
Não seria surpresa afirmar que esse fenômeno, no Brasil e em Pernambuco, acontece
em todas as classes sociais. Não deve jamais ser classificado como crime de rico ou de pobre,
antes constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, e não é praticada por pessoas
ditas anormais.
Percebe-se, nesse momento, a quebra de ideias disseminadas pelo senso comum. Não
se trata de fazer uso de dicotomias distorcidas, mas de reconhecer que, acima de quaisquer
classificações, o problema fenomenológico3 atinge a sociedade como um todo. Apresenta-se
como um fato social em toda a sua complexidade.
Cabe aqui investigarmos a gênese do problema biopsicossocial, o que motiva e conduz
os indivíduos a consumarem tais delitos, com a finalidade de se criar condições que apaziguem
realidade tão amarga, revestida de instabilidades, ameaças, enfermidades e mortes.
Isso nos remete primeiramente à posição da mulher ao longo da história. Desde o
surgimento da agricultura e do arado, o homem toma consciência de seu papel na reprodução
humana e surgem as sociedades patriarcais. Se antes a mulher desempenhava a maior parte das
funções paternas e pertencia ao clã, agora ela passa a integrar o rol de bens possuídos pelo
marido.
Essa revolução sexual e de paradigmas chegou até a época feudal e se repete na
contemporaneidade, como que encravada culturalmente. Acontece que em uma sociedade em
pleno vigor e movimento, a industrialização e urbanização foram responsáveis por
transformações do outro lado da moeda. As mulheres passaram a trabalhar e a estudar. Logo,
surgiram os primeiros questionamentos contra o machismo histórico.
Os confrontos contra o abandono do homem, grosseria e infidelidade nas relações
conjugais constituíram as principais bandeiras do iniciante movimento feminista.
Leite (1994, p. 270) destaca que o necessário confronto aos ditames patriarcais, ou seja,
o crescente protagonismo das mulheres na esfera social é sentido como provocador de conflitos
em um sistema sofisticado, desconhecido e dominado pelo homem.
O homem, acostumado a uma posição de mandatário, patriarca ou ditador familiar,
acaba por não se adaptar à revolução copernicana dos papéis sociais, na qual as mulheres
questionam e confrontam dogmas machistas arcaicos.
3 É imprescindível especificar aqui a qual conceito de fenômeno e, portanto, de fenomenológico, estamos nos
referindo. Não se trata do clássico conceito filosófico de Kant, mas sim da definição de fenômeno social total
formulada pelo antropólogo francês Marcel Mauss (2001, p 187).
Na verdade, um dos fatores que leva à agressão simplesmente pelo fato de a vítima ser
mulher, é a concepção de gênero culturalmente impregnada de “ser macho”. Ser macho implica
em ser forte e assumir o controle.
Nesse caso, os já arraigados valores do patriarcado são agravados pelo passado colonial
e escravocrata brasileiro4, geradores de relações de dominação que ainda hoje continuam
“originando relações assimétricas e hierarquizadas, com implicações de que a vontade de uns
seja submetida a de outros.” (BANDEIRA, 2013, p. 69)
Os padrões de masculinidade inseridos na educação reproduzem essa dominação que
engloba o amor intransigente e a ferocidade exclusivista, fatores intrínsecos à violência contra
a mulher.
Como consequência dessas relações distorcidas, a noção da mulher como propriedade é
ainda mais consolidada, fato comprovado pela intolerância excessiva à infidelidade conjugal
feminina. A legítima defesa da honra e da dignidade e a incessante necessidade de lavar a alma
são perpetuadas como símbolos de masculinidade e virilidade tornando-se desdobramentos da
disseminação desse tipo de violência.
Nas palavras de Bandeira (2013, p. 69)
O controle persistente sobre a fidelidade feminina informa que em nossa sociedade a
mulher ainda é vista como uma propriedade do homem ‘legitimada’ pelo contrato
conjugal formal e/ou informal. A mulher é vista como parte de se [sic] domínio, de
seu território, de seus pertences, cujo corpo é considerado parte de suas posses e seus
objetos [...]
Também devem ser levados em consideração como origens desse fenômeno histórico e
cultural da sociedade moderna, posteriormente estudados, sem a finalidade de esgotar ou excluir
outros fatores, o uso de substâncias psicoativas, sentimentos de rivalidade, ciúme, amor e ódio,
intolerância à traição e confiança na impunidade, dos quais trataremos posteriormente.
Percebe-se, desde então, a simbiose de fatores culturais mas também psíquicos na
investigação do ato criminoso. Daí a importância do conceito de violência contra a mulher
inserido no âmbito biopsicossocial.
4 “Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração
econômica, híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composição.” (FREYRE p.65)
Ao situar, portanto, a violência contra a mulher como produto de um fenômeno cultural
da sociedade moderna, é necessário compreendermos que a lógica dessa problemática não se
dissolve meramente através de leis penais punitivas.
Assim, considerações sobre a síndrome do pequeno poder5 devem ser investigadas, além
do processo de elaboração de leis. O distúrbio surge quando o indivíduo, nesse caso, o agressor
ou autor da violência, não se contenta com a pequena parcela de autoridade que lhe é dada e
acaba excedendo os limites considerados justos.
Depreende-se que, para alguns, a prática de atos cruéis é a única forma de se impor
como homem. Portanto, existe, na zona limítrofe entre o que está dentro e fora da norma
cultural, uma intolerância à igualdade de direitos, resultante na violência de gênero contra a
mulher.
O que acontece é um jogo de conflitos, que opõe conservadorismo e vanguarda, no qual
o indivíduo agressor se depara com resquícios da sociedade patriarcal. Por não conseguir se
adaptar aos novos paradigmas, sofre frustrações, mescla sentimentos de ódio, rivalidade e
ciúme, que podem desembocar em homicídios, lesões corporais e agressões psicológicas.
As estatísticas indicam que a mentalidade masculina tem começado a mudar, ao menos
no que diz respeito à agressão física. Uma pesquisa realizada em 2010 pela Fundação Perseu
Ábramo indica que 91% dos homens considera que é errado bater em mulher em qualquer
situação e 92% deles afirma nunca ter batido numa mulher.
Quando confrontados com outras estatísticas, os dados supracitados revelam uma
situação paradoxal: 48% dos homens entrevistados pela pesquisa declaram que conhecem um
amigo que já bateu na mulher, enquanto 24% das mulheres entrevistadas admitiram ter sofrido
violência física ou ameaças à sua integridade corporal.
Dentro de dados aparentemente contraditórios uma coisa é certa: a Lei Maria da Penha
tem ajudado a diminuir o número de agressões contra a mulher. Apesar de enfrentar resistência
5 Para mais informações sobre o assunto ver Saffioti, Heleieth. “A síndrome do pequeno poder”. In: AZEVEDO,
M.A. e GUERRA, V.N. de A. (orgs.). Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São Paulo, Iglu
Editora, 1989, p.13-21.
A autora defende que “...o gênero, a família e o território domiciliar contêm hierarquias, nas quais os homens
figuram como dominadores-exploradores...”, o que configuraria desdobramento claro da chamada síndrome do
pequeno poder.
no início6, a lei conseguiu influenciar a mentalidade social de tal modo que “Hoje não é mais
aceitável ou justificável a violência doméstica contra mulheres”. (CAMPOS, 2013, p. 81)
Também de acordo com a Fundação Perseu Ábramo, 84% das mulheres e 85% dos
homens entrevistados conhece ou já ouviu falar da Lei, fato que independe de condição social
ou grau de escolaridade. (BANDEIRA, 2013, p. 75)
O artigo 7º da Lei Maria da Penha elenca os atos violentos praticados contra a mulher
que ensejam aplicação da lei penal. Assim sendo, “são formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras: violência física [...], violência psicológica [...], violência sexual
[...], violência patrimonial [...] e violência moral [...]”.
Tendo um panorama teórico e estatístico geral da violência contra a mulher no Brasil,
restringiremos agora nossa análise ao estado de Pernambuco; estado com forte passado
escravocrata e cuja cultura, principalmente nas cidades do interior, ainda carrega muito do
machismo colonial.
De acordo com dados fornecidos pela Polícia Civil de Pernambuco e pelo Departamento
de Polícia da Mulher, em julho de 2014, a Secretaria de Defesa Social (SDS) registrou 11
homicídios no Estado, computando um decréscimo de mais de 67% nos homicídios contra
mulheres em relação ao mesmo mês em 2006. Em julho de 2006, ano da entrada em vigor da
Lei Maria da Penha, foram registrados 34 homicídios contra mulheres.
Também no ano de 2006, em Pernambuco, 291 mulheres foram mortas e, em apenas
cinco dias, registrou-se aí 13 flagrantes (CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA, 2007). Ainda no Estado, uma pesquisa revelou que, dentre 208 mulheres
assassinadas, 60 a 70% o foram por seus atuais ou ex-companheiros (AQUINO, 2006, p. 100-
101). Nessa época, o Diário de Pernambuco noticiava que o Estado de Pernambuco apresentava
as maiores taxas de assassinato no país.
Se compararmos o período de julho de 2006, com o mesmo mês em 2014 na Região
Metropolitana, a queda no CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais) contra mulheres foi
ainda maior. Dez casos em 2006 contra um em 2014, representando redução de 90%. A Polícia
6 Alguns juristas alegaram a inconstitucionalidade da Lei e a aplicação da Lei dos Juizados especiais criminais,
ambas derrubadas pelo STF na ADC nº19 e ADI nº4424 respectivamente.
Civil pernambucana registrou 2.817 pedidos de medidas protetivas no primeiro semestre de
2014. No mesmo período, 2.359 inquéritos foram remetidos à justiça.
Entretanto, apesar da reprovação social e do alto grau de conhecimento da Lei pela
sociedade, algumas cidades pernambucanas vão de encontro ao progresso ocorrido na maioria
do estado.
Na contramão dos índices de queda de agressão contra mulheres em Pernambuco como
um todo, duas cidades do interior apresentam números que crescem de forma descontrolada. O
Jornal do Commercio divulgou, na edição de 19 de fevereiro de 2015, notícia na qual o Tribunal
de Justiça de Pernambuco solicita à Assembleia Legislativa do Estado a criação de varas
especializadas em violência doméstica em Caruaru e Petrolina devido à explosão dos casos de
violência nessas cidades.
O primeiro projeto de lei do TJPE, encaminhado em 2015 ao Legislativo, propõe a
criação de duas Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma na comarca de
Caruaru e a outra na de Petrolina. A proposta se deve a levantamentos feitos nas duas maiores
cidades-polos econômicos e sociais do Agreste e do Sertão, que constatou um crescimento
desproporcional dos casos de violência contra a mulher.
Em Caruaru, a análise da evolução dos números dos últimos seis anos aponta um
aumento superior a 200% dos casos registrados. Em 2014, somente de janeiro a agosto, a
Delegacia da Mulher de Caruaru contabilizou 1.172 ocorrências registradas. Já a Delegacia da
Mulher de Petrolina, com população menor, registrou, no mesmo período, 617 casos de
violência. Em ambas as comarcas, os processos relacionados à violência contra a mulher
correspondem a 30% do acervo das varas criminais; um percentual, portanto, bastante
expressivo.
Percebe-se, desde então, paradoxos estatísticos entre o macrocosmo e o microcosmo
pernambucano. Isso revela o congestionamento das varas criminais das duas cidades citadas e
também a insuficiência das sete Varas de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher já
criadas no Estado: Recife (duas), Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Camaragibe e
Cabo de Santo Agostinho.
Apesar de contar com dez delegacias da mulher em funcionamento e quatro outras sendo
instaladas e ser o primeiro estado a possuir, dentro da estrutura da Polícia Civil, um
Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), Pernambuco ainda lida com o aumento
explosivo da violência doméstica e familiar em algumas de suas maiores cidades.
Do ponto de vista histórico brasileiro, essa dificuldade encontrada no Estado pode ser
um reflexo de uma cultura com raízes em uma sociedade escravocrata, construída a partir de
um modelo colonizador que aqui se instalou. Existe, não só em Pernambuco, mas
principalmente no macrocosmo Brasil, uma guerra civil crônica, mantida pelo capitalismo
selvagem, por meio da qual as classes dominantes nacionais e multinacionais se sustentam e se
expandem à custa da miséria do povo, adiando a solução dos problemas sociais.
A falta de investigação também acaba por impedir a elucidação dos delitos e a captura
dos autores, contribuindo para a impunidade e para o surgimento de novos boletins de
ocorrência.
O desejo de vingança e a defesa da virilidade e da ferocidade exclusivista, produtos da
concepção de propriedade privada, são outros aspectos consideráveis para a busca de fatores
que motivem as lesões. Vale salientar que a coisificação da mulher, vista pelo agressor como
seu bem, gera a tensão entre os gêneros.
Esse emaranhado fantasístico de repressão, ódio e tensão, que causa perturbação e
desgaste no relacionamento, faz com que a intolerância movida pela força da paixão guie os
pensamentos do agressor. O consumo de substâncias psicoativas é um dos meios por ele
utilizado para se livrar desse mal-estar e é causa, em maior ou menor proporção, da violência
doméstica e familiar.
Depreende-se, então, que a violência de gênero é um abuso de poder, que, além de
fragilizar as relações, se fundamenta em uma sociedade patriarcal e machista. (MENEGHEL et
al, 2000, p. 193-203)
Fazendo uma retomada ao estudo qualitativo da violência contra a mulher em
Pernambuco, os focos de aumento dessa prática no Estado, precisamente em Caruaru e
Petrolina, demonstram que muitos fatores podem ser dados como causas das agressões. Os
fatores acima analisados devem ser estudados e aplicados conjuntamente no caso concreto.
Buscar na sociedade e nas relações humanas os dados e estatísticas para compor a
pesquisa implica em conhecer, antes de mais nada, a digressão histórica do papel da mulher e
a reorientação do mesmo na contemporaneidade.
Em Pernambuco, foco da investigação, além das medidas tomadas pela Secretaria da
Mulher, em 2014, um projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco
(ALEPE) com o objetivo de implantar a Lei Maria da Penha como complemento curricular na
rede pública de ensino fundamental e médio do Estado. Essa medida tem como finalidade
propiciar a divulgação da lei federal que combate a violência contra mulher e,
consequentemente, diminuir o índice de violência.
Outro exemplo de medida de proteção é o recente projeto criado pelo município de
Jaboatão dos Guararapes. Esse projeto prevê a entrega de aparelhos para as mulheres que
possuem medidas restritivas contra seus agressores. Assim que essa mulher se sentir ameaçada
pelo seu agressor, ela poderá ativar o aparelho que enviará um sinal para uma viatura
especializada no atendimento de casos ligados à Lei Maria da Penha.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando nos propomos a estudar a violência contra as mulheres sob a perspectiva
dos fatores que motivam a agressão, já se tinha a concepção de que as respostas viriam de uma
análise sociológica. Análise essa que, para os fins a que se propunha, deveria estar
inevitavelmente afastada do senso comum e de estigmas culturais.
Apesar de medidas que logram sucesso no combate à violência e da promulgação da Lei
Maria da Penha, o caminho a ser percorrido para a quebra de barreiras e efetivação dos direitos
das mulheres é grande.
A lei acima referida é a 11.340, batizada de Lei Maria da Penha. Entrou em vigor no ano
de 2006 e trouxe em seu bojo grandes expectativas de mudanças para o enfrentamento da
violência doméstica no Brasil.
Uma de suas mais importantes modificações foi o estabelecimento de medidas eficazes
para prevenir e coibir a violência doméstica contra a mulher, como afastar a competência dos
juizados especiais criminais (Lei 9099/95) para julgar e processar os crimes de violência
doméstica, o que significa dizer que os casos de violência doméstica e familiar não são mais
considerados de menor potencial ofensivo, independentemente da pena prevista. Portanto, não
é mais possível a aplicação de transação penal e suspensão condicional da pena (sursis): alterou
o Código Penal colocando em evidência a violência doméstica nos artigos 61e 129.
Outra medida para a coibição da violência foi a possibilidade ao juiz de aplicar medidas
protetivas de urgência quando constatada a prática de violência doméstica contra a mulher:
Art. 18: Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas: I – conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as
medidas protetivas de urgência; e Art.19: As medidas protetivas de urgência poderão
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da
ofendida: § 1° As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato,
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público,
devendo este ser prontamente comunicado.
Além disso, a citada lei trouxe a possibilidade da prisão preventiva do agressor para
garantir o bom andamento do inquérito policial, do processo criminal e para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência.
Entretanto, diante dos incontestáveis benefícios advindos da lei, um entrave à sua
aplicação é a possibilidade de renúncia à representação da ofendida, trazida no artigo 16. Trata-
se da controvérsia se o crime de lesão corporal contra a mulher é um crime de ação penal pública
incondicionada, o que permitiria que as autoridades policiais e o Ministério Público agissem de
ofício e a vítima somente poderia se escusar de representar contra o agressor posteriormente
perante o juiz. Esse entendimento é notadamente mais eficaz ao intuito da lei.
Para resolver impasses gerados por esta interpretação da lei no dia 24 de fevereiro de
2009, a 3° Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou e concluiu, por maioria, a
necessidade de representação para os casos de lesão corporal de natureza leve. Nesta decisão
que passa a vincular todas as demais é necessária a representação da vítima para que haja o
procedimento da ação, o que coloca mais uma vez as mulheres vítimas da violência doméstica
em situação de retrocesso jurídico.
Percebe-se, desde então, que a própria lei encontra dificuldades de aplicação, sejam de
ordem jurídica ou legislativa. Porém a maior das barreiras é a sociedade, aquela mesma que
ofereceu as informações e diretrizes para o enfrentamento da problemática.
Serão necessárias várias transformações. As Delegacias das Mulheres carecem de
recursos, materiais e pessoal. A maioria dos profissionais que trabalham nas DDMs7 não
compreende a dinâmica do processo de violência doméstica e familiar. Não entendem que nas
relações domésticas, nas quais a mulher sofre agressões físicas, morais, psicológicas, sexuais
ou patrimoniais, o agressor exerce um grande domínio sobre sua vítima, principalmente se esta
depender economicamente ou emocionalmente dele. Grande parte das mulheres que recorrem
às autoridades policiais não quer ver o agressor preso, mas apenas que eles sejam aconselhados,
intimidados e que a agressão cesse para que elas possam viver em paz com seus companheiros
e filhos. (RAMOS, 2009, p. 57)
As policiais que atuam nas DDMs – Delegacias de Defesa da Mulher - recebem
treinamento da Academia de Polícia, e estes não incluem nenhum tipo de treinamento específico
para lidar com a violência contra a mulher. Juntando-se a isso, ainda existe o fato de que, como
elas não escolhem a divisão em que vão atuar, trabalhar em uma Delegacia da Mulher representa
um grande descontentamento, visto que foram treinadas para ser policial e combater crimes - a
maioria dessas profissionais não enxerga a violência doméstica contra a mulher como crime,
mas sim como problema familiar. (IZUMINO, 2004, p. 35-36)
Reverter esse quadro só será possível com a formação e capacitação das agentes policiais
para que se consiga uma atuação mais humanizada, entendedora das particularidades e dos
ciclos desse tipo de violência.
Que a Lei Maria da Penha foi uma imensa conquista, não se pode questionar; afinal,
colocou em evidência a problemática da violência. Outro recente avanço foi a promulgação da
lei 13.104 no dia 9 de março de 2015. Ela cria uma nova modalidade de homicídio qualificado,
cometido por razões de condição de sexo feminino e denominado feminicídio8.
7 Sigla referente às Delegacias das Mulheres. 8 A lei considera razões de condição do sexo feminino a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou
discriminação à condição de mulher. BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o
feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília, 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm> . Acesso em: 18/03/2015.
É preciso, entretanto, um esforço maior para sanar o problema da violência contra a
mulher. Não se pode esperar que lei sozinha rompa com estigmas históricos sem que haja
mudança por parte da sociedade civil e dos aplicadores do Direito.
É primordial que haja a desconstrução de discursos e que mais recursos sejam investidos
em educação e campanhas de combates, modificadoras do comportamento. É necessário
mobilizar a sociedade por uma cultura de não violência e uma educação não sexista, que seja
efetivamente responsável por transformar relações de dominação e subordinação.
Referências
AQUINO, R. A. Crime: A violência cega dos maridos. Época, n. 444, p.100-101, nov. 2006.
BANDEIRA, Lourdes. A violência doméstica: uma fratura social nas relações vivenciadas
entre homens e mulheres. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. In: Mulheres
brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma década de mudanças na opinião pública.
Org. Gustavo Venturi e Tatau Godinho. P 69.
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo sexo – A experiência vivida – 7ª ed. Rio de janeiro: Nova
Fronteira, 1990.
BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para
incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília, 2015. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm> . Acesso em:
18/03/2015.
CAMPOS, Carmen Hein de. Violência doméstica contra mulheres: interconexões com a Lei
Maria da Penha. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. In: Mulheres brasileiras
e gênero nos espaços público e privado: uma década de mudanças na opinião pública. Org.
Gustavo Venturi e Tatau Godinho. P 81.
CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Acessoria. Disponível em:
<http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3466:dados-
sobre-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil-e-no-mundo&catid=215:artigos-e-
textos&Itemid=149> Acesso: 20/01/2015.
CIRNE, J. Lei Maria da Penha será complemento curricular nas escolas de Pernambuco.
Disponível em: < http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2014/11/05/lei-maria-da-penha-sera-
complemento-curricular-dos-ensinos-medio-e-fundamental/>. Acesso em: 15/01/2015.
CIXOUS, Hélène. Sorties, in E. Marks y I. Courtivron (eds.), New French Feminisms. Nova
York: Schocken Books, 198l. p. 90-91.
DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Jaboatão implanta Patrulhas Maria da Penha. Recife, 29
jan 2015. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2015/01/29/interna_vidaurbana,557789/jaboatao-implanta-patrulhas-maria-da-
penha.shtml>. Acesso em: 17/01/2015.
DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Lei Maria da Penha completa oito anos, mas número de
mortes de mulheres ainda assusta. Recife, 7 ago 2014. Disponível em:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2014/08/07/interna_vidaurbana,521171/lei-maria-da-penha-completa-oito-anos-mas-
numero-de-mortes-de-mulheres-ainda-assusta.shtml. Acesso em:15/01/2015
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal - 51ª ed. São Paulo: Global, 2006. P 65.
IZUMINO, Wânia Pasinato. Justiça e violência contra a mulher: o papel do sistema judiciário
na solução dos conflitos de gênero – 2ªed. São Paulo: FAPESP, 2004. P 35-36.
LEITE, C. L. P. Mulheres: Muito além do teto de vidro. São Paulo: Atlas, 1994. P 270.
MACIEL, A. Violência leva TJ a pedir novas varas. Jornal do Commercio, Recife, ano 96,
número 10, 19 fev 2015.
MARCONDES FILHO, C. Violência fundadora e violência reativa na cultura brasileira.
São Paulo Perspectiva, ISSN 0102-8839 versión impresa. São Paulo: v.15 n.2, abr./jun. 2001.
P 20-27. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392001000200004>. Acesso em: 16/01/2015
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70, in, O conceito de
desenvolvimento histórico e sua aplicabilidade heurística na Sociologia. P 187.
MENEGHEL, et al. Cotidiano Violento: Oficinas de promoção em saúde mental em Porto
Alegre. Ciência e Saúde Coletiva ISSN 1413-8123 versão impressa 2000, Rio de Janeiro: v.5,
n.1, 2000. p 193-203. Disponível em: www.scielo.br Acesso em: 21 dez. 2006.
MINAYO, M. C. de. Violência social sob a perspectiva da saúde pública. Cadernos de Saúde
Pública Print ISSN 0102 – 311X. Cad. Saúde Pública vol.10 suppl.1 Rio de Janeiro 1994. P 7.
Disponível em:
<http://www.observatorioseguranca.org/pdf/aviolenciasocialsobaoticadasaudepublica.pdf>.
Acesso em: 16/01/2015
MISTRETTA, Daniele. Lei maria da penha: por que ela ainda não é suficiente? Revista
do Laboratório de Estudos da Violência da UNESP/Marília, Marília, ed. 8, dez. 2011.
Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/levs/article/view/1641>.
Acesso em: 15/01/2015
PLATÃO. Górgias. Tradução Carlos Alberto Nunes. p. 48 - 93. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra
=2264> Acesso em: 17/01/2015
RAMOS, MEIRIELI. Lei Maria da Penha: avanço necessário, mas ainda insuficiente.
Cadernos ASLEGIS/ Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados- n° 38 (set/dez 2009)- Brasília: ASLEGIS, 2009.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo:
Perspec, 1999, vol. 13, n.4, p 82. Disponível em <www.scielo.com>. Acesso em: 04/03/2015.
SAFFIOTI,H.I.B. A síndrome do pequeno poder. In: AZEVEDO, M.A. e GUERRA, V.N. de
A. (orgs.). Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São Paulo, Iglu Editora, 1989,
p.13-21.
SANTIAGO, Rosilene Almeida. A violência contra a mulher: antecedentes históricos.
Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, Salvador, v. 11, n 1. 2007. Disponível em: <
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/view/313>. Acesso em: 17/01/2015

























![Type text] Corrientes sociológicas](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/634494dd6cfb3d40640946b5/type-text-corrientes-sociologicas.jpg)