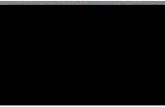A exclusão e o local: tempos e espaços da diversidade social
Transcript of A exclusão e o local: tempos e espaços da diversidade social
Políticas de desenvolvimento regional:
desafios e perspectivasà luz das experiências da
União Européia e do Brasil
Brasília 2007
Presidente da República federativa do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva
Ministro da Integração NacionalGeddel Quadros Vieira Lima
Secretário ExecutivoLuiz Antônio Souza da Eira
“Políticas de desenvolvimento regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil”
Participantes
Ash Amin
A. Costa-Filho
Michael Dunford
Marcel Bursztyn
Carlos B. Vainer
Sergio Conti
José Palma Andrés
Sergio Boisier
Pedro Silveira Bandeira
Tânia Bacelar de Araújo
Carlos R. Azzoni
Wilson Cano
Bertha K. Becker
Paulo R. Haddad
Antonio Carlos Filgueira Galvão
Henrique Villa da Costa Ferreira
Marcelo Moreira
Sâmia Frota
Ficha TécnicaEditor: Clélio Campolina DinizCoordenação técnica MI: Maria José MonteiroRevisão: Sarah Pontes e Sonja CavalcantiProjeto gráfico e editoração: Formatos Design Gráfico
Esta publicação é uma realização do Ministério da Integração Nacional, tendo sido produzida no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).
Ficha Catalográfica
P789 Políticas de desenvolvimento regional : desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil / Clélio Campolina Diniz, organizador . _ Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2007.400 p. ; 28 cm.
ISBN 978-85-230-0962-5
1. Desenvolvimento regional. 2. Política – Europa. 3. Política –Brasil. 4. Economia. I. Diniz, Clélio Campolina. II. Título.
CDU 32(4:81)
Sumário
Prefácio 5
Introdução 7
A questão territorial diante das transformações econômicas mundiais
Política regional em uma economia global 13Ash Amin
Globalização e desenvolvimento regional endógeno: algumas observações exógenas 37A. Costa-Filho
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais 53Michael Dunford
A exclusão e o local: tempos e espaços da diversidade social 79Marcel Bursztyn
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial 103Carlos B. Vainer
As lições da União Européia
Políticas espaciais européias 131Sergio Conti
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação 149José Palma Andrés
As fronteiras nos processos de integração supranacional: a experiência da União Européia e as lições para a América Latina 171Sergio Boisier
Território e planejamento: a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil 191Pedro Silveira Bandeira
Os desafios para uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil
Brasil: desafios de uma Política Nacional deDesenvolvimento Regional contemporânea 221Tânia Bacelar de Araújo
O desafio de planejar com instrumentos limitados: aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis 237Carlos A. Azzoni
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais 249 Wilson Cano
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível? 267Bertha K. Becker
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionaisde desenvolvimento no Brasil 301Paulo R. Haddad
Diretrizes para a política nacional de desenvolvimento regional
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regionale o ordenamento territorial 329Antonio Carlos Filgueira Galvão
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalizaçãodos programas regionais no contexto da PNDR 353Henrique Villa da Costa Ferreira
Marcelo Moreira
A ação do Banco do Nordeste no contextodo desenvolvimento regional 381Sâmia Frota
Sobre os autores 393
�
Introdução
Prefácio
No âmbito do processo de integração da União Européia, os resultados das políticas regio-
nais são parâmetros de observação obrigatória para todos os interessados em formular e
implementar uma ação de governo voltada à redução das desigualdades socioeconômicas inter
e intrarregionais.
Com efeito, em um cenário mundial no qual a formação de blocos de poder, sobretudo eco-
nômicos, tem se intensificado, a redefinição do papel das políticas de desenvolvimento regional
passa igualmente a constituir desafio para os Estados Nacionais.
Vive-se, neste século, em um mundo globalizado, que integra países e elege territórios mais
competitivos, reproduzindo-se um padrão de desenvolvimento que tende a intensificar a sele-
tividade espacial e a aprofundar as desigualdades entre regiões e países.
A União Européia, no âmbito da área geográfica sob sua jurisdição, tem direcionado o
foco de suas políticas em benefício dos territórios que, historicamente, ficaram à margem
dos processos de desenvolvimento. Ao eleger esses territórios para uma atuação diferenciada,
e colocando em prática instrumentos e investimentos voltados a equalizar os indicadores
socioeconômicos do conjunto dos seus Estados, a União Européia inova na forma de enfren-
tamento das desigualdades e em sua política de desenvolvimento regional.
Embora o Brasil apresente um histórico de políticas de desenvolvimento regional de consi-
derável envergadura, os esforços de inserção da economia brasileira na divisão internacional
do trabalho levaram o Estado a privilegiar a alocação de porções do território ao atendimento
da demanda dos mercados mundiais. Diante das crises internacionais, descontinuaram-se tais
políticas, com agravamento das condições sociais nesses territórios.
O cenário de pobreza e de desigualdade de toda ordem se agravou na medida em que o país
implementou, com velocidade inigualável, a transição do rural para o urbano. Nesse contexto,
�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
a chamada “questão regional” ganhou relevância no Brasil. Na atualidade, não mais se limita a
soluções localizadas em espaços rurais ou áreas urbanas específicas, ampliando-se a abrangên-
cia dos problemas a enfrentar.
Com base nessas considerações, o Ministério da Integração Nacional promoveu, em março
de 2006, em Brasília, em parceria com a União Européia, o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o
Seminário Internacional “Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz
das Experiências da União Européia e do Brasil”, que propiciou a oportunidade a mais de 400
participantes, entre representantes de Governo e da sociedade civil organizada, de interagirem
em palestras proferidas por especialistas de renome, nacionais e internacionais.
O presente livro procura disponibilizar ao público envolvido com a gestão regional, boa parte
dos resultados obtidos no Seminário. Ao divulgar este esforço empreendido pelo Ministério da
Integração Nacional e seus parceiros na empreitada, entendo que a pasta contribui, conforme
determinação do Presidente da República, para o desafio de colocar a temática de redução das
desigualdades regionais como assunto prioritário da agenda da sociedade brasileira. A obstina-
ção do Ministério pela causa se consolida por meio da prioridade concedida ao tema no âmbito
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), elemento aglutinador e balizador
do esforço dos entes federados, forças sociais relevantes e setores produtivos na construção de
uma sociedade menos desigual, territorial e socialmente.
Brasília, junho de 2007.
Geddel Vieira Lima
Ministro da Integração Nacional
�
Introdução
Introdução
O presente livro reúne o conjunto dos trabalhos apresentados no Seminário Internacional
“Políticas de desenvolvimento regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da
União Européia e do Brasil”, realizado em Brasília, nos dias 23 e 24 de março de 2006. O objetivo
do seminário foi analisar as experiências de políticas regionais na União Européia e no Brasil,
com vistas ao aprofundamento crítico da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional
recentemente institucionalizada por meio do Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007.
Para isso, foi convidado um grupo de acadêmicos e especialistas, nacionais e estrangeiros, de
reconhecida competência e experiência no trato das questões teóricas e práticas do desenvol-
vimento regional.
De forma semelhante à seqüência lógica das apresentações e dos debates, organizados em
seis painéis, os trabalhos estão sendo agrupados, para o presente livro, em quatro conjuntos.
O primeiro conjunto, denominado “A questão territorial diante das transformações econômicas
mundiais”, contém cinco capítulos. Neles, os professores Ash Amin (Universidade de Durham
– Inglaterra), Alfredo Costa Filho (ex-diretor do Instituto Latinoamericano de Planificação Eco-
nômica e Social, ILPES, Chile), Michael Dunford (Universidade de Sussex – Inglaterra), Marcel
Bursztyn (Universidade de Brasília) e Carlos Vainer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
destacam e discutem os efeitos diferenciados da globalização e das mudanças tecnológicas
sobre o território, especialmente pela sua fragmentação e diferenciação; analisam as dificulda-
des de compatibilizar os objetivos de coesão econômica e social com o alargamento da União
Européia; discutem os limites das políticas de cunho localista, tão em moda, a aplicabilidade da
experiência européia ao Brasil e defendem o retorno às políticas nacionais, indicando a neces-
sidade do reforço de um projeto político e social para o país, entre outros temas e aspectos.
No segundo bloco, “As lições da União Européia”, os professores Sergio Conti (Universidade
de Turim – Itália), José Palma Andrés (Diretor da União Européia), Sérgio Boisier (Instituto
�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Latinoamericano de Planificação Econômica e Social – ILPES, Chile) e Pedro Silveira Bandeira
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) apresentam e discutem os antecedentes e condi-
cionantes das políticas de desenvolvimento regional na União Européia e os desafios da com-
patibilização dos objetivos de coesão econômica e social com a busca de competitividade mun-
dial; mostram as tendências de reestruturação do território e defendem o policentrismo como
meta; apresentam as principais diretrizes para o período 2007-2013, sintetizadas na tríade
competição/integração/inovação; comparam a América Latina e o Brasil com a União Européia,
no que se refere à questão das fronteiras nacionais para uma política de desenvolvimento;
discutem os caminhos para o aprimoramento do arranjo institucional e a construção de canais
entre as instâncias públicas e da sociedade civil, entre outros aspectos
No terceiro bloco, “Os desafios para uma política nacional de desenvolvimento regional
no Brasil”, os professores Tânia Bacelar de Araújo (Universidade Federal de Pernambuco e ex-
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração
Nacional – MI), Carlos Azzoni (Universidade de São Paulo), Wilson Cano (Universidade Estadual
de Campinas), Bertha Becker (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Paulo Haddad (Professor
Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-Ministro do Planejamento e da Fazenda)
fazem um detalhado diagnóstico da situação brasileira; analisam a dinâmica da industrializa-
ção, da urbanização, das migrações e seus efeitos sobre as características do desenvolvimento
regional; indicam as limitações financeiras, de recursos humanos e de aparato institucional
para o planejamento e a implementação de políticas públicas; apontam as dificuldades do pla-
nejamento regional à luz do enfraquecimento do Estado e do fortalecimento das corporações;
traçam paralelos entre as experiências da União Européia e do Brasil e discutem diferentes
caminhos para a integração territorial e a redução das desigualdades, considerando a dimensão
geopolítica, as tendências recentes de fragmentação social e territorial e a necessidade de se
buscar um projeto político e social para o país.
No quarto e último bloco, “Diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal”, os doutores Antônio Carlos Filgueira Galvão (Diretor do Centro de Gestão Estratégica e
ex-Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional do MI), Henrique Vila da
Costa Ferreira (Diretor de Planejamento de Desenvolvimento Regional do MI), Marcelo Moreira
(Coordenador-geral de Integração Programática da Secretaria de Programas Regionais do MI),
e Sâmia Frota (Banco do Nordeste do Brasil) apresentam o diagnóstico e as diretrizes da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional, então em fase de institucionalização pelo Ministério da
Integração Nacional; discutem a questão das escalas e da regionalização do país; defendem a
�
Introdução
operacionalização dos programas à escala sub-regional (mesorregional); e o papel das institui-
ções de crédito na implementação das políticas regionais.
Estou seguro de que a alta qualidade científica e acadêmica dos trabalhos e a abrangência
dos temas tornarão a leitura do presente livro estimulante e de extrema utilidade, tanto para
a comunidade acadêmica quanto para os formuladores de política, nas diferentes instâncias
e instituições públicas, bem como no ambiente empresarial e para os segmentos da sociedade
civil. Nesse sentido, a construção de uma visão de conjunto entre os diferentes segmentos
acadêmicos, públicos, empresariais e sociais é base fundamental para a busca de um projeto
nacional que tenha como metas a construção de uma sociedade menos desigual do ponto de
vista territorial e social, a integração nacional e o aproveitamento das potencialidades ofereci-
das pela grande dimensão e diversidade do país.
Clélio Campolina Diniz
Editor
13
Política regional em uma economia global
Política regionalem uma economia global
1. Introdução
Este artigo defende que, numa era de globalização, em que todas as localidades estão ligadas,
de um modo ou de outro, por múltiplas geografias de fluxos e de conectividade, não faz sen-
tido deixar as regiões menos favorecidas resolverem, pelo seus próprios meios, seus problemas
de atraso e privações. Contudo, esse pressuposto veio permear o pensamento corrente sobre
política regional. Isso certamente se dá no âmbito da União Européia (UE) e da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), sob a influência de uma variedade de
modelos de crescimento endógeno que propõem a construção de aglomerados, sistemas locais
de inovação, distritos industriais e instituições como caminhos para a prosperidade, por meio
da ampliação da competitividade local. A defesa aqui proposta é que tal expansionismo está
em desacordo com a ascensão da economia em rede, que depende da conectividade externa e
de múltiplas dependências institucionais para funcionar de maneira apropriada. Esse é, com
certeza, o caminho pelo qual regiões prósperas e firmas poderosas se organizam para assegurar
retornos crescentes, inclusive para o exercício de considerável poder sobre a sorte de regiões
menos favorecidas. Nesse contexto, políticas regionais de baixo para cima não apenas trazem
poucas promessas para as regiões, mas também têm causado limitado impacto sobre as forças
causadoras de desigualdades regionais.
Proponho uma estrutura alternativa de política regional como meio de assegurar que estra-
tégias locais possam florescer. Em primeiro lugar, deve-se colocar o fato de que tais estratégias
não se deveriam restringir à construção de encadeamentos locais tão-somente (p. ex., dentro
dos aglomerados ou entre universidades e empresas locais), mas deveriam explorar conexões e
fluxos externos virtuosos. Em segundo lugar, defende-se também que as obrigações nacionais
Ash Amin
14
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
para com regiões menos favorecidas devam permanecer significativas, por meio da combinação
de uma ampla política regional nacional, alta capacidade de formulação de programas e ten-
tativas pactuadas por governos de recolocar instituições nacionais nessas regiões. Em terceiro
lugar, propugna-se que a vida política nacional, em muitos países, deva estender-se para fora
das regiões, a fim de reverter o legado de tornar eqüitativas as prioridades nacionais para com
regiões centrais e interesses econômicos dominantes. Sem que haja compromisso de construir
políticas descentralizadas, as forças centrípetas, que estão na raiz da desigualdade regional,
não serão enfrentadas.
2. Agenda de mudança da política regional
Há 25 anos, poucos formuladores de políticas esperariam que as regiões em constantes difi-
culdades econômicas se livrassem de seus próprios problemas, especialmente por via da rege-
neração da comunidade local. Havia ainda o sentimento de que os destinos das cidades e das
regiões estavam interligados e influenciados pelas assimetrias de poder incrustadas dentro
e entre os lugares, de tal modo que uma estratégia de efetivo desenvolvimento econômico
local deveria regular a competição inter-regional, resguardar-se contra as conseqüências das
tendências da economia política mais ampla, tais como aumento da concentração e da cen-
tralização de capital, e mobilizar a ação do Estado por meio de políticas urbanas, regionais e
de bem-estar ativas, com a finalidade de redirecionar investimentos, empregos e renda para as
áreas menos favorecidas.
Inspirando-se na economia política clássica, autores como Keynes, Myrdal, Perroux, Hirsch-
man e Kaldor, ainda parece ser a fonte para endossar o princípio de estimulação da prosperi-
dade nacional por meio de uma política regional ativa. As disparidades regionais, medidas em
termos de diferenciais de (des)emprego, produtividade e bem-estar, começaram a reduzir-se
com a ajuda de investimentos e políticas redistributivas de bem-estar, muito embora sem esti-
mular o crescimento auto-sustentável nas áreas desfavorecidas. Assim, enquanto os problemas
locais eram entendidos como produto de forças locais e não-locais, a solução deles era vista
como uma questão de responsabilidade do governo central, por meio de uma combinação de
políticas de objetivos espaciais e genéricos (p. ex., a do bem-estar).
Sobreveio, então, o neoliberalismo – desfraldado pela Nova Direita vingativa e por uma
comunidade empresarial aliviada – para varrer esse modo de pensar e de agir, por argumentar
1�
Política regional em uma economia global
que tal intervenção estatal interferiria na eficiente alocação de recursos pelo mercado e no
potencial de crescimento; criaria a cultura da dependência e da expectativa nas áreas assistidas
e em suas populações; drenaria recursos públicos e perpetuaria desnecessária intervenção do
Estado na economia, condescendendo, em demasia, com as áreas de fraco desempenho e suas
organizações, assim como expulsaria e não conseguiria estimular o empreendedorismo e o
crescimento em cidades e regiões em declínio ou atrasadas.
Por todo o mundo desenvolvido e em desenvolvimento, encetou-se, na década de 1980,
uma política revolucionária, que abarcava cortes em ajudas regionais, concedendo livre ação
aos negócios, reorientando o apoio estatal para reforçar o crescimento nas regiões prósperas,
introduzindo medidas destinadas a promover o empreendedorismo e a inovação em regiões
menos favorecidas, substituindo instituições democraticamente eleitas por órgãos governamen-
tais autônomos, não eleitos, e organizações empresariais como atores-chave da recuperação,
remodelando o bem-estar local com a introdução de programas de obras públicas e tornando
a dependência de programas de bem-estar em degenerescência moral e social. A desigualdade
espacial passou a ser associada ao legado da intervenção estatal, a ser solucionado pela mão
invisível do mercado ou via medidas especiais destinadas a tipos específicos de áreas “proble-
mas”. Deixa-se de lado a filosofia da “ajuda da mão amiga” e impõe-se a filosofia do “ande
com as próprias pernas”, assim como a filosofia de que “as empresas fazem melhor”, com base
numa redefinição da desigualdade espacial como um problema de origem local, necessitando
de solução empresarial. Nesse meio tempo, a desigualdade regional e urbana intensificou-se,
com uma ampla gama de indicadores que incluíam problemas relativos à saúde e à morbidade,
à educação, à prosperidade econômica, à habitação, à crise e à alienação sociais, além de medo
e insegurança, sem estimular crescimento auto-sustentável nas áreas menos favorecidas.
Desse modo, mais recentemente, pelo menos na Europa, apareceu a Terceira Via – impulsio-
nada pelos novos democratas sociais, desgostosos tanto com a Velha Esquerda quanto com a
Nova Direita – para alimentar a idéia de uma sociedade de compromissos nacionais com os prin-
cípios da liberdade de mercado e do crescimento desobstruído nas regiões centrais. O governo
do Reino Unido, sob o Novo Trabalhismo, equilibrando-se sobre os ombros de figuras como
Hayek, Giddens, Etzioni e Putnam, abriu caminho pela experimentação com a nova trucagem
que lida simultaneamente com desigualdade e igualdade socioespacial (HALL, 2003). O pensa-
mento da Terceira Via não se limita ao Reino Unido, mas também se inscreve em políticas da UE
sob a forma de medidas ativas, destinadas a promover a coesão e a igualdade sociais, na forma
de medidas para estimular a competitividade por meio da liberalização e desregulação do mer-
cado, considerando que é cada vez mais tirado da cartola por governos de centro-esquerda
1�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
confrontados com crescentes orçamentos sociais e regionais. A Terceira Via, compartilhando
dos temores da Nova Direita sobre as políticas regionais redistributivistas, escolheu acompa-
nhar políticas orientadas pelo mercado, que favorecem regiões mais prósperas, aplicando uma
série de medidas destinadas a fomentar o potencial competitivo das regiões desfavorecidas
e menos prósperas. Desse modo, prevê-se que a competição regional funcione tanto para o
centro quanto para a periferia, por meio dos processos de especialização regional e mobilização
de potenciais latentes. A Terceira Via desovou um novo localismo escorado por políticas desti-
nadas a fortalecer a capacidade regional por meio da promoção de atividades localizadas, tais
como aglomerados industriais, tecnópoles e transferências locais de conhecimento, atreladas a
várias instituições de fomento regional, tais como órgãos de desenvolvimento, associações vol-
tadas para os negócios, devolução de poderes em geral. Para a Terceira Via, não deveria haver
retorno à cultura política assistencial, apenas a marcha para frente, para um híbrido “ajude-se,
caminhando com as próprias pernas” (hand-up-on-your-bike) calcado na retórica de restaurar
o poder e a capacidade das regiões. Por meio do reconhecimento dos poderes contextuais, o
local foi repensado como causa, conseqüência e remédio da desigualdade regional.
3. Avaliação do novo regionalismo
Sob esse novo clima de formulação de políticas, espera-se que as regiões passem a competir,
superando suas desvantagens, por mobilizar o potencial local, atrelando-o às cadeias de supri-
mento locais com a finalidade de maximizar os retornos regionais. O papel do Estado central
é auxiliar as regiões a construir o lado da oferta, bem como a capacidade institucional de
autogovernar-se, em geral como forma de exercício do poder democrático. Nesse novo regio-
nalismo, agora endossado de forma ativa pela UE e por muitos governos nacionais, afirma-se
a forte ligação entre o econômico e o político, baseada no estabelecimento de uma estrutura
institucional governada no local, a fim de servir de apoio a um sistema econômico localmente
orientado (OECD, 2001; DETR, 1997; DTLR, 2001; EU, 2004). A União Européia tem, ainda, estado
muito ativa na promoção da regionalização e da governança regional nos estados candidatos
– vide Batt e Wolczuk (2002).
Em determinado nível, é difícil apontar falhas no novo regionalismo. Não tem a esquerda
democrática defendido que o problema regional é produto da concentração e da centralização
de capital e de controle? Portanto, não resulta disso que a descentralização de poderes e a
1�
Política regional em uma economia global
orientação para o local – o estabelecimento de uma ordem diferente de organização e poder
que não do Estado central e de corporações transnacionais e outros centros de poder remoto
– é o primeiro passo necessário a ser dado para a redução da desigualdade regional? Não é
a construção da capacidade local um modo de ajudar regiões menos favorecidas a eliminar a
cultura da dependência do Estado central (AMIN, 1999)? A resposta depende de se os pressu-
postos do novo localismo econômico são válidos em seu diagnóstico de autonomia regional,
numa era de globalização, e do potencial de estratégias de baixo para cima para combater for-
ças centralizadoras poderosas numa economia neoliberal que, com o decidido apoio do Estado,
continua a direcionar o destino de regiões, em geral, com vistas a retornos crescentes em favor
das regiões mais prósperas e agentes econômicos mais poderosos.
É mister argumentar que os experimentos contemporâneos, com sua infindável obsessão
por aglomerados, economia local do conhecimento, cadeias produtivas regionais, agências de
desenvolvimento e afins, estejam aquém das seguintes duas condições. Em primeiro lugar, em
que pese a defesa de teóricos econômicos da localização, há crescente evidência a mostrar
que, na maioria dos contextos corporativos e industriais, as cadeias de suprimento, arranjos
de encadeamento e redes de conhecimento contemporâneos não se restringem às localidades,
mas estão altamente dispersos espacialmente (AMIN; MASSEy; THRIFT, 2003). As firmas hoje
se valem, rotineiramente, de cadeias de suprimento altamente dispersas, orgulham-se de ter
obtido êxito em não mais dependerem do mercado local, têm sua base de conhecimento – seja
tácito, seja formal – cada vez mais distanciada e tecno-mediada, e seus elos infra-estruturais
– da logística ao treinamento – são transregionais (SIMMIE, 2005; SIMMIE et al, 2002). Essas
observações lançam sérias dúvidas sobre a possível eficiência das iniciativas de aglomeração e
de seus prometidos retornos locais (MARTIN; SUNLEy, 2003). Firmas regionais estão cada vez
mais envolvidas em redes corporativas e cadeias de suprimentos mais amplas, que distribuem
benefícios aos centros espaciais mais capazes de exercer poder de rede ou recursos estratégicos
de comando.
Em segundo lugar, o novo localismo não pode pretender controlar as forças – materiais,
virtuais e imanentes – envolvidas nos novos espaços da organização transterritorial. Essas são
forças que, sob a forma de preços das ações e das taxas de juros, mudanças de padrões e de
regras, decisões de investimentos corporativos e bancários, transferências financeiras, fluxos
de informação, pessoas e conhecimento e decisões tomadas em lugares distantes, estão roti-
neiramente por perto, distorcem ou anulam os bravos esforços feitos para localizar, no âmbito
local, os benefícios. Algumas dessas dinâmicas da globalização e dos desafios, por elas postos à
reflexão sobre a questão regional, encontram-se na seção seguinte.
1�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Em terceiro lugar, como argumentado por Doreen Massey, Nigel Thrift e o autor deste traba-
lho, em recente polêmica contra a crescente centralização no Reino Unido sob o governo Blair,
que, repetidas vezes, prometeu igualdade regional, a descentralização de poder e a construção
de instituições locais – a despeito da retórica de arrebatar poder do Estado central – permane-
cem sem qualquer sério combate ao poder de circunscrever outros, inclusive o governo central,
sob forças centralizadoras de mercado e uma elite econômica situada nas regiões ricas (AMIN;
MASSEy; THRIFT, 2003). No Reino Unido, o novo localismo do governo Blair presidiu a crescente
concentração de poder e o crescimento econômico em Londres e no Sudeste. Isso foi facilitado
por um legado de políticas macroeconômicas (p. ex., políticas em favor dos setores financei-
ros e de serviços, em detrimento do setor manufatureiro), decisões relativas à infra-estrutura
(desde planejamento de transportes até uso da terra para fins comerciais e políticas habitacio-
nais), políticas espaciais em favor do mercado (p. ex., atenuadas restrições de planejamento em
regiões de alto crescimento, investimentos estatais em P&D direcionados a essas regiões) e a
gradual consolidação da elite política baseada em Londres, que passou a confundir prioridades
nacionais com as das regiões de crescimento. O resultado foi a notável ampliação da defasagem
Norte–Sul, e as estratégias de crescimento endógeno se mostraram incapazes de contrabalan-
çar ou competir, ou foram mesmo minadas pela dinâmica do centrismo econômico.
Em quarto lugar, o novo regionalismo enreda-se no falso pressuposto de que há um territó-
rio geográfico definido no qual agentes locais podem exercer controle efetivo e o qual podem
administrar como um espaço social e econômico. O novo regionalismo sofre do sonho de uma
romântica comunidade local, comunidade essa que será assaltada em todas as direções com
modestos retornos econômicos e políticos, especialmente nas regiões em que mais se espera
venha a ocorrer. Porém, essa previsão de fracasso é anulada por uma lógica distorcida, que
liga a comunidade local ao êxito da recuperação econômica. Cada vez mais, no pensamento
da Terceira Via, a ausência de comunidade é culpada pela degeneração local,1 sem que se ava-
liem outros fatores que contribuem para isso – locais e translocais – ou formas alternativas de
conectividade social que não se ajustem ao estereótipo.2 Por sua vez, a restauração da comu-
nidade3 é tida como o principal ponto de apoio da regeneração econômica e política, de novo
sem que se procedesse a uma avaliação crítica do que de fato significa comunidade e sem uma
análise séria sobre os condutores das mudanças e da renovação de fora da comunidade.
1 Ver, por exemplo, as observações negativas de Putnam sobre o familismo amoral no sul da Itália e o excessivo laço de capital social e das áreas urbanas dos negros nos Estados Unidos.
2 Por exemplo, aí poderiam incluir-se o capital social e a cidadania baseados na diáspora, uma variedade de tipos de capital social de vários tipos de associação ou formas de confiança alicerçadas em amizades e solidariedade sob novas formas de arranjo familiar.
3 Definida e medida aqui de maneira altamente seletiva, como grupos individuais ou sociais, com dotações particulares de “capital social”, vizinhanças miscigenadas, câmaras de decisões participativas e engajamento em espaços compartilhados.
1�
Política regional em uma economia global
Na Terceira Via, o problema das localidades “decadentes” passa a ser um problema de
eliminação da comunidade ruim, substituindo-a por uma comunidade boa, com o pressuposto
não declarado de que, caso as políticas não funcionem, a culpa será tão-somente delas próprias.
O resultado disso é preocupar-se menos com as regiões desfavorecidas, no que se refere a menos
oportunidades de trabalho, obrigações do Estado, preparar as pessoas para a mobilidade social
e espacial, a melhor conhecer seus direitos, as conseqüências do desenvolvimento desigual,
modos de produção de encadeamentos externos, investimento sustentado de infra-estrutura
local, fortalecimento da cidadania e outros elementos promotores do bem-estar.
Essas críticas não se destinam a negar a importância das estratégias de fortalecimento
social e de desenvolvimento de baixo para cima. A objeção que se faz situa-se, antes disso, na
idéia de governo exercido tão–somente pela comunidade local e de expectativas muito altas de
recuperação colocadas exclusivamente nos agentes regionais. A relação entre o fortalecimento
regional e a recuperação econômica local não é, de forma alguma, direta. A elite política local
fortalecida, mas que não disponha de meios de controle de seu próprio destino, bem como de
tomar ou pôr a seu favor o poder em mãos de outros, situados a distância, que comumente
conformam o mundo a seu modo, não dispõe da necessária autonomia para produzir e distri-
buir os recursos. Por seu turno, com a devida licença dos membros de comunidades e capitalis-
tas sociais, não há relação direta entre fortalecimento social e regeneração ou desenvolvimento
econômico, uma vez que tal relação é intermediada por estruturas de relações de mercado,
regulações, arranjos institucionais, configuração de poder, valores e normas. Portanto, a inter-
venção social em determinado lugar pode resultar em melhoria de natureza econômica em
outro lugar ou exigir outros tipos de intervenção tanto ali como alhures, para assegurar retor-
nos econômicos locais.
4. Pensando o espaço: a globalização e as regiões
Não se pode mais pensar em regiões como entidades espaciais; elas não são coesas, interna-
mente, como um sistema econômico territorial. Essa constatação impõe uma limitação impor-
tante a estratégias de desenvolvimento regional autóctone que sejam definidas territorialmente.
A vida regional está-se tornando, cada vez mais, engolfada em um espaço mundial de muitas
geografias interligadas. Essas geografias se ligam à ascensão de um fluxo cotidiano de idéias,
informações, conhecimento, dinheiro, pessoas e influências culturais; ao surgimento de redes
20
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
translocais de organização e influência, incluindo-se corporações transnacionais; a instituições
financeiras globais; a regimes internacionais de governança e redes culturais transnacionais; e
também se sujeitam à disponibilidade de tecnologias que assegurem a rápida transmissão da
marcha dos acontecimentos ocorridos a longas distâncias, como as flutuações monetárias e do
mercado de ações, desastres ambientais, acordos do comércio global e ao processo decisório
dos poderosos e influentes.
Boa parte de tudo isso é bastante conhecida, em razão da extensa literatura sobre globali-
zação, porém o que é menos considerado é o grau em que tais mudanças respondem por um
radical deslocamento da organização socioespacial. Há grande número de novos arranjos espa-
ciais que podem ser observados. Um deles é a radiação espacial, marcada por linhas e nódulos
de redes de transporte e comunicações virtuais e não virtuais que se cruzam a sua volta, sob
e sobre o mundo, que se converteram, por seus próprios meios, em mundos vivos de fluxos e
contatos (DODGE; KITCHEN, 2004) e que torna a comunidade e a conectividade a distância mais
facilmente alcançáveis e, com freqüência, em detrimento dos elos entre estranhos e espaços
mais próximos (GRAHAM, 2002). Outro arranjo é o fluxo global cotidiano, atado a cadeias de
suprimentos e a redes corporativas de alcances variados que unem produtores, intermediários
e consumidores de lugares mais inesperados a padrões altamente estruturados e próximos de
mutualidade e dependência (DICKEN, 2003; COE et al., 2004).
Um terceiro espaço é marcado por trilhas bastante exploradas, mas nem sempre visíveis, de
migração internacional, turismo, viagens de negócio, asilo e crime organizado que constituem
o espaço social habitado por números crescentes de pessoas, que trazem importantes impli-
cações para os que se contam como “fixos”, quando regiões se tornam espaços de trânsito e
estadas temporárias (CASTLES; MILLER, 1998; HARRIS, 2002; AMIN, 2004a). Um quarto espaço
é formado por agregações no espaço global, que compreendem desde atividades de cultura
cotidiana, formadas sob a influência global, até a diáspora e outras ligações culturais que são
transregionais e transnacionais, todas elas forçando novos significados do que se tem como
responsabilidade próxima e local.
Finalmente, os espaços políticos têm-se multiplicado, incluindo-se o aumento de agendas
de natureza política que ultrapassam os limites da comunidade, da prefeitura da cidade, do
parlamento, do estado e da nação, extravasando-se para invadir a máquina de virtuais esferas
públicas, organizações internacionais, movimentos sociais globais, diásporas, políticas e proje-
tos planetários e cosmopolitas (CONNOLLy, 2002; SLAUGHTER, 2004; GILROy, 2004).
A lista poderia continuar, porém fica claro o que queremos dizer acerca da espacialidade
das “regiões”. Os espaços relacionais, mencionados anteriormente, tornaram-se decisivos para
21
Política regional em uma economia global
a constituição do local – todos os lugares e não apenas os mais obviamente cosmopolitas, tais
como as cidades mundiais ou as regiões motrizes da economia mundial –, e esse lugar deve ser
visto como a reunião de contigüidades e conexões espaciais de variados alcance e intensidade
espaciais, mergulhado em trajetórias históricas ali embutidas (MASSEy, 2005).
Isso implica muito mais que a mudança do mundo como um espaço de fluxos e um espaço
de lugares, como Manuel Castells teorizou em sua exposição sobre a ascensão da sociedade em
rede. Os variados processos de extensão espacial, interdependência, fluxo e permeação territorial,
combinados com trajetórias in situ de evolução e mudança socioespaciais, somam-se ao deslo-
camento de uma ordem mundial aninhada em formações territoriais, compostas por discerní-
veis lados interiores e exteriores, para um mundo de arranjos espaciais heterogêneos, no qual o
interior e o exterior, cada vez mais constituídos por teias e demarcações feitas por topologias de
redes de agentes, fundem-se em configurações territoriais de organização e prática sociais.
Não se trata apenas de uma simples substituição do local pelo global, do lugar pelo espaço,
da história pela simultaneidade e pelo fluxo, da pequena escala pela grande escala ou do pró-
ximo pelo remoto. Não se trata de uma simples substituição de um espaço de lugares por um
espaço de fluxos, mas de um abarcamento do espaço e do local – do distante e do próximo, do
virtual e do material, do presente e do ausente – em um plano ontológico único (GRABHER;
POWELL, 2004). Sobre esse plano, a localização se mede pela posição em variadas ondulações
topológicas, ao invés de constituir uma questão de proximidade e distância geográficas de um
planejador. Regiões são produto de relações e conexões sociais – passadas e presentes – que as
permeiam em um dado momento (MASSEy, 2005). Tais relações devem ser plenamente com-
preendidas para que se possa explicar o que seja o “local”.
Entender regiões como topológica e relacionalmente constituídas é reconhecer a entidade
espacial bastante diferente das entidades territoriais, com as quais estamos acostumados a lidar
nos estudos de desenvolvimento regional, com consistentes pressupostos de interiores delimi-
tados / familiares / alicerçados, separados de exteriores alienígenas/invasivos/abstratos (SMITH,
2004; MARSTON et al., 2005). Sob o ponto de vista relacional, a região converte-se numa
soma de suas conexões espaciais, um lugar onde: i) ocorre uma miríade de redes, a interseção
de variadas longitudes, velocidades e duração; ii) muitos outros processos humanos, tecnoló-
gicos e planetários ali incidem, mesmo quando não diretamente ou apenas transitoriamente
presentes; iii) contigüidade especial, ou co-presença, não implica, necessariamente, intimidade
ou conectividade relacional; iv) a circulação de pessoas, mercadorias e coisas dentro e além das
cidades e das regiões torna-se elemento constitutivo; e v) a vida cotidiana regional é a soma
de lembranças do passado (incrustadas na memória e em práticas memoriais, de continuadas
22
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
gerações), da presença de instituições, normas e símbolos ocultos, do puro peso e volume da
presença diária e a da reverberação de tantas coisas vindas de longe que fluem de cadeias de
suprimento, sistemas de trânsito, redes virtuais e outras distantes conexões.
Na qualidade de entidade, portanto, a região tem de ser vista como um sítio poroso de flu-
xos e de circulação e como sítio de intensa justaposição de diferenças e de combinações híbri-
das, que modifica, buliçosamente, sua configuração espacial (AMIN, 2004b). Como nos importa
reconhecer tal espacialidade para a vida regional? Em primeiro lugar, ao nos levar a repensar
pressupostos longamente sustentados de intimidade/pertencimento/comunidade associados à
contigüidade e à continuidade espaciais. Numa leitura relacional, onde potencialmente o muito
distante pode estar muito próximo, o contíguo não detém posição privilegiada (MASSEy, 2004).
Em segundo lugar, não mais pressupõe onde esteja uma região ou sua conformação. Cartogra-
fias derivadas de jurisdições políticas e padrões de planejamento e colonização captam apenas
uma pequena parte de uma “região”, se coisas tais como geografias de ligações de diáspora,
redes virtuais, distantes cadeias de suprimento, remessas financeiras, comutação, migração e
outros padrões de viagens também tiverem de ser incluídas no desenho dos limites de uma
cidade. Em terceiro lugar, a constante tensão na região, entre fixidez e fluxo, estase e mudança,
integração e fragmentação, diversidade e uniformidade tem de ser levada em conta.
5. Em busca de uma política regional multipolar
Numa economia global, constituída de maneira relacional, na qual se tenha tornado normal
conduzir as atividades – econômicas, culturais e políticas – por meio de organização e fluxo
transterritorial a cada dia (URRy, 2002), a defesa do local, assim me parece, deverá cada vez
mais ser uma questão de exercício do poder nodal e de alinhar as redes em geral no interesse
próprio e não o de exercitar o poder territorial (a menos que se tenha acesso às fontes centrais,
tais como o controle dos meios de criatividade econômica e de execução institucional, como
alguns o fazem em certas regiões ou estados poderosos). Isso não significa reduzir a importân-
cia dos poderes que acompanham sua descentralização em áreas tais como serviços públicos,
bem-estar, educação, regulação ambiental e habitação – em que o controle local pode exercer
influência decisiva sobre a qualidade de vida local. Ao contrário, trata-se de precaver-se de que
esses poderes, como freqüentemente se supõe, ampliem sua capacidade de governar um espaço
geográfico “administrável”.
23
Política regional em uma economia global
Não há território regional definível que se possa dominar. Isso implica dizer que é necessária
uma estrutura de política regional alternativa, estrutura essa que veja a região como parte de
um conjunto mais amplo de conexões econômicas e deveres institucionais. Tal fato traz duas
importantes conseqüências para a formulação de políticas. Uma delas é que o esforço local terá
de ser feito através dessas amplas conexões e obrigações. A outra é que não poderá haver uma
simples divisão de responsabilidades entre as instituições nacionais e regionais.
5.1 Ação de nível regional
Atendo-nos, em primeiro lugar, à ação em nível regional, não devemos colocar foco tão–somente
sobre a economia de crescimento endógeno, baseado em aglomerados locais, mobilização do
sistema de inovação local (tal como tem sido comum defender em círculos voltados para polí-
ticas regionais), assim como depender de instituições locais (ASHEIM; COOKE ; MARTIN, 2006).
É também necessário encontrar um modo de agir criativamente com conectividade em uma
economia política integrada e sem, necessariamente, reduzir as opções de crescimento simples-
mente a metas de construção da competitividade (FUJITA; VENABLES; KRUGMAN, 2002). Três
breves exemplos são suficientes para ilustrar essa afirmação.
O primeiro, na área da inovação e da aprendizagem, a atual obsessão por formulação de
políticas com sistemas de inovação regional, baseados na geração local de conhecimentos
(p. ex., em distritos industriais ou tecnópoles) ou transferência de conhecimento local (p. ex.,
subprodutos – spin-offs – de universidades ou elos entre essas e empresas locais), precisa ser
reexaminada (BRESCHI; MALERBA, 2005). Torna-se cada vez mais claro que o conhecimento é
um ativo móvel e constituído relacionalmente, de variada composição espacial (p. ex., conhe-
cimento tácito produzido por comunidades de práticas do local de trabalho ou que é gerado a
distância por comunidades epistêmicas dispersas, comunidades virtuais ou no interior de redes
empresariais globais). Mesmo os mais bem–sucedidos sistemas de inovação regional, tais como
o Vale do Silício ou os distritos industriais baseados em especializações locais (craft-based)
existentem, hoje, como nódulos centrais nos sistemas globais do conhecimento, apoiando-se
no conhecimento codificado e tácito produzido em qualquer outra parte, moldado por padrões
e recursos educacionais, científicos e tecnológicos, nacionais e internacionais, e embutidos nas
cadeias corporativas de conhecimento de alcance espacial variável (BOCHSMA, 2005; SAXE-
NIAN; HSU, 2001; AMIN; COHENDET, 2004).
Uma imediata implicação, para as regiões carentes de capacidade endógena de desenvol-
vimento, é a imperativa necessidade de focar sua conectividade e conhecimento, definidos
24
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
de modo mais amplo, como meio de construir capacidade de aprendizagem, não importando
quão local o conhecimento é. Tal conectividade pode incluir intercâmbios internacionais de
pessoas e idéias criativas, a oferta de oportunidades de treinamento de educação elevada,
fora da região, para indivíduos e firmas de alto potencial, transferência de conhecimento,
orientada para com investidores internos, oportunidades para prática das comunidades locais
(trabalhadores, cientistas, doutores, especialistas, consultores) se liguem a comunidades de
conhecimento de outras partes, criar oportunidades de retenção de novos graduandos bem
como de imigrantes altamente qualificados e para a continuada manutenção da criatividade
cultural que nutre a atividade intelectual e criatividade social. Sabemos o suficiente sobre a
economia do conhecimento para concluirmos que as vantagens locais derivam da combinação
de três tipos de capacidade: possuir know-how (patentes, competências, qualificações, tecno-
logias); sustentar uma variedade de comunidades produtoras de conhecimento (onde é crucial
a sociologia da interação); e nutrir uma cultura pública do saber (refletida na qualidade da vida
cultural, do debate público, da atividade midiática, do envolvimento político).
No que se refere às regiões menos favorecidas, ganhar vantagem comparativa, no primeiro
conjunto de capacidades, é tarefa extremamente difícil, em razão das desvantagens históricas.
Porém as ligações externas, sugeridas anteriormente, podem ajudar. Entretanto, nos dois outros
conjuntos de capacidades – os quais raramente figuram na literatura sobre inovação regional
– há muito a conquistar (FUCHS; SHAPIRA, 2005). O que importa aqui é construir comunidades
criativas em todos os cantos da economia (não apenas de ciência e tecnologia, mas também de
habilidades de profissionais, especialistas e do conhecimento cotidiano), de tal modo que uma
rica ecologia do saber e da ação – baseada na conectividade local e translocal – seja posta em
prática. É importante cultivar, também, uma rica ecologia de know-how na cultura pública
– que atenda à qualidade do conhecimento que circula na arena pública, por meio da excelência
das escolas, da formação profissional, das universidades, das bibliotecas públicas, da mídia, das
artes visuais e cênicas, do nível de consciência pública, além do debate público em geral. Tudo
isso é ação construtiva de reservas de conhecimento, sem garantias e obrigações locais, reconhe-
cendo-se que a ligação entre a formação do conhecimento e o retorno econômico é não linear
e imprevisível, mas que sua plena dispersão amplia o ambiente de seleção para inovação.
Em segundo lugar, no âmbito do apoio direto aos negócios locais, a atenção à economia
da circulação deveria voltar-se para uma série de esquemas de ajuda para que os negócios
tenham como incrementar a competitividade nacional e internacional sem assumir externali-
dades locais (HUDSON, 2005; MORGAN, MARSDEN; MURDOCH, no prelo). Tais esquemas pode-
2�
Política regional em uma economia global
riam se constituir desde a facilitação do acesso a redes de distribuição rápida e de logística,
feiras internacionais de negócios e inteligência mercadológica sobre oportunidades de expor-
tação e fornecedores, por tornar possível o financiamento de longo prazo para a expansão dos
negócios (para compensar a cultura do financiamento com base no lucro e na auditoria), até a
oferecer diversas oportunidades às firmas de se ligar a ambientes de conhecimento e aprendi-
zagem mais amplos (ASHEIM; GERTLER, 2005). Diferentemente do passado, quando políticas
regionais extraíam poucos benefícios para as regiões oriundos de investidores internos, incen-
tivos dessa ordem deveriam ser negociados em troca de certas garantias para a condução dos
negócios, com a finalidade de maximizar o valor agregado local. Ao invés de procurar forçar a
ligação local com outras firmas e instituições, as agências regionais deveriam visar a que firmas
(inclusive investidores internos) viessem a contribuir para, digamos, um novo fundo destinado
a iniciativas de negócios, o engajamento em programas comunitários ou o exercício de res-
ponsabilidade social corporativa, por meio de planos de participação nos lucros e esquemas de
envolvimento de empregados. Desse modo, os lucros corporativos podem ser utilizados para a
construção da região sem que se pressuponha que a lucratividade das corporações dependa do
estabelecimento de alianças intra-regionais.
Em terceiro lugar, a idéia de regiões como locais de circulação deveria, por fim, redirecio-
nar-se para a realidade de que o grosso das transações econômicas regionais está associado
ao atendimento da demanda local – que vai desde satisfazer as necessidades de consumo e
bem-estar até a fazer com que pessoas e objetos circulem. Isso faz aumentar, de modo signifi-
cativo, a importância do crescimento regional orientado para a demanda e a importância de se
considerar a questão da regeneração econômica, relativamente à atual atenção ao crescimento
da competitividade por meio de incentivos orientados para a oferta. Isso força a dar atenção a
como os padrões locais de atendimento da demanda – o cotidiano nada atraente que sustenta
a vasta circulação de dinheiro, lucros e investimentos na economia local – poderiam ser utili-
zados em benefício do local. Isso amplia a necessidade de buscar modos pelos quais as cadeias
de suprimento globais poderiam ser utilizadas em benefício do local, por meio, digamos, da
terceirização local, receita tributária ou padrões de emprego para varejistas, assim como a
necessidade de atentarmos para os circuitos de suprimentos que poderiam explorar recursos
locais, por exemplo, na economia do bem-estar, economia social, mercados agrícolas, esquemas
de troca local, mercados de segunda mão, recuperação orientada para as necessidades sociais.
2�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
5.2 Ações em nível nacional
Quanto ao nível nacional, fica claro que mesmo a estratégia local mais imaginativa não terá
êxito sem a sustentação de medidas vindas do Centro para combater a desigualdade regional.
A economia global “em rede” possui sua própria economia política, que premia os agentes con-
troladores dessa rede econômica e os lugares que dão origem ou transmitem os fluxos globais,
conhecimento e criatividade. Nada mudou que viesse a sugerir que o desenvolvimento desigual
não permanece como característica do sistema econômico; desigualdades dentro e entre redes
relacionais continuam a configurar o mapa dos padrões regionais de desigualdade existentes.
Naturalmente, a questão é: onde fica o “Centro” na economia globalizada? Está nas regiões
prósperas que continuam a sugar recursos e atenção. Está no Estado Nacional e em todas as
suas regras, instituições e estruturas de formulação de políticas. Está nas agências internacio-
nais, tais como o Banco Mundial, nos blocos regionais como a UE e nos poderes hegemônicos,
tais como Estados dominantes e corporações transnacionais.
Sem dúvida, há muita coisa que as organizações internacionais e os blocos regionais podem
fazer para assegurar que os termos de troca e investimentos atuem em favor das regiões menos
favorecidas. No entanto, sob o domínio de idéias e políticas neoliberais entrincheiradas, o melhor
que se pode oferecer internacionalmente parece ser, como já se sugeriu, políticas assistenciais,
uma vez que políticas e ações redistributivas de controle do crescimento nas regiões ou ati-
vidades mais prósperas, das que detêm o maior poder econômico, são consideradas um tanto
distorcivas do mecanismo de mercado (como se os poderosos estabelecessem, eles próprios, as
regras de mercado!) e de solapamento da filosofia de crescimento do tipo “briga de cachorro”
(dog-eat-dog) que tem prevalecido. Ultimamente, sob a pressão de movimentos advindos de
e para o Sul global e do total colapso de continentes inteiros como a África, desdobra-se uma
nova lógica de mercado compassivo, manifesto em promessas tais como alívio ou cancelamento
de dívidas, ajuda internacional aperfeiçoada e programas de combate à pobreza, como parte de
um pacote de políticas pró-desenvolvimentistas. Essa mudança é bem-vinda, porém é medida
que, de maneira consistente, fica aquém do combate às fontes não autóctones da pobreza e das
dificuldades relacionadas ao comércio desregulado, de políticas favoráveis aos poderosos, do
poder das corporações (como a evidente relutância em substituir o regime de livre-comércio por
um regime de comércio justo). Esse novo desdobramento não é inconsistente com o profundo
desconforto da Terceira Via com o que seja responsável pela distorção das chamadas forças de
mercado, excluindo-se o apoio do Estado aos centros de crescimento estabelecidos.
2�
Política regional em uma economia global
Não está claro se as medidas emergentes na comunidade internacional de formulação de
políticas, em direção a um modelo de mercado amistoso, de igualdade espacial, favorecerão
muito as regiões em desvantagem dentro das nações desfavorecidas. Minha impressão é que
no Sul global, no que se refere à dinâmica do desenvolvimento econômico, as reformas falarão
no interesse das elites estabelecidas, das zonas de livre-comércio ou investimento internacio-
nal e dos centros metropolitanos mais vibrantes, ao invés de oferecer maior fôlego às cidades
e às regiões que enfrentam privações e desestabilização econômica perdurantes. Em razão da
ênfase dada a soluções orientadas para o crescimento, destinadas a minorar as condições eco-
nômicas e sociais desfavoráveis, parece improvável que esse viés tácito, em favor de centros de
crescimento estabelecidos ou emergentes, venha a alterar-se. No caso dos blocos econômicos
mais prósperos, como é o da UE, que estabeleceu políticas regionais para enfrentar os proble-
mas do desfavorecimento no nível subnacional, o novo regionalismo assistencial, como já se
argumentou anteriormente, é parte de uma abordagem pró-mercado mais ampla, com podero-
sas forças centrípetas em favor das regiões mais prósperas. É necessária uma mudança radical
de pensamento, mas esta parece especialmente improvável neste momento em que a Europa
prevê a ameaça americana, chinesa e indiana (embora as coisas possam mudar, se os custos de
crescimento mais importantes sobrevierem das regiões centrais no futuro próximo).
Contrário a esse pano de fundo um tanto pessimista, a responsabilidade primordial em dar
forma a um novo modelo de igualdade regional permanece nas mãos dos governos nacio-
nais, embora conforme os termos impostos pela comunidade internacional (uma vez que as
ameaças associadas à desglobalização permanecem altas, na medida em que as estratégias de
colaboração não alinhadas continuarem frágeis). Isso está a exigir sério comprometimento,
com a dispersão de iniciativas econômicas e capacidade institucional de âmbito nacional.
É preciso rejeitar o pressuposto batido de que qualquer obstáculo à maior expansão dos cen-
tros de crescimento já estabelecidos provocará o malogro dos investimentos, uma vez que as
firmas reagem contra o controle das decisões locacionais. Não há razão para se acreditar que
uma combinação de controles, cuidadosamente estudados, sobre a expansão ainda maior de
pontos aquecidos (p. ex., sobre novas estruturas industriais), com a garantia de uma rede de
transportes e comunicações nacionais eficientes e incentivos destinados a encorajar as firmas
a estabelecerem-se em regiões menos favorecidas não venham a funcionar. Indubitavelmente,
em países como o Reino Unido, em razão de crescentes custos impostos pelo congestionamento
de transporte, pela poluição ambiental, pela carência de mão-de-obra, pela inflação salarial e
pelos preços de habitação proibitivos em Londres e no Sudeste, a Promessa do Norte poderia
2�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
ser bem-vinda pela indústria; porém, ainda que não fosse isso, poderia ser necessária para
maior expansão da economia nacional.
Grandes projetos de infra-estrutura nacional, tais como novos aeroportos, terminais fer-
roviários e centros de integração de telecomunicações, interligados apropriadamente a uma
avançada e integrada infra-estrutura nacional de transporte e comunicações, podem irradiar-
se pelo espaço nacional sem que haja significativos efeitos de “deterioração causados pela
distância” das áreas mais povoadas do país. Vejam-se as possibilidades abertas na França pelo
TGV e pelos sistemas avançados de telecomunicações proporcionados pelo Estado, que trou-
xeram os centros de integração da economia do conhecimento localizados no sul (p. ex., Sofia
Antipolis) e no leste (p. ex., Grenoble) diretamente para o centro da infra-estrutura científica
e tecnológica da nação. O pressuposto de que o crescimento nos centros aquecidos seja bom
para o país como um todo deve ser substituído pela idéia de que o desenvolvimento das regiões
é melhor para a nação. Nada que esteja aquém da mudança desse tipo de pensamento será
capaz de enfrentar o problema regional.
Inevitavelmente, tudo isso terá de significar medidas especiais para as regiões menos desen-
volvidas, inclusive as tradicionais, tais como incentivos fiscais e financeiros, porém medidas
mais amplas e reinventadas a fim de superar as pequenas ajudas aos investidores internos. Uma
possibilidade seria oferecer incentivos fiscais para o comércio no interior de áreas altamente
deprimidas, para estimular mercados locais, ou incentivos tais como acesso a financiamento
subsidiado ou financiamento “descomplicado” para firmas localizadas em regiões carentes de
recursos monetários. Outra possibilidade é a redução de impostos sobre vendas para firmas ali
localizadas, especialmente para as micro e pequenas firmas e para outras fontes primárias de
emprego.
Além dos incentivos regionais, a economia da dispersão, com vistas a servir ao interesse
nacional, deveria incluir governos e setor público. Tal como argumentei na seção anterior, isso
faz sentido tanto político quanto econômico, como um braço de uma renovada política eco-
nômica regional. Diferentemente do passado, tal relocação deveria fazer mais do que transferir
empregos de segunda linha ou funções não estratégicas de uma burocracia de outra forma
localizada em centros metropolitanos. Os efeitos locais dessa descentralização, observados em
muitos países nas décadas de 1950 e 1960, foram limitados, não apenas porque atividades de
nível inferior tendiam a ser transferidas enquanto o controle e o poder permaneciam nas prin-
cipais cidades, mas também porque a racionalidade permanecia sendo a de conceder às regiões
pedaços “administráveis” da divisão nacional do trabalho, em vez de lhes conceder controle e
responsabilidade nacionais. Ora, a lógica deveria ser a de relocalizar todos os ministérios para a
2�
Política regional em uma economia global
“periferia”, assim como se faz com o funcionalismo público, o Judiciário, as instituições nacio-
nais, tais como as doutas academias e os conselhos de pesquisa.
Sem dúvida, nesse respeito, o Brasil tem um passado muito interessante, permeado de bra-
vura. Porém, na Inglaterra, a geografia do financiamento da pesquisa é altamente viesada, em
parte como conseqüência do centrismo londrino de relevantes órgãos públicos. As principais
agências financiadoras, incluindo-se os conselhos de pesquisa, o Office of Science and Techno-
logy, o Conselho para o Financiamento da Educação Superior da Inglaterra, sediados no Sul, e
a distribuição de recursos para as universidades do Norte são desproporcionalmente pequenas.
Os centros de excelência nacional, tão vitais para o êxito da chamada “economia do conhe-
cimento”, estão principalmente sediados no grande Sudeste. A relocalização de instituições
financiadoras, combinada com a explícita regionalização dos gastos, num esforço de criar cen-
tros de excelência nacional por todo o país, fortaleceria consideravelmente cada região para
enfrentar os desafios de criação de massa crítica de recursos provenientes do conhecimento,
tais como os anteriormente discutidos.
O uso de políticas regionais para fazer dispersar instituições estatais e públicas pode ren-
der dois impactos econômicos significativos. O primeiro deles conferiria às regiões a chancela
política, os recursos institucionais, o investimento fixo e recorrente e a completa gama de
qualificações, competências além da capacidade de reunir conhecimento e aprendizagem que
acompanham a administração dos recursos nacionais. Estes não só assegurarão emprego e
renda em determinadas áreas de importância nacional, como também a gama de recursos, de
capacidade e de conhecimento necessários ao status de pólo de crescimento e de subprodu-
tos derivados das cadeias de atividade. Em segundo lugar, produziria um forte sinal de que a
economia nacional tem condições de funcionar como amálgama de muitos sítios de especia-
lização, “até mesmo” em regiões menos capazes de exercer papel de destaque na divisão de
trabalho nacional e internacional.
Para resumir, uma reconsideração da geografia da economia nacional aponta para múltiplas
geografias de organização e fluxo que transcendem e rompem os limites territoriais regionais.
O pensamento atual e as práticas de políticas regionais buscam aperfeiçoar a economia do
crescimento negado, mas, por isso, não conseguem reduzir a desigualdade regional. A alter-
nativa, proposta neste artigo, rejeita o pressuposto de que essa incapacidade de solucionar
os problemas regionais seja um problema regional e recomenda um regionalismo econômico
menos usurpado e um forte compromisso nacional de descentralizar a economia.
30
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
5.3 Organização de governo mais bem distribuída
Tal compromisso de descentralizar a economia tem de estar acompanhado por um compro-
misso de descentralizar o poder político nacional. O pressuposto por trás do regionalismo da
Terceira Via –qual seja, de que a geometria do poder de uma nação tem de coincidir com a con-
centração de poder e autoridade nas regiões mais prósperas, enquanto as “regiões” devem lidar
apenas com seus próprios assuntos com variadas formas de poderes descentralizados – tem de
ser substituído por um princípio mais equânime, isto é, de que as “regiões” conformam a nação.
Isso significa tanto o deslocamento do poder do centro, bem como a atribuição de papéis às
regiões que servem ao país como um todo. Sem que isso ocorra, as desigualdades de poder, que
constantemente privilegiam as regiões mais ricas (sempre tidas como de interesse “nacional”,
por alguma razão estranha), não serão vencidas. Tais disparidades, no entanto, são uma das
principais fontes de desigualdade regional.
As mudanças no espaço político nacional, portanto, precisam ser muito mais profundas
do que simplesmente uma forma de descentralização de poderes, que se tornou comum no
pensamento sobre políticas regionais na UE, e demandam pelo menos três outras mudanças.
A primeira delas terá de ser uma ampla relocalização de instituições públicas nacionais e
instituições ícones para as regiões, de tal modo que as cidades secundárias possam começar
a conduzir assuntos nacionais e auferir os benefícios que se lhes seguem. Por exemplo, par-
lamentos e outras esferas estatais, juntamente com a vasta máquina política controlada pelos
governos e a máquina midiática em seu entorno, deveriam ser relocalizados em uma cidade
por um determinado período, depois para uma outra, e talvez compartilhar instalações de
assembléias regionais, com a finalidade de minimizar custos com constantes transferências de
governo. O impacto dessa medida sobre o imaginário nacional seria o de respirar (em todos os
sentidos!). Órgãos governamentais e setores do funcionalismo público, como um todo, pode-
riam estar dispersos em cidades por todo o território nacional para o desempenho de obriga-
ções nacionais específicas, tais como educação ou defesa, ou ainda política financeira, a partir
dessas cidades. Seria de se esperar que essas ações pudessem ajudar na recuperação regional.
O mesmo princípio poderia ser aplicado às instituições culturais nacionais. Por que supor,
automaticamente, que novos museus nacionais e outros projetos artísticos e culturais, finan-
ciados pelo erário público, devam situar-se apenas nas cidades primazes? O conselho nacional
das artes, os estádios esportivos nacionais e os incontáveis outros órgãos e projetos nacionais
poderiam facilmente prosperar a distância do centro. Em todo caso, nada impediria que esses
novos órgãos e projetos nacionais tivessem escritórios de representação na cidade primaz! Uma
31
Política regional em uma economia global
vez em andamento – quanto mais o processo tornasse “normal” que instituições nacionais se
localizassem longe do centro – menor a necessidade de estruturar o debate sobre localização
na linguagem de centro versus periferia, que parece ter assumido proporções tão amplas, e
menor o sentimento de que a função desenvolvida a partir do centro parecesse um ato de
banimento ou de importância secundária.
A segunda mudança tem, portanto, o papel de erigir uma apropriada postura para a demo-
crática estrutura espacial. Isso significa, sobretudo, a mobilização de instituições–chave de
representação democrática por todo o país. O Parlamento deveria ser visitante, e não o con-
trário. O que deveríamos ver é a marcha da “corte política”, inclusive o Parlamento, em torno
das cidades do país, e não a marcha para a corte de séculos atrás. O Parlamento passaria a
funcionar em muitos lugares durante o ano, ao invés de apenas em um único lugar, com todo
o poder simbólico e real que tal concentração pode reunir.
Em terceiro lugar, a distribuição das políticas exige um ataque concertado à estrutura insti-
tucional de noticiários e opiniões centrada na cidade primaz, por meio da forçada movimenta-
ção de seus elementos–chave constituintes, em direção às regiões. Por exemplo, formuladores
de política (think-tank), mídia e os muitos grupos de pressão, lobbies, organizações formadoras
de opinião e comentaristas políticos, que constantemente cercam o poder centralizado, são
parte do problema. Exercem, todos, papel central na sustentação do pressuposto de que a
nação tem de ser gerida em um único local estratégico. Essa vinculação a apenas uma região é
um problema, uma anomalia. Em outras palavras, toda a estrutura de opiniões e comentários
precisa ser descentralizada.
Todos esses movimentos de dispersão representam uma maneira radicalmente nova de se
imaginar a espacialidade do poder nacional – não mais vista como uma nação de poder cen-
tralizado, de obrigações tributárias, mas como uma nação multinodal. Essa mudança cultural
auxiliará as regiões a suplantar as limitações próprias de suplicantes políticos e a assunção
nacional de que o poder nacional tem de ser centralizado em um único lugar. As regiões neces-
sitam mais do que poderes locais. Elas precisam ser capazes de se transformar no coração do
poder político, ser hábeis para representar a nação e para o exercício de autoridade sobre
outros lugares e espaços. Precisam se tornar atores no campo da política nacional. Sem que
isso ocorra, suas prioridades de desenvolvimento permanecerão secundárias, constantemente à
mercê do poder central localizado alhures.
32
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
6. Conclusão
A defesa que aqui faço está em que a efetiva recuperação econômica local exige organização
multipolar de governo, pela qual as regiões possam administrar áreas distintas da vida nacional
(ao invés de simplesmente o conjunto limitado que compõe seus assuntos próprios), bem como
contar com a ação do Estado para redirecionar oportunidades para si, defender suas estraté-
gias de baixo para cima e regular a competição inter-regional. Essa não é uma defesa para a
abordagem de simples ajuda (hand-out) para a recuperação local, mas para o reconhecimento
do princípio da mutualidade e da conectividade espaciais. Se não se der atenção a circunstân-
cias institucionais e de mercado mais amplas que conformam os destinos das localidades, as
estratégias orientadas para as comunidades nunca passarão de um paliativo para as cidades e
regiões sob forte pressão, possivelmente até mesmo uma ducha fria, na medida em que o apoio
ao Estado de bem-estar e outras medidas redistributivas forem sutilmente rebaixadas, em nome
do apoio a uma abordagem de fortalecimento das comunidades, enquanto a parte do leão da
atenção, dada às políticas e aos arranjos institucionais para o desenvolvimento econômico
nacional, permanece viesada em favor das cidades e regiões mais prósperas. Trata-se, simples-
mente, de atitude perversa o fato de que o “social” deva ser relegado a um instrumento de
recuperação econômica para aquelas áreas nas quais se considera que o “social” seja um tanto
deficiente, enquanto outros caminhos para a regeneração e outras restrições a ela – nacionais
ou regionais – nessas áreas permanecerem sem a devida atenção.
É importante reter um sentido plural, do significado político e mais cosmopolita do compro-
misso social e espacial, ao imaginarem-se estratégias de recuperação. Recuperação não pode
ser uma questão localista ou uma questão de responsabilidade local tão-somente, mas parte
de uma economia política mais ampla de poder descentralizado e de justiça redistributiva.
A sociedade local – pelo menos em áreas submetidas a dificuldades sociais e econômicas – não
pode ser caricaturizada da forma como a Terceira Via tendeu a fazer, mas merece ser entendida
como parte de uma sociedade cosmopolita, não culpada por seus sintomas, mas fortalecida
sem expectativas. A democracia deve ser preservada, assim como o direito a diferenças deve
ser respeitado em áreas como essa, inclusive o direito de engajar-se livremente, o direito de
discordar, o direito de não pertencer à comunidade e o direito de não buscar sozinha a solução
de seus próprios problemas. Não se trata aqui de reivindicar um retorno aos velhos tempos de
dependência do Estado ou de outros, apenas a sugestão de que somente o fortalecimento da
33
Política regional em uma economia global
comunidade não restaurará a economia e a sociedade nas áreas sob pressão, mas também de
se indagar por que tais localidades merecem tão-somente continuar como comunidades locais,
enquanto a outras é permitido gozar da condição de sociedades cosmopolitas.4
4 [ N. do A.]: Sou grato ao professor Clélio Campolina Diniz por ter-me convidado a escrever este artigo e pela hospitalidade a mim dispensada, assim como a seus colegas, por ocasião de minha visita ao Brasil, em razão da realização do seminário internacional em que este trabalho foi apresentado.
34
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
AMIN, A. An institutionalist perspective on regional development. International Journal of Urban and
Regional Research, 2, p. 365-378, 1999.
_______.Regulating economic globalization. Transactions of the Institute of British Geographers, 29,
2, p. 217-233, 2004a.
_______. Regions unbound: towards a new politics and place. Geografiska Annaler B, 86, 1, p. 31-42,
(2004b).
AMIN, A.; COHENDET, P. Architectures of knowledge: Firms, capabilities, and communities. Oxford:
Oxford University Press, 2004.
AMIN, A. MASSEy, D.; THRIFT N. Decentering the nation: a radical approach to regional inequality. ,
London: Catalyst, 2003.
ASHEIM, B. T.; GERTLER, M. Regional innovation systems and the geographical foundations of innovation.
In: FAGERBERG, J.; MOWERy, D.; NELSON, R. (Eds.). Understanding innovation. The Oxford Handbook in
Innovation Studies. Oxford: Oxford University Press, p. 291-317, 2005.
ASHEIM, B.; COOKE P.; MARTIN, R. (Eds.). (2006), Clusters in Regional Development. Routledge, London,
(forthcoming) BATT, J.; WOLCZUK, K. (Eds.). Region, state and identity in central and eastern Europe.
London: Frank Cass, 2002.
BOSCHMA, R. A. Proximity and innovation: a critical assessment, Regional Studies, 39, 1, p. 61-74,
2005.
BRESCHI, S.; MALERBA, F. (Eds.). Clusters, networks & innovation. Oxford: Oxford University Press,
(2005).
CASTLES, S.; MILLER, M. the age of migration. 2. ed. Basingstoke: Macmillan, 1998.
CONNOLLy, W. E. Neuropolitics: thinking, culture, speed. Mineapolis: University of Minnesota Press, ,
2002.
COE, N. et al. Globalizing regional development: a global production networks perspective. Transactions
of the institute of british geographers, 29, 4, p. 468-484, 2004.
3�
Política regional em uma economia global
DETR. Building partnerships for prosperity: sustainable growth, competitiveness and employment in the
english regions. Cm 3814. London: The Stationery Office,, 1997.
DTLR. Your Region, Your choice: revitalising the english regions. Cm 5511. London: The Stationery Office,
2002.
DICKEN, P. Global shift, sage. London, 2003.
DODGE, M.; KITCHEN, R. Flying through code/space: the real virtuality of air travel. Environment and
Planning A, 36, p. 195-211, 2004.
EU (2004). A new partnership for cohesion. European commission, Brussels.
FUCHS, G.; SHAPIRA, P. (Eds.). Rethinking regional innovation and change. Berlin: Springer, 2005.
FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. The spatial economy: cities, regions and international trade.
Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
GILROy, P. After empire: melancholia or convivial culture? London: Routledge, , 2004.
GRABHER, G.; POWELL, W. W. Exploring the webs of economic life. In: GRABHER, G.; POWELL, W. W.
(Eds.). Networks. Cheltenham: Edward Elgar , 2004. p. 1-36 (Critical Studies Economic Institutions Se-
ries).
GRAHAM, S. FlowCity: networked mobilities and the contemporary . Journal of Urban Technology, 9, 1,
p. 1-20, 2002.
HALL, S. New Labour’s double-shuffle, Soundings, 24, p. 10-24, 2003.
HUDSON, R. Economic Geographies. London: Sage, 2005.
HARRIS, N. Thinking the Unthinkable.London: Tauris and Co, 2002.
MARSTON, S.; JONES, J. P.; Woodward, K. Human Geography without scale. Transactions of the Institute
of British Geographers, 30, 4, p. 416-32, 2005.
MARTIN, R. L.; SUNLEy, P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? Journal of Econo-
mic Geography, 3, p. 5-35, 2003
MASSEy, D. Geographies of responsibility. Geografiska Annaler, 86B, 1, p. 5-18, 2004.
3�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
_______. For Space. London: Sage, 2005.
MORGAN, K.; MARSDEN, T.; MURDOCH, J. (forthcoming) Worlds of Food: Agri-Food Chains and Regional
Development. Oxford: Oxford University Press.
OECD. Cities and regions in the new learning economy. Paris, 2001.
SAXENIAN, A.; HSU, J-H. The silicon valley-hsinchu connection: technical communities and industrial
upgrading. Industrial and Corporate Change, 10, 4, p. 893-920, 2001.
SIMMIE, J. Innovation and space: a critical review of the literature. Regional Studies, 39, 6, p. 789-804,
2005.
SIMMIE, J. et al. ‘Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities’, Regional
Studies, 36, 1, p. 47–64, 2002.
SLAUGHTER, A.M. A New world order. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
SMITH, A. Regions, spaces of economic practice and diverse economies in the ‘new Europe’ European
Urban and Regional Studies, 11, 1, p. 9-25, 2004.
URRy, J. Global complexity, Cambridge: Polity Press, 2002.
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
3�
A. Costa-Filho
Globalização e desenvolvimentoregional endógeno:
algumas observações exógenas
A variada literatura sobre desenvolvimento regional endógeno reúne um respeitável corpo
de conhecimentos. Este texto trata apenas de alguns aspectos, os quais merecem ser
reconsiderados quando vistos desde o entorno do “objeto” regional. Entorno dominado hoje,
precisamente, pelos fenômenos da globalização. Um conhecido sociólogo português nos lem-
bra que, “freqüentemente, o discurso sobre globalização é a história dos vencedores contada
pelos próprios” (SANTOS, 2005). As teses do desenvolvimento endógeno estão impregnadas
dessa crença. E então se cruzam os mais distintos discursos, quando tais teses são contrastadas
à luz das experiências comparadas da Europa e da América Latina.
É natural, neste caso, que se localizem similitudes de desafios entre ambos os lados do
Atlântico em matérias como taxas de crescimento, níveis de produtividade, déficits de com-
petitividade, abastecimento energético, geração de emprego, concentração urbana e mesmo
de exclusão social (EUROPEAN COMISION, 2006). Chama atenção, por exemplo, que territórios
menos desenvolvidos da União Européia “dos 25 países” correspondam a 10% da população
comunitária e a cerca de 2% do seu PIB, cifras próximas às do conjunto do Ceará, Maranhão e
Piauí com relação ao Brasil (HALL, 2006). De todo modo, a mencionada variedade de discursos
é em si proveitosa diante da riqueza maior da experiência européia, em matéria de desenvol-
vimento regional.
Os pontos de vista a seguir expostos estão influenciados pela produção teórica e técnica do
Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social (ILPES), fonte his-
tórica de reflexões sobre o desenvolvimento regional; sobretudo, da realizada entre 1982-1992,
quando este autor o dirigiu. Posteriormente, esta vocação do Instituto encontraria continui-
dade na sua nova situação de órgão interno da Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe. Na história do Instituto cabe destacar Carlos de Mattos e Sérgio Boisier, aos quais se
somaram outros renomados especialistas mediante consultorias específicas ou apoios à capaci-
3�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
tação, alguns dos quais constam da bibliografia incluída neste trabalho. Essa tradição regiona-
lista se mantém, agora, pelo trabalho continuado de Ivan Silva e Luis Lira. No referente à tese
“endógena” se reconhece o pioneirismo do ILPES ao abrir, em agosto de 1989, ampla discussão
dos seus alcances (ALBUQUERQUE, DE MATTOS e JORDAN, 1990).
Há uma década e meia já se insistia na idéia de que dentro das relações Norte–Sul eram
especialmente fecundas as que podiam ser estabelecidas entre a Europa comunitária e América
Latina, em particular nos temas do desenvolvimento regional (ILPES, 1992). Dois anos antes se
reconhecera que além da cooperação comunitária ou bilateral com a Europa, descortinavam-se
amplas possibilidades de cooperação entre “coletividades locais”. Os atores-chave passavam a
ser comunidades, departamentos instâncias subnacionais), regiões, municipalidades e distritos,
tendo-se como possíveis coadjuvantes outras instituições ligadas ao desenvolvimento local,
como universidades, câmaras de comércio, associações de classe e ONGs (ILPES, 1992).
A presente coletânea coroa uma relevante etapa de reelaboração da política regional bra-
sileira (GALVÃO, 2006). Este capítulo, entretanto, limita-se ao tema genérico do desenvolvi-
mento endógeno, dentro da perspectiva assinalada. As primeiras partes tocam aspectos econô-
micos, sociais e políticos, sempre sob a acepção hartmanniana das suas interdependências, tais
como introduzidas na literatura latino-americana sobre desenvolvimento regional (CORÁGGIO,
1977a). Na terceira e última parte se insiste na urgência de um ajuste epistemológico ao se
tratar a questão da complexidade no conjunto das questões regionais (COSTA-FILHO, 1997).
1. Foco econômico: uma visão majoritária
Outro co-autor do presente livro oferece uma das mais sintéticas explicações do desenvolvi-
mento endógeno: até há pouco, as políticas de desenvolvimento regional eram centradas nas
empresas, sustentadas em incentivos, dirigidas pelo Estado e relativamente uniformes. Teria
havido um traço de união nos enfoques teóricos anteriores (no keynesiano e no neoliberal),
quando se supunha que “políticas de cima-para-baixo poderiam ser tomadas de uma prateleira
e aplicadas genericamente para todo tipo de região”. Entretanto, acrescenta, “tiveram elas êxito
modesto em estimular progressos sustentáveis nas economias pouco competitivas das regiões
menos favorecidas”. O desenvolvimento endógeno busca ser outra alternativa, “agora de baixo-
para-cima”, especificamente regional, apontada ao longo prazo e baseada em pluralidade de
atores” (AMIN, 1998).
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
3�
Como se sabe, esta última proposta se difunde a partir dos anos 1980, já em plena afirma-
ção do novo padrão produtivo-tecnológico. Da produção em massa ford-taylorista de manu-
faturas industriais “padronizadas”, já se passava à industrialização de produtos diferenciados,
em pequenas escalas e, idealmente, ajustados aos requisitos dos consumidores. Da máquina
com finalidade única, operada com baixo requerimento de qualificação, já se transitava à de
processos múltiplos, com trabalho especializado, vigiada por equipamentos digitalizados de
controle numérico. Na esteira dessa mudança tecnológica entendeu-se que se abriam, à escala
subnacional, oportunidades inéditas para novas empresas, pequenas e médias, participarem da
nova divisão de funções desta economia modernizada, com níveis de produtividade próximos
aos do mundo desenvolvido. Implicaria, sim, que novas instituições fossem criadas com vistas a
este propósito estratégico, incluindo mudança das regras que regulam os agentes econômicos
regionais, abrangendo a aquisição, a absorção e uso dos novos saberes tecnológicos, codifica-
dos ou tácitos. Esse substrato econômico prevaleceria nas várias abordagens “endógenas” sobre
o desenvolvimento territorial (sobre a evolução destas abordagens veja-se HELMSING, 1999).
Esse predomínio do econômico se evidencia na proposta de um dos mais renomados defen-
sores do desenvolvimento endógeno: seus determinantes incluem a criação e a difusão das
inovações, a organização flexível da produção, a geração de economias de aglomeração e de
urbanização e o fortalecimento das instituições. “Estes são os fatores essenciais do processo
de acumulação de capital que cumpre ativar” (VÁSQUEZ-BARQUERO, 2000). Logo, outro pio-
neiro do tema amplia esta abordagem: “cabe entender o desenvolvimento endógeno regional
como fenômeno que se abre em quatro planos entrecruzados: no político, crescente capaci-
dade regional para tomar decisões relevantes; no econômico, apropriação e re-investimento
regional de poupanças; no científico e tecnológico, capacidade regional de gerar seus próprios
impulsos tecnológicos de mudança; e no da cultura, matriz geradora da identidade sócio-ter-
ritorial” (BOISIER, 2001). Basta, porém, trasladar o “tecnológico” ao plano econômico para que
sua dominância fique reiterada. A questão é que esta dominância tem dois fundamentos que,
à escala regional, são controversos: i) “inovar” para aumentar a produtividade; e ii) aumentá-la
com o fim principal de ganhar “competitividade”.
Pode-se assentar que as várias teorias do desenvolvimento regional endógeno têm por ful-
cro a inovação e, por objetivo maior, a competitividade. A estes dois conceitos se prende o
primeiro conjunto de percepções que aqui se deseja deixar registrado. Antes, vale advertir que
este autor já reconhecia a tendência de que, ao fim dos anos 1980, as políticas de re-inserção
na economia internacional adquiriam maior urgência na medida em que ali se aceleravam
as inovações em produtos, processos, comunicação, comércio e organização da produção. Ao
40
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
mesmo tempo, que aquela “aceleração aumentava o grau de indeterminação do futuro e, assim,
a incerteza mudava de composição”. Esses atributos de “maior complexidade”, observados na
realidade social de cada país, já afetavam agudamente as possibilidades de desenvolvimento
regional (ILPES, 1989). Contudo, se propugnava pelo fomento às inovações a escala nacional, o
que, embora difícil, se afigurava mais factível do que em escalas menores.
Para a ortodoxia “endogenista”, inovar é tarefa atribuível a, praticamente, qualquer região.
Sabe-se que o êxito das “regiões inovadoras” em países como Itália, Alemanha, Estados Unidos
e França, entre outros) está presente, ainda que embrionariamente, na motivação das principais
propostas que se enquadram nesta ortodoxia. De fato, há evidências de que as inovações expli-
cam entre 80% e 90% dos ganhos de produtividade nas economias desenvolvidas (CROOKE,
URANGA, ETXEBARRIA, 1998; apud PINHO, CORTES, FERNANDES, 2005), e de que estes aumen-
tos respaldam, em cerca de 80%, as taxas de crescimento dessas economias (id. Ibd.; nota 5).
Pareceria natural, portanto, que criar “mecanismos regionais de fomento às inovações” passasse
a figurar como propósito maior em grande parte das novas propostas para o desenvolvimento
territorial, senão em todas elas. “Desenvolvimento endógeno é a habilidade para inovar em
nível local”, resume um dos principais analistas dos êxitos regionais da Itália, endossado por um
dos autores mencionados (GARÓFOLI in, BOISIER, 2001).
Cabe consignar a esta altura as advertências que têm como pivôs esses dois conceitos: ino-
vação e competitividade. No tocante às inovações, convém dar atenção às diferentes suspeitas
de que sejam elas triviais como fatores críticos em qualquer desenvolvimento local. Vários
autores mostram prudência com esta proposta “endógena”, argumentando que “estão as ino-
vações limitadas pelo papel desempenhado pela grande empresa” (PINHO et al., 2005). Similar
sensibilidade se expressa em dois outros especialistas quando, referindo-se à questão regional,
recordam que “as empresas multinacionais são os verdadeiros atores e artesãos da economia
mundial” (AMIN e ROBINS, 1994). E mais perturbadora é a preocupação de um regionalista
antes mencionado: “fomos e somos periferia do sistema global capitalista e isto determina os
caminhos específicos, os recursos, as histórias e as vontades que possamos mobilizar para con-
tribuir com um mundo melhor” (CORÁGGIO, 2004).
Recorde-se que esta limitação das possibilidades regionais oriunda do padrão mundial de
desenvolvimento fora, de diversos ângulos, apontada por um dos pioneiros do planejamento
regional antes citado. Há um quarto de século nos advertia: “quando se define uma estratégia
de desenvolvimento regional, cabe ter em conta que cada região de um sistema nacional está
afetada por esta dinâmica capitalista) global e que, assim, as ações propostas que não lhe sejam
compatíveis dificilmente chegarão à execução” (DE MATTOS, 1982). Um ano antes, já endossara
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
41
o argumento análogo de outro especialista: “os problemas que caracterizam o atraso relativo
de um subespaço nacional (...) devem ser entendidos como funcionais aos requisitos de funcio-
namento do modelo de desenvolvimento vigente” (DE MATTOS, 1981; ver também MELCHIOR,
1980).
Além das preocupações assinaladas, há espaço para outros argumentos. Deve-se rememorar
que “acelerar inovações” exige um gigantesco esforço de investigação, só financiável com mer-
cado amplo. A própria globalização das relações econômico-financeiras se explica, em parte,
pela necessidade de incrementar lucros e, assim, suportar custos crescentes na busca e na
incorporação de novas tecnologias. “O conectar-se a uma web mundial moderna e mesmo
a alguma das redes de investigação científica de ponta, não basta para garantir um surto de
desenvolvimento: as redes raramente têm acordos entre iguais e são elas mesmas altamente
hierarquizadas. As tarefas de ponta permanecem reservadas a quem disponha das mais altas
capacidades de processar informações; isto é assim em qualquer fronteira do saber cientí-
fico: estudos do genoma, simulação climática, oceanografia, cognição, desenvolvimento de
supercondutores, sistemas de defesa. Para desempenhar tarefas de ponta ter-se-á de dispor de
equipamentos computacionais de altíssimo rendimento capazes de processar em “10 elevado
a 12” ou mais operações por segundo, portanto, dominar esta tecnologia sensível de difusão
controlada. Em síntese, o novo padrão produtivo tecnológico, que obriga a globalizar, aumenta
a desigualdade a escala mundial. O poder real se concentra em corporações líderes ou nos paí-
ses que as abrigam. Ali se produz o novo saber em Ciência e Tecnologia, cujo acesso é árduo e
limitado” (COSTA-FILHO, 2004).
Os argumentos desses três últimos parágrafos já debilitam o poder das inovações locais que
poderiam ser base do desenvolvimento territorial. Deseja-se acrescentar um último argumento,
relacionado às fontes habituais de inovações. Parece ser de domínio popular a frase: produzir
é operar máquinas, inovar é criá-las. Um risco do esforço inovador mal dirigido é gastar-
se muito criando máquinas que em sítios mais desenvolvidos estão operando ou já ficaram
obsoletas. O vínculo universidade–empresa privada tende a ser também essencial neste caso,
embora com a certeza de que o esforço inovador será fundamentalmente da empresa. O autor
do presente texto analisou esse tema recentemente. Há evidência empírica de que a rela-
ção universidade-empresa privada é insuficiente ao longo da América Latina, com localizadas
exceções. Por vários motivos: i) desconexão entre as universidades e seus próprios centros de
pesquisas; ii) desequilíbrio de matrículas por cursos (só a minoria cursando Ciências mais vol-
tadas às inovações tecnológicas); iii) muitos laboratórios universitários estão obsoletos; iv) há
políticas inadequadas de salários e de gestão de competências e talentos; e v) em muitos casos,
42
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
pesquisadores de maior nível e com melhor diálogo com o meio empresarial estão afastados da
docência. Tudo isso dificulta que uma empresa inove. Ainda mais porque se registra, em todas as
latitudes, uma insuficiência histórica nos gastos empresariais com Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D). Mesmo nos países mais desenvolvidos, a inovação tecnológica é criada majoritariamente
pelos órgãos de P&D das empresas; basta um único exemplo: em meados dos anos 1990, só 3%
das patentes nos Estados Unidos se originaram nas universidades (COSTA-FILHO, 2005).
Tendo em conta o que se disse, como continuar a apostar firme na “capacidade endógena
de inovação” como sendo o principal elemento estratégico no desenvolvimento de áreas sub-
nacionais mais atrasadas? Há sim um espaço ilimitado para inovações incrementais que merece
ser explorado; esta possibilidade, entretanto, é insuficiente para converter as inovações em um
fator milagroso do processo de desenvolvimento territorial. Mesmo que se implantem mudan-
ças institucionais com este propósito firme. Sobre isto é oportuno rever a seguinte pérola: “há
risco de que esta ênfase institucionalista na prática e no pensamento sobre o desenvolvimento
regional fortaleça um otimismo paroquial (sic) apoiado na crença de que a construção local de
capacidades seja suficiente para garantir uma posição privilegiada dentro das redes globais”
(AMIN, 1998).
Parece oportuna outra precisão: enquanto inovar é o lema do dia na iniciativa privada,
elevar a produtividade e tornar-se mais competitivo são objetivos recomendados, tanto na
micro como na macroeconomia. São três conceitos que podem apoiar partes (apenas partes)
das estratégias de re-estruturação econômica do território. Ficou faltando tocar ainda este
outro pivô, pré-anunciado como a questão da competitividade. Do ponto de vista econômico,
o desafio regional está, agora, em elevar a produtividade para que se alcance melhor condição
de intercâmbio no mercado doméstico ou no externo.
Um analista latino-americano, inspirado no caso da Colômbia, amplia essa visão de forma
pouco freqüente, porém correta. Começa por dizer que “a articulação entre o desenvolvimento
social e a competitividade merece pesquisa mais profunda porque contém relevantes implica-
ções políticas”. E conclui: “não se pode ser competitivo à custa das condições de vida da popu-
lação” (MEDINA, 1998). Tal posição é similar à de outro co-autor do presente livro, que insiste
na “urgente necessidade de se articular a questão do combate à pobreza e à exclusão com as
medidas ativas de incremento da produtividade” (GALVÃO, 2006). Outro trabalho recente res-
palda estas percepções: “após mais de uma década de reformas, a heterogeneidade continua
sendo uma debilidade estrutural do sistema produtivo latino-americano e a concentração do
progresso técnico segue em aumento” (CIMOLI, 2006). Ou seja: tampouco para a região latino-
americana como um todo a aposta na competitividade já saiu premiada.
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
43
Outras percepções privilegiam o aspecto “local”. Um dos coordenadores desta coletânea
sustenta que “as políticas públicas deveriam partir da concepção de que o urbano estrutura o
espaço” (CAMPOLINA, 2006). Dentro de certos limites, é aceitável esta tese de que a globaliza-
ção, na sua antípoda, robustece o “poder local”, idéia, aliás, inextrincável de alguns dos funda-
mentos do desenvolvimento regional endógeno. É razoável admitir que a instância urbana: i)
favorece incrementar as relações governo–sociedade civil, mesmo porque, após anos e anos de
“ajuste e estabilidade”, urge conceber e montar novos mecanismos de solidariedade e partici-
pação comunitária; ii) facilita animar os atores sociais com vistas a uma inserção mais dinâmica
na economia globalizada; iii) permite incorporar projetos que amenizem o desemprego e/ou
melhorem –as infra-estruturas físicas – água e esgoto, eletricidade, transporte etc. – ou sociais
–educação, abastecimento, saúde, recreação, entre outras –, todos em prol de melhor qualidade
da vida urbana; e iv) pode ser a instância ideal para nova e melhor articulação entre governos
centrais e regionais; entre eles e o setor privado e, ainda, entre todos estes e sujeitos sociais sem
fins lucrativos ONGs. (COSTA-FILHO, 1996).
2. Focos social e político: visões múltiplas
As considerações até aqui apresentadas sobre desenvolvimento regional endógeno não partem
de qualquer fundamentalismo crítico ou anti-modernista. O fulcro da crítica está em que a
dominância do econômico, nos diferentes corpos teóricos que o respaldam, tende a reduzir
quando não a eliminar), preocupações mais generosas com os aspectos sociais e políticos da
realidade regional. Tira-os de foco. Quando a produtividade e a competitividade são postas
como objetivos privilegiados, é improvável, senão, impossível, que o emprego e a renda do tra-
balho não saiam vitimados. Especialmente competitividade, um termo que navega pelo léxico
do mercado enquanto seu quase-antônimo, solidariedade, navega pelo léxico da cidadania.
“O trabalho deve ser posto no centro da questão econômica ...). Um híbrido de keynesianismo
de baixa intensidade e de fanatismo por mercados competitivos não produzirá uma sociedade
mais eqüitativa”, prega um autor visitado (CORÁGGIO, 2004). Enquanto outro especialista nos
recorda: “desde um ponto de vista teórico, o excluído é desnecessário ao modelo de desenvol-
vimento vigente” (BURSZTyN, 2006).
Há dez anos o autor deste texto se perguntava se a globalização, como difusão mundial do
novo padrão produtivo – baseado no conhecimento – já havia produzido: i) novos e suficientes
44
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
mecanismos de representação social; e ii) maior presença cidadã, efetiva, nas decisões cruciais
sobre desenvolvimento; e se o Estado havia conquistado maior poder para repartir rendas, com
o fim de melhorar a equidade social. Respondendo a todas negativamente, sublinhava que “a
modernidade globalizada se defrontava, então, com três crises superpostas, respectivamente
de legitimidade, de participação e de justiça social” (COSTA-FILHO, 1996). É lamentável que
as respostas ainda possam ser as mesmas. Ao contemplar a realidade regional do Brasil atual
uma co-autora desta coletânea acrescenta alguns elementos relevantes como limitantes do
seu desenvolvimento: i) a dimensão continental do país; ii) reduzida capacidade de iniciativas
locais impulsionarem mudanças estruturais; iii) o baixo poder financeiro dos governos locais;
iv) a precariedade dos sistemas de acesso ao conhecimento na maioria dos municípios; e v) a
força do conservadorismo na escala local (BACELAR, 2004).
Com respeito a essa alçada regional subnacional, desde fins dos anos 1970 já se insistia, em
parte da literatura produzida pelo ILPES, na idéia de que os territórios organizados poderiam
cumprir um papel relevante como sujeitos em seus próprios processos de desenvolvimento.
Por outra parte, contrapunha-se que a lógica do modelo capitalista, vigente nos países latino-
americanos, conduzia a decisões econômicas nacionais não condicionadas às localizações ter-
ritoriais (revejam-se, respectivamente, as bibliografias de BOISIER e DE MATTOS, apud LIRA,
2002). Talvez ambas as posições sirvam como arestas de um grande ângulo que demarca o lugar
geométrico das muitas propostas do desenvolvimento endógeno regional. É provável que de
diversos pontos deste ângulo só se consigam ver desfocadas as questões sociais e/ou políticas.
A posição doutrinária do observador será, como sempre, decisiva; e cada fenômeno concreto
receberá inexoravelmente múltiplas visões. Há mais de um quarto de século se concordava em
que a “cidade é um território que está formado por um espaço construído e por um conjunto
de atores que tomam decisões de inversões e de localização das atividades produtivas” (ALBU-
QUERQUE et al., 1990). E, dez anos depois, este entendimento se atualizava: “(...) o desenvolvi-
mento endógeno é uma interpretação para a ação e, assim, a política de desenvolvimento local
incide sobre a difusão do conhecimento, a organização flexível da produção, as economias de
urbanização e a densidade do tecido institucional, o que permite às cidades e às regiões res-
ponderem aos desafios da globalização” (VASQUEZ-BARQUERO, 2000).
Um dos pioneiros deste tema, em balanço recente dos seus aportes à teoria do desenvol-
vimento regional, relembra que: “colocar uma região na senda do desenvolvimento implica
afrontar duas ‘dominações’: uma, quantitativa, traduzida no alcance de um crescimento eco-
nômico mais acelerado, e, outra, qualitativa”. Sobre esta última, argumenta: “toda dominação
expressa uma relação assimétrica no uso do poder (...) sobretudo político. Cabe então fazer que
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
4�
a região aumente seu poder político, mediante um projeto descentralizador territorial no nível
da Nação e por meio de maior união dos seus atores internos, convertê-la (sic) em um quase-
Estado” (BOISIER, 2005).
Em outro sentido, enfileiram-se percepções de que o “poder” regional é escasso. De um
ponto de vista o é ante o poder da União: “o alcance das políticas regionais estará condicio-
nado pelo projeto político nacional; em cada caso, definido pela estrutura de poder dominante”
(DE MATTOS, 1982). De outro ângulo, considera-se também o poder corporativo: “à medida
que cresce a importância das corporações multinacionais sobre as decisões macroeconômicas
nacionais, menor parece ser a atuação dos Estados Nacionais no planejamento econômico e
na política de distribuição regional dos investimentos e das rendas. Em contrapartida, cresce o
envolvimento de governos estaduais e municipais na tentativa muitas vezes vã de compensar
a retirada da esfera nacional da formulação/execução das políticas públicas, especialmente
daquelas apontadas ao desenvolvimento. Entretanto, municípios e regiões desfrutam de raio
de manobra bastante limitado para a formulação de políticas econômicas locais, ante a política
macroeconômica nacional” (PINHO et al., 2005).
Nesta última abordagem, caberia reconhecer a grande capacidade de re-localização dos
investimentos multinacionais, além do mínimo efeito de alguns investimentos externos em
determinadas regiões, “no que se refere a criar multiplicadores para frente e para trás nas
respectivas cadeias produtivas”. Convém ter em conta que “a desigualdade na correlação de
forças entre agentes tão assimétricos concorre para a ineficácia de muitas políticas de desen-
volvimento local; isto é: governos estaduais e locais de um lado, e corporações multilaterais,
de outro” (id. Ibd.; 3).
3. Foco epistemológico: ótica da complexidade
Apesar de fundamentações teóricas responsáveis, das averiguações empíricas disponíveis, da
amplitude de horizontes interpretativos adotados pelos adeptos do desenvolvimento regional
endógeno; apesar de que reconheçam, consensual e expressamente a alta complexidade das
realidades regionais, aqui se registra a percepção de que esta “complexidade” não tem ali rece-
bido um tratamento analítico ainda suficiente. Têm as realidades regionais atributos que mere-
cem abordagem epistemológica prospectiva e instrumentos de análise ainda pouco freqüentes.
Mesclam-se ali complexidades semi-estruturadas e não-estruturadas, dinâmicas sob ritmos os
4�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
mais diversos, relações predominantemente não-lineares, fenômenos e estruturas dissipativas,
tendências sujeitas a rupturas repentinas e descontínuas (COSTA-FILHO, 1997). Uma situação
que valida a antiga (mas atual) observação de outro pesquisador latino-americano: “o mundo
real muda mais agilmente que o inventário de idéias” (GODOy, 1987).
Há um lugar para a prudência na compreensão da mudança: “o novo não significa uma rup-
tura total e fundamental com o velho: a antiga ordem das coisas não pode pura e simplesmente
desaparecer” (AMIN e ROBINS in: BENKO e LIPIETZ, 1994). Essa superposição de tempos históri-
cos é, muitas vezes, outro elemento crucial na conformação da complexidade regional contem-
porânea, também advertida por outro co-participante desta coletânea (BURSZTyN, 2006).
Por outro lado, uma autoridade no tema, após reconhecer que os aportes teóricos que
incorporam o paradigma da complexidade são escassos no campo da Economia Política, insiste
em que o tema regional abre mais oportunidades para aplicá-lo. Conclui que o conceito de ter-
ritório ocupa um lugar central na visão complexa da realidade socioeconômica (COQ, 2004a).
Reconhece que múltiplas “aproximações teóricas que põem ênfase nos aspectos institucionais
(recorde-se que é o caso das propostas de compreensão “endógena” do desenvolvimento regio-
nal), seus defensores terminam pondo mais atenção no estudo de realidades muito específicas
em vez de analisar a evolução de padrões mundiais de distribuição da riqueza e da atividade
econômica”. E prossegue: “Esta atenção ao detalhe faz perder a referência exterior, empo-
brecendo intelectualmente a análise” (COQ, 2004b). Trata-se de uma questão efetivamente
controversa (ver VERGARA, 2004) e que merece, certamente, mais cuidado. É próprio da visão
“endógena” realçar os recursos internos da região-objeto, sejam materiais ou intangíveis, até
terminando por superestimá-los. Parece ao autor deste texto que esse realce se faz acom-
panhar, freqüentemente, de maior desatenção ao entorno. É certo que um dos precursores
desta corrente, há mais de uma década insistia na importância do entorno: “tudo aquilo que é
externo à região; interpretando-o como uma multiplicidade de elementos sobre os quais não
se tem controle, porém com os quais a região como um todo necessariamente se articula” (BOI-
SIER, 1995). Como isto toca o próprio limite do endógeno o autor foi além, com a advertência
lúcida de que os qualificativos exógeno e endógeno jogam papeis papéis diferentes à medida
que se vai descendendo na escala territorial” (BOISIER, 2001).
A desatenção que aqui se apontou transcende o plano do teórico; parece presente também
ou ainda mais) no da práxis. O desenvolvimento endógeno é uma interpretação para a ação,
já se deixou aqui remarcado. No entanto, ao se propor estratégias, inúmeros fenômenos “glo-
balizados” são menosprezados, em domínios tão diversos como os da produção e circulação de
conhecimentos (uma vez mais: tácitos ou codificados em unidades digitalizadas de informa-
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
4�
ção); da criatividade corporativa, logo da inovação e do controle da difusão de novas tecnolo-
gias; do comércio e, portanto, do protecionismo; da acumulação e movimentação dos capitais
financeiros, entre outros. Sobre este último tema é oportuna a conclusão de um dos especia-
listas citados: “O fato de que a criação de valores monetários esteja cada vez mais concentrada
em poucas organizações leva a acreditar que estas tenham maior capacidade de condicionar a
distribuição da atividade produtiva à escala mundial” (COQ, 2005). Em tal conjuntura histórica,
como insistir em que qualquer região periférica possa ser sujeito do seu próprio desenvolvi-
mento? Trata-se ou não de menoscabar seu entorno?
Sendo assim, pode-se assistir a um recuo nas próprias concepções modernas do planeja-
mento estratégico, onde o entorno do objeto “planejado” é sumamente relevante –isto em
praticamente todas as acepções de “estratégico”: como alternativa preferível de uso do poder
(defesa); como “resposta” condicionada às “decisões dos outros” (Teoria de Jogos); como esforço
de adaptação a um ambiente em processo de mudança acelerada (Teoria das Organizações);
ou, em outras palavras, como reação racional e ágil diante de algum conjunto de “incerte-
zas diferenciadas” (um conceito básico no planejamento estratégico propriamente dito), cujo
emprego, na prática, é sempre um formidável desafio mediante qualquer realidade complexa.
Deve-se recordar, ao fim, que trabalhar alguma realidade assim complexa apenas com teoria
de sistemas (em particular: de sistemas territoriais), é – em si – uma prática sutil de reducio-
nismo. As realidades regionais no sentido de subnacionais) têm alguns atributos da complexi-
dade freqüentemente acrescentados em relação à Nação. No mínimo, têm que enfrentar maior
diversidade de entorno: além dos entornos intranacionais, devem considerar os da Nação como
um todo. Este último aspecto nem sempre está adequadamente considerado nas propostas do
desenvolvimento endógeno.
4�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
ALBUQUERQUE L., F.; DE MATTOS, C. A.; JORDÁN F., R. Revolución tecnológica y reestructuración pro-
ductiva, impactos y desafíos territoriales. ILPES, IEU/PUC (Seminário Internacional /ago.1989, Santiago
de Chile).Buenos Aires: GEL, 1990.
ALBUQUERQUE, F.: Factores decisivos y rasgos diferenciadores del desarrollo econômico local. Santiago:
ILPES, nov. 1995.
AMIN, A. An institutionalist perspective on regional economic development. Durham: University of
Durham, 1998.
_______. Regional policy in a global economy. Durham: University of Durham, mar. 2006 (Data show).
AMIN, A.; ROBINS, K. Le retour des economies régionales ? La géographie mythique de l’Accumulation
Flexible. In: BENKO et LIPIETZ, 1994; p. 123-161.
BACELAR, T. APL e desenvolvimento regional (Seminário BNDES). Rio de Janeiro, out.2004 (Data show).
BENKO, G.; LIPIETZ, A. Les régions qui gagnent. Paris: Presses Universitaires de France, 1994.
BOISIER, S. Crecimiento y desarrollo territorial endógeno. Santiago de Chile: Globalización, 2001.
_______. Desarrollo regional e internacionalización de las regiones. Rosario: Universidad del Rosário,
ago. 2003.
_______. En busca del esquivo desarrollo regional: entre la caja negra y el proyecto político. Santiago
de Chile: ILPES, 1995.
_______. Imágenes en el espejo: aportes a la discusión sobre crescimento y desarrollo territorial. San-
tiago de Chile: CATS, ago. 2005, 87 p.
_______. Política regional en una era de globalización ¿hace sentido en América Latina? Santiago de
Chile: CEPAL, abr. 1996, 44 p.
BOISIER, S. et al. Experiências de planificacion regional en América Latina: una teoria en busca de una
práctica. Santiago: ILPES /Naciones Unidas, 1981.
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
4�
_______. Sociedad civil, participación, conocimiento y gestion territorial. Santiago de Chile: ILPES,
1997.
BURSZTyN, M. A exclusão do lugar (ou o lugar da exclusão): desigualdades regionais, urbanização e
ordenamento territorial no Brasil.Brasília: Universidade de Brasília, mar.2006 (Data show).
CIMOLI, M. et al. Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile,
abr.2006, p.89-107.
CONCEIÇÃO, O. A. C. Instituições, crescimento e mudanças na ótica institucionalista. Porto Alegre: Fun-
dação Siegfried Heuser, 2002. 227 p.
COQ, D. H. Economía y território: una sucinta revisión. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2004a.
_______. La economía vista desde un ángulo epistemológico. España: Universidad de Sevilla, 2004b.
_______. La perspectiva institucionalista del desarrollo regional: una crítica constructivista.Sevilla, Es-
paña: Universidad de Sevilla, 2002.
_______. Nuevas concepciones de la relación economía-territorio. Sevilla,España: Universidad de Se-
villa, 2005.
CORAGGIO, José L.: Cuestiones metodológicas y análisis de los problemas regionales en América Latina.
Buenos Aires: CEUR, jul. 1977. 91 p.
_______. Notas para una agenda pós-neoliberal. Foro Social Mundial. Buenos Aires, jun.2004.
_______. Posibilidades y Dificultades de un Análisis Espacial Contestatario. Demografia y economia, v.
XI, n. 2. México: Colégio de México, 1977. p 135-154.
COSTA-FILHO, A. Educación superior y transformación productiva. Bogotá /Colômbia: Colciências /CAB
/ONCyT, maio, 2005. 40 p.
_______. Inflexiones recientes en el análisis prospectivo. In: ORTEGÓN, E.; MEDINA, J. Prospectiva: Cons-
trucción Social del Futuro. Santiago de Cali, Colombia: Universidad del Valle /ILPES, 1997. p. 51-67.
_______. La globalización y el desarrollo local: ¿son congruentes en la modernidad?, Caracas: CENDES,
oct. 1996.
�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
_______. Paradigma tecno-econômico e globalização: assimetrías. In: VERGARA, 2004. p. 117-124.
_______. Planificación y futuro: una relación mal vista. Pensamiento iberoamericano, n.18, Madrid: AECI,
dez. 1990.
DE MATOS, C. Algunas consideraciones sobre la movilidad espacial de recursos en los países latinoame-
ricanos. México: PNUD/PNCT/Secretaría de la Presidencia, jul. 1975
_______. Condiciones, restricciones y posibilidades en la acción regional: el caso de la planificación
subnacional. Brasília, 1981.
_______¿Es posible la experiencia de planificación regional en América Latina? Belém, nov. 1982.
_______. Paradigmas, modelos y estratégias en la história de la planificación regional y urbana en Amé-
rica Latina. Ciudad de México: AIIDPUR, abr. 1984.
DINIZ, C. C. CROCCO, M. Economia regional e urbana: contribuições teórias recentes. Belo Horizonte:
UFMG, 2006, 301 p.
EUROPEAN COMMISSION. Planejamento territorial na União Européia: competição /integração/inova-
ção (Seminário Políticas de Desenvolvimento Regional). Brasília, mar.2006 (Data show).
GALVÃO, A. C. F. Política nacional de desenvolvimento regional: algumas questões e desafios. Brasília:
CGEE/CNPq, mar.2006 (Data show).
GARCÍA C.; I. C.; AGUDELO A. O.Teorias de proyecto y técnicas de análisis espacial. Bogotá: Escuela Supe-
rior de Administração Pública, dez. 2003. 110 p.
GODOy, H. Socialware.Lujan/Argentina: Fundación Cuenca del Plata, 1987.
HALL, R. Planejamento territorial na União Européia: arranjo institucional, políticas, resultados e pers-
pectivas. Brasília: European Commision, mar. 2006 (Data show).
HELMSING, A. H. J. Teorias de desarrollo industrial regional y políticas de segunda y tercera generación,
EURE, Santiago de Chile, v. 25, n. 75, set. 1999.
ILPES. El vínculo iberoamérica - comunidad europea. (Documento central de la: VIII Conferencia de Mi-
nistros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe). Madrid: ILPES /Gobierno de España, jan.
1992. 145 p.
Globalização e desenvolvimento regional endógeno:algumas observações exógenas
�1
_______. Funciones de la planificación en los anos 90 (VIII SCCOPALC, Madrid). Santiago de Chile: ILPES,
mar. 1992, 29 p.
_______. Inserción externa, competitividad y crisis fiscal. (Documento central: VII Conferencia de Mi-
nistros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe). Montevideo: ILPES/ODEPLA, maio, 1989.
89 p.
LIRA, L. La cuestión regional y local en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL/DDRL/ILPES, 2002.
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
�3
Michael Dunford
Desenvolvimento territorial,bem-estar e crescimento:
razões em favor das políticas regionais
1. Introdução
A concentração das atividades econômicas e da população em uma parte relativamente
pequena da superfície terrestre é uma constante por todo o planeta. Desde que não se
transforme num exagero, tal concentração espacial não é, em grande medida, julgada proble-
mática. Onde há mais desacordo é com relação à questão se é aceitável ou não que existam
grandes e duradouras diferenças nos padrões de qualidade de vida entre e no interior das áreas
em que pessoas vivem e trabalham. O objetivo deste artigo é mostrar em que circunstâncias
tais disparidades devem ser consideradas inaceitáveis e indicar o papel das políticas regionais
na busca por reduzi-las.
Com essa finalidade, levarei em conta três conjuntos de questões. Em primeiro lugar, farei
um esboço das conclusões a que chegaram as recentes teorias da geografia econômica que
tentam explicar a concentração territorial do desenvolvimento. Em segundo lugar, mostrarei
algumas evidências no que concerne à escala das desigualdades regionais na União Européia
(UE) e sua evolução. Em terceiro lugar, procurarei identificar as principais justificativas para a
adoção de políticas regionais. Por fim, nas conclusões, argumentarei que as discussões a res-
peito de estratégias de desenvolvimento regional deveriam basicamente envolver a identifica-
ção e a implementação de um modelo de desenvolvimento eqüitativo, em que a eqüidade não
seja vista em termos neoliberais como um trade-off com a eficiência, mas como o elemento
central de um modelo de desenvolvimento compreensivo.
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
2. Teorias de desenvolvimento territorial
Geograficamente, o desenvolvimento econômico é altamente desigual e associado a graus
variados de especialização. As pessoas, os empregos, a geração e a distribuição de riqueza eco-
nômica tendem a estar concentrados numa hierarquia de núcleos urbanos que ocupam parte
relativamente pequena da superfície da terra. Assim, os diferentes locais tendem a se especia-
lizar em certos subconjuntos de atividades econômicas. Na busca de uma explicação para tais
características dos cenários econômicos, a geografia econômica tradicional e a nova geografia
econômica identificam um conjunto de mecanismos causais (ver figura 1; nela os pontos deno-
tam pessoas, havendo três tipos de bens e serviços representados por triângulos, quadrados e
hexágonos sombreados – os hexágonos representam um bem de consumo – e o tamanho do
objeto representa a escala de produção). Esses mecanismos podem ser divididos em dois grupos:
forças centrípetas e forças centrífugas. As tendências centrípetas dependem da: i) interação
entre as economias de escala, os custos de transporte, o tamanho e a localização relativa dos
mercados de produto e insumo (figura 1A); ii) ampla gama de economias externas (efeitos de
tamanho não associados ao mercado) não-pecuniárias (tecnológicas) encontradas nas aglome-
rações existentes (figura 1B); iii) mobilidade da mão-de-obra e do crescimento diferencial da
população, que afetam a distribuição da população e a geografia do gasto (figura1C); iv) pro-
dução de diferentes variedades de bens e serviços (figura 1C); e v) vantagens auto-reforçadas
de acesso a mercados provenientes do desenvolvimento diferencial de redes de transporte que,
em países colonizados, localizam-se comumente em torno de zonas de exportação costeiras
(figura 1D).
A esses mecanismos, devem ser acrescentados os efeitos dinâmicos de sua interação e os
caminhos pelos quais a acumulação e o crescimento endógenos reforçam o processo cumu-
lativo (figura 1E). A extensão desse processo de aglomeração circular e cumulativa dependerá
da importância relativa entre essas forças centrípetas e do conjunto das forças centrífugas
que se lhes contrapõem. Estas últimas se originam de três conjuntos de fatores. O primeiro diz
respeito à imobilidade relativa das atividades agrícolas baseadas no uso da terra, dos recursos
naturais e da população por elas mantida. Tal imobilidade gera um incentivo compensador à
localização de estabelecimentos nessas áreas, onde há poucos competidores locais. O segundo
fator é a operação habitual do mercado de fatores: os salários e os aluguéis são mais altos nas
redondezas dos centros de atividades econômicas existentes. Altos custos podem encorajar
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
as atividades a se localizar em áreas onde os custos sejam mais baixos. O terceiro fator são as
deseconomias externas (figura 1E).
Mesmo que a geografia das atividades econômicas seja desigual e associada a graus variá-
veis de especialização, seria de esperar que diferentes aglomerações e diferentes locais apre-
sentassem diferença nas suas rendas per capita? Na prática, existem grandes diferenças de
renda per capita cujas origens remontam aos distintos momentos de erupção e à natureza da
industrialização e da modernização econômica. No caso da Europa, por exemplo, há enormes
diferenças de desenvolvimento entre um eixo vital, que se estende desde a Grande Londres ao
noroeste da Itália e as quatro periferias (figura 2) compostas pelo arco atlântico; por uma órbita
mediterrânea de relativo subdesenvolvimento; pelas áreas do sudeste da Europa submetidas às
regras originárias do antigo regime otomano; e pelas áreas na Europa Central e Oriental, onde a
industrialização foi retardada ou limitada e os partidos comunistas governaram continuamente
de 1917/1945 até 1989/1991. As partes periféricas do norte europeu são também economica-
mente subdesenvolvidas, embora as partes ao sul desses países contenham algumas das cidades
economicamente mais desenvolvidas da Europa.
Esse relato empírico da geografia do desenvolvimento europeu não é imune a críticas.
Kunzmann e Wegener (1991) e Kunzmann (1997), por exemplo, insistem num modelo policêntrico
de Europa, compreendendo um mosaico de cidades-regiões, com fortes diferenças internas
entre áreas caracterizadas pela presença de diferentes tipos de atividades econômicas e zonas
residenciais socialmente diferenciadas (figura 2). Cada um desses relatos contém elementos de
verdade. A Europa compõe-se de um conjunto de cidades-regiões desigualmente desenvolvidas
e internamente diferenciadas.
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 1 – Interpretação das paisagens econômicas
A – População rural dispersa, embora economias de escala resultem em relativamente poucos locais de produção de bens industriais: de como poucos dependem do trade-off entre economias de escala e custos (efeito iceberg) de transporte
Quantidade de bens produzidos
B – Especialização, divisão de trabalho e colocação próxima de fornecedores e clientes. Economias externas tam-bém estimulam a proximidade
C – A mobilidade reforça a aglomeração assim como o acesso ao mercado: fornecedores de produtos diferenciados em mercados densos
D – Custos diferenciais de transporte resultam em relativo aumento de atividades de retornos crescentes epopulação em eixos de transporte
E – Crescimento endógeno/acumulação e com-petição aumentam/diminuem diferencialmente a magnitude das atividades econômicas.Dispersão gerada por deseconomias/custos de transporte/fatores reduzidos
Custo médio
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
Figura 2 – Geografi as empíricas: estruturas centro–periferia e eixo vital da Europa
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 3 – Geografias empíricas: a Europa como um mosaico de cidades-regiões
Fonte: Elaborada com base em Kunzmann e Wegener (1991) e Kunzmann (1996).
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
Embora existam diferenças de renda per capita, as teorias econômicas dominantes (do
comércio, do crescimento e do crescimento regional), que lidam com as diferenças de desen-
volvimento e com o impacto da integração e da globalização econômicas sobre essas diferenças
e sobre a distribuição territorial de atividades econômicas, têm defendido até há pouco tempo
que os mecanismos de mercado resultam numa equalização do desenvolvimento e da rendas
per capita. As razões disso estão ligadas às visões que dizem respeito ao impacto da acumula-
ção de capital por trabalhador, à difusão de tecnologias e ao impacto da mobilidade de fatores.
Teorias mais recentes de crescimento endógeno têm, no entanto, levado a conclusões opostas,
originalmente associadas às teorias da causação cumulativa (MyRDAL, 1956, KALDOR, 1973).
Ou seja, diferenças de renda per capita dependem do peso relativo das tendências convergen-
tes/centrífugas e divergentes/centrípetas e podem muito bem aumentar, pois as últimas podem
mais que compensar as primeiras.
Modelos mais específicos de globalização e integração econômica sugerem que há uma
relação em forma de U invertido entre integração/globalização e aglomeração (KRUGMAN;
VENABLES, 1996). Se os custos de comércio e transporte são muito altos, as forças centrípetas
são mais fortes que as centrífugas e a atividade econômica tenderá a se dispersar. Na medida
em que aumenta a integração/globalização e caem os custos de troca e de transporte, chega-
se a um ponto em que as forças aglomeradoras contrabalançam as forças centrífugas, e as
atividades industriais concentram-se em uma das duas regiões. Se os custos de comércio e de
transporte continuarem a cair, a aglomeração persistirá até que as forças centrífugas contra-
balancem, de novo, as forças centrípetas, e as atividades econômicas se dispersam. As reduções
iniciais dos custos de comércio e de transporte causam aglomeração e reforçam as estruturas
centro–periféria. Uma vez que os custos de comércio e de transporte estejam razoavelmente
baixos, reduções adicionais causam dispersão, inicialmente de indústrias relativamente intensi-
vas de mão-de-obra e que possuam ligações interindustriais relativamente fracas.
As evidências empíricas da evolução das desigualdades regionais tendem a dar suporte a
essas teorias mais recentes. A figura 4 delineia a evolução das disparidades entre os Esta-
dos-membros da União Européia dos 15, de 1951 até 2001, ao passo que a figura 5 delineia
a evolução das desigualdades regionais na Itália. O primeiro gráfico mostra que houve forte
convergência entre os 15 Estados-membros da UE de 1951 até meados dos anos 1970. Daí até
meados da década de 1980 prevaleceu a divergência, dando espaço, então, a uma renovada
convergência até o ano de 2001. No caso das economias regionais da Itália, houve drástica
queda das disparidades no período de 1951-1953, após o qual as desigualdades territoriais
�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
aumentaram durante a década de 1950. Em 1960, o grau de desigualdade estava próximo ao de
1951. No período de 1960-1975, a situação alterou-se drasticamente. Durante 15 anos, houve
forte emparelhamento, na medida em que as regiões menos desenvolvidas da Itália encurtaram
a defasagem para com as mais desenvolvidas. Após 1975, a tendência se inverteu. No geral,
observou-se um nítido aumento da desigualdade, com o coeficiente de Theil alcançando o nível
de 37,8 e o de Williamson (WMAD), 24,6, em 1996. Uma parte relevante da melhora relativa
que ocorrera após 1960 inverteu-se em 1975 e após 1983. Em anos recentes, ao contrário,
constatou-se renovada fase de convergência, com o coeficiente de Theil caindo para 34,2 em
2000. Como esses dois exemplos evidenciam, há períodos relativamente sustentados nos quais
as tendências desequilibrantes contrabalançam as tendências equalizantes e vice-versa.
Figura 4 – Crescimento das desigualdades do PIB por habitante na Europa dos 15, 1951-2002
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
�1
Figura 5 – Crescimento das economias regionais italianas em relação à média da União Européia dos 15, 1951-2000
Figura 6 – Crescimento das economias regionais italianas em relação à Europa dos 15, 1951-2000
�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Uma segunda característica importante das tendências empíricas do desenvolvimento das
regiões é a persistência de desigualdades territoriais. A figura 6 registra a evolução das eco-
nomias regionais da Itália com relação à média da União Européia dos 15. Entre outras coisas,
a figura revela alto grau de inércia no topo e na parte inferior da distribuição. As economias
regionais situadas na parte superior, em 1951, permaneceram, na maior parte, no topo da
distribuição no ano 2000. Do mesmo modo, as economias regionais situadas na parte inferior
tenderam a ali permanecer, embora isso também indique algumas mudanças marcantes na
posição relativa das economias regionais situadas no meio da distribuição.
O fato de que as teorias recentes identifiquem fortes tendências de aumento das desigualda-
des territoriais em consonância com a evidência empírica de aumento das disparidades territo-
riais levanta a questão da importância dessas desigualdades e, caso existam, se é o caso de polí-
ticas regionais compensatórias. Para a dominante geografia econômica neoclássica, a resposta
normal é de que há lugar para políticas regionais se os mercados falham (ou que as causas das
falhas de mercado devem ser enfrentadas). Devo argumentar que existe uma razão posterior e,
em muitos sentidos, mais importante, enquanto os mecanismos que ampliam as desigualdades
têm um efeito direto negativo sobre o bem-estar social, adicionando uma justificativa a mais
para um desenvolvimento regional mais equânime e para as políticas regionais.
3. Razões em defesa de políticas regionais
Uma compreensão teórica e empírica do impacto dos mecanismos de mercado sobre o desen-
volvimento e as desigualdades territoriais oferece importante pano de fundo para analisar as
razões que pesam a favor das políticas regionais. O caso é, entretanto, mais amplo do que essas
teorias sugerem de imediato e envolve uma consideração, à escala européia, de um conjunto
de questões: a natureza da integração econômica num contexto de integração econômica e
monetária; trade-offs entre crescimento e inflação; as falhas de mercado; a adaptação e a
reorganização das economias regionais e suas estruturas de governança; a cidadania e a legiti-
midade política e as questões da eqüidade e do crescimento eqüitativo.
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
�3
3.1 Razões para as políticas regionais: integração monetária e estabilização econômica
Na União Européia, as razões para a implementação de políticas regionais têm estado intima-
mente relacionadas ao Projeto de União Econômica e Monetária (UEM). Isso porque as regras da
integração monetária eliminam os ajustes de taxa de câmbio. Na sua ausência, restam apenas
três mecanismos de estabilização por meio dos quais as economias regionais podem se ajustar
aos choques assimétricos. O primeiro desses mecanismos é a emigração líquida de população
das áreas afetadas pelos choques negativos. O segundo, a flexibilidade para baixo dos salários.
O terceiro é o aumento da solidariedade, das transferências fiscais para com as áreas adversa-
mente afetadas. De modo geral, as políticas regionais envolvem renda regional ou transferên-
cias fiscais, ainda que não sejam transferências de renda para as famílias, mas transferências de
recursos para apoiar atividades econômicas e a geração de empregos. Nesse sentido, as políticas
regionais oferecem um meio de lidar com a estabilização em face de choques assimétricos.
Na prática, as maneiras pelas quais as economias regionais se adaptam aos choques assimé-
tricos exigirão a combinação desses três mecanismos. O que está em questão não é, portanto,
que se deva confiar mais em um que nos outros mecanismos, mas que peso relativo se deve
dar a cada mecanismo de ajustamento. Assim entendida a questão, a justificativa para a imple-
mentação de políticas regionais reside, em parte, no caso de se atribuir maior peso às transfe-
rências para sustentar as atividades econômicas em áreas afetadas pelos choques econômicos
adversos, e menor peso ao ajuste para baixo dos salários ou à mobilidade da população. Essa
opção particular é naturalmente encontrada no tradicional argumento de que a melhor opção
é, em face de choques assimétricos (ou desigualdades regionais, genericamente), o movimento
de empregos em direção às pessoas ou o movimento das pessoas para os empregos (em relação
a esta última opção, vide, por exemplo, MINFORD, 1983).
No parágrafo anterior, sugeri que a justificativa para políticas regionais é, em parte, um caso
em que não se deve dar grande peso a modos alternativos de ajustamento. Esse caso é, assim,
um caso para políticas regionais, mais do que para maior mobilidade. São duas as razões da
preferência por políticas regionais em detrimento de maior mobilidade. A primeira refere-se
ao fato de que a mobilidade é, na prática, limitada. Na União Européia, a mobilidade é menor
do que nos Estados Unidos e difere, significativamente, entre os Estados-membros. No Reino
Unido, onde a mobilidade é relativamente alta, cerca de 10% da população se move a cada
ano, ainda que 60% se mude para menos de 10 km do ponto de origem e esteja relacionada
ao problema da habitação (DONOVAN et al., 2002). O montante da mobilidade relacionada ao
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
emprego de longa distância é relativamente pequeno. Defensores da mobilidade argumentam
que alguns passos devem ser dados para aumentar a mobilidade como por exemplo: alterar o
funcionamento do mercado imobiliário, que freqüentemente restringe a mobilidade; reduzir o
grau de proteção social dos desempregados, a fim de incentivar sua mobilidade. Entretanto, na
ausência de sanções e incentivos desse tipo, um modo alternativo de mobilização dos desem-
pregados é implementar políticas que geram empregos nas áreas onde as pessoas já vivem. De
qualquer modo, há razões para se pensar, em segundo lugar, que a transferência de recursos
para locais afetados por choques negativos (e menores deslocamentos na geografia do desen-
volvimento) podem ser preferíveis à maior migração. Uma razão é que as conseqüências podem
incluir uma maior concentração, por um lado, e o despovoamento das áreas prejudicadas,
por outro. Nesse caso, as deseconomias e os altos custos sociais e infra-estruturais nas áreas
mais desenvolvidas coexistirão com o abandono de infra-estruturas viáveis nas áreas deixadas
de lado. Outra razão é que a mobilidade pode resultar em perda de capital social, no sentido
empregado por Bourdieu, como conseqüência, por exemplo, da fragmentação das redes sociais
(a separação dos pais, filhos, netos e avós, por exemplo), que pode desempenhar um papel cen-
tral na manutenção das condições de vida.
A justificativa para as políticas regionais está também relacionada com a posição contrária a
uma maior ênfase na flexibilidade salarial e a maiores reduções nos padrões de vida das pessoas
afetadas adversamente por choques assimétricos. Há, em essência, duas razões para que se deva
limitar o recurso a esse modo de ajustamento. A primeira delas deriva das posições contrárias
à mercantilização do trabalho. Tais argumentos foram expostos, de maneira particularmente
poderosa, em A grande transformação, de Polanyi, em que ele demonstra que as conseqüên-
cias da mercantilização de mercadorias fictícias são tão destrutivas que demandam o próprio
sistema de proteção social que os defensores da flexibilidade buscam eliminar. A segunda razão
é o argumento keynesiano com relação ao impacto deflacionário do ainda maior declínio na
renda regional, que causaria, por exemplo, forte impacto negativo sobre a economia doméstica
local (que compreende as atividades locais destinadas a atender às necessidades locais, como
expressas por dispêndios locais) e amplificaria o impacto do choque negativo inicial.
Como sugeri anteriormente, as políticas regionais proporcionam um modo alternativo de
ajustamento. Nesse sentido, podem ser consideradas como parte de um sistema de federalismo
fiscal. Um sistema fiscal desempenha papel equalizador por envolver um sistema de taxação
progressiva, por um lado, e prover gastos por habitante uniformes, por outro, além de desempe-
nhar um papel estabilizador e segurador com a queda dos impostos e o aumento dos gastos, se
a renda relativa nacional/regional cair.
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
Na União Européia, o movimento em direção à integração monetária (e à Cooperação Polí-
tica Européia) data da publicação do Relatório Werner, em 1970, e da subseqüente Cúpula de
Paris, de1972. Em 1977, o Relatório MacDougall (MACDOUGALL COMMITTEE, 1977) sobre
o papel das finanças públicas na integração européia defendeu o federalismo fiscal com a
finalidade de contrabalançar os choques assimétricos decorrentes da perda da independência
monetária. Mais especificamente, defendia que a União Européia deveria despender de 2% a
2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) da União em um estágio pré-federal, de 5% a 7% num
estágio federal com pequeno setor público, e até 25% num estágio federal com grande setor
público. O Relatório Delors, de 1989, sobre a unidade monetária européia (UME) admitia que
um orçamento da União dessa magnitude não seria politicamente factível. Ao invés disso,
propunha uma coordenação mais estreita das políticas fiscais com a finalidade de oferecer
mecanismos econômicos “absorvedores de choques” e evitar um recuo político em relação a
UME. Atualmente, o orçamento da União Européia monta a 1,2% do PIB da Comunidade. Com
efeito, as propostas de MacDougall foram engavetadas. Segundo a opinião geral, os Fundos
Estruturais (políticas regionais da UE) de fato refletem alguns dos princípios subjacentes a eles
e exercem uma função estabilizadora. Na União, no entanto, a estabilização e o seguro fiscais
ocorrem no âmbito nacional mais que no nível da Comunidade. Como resultado, economias
regionais de riqueza equivalente na União Européia são contribuintes líquidos aos orçamentos
nacionais nos países pobres e beneficiários líquidos nos países ricos (WISHLADE; yUILL; TAyLOR;
DAVEZIES; NICOT; PRUD’HOMME, 1996).
3.2 Razões para as políticas regionais: falhas de mercado e de coordenação
Uma segunda linha de argumentos a favor das políticas regionais tem a ver com a existência
de falhas de mercado e de coordenação. Um exemplo simples disso é a situação em que cada
participante de um grupo de empresas afins escolheria se relocalizar em uma área economi-
camente desfavorecida se todos os outros membros do grupo já estivessem lá localizados, mas
não o faria por si só. Numa sociedade de mercado, não há nenhum mecanismo de mercado que
permita identificar essa situação, o que implica que ninguém se muda mesmo que seja econo-
micamente vantajoso fazê-lo para o grupo como um todo.
As falhas de mercado mais marcantes relacionam-se a questões já identificadas, quais
sejam: às deseconomias e aos elevados custos sociais e infra-estruturais de uma concentração
exacerbada de população e empregos nas áreas desenvolvidas e, ainda, aos altos custos sociais
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
do despovoamento das áreas economicamente desvantajosas. Na raiz desses casos reside a
questão da migração, que tende a ser excessiva se os migrantes geram externalidades positivas
ou negativas sobre os outros indivíduos nas localidades das quais estejam saindo ou para as
quais estejam se mudando, respectivamente. Uma mercantilização do trabalho mais intensa
está igualmente associada com um amplo espectro de externalidades e custos sociais e é, ela
mesma, uma fonte de falhas de mercado (embora os neoliberais possam não concordar, argu-
mentando que indivíduos podem pagar por seguro, títulos e proteção contra os riscos sociais
de aumento da criminalidade, por exemplo).
Em razão desses tipos de falhas de mercado, tentativas para conter o crescimento de cen-
tros superdesenvolvidos e para assegurar uma geografia do desenvolvimento mais equilibrada
têm, às vezes, figurado de maneira proeminente nas estratégias de desenvolvimento territorial
nacional de vários países. O caso francês é um exemplo marcante no âmbito da União Européia,
em que se deu ênfase considerável ao desenvolvimento de uma rede hierárquica de centros
urbanos dinâmicos, acessíveis a toda a população, e à contenção do crescimento da capital.
Incluiu-se nesse esforço, em particular, a estratégia de se desenvolver um conjunto de áreas
metropolitanas provinciais compensatórias na década de 1960 (ver figura 7).
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
Figura 7 – Desenvolvimento balanceado e as iniciativas francesas de planejamento regional
3.3 Razões para as políticas regionais: eqüidade, crescimento e bem-estar
Qualquer transformação econômica levanta importantes questões sobre eqüidade nos âmbitos
nacional, territorial e social. Não é surpreendente, portanto, que o projeto da União Européia
de integração econômica tenha levantado questões acerca da distribuição dos ganhos asso-
ciados às sucessivas etapas do processo de integração. O argumento central pode ser divisado
pela consideração de um exemplo bem simples. Suponha que haja uma comunidade de cem
pessoas com uma renda de $1,00 cada. A renda total da comunidade soma $100. Suponha em
seguida que sobrevenha uma mudança econômica, após a qual sessenta pessoas dobram sua
renda para $2 per capita e quarenta pessoas vêem sua renda diminuir pela metade, para $0,5
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
per capita. Nessas circunstâncias, a renda total da comunidade alcançará $140. A questão é:
tal transformação deveria ocorrer? Se aplicássemos o critério de Pareto, amplamente aceito
como medida de melhoria do bem-estar, a resposta seria não. A razão é que o critério de Pareto
define que ocorrerá melhoria do bem-estar da comunidade se pelo menos uma pessoa estiver
em melhores condições que antes e ninguém tenha piorado sua situação. Neste caso quarenta
pessoas teriam tido sua situação deteriorada. Economistas argumentariam, naturalmente, que
existe um potencial para melhoria nos termos paretianos na medida em que os ganhadores
abrissem mão de metade de seus ganhos para compensar os perdedores e, ainda assim, estariam
em melhores condições. Numa sociedade de mercado, a ocorrência de ganhos líquidos geral-
mente constitui uma base suficiente para que se sancione a mudança, mesmo que algumas
pessoas fiquem em pior situação. Ao mesmo tempo, cabe notar que, se o resultado depende de
um mecanismo político de votação, o fato de as pessoas ganhadoras formarem uma maioria
asseguraria que a mudança ocorreria e os perdedores não seriam compensados.
Embora o critério de Pareto seja extremamente conservador, ainda assim, com freqüência,
não é respeitado. Ele tem o mérito de sublinhar os aspectos distributivos do bem-estar, cuja
melhoria deve ser o objetivo da vida econômica. Além disso, oferece um modo de pensar sobre
e entender o desenvolvimento das políticas regionais da União Européia.
As políticas regionais da União Européia redesenham a distribuição territorial (e social)
dos ganhos da transformação econômica. Como resultado, tais medidas têm desempenhado
papel importante nas negociações intergovernamentais destinadas a influenciar a distribuição
dos ganhos e das perdas da integração e o processo de tomada de decisão entre os Estados-
membros. De fato, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional foi criado inicialmente em
1975 com a finalidade de transferir recursos para o Reino Unido, onde se localizava então
grande parte das economias regionais desfavorecidas, a fim de reduzir sua contribuição líquida
orçamentária. De modo semelhante, a negociação do Ato Único Europeu (1986), que visava à
criação, por volta de 1992, de um mercado interno unificado, estabeleceu a coesão econômica
e social como um objetivo comunitário, com vistas a compensar os efeitos potencialmente
centrípetos do Mercado Único Europeu. Em 1988, os chefes de Estado da Comunidade Euro-
péia aprovaram a reforma dos Fundos Estruturais bem como um plano de ação para dobrar
as disponibilidades orçamentárias dedicadas às medidas estruturais no período entre 1987 e
1992. Hoje, o reforço da coesão econômica e social é um dos três objetivos da União garanti-
dos pelo Tratado (artigo 2). A coesão econômica e social da União Européia é essencialmente
um problema de coesão territorial. Nas palavras do Tratado: “com a finalidade de promover
seu desenvolvimento geral harmonioso, a Comunidade desenvolverá e buscará organizar suas
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
ações de forma a levar ao fortalecimento de sua coesão econômica e social. A Comunidade
objetivará, em particular, reduzir as desigualdades de níveis de desenvolvimento entre as várias
regiões e o retardo das regiões menos favorecidas, incluindo áreas rurais” (Tratado da União
Européia, artigo 158, anteriormente artigo 130a). De maneira mais específica, o aumento da
coesão é equiparado à redução das disparidades regionais em termos de PIB per capita e taxas
de desemprego. As desigualdades entre indivíduos e famílias somente são atacadas na medida
em que coincidam com as desigualdades espaciais.
Desigualdades espaciais e sociais estão interligadas. Vários estudos recentes sugerem que as
rendas médias e o consumo das áreas de menor tamanho nas economias emergentes podem
responder por até 25% da desigualdade de renda interpessoal total (KANBUR; VENABLES, 2005).
Numa situação como essa, enfrentar a desigualdade espacial poderia trazer uma importante e
eficiente contribuição para o combate à desigualdade social (embora a justiça territorial não
implique, necessariamente, justiça social).
A esses argumentos deve-se agregar o fato de que as políticas regionais têm importante
papel na legitimação política e nos direitos de cidadania. No caso da União Européia, os pro-
jetos contemplados pelos Fundos Estruturais são tangíveis e visíveis para os cidadãos das áreas
menos desenvolvidas. Se tais medidas fossem filtradas pelos Estados-membros, a dimensão
européia seria menos evidente. A escala européia de operação desempenha, portanto, papel
importante na construção política da Europa. Ao mesmo tempo, essas medidas ajudam a redu-
zir as desigualdades nas posições econômicas das pessoas que vivem nas diferentes áreas. Tais
reduções das disparidades são particularmente importantes se as desigualdades espaciais esti-
verem relacionadas com divisões religiosas, étnicas e de outras naturezas.
3.4 Razões para as políticas regionais: crescimento, adaptação e reestruturação das condições econômicas e das estruturas de governança
Na primeira parte desta seção, foi enfatizado o papel estabilizador das políticas regionais. Medi-
das que apóiam o desenvolvimento das áreas economicamente desvantajosas e que limitam o
desenvolvimento relativamente maior das áreas economicamente já desenvolvidas também se
justificam à luz dos impactos que causam sobre o crescimento, o desenvolvimento e o bem-
estar.
Os argumentos relacionados ao crescimento baseiam-se nas idéias keynesianas e nas “econo-
mias da oferta”. A abordagem pelo lado da oferta exerce papel central nas políticas regionais da
�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
União Européia, cujo objetivo é acelerar a reestruturação de longo prazo das áreas menos desen-
volvidas. (É importante salientar que essas medidas não podem ser, no geral, de curto prazo,
uma vez que as desigualdades geográficas raramente são temporárias e, ao contrário, resultam
de diferenças estruturais persistentes na competitividade e estão profundamente enraizadas nas
restrições institucionais e sociais ao crescimento e ao desenvolvimento.) São exemplos disso os
programas tipo Objetivo I dos Fundos Estruturais, que comumente comprometem 41% do total
dos recursos com infra-estrutura (20% para transporte e 13% para projetos ambientais), 23%
para recursos humanos (políticas ativas de mercado de trabalho, educação, capacitação, trei-
namento e empreendedorismo) e 34% para o ambiente produtivo (apoio a pequenas e médias
empresas, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento rural). (Exemplos mais
específicos de projetos de infra-estrutura incluem o de 5,5 bilhões de euros, co-financiado pelo
Quadro Comunitário de Suporte Grego e pelo Fundo de Coesão, para modernizar e eletrificar a
ferrovia de 610 km de Patras a Atenas, na Tessalônica, e a fronteira com a ex-República Iugoslava
da Macedônia, e outro projeto, de 5 milhões de libras irlandesas, 50% financiados pela União
Européia, para conectar o Cabo Clear às Ilhas Aran (1.500 habitantes) na Irlanda e, mais tarde, a
Ilha Clare e Inishbofin à Rede Nacional de Eletricidade, em 1997-1998).
No caso das idéias keynesianas, há forte evidência histórica relacionando o desenvolvimento
mais igualitário ao crescimento econômico relativamente rápido: exemplo disso é o modelo
de desenvolvimento da “Era de Ouro”do capitalismo, em que o crescimento da renda e da
demanda em áreas economicamente desfavorecidas desempenhou papel relevante no incen-
tivo ao crescimento econômico sustentado (ver figuras 5 e 6) e também onde a redistribuição
inter-regional de recursos alterou a geografia da demanda agregada, permitindo a mobilização
de recursos subutilizados nas áreas menos desenvolvidas e a obtenção de um crescimento não-
inflacionário (KALDOR, 1970).
O fato de que o principal indicador do desempenho regional seja o Produto Interno Bruto
per capita indica, por si só, a orientação das políticas regionais para o crescimento e seus deter-
minantes, como mostram as seguintes identidades:
PIB/Pop = PIB/Empregos x Empregos/Pop
PIB/Pop = (PIB/Horas trabalho x Horas trabalho/Empregos) x Empregos/Pop
e
G (PIB/Pop) = G (PIB) – G (Pop)
G (PIB/Pop) = G (PIB/Horas trabalho) + G (Horas trabalho/Empregos) + G (Empregos/Pop)
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
�1
onde “Pop” é a população residente, “Empregos” corresponde à população empregada, “Horas tra-
balho” compreende as horas anuais trabalhadas e “G” significa a taxa de crescimento. O contraste
com as políticas de crescimento em geral situa-se, simplesmente, numa preocupação com a
geografia ou a distribuição geográfica do crescimento econômico. Adicionar uma dimensão
regional oferece outras percepções significativas, que são relevantes para o desenvolvimento
de programas orientados para o crescimento, como mostra a figura 8. Essa figura, que apenas
registra a posição das regiões NUTS 1 na União Européia dos 15 em relação aos determinantes
das diferenças de níveis de desenvolvimento, mostra que a variação na produtividade e nas taxas
de emprego tem dimensões regionais significativas. Os dados se referem a 1995. Os logaritmos
das taxas de produtividade e emprego das áreas NUTS 1 estão marcados nos eixos vertical
e horizontal. Na medida em que nos distanciamos da origem, as sucessivas linhas retas em
declive representam, respectivamente, níveis mais altos de PIB per capita, medidos em relação
à média da União Européia dos 15. Em todos os casos, exceto em dois deles, há uma forte
aglomeração de regiões pertencentes a cada Estado-membro, o que indica a importância dos
fatores nacionais na determinação das taxas medidas de produtividade e emprego. As exceções
são a Alemanha, onde há enorme defasagem da taxa de produtividade entre a antiga Repú-
blica Democrática da Alemanha e a antiga República Federal, e a Itália, onde há pronunciada
diferença Norte-Sul, no que se refere às taxas de produtividade e emprego, embora a região
italiana de Abbruzzo-Molise esteja a meio caminho entre o Norte e o Sul. O que também chama
a atenção são os diferentes modos pelos quais as taxas de produtividade e emprego interagem
para determinar o mapa da desigualdade. Todas as áreas NUTS 1 do Reino Unido, por exemplo,
são caracterizadas por produtividades inferiores à média. O grau de variação regional não é
expressivo, especialmente se excluirmos o Sudeste. A posição relativa das diferentes regiões
depende, em grande medida, de sua taxa de emprego, que é geralmente alta no Reino Unido.
Toda a Espanha e o Mezzogiorno italiano apresentam níveis de produtividade que são mais
altos do que os do Reino Unido. Suas taxas de emprego, no entanto, situam-se em nível bem
abaixo da média da União Européia dos 15.
�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 8 – A composição das desigualdades regionais: taxas de variação daprodutividade e do emprego
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
�3
Tal incapacidade de gerar emprego em níveis adequados tem significativa importância na
explicação do relativo subdesenvolvimento dessas regiões. As regiões gregas e especialmente
as portuguesas, por sua vez, sofrem de baixa produtividade. Suas taxas de emprego superam as
da Espanha e do Mezzogiorno italiano, porém não o suficiente para assegurar níveis relativos
mais elevados de PIB per capita. No topo do canto direito da figura, por fim, situa-se uma série
de economias regionais com altos níveis do PIB per capita, em razão de seu relativo êxito tanto
em termos das taxas de produtividade quanto das de emprego. Encontram-se aí várias regiões
alemãs (Hamburgo, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg e Bayern), ita-
lianas (Lombardia e Emília Romagna), austríacas (Vienna) e holandesas (West Nederland), assim
como a região de Ile de France e Luxemburgo.
Compreender a contribuição específica das políticas regionais para o crescimento ainda
permanece um tema complexo. Uma das razões reside na dificuldade de se estabelecer um
contrafato. De qualquer modo, uma idéia de sua importância pode ser estabelecida de várias
formas, que podem ser ilustradas pela referência ao caso da União Européia. Na União dos 15,
as políticas regionais respondem por aproximadamente 0,36% do respectivo PIB. As transferên-
cias para os quatro Países ditos da Coesão chegaram até a 3,3% do PIB e a 14,6% da formação
bruta de capital (ver tabela 1). Vale notar que, se medida pelo critério de paridade do poder de
compra nos países que recebem as transferências líquidas, uma porção especial do PIB da União
trará impacto relativamente maior nos Estados-membros economicamente menos favoreci-
dos, onde os níveis de preços são relativamente baixos. Uma fração relativamente grande das
transferências líquidas da União são, no entanto, gastas com importações líquidas de outros
Estados-membros. O percentual mais alto é de 42,6% para a Grécia. (As cifras equivalentes para
os novos estados (Länder) alemães e o Mezzogiorno italiano, que compreendem partes relati-
vamente grandes de seus respectivos países, foram 18,9% e 17,4%.) Sem dúvida, a intenção é
que tais aumentos singulares no PIB e na formação de capital levem ao aumento das taxas de
crescimento econômico no longo prazo.
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Tabela 1 – Escala e impacto dos Fundos Estruturais da União Européia
Grécia Irlanda Espanha Portugal COH4
% do PIB
• 1989-1993 2,6 2,5 0,7 3,0 1,4
• 1994-1999 3,0 1,9 1,5 3,3 2,0
• 2000-2006 2,8 0,6 1,3 2,9 1,6
% da formação de capital fixo
• 1989-1993 11,8 15,0 2,9 12,4 5,5
• 1994-1999 14,6 9,6 6,7 14,2 8,9
• 2000-2006 12,3 2,6 5,5 11,4 6,9
% das transferências da União Européia
gastas com importações de outros Estados-
membros 42,6 18,9 14,7 35,2 -
Fonte: CEC.
4. Conclusões e futuras reflexões: modelos de crescimento e desenvolvimento regional
A análise conjunta do crescimento e sua distribuição é de grande importância, na medida em
que permite que se dedique maior atenção às conseqüências distributivas do crescimento e à
ligação entre crescimento (um meio para que se alcance uma finalidade) e bem-estar (a finali-
dade do desenvolvimento econômico). Esse tipo de idéia pode ser levada adiante para, em pri-
meiro lugar, dar atenção à distribuição social do crescimento. Uma característica marcante do
modelo de crescimento dos Estados Unidos é a notável reversão em seu impacto distributivo:
enquanto até 1973 o crescimento estava associado com o estreitamento dos diferenciais de
renda, no período de 1973-2000, algo próximo a 60% do aumento total da renda americana
foi apropriada no decil superior, embora a maior parte desses ganhos tenha se concentrado
no topo deste grupo, o que é explicado pelo fato de que 28,8% do aumento total se refira ao
centil superior (DUNFORD, 2005). Essas conseqüências distributivas adversas de um modelo de
desenvolvimento neoliberal, de uma ordem econômica em que a financeirização e as tecnolo-
gias da informação e comunicação desempenham um papel significativo, levantam a questão
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
da existência de modelos de desenvolvimento alternativos que estejam associados a um desen-
volvimento mais equânime, mais uniforme do ponto de vista territorial. Aglietta e Réberioux
(2005) defenderam recentemente um modelo de governança corporativa centrado no valor do
stakeholder mais do que no valor do acionista, enquanto Boyer (2003) tem sugerido um modelo
antropogênico de desenvolvimento. Em essência, Boyer sugere que houve o deslocamento de
um modelo centrado na produção de mercadorias por meio de mercadorias para um modelo
que envolve a produção de idéias por meio de idéias. No primeiro, as condições de vida são ele-
vadas de maneira indireta, mediante incrementos na produção e no consumo de bens duráveis
e não-duráveis. No último, os vetores de crescimento são os investimentos em capital humano
e em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e na transformação do conhecimento
em mercadoria (commodity), de modo que permita a produção privada de bens informacionais.
Hoje em dia, argumenta Boyer, as TICs estão por toda parte, embora “a nova economia já tenha
colocado a produção enxuta no museu das inovações, a qual se supunha deixaria marca indelé-
vel no século XX, mas cujos efeitos, de fato, se dissiparam após uma ou duas décadas” (BOyER,
2003, p. 149). Uma alternativa, sugere ele, é um modelo antropogênico de desenvolvimento
que dê eco à análise das economias solidárias, assistenciais (PERRONS, 2004) e residenciais.
Em vez de centrar-se na produção de mercadorias por meio de mercadorias e na produção de
idéias por meio de idéias, esse modelo trata da produção de seres humanos por meio de seres
humanos. Uma vez atendidas as necessidades básicas, a educação, a saúde e a cultura (que são
ainda no presente eclipsadas pela nova economia) surgem como componentes cada vez mais
importantes na produção e na moldagem da vida e dos estilos de vida. São atividades que res-
pondem por amplas e, em alguns casos, crescentes parcelas dos dispêndios dos consumidores e
satisfazem necessidades que são mais bem distribuídas do que as TICs. Nesses setores, o cres-
cimento da produtividade é limitado (BAUMOL, 1967), e o impacto do progresso técnico, por
si só, não se dá tanto na produtividade, mas na gama e qualidade dos serviços prestados e na
qualidade de vida. No presente, os governos neoliberais procuram ampliar ainda mais o papel
do setor privado, buscando refletir seu potencial de crescimento. O ponto importante é que o
modelo de desenvolvimento centrado ao redor desses setores oferece um caminho bem mais
equilibrado, que visa diretamente aos tipos de indicadores identificados nas abordagens de
desenvolvimento que se concentram no funcionamento, capacidades e resultados diretamente
relacionados ao desenvolvimento humano.
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
AGLIETTA, M.; RÉBERIOUX, A. Corporate governanceadrift: a critique of shareholder value. Cheltenham:
Edward Elgar, 2005.
BOyER, R. The future of economic growth. As new becomes old. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
Commission of the European Communities ()
DELORS COMMITTEE (Committee for the Study of Economic and Monetary Union). Report on Economic
and Monetary Union in the European Community. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities,1989.
DONOVAN, N.; PILCH, T.; RUBENSTEIN, T. Geographic mobility. London: Performance and Innovation Unit,
2002.
DUNFORD, M. Old Europe, New Europe and the USA: comparative economic performance, inequality
and the market-led models of development. European Urban and Regional Studies, 12, 2, p. 149-176,
2005.
DUNFORD, M.; GRECO, L. After the three Italies. Oxford: Blackwells, 2005.
ISTAT. Conti economici regionali, 1980-1996. ISTAT: Roma,1998.
_______. Conti economici regionali, 1995-2001. Anno 2001. ISTAT: Roma, 2003.
KALDOR, N. The case for regional policies. Scottish Journal of Political Economy. Scottish Economic
Society, 17, 3, p. 337-348, nov. 1970.
KANBUR, R.; , VENABLES, A. J. (Eds.). Spatial inequality and development. Oxford: Oxford University
Press, 2005.
KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J. Integration, specialization and adjustment. European Economic Review,
40, 3--5, p. 959-967, 1996.
KUNZMANN, K. Euro-megalopolis or themepark Europe? Scenarios for European spatial development.
International Planning Studies, 1, 2, p. 143-163, 1996.
Desenvolvimento territorial, bem-estar e crescimento:razões em favor das políticas regionais
��
KUNZMANN, K.; WEGENER The pattern of urbanization in Western Europe. Ekistics, 58, 350-351, p. 282-
291, 1991.
MACDOUGALL COMMITTEE (Study group on the role of public finance in European Integration). Report
of the study group. Brussels: European Commission, 1997.
MAASTRICHT TREATy. Treaty on economic and monetary Union. Luxembourg: Office for Official Publica-
tions of the European Communities, 1991.
MINFORD, P. et .al. Unemployment: cause and cure. Oxford: Robertson, 1983.
PERRONS, D. Globalization and social change. People and places in a divided world. London/New york:
Routledge, 2004.
POLANyI, K. The great transformation: the political and economic origins of our time. New york: Beacon
Press, 1944.
QUAH, D. The invisible hand and the weightless economy. Centre for Economic Performance Occasional
Paper, 12. London: London School of Economics, 1996.
WISHLADE, F. et al. Economic and social cohesion in the European Union: the impact of Member State’s
own policies. Glasgow: University of Strathclyde/European Policy Research Centre, 1996.
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
Marcel Bursztyn
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
1. Introdução
O tema exclusão vem sendo explorado há algum tempo, sob a ótica econômico-social. Sua
expressão é o resultado da radicalização (qualitativa e quantitativa) da situação de mar-
ginalidade, foco de uma corrente de pensamento que marcou o meio acadêmico latino-ameri-
cano a partir dos anos 1970.
Este ensaio trata de uma outra face da exclusão, que merece ser estudada: a exclusão do
lugar. Não é nova, pois a história da civilização é também a história de conflitos entre povos,
que têm como causa e conseqüência a conquista territorial. Não se trata aqui de abordar as
diferentes formas que levam à emigração ao exterior, surpreendente fenômeno que hoje mobi-
liza milhões de brasileiros. Não interessa, no âmbito desse trabalho, estudar as ondas de avanço
demográfico no rumo da fronteira, induzidos por uma combinação de efeito expulsão e efeito
atração: empreendedores atraídos por oportunidades, como os plantadores de soja e pecuaris-
tas na Amazônia; ou agricultores pobres em busca de terras em maior escala para cultivar; ou
mesmo garimpeiros que foram tentar a sorte em territórios distantes.
O que interessa agora é centrar o foco sobre um conjunto de atores que vem marcando o
panorama social brasileiro a partir das últimas décadas do século XX. Políticas públicas (e a
ausência delas) provocaram uma notável redistribuição de populações no território nacional,
refletindo uma estratégia de empurrar o problema para a periferia, como é o caso da organi-
zação de projetos de colonização, para não fazer reforma agrária nos locais de ocupação mais
antiga. Por outro lado, as políticas adotadas permitiram recuperar velhas práticas clientelis-
tas, em que as populações miseráveis são objeto de favores que rendem legitimação política
�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
(seja pela omissão do Estado, no caso de invasões em áreas urbanas, seja pela ação do poder
público, quando este age como “organizador” de processos de ordenamento de situações de
conflito). Este último caso, mais recente, envolve novas formas de organização política, que
têm como fundamento a busca de um lugar: para os sem-teto das cidades ou para os sem-terra
do campo.
Entre os novos grupos que emergem do período de quarenta anos de ação (ou inação)
governamental estão:
• camponeses que migram para a fronteira (e mesmo além) de expansão agropastoril;
• atingidos por barragem;
• populações tradicionais segregadas pela criação de Unidades de Conservação (UC) de
proteção integral (“excluídos do ambiente”), inclusive os proprietários de remanescentes
de mata atlântica;
• sem-teto urbanos; e
• sem-terra rurais.
Em comum têm o estreito elo com a “questão ambiental”. São vítimas, mas também algozes
do meio ambiente como objeto institucionalizado e como grande tema de interesse global. Em
certa medida, são perdedores do avanço da conservação do meio ambiente como novo foco
da regulação pública: perdem direitos (como o do uso econômico do lugar que ocupam há
muito tempo – caso das populações de UC); perdem laços culturais, ao serem jogados em novas
práticas e novos lugares (os removidos, atingidos por barragem); e perdem organização social
e identidade cultural, quando lhes são impostas novas formas (exteriores) de organização. Mas
são também transformados em algozes, pois quando o “ambiente” é eivado à categoria de
objeto de regulação pública, institucionalizado em políticas e instrumentos, muitas das práticas
usuais se tornam contravenção (por exemplo: pescadores tradicionais em reservas marinhas,1
favelados residentes nas encostas).
1 Esse tema vem sendo explorado em trabalhos acadêmicos que abordam estudos de caso. Suassuna (2001) analisa o caso das populações que saíram perdendo com a implantação do exitoso projeto ambiental de proteção das tartarugas marinhas (Tamar); Lobão (2006) estudou o efeito negativo sobre pescadores artesanais com a criação de reservas marinhas.
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
�1
2. Modernidades
É próprio da natureza humana a busca hedonista de melhorias. Assim foi com a descoberta de
ferramentas ainda na pré-história. Uma transformação como a passagem para o neolítico não
é concebível em outras espécies do reino animal, na medida em que representou um salto no
processo natural de evolução. Em última instância, a busca de mudanças nos modos de satisfa-
zer necessidades sempre levou a um dinamismo das sociedades. No passado, o dinamismo era
lento (o feudalismo durou mil anos!); hoje, seu ritmo é cada vez mais acelerado.
Sempre houve, desde tempos remotos da primeira revolução agrícola, que permitiu a seden-
tarização da humanidade, algum tipo de diferenciação entre grupos sociais. No início, isso
refletia diferenças de meio físico e de cultura. Depois, foi se refletindo também nas esferas da
produção, da acumulação de riquezas, do desenvolvimento de técnicas e da formação de poder
militar.
Com a chegada do capitalismo, ao fim do medievo, a diferenciação entre grupos sociais
passa a expressar uma separação física (territorial) e depois temporal bem mais marcante. Os
povos das novas terras descobertas pelos europeus seriam subjugados por não dominarem o
conjunto das técnicas de que dispunham os conquistadores, mesmo que parte destas tenham
sido trazidas do Oriente. Nesse choque de culturas, não prevaleceu o aspecto civilizatório geral,
mas o domínio militar. Diferentemente do mundo romano, onde as conquistas significavam
anexação ao modo de vida e à política dominante, o capitalismo se nutre das diferenças para
poder pilhar. Nesse sentido, as Américas não foram “romanizadas”, mas sim “colonizadas”.
O industrialismo foi revolucionário também na intensidade e na rapidez das mudanças
(POLANyI, 1980). Pela primeira vez, de forma sistemática, as relações entre tempo, espaço e
estruturas construídas passam a expressar descompassos. Em outras épocas, uns povos con-
quistavam outros, impondo seu domínio sobre territórios onde se expressavam identidades
próprias. Mas nos tempos modernos, a duração dos ciclos de atividades econômicas passa por
notável aceleração, provocando sobressaltos em relação não apenas às próprias estruturas eco-
nômicas (que se tornam obsoletas por estarem à mercê de mudanças tecnológicas e ciclos de
modas). Há também, evidentemente, um ritmo acelerado de mudanças nas estruturas sociais.
A tal ponto que as próprias formulações da teoria social se tornam também extemporâneas.
Exemplo disso é a redução marxista à oposição burguesia versus proletariado ter perdido sen-
tido como fórmula universal de análise do industrialismo capitalista.
�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Porém, dois aspectos são pouco evocados, na análise dos impactos das mudanças em ritmo
acelerado: a relação entre dinamismo econômico-social e territorialidade, e também suas impli-
cações sobre os espaços construídos; e a cada vez mais marcante defasagem entre os “tempos”,
em que cada grupo se situa no âmbito de uma mesma sociedade, com inevitável hegemonia
dos tempos mais modernos.
No processo de (des)estruturação modernizadora, surgem expressões de formas excludentes.
A exclusão social tem sido objeto de atenção da academia (e também da política) há algum
tempo. Afinal, contrariamente ao que se previra para o século XX – uma era de bem-estar – o
saldo foi constrangedoramente surpreendente: maior distância entre ricos e pobres, indepen-
dência entre dinâmica econômica e geração de empregos e ruptura de laços de solidariedade
orgânica entre membros de um mesmo grupo social.
3. Exclusão: um conceito do século XXI
A grande mobilização mundial em torno dos alertas sobre a crise ambiental, que teve seu ápice
na Rio-92, produziu um documento que bem representava o momento. A Agenda 21 tem a
singularidade de reunir a adesão formal de quase todos os governantes do planeta em torno de
uma declaração de compromissos que sirvam de referência para as decisões públicas no novo
século.
Cada vez que um período se encerra, há uma tendência de que os analistas apresentem um
balanço do que ficou para trás e uma previsão do que virá pela frente. Assim se dá a cada fim de
ano e, de forma mais consistente, em fim de século. Na virada do século XIX para o XX o clima
era de otimismo, pois parecia que haveria uma era de paz, justiça social e confiança na ciência
como base para a solução dos grandes desafios. O transcurso do século passado revelou que tais
previsões estavam equivocadas (HOBSBAWM, 1988): as guerras, mundiais, foram sangrentas; a
ciência resolveu muitos problemas, mas também provocou outros; e as possibilidades de redu-
ção das desigualdades sociais – promessa do welfare state – resultaram em frustração, com um
distanciamento entre os extremos da pobreza e da riqueza.
Uma das heranças mais desconcertantes deixadas pelo século XX para o novo milênio é a
emergência de uma nova situação no contexto social: a exclusão. Não se trata das velhas for-
mas, conhecidas, de pobreza ou de miséria. O que está ocorrendo agora é algo bem mais radical,
na medida em que é, ao mesmo tempo, um fenômeno universal (antagoniza nações e grupos
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
�3
dentro de uma mesma sociedade) e resultante não de contextos adversos, mas sim da própria
natureza do progresso.
Em todas as épocas, os conflitos entre povos e as diferenças internas em cada nação alimen-
tavam guerras e exploração. Contudo, a existência do “outro” era necessária, seja para o ato da
pilhagem, seja para a escravização, ou para a dominação. Havia uma interdependência, entre as
partes apostas. No fim do século XX, a convergência de dois elementos transforma esta dialética
em dissociação. Por um lado, a crise ambiental abre espaço para uma ruptura da solidariedade
mecânica entre nações e grupos sociais. Uma perigosa percepção da competição pelo ambiente
– um bem cada vez mais escasso – alimenta egoísmos e até conflitos, como na gaiola com ratos
de Calhoun (1962 – ver box). Por outro lado, a evolução das técnicas de produção gerou condi-
ções em que mesmo com ciclos econômicos de crescimento, o nível geral de emprego se reduz.
Cada vez mais pessoas vão ficando de fora do processo, não mais de forma conjuntural, mas sim
estruturalmente. Na medida em que tal tendência se agrava, rompem-se laços de solidariedade
orgânica. Nações inteiras e grupos internamente a sociedades se tornam desnecessários.
Exclusão social é diferente de marginalidade, condição que preocupava estudiosos ao fim do
período de prosperidade pós-segunda guerra mundial (os trinta anos gloriosos). Uma pessoa
em situação de marginalidade tem alguma vinculação econômica com o mundo ao seu redor,
embora não desfrute das compensações sociais e materiais de tal situação. São os biscateiros,
tão estudados nos anos 1970. Já os excluídos, não têm mais qualquer elo com o mundo do tra-
balho. Não desempenham tarefas “úteis”. Sobrevivem fora da vida formal da sociedade. Estão
mais próximos da idéia de animal laborans do que do homo faber de Hannah Arendt (2001).
A exclusão é, portanto, uma radicalização (qualitativa e quantitativa) da marginalidade.
E parece ser uma fatalidade inerente à atual modernidade. Sua expressão é tão evidente e
grave que atrai a atenção de formuladores de políticas públicas e constitui um novo campo
do pensamento social. Duas vertentes de ação regulatória visam enfrentar o mal-estar da
exclusão social: as políticas compensatórias (baseadas na transferência de renda) e as ini-
ciativas inclusivas (com destaque para a formação para o mercado de trabalho e o apoio ao
empreendedorismo).
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
BOX – A “gaiola comportamental” de Calhoun
Em 1962, sob o título “Densidade Populacional e Patologia Social”, John Calhoun des-
creveu um experimento célebre no qual aumentava progressivamente o número de ratos no
interior de uma gaiola. O aumento da população tornava-os agressivos, capazes de atacar
sexualmente e de devorar os demais.
No fim, com a gaiola apinhada, os ataques sexuais e as mortes se multiplicavam, bem
como a ferocidade das lutas em defesa de posições privilegiadas junto à vasilha com
comida colocada na parte central, embora houvesse acesso fácil aos comedores localiza-
dos nos cantos da gaiola. O autor concluiu que a superpopulação coloca o indivíduo e o
sistema social sob estresse, mecanismo responsável pela eclosão de violência.
A experiência teve grande impacto entre os estudiosos do comportamento. Como evitar
comparações entre a “gaiola comportamental” de Calhoun e os episódios de violência que
eclodiam nas grandes cidades nos anos 1960? Desde então, o termo “densidade populacio-
nal elevada” passou a ser considerado um quase-sinônimo de violência urbana, e a gaiola
era citada como argumento decisivo para justificar a associação entre ambas.
Disponível em http://72.14.209.104/search?q=cache:wcCL9vS8xEsJ:12semanas.blogspot.com/2005_06_01_
12semanas_archive.htm, acesso em 22/5/2006).
4. Migrações – a troca de lugar
Em geral, migrantes são pessoas que tiveram a iniciativa de migrar e, nesse sentido, foram
capazes de buscar uma alternativa: são, portanto, reativos e não passivos.2 A migração se carac-
teriza pela passagem de um lugar para outro. Tem origem e destino, ainda que no destino nem
sempre haja uma assimilação.
A história tem mostrado que as adversidades – sejam elas econômicas, políticas, climáticas
ou perseguições religiosas – tendem a produzir migração. Povos inteiros ou indivíduos podem
se deslocar para outros territórios, em busca de melhores condições de vida. As migrações
podem ser temporárias – sempre que um caminho de volta ainda exista – ou permanentes.
O longo período medieval se caracterizou como de reduzida mobilidade. As pessoas geral-
2 Os degredados e os escravos são compulsoriamente deslocados, enquanto os migrantes de certa forma tomaram a decisão de mudar.
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
mente nasciam e ficavam em seu meio. Grandes deslocamentos estavam reservados aos mer-
cadores, cavaleiros, cruzados, mas entre eles permanecia a referência do lugar de origem, que
também acabava sendo o lugar de destino.
A modernidade do capitalismo, desde seus primeiros passos, provocou migrações. Enquanto
perdia força como sistema auto-regulado de organização econômico-social, o feudo passou a
perder também população. E aí começa a se expressar um tipo de reação que parece ser quase
que instintivo: a pobreza busca as aglomerações. E, nesse processo, tende a haver desajustes, do
tipo indigência e violência. Uma reação usual por parte das estruturas de governo das locali-
dades que são alvo de migrações de populações miseráveis é a de instá-los a se estabelecer em
outro lugar. Por conta disso, o início da era das grandes migrações foi também marcado pelo
estabelecimento de iniciativas regulatórias da pobreza, pelo poder público.
Já no início do século XVII, preocupados com a migração de seus miseráveis no rumo das
grandes cidades, instigados pelas próprias estruturas de governo local, os ingleses instituíram
políticas públicas (poor laws) voltadas para a fixação dos mais pobres em suas localidades de
origem (ROSANVALLON,1981 e D´INTIGNANO,1993). Na França, a Revolução burguesa de 1789
teve nos mais pobres e famintos sua base maior de apoio.
O liberalismo liberou a pobreza em relação ao território, permitindo uma maior mobilidade.
Foi um período inicialmente de migrações campo–cidade nos países que se industrializavam e
em seguida de emigração para o Novo Mundo. O que determinava a transumância era, por um
lado, a atração de oportunidades (reais ou não) e, por outro, a “expulsão”, representada pelas
dificuldades de permanecer nos locais de origem e as incitações à migração.
A notável mobilidade no espaço ocorrida no capitalismo pode ser explicada por fatores
como: a decadência do regime servil, o florescimento das cidades, o aumento do excedente de
produção do campo (notadamente na segunda metade do século XIX), a maior circulação de
informações (com os serviços postais e depois o telégrafo) e o avanço nos transportes, com a
introdução do vapor como força motriz. O “lugar” passa a adquirir dimensões cada vez maiores,
com a extensão dos limites de mobilidade territorial.
A grande transformação (POLANyI, 1980) provocada pela Revolução Industrial gerou o
maior deslocamento de pessoas desde o início da civilização. Agricultores deixavam o campo
e as cidades cresciam. Fatalmente, ocorreria penúria alimentar, na medida em que o campo
não produzia (ainda) excedentes em grande escala. Esse foi o pano de fundo para o alerta
de Malthus (1798) sobre o descompasso entre oferta e demanda de víveres. No século XIX, as
cidades européias cresceram tanto que se transformavam em problemas de segurança pública,
sanidade, vivenda, transportes e desestruturação social (ENGELS, 1974).
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Porém, é com a promoção das reformas agrárias nas nações que instituíam projetos nacio-
nais de desenvolvimento que as migrações passam a assumir uma escala ampliada, ultrapas-
sando as fronteiras nacionais.
Emigração em nível internacional foi, portanto, uma marca do fim do século XIX: irlandeses
famintos fugiram para as novas fronteiras de expansão no Oeste americano; chineses foram
para a Califórnia; italianos, alemães e japoneses se deslocaram para diferentes pontos do con-
tinente americano, como resultado de reformas agrárias que economizavam trabalho numa
razão mais intensa do que a indústria gerava empregos nas cidades. Esse processo coincidia
com a abertura de fronteiras de ocupação no Novo Mundo, processo que foi alavancado pela
expansão das ferrovias e que já não mais contava com o recurso à mão-de-obra escrava. Gran-
des levas de europeus e depois asiáticos migraram para a conquista do Oeste dos EUA, para as
fazendas de café no interior de São Paulo, para a florescente expansão da pecuária na pampa
argentina. Uma verdadeira transumância reconfigurou o panorama demográfico do continente
americano. Foi um movimento migratório com destino determinado.
Paralelamente a esse processo, ocorria um descompasso entre ritmos vividos por diferentes
sociedades e entre grupos numa mesma sociedade. O progresso no âmbito das técnicas pro-
porcionava oportunidades de aceleração do tempo, para uns, enquanto outros seguiam em
velocidade mais lenta. Naquele momento, esse descompasso não implicava desvinculação: ao
contrário, o pólo mais avançado se nutria da desigualdade de ritmos. O atraso – os setores mais
tradicionais – representava utilidade que os tornava parte integrante do complexo sistema
econômico-social que se formava.
É claro que a diferenciação provocava disfunções, que implicavam riscos na esfera política.
No interior das sociedades industriais da Europa, no século XIX, foram se formando movimentos
que reivindicavam direitos para as classes menos favorecidas. É nesse contexto que, no último
quarto do século, nascem as primeiras políticas de proteção voltadas à redução dos riscos
sociais (previdência).
5. Uma era de aceleração de ciclos
A recente modernidade, que muitos chamam pós-modernidade, é marcada pelo signo da veloci-
dade. Não se trata apenas da aceleração nas comunicações físicas (trens-bala, aviões supersôni-
cos, carros velozes) ou nas comunicações virtuais (internet). É também um formidável aumento
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
no ritmo de processos, encurtando ciclos que outrora eram bem mais lentos. Uma nova grande
transformação está em curso, desta vez sob o signo da velocidade, e com impactos também
magníficos. Não se vai aqui explorar as implicações ambientais, que são de grande relevância, e
que vêm sendo objeto de toda uma corrente de reflexão na academia, sob a ótica do desenvol-
vimento sustentável e de conceitos como resiliência,3 capacidade de suporte4 e externalidades.5
O foco que interessa agora é o da obsolescência.
1. a aceleração dos ciclos da ciência e da tecnologia – o industrialismo (BARTHOLO, 1984)
tem como fundamento a incorporação de progresso técnico ao processo produtivo. Tea-
res mecânicos substituíram a produção artesanal e liquidaram seu modo de produção.
O novo paradigma produtivo se manteve por cerca de um século sem grandes mudan-
ças. A revolução nos transportes (canais, navios a vapor e ferrovias), considerada como
“segunda revolução industrial” representou uma ampliação das possibilidades de expan-
são dos mercados, mas não mudou a forma como se produzia as mercadorias.
Já no século XX, a massificação da produção, possibilitada por mudanças tecnológicas
(fordismo), propiciou notável elevação da produtividade. Foi um salto qualitativo, cujas
implicações seriam perceptíveis mais adiante, com a grande depressão iniciada ao fim
da década de 1920: a produção crescia mais que os mercados, provocando recessão e
desemprego. A fórmula keynesiana de intervenção reguladora do Estado serviu de bar-
reira anti-crise, por cerca de meio século. As demandas e a proteção social, promovidas
pelo Estado, mitigavam efeitos deletérios das implicações da substituição de trabalho
vivo por tecnologia.
No fim do século, uma nova “revolução industrial” se daria. A combinação de novos
produtos, novos materiais e novas tecnologias, passaria a ditar o ritmo das mudanças
na produção. A densidade de conhecimento científico aumenta na esfera produtiva e a
própria lógica do mercado passa a ditar a aceleração da cadência. Novos conhecimentos
e técnicas rapidamente vão ficando velhos.
2. a aceleração dos ciclos das atividades econômicas – como corolário da mudança tecno-
lógica, também a base produtiva adquire ritmo crescente. As mudanças de paradigmas
nos modos de produção não apenas provocam constantes mudanças (novos modelos
e novos produtos) nas empresas, como também implicam sucessivas reestruturações
3 Resiliência é a taxa na qual um sistema retorna ao seu estado de equilíbrio, após alguma perturbação. 4 Capacidade de suporte é o limite máximo de um dado ambiente ao uso e apropriação de seus recursos, a partir do qual a
resiliência é menor do que a pressão. Acima de sua capacidade de suporte, o ambiente entra em desequilíbrio e seu uso fica comprometido no longo prazo.
5 Externalidade é um efeito sobre um sistema ou ambiente, provocado por um fator externo. Pode ser positiva (por exemplo, a relação entre áreas verdes e qualidade do ar) ou negativa (como a emissão de efluentes num rio e qualidade da água).
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
do parque produtivo: fusões, incorporações, falências, novas empresas. Se outrora as
grandes corporações industriais duravam muito tempo, agora o panorama expressa uma
constante mutação, com surgimento de novas atividades e empresas, e o desapareci-
mento de outras. O grupo que compõe o índice Nasdac da Bolsa de Valores de Nova york,
que reúne sobretudo atores econômicos recentes, é exemplo disso.
3. a aceleração dos ciclos de vida dos produtos – uma tendência cada vez mais marcante
no sistema produtivo tem sido a de encurtamento do ciclo de vida dos produtos. A obso-
lescência é uma marca da produção industrial nas últimas décadas. Há uma dialética
entre tecnologias perecíveis e produtos cada vez mais perecíveis. Se outrora um bem
durável era previsto para durar por longo período de tempo, hoje seu ciclo de vida é
curto. A obsolescência programada se dá em dois níveis: na vida útil do produto e na
vida útil do padrão tecnológico adotado (exemplo: substituição de sistemas de vídeo
por DVD, celulares analógicos por digitais, computadores com processadores cada vez
mais rápidos). É claro que produtos e tecnologias mais perecíveis provocarão desperdí-
cio de materiais e competências formadas, além de crescentes volumes de lixo.
4. a aceleração dos ciclos de capacitação do trabalho – para fazer face às constantes
mudanças tecnológicas, a mão-de-obra tem de estar em processo também constante de
formação. A obsolescência de tecnologias acaba provocando a obsolescência de compe-
tências. Grandes investimentos em formação, que outrora garantiam uma segura vincu-
lação dos capacitados no mundo do trabalho, agora se tornam voláteis. Especializações
e mesmo profissões podem se tornar desnecessárias de um dia para outro. De que serve
hoje um profissional do torno mecânico, quando seu trabalho pode ser desempenhado
com mais precisão e eficiência por máquinas-ferramenta de controle numérico? O para-
digma da competência especialista perde espaço para a lógica da flexibilidade, segundo
a qual o trabalhador deve estar apto a mudar de função com freqüência. A falência de
profissões provoca desajustes tanto no nível individual (crises de perda de vinculação),
quanto em termos de constantes necessidades de reciclagem (nem sempre possível) de
trabalhadores.
5. a aceleração dos ciclos da utilidade das estruturas físicas – conseqüência inevitável das
rápidas mudanças nos processos produtivos, a infra-estrutura também se torna obsoleta.
Quando os modos de produção duravam muito tempo, a base material de sua operação
podia ser amortizada no longo prazo. Assim, um galpão industrial e mesmo as máquinas
eram construídos para uma permanência a perder de vista. Agora, máquinas se tor-
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
nam inúteis, prédios e mesmo bairros inteiros perdem sua função. A morte de cidades
industriais é um exemplo. A implosão espetacular de prédios obsoletos é uma metáfora
ilustrativa do descompasso entre a duração das construções materiais e sua necessidade.
Construídos para durar, seu ciclo de utilidade acabou sendo mais curto. Nesse sentido,
um esforço de destruição é mobilizado para reverter um esforço de construção que não
previra a finitude do ciclo. Com isso, perde-se trabalho, capitais investidos e também
materiais.
Esses cinco processos de aceleração assinalados ajudam a esclarecer a lógica que caracteriza
a atual modernidade, na qual é possível ocorrer dinamismo econômico paralelamente à redu-
ção do nível de emprego. O resultado é mais uma aceleração: a da desvinculação de trabalha-
dores em relação ao sistema produtivo, passaporte para a exclusão.
6. Estudando à luz da dimensão econômico-social
As análises dos processos de aceleração, por um lado, e exclusão, por outro, tendem a se dar na
dimensão econômico-social. Sua expressão espacial, entretanto, é menos estudada.
A geografia tradicionalmente lida com os conceitos de espaço e território. A sociologia e a
economia, sob enfoques particulares, tratam dos efeitos da desvinculação ao processo produ-
tivo de mercado. Entretanto, a expressão de processos como a exclusão social sobre o território
ainda não tem sido contemplada. Menos ainda, a simultaneidade da ocorrência de populações
vivendo em momentos diferentes no mesmo lugar – fenômeno claramente percebido em vários
contextos – não parece ser um alvo evidente do pensamento acadêmico. De maneira geral,
prevalece o enfoque dos grupos hegemônicos, aliado a estudos de casos tidos como atrasados.
A tradição analítica das relações centro–periferia, que marcou o pensamento latino-americano
a partir dos anos 1970, considera a dialética da polarização entre o moderno e o tradicional,
mas naquele momento não havia uma expressão tão clara de que os dois pólos podem conviver,
simultaneamente, num mesmo lugar, sem que haja uma interdependência. Isso é uma novidade
do fim do século XX: a ruptura da complementaridade entre os pólos.
�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
7. Espaço e território
Santos (1978) analisa a geografia como “constituída a partir de consideração do espaço como
um conjunto de fixos e fluxos”. Os fixos seriam os elementos que, estabelecidos em cada lugar,
desempenham atividades e expressam práticas que provocam mudanças no próprio lugar. Já os
fluxos são os efeitos – diretos e indiretos – da dinâmica dos fixos; modificam e são modificados
por estes (SANTOS, 1996). O autor assinala que hoje os fixos estão cada vez mais fixos (no solo)
e os fluxos estão cada vez mais amplos, diversos e rápidos.
Uma precisão conceitual é necessária aqui. A categoria configuração territorial é definida
pelo “conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área
e pelos acréscimos que os homens superimpuseram a estes sistemas naturais”. Não é, portanto,
o espaço, “já que sua realidade vem da sua materialidade e a vida que a anima” (idem, ibidem).
A existência real de uma dada configuração territorial é o resultado de relações sociais. Com a
evolução da história, a configuração territorial ficou cada vez mais marcada pela ação do homem,
expressando uma negação da natureza natural pela afirmação da natureza humanizada.
É nesse sentido que o conceito de espaço se expressa como: “um conjunto indissociável,
solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ação, não considerados
isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá” (idem, ibidem).
Segundo Becker (2006), o conceito do território válido atualmente é uma evolução de for-
mulações anteriores (de autores como Raffestin, Sack e ela própria) e reflete o novo contexto
mundial:
Território é o espaço da prática. Por um lado é o produto da prática espacial: inclui
a apropriação efetiva ou simbólica de um espaço, implica na noção de limite – com-
ponente de qualquer prática – manifestando a intenção de poder sobre uma porção
precisa do espaço.
Por outro lado, é também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio
para sua prática.
A territorialidade humana é uma relação com o espaço que tenta afetar, influenciar ou
controlar ações através do controle do território. É a face vivida do poder.
Fernandes (2006) assinala que:
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
�1
O território foi definido por Raffestin (1993: 63), como sistemas de ações e sistemas
de objetos. Essa similitude das definições de Claude Raffestin e Milton Santos signi-
fica também que espaço geográfico e território, ainda que diferentes, são o mesmo.
Pode-se afirmar com certeza que todo território é um espaço (nem sempre geográfico,
pode ser social, político, cultural, cibernético etc.). Por outro lado, é evidente que nem
sempre e nem todo espaço é um território. Os territórios se movimentam e se fixam
sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico de uma nação é o seu território. E no
interior deste espaço há diferentes territórios...
São as relações sociais que transformam o espaço em território e vice e versa, sendo
o espaço um a priori e o território um a posteriori. O espaço é perene e o território é
intermitente.
O conceito de território é uma abstração que se situa bem acima da percepção e da preocu-
pação das populações. É uma fórmula que se presta às práticas da regulação pública, mas não
necessariamente reflete o mundo vivido e percebido pelas pessoas.
8. Mas o que é o lugar?
O indivíduo entende o que é o lugar. É lá que ele mora, que percebe e interage com o ambiente,
que produz o ambiente construído, que se reproduz como ser. É onde cada um se reconhece
como pertencente. Pode ser “até onde a vista alcança” para um camponês, ou o país, para um
cidadão esclarecido.
Lugar e região são geralmente diferenciados pela escala, de forma muito banal e roti-
neira, preferindo-se o termo região a lugar, por representar maiores unidades de terri-
tório. Entretanto, o lugar é às vezes distinguido como um meio sensorial diretamente
vivido e a região como um conceito abstrato e construído, uma superfície que obtém
sua coerência pelas instituições sociais e políticas (ENTRIKIN, 2003).
Os humanos vivem a sua existência num lugar e desenvolvem simultaneamente um
sentido de ser num lugar e fora de um lugar. A experiência do lugar implica, por-
tanto, para uma pessoa, ao mesmo tempo a capacidade subjetiva de participar de um
ambiente e a capacidade objetiva de observar um ambiente como externo e separado
de si (idem, ibidem).
�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Um exemplo ajuda a entender a noção de lugar. A França, como território, está solidamente
organizada sob a soberania de um Estado Nacional, mas, sob a ótica cultural, representa uma
complexa teia de lugares. As regionalizações são muitas, e remontam a tempos bem pretéritos,
antes mesmo do feudalismo. São lugares com idiomas ou dialetos diferenciados, com tradições
e idiossincrasias bem particulares. Com freqüência, há aspirações de lugares em se tornar ter-
ritórios de Estados Nacionais em si (caso da Córsega, na França, e do País Basco, na Espanha).
A configuração de lugares pode se dar, portanto, segundo aspectos que fogem à definição de
espaços políticos determinados. Lugares podem ser definidos por identidades: festas, folclore,
dialetos, pratos típicos. O território francês é formado por 350 lugares, quando o critério de
regionalização é o queijo!
9. Tempos e espaços – situação
Ainda na reflexão teórica, em busca de entender o diferencial de lugares que formam os ter-
ritórios, é preciso evocar as noções de tempo e espaço. No mesmo território podem estar con-
vivendo diferentes lugares, se considerados os tempos não cronológicos. A noção de “tempo
civilizacional”, cultural, antropológico, se impõe como imperativo. A convivência no mesmo
tempo cronológico de diversos tempos civilizacionais provoca conflitos: de normas versus prá-
ticas (como, por exemplo, o proibido versus o tolerado), de hegemonia/subalternidade (como
no caso da lógica do compadrio e clientelismo), de efetividade da regulação (como impedir
uma carroça de circular no meio urbano apenas com o instrumento usual de anotar a placa e
multar?).
Quanto mais “moderna” uma sociedade, maior o espaço para a ocorrência de diversidades
(cultural e étnica). Estas convivem, no mesmo território, com espaços de legitimidade diferen-
tes. Atores dos tempos não hegemônicos atuam como espécies de almas penadas, habitando
o mesmo espaço de um território, mas em tempos civilizacionais diferentes. São vistos e per-
cebidos, mas as interfaces são remotas e, quando reais, tendem a ser conflitivas. No caso dos
catadores de lixo, que circulam pelos centros das grandes cidades, o elo é que as sobras (output)
de um são o meio de vida dos outros (input). É a dialética da miséria, paradoxo urbano que
representa a marginalidade em seu paroxismo – exclusão.
Paradoxo também são os perambulantes, migrantes que não chegam ao destino, por não
haver destino. Estes são os sem-lugar: diferentes dos pobres de outras eras, que tinham uma
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
�3
referência territorial (Robin Hood era da floresta de Sherwood; David Copperfield era de Lon-
dres e é de lá que sai, andando, para Canterbury, em busca de um parente; os personagens das
ruas londrinas, retratados pelo americano Jack London; os clochards de Paris)... são miseráveis
situados. O miserável Jean Valjean, de Victor Hugo, é situado em Paris, local onde fora preso e
condenado a 19 anos de prisão por ter roubado um pedaço de pão.
A propósito da noção de homo situs, Zaoual (2001), argumenta que:
Este raciocina e age no interior de uma “localidade de situação”, sede de uma conju-
gação de imperativos múltiplos. Aqui, o modelo de decisão se torna mais complexo e
indeterminado. O modelo simplista do homo oeconomicus se dissipa frente ao homo
situs. Estamos, portanto, na perspectiva de um “realismo de situação”, mas não na
de um idealismo econômico. A situação é a de um ator em seu lugar e o lugar deve
também ser situado, para melhor se abordar o contexto do homo situs. Este decide,
com um senso de prática, quem impõe as contingências locais. E esse senso está
permanentemente se recompondo, por meio das interações entre os atores do lugar
e o resto do mundo, ou pelo menos com os que ele percebe como sendo do mundo
exterior.
Ao mesmo tempo em que a mundialização se acentua, a emergência do Local parece
irresistível...
Até recentemente, a miséria sempre tinha endereço. Mesmo quando migravam, os miserá-
veis trocavam uma situação por outra. Entre os excluídos de hoje, alguns além de sem-teto ou
sem-terra são também sem-lugar.
10. Perambulação – uma viagem só de ida
O século XX seguiu a tendência iniciada no período precedente e expressou fluxos de população
em dois sentidos: da periferia para o centro (geralmente do campo para a cidade) e de países
com excedente de população para regiões pioneiras de ocupação. Na medida em que o êxodo
rural passa a se reproduzir em países mais pobres, o meio urbano vai se tornando o lócus de
processos críticos: inchamento das periferias das cidades, ocupação de espaços vazios (caso das
favelas nos morros), infra-estrutura deficiente, desemprego etc. Como nas cidades inglesas do
século XIX, a situação vai de precarizando, com duas agravantes: a indústria não se expande na
mesma proporção que a população aumenta; e quanto isto se dá, é uma indústria que já não
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
gera tantos empregos como antes. Esse processo pavimenta a via para a exclusão social, com
breve passagem pela marginalidade (BURSZTyN, 2000).
No bojo de tal transformação, um novo personagem emerge à cena: os perambulantes. Não
se trata de atores da vida das cidades, embora nelas transitem; nem de migrantes, pois nelas
não se estabelecem. Saíram de alguma origem, geralmente rural, mas não chegaram a nenhum
porto seguro. Perderam vinculações, mas não adquiriram nova identidade; ou melhor, foram
levados a assumir a identidade de nômades, errantes. São diferentes dos migrantes, que troca-
ram um lugar por outro, pois não chegaram a nenhum lugar.
Com a crise e a recessão econômica que se cristalizaram ao longo dos anos 1980, o panorama
das migrações no Brasil se alterou bastante. São Paulo deixou de ser o grande pólo de atração,
já que suas indústrias dali chegaram a um ponto de saturação. Os fluxos demográficos já se dis-
tribuíam por outras regiões, como é o caso de Rondônia, que teve sua população multiplicada
por 10 em apenas 15 anos. Mas também a fronteira norte começava a se mostrar limitada para
absorver toda a massa de população que deixava o campo, em todas as partes do país.
A perambulação como uma nova forma de migração começa a se afirmar como tendência
nos anos 1990. Na inexistência de condições mínimas de garantia da permanência dos migran-
tes de baixa renda no meio urbano, hordas de famílias passam a vagar pelas estradas no rumo
de grandes cidades, onde não conseguem se estabelecer. São, em sua origem, trabalhadores
rurais sem-terra, ainda que não pertençam a essa categoria de forma organizada. Muitos deles,
inclusive, já tentaram a vida em alguma cidade do interior, mas não tiveram sucesso. Partiram
para a estada não tanto seguindo um rumo, mas principalmente por não terem rumo, fugindo
da miséria.
Brasília tem se apresentado como pólo de atração desses perambulantes. Nos mecanismos de
comunicação de que dispõem, circula a informação de que a cidade tem lixo farto e uma popu-
lação generosa (BURSZTyN e ARAÚJO, 1997). Ou seja, há uma boa possibilidade de se extrair
renda (e alimentação) da coleta do lixo e das doações que são feitas por almas caridosas.
Chegando a Brasília, esses perambulantes vão morar nas ruas ou em tendas de lona plástica,
nas áreas verdes da cidade. Vivem de forma extremamente precária, mas consideram que sua
vida melhorou muito, pois têm a certeza de que poderão comer algo na próxima refeição. Não
se importam tanto, pelo menos de imediato, com o fato de serem sem-teto: sua preocupação
maior é a de não serem sem-comida.
Alguns, que têm maior sucesso, ingressam no mundo da cata de materiais recicláveis do lixo
de Brasília, que é muito rico. Atuam como extrativistas, da mesma forma que os garimpeiros.
Extraem papel, plástico, vidros e metais, que são vendidos no circuito formal da economia da
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
cidade, por intermédio de atravessadores, em processo similar ao que conheciam no campo.
Esses extrativistas urbanos podem ser considerados os vitoriosos dentre os perambulantes.
Vários deles acabam se estabelecendo na cidade.
No entanto, há um grande grupo que nem sequer consegue se integrar na economia da
cata. São os sem-lixo: não têm ponto fixo de permanência e não dispõem de animal de tração.
São os que estão em Brasília, mas de passagem, na busca interminável da subsistência, de con-
dições básicas e essenciais como a próxima refeição. Eles continuam perambulando pelo país e,
muitas vezes, passam de novo pela Capital. São, sem dúvida, uma nova categoria de brasileiros,
que vem crescendo: os sem-destino e sem-futuro. Por sua volatilidade e desorganização, não
chegam a constituir um “problema político” e nem têm a visibilidade que têm os sem-terra.
11. A exclusão do lugar
No universo de representação de qualquer ator social, sua casa representa um útero, local onde
se sente como pertencente e acolhido. A casa – domus – é o local específico e identitário da
morada – oikos. A vida coletiva da oikos representa a esfera pública local – ágora. O espaço
da ágora permite que processos políticos se dêem: polis. Mas a ágora é uma arena local, que
não legitima ações que interfiram com territórios maiores que seu universo local. Participar da
ágora tem como condição a vinculação com o oikos, o que pressupõe um domus.
Analisando a diferenciação aristotélica entre oikos (o reino privado da morada) e polis
(o reino público da comunidade política), Arendt argumenta que assuntos de trabalho,
economia e coisas correlatas pertencem ao universo da morada e não da vida comu-
nitária. A emergência do trabalho necessário, a preocupação privada da oikos, esfera
pública (o que Arendt chama de “surgimento do social”) tem para ela o efeito de des-
truir a esfera política apropriada, subordinando o reino público da liberdade humana
à lógica da mera necessidade animal.6
O aparecimento de uma nova categoria de migrantes – os perambulantes – evidencia um
problema que é ainda maior: a exclusão do lugar.7 Na verdade, trata-se de um fenômeno que
não é recente, mas sua expressão atual é preocupante, em razão de fatores como:
6 ARENDT, Hannah: The Internet Encyclopedia of Philosophy. Disponível em http://www.iep.utm.edu/a/arendt.htm, acesso em 26/05/2006.
7 Buarque (2002) chamou-os de “instrangeiros”, estrangeiros em seu próprio país.
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• aumento quantitativo de seu contingente;
• reprodução das suas formas de expressão (de ocupantes de áreas urbanas ou rurais, em
condições precárias, como acampamentos em barracas de lona plástica, até as voláteis
populações de rua, passando pela população errante);
• ingovernabilidade e “inimputabilidade” efetiva às leis – na medida em que, sendo geral-
mente pessoas sem documentos, ou sem domicílio fixo,8 tornam-se de difícil regulação.
O poder público não sabe como proceder, por exemplo, numa grande cidade, diante de
uma situação em que uma carroça puxada por cavalo trafega numa rua, conduzida por
uma criança e transportando lixo. O fato reflete múltiplas transgressões: o código nacio-
nal de trânsito não permite animais nas ruas; o Estatuto da Criança e do Adolescente não
permite que criança trabalhe, sobretudo em atividades de risco, como é a cata de lixo.
Frente a uma situação como esta, a atitude tem sido de omissão, pois o guarda de trân-
sito não sabe como agir. A carroça não tem número de registro e não pode ser multada;
a criança não tem documento e por isso não fica caracterizada sua idade; não há como
rebocar uma carroça, como se faz com um carro. Também quando estão instalados em
algum local (geralmente logradouro público), os perambulantes, ao serem interpelados
pelas autoridades para que saiam dali, reagem deslocando-se para outro local, logo vol-
tando ao mesmo (final, se estão nas ruas, é porque não têm casa!);
• riscos de “estranhamento” com a população “situada” – por estarem situados no mesmo
espaço que as populações regularmente estabelecidas, os perambulantes convivem com
o mundo oficial, sobretudo quando transitam nas cidades. Os elos entre as duas cate-
gorias são tênues e tensos. Relações formais são praticamente inexistentes, podendo se
limitar a um constrangedor encontro nos cruzamentos e sinais de trânsito, uma doação
caridosa de moedas ou víveres ou no provimento (involuntário) do lixo, que para uns é
rejeito e para outros matéria-prima. Conflitos são freqüentes, variando de furtos a aci-
dentes provocados pelo trânsito de carroças pelas ruas.
Ao serem excluídos do lugar os indivíduos são projetados num processo que tem como ele-
mento definidor a perda de referência. É o contrário da utopia. Enquanto os migrantes saem
em busca de algum lugar utópico,9 os sem-lugar são vítimas da atopia.10 A atopia significa um
mundo indesejado situado no plano real.
8 A expressão aqui é uma tradução do termo francês (SDF – sans domicile fixe), que expressa a ocorrência de fenômeno seme-lhante também lá.
9 u-topia = nenhum lugar, um mundo ideal situado num plano imaginário, alegoria a um estado ideal (uma ilha para Morus, o fim do Estado para Lênin, o igualitarismo localizado para os socialistas utópicos).
10 a-topia = lugar sem definição, um não-lugar. Ver Bourdin (2001).
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
Na verdade, os excluídos do lugar representam um tipo-ideal weberiano. Sua condição é
um caso extremo, que se manifesta de forma radical no caso dos perambulantes. Mas há que
se considerar expressões menos definitivas. Assim, é possível que se encontre, dentre os tipos
identificados como excluídos do lugar, categorias que estão apenas provisoriamente nessa con-
dição: é o caso de grandes contingentes de populações que se estabelecem nas brechas das
cidades. São ocupantes de áreas de encostas e fundos de vale (vedadas ao uso pela legislação
ambiental), invasores de imóveis abandonados, ocupantes de terrenos públicos. Pelo seu grande
número e por sua condição, despertam a atenção de instituições não-governamentais e reli-
giosas, que visam ajudar-lhes. Mas também se tornam alvo de processos clientelistas, ao serem
“adotados” por políticos que trabalham pela legalização de sua condição ilegal, em troca de
dividendos eleitorais. Nesse caso, ocorre uma metamorfose no status dessas populações: pas-
sam da condição de almas penadas, sem existência formal, à de “stakeholders”, expressão do
jargão de planejamento que indica pertencimento como atores.
A situação dos que permanecem na condição de sem-lugar é bem mais precária: não são
stakeholders; não são sequer estatística;11 não são beneficiados pelos programas assistenciais
públicos, por não serem situados; não são objeto da regulação pública, por sua volatilidade.
Desfrutam apenas de inserções marginais, como a cata do lixo e o acesso ao serviço público de
saúde.
12. Impasse: como governar o que está fora do alcance dos instrumentos de governo?
No âmbito de uma reflexão geral sobre ordenamento do território e, mais especificamente,
diante do desafio de estabelecer uma política pública com essa finalidade, a consideração
da exclusão do território se revela oportuna. O fato de estarem à margem das possibilidades
de regulação pública operada pelos instrumentos tradicionais (zoneamentos, planos diretores,
implantação de logística etc.) traz à tona evidências como:
• Lugares sem Estado – no caso brasileiro, esse categoria está em franco crescimento.
Aumentam as áreas em que os governos não governam. As favelas, onde impera a lei
imposta por contraventores, são exemplos disso. Mas as áreas remotas da Amazônia,
11 Pela metodologia de recenseamento do IBGE, a contagem e o levantamento de dados sobre as populações obedecem ao critério de endereços. Os recenseadores têm planilhas com a localização daqueles que serão pesquisados. Como os perambulantes não têm endereço fixo, não são contados. Não se sabe, portanto, quantos são.
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
onde a ausência do Estado é efetivamente preenchida por formas privadas e nem sempre
lícitas de regulação (a lei do mais forte) são também casos notáveis a serem devidamente
enfrentados.
Há questões que não podem e não devem ser delegadas à lógica do domus. A gestão
do trânsito é uma delas. Dirigir não é um direito do cidadão, e sim uma permissão dada
pelo poder público, mediante condições e sujeito a restrições. Edificar também está con-
dicionado a autorização prévia e ao cumprimento de condições. Ocupar o território,
construindo espaços, não deve ser um processo que resulte de vontades individuais.
Analogamente, empreender ações que impliquem impacto ao meio ambiente requer
enquadramento em regulamentações. Pela lógica do domus, seria tragédia coletiva
(HARDIN, 1968). Pela lógica da ágora (esta entendida como um coletivo de membros
ativos de um mesmo lugar), há riscos de falta de legitimidade. A polis deve ser a instân-
cia de decisão legítima.
• Pessoas sem lugares – o caso das populações perambulantes é o maior exemplo, mas é
preciso também mencionar a categoria dos sem-terra, que se organiza em movimento
social e exerce pressão sobre o poder público no sentido de obter inserção no processo
de reforma agrária. São, nesse sentido, sem-lugar que resistem a essa condição.
• Pessoas em lugares errados, mas com “consentimento legitimador” – esse é um grupo
mais freqüente nas grandes cidades. Ocupam lugares irregularmente, mas são tolerados
e até mesmo incentivados por governantes, na medida em que constituem uma versão
moderna (e perversa) do velho coronelismo, ao se converterem em currais eleitorais.
As práticas de regulação pública vêm lidando a fim de cooptar os excluídos do lugar. Para
isso, convergem estratégias como:
• O conceito de stakeholder (que facilita a definição de arenas, onde o jogo de forças assi-
métricas pode ser reduzido a um campo de vetores com resultante idealmente do tipo
win-win).
• As formas top-down de participação, que são impostas bottom-up (com todas as maze-
las sobre as maiorias silenciosas em comunidades que acabam legitimando representan-
tes nem sempre representativos). Stakeholders são objeto de ações voltadas a processos
participativos, que visam dar legitimidade a decisões públicas. Num contexto sociocul-
tural marcado pela pouca expectativa em relação ao Estado, pela tutela política e pelo
clientelismo atávico, as possibilidades de cooptação de participantes da democracia par-
ticipativa são bem altas.
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
��
• A frágil ownership (que proclama adesões a idealizações nem sempre ideais para o
“público-alvo”).
Fica consignado, como conclusão, que o enfrentamento de tais mazelas carece de pelo
menos cinco imperativos relativos à importância do Estado:
• Chegar antes ao território, evitando a mal-estar de correr atrás de soluções para situ-
ações de facto que foram criadas no vácuo da regulação pública. Onde o Estado chega
atrasado, os conflitos se resolvem pela lei do mais forte, como no estado de natureza
pré-hobbesiano, em que prevalece a inexistência de contrato.12
• Agilidade e efetividade das regulações, rompendo com ciclo de morosidade e omissão
que caracteriza as ações do poder público.
• Accountability dos locutores, atribuindo responsabilização dos atores que agem em
nome do Estado.
• Sustentabilidade (durabilidade) dos mecanismos de regulação, pois sem mecanismos e
instituições sustentáveis, não se pode pensar em efetividade da função regulação.
• Qualquer perspectiva de ordenamento do território deve ter em conta a diversidade de
tempos civilizacionais (na cidade e no campo), para que sejam respeitadas as idiossincra-
sias de cada grupo social (como quilombolas, índios, caboclos, caiçaras).
12 Beck (2003) chama a atenção para os riscos da “governança sem governo”, um conceito difundido como inerente à “governança global”, que por sua vez é revestida de falta de legitimidade e que tende a ser um regime de controle sem legitimidade demo-crática.
100
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
ARENDT, H. A condição humana.10 ed. . Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
BARTHOLO, R. S. A crise do industrialismo – genealogia, riscos e oportunidades. In: BURSZTyN, M.; LEI-
TÃO, P.; CHAIN, A. Que crise é essa? São Paulo: Brasiliense, 1984.
BECK, U. Pouvoir et contre-pouvoir à l´ère de la mondialisation. Paris: Flammarion, 2003.
BECKER, B. K. (Coord.). Logística e ordenamento do território. Subsídio à elaboração da Política Nacional
de Ordenamento do Território – PNOT. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2006. Disponível em:
<http://www.integracao.gov.br>.
BOURDIN, A. A. A questão local. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
BUARQUE, C. Os instrangeiros – a aventura da opinião na fronteira dos séculos. Rio de Janeiro: Gara-
mond, 2002.
BURSZTyN, M. (Org.). Da utopia à exclusão – vivendo nas ruas em Brasília. Rio de Janeiro: Garamond,
2000.
BURSZTyN, M.; ARAUJO, C. H. No meio da rua – nômades, excluídos, viradores. Rio de Janeiro: Garamond,
1997.
CALHOUN, J. B. Population density and social pathology. Scientific American. Fev. 1962. p. 139-146.
D´INTIGNANO, B. M. La protection sociale. Paris: De Fallois, 1993.
ENGELS, F. El problema de la vivienda y las grandes ciudades. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
ENTRIKIN, N. J. Lieu 2.. EspacesTemps.net, 19 mar. 2003. Disponível em : <http://espacestemps.net/do-
cument411.html>.
FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais – contribuição teórica
para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Disponível em: <http://osal.clacso.org/espanol/
html/documentos/Fernandez.doc>. Acesso em: 20/5/2006.
HARDIN, G. The tragedy of the commons. Science, n. 162, p.1243-1248, 1968.
A exclusão e o local:tempos e espaços da diversidade social
101
HOBSBAWM, E. J. A era dos impérios – 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
LOBÃO, R. J. S. Cosmologias políticas do neocolonialismo: como uma política pública pode se transfor-
mar em uma política do ressentimento Tese (Doutorado em Antropologia) Brasília: UnB, 2006.
MALTHUS, T. (1798). An essay on the principle of population. Penguin Books, Middlessex, 1989.
POLANyI, K. A Grande transformação – as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
ROSANVALLON, P. La crise de l´etat providence. Paris: Du Seuil, 1981.
SANTOS. M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucutec, 1996.
SANTOS. M. Por uma geografaia nova. São Paulo: Hucutec, 1978.
SUSSSUNA, D. M. F. A. Uma pergunta que se faz a um recém-chegado: quem és - a intervenção do Pro-
jeto Tamar em comunidades de pescadores do litoral brasileiro - Tese (Doutorado em Sociologia) Brasília:
UnB, 2001.
ZAOUAL, H. Le site ou l’insaisissable proximité (2001) Disponível em: <http://www.developpement-local.
com/article.php3?id_article=159#invisible>. Acesso em: 28/5/2006.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
103
Carlos B. Vainer
Fragmentação e projeto nacional: desafios para o planejamento territorial
Não é a história, como se fosse uma pessoa, que se serve do homem
como meio para realizar fins que lhes são próprios: ela não é senão
a atividade do homem que persegue seus próprios fins.
(Karl Marx e Friedrich Engels, A Sagrada Família, 1845)
1. Introdução: da relevância da questão territorial1
A história recente do planejamento territorial no Brasil poderia ser narrada como uma tra-
jetória continuada, embora não linear, de desconstituição. Em primeiro lugar, desconsti-
tuição política, evidenciada no desaparecimento progressivo da questão regional da agenda
nacional. Se é verdade que o próprio processo de elaboração e confronto de perspectivas nacio-
nais abrangentes torna-se cada vez menos visível e audível, também é verdade que quando
esboços de uma agenda nacional ainda conseguem vir à tona, transcendendo a gestão quoti-
diana da economia, a questão regional e, de modo mais amplo, o território recebem pouca ou
nenhuma atenção.
Paralelamente, reflexo e fator deste processo, a desconstituição tem sido também opera-
cional – ou instrumental, se se prefere –, com a desmontagem dos aparatos institucionais que,
na segunda metade do século passado foram implantados pelo governo federal para conceber
e implementar políticas, planos e projetos cujo objetivo explicitamente enunciado era o orde-
namento territorial e a redução das desigualdades regionais.2 Esvaziados de função e sentido,
1 Uma primeira versão deste texto foi apresentada no Painel “Desigualdades regionais, urbanização e ordenamento territorial no brasil: desafios e perspectivas”, no Seminário Internacional “Políticas de desenvolvimento regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil”, promovido pelo Ministério da Integração Nacional, Brasília, 23-24/03/2006.
2 Esta desconstituição instrumental foi enfatizada também por Carlos Azzoni, no Painel “Planejamento Territorial na União Eu-ropéia: arranjo institucional, políticas, resultados e perspectivas com o alargamento” do Seminário Internacional “Políticas de desenvolvimento regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil”, promovido pelo Minis-tério da Integração Nacional, Brasília, 23-24/03/2006.
104
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
agências e órgãos regionais, onde sobreviveram, transformaram-se, via de regra, em nichos de
articulação de interesses paroquiais e de reprodução de elites quase sempre decadentes.3
Este processo de desconstituição lança raízes nas transformações econômicas, sociais, polí-
ticas e culturais que integraram o território nacional e o submeteram, em seu conjunto e
diversidade, às lógicas e dinâmicas da expansão de nosso capitalismo periférico e dependente
a partir dos anos 1960 e 1970.4 Desdobrou-se, em seguida, na longa e dramática crise dos anos
1980 e na transição que se lhe seguiu, comumente chamada de ajuste estrutural, caracterizada
pela adesão às diretrizes do Consenso de Washington. Hoje, a desconstituição parece atualizar-
se numa espécie de conformada aceitação da fragmentação territorial que consagra a acomoda-
ção subordinada às formas contemporâneas da globalização. A contrapartida, ou compensação
parece ser bastante magra: uma integração continental que, a cada momento, se mostra conde-
nada a levar adiante apenas e simplesmente a criação de espaços mercantis adequados às novas
escalas e dinâmicas espaciais dos capitais transnacionais presentes urbi et orbi.5
Apesar de tais fatores, talvez nunca como hoje o debate sobre o território tenha sido tão
decisivo para a tão necessária quanto urgente recomposição teórico-conceitual, política e cul-
tural que permitirá repensar uma nação que parece navegar à deriva, carente de agentes ou
coalizões políticas e sociais expressivas capazes de vocalizar qualquer projeto nacional digno
desse nome.
Todo texto é datado, ou melhor, situado espacial e temporalmente. Este texto não escapa à
regra: está situado num espaço-tempo e pretende interpelá-lo criticamente, condição primaz
de qualquer busca de alternativas que se pretenda algo mais que a simples repetição, intelec-
tual e politicamente preguiçosa, de que a única alternativa é a reprodução de uma realidade
que, ao contrário, se quere desafiar e transformar.
Quando o debate político se degrada e se assiste ao empobrecimento da esfera pública e
da esfera estatal como fóruns privilegiados do encontro e confronto de propostas, mais que
nunca se impõe colocar em pauta aqueles temas que, pela sua abrangência e complexidade,
ajudam a pensar perspectivas e projetos que busquem transcender a conjuntura imediata, as
3 Os escândalos que atingiram a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) ao fim do Governo Fernando Henrique Cardoso, e que se arrastam em processos intermináveis, apenas ilustram processos e práticas difusos nos braços esta-duais e locais da administração federal. Este tema será retomado mais adiante.
4 Ver, por exemplo: Guimarães (1989); Diniz (1995); Bacelar (2000); Oliveira (1977); e Vainer e Araújo (1992).5 A agenda da IIRSA (Iniciativa de Integração Sul-Americana) é típica, resumindo-se a uma carteira de megaempreendimentos de
infra-estutura que se limitam a alisar o espaço para a circulação do grande capital em suas várias formas. Por outro lado, são risíveis as peripécias de discussões e acordos Brasil–Argentina sobre o setor automotivo, em que os governos nacionais aparecem falando em nome de suas indústrias nacionais, comandadas lá como cá pelos mesmos gigantes da indústria automobilística mundial – Fiat, Volkswagen, General Motors etc. A recente crise em torno do contrato do gás Brasil–Bolívia, resultante da na-cionalização no país vizinho, deixou à sombra uma das principais personagens do drama, a transnacional, que, na verdade, falou pelo lado boliviano até sua falência.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
10�
próximas eleições, o humor do mercado financeiro e as últimas oscilações do risco Brasil, cuja
centralidade no debate da mídia amesquinha e emascula a cena política nacional. Ora, a ques-
tão territorial é uma dessas, mesmo porque fala da necessidade e possibilidade de manter a
perspectiva de um projeto nacional no mesmo momento em que forças poderosas põem em
dúvida a viabilidade e, inclusive, o sentido de perseverar em um horizonte que a globalização
contemporânea já teria condenado, por anacronismo, ao lixo da história.6
O contexto econômico, social e político, de um lado, e o campo intelectual, de outro lado,
sugerem que o desafio é reverter tendências, desfazer consensos, desmontar certezas e buscar
introduzir na análise dimensões e aspectos da realidade que normalmente são desconsiderados.
Assim, talvez seja possível arejar o debate e escapar às mesmices do que, na falta de outro
nome, poder-se-ia chamar de ajuste urbano e regional, mera adequação territorial às dinâ-
micas e fluxos dominantes. Eis tarefa mais fácil de enunciar que de realizar, que certamente
escapa às possibilidades de um texto, um trabalho, um autor, mesmo porque será necessaria-
mente obra coletiva. Os objetivos deste texto são, pois, mais modestos: apresentar um roteiro
que ajude a balizar o caminho – intelectual e político, analítico e propositivo – de um esforço
para abrir novos horizontes para as políticas territoriais, urbanas e regionais.
Nesse roteiro, que certamente está longe de ser exaustivo, busca-se contemplar sobre os
seguintes pontos: vetores da fragmentação territorial; bases teórico-conceituais da fragmen-
tação; bases sociais, econômicas e políticas da fragmentação; contra-tendências e as possibili-
dades de reversão das tendências dominantes.
2. Vetores da fragmentação territorial
O debate teórico-conceitual tem apontado, em processos históricos concretos em formações
sociais específicas, a presença de determinações de diversas ordens, operando em oposições e
dualidades que estão longe de ser meros jogos de palavras: estrutura e conjuntura, estrutura
e superestrutura, objetividade e subjetividade, estrutura e agência, entre outras. Em debate,
quase sempre, os níveis de liberdade que agentes históricos têm diante de dinâmicas sociais que
se lhes antepõem com a força de uma objetividade estruturada e que, por isso mesmo, seriam
6 Vale a pena lembrar que, embora esgrimindo razões e projetos distintos, exorcismos da dimensão nacional são praticados tanto no campo dito considerado de esquerda (HARDT e NEGRI, 2001; CASTELLS, 2001), quanto por arautos celebrados do mercado global (ver, por exemplo, OHMAE, 1966)
10�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
antecedentes e independentes de sua ação. Uma solução que aqui parece adequada, proposta
por Marx já há tempo, reside na famosa frase: o homem faz a história em condições que lhes
são dadas.
Como as condições que estão dadas são permanentemente lembradas pelos que convidam
à acomodação a elas, quando não a reiterá-las e reforçá-las, esta sessão sobre vetores de frag-
mentação territorial concentrará sua atenção em práticas e dinâmicas que, em tudo e por tudo,
são resultado de processos decisórios e, destarte, passíveis de reversão, ou pelo menos profun-
das alterações, em razão de decisões e projetos políticos. Em outros termos, o que se pretende é
mostrar que, pelo menos em parte, são decisões políticas e não tendências objetivas inexoráveis
e inescapáveis que produzem e reproduzem a fragmentação.
2.1 Grandes projetos de investimento
Desde a metade do século passado, mas sobretudo a partir de seu último quartel, grandes
projetos mínero-metalúrgicos, petroquímicos, energéticos e viários reconfiguraram o território
nacional. Enquanto as agências de planejamento do desenvolvimento regional (Sudene, Sudam,
Sudeco) se debruçavam sobre planos nunca concretizados e distribuíam incentivos fiscais entre
grupos dominantes locais e nacionais, o território ia sendo tecido pelas decisões tomadas em
grandes agências setoriais. Não eram os planejadores regionais que planejavam a região, mas
os planejadores e tomadores de decisão em cada um dos macro-setores de infra-estrutura: no
setor elétrico, a Eletrobrás e suas coligadas (Chefs, Eletronorte, Furnas, Eletrosul, Light), bem
como algumas grandes empresas estaduais (Eletropaulo, Copel); no setor mínero-metalúrgico,
a Companhia Vale do Rio Doce, as grandes companhias siderúrgicas estatais; no setor petroquí-
mico, a Petrobras. Já nos anos 1950, Brasília e a rodovia Belém–Brasília, assim como mais tarde
a Transamazônica e outras intervenções viárias, redesenhavam o território regional, trazendo à
vida novas regiões e novas regionalizações.
Desconcentrando a seu modo a produção industrial, estes Grandes Projetos de Investimento
(GPIs) foram decisivos para produzir uma forma muito particular de integração nacional, ao
gerarem nexos entre o núcleo urbano-industrial do Sudeste e o resto do país.7 Ao mesmo tempo,
e como já foi largamente demonstrado na literatura, em muitos casos estes GPIs conformaram
verdadeiros enclaves territoriais – econômicos, sociais, políticos, culturais e, por que não dizer,
ecológicos, introduzindo um importante fator de fragmentação territorial (VAINER, 1992).
7 Para uma discussão sobre o efeito desconcentrador destes grandes projetos e algumas de suas conseqüências, ver, por exemplo, Torres (1993).
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
10�
Em seu favor poder-se-ia argumentar que alguns GPIs exploravam complementaridades
inter-regionais, transformando parcelas do território nacional em fornecedoras de insumos de
vários tipos para a indústria do Sudeste e favorecendo, desta forma, uma integração econô-
mico-industrial antes inexistente. Mas não se deve esquecer que, já nos anos 1970 e início dos
1980, surgiram enclaves mínero-metalúrgicos-energéticos – o mais exemplar é o complexo
Carajás-Tucuruí-ferrovia-indústria do alumínio-porto –, quase inteiramente voltados para a
exportação, prenunciando processos que viriam a se aprofundar anos depois.8
Constata-se, pois, que à época, os GPIs conformavam, ou pelo menos contribuíam forte-
mente para conformar, um espaço nacional integrado – profundamente desigual, mas inte-
grado.
Os grandes projetos voltam à tona nos últimos anos, de que são exemplares mega-empre-
endimentos hídricos – transposição das águas da bacia do São Francisco, hidrelétricas de Belo
Monte e Madeira. Há, porém, uma decisiva mudança do que se passa hoje em relação ao que
aconteceu nos anos 1970: agora, grande parte da empresas e de seus empreendimentos ter-
ritoriais não mais está sob controle do Estado brasileiro. A privatização do Setor Elétrico, da
CVRD, da CSN, da rede ferroviária etc, ao lado da ausência ou fragilidade do planejamento em
uma série de setores estratégicos, tem como conseqüência o império de opções e decisões de
empresas privadas, estas sim tornadas soberanas. A privatização dos setores responsáveis pela
infra-estrutura acabou tendo como corolário a privatização dos processos de planejamento e
controle territorial que são intrínsecos aos grandes projetos.
Em outras palavras: os grandes projetos continuam portadores de um grande potencial
de organização e transformação dos espaços, um grande potencial para decompor e compor
regiões. Por sua própria natureza, projetam sobre os espaços locais e regionais interesses quase
sempre globais, o que faz deles eventos que são globais-locais – ou, para usar a feliz expressão
cunhada por Swyngedouw (1997), glocalizados.
Interessante, nesta rápida reflexão sobre os GPIs, lembrar a natureza dos processos decisórios
que lhes dão origem. Ora, estes quase sempre se fazem nos corredores e gabinetes, à margem
de qualquer exercício de planejamento compreensivo e distante de qualquer debate público.
Antes de estruturar territórios e enclaves, o grande projeto estrutura e se estrutura através por
meio de grupos de interesses e lobbies, coalizões políticas que expressam, quase sem media-
ções, articulações econômico-financeiras e políticas. O local, o regional, o nacional e o global
8 O caráter de enclave da Hidrelétrica de Tucuruí e sua insulação em relação ao espaço regional se evidencia no fato de que, ainda recentemente, vilas e pequenos aglomerados que se encolhem sob os linhões de transmissão ainda não estavam ligados à rede de energia elétrica e contavam com uma precária eletricidade gerada intermitentemente graças à queima de óleo diesel trazido de milhares de quilômetros de distância.
10�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
se entrelaçam e convergem, na constituição de consórcios empresariais e coalizões políticas.
Projeto industrial, controle territorial, empreendimento econômico e empreendimento político
se misturam nos meandros dos financiamentos públicos, das dotações orçamentárias, das tro-
cas de favores e, como vem à tona uma vez que outra, da corrupção institucional e individual.
O cacique local se dá ares de importância quando entra em contato com o dirigente de um
grande grupo econômico internacional e negocia praças e igrejas, ao mesmo tempo em que
pressiona seus deputados a pressionarem instâncias subnacionais e nacionais para a conces-
são de licenças e favores. O exame da economia política de cada grande projeto permitiria
identificar de que forma atores políticos e empresas nacionais e internacionais se associam e
mobilizam elites locais e regionais, para exercer o controle do território, constituindo uma nova
geografia física, econômica e política que decompõe o território nacional em novos fragmentos
glocalizados.
O que se pretende sugerir, após essas rápidas notas, é que os GPIs são uma forma de orga-
nização territorial que a tudo se sobrepõe, fragmentando o território e instaurando circuns-
crições e distritos que, no limite, configuram verdadeiros enclaves. Por esta razão é possível
afirmar que estes constituem, quase sempre, importantes vetores do processo de fragmentação
do território. Acresça-se que hoje seu potencial estruturador reafirma a privatização de nossos
recursos territoriais e reforça tendências ao enclave e à fragmentação.
2.2 Guerra dos lugares
Se os grandes projetos, como modo de apropriação e organização territorial, nos vêm dos anos
1960 e 1970, a disputa entre municípios e estados para atrair capitais é fato mais recente entre
nós, passando a assumir relevância na última década do século passado. A guerra fiscal expressa,
de um lado, o vácuo de políticas territoriais na escala federal, e, de outro lado, a emergência
de novas formas de articulação entre capitais e forças políticas que favorecem uma redefinição
das relações entre as escalas subnacionais (municipal, estadual, regional), nacional e global.
Com efeito, falta um pacto territorial democraticamente estabelecido que reconheça a
autonomia de estados e municípios, mas, também, ao mesmo tempo, sua necessária solidarie-
dade e complementaridade. Esta situação propicia a eclosão de uma guerra de todos contra
todos da qual saem vencedoras, como se sabe, as empresas privadas que promovem verdadeiros
leilões a ver quem oferece mais vantagens – fiscais, fundiárias, legais etc.
O Estado Nacional parece ter abdicado de suas responsabilidade de mediar e liderar práticas
de cooperação federativa. Em suas relações com as instâncias subnacionais, o governo federal
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
10�
hoje praticamente se limita a exercer pressão para impor-lhes a responsabilidade fiscal, leia-se
a solidariedade forçada ao arrocho fiscal – em perfeita consonância com as orientações do FMI,
que sempre se preocupou em assegurar de que o esforço fiscal não ficaria restrito à União e
atingiria igualmente estados e municípios. Assim, apesar de receberem atribuições crescentes,
as instâncias subnacionais foram conduzidas a aceitar uma renegociação de suas dívidas com
a União que comprometeu grande parte de suas parcas receitas.
Ademais, foram vítimas de um verdadeiro golpe fiscal, com a criação de contribuições e
taxas que, escapando ao conceito de receita tributária, não são obrigatoriamente redistribuídas
conforme as regras federativas e vinculações constitucionais. Em conseqüência, a redistribuição
de recursos em favor dos estados e municípios que havia sido assegurada pela Constituição de
1988 acabou sendo driblada por expedientes que promoveram nova e crescente concentração
de recursos nas mãos da União.
Neste contexto de uma federação que, ela também, se desconstitui, estados e municípios
reiteram a inviabilidade de qualquer pacto federativo e tributário, lançando-se a uma fuga
para frente que não lhes oferece senão saídas ilusórias. Governantes de estados e cidades,
magicamente transmutadas em empresas pela retórica dos consultores, agem como se ope-
rassem num mercado livre e concorrencial de localizações. E, destarte, a guerra dos lugares
contribui de maneira decisiva para multiplicar as rupturas sócio-territoriais e aprofundar a
fragmentação do território.
Desenvolvimento local, empreendedorismo territorial, atração de capitais, marketing urbano
se transformam nos principais instrumentos de um planejamento estratégico que não faz
senão preparar a submissão da nação fragmentada a uma globalização que se projeta sobre os
lugares. Com o apoio de consultores internacionais ou de agências multilaterais que elaboram
e difundem a retórica do planejamento competitivo e das estratégias territoriais empreende-
doristas, o neolocalismo competitivo, espécie de “paroquialismo mundializado”, constitui ele
também vetor da fragmentação
2.3 O velho regionalismo
Se o neolocalismo competitivo e empreendedorista tem ares pós-modernos e data dos anos
1990, há que referir a permanência do velho regionalismo no cenário político brasileiro e em
suas projeções territoriais. Em estudo clássico, Vitor Nunes Leal chamava a atenção para o fato de
que, longe de ser simples sobrevivência ou resquício do passado, o coronelismo constituía forma
híbrida de articulação entre forças tradicionais decadentes e a democracia eleitoral moderna.
110
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
(...) concebemos o “coronelismo” como resultado da superposição de formas desenvol-
vidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada”. Não é,
pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico
de nossa história colonial. É antes uma adaptação em virtude da qual os resíduos de
nosso antigo e exorbitante poder privado tem conseguido coexistir com um regime
político de extensa base representativa.
Por isso mesmo, o “ coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos
entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência socials
dos chefes locais, notadamente dos senhores de terra (LEAL, 1975).
Em outros termos, o coronelismo era expressão, de um lado, de oligarquias decadentes que
buscavam (re)negociar as condições de sua reprodução; e, de outro lado, de grupos hegemô-
nicos em escala nacional que necessitavam ancorar eleitoralmente esta hegemonia sobre o
conjunto do território nacional.
Ora, o coronelismo em suas múltiplas formas e escalas, estruturou parte expressiva do estado
brasileiro, organizou formas de exercício da hegemonia em nível nacional e assegurou a repro-
dução do regime oligárquico e das chefias políticas de tipo tradicional nas escalas subnacionais.
Se o processo de urbanização e industrialização certamente reduziu em muito a força política
e econômica dos velhos coronéis, as oligarquias de tipo tradicional ainda detêm, é bom lem-
brar, expressivo controle de máquinas eleitorais locais e regionais, alcançando via de regra uma
força político-parlamentar desproporcionalmente grande, quando comparada a sua expressão
econômica e social. De outro lado, o modelo de relação patronagem-clientela que fundava, em
certa medida, a relação coronel–governo central analisada por Leal, permanece como um dos
eixos estruturantes do Estado brasileiro.
Os dois regimes ditatoriais que dominaram a vida política e, em certa medida, impuseram
suas marcas ao processo de modernização da vida brasileira – Vargas, de 1930 a 1945, e regime
militar de 1964 a 1985 – foram fortemente centralizadores e, de maneira mais ou menos explí-
cita, apontaram as oligarquias locais regionais como adversárias. De 1930 a 1945, estas foram
diretamente interpeladas e desafiadas pelo governo central, denunciadas pela retórica e pelos
teóricos do regime9 como fator de atraso e ameaça à construção nacional. Trinta anos mais
tarde, a ditadura militar brandia a bandeira da integração nacional como elemento central de
uma estratégia que prometia superar as barreiras e os limites impostos pelo regionalismo.10
Tanto num período como noutro o governo federal absorveu, embora de maneira diferenciada,
9 Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Lourival Fontes, Francisco Campos, Cassiano Ricardo, entre outros.10 “A Política de Integração Regional (...) repele a limitação regional, a curto e médio prazos, do processo econômico brasileiro”
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1971).
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
111
o controle dos processos de indicação dos governadores. Estados e municípios foram postos de
joelhos diante de um poder central que concentrava todos os recursos e todas as competências.
Durante a Ditadura Militar, organismos regionais centralizados receberam o encargo de ordenar
o território por cima das autoridades estaduais.
Certamente, tanto durante o Estado Novo quanto sob o regime militar, muitas vezes a inter-
venção do poder central acabou reentronizando velhos grupos ou engendrando novas oligar-
quias.11 Mas o fato é que, em quaisquer circunstâncias, poderosos eram os instrumentos para
aquietar insatisfações e atender interesses localizados enquanto, simultaneamente, o governo
federal exercia o poder de maneira soberana, incontestável e, às vezes, brutal.
É com o processo de redemocratização, em 1945 e em 1985 que as relações entre poder
central e grupos dominantes com projeção local e/ou regional, seriam redefinidas. Referindo-se
à democratização que se seguiu à queda do Estado Novo, Leal observa que o fim da ditadura
viera aumentar o poder de barganha de grupos dominantes locais. O mesmo processo parece
ter-se reproduzido após a Constituição de 1988, embora em contexto histórico diferente e com
personagens quase sempre renovadas. Com efeito, a democracia eleitoral impõe novos modos
de articulação da hegemonia e das relações entre grupos dominantes em nível nacional e nos
níveis subnacionais.
Não foram, porém, apenas os regimes autoritários que se propuseram a eliminar as bases
políticas e institucionais das oligarquias regionais e suas formas “atrasadas” de exercício do
poder e uso do aparelho estatal. Também as ideologias desenvolvimentistas, em seus inúmeros
matizes, prometeram que a industrialização e urbanização conduziriam, enfim, à modernização
da sociedade e do estado brasileiros. Apenas para citar um exemplo, vale lembrar que o Grupo
de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, em seu famoso relatório, propugnava uma
plataforma desenvolvimentista e industrialista que enunciava claramente a necessidade da
modernização também das elites dirigentes:
11 “Assim como a interrupção do jogo político representativo, o processo de centralização visava, segundo seus promotores, a obter um aumento da eficiência e racionalidade do Estado, e eliminar a influência de grupos privados, como as oligarquias regionais, sobre os processos decisórios nacionais. O que se pretendia era impedir que interesses particulares, locais, pudessem se sobrepor aos nacionais.
De fato, o sistema de interventorias contribuiu, juntamente com uma série de outras medidas, para neutralizar o poder dos grupos locais que até então controlavam os governos estaduais com base no sistema de representação tradicional. (...) Ainda assim, os grupos locais continuaram bastante poderosos.
Os interventores muitas vezes eram originários, eles mesmos, das oligarquias regionais – lembre-se que o próprio presidente Vargas pertencia à oligarquia gaúcha. Quando isso não acontecia, procuravam construir vínculos estreitos com elas, utilizando os recursos de que dispunham de forma clientelística. A nomeação para cargos nos departamentos administrativos era um modo de favorecer antigos grupos dominantes ou promover a ascensão de novos. Por essa via, vários interventores puderam criar bases de apoio nos estados, afirmando-se como grandes lideranças. Seriam eles que iriam controlar localmente a princi-pal máquina partidária que entraria em ação após a queda do Estado Novo: a do Partido Social Democrático (PSD)” (CPDOC, 1996).
112
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
“Durante muitos anos o esfôrço da industrialização terá como objetivo reduzir o desem-
prêgo disfarçado nas zonas urbanas, além de intensificar o processo de formação de nova
classe dirigente na região, até o presente orientada quase exclusivamente por homens liga-
dos a uma agricultura tradicionalista e alheios à ideologia do desenvolvimento” (GTDN, 1959
– grifo nosso).
Transcende o escopo deste trabalho o exame das origens e razões da longevidade dos padrões
clientelísticos que perseveram nos processos de constituição e legitimação das representações
políticas em grande parte do espaço nacional, inclusive em grandes cidades. O fato que se
impõe reconhecer é que as redes de patronagem/clientela que tecem boa parte do Estado
brasileiro estabelecem formas de defesa e negociação de interesses segmentados totalmente
estranhos e alheios a políticas e projetos nacionais. A incapacidade continuada dos partidos
políticos brasileiros de se constituírem em verdadeiros partidos nacionais é apenas uma das
conseqüências, e não a menos grave, destes processos.12 É também, sem dúvida, um importante
fator de sua reprodução.
O processo de fragmentação clientelística, em que cargos e recursos públicos são mercade-
jados nas trocas de votos e apoios cruzados entre forças e coalizões políticas nacionais e sub-
nacionais, apontam para algo muito mais profundo e grave que a crise ética do homem público
brasileiro, como repete retórica quase sempre vazia das mesmas personagens que encenam o
drama. Na verdade, está-se diante de novas e reiteradas manifestações da forma por meio da
qual se estrutura, reproduz e exerce a dominação política no país e, para ser mais concreto, a
forma como funciona o aparato estatal brasileiro, em seus múltiplos níveis e instâncias.
Este padrão de constituição de interesses territorializados tem importante conseqüência na
escala nacional, na medida em que reproduz e reforça formas pretéritas de articulação entre
escalas: local, estadual e nacional. O Congresso Nacional se transforma numa Câmara Federal
de Vereadores. Abstraídos os atos reiterados de corrupção individual ou de quadrilhas, não se
vislumbra hoje qualquer possibilidade de incluir na agenda de nosso Congresso, tal como está
fadado a se constituir a cada eleição, o debate acerca de projetos nacionais, de formas de equa-
cionar e combater os riscos de fragmentação da Nação e do território.
Assim, regionalismo e clientelismo tradicionais, longe de serem meros fantasmas de um
passado que teima em assombrar nossa sociedade e nosso Estado, por paradoxal que pareça,
se reatualizam e enrijecem a partir do momento em que a democratização reforça o papel das
12 O processo que conduziu o PT de partido alternativo a partido de poder ilustra a força e o caráter estruturante dessas lógicas e práticas. Em menor medida, o mesmo poderia ser dito do PSDB, surgido ele também, pelo menos para alguns de seus fundadores, de uma vontade de oferecer uma alternativa pós-ditadura que fosse democrática, republicana e moderna.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
113
eleições e, em conseqüência, daqueles chefes e grupos políticos locais ou estaduais que conse-
guem montar máquinas eleitorais eficazes. Evidentemente, o problema não está nas eleições e,
menos ainda, na democracia; ao contrário, está, pelo menos em parte, no déficit de democracia
que consagra um Estado que permanece fora do alcance de controles sociais efetivos. Apro-
priado, patrimonialística ou tecnocraticamente, por elites – tradicionais, modernizantes, não
raras vezes híbridas – o fato é que esta forma de Estado Nacional, contraditoriamente, contri-
bui ela também para a fragmentação política, econômica e, certamente, territorial da Nação.
O paradoxo ganha tons verdadeiramente dramáticos quando se evidencia que os três últi-
mos mandatos presidenciais foram exercidos por duas lideranças político-partidárias surgidas
no ocaso da ditadura, enraizadas política e culturalmente no Estado de São Paulo e expressão
do que ali haveria de mais moderno – a classe trabalhadora do espaço industrial-metropolitano
(PT) e as elites burguesas esclarecidas (PSDB). Vocacionadas e originalmente comprometidas
com a modernização do Estado e da democracia brasileiros, essas lideranças, assim como as
forças políticas e sociais que as constituíram, acabaram, cada uma a seu modo, engajadas
em alianças que reafirmaram a força política das redes de patronagem-clientela, reforçaram
oligarquias de tipo tradicional, colocando no centro do processo político atores que aparecem
como anões – sem jogo de palavras – com relação à tarefa gigantesca de construir um projeto
nacional nos marcos da formas contemporâneas da globalização.
Grandes projetos, neolocalismo competitivo e empreendedorista, velhos regionalismos e
localismos, eis três poderosos vetores que apontam e operam na direção da fragmentação.
Some-se o fato de que, muitas vezes, coalizões articulam e associam estas tendências e seus
agentes, aumentando seu potencial de “disrupção”. É o que acontece, por exemplo, quando
empresas operando em escala transnacional se associam a grupos tradicionais para constituir
as bases de sustentação e pressão em favor de um determinado projeto. É o que acontece,
também, quando grupos tradicionais passam por processos de renovação e/ou composição com
segmentos renovadores, gerando coalizões híbridas em que se combinam as práticas dos velhos
caciques com a agressividade competitiva dos empreendedores. Estudos aprofundados dessas
formas de coalizão e constituição de alianças e convergências trans-escalares muito ajudariam
a leitura e elucidação de processos decisórios que se passam nas entranhas do poder federal.
114
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
3. As bases teórico-conceituais da fragmentação
3.1 Políticas territoriais “fora do lugar”
Certamente que as forças sociais que sustentam cada uma das práticas e dinâmicas até aqui
alinhadas não operam num espaço puramente eleitoral, nem se manifestam apenas por meio
de porta-vozes políticos. A cada momento histórico, ou em cada conjuntura espaço-temporal
específica, estas forças contam com o apoio de acadêmicos e experts que sustentam a coerên-
cia, pertinência e consistência históricas e teórico-conceituais, assim como metodológicas, de
seus modos particulares de intervenção territorial. Embora não sejam diretas e imediatas as
relações entre produção de modelos de desenvolvimento urbano-regional, metodologias de
planejamento e práticas sociais, há um laço que articula estas distintas instâncias da experiên-
cia social. Em termos mais simples, é possível dizer que práticas e teorias de organização terri-
torial, ou, se se prefere, de estruturação e transformação territoriais, dialogam e interagem.
Antes de iniciar uma meteórica incursão a alguns modelos e teorias do desenvolvimento
e do planejamento em que se escoram políticas e planos, cabe lembrar o caráter periférico e
dependente do país também no que diz respeito à produção intelectual e artística. Afinal de
contas, como trouxe à luz Roberto Schwarcz (SCHWARZ, 1981), este é o país da idéias fora do
lugar. Com efeito, a colonialidade do saber,13 ou, se se prefere, o imperialismo cultural (BOUR-
DIEU e WACQUANT, 2002) constituem chaves para entender as categorias conceituais-analíti-
cas e operativas com que as elites – acadêmicas e técnicas, assim como políticas e econômicas
– constroem representações hegemônicas da nossa realidade. Embora focalizando sobretudo
os processos de difusão/imposição das categorias de classificação racial, Bourdieu e Wacquant
chamaram atenção para o papel que desempenham universidades e organizações internacio-
nais, acadêmicos e experts, na produção e difusão de um certo senso comum global:
O imperialismo cultural repousa no poder de universalizar os particularismos associados a
uma tradição histórica singular, tornando-os irreconhecíveis como tais. Assim, do mesmo modo
que, no século XIX, um certo número de questões ditas filosóficas debatidas como universais,
em toda a Europa e para além dela, tinham sua origem (...) nas particularidades (e nos conflitos)
13 “O mundo moderno de um modo geral, mas notadamente o Novo Mundo, é aquele fundamentalmente marcado pela experiên-cia colonial. As categorias sociais operantes que se desenham contra o fundo da globalização ao definirem as hierarquias globais são categorias coloniais como negro, índio, branco, crioulo, mestiço. A essa presença da ordem simbólica colonial engendrando a máquina das hierarquias culturais políticas e econômicas modernas, Anibal Quijano chamou de “Colonialidad del poder””.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
11�
históricas próprias do universo singular dos professores universitários alemães (Ringer, 1969),
assim também, hoje em dia, numerosos tópicos oriundos diretamente de confrontos intelec-
tuais associados à particularidade social da sociedade e das universidades americanas impuse-
ram-se, sob formas aparentemente desistoricizadas, ao planeta inteiro. Esses lugares-comuns
no sentido aristotélico de noções ou de teses com as quais se argumenta, mas sobre as quais
não se argumenta ou, por outras palavras, esses pressupostos da discussão que permanecem
indiscutidos, devem uma parte de sua força de convicção ao fato de que, circulando de coló-
quios universitários para livros de sucesso, de revistas semi-eruditas para relatórios de espe-
cialistas, de balanços de comissões para capas de magazines, estão presentes por toda parte
ao mesmo tempo, de Berlim a Tóquio e de Milão ao México, e são sustentados e intermediados
de uma forma poderosa por esses espaços pretensamente neutros como são os organismos
internacionais (tais como a OCDE ou a Comissão Européia) e os centros de estudos e asses-
soria para políticas públicas (tal como o Adam Smith Institute e a Fondation Saint-Simon)”
(BOURDIEU e WACQUANT, 2002– grifo nosso).
O campo da concepções, conceitos, metodologias e práticas do desenvolvimento e do pla-
nejamento, e do planejamento do desenvolvimento regional/territorial em particular, apenas
confirma a vigência do imperialismo cultural. Com efeito, com raras exceções, de que o caso
da Cepal constitui, sem dúvida alguma, um exemplo de primeira ordem (BIELCHOWSKy, 2000),
temos sido, na academia assim como agências governamentais, tributários das modas e mode-
los que, em ciclos, são produzidos e difundidos pelos países centrais, por intermédio de suas
universidades, agências de cooperação nacionais e multilaterais (notadamente o Banco Mun-
dial) e consultores internacionais.
Um olhar, mesmo de relance, para a trajetória do planejamento territorial brasileiro – e o
mesmo valeria certamente para a América Latina – é sugestivo da lista de modelos que, gera-
dos em países centrais, foram simplesmente copiados ou influenciaram decisivamente concep-
ções e políticas regionais na região. No imediato pós-guerra, sob o impulso da experiência do
Tennessee Valley Authority, nasceu a Comissão do Vale do São Francisco.14 Já no fim dos anos
1950, a elaboração do projeto de desenvolvimento industrialista para o Nordeste que estará
na origem da Sudene, levada a cabo sob a coordenação de Celso Furtado (GTDN, 1959) embora
14 Primeira experiência de intervenção planejada de um estado capitalista para o desenvolvimento de uma região deprimida, criada em 1933, a TVA “transformou-se em um símbolo do ‘New Deal’ e representou não apenas a orientação do investimento público para a área deprimida da bacia do rio Tennessee, mas também um esforço de coordenação das diversas agências de governo em torno de metas comuns em uma região bem delimitada” (EGLER, 1993). A Comissão do Vale do São Francisco nasceu em 1948, conforme artigo 29 das Disposições Gerais da Constituição de 1946, que destinava 1% da renda tributária da União para a execução de um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas da bacia hidrográfica. Sobre a influência do modelo TVA na concepção da CVSF, primeira experiência consciente e sistemática de intervenção territorial em larga escala, ver, por exemplo, Lopes (1991) e Lacorte (1994).
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
fortemente calcada no ideário cepalino, também se apoiou, como observou Carvalho (1979),
no modelo da Cassa per il Mezzogiorno italiana, nascida em 1950. Mais recentemente, como se
verá a seguir, duas grandes teorias e propostas arribaram a estas terras.
3.2 GPIs e a teoria dos pólos de crescimento
Nos anos 1970, os trabalhos de François Perroux vão conferir direito de cidadania teórica ao
conceito de pólo de crescimento ou desenvolvimento. Em sua crítica aos modelos neoclássicos
de equilíbrio espacial, Perroux (1955)15 mostrava que a heterogeneidade e o desequilíbrio, e não
a homogeneidade e o equilíbrio, constituiriam as formas por meio das quais o crescimento se
manifestaria no espaço econômico. Se a obra de referência teórica de Perroux se referia a um
espaço econômico abstratamente concebido, que não deveria ser confundido com o que cha-
mava de espaço geonômico ou banal, o fato é que suas noções e conceitos foram apropriados
– vulgarizados, sugere Egler (1993) – e traduzidas em termos de uma teoria da dinâmica ter-
ritorial propriamente dita. Na esteira de Perroux, Boudeville (1973) e outros vão opor a noção
de região polarizada à de região homogênea, herdada da geografia humana. Estava elaborado
o fundamento teórico que autorizaria abandonar progressivamente as antigas macro-regiões
que eram o espaço no qual estavam enraizados teórica e historicamente os modelos de plane-
jamento regional do tipo Sudene. O passo seguinte era mais ou menos inevitável: de descritiva,
a teoria do crescimento espacialmente desequilibrado por meio de pólos de crescimento se
tornaria prescritiva, dando origem a políticas e estratégias de polarização.
O abandono das velhas regiões homogêneas também se justificava teoricamente pelas aná-
lises conduzidas por Perroux sobre as relações entre Estado, grande empresa e território. Egler
destaca a relevância da teoria perrouxiana de economia dominante, que, em confronto direto
com o mundo abstrato da concorrência perfeita, enfatizava o papel das grandes empresas e de
sua capacidade para gerar “zonas ativas”, portadoras de uma “dinâmica da desigualdade”, “que
produz resultados semelhantes às inovações schumpeterianas, no que diz respeito ao rompi-
mento do “circuito estacionário” da economia e de promoção do desenvolvimento”. Caberia,
então, “ao Estado buscar plasmar, através de ‘pólos de crescimento’ situados no interior do
espaço econômico nacional, as forças motrizes que atuam na economia internacional” (EGLER,
1993). Assim, a “questão regional passa (...) a ser um aspecto subordinado da questão nacional”,
15 Mais ou menos à mesma época, foi também de grande relevância o trabalho de Myrdal (1960), segundo o qual um efeito de causação circular levaria ao agravamento das disparidades regionais, não havendo razões para esperar, como propunham os pensadores neoclássicos, que estas desaparecessem graças ao funcionamento do mercado e à circulação de fatores num espaço livre de barreiras.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
11�
oferecendo aquelas teorias “um excelente argumento para a utilização do território nacional
como instrumento de afirmação do Estado” (EGLER, 1993).
Ora, não há como não reconhecer o eco dessas teorias na convocação lançada pelo Programa
de Integração Nacional de 1970 para romper os limites regionais da Amazônia e Nordeste, que
oferecem “um quadro de soluções limitadas” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1970).
Não se encontra nas proposições atuais de GPIs a invocação das teorias do desenvolvimento
polarizado, caídas em desgraça sobretudo por sua forte vocação estatista. Na verdade, seria
difícil identificar uma teoria, merecedora dessa qualificação, na justificativa desses projetos;
ali onde comparece alguma retórica mais elaborada, quando muito se fala de redes logísticas
– quando se trata de portos e investimentos viários – ou de nichos competitivos a ser explo-
rados – baixo custo da energia, a justificarem os projetos energético-mínero-metalúrgicos, e
baixo custo da terra para projetos agro-florestais.16 A teoria dos nichos competitivos leva dire-
tamente ao campo das teorias que subjazem às propostas de competitividade territorial e ao
neolocalismo empreendedorista.
3.3 A teoria das vantagens competitivas no território
Se há um pensador cuja trajetória intelectual nos últimos trinta anos pode ser tomada como
testemunha capaz de narrar as transformações por que passou o campo do planejamento
urbano e regional, este é Manuel Castells. Nos anos 1970, assumiu e foi celebrado como o mais
refinado e representativo de quantos fizeram a aplicação do estruturalismo marxista francês ao
território e, mais particularmente, à cidade. Nesta condição, foi porta-voz de uma radicalidade
que rejeitava até mesmo a pertinência, menos ainda a relevância, de uma sociologia ou uma
questão urbanas, denunciadas como véus ideológicos que escondiam e tornavam ininteligível
a cidade, locus das relações contraditórias (e conflituosas) de reprodução da força de trabalho
(CASTELLS, 2000).
Ora, é este mesmo pensador que no início dos anos 1990, num texto emblemático, se per-
guntava: “O mundo mudou: pode o planejamento mudar?” (CASTELLS, 1990). Nesta palestra,
proferida na Conferência Anual da Association of Collegiate Schools of Planning,17 Castells
formulou de maneira incisiva temas e questões que viria posteriormente a desenvolver e sofis-
16 É verdade que tanto no caso de grandes projetos agro-florestais (expansão da soja na Amazônia) quanto energéticos (grandes aproveitamentos hidrelétricos), o aspecto da competitividade e dos baixos custos tem sido questionado, uma vez que os cálculos custo-benefício não consideram as perdas sociais e ambientais resultantes dos GPIs. Para uma discussão da questão no caso de projetos hidrelétricos, ver, por exemplo, Vainer (2005).
17 A ACSP é a associação norte-americana de escolas de planejamento.
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
ticar. Via, então, no desmantelamento do socialismo real, razões para reconhecer: a) “o mercado
como o menos irracional mecanismo para alocar recursos escassos”; b) “a falência histórica do
estatismo”.18 Neste novo mundo, espaço unificado pela soberania do capitalismo globalizado,
não restava aos lugares senão tentarem resistir ao movimento dos fluxos, e para dar eficácia a
esta resistência deveriam recorrer ao planejamento estratégico:
A flexibilidade, a globalização e a complexidade da nova economia mundial requerem o
desenvolvimento do planejamento estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente e
adaptativa na multiplicidade de significados e sinais da nova estrutura de produção e gestão
(CASTELLS, 1990).
A senha dos novos tempos: planejamento estratégico. A adesão de Castells apenas ilustra
um movimento intelectual que, ao longo dos anos 1990, conferiu à palavra estratégia e à
expressão planejamento estratégico lugar de honra no jargão dos planejadores. Num primeiro
momento, Sun Tzu, Clausewitz e outros menos votados foram importados das escolas milita-
res para as escolas de business, em primeiro lugar a escola-líder – a Harvard Business School.
Em seguida, com os devidos cuidados e adaptações, foram conduzidos às escolas e práticas
de planejamento regional e urbano. Sinalização bastante simbólica da ampliação do mercado
de consultorias urbanas e regionais e da convergência entre o planejamento empresarial e o
planejamento territorial sob a égide do planejamento estratégico pode ser colhida no fato de
que escritórios internacionais de consultoria empresarial passaram, nos últimos anos, a prestar
assessorias a entes territoriais – municipalidades, governos estaduais etc.19
Essa transposição está fundada numa convicção básica: é possível e, mais que isso, é neces-
sário estabelecer uma analogia entre, de um lado, empresas capitalistas concorrendo num mer-
cado livre e, de outro lado, cidades e regiões competindo num mercado globalizado de locali-
zações.20 É este o problema teórico, mas também metodológico e operacional, que se resolveria
pela transposição do planejamento estratégico para a gestão territorial.21 A cidade e a região
empreendedoras são, isto é, devem ser, antes de mais nada, concebidas e planejadas como uma
18 A ruptura decisiva de Castells com toda sua produção dos anos 1960 e início dos anos 1970 fica clara no seu reconhecimento de alguns dos pressupostos básicos da Escola de Chicago, alvo principal de seu pesado, embora nem sempre consistente, ataque à sociologia urbana. “(…) la ciudad, tanto en la tradición de la sociología urbana como en la conciencia de los ciudadanos en todo el mundo, implica un sistema específico de relaciones sociales, de cultura (...)” (BORJA e CASTELLS, 1997).
19 Arthur Andersen, por exemplo. Emblemático é o fato de que Michael Porter, o papa do planejamento estratégico empresarial, tenha consagrado sua atenção ao planejamento estratégico territorial (PORTER, 1990 e 1995) e sua empresa – Monitor Company – preste consultoria a governos subnacionais, como para a elaboração do plano estratégico de turismo do governo da Bahia.
20 Para uma abordagem não totalmente apologética desta transposição, ver Bouinot e Bermils (1995). Para uma revisão compre-ensiva e relativamente crítica do planejamento estratégico aplicado a empresas, cf. Mintzberg (1994).
21 Na verdade, a própria generalização progressiva do uso das expressões gestão urbana, gestão regional e gestão territorial, em lugar de expressões concorrentes – política e planejamento urbano, regional e territorial – denota a profundidade e a amplitude das transformações introduzidas nas concepções teórico-conceituais e metodológicas.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
11�
empresa (VAINER, 2002). Num mundo cada vez mais pragmático, trata-se agora não apenas de
explicar os sucessos e os insucessos de cidades e regiões, mas, sobretudo, formular os planos de
guerra, os planos estratégicos que as conduzirão à vitória.22
Se o planejamento em estados capitalistas emergiu no pós-guerra como um instrumento
para complementar, ajustar ou corrigir tendências e processos supostamente perversos gerados
pelo funcionamento das forças de mercado, agora, como anunciou Castells, o mundo mudou...
e o planejamento deve mudar. Agora, o planejamento e o planejador devem ter em vista como
favorecer a racionalidade própria ao mercado: na ordem do dia o planejamento orientado pelo
e para o mercado – market oriented planning e market friendly planning.
Assim, as práticas concretas que coalizões locais adotam na promoção da guerra dos luga-
res, aprofundando os processos de fragmentação territorial, encontram-se ancoradas em teo-
rias de circulação internacional, altamente valorizadas no mercado das agências multilaterais
e dos consultores internacionais.23
É bom não esquecer que os profetas do planejamento estratégico se apóiam em tão abun-
dante quanto repetitiva literatura que vai reinventar as virtudes das dinâmicas tecnológicas e
econômicas locais. Capital social, interfaces e interações dos clusters ou arranjos produtivos
territorializados, solidariedades, redes de pequenos produtores independentes, tudo isso emerge
em espaços dinâmicos de um outro mundo capitalista, livre do capital financeiro e dos oligo-
pólios. Tomando alguns exemplos vistos como sucesso, como a inexorável Terceira Itália, esta
literatura promete o paraíso às cidades e regiões que forem capazes de explorar suas vantagens,
superar os conflitos internos por meio de uma atitude cooperativa, enfrentarem confiantes e
sem temores o mundo hostil da globalização. Afinal, o lugar estaria se revalorizando pelo que
tem de flexível, diverso, específico, já que se estaria no limiar de uma nova era, caracterizada
pelo “fim da centralização, da concentração, da massificação e da estandardização e [a vitó-
ria] de uma utopia antifordista, caracterizada pela flexibilidade, pela diversidade e, em termos
espaciais, pelo localismo” (AMIN e ROBINS, apud BRANDÃO, 2005).
Não se pretende ter desenvolvido aqui uma crítica extensiva e aprofundada dos fundamen-
tos teórico-conceituais das concepções e práticas que contribuem para a fragmentação terri-
torial e são hoje hegemônicas no campo do planejamento territorial – urbano e regional. Outro
22 Adotadas as teorias competitivas, é todo o universo vocabular dos planejadores que será renovado. Cidades e regiões vencedoras ou perdedoras, cidades e regiões competitivas, marketing territorial, estas e outras expressões vêm expressar, ao mesmo tempo que favorecer, a transmutação das cidades e regiões em empresas. Para uma ilustração exemplar, ver Asworth e Voogd (1990).
23 Apenas um exemplo: o Programa de Administração Municipal e Desenvolvimento de Infra-Estrutura Urbana (Produr), financiado pelo Banco Mundial e levado à frente pelo governo baiano, entre 1997 e 2004, exigia que os municípios interessados em obter recursos para obras de infra-estrutura e outras elaborassem um plano estratégico (BROWNE, 2006). Para uma discussão inicial acerca do mercado de consultorias urbanas, ver 2003.
120
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
era o objetivo desta sessão: identificar os fundamentos teóricos destas práticas e sugerir que a
crítica às práticas não será completa, nem mesmo possível, se não estiver, ela também, calcada
num esforço teórico que submeta à crítica as teorias e conceitos com que operam planejadores,
decisores e dirigentes políticos.
4. As bases sociais da fragmentação
Nas sessões anteriores buscou-se alinhar os vetores que operam a fragmentação em curso
do território nacional, bem como as referências teóricas e retóricas que apóiam semântica e
conceitualmente as práticas fragmentadoras. Acontece, porém, que se não são puras manifes-
tações epifenomênicas das estruturas, as práticas tampouco se explicam pelas explicações que
elas mesmas e seus operadores avançam como justificativas. Dito de outra maneira, embora as
teorias contribuam para reforçar práticas, não é naquelas que se encontra a origem destas. Em
sua gestação e na luta pela sua imposição estão segmentos e coalizões sociais, com interesses e
objetivos que apontam para determinadas formas de apropriação, controle e uso do território
e dos recursos que lhe estão associados.
Longe se está, aqui, de ter uma cartografia social e política das concepções e práticas que
permita ler a natureza e sentido das intervenções territoriais – públicas, privadas e público-
privadas – pelas das quais se atualizam os vetores de fragmentação predominantes. Assim, não
se poderia ir aqui muito além de um primeiro exercício, a ser questionado e aprofundado, que
retoma algumas das indicações já fornecidas nas sessões anteriores.
Assim, desde Vitor Nunes Leal (1975) está desvendada, em boa medida, a natureza do velho
regionalismo e de suas formas típicas de dominação – as redes de patronagem-clientela. São,
com efeito, em primeiro lugar, expressão de grupos dominantes tradicionais, com projeção local
e regional, que, decadentes, abdicam de qualquer pretensão hegemônica e se limitam a negociar
com o estado central, de forma permanente, o comércio de benesses em troca de apoio político.
Contudo, haveria que agregar à análise original de Leal novos elementos capazes de dar
conta da complexidade resultante das transformações por que passou a sociedade brasileira
nos últimos cinqüenta anos. Em particular, parece necessário observar que alguns grupos tra-
dicionais foram capazes, sob a proteção da ditadura militar, de construir, ao lado das redes
de clientela, novas fontes de poder econômico e político. Em alguns casos, isto foi alcançado
por alianças com grupos nacionais e mesmo internacionais; em outros casos, a captura e a
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
121
mobilização eficaz de diferentes tipos de recursos estatais (subsídios, contratos, corrupção etc.)
propiciaram processos localizados de acumulação que acabaram por tornar nacionais, quando
não internacionais, alguns grupos econômicos locais. Essas formas híbridas certamente ajudam
a desvendar alguns paradoxos, como a existências de grupos políticos que, simultaneamente,
fazem prova de modernidade por meio a presença em setores avançados do ponto de vista
econômico e tecnológico – setor elétrico, telecomunicações etc. –, ao mesmo tempo em que
conduzem seus grotões e currais com a mesma e conhecida brutalidade de seus ancestrais.
De seu lado, o neolocalismo competitivo se estrutura, via de regra, a partir de posições
adquiridas ou pretendidas em circuitos produtivos que, de maneira direta ou indireta, se conec-
tam verticalmente nas escalas nacional e, sobretudo, internacional. No caso de posições já
adquiridas, não raro se observa a forma do neo-paroquialismo mundializado, de que é exemplar
o agrarismo aggiornado de certos grandes proprietários fundiários presentes em setores for-
temente exportadores. A faceta urbana desses interesses se encontra em cidade médias que se
fecham ao espaço regional e nacional. Assim, nessas cidades, cujas elites promovem como ilhas
de prosperidade e a televisão de tempos em tempos apresenta como “o Brasil que deu certo”,
se assiste à forte difusão de ideologias do que se poderia chamar de um exclusivismo territorial,
algumas vezes próximas da xenofobia.24
No caso de cidades médias e grandes, o neolocalismo competitivo aparece também como
expressão ideológica e política de coalizões que buscam estabelecer projetos hegemônicos pela
construção de um patriotismo cívico que se sobreponha aos conflitos. Se Barcelona é hoje
quase o modelo mitológico destas coalizões, na verdade o DNA de seu empreendorismo tam-
bém pode ser encontrado nas cidades americanas estudadas por Molotch (1976).
Se o neolocalismo parte, por assim dizer, de um esforço de grupos dominantes locais para
encontrar inserção global que favoreça uma saída para a crise, no caso dos GPIs, ao contrário,
grupos locais são simplesmente paisagem, ou, na melhor das hipóteses, sócios menores de dinâ-
micas territoriais que se elaboram e decidem nas esferas nacional e internacional. Pela própria
massa de capital, território e recursos ambientais mobilizados, os interesses que se movem por
meio dos GPIs se situam nas grandes corporações nacionais e multinacionais. Como visto, no
passado, e ainda no presente para certos setores, o Estado desempenha papel central na viabi-
lização financeira, industrial e política dos empreendimentos; isso significa que a legibilidade
de tais processos passa por um exame das formas prevalecentes de representação e disputa de
interesses no interior mesmo do aparelho estatal.
24 É sabido, embora não haja estudos abrangentes e detalhados a respeito, quão extensiva é a difusão de práticas de restrição à entrada em grande número de municípios médios do interior do país, buscando impedir, ou pelo menos dificultar, a entrada de imigrantes pobres. Ver, a este respeito, Vainer (1996).
122
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Cabe, porém, destacar que as mediações entre interesses globais e a implantação localizada
dos grandes projetos podem ser várias e complexas. Assim, por exemplo, ao mesmo tempo em
que o GPI engole o lugar ou a região, grupos de interesse local podem acionar mecanismos e
práticas típicas do neolocalismo competitivo, oferecendo a grandes capitais benefícios e van-
tagens, além de apoio político. Essas vantagens, em muitos casos, assumem a forma de isenções
fiscais ou ambientais, cujos custos sociais serão assumidos pelo conjunto da sociedade local ou,
mesmo, em certos casos, nacional. O próprio Estado Nacional tem incorrido em práticas deste
tipo, quando, por exemplo, por meio de empresas energéticas estatais, disponibiliza energia
elétrica a preços subsidiados para o fomento de indústrias eletro-intensivas.25
Os padrões e os formatos de organização territorial, assim como os vetores de fragmen-
tação, não se atualizam senão porque são expressão de forças sociais e econômicas que se
estruturam em coalizões de poder, quase sempre associando grupos locais, regionais, nacionais
e internacionais. Indo mais longe, seria possível sugerir que a identificação e a análise dessas
múltiplas formas de organização dos interesses dominantes trariam importantes elementos
para uma análise das formas de estruturação e operação do Estado brasileiro.26 Afinal, o que é
o Estado brasileiro pós-Constituição de 1988 senão, em boa medida, a combinação heteróclita
dessas (e outras) múltiplas formas de organização, manifestação, articulação e defesa de inte-
resses corporativos e segmentários, em que diferentes coalizões de grupos disputam recursos
– inclusive territoriais – nas escalas local, estadual, regional e nacional?
5. Desafios
A reversão das tendências dominantes, que hoje submetem a dinâmica territorial brasileira às
forças fragmentadoras, não é uma operação teórica, muito embora não possa abdicar de uma
teoria. Tampouco é uma operação metodológica, embora certamente estejamos desafiados a
25 Contrato de vinte anos entre a Eletronorte e indústrias de alumínio transferiu para estas últimas subsídios no valor anual esti-mado de R$ 250.000.000. A renovação dos contratos, feita sob o Governo Lula, manteve transferências vultosas, uma vez que estes grandes consumidores pagam tarifas bem abaixo dos custos marginais de produção e dos preços de mercado.
26 Apenas para citar as potencialidades deste tipo de abordagem: o Setor Elétrico brasileiro tem em carteira dois megaempreen-dimentos, ambos na Amazônia – a Usina Hidrelétrica de Belomonte, no rio Xingu, e as Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira. Pelos vultosos investimentos e por seus impactos, se levados adiante, estes dois projetos redesenharão tanto a bacia do rio Xingu e, de certa maneira, parte expressiva da Amazônia Oriental, quanto a do rio Madeira e a Amazônia Ocidental. Esses projetos estão em disputa e são levados adiante por diferentes coalizões. O paradoxal é que o Estado brasileiro, de uma maneira ou de outra, ele também segmentado, se divide: Eletronorte defende com unhas e dentes o projeto Belomonte, enquanto Furnas, associada à Oderbrecht, se lança à luta e a todo tipo de lobby para assegurar uma decisão favorável ao Projeto Madeira.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
123
elaborar metodologias inovadoras. Também não pode ser vista como uma simples operação ins-
titucional, o que não significa que possa ir adiante sem desmontar mecanismos institucionais
montados nos últimos anos e inventar novos modos de institucionalizar práticas republicanas
e democráticas.
Mas um novo projeto territorial, inseparável de um novo projeto nacional, remete sobre-
tudo à questão da constituição de sujeitos políticos. Desencarnados de grupos sociais que os
sustentem, novas projetos territoriais não serão mais que exercícios diletantes, produção de
planos natimortos.
Cabe, pois, aos analistas e aos que pretendem se engajar seriamente na elaboração de um
novo projeto territorial, perscrutar na sociedade brasileira se, e em que medida, emergem for-
ças sociais capazes de assumi-lo, encarná-lo.
Com um pouquinho de otimismo e certo esforço, é possível vislumbrar a emergência dessas
forças. São os movimentos sociais territorializados, que elaboram, embora muitas vezes de
maneira ainda insuficiente, novos projetos para suas regiões. Assim, por exemplo, o Movimento
de Defesa da Transamazônica e do Xingu, os movimentos de atingidos por barragens, os movi-
mentos de luta contra o deserto verde implantado pelo complexo agro-florestal. Não seria
exagero afirmar que, pela primeira vez em nossa história, movimentos populares se confron-
tam, de maneira direta e consciente, com a problemática da estruturação e desenvolvimento
territoriais.
Há que considerar também a consolidação de organizações populares de âmbito nacio-
nal: Movimento dos Sem-Terra, Movimento de Pequenos Agricultores, Central de Movimentos
Populares. Também as Centrais Sindicais são hoje forças nacionais – CUT, CGT, Força Sindical
Contag, Federações de Servidores. Enquanto partidos e grupos dominantes parecem absoluta-
mente despreparados para a nacionalização da política, forças populares importantes parecem,
ao contrário, vocacionadas para a escala nacional.
Seria certamente um equívoco exagerar a consistência e amadurecimento das bases sociais
do que poderia vir a ser um novo projeto territorial em escala nacional. Mas não se pode des-
conhecê-las, mesmo porque elas convocam acadêmicos e planejadores – os poucos que ainda
sobrevivem no Estado brasileiro – a intensificarem a reflexão e o diálogo.
Pretendendo antes provocar que encerrar o debate acerca do poderiam vir a ser alguns
princípios ou diretrizes deste projeto, alguns pontos são alinhados a seguir:
• Projeto republicano de reforma do Estado, que desmonte os mecanismos que reprodu-
zem as relações de clientela que atualizam permanentemente velhas e novas oligarquias
124
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
de tipo tradicional, contribuindo para congelar a vida política local e regional e, por
conseqüência, nacional, sob a égide de setores conservadores.
• Projeto democrático, em que as opções sobre os destinos do território sejam passíveis de
debates e embates, nas múltiplas escalas.
• Projeto nacional, que, não obstante, rejeita o nacionalismo estreito, o chauvinismo e
aposta na cooperação continental e mundial.
• Projeto territorial trans-escalar, isto é, que concebe e implementa políticas, planos e
projetos que combinam e articulam múltiplas escalas; por isto mesmo, projeto ancorado
em um bloco de forças sociais e políticas que contempla as escalas local, regional, nacio-
nal, continental, internacional.
• Redistribuição territorial e social de recursos – materiais, políticas e simbólicos –
que combine redução das desigualdades territoriais com a redução das desigualdades
sociais.
Em síntese, a construção de um novo projeto territorial é também, e sobretudo, um projeto
político. Isso não é defeito, mas virtude, sobretudo num tempo em que se trata de rejeitar o
apelo a abdicar da política para substituí-la pelas técnicas de gerenciamento territorial, que
apenas reafirmam e reforçam os vetores da fragmentação.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
12�
Referências
ARAÚJO, T. B. de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio de Janeiro: Revan,
2000.
ASWORTH, G. J.; VOOGD, H.; Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning.
London/New york: Belhaven Press, 1990
BIELCHOWSKy, R. A. Cinqüenta anos de pensamento na Cepal. In: BIELCHOWSKy, R. A. (Ed.). Cinqüenta
anos de pensamento na Cepal, v. 1. Rio de Janeiro: Record, 2000. p.13-68.
BORJA, J.; CASTELLS, M. Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid:
United Nations for Human Settlements/Taurus, 1997.
BOUDEVILLE, J. Espaços econômicos. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.
BOUINOT, J.; BERMILS, B. La gestion stratégique des villes. Entre compétition et coopération. Paris: Ar-
mand Collin, 1995.
BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. Sobre as artimanhas da razão imperialista. Estudos Afro-asiáticos. Rio de
Janeiro, v. 24, n. 1, p. 15-33, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.546X2002000100002&ln
g=pt&nrm=iso>. ISSN 0101-546X.>. Acesso em: 8/6/2006.
BRANDÃO, C. A. Localismos, mitologias e banalizações na discussão do processo de desenvolvimento.
Campinas, São Paulo, 2005. (mimeo).
BROWNE, G. O Banco Mundial e a reforma das instituições públicas municipais no Brasil: o Projeto de
Desenvolvimento Urbano – Produr, Bahia. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2006 (versão preliminar de tese
de doutorado).
CARVALHO, O. de. Desenvolvimento regional: um problema político. Confronto de duas experiências. Rio
de Janeiro: Campus, 1979.
CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura: a sociedade em rede. 3 vols. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2001,
_______. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
12�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
_______. The world has changed: can planning change? Austin, Texas: ACSP Annual Meeting, 1990,
(Keynote Speech). (mimeo)
CPDOC. Novas interventorias e departamentos administrativos. In: OLIVEIRA, L. L. (Coord.). A Era Vargas
− 1o tempo − dos anos 20 a 1945. CPDOC, 1996 Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/
htm/anos37-45/ev_poladm_ interventorias.htm>
DINIZ, C. C. A dinâmica regional recente de economia brasileira e suas perspectivas. Brasília: Ipea, 1995
(Texto para Discussão, n. 375).
EGLER, C. A. G. Crise e questão regional no Brasil. Campinas, São Paulo: Unicamp, 1993.
GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE − GTDN. Uma política de desenvolvi-
mento econômico para o Nordeste. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1959.
GUIMARÃES N. L. Introdução à formação econômica do Nordeste: da articulaçao comercial à integração
produtiva. Recife: Massangana, 1989.
HARDT, M.; NEGRI, A. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.
LACORTE, A. C. Gestão de recursos hídricos e planejamento territorial: as experiências brasileiras no
gerenciamento de bacias hidrográficas. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 1994.
LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. Rio de
Janeiro: Alfa-Ômega, 1975.
LIMA JUNIOR, P. de N.. Planejamento estratégico: deslocamentos espaciais e atribuições de sentido na
teoria do planejamento urbano. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2003.
LOPES, L. Memórias do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Centro de Memória da Eletricidade, 1991.
MINTZBERG, H. The rise and the fall of strategic planning. Toronto: The Free Press, 1994
MOLOTCH, H. The city as a growth machine. Disponível em: <http://nw-ar.com/face/molotch.html>
Acesso em: 30/5/2006.
MyRDAL, G. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro: ISEB, 1960.
OHMAE, K. Fim do Estado-Nação: a ascensão das economias regionais. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
Fragmentação e projeto nacional:desafios para o planejamento territorial
12�
OLIVEIRA, F. de. Elegia para uma religião: Sudene, nordeste, planejamento e conflitos de classes. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1977.
PORTER, M. E. The competitive advantage of the inner city. Harvard Business Review, n. 3, p. 55-71,
May-June, 1995.
PORTER, M. E. The competitive advantage of nations. New york/ London: The Free Press, 1990
REPÚBLICA, BRASIL. Presidência da. Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) – 1972-1974. Brasília:
Diário Oficial, 17. dez. 1971.
_______. Metas e bases para a ação do governo. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1970.
SCHWARZ, R. As idéias fora do lugar. In: SCHWARZ, R. Ao vencedor as batatas. Forma literária e processo
social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1981. p. 13-28.
SWyNGEDOUW, E. Neither global nor local: glocalization and the politics of scale. In: KEWIN, R. C. (Ed.).
Spaces of globalization: reasserting the power of the local. New york/London: The Guilford Press, 1997.
p. 137-166.
TORRES, H. da G. Indústrias sujas e intensivas em recursos naturais: importância crescente no cenário
industrial brasileiro. In: MARTINE, G. (Org.). População, meio ambiente e desenvolvimento: verdades e
contradições. Campinas, São Paulo: Unicamp, 1993. p. 43-67.
VAINER, C. B. A violência como fator migratório: silêncios teóricos e evidências históricas. Travessia − A
Revista do Migrante, n. 25, Ano IX. maio/ago. 1996, p. 5-9.
_______. Impactos sociais e ambientais de barragens: quem deve pagar a conta? Rio de Janeiro: IPPUR/
UFRJ, 2005. (mimeo).
_______. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico
Urbano. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando con-
sensos. 3 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
VAINER, C. B.; ARAÚJO, F. G. B. de. Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional. Rio de
Janeiro: Cedi, 1992.
131
Políticas espaciais européias
Políticas espaciais européias
1. Introdução
A história das políticas territoriais formuladas e praticadas pela União Européia pode ser enten-
dida como resultado de um processo de tensão dinâmica entre centros de poder em “competi-
ção”, dentro de uma estrutura institucionalmente complexa.
Lançando mão de certa simplificação, podemos afirmar que a arena da tomada de decisões
da UE caracteriza-se pela presença de dois conjuntos de agentes, os quais, ainda que nem
sempre de modo uniforme, buscam fazer com que, ao definirem-se as políticas territoriais, a
balança de responsabilidades penda a seu favor na operacionalização das políticas regionais.
Por sua vez, a Comissão Européia, órgão técnico e executivo, formalmente independente em
relação aos países-membros, que tem não apenas orientado o debate conceitual sobre o ter-
ritório europeu por meio de documentos de visão prospectiva e comunicados oficiais, mas
também por meio de planejamento dos Fundos Estruturais, tem, de fato, canalizado fluxos
financeiros substanciais para o sistema urbano europeu.
Por outro lado, há Estados-membros que conservam total responsabilidade pelas políti-
cas de planejamento territorial e que, recentemente, passaram a percorrer a difícil estrada da
cooperação intergovernamental, por meio do Conselho Europeu e dos conselhos informais de
ministros responsáveis pelo planejamento. O instrumento, pelo qual esses membros buscaram
tecer o pano de fundo territorial e, ao mesmo tempo, a estrutura de opções políticas intitula-se
Perspectiva do Desenvolvimento Espacial Europeu (European Spatial Development Perspec-
tive), apresentado, em sua versão final, em Potsdam, em maio de 1999.
Sergio Conti
132
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
2. A “Perspectiva do Desenvolvimento Espacial Europeu” como diretriz das políticas nacionais de planejamento
A Perspectiva do Desenvolvimento Espacial Europeu (ESDP) exprime um longo processo de
cooperação intergovernamental cujo foco, pelo menos em suas intenções originais, era estabe-
lecer uma “diretriz” de estratégias territoriais integradas para os Estados-membros e, ao mesmo
tempo, um meio de coordenação e harmonização das opções que causassem impacto espacial,
opções já adotadas ou que viessem a ser adotadas, no âmbito das várias políticas setoriais da
UE (JANIN RIVOLIN, 2004; RUSCA, 1998).
A decisão do Comitê de Desenvolvimento Espacial de produzir tal diretriz foi tomada no
âmbito do conselho informal de ministros responsáveis pelo planejamento territorial dos Esta-
dos-membros, em Liège, em novembro de 1993. A versão preliminar do documento foi apre-
sentada aos ministros responsáveis pelo planejamento em uma reunião informal, realizada na
cidade holandesa de Noordwijk, em junho de 1997. A versão definitiva (CSD, 1999) foi oficial-
mente apresentada no encontro de Potsdam (1999).
Todas as versões da ESDP centraram-se em torno de três princípios gerais, estabelecidos em
Leipzig em 1994:
• coesão social e econômica;
• desenvolvimento sustentável; e
• competitividade balanceada para a Europa.
A ESDP, além de reunir os resultados dos trabalhos produzidos no âmbito de experiências
tais como Europa 2000 e Europa 2000+, diretamente coordenadas pela Comissão Européia,
resume explicitamente o ponto de vista político, a expressão dos quinze países-membros, tendo
em vista alcançar uma estratégia integrada do desenvolvimento territorial da UE. Ao mesmo
tempo, em observância ao princípio da subsidiariedade, indica que as políticas territoriais defi-
nidas pela ESDP não são imperativas, mas tão-somente diretrizes; ainda que o documento não
tenha o propósito de desenvolver uma nova estrutura de ação para políticas comunitárias, mas
tão-somente para o aperfeiçoamento da implementação das políticas existentes da comu-
nidade, além de ampliar sua eficácia e relevância, por uma melhor integração da dimensão
territorial em sua área.
133
Políticas espaciais européias
As principais esferas de ação das políticas territoriais européias perseguem três objetivos
prioritários:
• um sistema urbano balanceado, por meio de múltiplos centros e de novas formas de
relação cidade–campo;
• igual acessibilidade a infra-estruturas e ao conhecimento; e
• gerenciamento e desenvolvimento cuidadosos da herança natural e cultural.
A racionalidade da ESDP está também explicitamente fundamentada na necessidade de se
levar em conta três tipos básicos de interdependência, por meio de formas de coordenação
fortemente institucionalizadas e inevitavelmente “abrangentes”, quais sejam: interdependência
dos territórios (com estratégias de integração transnacional dos territórios), interdependência
entre as várias políticas setoriais da comunidade que causem impacto sobre a organização ter-
ritorial (coordenação horizontal) e interdependência entre os vários níveis de governança que
tenham poderes administrativos sobre o território (coordenação vertical) (SALONE, 2005).
3. Geopolítica da ESDP: o difícil comprometimento entre diferentes “visões”
Já enfatizamos a coexistência de forças divergentes na formulação da agenda das políticas
territoriais européias e, conseqüentemente, sua natureza de comprometimento e negociação.
No esforço de orientar nossas análises segundo as perspectivas culturais que diferenciam as
tradições nacionais européias quanto a planejamento territorial e políticas regionais, podemos
identificar, com certo grau de precisão, pelo menos quatro “visões” européias diferentes sobre
tais políticas, concorrentes entre si (RIVOLIN; FALUDI, 2005), que são a expressão de caracterís-
ticas culturais específicas, mas também de precisas conotações geopolíticas. Nesse contexto,
surge uma primeira visão, percebida no noroeste europeu, da qual participam França, Alema-
nha, Holanda e regiões de culturas afins, situadas na Bélgica e em Luxemburgo; uma segunda
visão é específica de uma região tradicionalmente “morna” em relação à unificação européia,
isto é, o Reino Unido; uma terceira visão deriva dos países escandinavos, Dinamarca, Suécia e
Finlândia; e uma quarta perspectiva, qual seja, a do Mediterrâneo, pertence aos países ibéricos,
assim como à Itália e à Grécia. Nesse ponto, limitar-nos-emos à discussão do primeiro exemplo,
que se tornou decisivo.
134
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Um exame acerca dos estágios fundamentais do processo, em que se produziram o esboço
e a aprovação da ESDP, e dos lugares em que tais decisões foram tomadas, faz-nos capazes
de entender melhor tais aspectos, diferentemente do que nos faria uma série de análises de
natureza política:
1) embora muitos esforços feitos para a preparação do documento pudessem remontar a
tempos anteriores, as bases para sua formulação final foram lançadas em 1989, sob a
presidência da França;
2) a primeira apresentação oficial do documento, no entanto, se deu em Noordwijk, na
Holanda, sob a presidência deste país; e
3) a versão definitiva foi oficialmente aprovada em Potsdam, no estado alemão de Bran-
denburgo, em 1999.
Deste modo, foi a Alemanha que encerrou o ciclo, país que encerra certo simbolismo da
nova Europa, que surgiu da Guerra Fria e da divisão do continente em blocos, resultante da
Segunda Grande Guerra.
Como se pode observar, todos os lugares–chave do processo de preparação da ESDP loca-
lizam-se em países do noroeste da Europa; tal observação, longe de ser apenas uma questão
menor, sublinha o papel efetivo de liderança dessas áreas no processo de elaboração de uma
política territorial européia. Tais elementos de liderança cultural, técnica e política podem ser
facilmente observados por meio da análise das perspectivas culturais que caracterizam os três
principais países do eixo noroeste.
1) A perspectiva francesa: esse modo de ver as coisas, que se seguiu imediatamente após
o início do processo de definição da estrutura da ESDP, parece fortemente influenciado
pelo conceito francês de aménagement du territoire (administração do território),
entendido como o terreno de ação de política territorial de natureza indicativa e não
prescritiva. Esse enfoque refere-se, em particular, ao planejamento econômico regio-
nal e foi adotado como modelo de trabalho para a ESDP. Particularmente importante
é o papel desempenhado pela França na introdução do tema do policentrismo entre
as questões primaciais da ESDP, como chave da interpretação e da implementação da
“coesão territorial” (mesmo que ou, talvez por isso mesmo, a França seja um dos menos
multicentrados países da Europa).
2) A perspectiva alemã: dominada pelo conceito de federalismo, base da constituição for-
mal do Estado alemão contemporâneo. Esse conceito se estende às relações entre os
Estados-membros como ingrediente fundamental da cooperação intergovernamental
que a ESDP devia “produzir”.
13�
Políticas espaciais européias
3) A perspectiva holandesa: foi sob a presidência holandesa, na Conferência de Haia, em
1991, que se estabeleceu o Comitê de Desenvolvimento Espacial, que se encarregou da
administração técnica do processo de preparação da ESDP; as tradicionais habilidades de
negociação dos holandeses mostraram-se fundamentais na mediação dos dois diferentes
conceitos acima descritos.
4. Os valores em jogo: territorialidade, coesão e policentrismo
4.1 A dimensão territorial do desenvolvimento e da competitividade
No que se refere às estratégias de política regional, do ponto de vista tanto da doutrina
como dos instrumentos recentemente criados, países e regiões de desenvolvimento industrial
maduro experimentaram a mudança da competição direta para competição indireta. Muito
mais do que no passado, isso se refere aos recursos “específicos” disponíveis e/ou a serem
ampliados nas áreas em questão. Em outras palavras, a territorialidade tornou-se condição
básica para o desenvolvimento.
Tradicionalmente, competição direta fundamenta-se em estratégias de apoio, que se des-
tinam a captar investimentos internos, políticas de favorecimento da imagem, codificação das
melhores práticas, nas quais o êxito competitivo, que significa melhor capacidade de atrair
atenção do que a de outros competidores (empresas, organizações, grupos sociais, turistas
etc.), converte-se em princípio da legitimação da política local/regional: essa idéia transcende
grandemente à de compartilhamento e representação, isto é, a de uma organização em que a
ênfase se dá na diversidade de laços entre os agentes.
Na competição indireta, a governança territorial torna-se foco central, com a mobilização
dos vários grupos em torno de uma estratégia compartilhada de suporte às empresas envolvi-
das na competição, oferecendo-lhes uma série de condições locais que lhes confiram vanta-
gens competitivas. Com isso queremos dizer vantagens competitivas sustentáveis. Em outras
palavras, vantagens oferecidas pelos territórios que efetivamente promovem a competitividade
dos agentes ali localizados. No caso em que, na economia contemporânea globalizada, os sis-
temas territoriais locais forem crescentemente dependentes da capacidade de captar e realizar
13�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
a maior parte dos fluxos financeiros, conhecimento e capital humano, os recursos locais se
tornarão, sem dúvida, fatores–chave de competitividade e atratividade.
Não há como deixar de enfatizar que as histórias de sucesso que marcaram o recente desen-
volvimento local/regional da Europa, tenham seguido lições–chave:
• esses sistemas bem–sucedidos não perseguiram improváveis novas vocações, mas
ampliaram e deram nova vida a tecnologias historicamente enraizadas e o savoir faire
(saber–fazer), seja no nível dos negócios, em que se devem ampliar as competências
essenciais a cada atividade, seja no nível territorial, em que se devem ampliar as compe-
tências regionais essenciais;
• buscaram a integração (aglomeração) dos sistemas de produção, que se baseie em liga-
ções organizacionais relativamente estáveis. A co-localização tornou-se componente
decisivo da vantagem competitiva (já que se constitui a base do aprendizado coletivo);
• políticas de rede tecnológica, administrativa e de assistência financeira postas em prá-
tica, além do diálogo entre os agentes (visando ao máximo de colaboração e interação
no nível local); e
• à luz de uma agenda política compartilhada e na presença de instituições fortemente
intervencionistas, isto é, capazes de estimular a formação de grupos de interesse que
venham a compartilhar uma estrutura regulatória comum.
Tudo isso reforça o reconhecimento unânime do território local – assim como suas conota-
ções materiais e relacionais – além de uma rigorosa crítica dos marcos territoriais tradicionais
(e acima de tudo, institucionais), bem como dos relativos instrumentos regulatórios. Territoria-
lidade é, de fato, essencialmente baseada em fatores de relações e processos, assim como de
condições materiais. Particularmente:
• expressa um sistema de relações que a comunidade possui tanto com o ambiente (local)
quanto com outros agentes;
• trata-se de um lugar de ação, caracterizado por mudanças e processos (que continua-
mente organizam e reorganizam o território), como expressão material de um projeto,
de intenções e relações de poder, em que o próprio planejamento se fundamenta; e
• trata-se de uma construção social que se origina da mobilização de grupos, interesses e
instituições locais, num processo que se reveste de várias formas: discussão, cooperação
e conflitos. Sua construção depende, portanto, da ação coletiva de seus agentes.
Segue-se que desenvolvimento e outros processos econômicos não podem mais ser inter-
pretados como conseqüência de dinâmicas comportamentais de um limitado número de agen-
tes privilegiados (grandes empresas, por exemplo), mas, ao contrário, como a expressão de
13�
Políticas espaciais européias
redes de relações que ligam agentes co-localizados (pequenas e grandes empresas, sindicatos
trabalhistas e trabalhadores, associações patronais, universidades e centros de pesquisas públi-
cos e privados, autoridades públicas, instituições financeiras, escolas e centros de treinamento
profissional). Parte importante dessas relações não é de natureza econômica ou comercial, mas
sim sociocultural e institucional; em outras palavras, são relações não mercantis.
Com o declínio do fordismo e o surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho,
surgiu um valor excedente, resultante do ambiente, da sociedade e do conhecimento locais
– as economias territoriais externas. Além dos processos mais visíveis e maduros, tais como a
explosão das informações, a concentração de crescimento, a conseqüente polarização social e
o corte de tradicionais ligações de solidariedade, surgiu nova demanda política (num quadro
de recursos decrescentes), com a conseqüente modificação das formas de administração das
questões públicas e modos de governança. De modo geral, as principais instituições públicas
não são capazes, elas próprias, de se adaptar e responder à complexidade e à multiplicação das
demandas, acima de tudo, em razão dos complexos processos operacionais estratificados ao
longo do tempo.
De modo particular, as políticas econômicas e o planejamento territorial têm experimen-
tado um progressivo processo de imbricação em seus campos de aplicação ao ponto de conver-
gência de suas experiências mais maduras no âmbito das políticas territoriais, enfatizando um
conjunto de objetivos, ações e instrumentos inseparáveis que sobrepujam os limites do planeja-
mento padrão, com o fito de assumir o papel de uma verdadeira estratégia de desenvolvimento
local. Para dizer de outra forma, o sujeito das políticas territoriais não é apenas a administração
do território físico – desde o planejamento de infra-estruturas até o da habitação e de unidades
mercantis e negociais – mas também, e acima de tudo, o do território intangível, o que signi-
fica dizer as dimensões relacionais e institucionais, sobre as quais hoje se baseiam os processos
competitivos e de inovação.
Isto nos leva ao exame de dois conceitos fundamentais, introduzidos anteriormente, isto é,
o da coesão e o do policentrismo.
4.2 Coesão territorial como objetivo estratégico
A União Européia alcançou o que se pode chamar de “coesão territorial” por meio da definição
do conceito mais geral de “coesão econômica e social”, definição esta já contida no Ato Único
Europeu de 1986. No Tratado de Amsterdã de 1997, a expressão “coesão social e territorial”
figura (artigo 16) como critério de regulação de possíveis conflitos entre o Estado e o mercado
13�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
no gerenciamento de serviços de interesse geral que desempenhem função como ativos públi-
cos territoriais. Por fim, “coesão territorial” foi, de novo, empregada e reinterpretada pelo Third
Report on Economic and Social Cohesion de 2004 (Terceiro Relatório sobre a Coesão Econômica
e Territorial). Nesse caso, a política de coesão territorial é definida em termos positivos como
“uma política dinâmica que se esforça por criar recursos, por visar fatores de competitividade
econômica e de emprego, especialmente onde seja maior o potencial não utilizado”, em que
“crescimento e coesão oferecem apoio mútuo” (p. xxii).
Se, como é sabido, coesão territorial “traduz, em sentido territorial, os objetivos de desen-
volvimento sustentável e balanceado, explicitamente assinalados nos tratados da União”, o
conceito, ainda assim, se caracteriza por ambigüidades conceituais e políticas, devidas, sobre-
tudo, ao uso que os documentos da comunidade dele fizeram nas várias ocasiões. Por conse-
guinte, o conceito gira em torno do sentido de coesão territorial como um valor em si e de
uma concepção puramente instrumental, que busca o aumento da competitividade econômica
ou o reparo dos danos causados por seus excessos. Em qualquer caso, é fato que, na qualidade
de dimensão territorial da sustentabilidade (a par das dimensões tecnológicas, diplomáticas
e comportamentais/organizacionais), a coesão territorial é um marco referencial com implica-
ções diretas em relação à política territorial, no que se refere a seus três componentes essen-
ciais (CAMAGNI, 2004), quais sejam:
• qualidade territorial: esse aspecto põe em jogo as características do ambiente vivencial e
de trabalho, prosperidade coletiva, disponibilidade de serviços comunitários e igualdade
de acesso ao conhecimento; sublinha o papel das políticas territoriais na produção e na
manutenção dos ativos comuns (infra-estruturas, amenidades e valores intangíveis, tais
como capital social);
• eficiência territorial: este elemento encerra as formas de uso dos recursos naturais, pai-
sagísticos e energéticos, mas também a capacidade de atração de capital, gente e com-
petitividade para seus próprios territórios; e
• identidade territorial: existência de capital social (a salvaguarda de aspectos locais e
tradições industriais específicos, assim como o fortalecimento das vantagens compe-
titivas de cada área local). Aqui, encontramos a identidade incorporada na cultura e
competências locais, o capital social e a paisagem, que, por essa razão, representam o
elemento último de ligação das comunidades locais, a base da aprendizagem coletiva e
do fortalecimento dinâmico do tecido produtivo local (isto é, a coesão territorial).
A dimensão territorial “contém”, portanto, três subsistemas co-evolucionários: o econômico,
o social e o ambiental/paisagístico. Isso, portanto, implica um enfoque integrado das políticas
13�
Políticas espaciais européias
de coesão territorial, o qual, por sua vez, postula formas de cooperação horizontal e vertical
entre os vários níveis institucionais e entre as diferentes divisões dos corpos administrativos
– os únicos capazes de oferecer respostas e ações complexas e multidimensionais.
Eficiência, qualidade e identidade territoriais representam, por si só, objetivos e valores para
quaisquer sociedades avançadas e são a base do bem-estar coletivo, assim como represen-
tam as pré-condições de competitividade dos territórios locais. Entretanto, enquanto os dois
primeiros – eficiência e qualidade – são conhecidos e compartilhados, a inclusão do terceiro,
o da identidade territorial, pode se mostrar surpreendente nesse contexto. Não obstante, a
identidade territorial terá, em particular, participação crescente nas estratégias e nas políticas
européias. Para que se possa entender melhor essa questão, vale deslocar a atenção para um
segundo termo, decisivo para nossos propósitos, qual seja, o policentrismo.
4.3 Policentrismo
Policentrismo constitui um tipo particular de estrutura espacial baseada em relações que se esta-
belecem em rede, as quais podem evidenciar um padrão tanto hierárquico quanto eqüipotencial.
Trata-se, ao mesmo tempo, de um conceito estrutural, relativo ao padrão especial que tenha
crescido “espontaneamente” com o passar do tempo, e de um padrão funcional, construído por
políticas espaciais em várias escalas (NORDREGIO, 2003). Este último aspecto pode ser induzido
ou estimulado, por meio de esforço de planejamento mais vigoroso ou mais frágil, vindo de
autoridades supralocais (União Européia e, até certo ponto, Estados e regiões) ou por meio de
cooperação local entre as autoridades municipais. Políticas de coesão e desenvolvimento territo-
riais, determinadas em documentos oficiais da UE, e particularmente na ESDP, poderiam ser
interpretadas como tentativas de recompor, no nível do continente europeu, a fragmentação
territorial dos territórios nacionais individuais, por estimular formas voluntárias de cooperação
transnacional ou por referir-se ao princípio da subsidiariedade no nível subnacional.
O conceito se refere, de modo intuitivo, à presença de múltiplos pontos nodais de desenvol-
vimento no território e, neste sentido, pode ser considerado como oposto às tradicionais teorias
de polarização que caracterizam a ciência regional do pós-guerra. O conceito de policentrismo
constitui, de maneira ideal, a evolução da concentração descentralizada, tradicionalmente
ligada ao planejamento espacial holandês e relativamente às políticas destinadas à difusão
das atividades econômicas, provenientes das áreas congestionadas, mais importantes, a fim
de reconcentrá-las nos principais pólos das regiões menos desenvolvidas. Indubitavelmente, o
objetivo não consiste simplesmente na reorganização de um determinado número de ativida-
140
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
des econômicas, num tipo de jogo de soma zero, mas em encorajar processos de desenvolvi-
mento em cidades caracterizadas por estagnação econômica, declínio da atividade industrial
ou despovoamento (HALL, 2001).
Como conceito geográfico, o policentrismo pode ser considerado de três diferentes pers-
pectivas: como fenômeno espontâneo, modelo teórico ou objetivo político. Do primeiro ponto
de vista, a atual popularidade do policentrismo entre os estudiosos reflete a tendência geral do
fenômeno urbano, qual seja, várias estruturas monocêntricas e polarizadas, isto é, caracteriza-
das por um grande centro dominante, e que tendem a reorganizar-se em redes de estruturas
policêntricas; este é, por exemplo, o caso de muitas áreas urbanas italianas.
Esse tópico, portanto, coincide com policentrismo como conceito teórico, quase em opo-
sição à idéia tradicional de hierarquia urbana, no que se refere às dimensões e ao “ranque”
das funções urbanas (por exemplo, em termos populacionais no famoso modelo de Zip de
hierarquia por tamanho). Nessa perspectiva, o recente debate sobre região urbana policêntrica
não apenas se atém às diferentes dotações de funções, sua distribuição entre os centros e as
conseqüentes relações de integração e interdependência.
Do ponto de vista político, por fim, o objetivo do policentrismo é promover desenvolvi-
mento especial justo e balanceado e, por essa razão, tem sido incluído nas metas de políticas
definidas pela Comissão Européia. A estratégia policêntrica pode ser percebida em diferentes
escalas geográficas: numa perspectiva européia mais ampla, refere-se a novos eixos de desen-
volvimento em regiões periféricas, situadas fora dos centros econômicos dominantes da Europa
(CRPM, 2002), ao passo que, na escala regional, o alvo é contrastar a formação de sistemas
urbanos monocêntricos, nos quais se concentra, em áreas restritas, a maioria das funções urba-
nas, com a finalidade de promover o surgimento de redes equipotenciais de centros competi-
tivos que venham a compartilhar funções diferenciadas. No centro dessa segunda perspectiva
reside a idéia de que o policentrismo possa representar instrumento de promoção da competi-
tividade regional. Esse é um aspecto do debate que evidencia certa ambigüidade: argumentos
favoráveis ao policentrismo, de fato, aparentemente contrastam-se com a literatura relativa às
vantagens dos centros maiores, no que se refere aos crescentes retornos de escala. Na realidade,
o corpo teórico não se contrapõe estritamente à idéia do desenvolvimento policêntrico, no que
se refere à “concentração descentralizada”. De fato, o policentrismo não nega os benefícios da
concentração espacial, mas sublinha a necessidade de promover-se o surgimento de redes e de
diferentes trajetórias de desenvolvimento em lugares em que a excessiva concentração geográ-
fica (em diferentes escalas) resulte em desbalanceamentos sociais e territoriais, como é o caso
141
Políticas espaciais européias
da parte mais desenvolvida da Europa ou como se dá em algumas regiões que se caracterizam
por apresentar um crítico modelo de centro–periferia.
Entretanto, a literatura relativa ao policentrismo chama a atenção para alguns caminhos
específicos de promoção da vantagem competitiva de sistemas urbanos. Em primeiro lugar, as
cidades podem gozar de economias externas particulares, derivadas do compartilhamento de
um mercado de trabalho e de infra-estrutura, como aeroportos e auto-estradas, que lhes são
comuns, ou de serviços altamente especializados, como universidades. Em segundo lugar, as
cidades podem beneficiar-se da presença de diferentes elementos e especializações comple-
mentares: basicamente, no que concerne às teorias econômicas tradicionais, cada cidade pode
especializar-se em setores econômicos em relação aos quais goza de vantagens comparativas
específicas. Em terceiro lugar, é razoável supor que a freqüente interação entre os nodos de
uma estrutura policêntrica, a par de compartilharem problemas, soluções e perspectivas, venha
a promover sinergias de governança, ao mesmo tempo em que se beneficie de recursos e pro-
gramas que viabilizem o financiamento de projetos de maior importância.
A antinomia entre hierarquia e policentrismo foi, de fato, um dos temas mais discutidos nos
foros de debate durante a elaboração da Perspectiva Européia de Desenvolvimento Espacial
(ESDP) e do Programa de Estudo do Planejamento Espacial Europeu (SPESP), assim como o é,
atualmente, quando se desenvolvem esforços para o estabelecimento da Rede de Observação
do Planejamento Espacial Europeu (ESPON) 2006. Essa antinomia é particularmente importante
quando se dá atenção a um possível risco de concentração de poder funcional e econômico no
coração da União Européia, o chamado “Pentágono”.
Ademais, não se pode ignorar que alguns elementos hierárquicos não sejam tão somente
inescapáveis, mas também desejáveis, para explorar efeitos críticos de massa e dar origem à
difusão de processos em regiões onde o sistema espacial seja débil e dominado por um ou por
poucos centros urbanos. Indubitavelmente, como enfatiza o estudo do Conselho de Regiões
Periféricas e Marítimas (CRPM, 2002), o espaço europeu agora se caracteriza por um fenômeno
duplo de diversidade espacial em diferentes escalas:
• no nível do continente europeu, a divergência entre sua parte central e as periferias; e
• no nível nacional, a divergência, na maioria dos países, entre as conurbações mais com-
petitivas e o restante do território.
A idéia de competitividade territorial balanceada e de coesão econômica e social espelha
um dos desafios mais cruciais que a UE agora enfrenta. O reforço do policentrismo pode ser a
resposta estratégica para a estrutura espacial européia, hoje desbalanceada.
142
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Segundo Simin Davoudi (1999), “um dos conceitos mais importantes, embora menos claro,
é o da policentricidade”. A relevância desse conceito depende de sua compatibilidade com as
opções de políticas de desenvolvimento do espaço europeu e de sua capacidade de satisfazer
os três objetivos da ESDP: coesão econômica e social; conservação dos recursos naturais e da
herança cultural (desenvolvimento sustentável) e competitividade mais equilibrada no territó-
rio europeu.
De fato, na ESDP e em outros documentos oficiais europeus que nela se inspiraram (ver, p. ex.,
Commission of the European Communities, 2001), o conceito de policentrismo não é utilizado
para explicar um fenômeno existente ou em desenvolvimento, mas como uma agenda normativa
para chegar-se a duas metas políticas freqüentemente conflitantes: coesão social e territorial
por um lado e competitividade econômica, por outro. A ESPD busca promover o policentrismo
no nível europeu, com a finalidade de assegurar um desenvolvimento mais equilibrado regio-
nalmente por toda UE e a de ampliar a competitividade econômica da Comunidade Européia no
mercado mundial (competitividade balanceada).
Não obstante, o conceito de policentrismo é problemático, e assim permanece, por uma
série de razões. Primeiramente, do ponto de vista analítico, a despeito de seu disseminado
uso e longa história, o significado preciso de policentrismo permanece vago: “significa coisas
diferentes para pessoas diferentes” e também “coisas diferentes quando usado em diferentes
escalas espaciais” (DAVOUDI, 2002). Em segundo lugar, do ponto de vista político, denota um
“enfoque idealístico” ao planejamento espacial, por evidenciar um hiato teórico e prático. Em
outras palavras, não está claro quais políticas devam ser implementadas para que se possa
alcançá-lo e, em termos mais gerais, se de fato policentrismo é ou não uma panacéia para a
estrutura espacial, econômica e social da Europa.
5. Coesão territorial, policentrismo e territorialidade ativa: chaves para o desenvolvimento local
Falar sobre fundamentos teóricos e empíricos de um conceito como policentrismo é tarefa
árdua em um artigo de revisão. Para a discussão de questões como essa, pode-se reportar ao
processo de elaboração da ESDP para que se entenda como e por que policentrismo se converte
em principal meta do planejamento espacial no nível da União Européia.
143
Políticas espaciais européias
Se examinarmos mais detidamente, a meta, na escala européia, é promover a formação de
uma rede transnacional de “áreas dinâmicas integradas à economia global” fora do Pentágono,
cada uma delas com foco em uma metrópole existente ou em um grupo de cidades médias e
pequenas geograficamente próximas, integradas em rede.
Uma idéia como essa foi proposta por Kunzmann e Wegener (1991), quando contrastaram
a imagem de um cacho de uvas à famosa “banana azul” do grupo francês da Datar, ou coluna
vertebral européia. Em estudo publicado em 2002, pela Conferência da Regiões Marítimas
Periféricas (CRPM) em colaboração com governos do Reino Unido, Suécia, Portugal, Espanha,
França e Itália, procuraram verificar quantas “uvas” grandes, do cacho de Kunzmann, haveria
fora do Pentágono ou, para utilizarmos a terminologia da CRPM, quantas Áreas de Crescimento
Metropolitanas Européias (MEGAs) poderia haver.
Esse estudo demonstra que a idéia de coesão européia, tendo o policentrismo como base,
funda-se em certos fatos e tendências atuais. De modo mais geral, ajuda-nos a entender que os
possíveis nodos MEGA (“áreas integradas à economia global” do ESDP) são, por sua vez, redes
intra-regionais constituídas por um determinado número de sistemas urbanos locais, isto é, por
cidades menores e suas áreas circunvizinhas. Surgem disso duas indicações. A primeira delas, apa-
rentemente óbvia, mas comumente esquecida, é que cada uma dessas áreas, na realidade, forma
uma rede. Isso equivale a dizer que o sistema policêntrico europeu e sua governança devam ser
vistos como uma rede de redes. A segunda, em relação à qual devemo-nos ater por mais tempo,
é que os nodos das redes do nível hierárquico inferior são sistemas territoriais locais. Portanto,
é nesse nível que encontramos os alicerces de toda uma construção do policentrismo europeu;
isto é, a efetiva ativação dos sistemas locais e de suas diversas características específicas é que
constitui a condição básica para a coesão territorial e para o desenvolvimento da Europa.
Isso está implicitamente reconhecido pela ESDP, a começar por sua declaração inicial (par.
1.1.1.): “o território da UE se caracteriza por sua diversidade cultural (...), um dos mais signi-
ficativos fatores de desenvolvimento”. Como é sabido, tal variedade se dá tanto no nível local
e regional quanto no nacional. Com efeito, a ESDP inclui nos três fatores que influenciam as
tendências de longo prazo de desenvolvimento territorial europeu “o papel crescente exercido
por autoridades locais e regionais e sua função com relação ao desenvolvimento territorial”
(par. 1.1.6). Segue-se que a Comunidade também necessita de “cidades e regiões” e apenas
“dessa maneira porá em prática o princípio da subsidiariedade sancionado pelo Tratado que
constituiu a UE” (par. 1.1.8).
Os “tijolos” com os quais se edifica a UE como uma construção territorialmente coesa são,
portanto, os sistemas locais, que se podem tornar os nodos das redes regionais (MEGAs), os
144
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
quais, por sua vez, se podem converter em nodos da grande rede policêntrica européia. Mas o
que são essas redes locais? São elas entidades intermediárias existentes, já em funcionamento,
como agentes territoriais, ou são elas agentes coletivos que ainda devam ser constituídos? E em
que sentido são elas “territoriais”?
Começando por esta última indagação, devemo-nos lembrar que de maneira bastante simpli-
ficada há dois diferentes modos de considerarmos o “local” e a territorialidade, isto é, as relações
desses dois agentes com a área local. É possível distinguir entre (DEMATTEIS; RIVOLIN, 2004):
• territorialidade passiva e negativa, que, com estratégias de controle e o sistema regu-
latório associado, objetiva regular o acesso aos recursos de determinada área e excluir a
utilização do território por outros agentes; e
• e territorialidade ativa e positiva, que se origina, ao contrário, da ação territorializada e
coletiva de agentes locais que, graças a seus conhecimentos e habilidades para planejar
para o futuro, são promotores–chave de inovação e desenvolvimento.
A territorialidade ativa é que torna possível chegar-se a uma definição operacional do sis-
tema local como modelo conceitual, cujo propósito é analisar e descrever a realidade socioter-
ritorial e o potencial existente ou a ser construído e, a partir disso, chegar-se a uma definição
de sistemas que sejam tanto sociais quanto territoriais, que possam converter-se em agentes
de uma estrutura local de políticas e governança de múltiplos níveis (regional, nacional e euro-
peu). Em termos da realidade, nada há de novo aqui, na medida em que políticas européias (p.
ex., os projetos Urban e Leader) já se baseiam na ativação dos sistemas locais. O que de fato é
necessário é exatamente a melhor definição de tais políticas, a fim de torná-las mais efetivas e
estendê-las, no que se refere ao desenvolvimento policêntrico.
O enredamento desses territórios em interação com os agentes locais é, portanto, o ponto
de partida da construção do policentrismo europeu, na qualidade de instrumento principal do
desenvolvimento espacial, tal como proposto na ESDP. Traduzido nos termos conceituais e ope-
racionais mencionados anteriormente, esse instrumento poderia, em nossa opinião, aperfeiçoar
as atuais políticas nacionais e regionais numa perspectiva de coesão territorial da Europa. Em
particular, a atenção dada às formas de territorialidade ativa e sua diversificação local, regional
e nacional deve contribuir para maior sofisticação das políticas comunitárias e da governança
em múltiplos níveis, aos quais se dedica a segunda parte deste artigo.
14�
Políticas espaciais européias
6. Ao encontro da governança européia
Em resumo, a mensagem surgida dessas breves considerações é que uma Europa ampliada não
deveria limitar-se, tal como se priorizava dez anos atrás, a representar apenas uma perspectiva
compartilhada de desenvolvimento espacial. Agora, parece ser o tempo em que a próxima ESDP
também aspire a ir além de simples princípios de “aplicação” de visões territoriais e possa repre-
sentar uma perspectiva compartilhada de governança territorial da Europa.
Com isso, queremos dizer uma perspectiva prática de governança, que ocorra em um dado
número de níveis das transformações do território europeu, capazes de efetivamente interco-
nectar a política comunitária de coesão territorial com o funcionamento dos sistemas nacio-
nais empregados na governança territorial.
As interações entre o planejamento espacial europeu e os sistemas de governança territo-
rial estão, ao fim e ao cabo, implícitas na própria natureza dos processos territoriais. A rejeição
da necessidade comum de interação, ainda que formal, entre o planejamento espacial europeu
e o planejamento institucional significaria, no final das contas, desistir da possibilidade de
orientar, de maneira consciente e eficaz, as transformações do território europeu em direção à
objetiva coesão territorial, que constitui também princípio fundamental.
Para concluir, há três aspectos prioritários que a próxima ESDP deve contemplar:
a) as relações verticais de governança territorial, o que não significa apenas as relações
entre os vários níveis de planejamento, do nível europeu para o nível local, porém espe-
cialmente a qualidade das ligações a serem estabelecidas entre o planejamento espacial
e a regulação do uso da terra;
b) as relações horizontais de governança territorial, que se referem não apenas aos pro-
blemas de coordenação entre os diferentes setores de intervenção, mas, em termos mais
aprofundados, às relações entre estratégias coletivas e projetos individuais (ou, antes,
entre autoridades públicas e o mercado ou entre instituições e cidadãos) na transforma-
ção do território; e
c) finalmente, a relação – que perpassa as anteriores – entre o princípio fundamental da
“subsidiariedade” e o da “coesão” que, dos pontos de vista conceitual e prático, deve
resumir o nodo fundamental da governança territorial no interesse das comunidades
européias.
14�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
CAMAGNI, R. Le ragioni della coesione territoriale: contenuti e possibili strategie di policy. Scienze re-
gionali, n. 2, p. 97-112, 2004.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ). Unity, solidarity, diversity for Europe, its people, and
its territory. Second Report on Economic and Social Cohesion. Bruxelles: Preliminary, 2001
COMMITTEE ON SPATIAL DEVELOPMENT – CSD. European Spatial Development Perspective – ESDP. To-
wards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Final Discussion at the Meeting
of Ministers Responsible for Regional/Spatial Planning of the European Union. Potsdam, 1999.
CONFÉRENCE DES REGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES – CRPM. Study on a construction of a poly-
centric and balanced development model for the European territory of the EU. Santa Maria de Faira,
Rainho & Neves, 2002.
DAVOUDI, S. Making sense of the ESDP. Town and Country Planning, 68 (12), p. 367-369, 1999.
_______. Policentricity in European Spatial Planning. From an Analytical Tool to a Normative Agenda.
European Spatial Planning, 11 (8), p. 979-999, 2003.
DEMATTEIS, G.; JANIN RIVOLIN, U. Per una prospettiva sud-europea e italiana nel prossimo SSSE”, Scienze
regionali, 2, p. 135-150, 2004.
HALL, P. Foreword. In FALUDI, A.; WATERHOUT, B. (Eds.). The making of the European Spatial Develop-
ment Perspective. London/New york: Routledge, 2001.
JANIN RIVOLIN. U. European Spatial Planning. Milan: Angeli, 2004.
JANIN RIVOLIN, U.; FALUDI, A. The hidden face of European Spatial Planning: innovations in governance.
Southern perspectives on European Spatial Planning. Special Issue for European Spatial Planning, 2005.
KUNZMANN, K. R.; WEGENER, M. The pattern of urbanisation in western Europe. Ekistics, 58, p. 350-351,
1991.
NORDREGIO. The role, specific situation and potentials of urban areas as notes in a polycentric develop-
ment. ESPON Project 1.1.1. Third Interim Report. Stockholm, Nordregio, Aug. 2003.
14�
Políticas espaciais européias
RUSCA, R. The development of a European spatial planning policy. In: BENGS, C.; BÖHME (Eds.). The
progress of European spatial planning. Stockholm: Nordregio, 1998, p. 35-48.
SALONE, C. Politiche territoriali. L’azione collettiva nella dimensione territoriale. Torino: UTET Libreria,
2005.
14�
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
José Palma Andrés
Planeamento territorial naUnião Européia
competição/integração/inovação1
1. Os desafios da União Européia no quadro da globalização da economia
A União Européia alcançou avanços significativos nas últimas décadas, refletidos por: a)
uma moeda que se mantém forte (euro); b) um alto nível tecnológico (reconhecido no
mundo inteiro); c) um bom nível de infra-estruturas e equipamentos; d) sucesso politico com
o alargamento e a incorporação de novas nações (éramos seis em 1950, somos 25 em 2006, e
novas nações batem à porta da Europa); e) normalização das relações políticas e econômicas
com Rússia e China (a entrada da China na OMC).
No entanto, a União Européia é confrontada atualmente com importantes desafios:
a) Os desafios da globalização
• liberalização mundial do comércio de mercadorias/serviços;
• o aparecimento das NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação); e
• a rápida expansão da internet e do seu impacto nas relações económicas entre nações e
espaços econômicos no mundo.
b) Tamanho, diversidade e envelhecimento da população
• 457 milhões de pessoas/4 milhões de quilômetros quadrados;
• mais de 250 regiões e Estados federados;
1 O presente texto foi uma adaptação da apresentação do autor durante o Seminário Internacional “Políticas de desenvolvimento regional: desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil”, realizado em Brasília nos dias 23 e 24 de março de 2006 (N. do E.).
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• a taxa de fecundação diminuiu de 2,6 a 1,4% quando para assegurar a renovação das
gerações é preciso pelo menos 2,1%; e
• a população européia representava em 1950 cerca de 22% da população mundial. Man-
tido o ritmo de perda, representará em 2030 apenas 8%.
c) Concentração urbana e exclusão social
• no início dos anos 1990 a Europa contava com 471 aglomerações urbanas com mais de
50 mil habitantes, em continuo com densidades de mais de 500 habitantes/km2;
• é nestas aglomerações que se concentram 60% da população européia;
• além de Londres e Paris, a Europa caracteriza-se por uma estrutura policêntrica única de
grandes, médias e pequenas cidades;
• só na Alemanha existem cinqüenta cidades com mais de 500 mil habitantes;
• entre 1980 e 1990 a população activa nestas aglomerações cresceu cerca de 12%, quando
a população ativa nos serviços cresceu cerca de 20%.
• durante dois séculos, vilas, cidades e áreas metropolitanas conduziram o desenvolvi-
mento econômico na Europa, criando riqueza, inovação e emprego;
• exclusão social de 15 % da população.
d) Rarefação populacional (desertificação)
• a Europa tem níveis de desertificação alarmantes, como no Norte da Europa, onde a
densidade populacional é inferior a oito habitantes por km2 e nalguns casos mesmo com
um habitante por cada 2 km2.
e) Desemprego e baixa taxa de emprego
• taxa de emprego média de 63% (50-75); e
• taxa de desemprego de 9% (4% longa duração).
f) As desigualdades entre Estados e entre regiões de um mesmo Estado
1�1
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
As figuras 1, 2 e 3 ilustram a distrilbuição territorial da população, a malha urbana principal
e as disparidades de renda per capita.
Figura 1 – Densidade populacional, por NUTS, 2003
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 2 – Rede urbana principal
1�3
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
Figura 3 – Disparidades de renda per capita na Europa dos 27 (média igual a 100)
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
2. A Estrategia de Lisboa
Para responder a esses desafios, a União Européia preparou e aprovou por seu Conselho de
Ministros, em reunião realizada em Lisboa, em março de 2000, a denominada Estratégia de
Lisboa.
A competitividade da União Européia num mundo globalizado e bastante competitivo é o
tema central da designada Estratégia de Lisboa aprovada pelos governos dos Estados-membros.
O objetivo principal dessa estratégia é o de tornar a União Européia mais forte em termos de
performance económica e em termos de coesão social e de sustentabilidade. Ela define um
novo objetivo que é o de reforçar o emprego por meio do crescimento, a reforma económica e
a coesão como parte de uma economia baseada no conhecimento.
A idéia é tornar a União Européia na economia baseada no conhecimento a mais compe-
titiva e dinâmica do mundo, capaz de crescer economicamente de maneira sustentável, com
mais e melhor emprego e com mais coesão social.
Foram definidos cerca de cem indicadores, mas os três principais a serem atingidos até 2010
são:
• uma taxa de emprego de 70% da população activa, sendo de 60% para mulheres;
• uma redução da taxa de abandono escolar para menos de metade; e
• aumentar a participação da despesa publica e privada em investigação cientifica e tec-
nológica até pelo menos 3% do Produto Interno Bruto.
Nas últimas décadas, a UE não alcançou sucesso na redução das diferenças em termos eco-
nômicos relativamente aos EUA.
Uma outra razão importante encontra-se no fato de após a metade dos anos 1990 a produ-
tividade nos EUA ter aumentado mais rapidamente que a da UE.
O primeiro grande desafio é o da competitividade internacional. Esta tem-se intensificado,
em particular em virtude da Ásia, com relevo para a China e para Índia. Esses países conseguem
pôr no mercado jovens com elevadas qualificações a baixo custo, o que modifica as regras do
jogo. Nesse sentido, a UE tem de se desenvolver na área de especialização que lhe é própria e
que passa pela economia do conhecimento.
Um segundo grande desafio está relacionado com o envelhecimento da sua população.
A redução preocupante das taxas de natalidade e o aumento da esperança de vida dos cida-
dãos produzem modificações dramáticas na estrutura da população da UE. Esses dois aspec-
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
tos associados têm criado importantes problemas nas finanças públicas das diferentes nações
(aumento das despesas com a saúde, redução da população em idade activa com repercussões
no financiamento do modelo europeu de segurança social).
O aspecto positivo do alargamento é o de permitir taxas de crescimento econômico rápidas
da produção e da produtividade, criando um espaço econômico dinâmico na Europa Central
e Oriental.
Se a Europa deseja manter seu modelo social e seus níveis de vida e, ao mesmo tempo,
acelerar a criação de emprego e aumentar sua produtividade (e portanto aumentar sua com-
petitividade), ela tem de fazer um grande numero de reformas. Entre essas, cinco se destacam,
a saber:
• economia do conhecimento;
• mercado interno;
• clima empresarial;
• mercado de trabalho mais flexível; e
• sustentabilidade do meio ambiente.
Por isso foi decidido que cada Estado membro deveria preparar um Programa Nacional
de Reformas (já elaborado e apresentado à Comissão Européia), o qual seria seguido na sua
implementação pela Comissão Européia e, a cada ano, por um relatório ao Conselho Europeu
da Primavera.
É nesse o contexto que se inserem as políticas nacionais de desenvolvimento, as políticas
regionais de cada uma das Nações, as Políticas Comuns da UE e, em particular, a Política Regio-
nal da União Européia.
3. Contribuição da política regional da UE para a Estratégia de Lisboa
No período de programação 2000-2006, os Fundos Estruturais ligados à Política Regional Euro-
péia contribuíram de forma significativa para o cumprimento dos objetivos da Estratégia de
Lisboa, como indicam os dados a seguir.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Em bilhões de euros
TOTAL FUNDOS ESTRUTURAIS (EUR 15) 2132
Total da Contribuição da Estratégia de Lisboa 100
• Educação e formação profissional 34,9
• Apoio às empresas 29,1
• Infra-estruturas de transporte 23,5
• Investigação cientifica e tecnológica 6,3
• Telecom/sociedade da informação 2,0
• Serviços ao cidadão 1,9
• Energia, incluindo renováveis 1,1
2
No que se refere à educação e à formação profissional, os investimentos estão ligados dire-
tamente ao crescimento econômico e à criação de empregos sustentáveis. No que se refere
ao apoio às empresas, os mesmos foram distribuídos como: subsídios directos e serviços às
empresas (9,4 bilhões de euros), inovação e transferência de tecnologia (18,2 bilhões de euros),
Engenharia Financeira (1,5 bilhões de euros) Com relação à infra-estrutura de transporte, os
investimentos foram distribuídos em: auto-estradas, estradas, portos, aeroportos, vias navegá-
veis, caminhos-de-ferro, equipamentos multimodais, sistemas de transporte inteligentes. Para
a área de investigação científica e tecnológica, os investimentos foram para a compra de
equipamentos, formação de investigadores. Nos serviços ao cidadão privilegiaram-se saúde e
educação.
4. A Política Regional como instrumento da Estratégia de Lisboa
A Política Regional é antes de tudo uma política de crescimento e solidariedade. Ela é com-
plementar às políticas regionais nacionais e é o motor principal para promover a convergência
de renda entre nações e regiões (mais imaginativa, mais exigente no conteúdo e no tempo de
execução).
2 213 bn = 40% população elegível (EUR 15).
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
Ela pode ser assim sintetizada:
• 1975 – 1985 – Reembolso das despesas de investimento
• 1986 – 1987 – Inicio da programação plurianual
• 1989 – 1989 – Primeira duplicação dos Fundos
• 1994 – 1999 – 142 bn (65% regiões mais pobres)
• 2000 – 2006 – 235 bn (64% regiões mais pobres)
• 2007 – 2013 – 307 bn (81% regiões mais pobres)
Ela procura estimular as nações e as regiões para uma atitude proactiva de desenvolvimento,
mesmo com um financiamento de apenas 0,37% do PIB europeu. O seu impacto é, apesar de
tudo, bastante considerável quando observamos a convergência de países como a Irlanda, a
Espanha, Grécia e Portugal nas últimas décadas. Ela procura responder entre outros objetivos
às disparidades em termos de competitividade e acessibilidade das diferentes partes do seu
território. A esse respeito, as figuras a seguir indicam as diferenças de competitividade.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 4 – Diferenças de competitividade
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
Figura 5 – Potencial de acessibilidade multimodal
0 < 20
20 < 40
40 < 60
60 < 80
80 < 100
100 < 120
120 < 140
140 < 160
160 < 180
180 and +
Acessibilidade (ESPON Space = 100)
Potential accessibility, multimodal, 2001
© EuroGeographics Association for the administrative boundaries
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
5. Política de coesão 2007-2013
O volume de recursos previstos no orçamento para o período 2007-2013 é o seguinte:
Em bilhões de euros
Política Regional (Fundos Estruturais) três objetivos 307
• Convergência (regiões PIB/HAB inferior a 75%) 251
• Competitividade e Emprego (todas as outras regiões) 49
• Coesão territorial (cooperação transfronteiriça…) 7
Fundo de Desenvolvimento Rural 70
Fundo de Desenvolvimento da Pesca 4
A preocupação principal é a concentração dos recursos financeiros nas regiões onde as
necessidades são maiores, contribuindo para a convergência destas a prazo com a média euro-
péia sem esquecer as outras regiões, cuja competitividade deve ser pelo menos mantida ou
acelerada. Assim, todas as regiões são elegíveis à Política, sendo umas com mais e outras com
menos recursos.
Há uma clara preocupação de solidariedade para com as regiões mais desfavorecidas e para
com as populações carentes, as quais são excluídas do processo econômico e social (cerca de
15% da população da UE).
Foram definidos por isso três objetivos de Política.
Convergência – acelerar a convergência das nações e regiões menos desenvolvidas melho-
rando as condições para o crescimento e o emprego por meio do aumento e da melhoria da
qualidade do investimento em capital físico e humano, o desenvolvimento da inovação e da
sociedade do conhecimento, a adaptabilidade a modificações económicas e sociais, proteção e
melhoria do meio ambiente, assim como a eficiência administrativa. Esse objetivo constitui a
prioridade dos Fundos.
Competitividade e emprego – aplica-se fora das regiões mais desfavorecidas e tem como
missão reforçar a competitividade e a atração das regiões elegíveis, assim como o seu emprego,
por meio da antecipação de mudanças económicas e sociais, incluindo aquelas ligadas à libe-
ralização do comércio, com aumento e qualidade do investimento em capital físico e humano,
1�1
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
desenvolvimento da inovação e da sociedade do conhecimento, espírito empresarial, proteção
e melhoria do meio ambiente, melhoria da acessibilidade e adaptabilidade de trabalhadores e
empresas, assim como o desenvolvimento de empregos de inclusão social.
Coesão Territorial – tem por missão reforçar a cooperação transfronteiriça por meio de
iniciativas locais e regionais, reforçar a cooperação transnacional por meio de ações de desen-
volvimento territorial integrado ligado a prioridades comunitárias e reforçar a cooperação
inter-regional e a troca de experiências em nível territorial apropriado.
6. Programação 2007-2013
A programação para o próximo período baseia-se na elaboração de documentos, que possuem
uma hierarquia jurídica e uma sequência lógica:
• Regulamentos – o Conselho Europeu aprova sobre proposta da Comissão Européia;
• OEE (Orientações Estratégicas Européias) – o Conselho Europeu aprova sobre proposta da
Comissão Européia;
• QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) – as nações aprovam em diálogo com
a Comissão Européia; e
• PO (Programas Operacionais) – aprovado pela Comissão Européia.
É uma arquitetura que baseada na experiência do passado procura a simplificação, a subsi-
diariedade (descentralização da gestão) e é norteada por princípios de boa gestão financeira e
de boa governabilidade (tratando-se do dinheiro dos contribuintes).
Os princípios são: programação, compartilhamento, avaliação e controle de resultados.
É no nível do Programa Operacional que é efectuado o compromisso jurídico-financeiro
entre a Comissão Européia (garante da execução orçamental da EU) e a autoridade de gestão
do programa (ministério, região, Estado federado etc.) por um período de sete anos.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
7. Orientações estratégicas
São três as prioridades definidas para a Política de Coesão Européia:
7.1 - Aumentar a atração das nações, Estados federados, regiões, cidades para novos
investimentos mediante a melhoria das acessibilidades, assegurando adequada
qualidade e nível de serviços, preservando o seu potencial meio ambiente.
7.2 - Encorajar a inovação, o espírito de empresa e a economia do conhecimento.
7.3 - Criar mais e melhores empregos, atraindo mais gente para o mercado de trabalho,
melhorando a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas, aumentando o
investimento no capital humano.
7.1 Aumentar a atração
a) Expandir e melhorar as infra-estruturas de transporte
Tendo em conta os princípios anteriormente referidos, as orientações recomendadas para as
ações a empreender são as seguintes:
• os Estados-membros devem dar prioridade aos trinta projetos de interesse europeu,
localizados nos Estados-membros e nas regiões elegíveis a título do objetivo de conver-
gência. Deve ser concedido apoio a outros projetos da Rede Transeuropéia (RTE) quando
tal se justifique de forma evidente como contribuição para o crescimento e a compe-
titividade. No âmbito deste grupo de projectos, merecem especial atenção as ligações
transfronteiriças, bem como as ligações supervisionadas pelos coordenadores europeus
especialmente designados nos Estados-membros. Estes últimos devem recorrer aos coor-
denadores como meio de encurtar o período de tempo entre a programação da rede e a
sua construção efectiva;
• no contexto de uma estratégia regional integrada dos transportes e das telecomunica-
ções que abranja as zonas urbanas e rurais, serão igualmente importantes os investi-
mentos complementares nas ligações secundárias, a fim de assegurar que as regiões se
beneficiem das oportunidades criadas pelas redes principais;
1�3
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
• em especial, o apoio às infra-estruturas ferroviárias deverá procurar garantir uma
melhor acessibilidade.;
• a promoção de redes de transporte sustentáveis do ponto de vista ambiental, o que
inclui instalações de transportes públicos (tais como infra-estruturas de estacionamento
para os trabalhadores pendulares), planos de mobilidade, anéis de circulação destinados
a reforçar a segurança nos cruzamentos, vias de tráfego não motorizado (pistas para
velocípedes, percursos pedonais). São igualmente contempladas as medidas que prevêem
a acessibilidade aos serviços de transportes públicos para determinados grupos (idosos,
pessoas com deficiência), bem como redes de distribuição de combustíveis alternativos;
• a fim de garantir a máxima eficiência das infra-estruturas de transportes para a pro-
moção do desenvolvimento regional, devem ser melhoradas as conexões dos territórios
sem litoral à rede transeuropéia (TEN-T). A esse respeito, deve ser promovido o desen-
volvimento de ligações secundárias, com especial ênfase para o transporte intermodal e
o transporte sustentável, devendo, nomeadamente, ser efectuada a ligação dos portos e
aeroportos ao interior; e
• deve ser prestada maior atenção ao desenvolvimento das “auto-estradas do mar” e ao
transporte marítimo de curta distância como alternativa viável ao transporte rodoviário
e ferroviário de longo curso.
b) Reforçar as sinergias entre crescimento econômico e proteção
ambiental
As orientações recomendadas para as ações a empreender são as seguintes:
• suprir as necessidades significativas de investimentos em infra-estruturas, em especial
nas regiões abrangidas pelo objetivo da convergência, nomeadamente nos novos Esta-
dos-membros, a fim de cumprir a legislação em matéria de meio ambiente nos setores
da água, dos resíduos, do ar e da proteção da natureza e das espécies;
• assegurar condições atractivas para as empresas e para o seu pessoal altamente qua-
lificado, o que pode ser conseguido ao se promover um ordenamento do território que
reduza a expansão descontrolada das zonas urbanas e a reabilitação do ambiente físico,
incluindo o patrimônio natural e cultural. Os investimentos nesse sector devem estar
claramente ligados ao desenvolvimento de empresas inovadoras e criadoras de emprego
nos locais em questão;
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• promover, para além dos investimentos nas fontes de energia sustentáveis e nos trans-
portes, os investimentos que contribuam para honrar os compromissos assumidos pela
UE no âmbito do Protocolo de Quioto; e
• adotar medidas de prevenção de riscos por meio de uma melhor gestão dos recursos
naturais, de uma investigação mais específica e de uma melhor utilização das TIC, bem
como de políticas mais inovadoras de gestão pública.
c) Reduzir a tradicional dependência energética por meio de melhorias
na eficiência energética e nas energias renováveis
Nesse domínio, as orientações relativas às ações a empreender são as seguintes:
• apoiar os projectos destinados a melhorar o rendimento energético e a divulgar modelos
de desenvolvimento de baixa intensidade energética;
• apoiar o desenvolvimento de tecnologias renováveis e alternativas (eólica, solar, biomassa)
que podem conferir à UE uma vantagem comparativa, reforçando desse modo a sua posi-
ção competitiva. Tais investimentos contribuem igualmente para o objetivo de Lisboa de
assegurar que até 2010 21% da eletricidade seja gerada por fontes renováveis; e
• no que respeita às fontes de energia tradicionais, concentrar os investimentos no desen-
volvimento das redes, quando o mercado não funcionar. Os referidos instrumentos dizem
essencialmente respeito às regiões abrangidas pelo objetivo de convergência.
7.2 Inovação – espírito de empresa – economia do
conhecimento
a) Aumentar e melhorar o investimento na investigação científica
e tecnológica
A competitividade das empresas européias depende fundamentalmente da sua capacidade de
introduzir novos conhecimentos no mercado o mais rapidamente possível. Essa capacidade é
reforçada pela ajuda pública ao investimento no desenvolvimento tecnológico ( IDT), nomea-
damente às empresas quando as condições econômicas e de mercado o justificam. Além disso,
a questão da apropriação dos resultados da investigação e a necessidade de atingir uma massa
crítica em determinados sectores de investigação justificam o apoio público à IDT.
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
As orientações recomendadas para as ações a empreender no domínio da IDT são as
seguintes:
• reforçar a cooperação entre as empresas, bem como entre estas últimas e as institui-
ções públicas de investigação e educação superior, apoiando a criação de agrupamentos
regionais e transregionais de excelência (clusters); 3
• apoiar as actividades de IDT nas PME e conceder a estas últimas o acesso aos serviços de
IDT nas instituições de investigação financiadas com dinheiros públicos;
• apoiar as iniciativas regionais de carácter transfronteiriço e transnacional destinadas a
reforçar a colaboração no sector da investigação e a criação de capacidades nos sectores
prioritários da política de investigação da UE; e
• reforçar a criação de capacidades de P&D, incluindo as TIC, as infra-estruturas de inves-
tigação e o capital humano nos sectores que possuem um potencial de crescimento
significativo.
b) Facilitar a inovação e o espírito de empresa
Nesse domínio, as orientações relativas às ações a empreender são as seguintes:
• tornar a oferta regional em matéria de educação, inovação e IDT mais eficaz e mais
acessível às empresas, nomeadamente às PME, como por meio da criação de pólos de
excelência,4 do reagrupamento das PME do sector das tecnologias de ponta em torno de
instituições de investigação e tecnologia ou do desenvolvimento e criação de agrupa-
mentos regionais junto às grandes empresas;
• prestar serviços de apoio às empresas a fim de permitir que estas últimas, em especial
as PME, reforcem sua competitividade e se internacionalizem, nomeadamente aprovei-
tando as oportunidades criadas pelo mercado interno. Os serviços prestados às empresas
devem dar prioridade à exploração das sinergias (por exemplo, transferência de tecno-
logias, parques científicos, centros de comunicação TIC, viveiros de empresas e serviços
conexos, colaboração com agrupamentos) e prestar um apoio de tipo mais tradicional
em matéria de gestão, comercialização, assistência técnica, contratação e outros serviços
profissionais e comerciais;
• assegurar que os pontos fortes da Europa no domínio das ecoinovações sejam plena-
mente aproveitados. As ecoinovações devem ser promovidas a par da melhoria das prá-
3 Bons exemplos na Áustria (automóvel, biotecnologia em Graz etc.), na Alemanha (automóvel, novas Tecnologias Informação e Comunicação em Dresden etc.).
4 Bons exemplos na Áustria, Alemanha, Suécia/Finlândia (exemplo, madeira etc.) e na França (pôles de compétitivité).
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
ticas das PME, mediante a criação de sistemas de gestão ambiental. Se investirem agora
nesse sector, num futuro próximo, quando outras regiões perceberem a necessidade
desse tipo de tecnologias, as empresas da UE estarão em boa posição. Esse domínio está
claramente ligado ao Programa-Quadro “Competitividade e Inovação”; e
• promover o espírito empresarial, facilitar a criação e o desenvolvimento de novas empre-
sas e incentivar as empresas inovadoras (spin outs e spin offs) a partir das instituições
ou das empresas de investigação, utilizando diversas técnicas (por exemplo, realização
de campanhas de sensibilização, criação de protótipos, orientação e prestação de apoio
tecnológico e de gestão aos futuros empresários).
c) Promover a sociedade de informação para todos
As orientações recomendadas para as ações a empreender são as seguintes:
• assegurar a adopção das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) pelas empresas
e pelos agregados familiares e promover o desenvolvimento por meio de um apoio equi-
librado da oferta e da procura de produtos e serviços públicos e privados neste sector e
de maiores investimentos no capital humano.
Essas ações devem aumentar a produtividade, promover uma economia digital aberta e
competitiva e uma sociedade inclusiva (por exemplo, melhorando a acessibilidade para as pes-
soas com deficiências e para os idosos), estimulando assim o crescimento e o emprego.
• assegurar a disponibilidade de infra-estruturas relacionadas com as TIC nos casos em
que o mercado não o faz a um custo comportável a um nível compatível com os serviços
necessários, em especial nas zonas rurais isoladas e nos novos Estados-membros.
d) Melhorar o acesso ao financiamento
As orientações recomendadas para as ações a empreender são as seguintes:
• apoiar instrumentos distintos das subvenções, tais como empréstimos, garantias para
empréstimos subordinados, instrumentos convertíveis (dívida mezzanine) e capital de
risco As subvenções devem ser utilizadas para a criação e a manutenção das infra-
estruturas que facilitem o acesso aos financiamentos (por exemplo, serviços de trans-
ferência de tecnologias, viveiros de empresas, redes de investidores privados informais
(business angels), programas de investimento rápido). Devem igualmente ser promo-
vidos mecanismos de garantia e de garantia mútua, em especial para facilitar o acesso
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
das PME ao microcrédito. O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu
de Investimento (FEI) poderiam dar um valioso contributo nesse sentido; e
• atingir grupos específicos, tais como os jovens e as empresárias ou grupos desfavoreci-
dos, incluindo as minorias étnicas.
7.3 Mais e melhores empregos
a) Atrair e reter mais cidadãos no mercado de trabalho e modernizar os
sistemas de proteção social
No âmbito das Orientações para o Emprego, os Estados-membros são convidados a:
• executar políticas de emprego que visem atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade
e a produtividade do trabalho e reforçar a coesão social e territorial;
• promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida;
• garantir mercados de trabalho inclusivos, aumentar a atracção do trabalho e tornar este
último compensador para os desempregados, incluindo as pessoas desfavorecidas e as
pessoas inactivas; e
• melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho.
b) Melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e empresas e a
flexibilidade do mercado de trabalho
No âmbito das Orientações para o Emprego, os Estados-membros são convidados a:
• promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e reduzir a seg-
mentação do mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros
sociais; e
• assegurar uma evolução dos custos salariais e dos mecanismos de adaptação salarial que
sejam favoráveis ao emprego.
c) Aumentar o investimento em capital humano por meio de melhor
educação e formação profissional
No âmbito das Orientações para o Emprego, os Estados-membros são convidados a:
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• alargar e reforçar o investimento no capital humano; e
• adaptar os sistemas de educação e formação às novas exigências em matéria de compe-
tências.
d) Capacidade administrativa
• apoiar a concepção de políticas e de programas adequados e o controlo, a avaliação e
a avaliação do impacto (por meio de estudos, estatísticas, peritagens e previsões), bem
como a coordenação entre departamentos e o diálogo entre os organismos públicos e
privados competentes; e
• reforçar as capacidades de execução das políticas e dos programas, nomeadamente
no que respeita a formas de assegurar a inviolabilidade da legislação (crime proofing)
e à aplicação da legislação, em especial por meio da programação das necessidades de
formação, de relatórios sobre a evolução das carreiras, da avaliação, de procedimentos
de auditoria social, da aplicação de princípios de gestão aberta, da formação dos quadros
directivos e do restante do pessoal e do apoio específico aos principais serviços, organis-
mos de inspecção e agentes socioeconômicos.
e) Assegurar aos trabalhadores uma boa saúde
Os Estados-membros são convidados a prestar uma atenção especial aos seguintes aspectos:
• procurar evitar os riscos à saúde por meio de campanhas gerais de informação sanitária,
garantindo a transferência de conhecimentos e de tecnologias e assegurando que os
serviços de saúde possuam as competências, os produtos e o equipamento necessários
para prevenir os riscos e minimizar os danos potenciais; e
• colmatar as deficiências das infra-estruturas de saúde e promover uma prestação de
serviços eficaz, nos casos em que o desenvolvimento econômico das regiões elegíveis a
título do objetivo de convergência esteja a ser afectado. Essa acção deve ter por base
uma análise exaustiva do nível óptimo da prestação de serviços e das tecnologias ade-
quadas, tais como os serviços de telemedicina, e do potencial de redução dos custos dos
serviços de saúde em linha (“e-saúde”).
1��
Planeamento territorial na União Européia competição/integração/inovação
8. Instrumentos da programação
Os instrumentos da programação são fundamentalmente dois tipos de documentos:
• QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional
• PO – Programa Operacional
O QREN é elaborado por cada um dos Estados-membros e é a referência programática
dos PO, que podem ter um conteúdo sectorial/nacional ou territorial (região, Estado federado,
grupo de regiões ou grupo de países no caso do Objetivo Cooperação Territorial.
O seu conteúdo é sinteticamente o seguinte:
QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional)
• análise das forças e das fraquezas do país e das regiões;
• definição de uma estratégia de desenvolvimento regional; e
• lista dos Programas Operacionais necessários (regionais e/ou sectoriais).
PO (Programas Operacionais)
• análise da situação da região ou sector (forças e fraquezas);
• indicação da estratégia escolhida de resposta;
• indicação das prioridades escolhidas e sua justificação;
• demonstrar coerência com Orientações Estratégicas Européias e com a Estratégia de
Lisboa (earmarking); e
• Plano financeiro plurianual.
A Política Regional também lança mão de instrumentos financeiros específicos fora do
Orçamento Comunitário e Nacionais como:
• regime de ajudas de estado às empresas;5
• Banco Europeu de Investimentos
– empréstimos aos sectores público e privado;
– JASPERS – assistência técnica, preparação de projectos públicos;
5 São regimes propostos pelos Estados-membros para ajudar as empresas e que têm de ser aprovados pela Comissão Européia, garantido o respeito das regras de concorrência.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• Fundo Europeu de Investimento:
– capital de risco;
– JESSICA – operações de renovação e requalificação Urbana; e
– JEREMIE – microcrédito
9. Conclusão
A Política Regional Européia não é uma política social. É uma política de desenvolvimento
econômico e social que privilegia o investimento produtivo criador de emprego competitivo
e sustentável e ainda o investimento em infra-estruturas e em equipamentos que permitam
melhorar a atratividade das empresas e das pessoas para viver e trabalhar numa determinada
parte do território europeu.
É uma política de solidariedade entre povos europeus onde as regiões mais ricas contribuem
para o desenvolvimento das mais pobres, permitindo a estas se desenvolverem mais rapida-
mente, crescendo economicamente e assim promovendo benefícios com mais rapidez a todo o
conjunto europeu desse desenvolvimento (mercado).
É uma política que privilegia o compartilhamento, isto é, o envolvimento de todos os actores
potenciais (Estado, regiões, municípios, associações patronais e sindicais, universidades, organi-
zações não-governamentais etc.) na preparação dos programas, na sua implementação e na sua
avaliação, para que a sociedade no seu conjunto tenha uma palavra a dizer. Ela é complementar
às Políticas Nacionais e com elas coordenada.
É uma política dinâmica que, regra geral, é reorientada a cada sete anos em função dos
novos parâmetros (necessidades, evolução das economias mundial e nacionais, resultados da
implementação do período de programação precedente).
Para o Brasil, a Política Regional Européia pode constituir uma fonte de inspiração no que
ela tem de positivo e também de menos positivo, com o benefício da informação sobre erros
cometidos e sobre casos de sucesso.
1�1
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
Sergio Boisier
As fronteiras nos processos de integração supranacional:
a experiência da União Européiae as lições para a América Latina
1. A questão fronteiriça na União Européia
As fronteiras…as cicatrizes da Europa.
Robert Schuman
A União Européia atual surge em 1957 com o Tratado de Roma, que dá forma a uma estru-
tura mais ampla do que a da Comunidade do Carvão e do Aço, criação franco-alemã em
sua essência. A semente do atual processo revela uma questão de grande importância política,
cuja ausência se mostra evidente no processo de integração latino-americana, isto é, uma ver-
dadeira comunhão ideológica, à época articulada em torno do ideário social-cristão, referencial
ideológico e político de Adenauer, de Gasperi e Schuman.
Segundo Cuadrado-Roura,1 o Tratado de Romanem nem sequer fazia menção explícita à
questão regional, territorial ou fronteiriça. Somente após dez anos – em 1967 – criava-se a
Diretoria-Geral de Política Regional, e, em 1974, estabelecia-se o FEDER (Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional). Esse fundo constituía o principal instrumento financeiro de polí-
tica regional que, segundo Cuadrado, de fato daria origem a uma política regional da comuni-
dade. O mesmo autor, no entanto, sustenta que, em 1988, fez-se profunda reforma que daria
início a uma autêntica e vigorosa política regional.
Um importante passo, dado a seguir, seria a celebração, em 1992, do Tratado de Maastricht,
pelo qual se estabelecia a União Monetária Européia e a criação do Fundo de Coesão. A política
regional recebia, então, impulso adicional, com a Agenda 2000 e o Conselho de Berlim; atual-
mente, está-se processando a reformulação da Política Regional da Comunidade (PRC).
1 Exposição feita pelo professor Juan Ramón Cuadrado-Roura na Cepal (Santiago de Chile) em 28 de setembro de 2004, da qual não se dispõe de registro escrito.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
O quadro a seguir, preparado por Cuadrado-Roura, lista os cinco principais objetivos da PRC
até o início deste século, sem que se faça a mais leve menção às áreas de fronteira.
Quadro 1 – Objetivo da PRC até 2000Definição de objetivos, finalidade e critérios de elegibilidade
Objetivos
(numéricos) Finalidade Critérios de elegibilidade Fundos
1 Fomentar o desenvolvimento e o ajuste estrutural das regiões menos desenvolvidas
Regiões com um PIB per capita de ≤ 75 por 100 da média comunitária
FEDER, FSE e FEOGA-O
2
Reestruturar áreas industriais e regiões em decadência
Regiões com taxa de desemprego acima da média comunitária: alta porcentagem de desemprego industrial ou emprego industrial em queda
FEDER e FSE
3
Combater o desemprego de lon-ga duração e facilitar a inserção de jovens e de grupos especiais no mercado de trabalho
Qualquer região em que se encontrem grupos afetados nos termos anteriores pelo problema do desemprego
FSE
4 Facilitar a inserção profissional dos trabalhadores jovens
Pessoas em idade ativa abaixo dos 25 anos
FSE
5a Acelerar a adaptação das estru-turas agrícolas
Áreas afetadas pelas reformas da Política Agrícola Comum (PAC)
FEOGA-O
5b
Acelerar o desenvolvimento e o ajuste estrutural das zonas rurais
Áreas com baixo nível de desenvolvimen-to, trabalho agrícola elevado, baixo nível de renda agrária, baixa densidade popula-cional ou tendência ao despovoamento
FEDER, FSE e FEOGA-O
Fonte: Comissão da Comunidade Européia. Elaborado pelo autor.
É digno de nota o fato de o Objetivo 2 estabelecer a recuperação de regiões, regiões fron-
teiriças ou partes de regiões gravemente afetadas por queda na atividade industrial, segundo
dispõe o artigo 1o do regulamento de no 2081/93, de tal modo que, no início dos anos 1990, a
questão fronteiriça começasse a desenhar-se de maneira explícita.
As políticas regionais comunitárias expressam-se, preferencialmente, por meio dos Fundos
Estruturais FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional); FSE (Fundo Social Europeu) e
FEOGA-O (Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola). O FEDER destina-se a inves-
timentos produtivos, infra-estruturais, ao desenvolvimento endógeno, ao desenvolvimento
local e a pequenas e médias empresas e ainda a investimentos em educação e em saúde, assim
1�3
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
como a projetos piloto, especialmente nas regiões fronteiriças. O FSE destina-se, especialmente,
ao mercado de trabalho, formação profissional, contratação e geração de empregos e a ações
inovadoras. O FEOGA, na versão Orientação, destina-se à agricultura e ao desenvolvimento do
meio rural. Ainda que não constituam estritamente fundos estruturais, juntaram-se, aos ante-
riormente citados, o IFOP (Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas) para a atividade
pesqueira e o BEI, Banco Europeu de Investimentos.
Segundo González Vallvé (1995), a atuação dos fundos baseia-se em quatro princípios bási-
cos: concentração, cooperação, programação e inclusão. Esses fundos atuam por dois caminhos
distintos: um deles por iniciativa nacional (90% dos recursos), o outro por iniciativa comuni-
tária (9% dos recursos). Por fim, estabeleceu-se, em Maastricht o Fundo de Coesão, exclusiva-
mente gerido pelos Estados-membros, destinado ao investimento nas redes transeuropéias e
no meio ambiente.
Na visão desse documento, o mais importante é o Programa INTERREG II (1994/1999), conti-
nuação do Programa INTERREG 1989/1993, no que se refere às dotações financeiras no âmbito
das iniciativas comunitárias, cujos objetivos são:
• ajudar as áreas de fronteira, exteriores e interiores da UE, a superar problemas de desen-
volvimento específicos, decorrentes de seu relativo isolamento;
• incentivar a criação e o desenvolvimento de redes de cooperação entre as fronteiras
interiores;
• contribuir para que as áreas fronteiriças se adaptem ao novo papel de áreas fronteiriças
de um mercado único;
• beneficiar-se das novas oportunidades de cooperação com terceiros países (cooperação
descentralizada); e
• completar as redes de energia.
No que se refere à cooperação transfronteiriça, vale destacar três tipos de ação:
• planejamento e implementação conjuntos de programas transfronteiriços;
• aplicação de medidas que aumentem o fluxo de informação entre os lados das fron-
teiras; e
• criação de estruturas comuns, institucionais e administrativas.
Esteban Peralta Losilla (1995), internacionalista espanhol, junta interessantes anotações
marginais sobre o papel do Conselho da Europa sobre essas questões. Segundo Peralta, desde
sua criação em 1949, o Conselho da Europa inclui a cooperação fronteiriça em seu programa
de atuação. Em 1955, a Assembléia Parlamentar criou um fórum permanente para as entidades
territoriais subnacionais, denominada Conferência dos Poderes Locais e Regionais da Europa.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Com base nesse fórum, o Conselho da Europa estabeleceu, em 1980, o Convênio Marco Europeu
para a Cooperação Fronteiriça, que, no entanto, mantém o princípio de que as entidades ter-
ritoriais, para atuar em questões de direito internacional, necessitam de expressa autorização
do Estado.
No caso específico da França (a bête noir, depois do referendo constitucional de maio de
2005), as leis de 1982 e 1992 sobre direitos e liberdades dos entes territoriais confirmam que
as coletividades territoriais e seus agrupamentos estão aptos a celebrar convênios com coleti-
vidades estrangeiras.
Um aspecto interessante, que também imporá marcante diferença com a América Latina, é a
presença vital da sociedade civil européia em relação ao tema das fronteiras. Em 1971, criou-se a
Associação das Regiões Fronteiriças (ARFE), a qual desempenhou papel importante na criação da
Iniciativa Comunitária de Integração Transfronteiriça. Em um documento intitulado Prioridades
políticas del Comité de las Regiones para el período 2002-2006 (ISBN 92-895-0134-0, 2002),
esse Comitê definiu o papel das regiões e das regiões de fronteira em relação a oito temas prio-
ritários, quais sejam: coesão territorial, econômica e social; ampliação da UE; governança euro-
péia; dimensão regional e local da globalização; desenvolvimento de uma Europa sustentável;
modelo social europeu; educação, cultura e juventude; e consolidação do papel institucional e
político do Comitê de Regiões da UE. Isso soa a fantasia no contexto latino-americano!
É mister acrescentar a consolidação do conceito de “Eurorregiões” (regiões européias),
vale dizer, territórios geográficos fronteiriços, pertencentes a países diferentes, em geral paí-
ses membros europeus, nos quais se busca por em prática o objetivo do desaparecimento
das fronteiras (SEVERIJNS, 1995). Entre as mais importantes dessas regiões, contam-se as
eurorregiões do Reno-Mosela-Norte, a do Reno-Waal, a da Benelux-Território Central, a da
Instituição Eurorregional Mosela-Reno, todas elas na fronteira holandesa com a Alemanha e a
Bélgica. A estas eurorregiões juntam-se a Comunidade de Trabalho dos Pirineus, a eurorregião
que agrupa Catalunha, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon e a Rede C6, que inclui as cidades
de Barcelona, Valência, Saragosa, Toulouse, Montpellier e Palma de Maiorca.
De novo, na perspectiva da América Latina, tudo isso parece fantasia.
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
2. A geografía e as fronteiras na globalização: da rigidez da geografía política real do passado à flexibilidade da geografía política virtual do futuro
Entre meu povo e teu povo,
há um ponto e um travessão;
o travessão diz não há paz,
o ponto, via fechada.
E assim, entre todos os povos,
travessão e ponto, ponto e travessão,
com tantos travessões e pontos
o mapa é um telegrama
Nicolás Guillén
Surge nova geografia política. A geografia que emerge da globalização se caracteriza pela con-
formação simultânea de espaço único e de múltiplos territórios produtivos, com manifestações
geográficas no espaço físico e no espaço virtual.
A globalização dispõe de um motor – a incessante inovação (COSTA-FILHO, 1996). Esse fluxo
de inovação evidencia, por sua vez, duas características distintas: custos crescentes em P&D,
por um lado, e produtos com ciclo de vida cada vez menor, por outro. Essas duas forças levam
obrigatoriamente à maior escala possível de comercialização, com vistas ao retorno do capital;
não se admitem, pela lógica do capitalismo tecnocognitivo, barreiras tarifárias e paratarifárias,2
nem estrangulamentos nos sistemas de transporte. Os produtos devem ser lançados simul-
taneamente em Londres, Nova york, Tóquio, Buenos Aires, São Paulo e Singapura. O espaço
econômico único transforma-se em requisito de reprodução do sistema capitalista. Diga-se de
passagem, esse espaço é nitidamente perrouxiano.3
A globalização traz consigo várias dialéticas: agregação e segmentação territorial é tão-
somente uma delas. Ao mesmo tempo em que se configura um espaço único, o Estado-Nação
submete-se a enormes tensões territoriais.4 Essas tensões passam a obrigar os Estados nacionais
2 Assim é no longo prazo e, sobretudo, na lógica do discurso.3 François Perroux, o destacado economista francês.4 Basta recordar, rapidamente, tudo o que se passou durante a segunda metade dos anos 1990 na Alemanha (plebiscito sobre os
länders – estados), na Itália (proposta de criação da Padânia por Ugo Bossi), na França (maior autonomia da Córsega e a crise política), na Escócia (novo estatuto), no Canadá (reiteração do secessionismo de Quebec), tensões regionais no Brasil, Colômbia e Chile etc.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
a abdicar de não poucas funções propriamente políticas, transferindo-as para instâncias supra-
nacionais, como agora se observa claramente na União Européia. De modo semelhante, esses
mesmos Estados abdicam de funções de regulação e incentivo em favor de instâncias internas
ao próprio aparato estatal, por meio da descentralização, por exemplo. Como resultado disso,
os territórios organizados (cidades e regiões) convertem-se em novos atores do cenário mun-
dial, competindo pelos mesmos recursos financeiros e tecnológicos.
Mais importante ainda, processam-se novas modalidades de configuração territorial, novos
modos de se “criar uma região”, inclusive com aprovação constitucional, como se vê na Cons-
tituição argentina (artigo 124), na Constituição colombiana (artigos 306 e 307), assim como
na peruana. Novas formas essas que se apóiam em procedimentos mais democráticos, mais
participativos e mais flexíveis, que apontam para a conversão de novas regiões em “regiões
ganhadoras”, como agora é moda referir-se, ou, pelo menos, para minimizar a possibilidade
de que venham a tornar-se perdedoras, por um grau de competição que as torna quase que
categorias finais e irreversíveis. As novas regiões que estão surgindo5 (pivotais, associativas e
virtuais, em linguagem cunhada por esse autor) se desenham tanto no espaço físico quanto no
ciberespaço. Pode-se prever que na sociedade do conhecimento de Sakaiya as regiões virtuais
do ciberespaço assumirão importância, na medida em que as transações de intangíveis (infor-
mação) superarem, em valor, as transações materiais do comércio mundial.
Essa nova geografia, descrita de modo sucinto, provocará novo ordenamento territorial em
todos os países e decorre da lógica da expansão do capitalismo desterritorializado, que acom-
panha a atual segmentação dos processos industriais em termos funcionais e territoriais.
Sob a máxima pressão das exigências feitas pela competição em nível global, os territórios
(organizados) tratam de incorporar a maior quantidade possível de fatores de êxito, fatores
esses que os ajudem a posicionar-se como “ganhadores” nesse jogo, para o qual devem dotar-
se de maleabilidade que lhes permita modificar seu próprio contentor e conteúdo, sua forma,
seus limites, sua complexidade, em operações que evoquem a noção de autopoese de Hum-
berto Maturana. Desse modo, é possível que grandes regiões procurem desfazer-se de porções
de seus territórios, consideradas pesos mortos. É também possível que pequenas regiões tratem
de ampliar seu tamanho, a fim de garantir vantagens de escala e variedade. Tais movimentos
podem ocorrer, até mesmo, em horizontes temporais diferentes ou simultâneos e, certamente,
por sobre as desvalorizadas fronteiras nacionais.
5 Muitas das quais – ironicamente! — coincidem, agora, com a antiga divisão político-administrativa do país (por exemplo, no Peru), a mesma que o evangelho regionalizador dos anos 1960 tratou de eliminar.
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
Autores como Cuadrado-Roura (1994) e Boisier (1994) têm estudado as condições que pare-
cem acompanhar a posição “ganhadora”, do ponto de vista tanto empírico quanto especulativo.
O primeiro autor tem dado atenção especial aos aspectos infra-estruturais (posição geográfica,
transportes e comunicações, tecido produtivo) e organizacionais (governo, cultura, qualidade
de mão-de-obra etc.), ao passo que o segundo se tem dedicado mais às características das
organizações para interagir com o entorno globalizado (velocidade de decisões, flexibilidade,
maleabilidade, resiliência, inteligência, identidade), afirmando, ao mesmo tempo, que grande
parte delas se associa, com maior freqüência, a um tamanho pequeno, e não grande, do terri-
tório que as cobiça. A propósito disto, afirma Peter Drucker (1993:130):
Com dinheiro e informação convertidos em [fatores] transnacionais, mesmo unidades
muito pequenas tornam-se agora economicamente viáveis. Grande ou pequeno, todo
mundo tem acesso ao dinheiro e à informação em pé de igualdade. Na realidade, os
verdadeiros “êxitos sem precedentes”, dos últimos trinta anos, têm sido obtidos por
países muito pequenos.6
Definitivamente, está clara a complexidade inerente ao momento atual, compexidade que
deve ser “adquirida” pelos territórios, se é que desejam triunfar na globalização. Por várias
razões, aposta-se na maior complexidade nos territórios de pequeno tamanho, o que corres-
ponde a uma admissão implícita da relatividade desse conceito.
Com base na hipótese anterior, surge (BOISIER, 1996) uma espécie de “nova geografía” ou
uma nova forma de regionalização, que descreve uma geografia sistêmica “aninhada”, a partir
das regiões pivotais, as quais, mediante arranjos táticos com territórios organizados simples-
mente ou com regiões semelhantes, dão origem às regiões associativas (sujeitas à contigüi-
dade geográfica) ou, então, já em processos de maior complexidade estratégica, dão origem
às regiões virtuais, nesse caso livres do requisito anterior de contigüidade.7 Convém salientar
que mais do que criar categorias reais novas, limitei-me a dar nomes, a denomina processos
que, a cada vez, se dão com maior freqüência no mundo real, como fica evidente na Europa,
assim como também na Argentina e na Colômbia, pelo menos. Como dizia Humpty Dumpty ao
espelho, na obra de Lewis Carroll: “Quando uso uma palavra, essa palavra significa o que quero
que signifique, nem mais nem menos”.
6 Particularmente, o autor está disposto a aceitar o juízo que em geral se faz sobre a última parte da afirmação de Drucker, mas dificilmente aceita a primeira. Afinal, uma nova forma de desigualdade social se configura precisamente pelas diferenças e assimetrias no acesso à informação, ao conhecimento e à internet.
7 Trata-se, como é fácil notar, de uma apresentação de elevada complexidade, cujo desenvolvimento escapa inteiramente das possibilidades deste trabalho. Uma exposição completa sobre o assunto encontra-se no texto intitulado Modernidad y território, do autor, publicado pelo ILPES/CEPAL, em 1996.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
O conceito básico dessa abordagem repousa na noção de região pivotal, concebida como
a menor unidade político-administrativa, ao mesmo tempo complexa8 e moderna o suficiente
(ou melhor, contemporânea) para que possa competir com grande probabilidade de êxito. Por
razões práticas, torna-se quase obrigatório voltar nossa atenção às antigas unidades da velha
divisão político-administrativa, departamentos, províncias ou outras, o que se afigura paradoxal,
já que precisamente tais unidades estavam por ser “riscadas” do mapa pela regionalização dos
anos 1960.
Desse modo, é agora perfeitamente possível delimitar-se uma região, construída a partir
de um acordo estratégico entre duas ou mais regiões absolutamente distantes e descontínuas
no plano geográfico, uma região que se conforme, por exemplo, por uma porção localizada
no Chile e outra na Itália9 ou, ainda, na França, assim como se poderia constituir uma região
formada por Maule/Ile de France ou Bio-Bio/Lombardia.
Os numerosos exemplos de regiões fronteriças multinacionais, que dão um passo adiante e
conformam associações mais formais, inclusive referendadas por tratados internacionais, cons-
tinuem nítidos casos de regiões associativas, tanto assim que a antiga prática da “irmandade”
entre cidades ou regiões constituiu uma antecipação das regiões virtuais. As antigas fronteiras
nacionais simplesmente são superadas pelas novas realidades impostas pela globalização. A coope-
ração local e territorial e a política transfronteiriça na França são exemplos anticipatórios das
tendências que levam a novas modalidades de configuração territorial ditadas pela globalização.
O que acontece, mais concretamente, com as fronteiras nacionais, ou melhor, com as regiões
fronteiriças nessa nova ordem territorial e internacional?
3. O ordenamento territorial e a integração transfronteiriça na América Latina: para além para aquém do Estado-Nação
Como foi mencionado, está em curso uma fase de transformação do Estado-Nação cujo tér-
mino se mostra em aberto, já que não sabemos que forma tomará o Estado característico do
século XIX, embora sua estrita sobrevivência não pareça estar em questão. Esse processo de
8 Segundo o atual paradigma da complexidade, vale dizer, com estruturas dialógicas, recursivas, hologramétricas de grande diver-sidade.
9 De fato, há vários desses acordos no caso do Chile.
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
mudança, certamente, reduz o significado das fronteiras, no que se refere às barreiras políticas
e físicas, à livre circulação de pessoas, capitais e bens. Uma pergunta se coloca relativamente ao
que se passa com as regiões fronteiriças: deixarão elas de sê-lo ou se integrarão?
Boisier (1987) explorou em profundidade essa questão relativamente à América Latina.
Os parágrafos seguintes contemplam o trabalho citado e também o trabalho empreendido
pelo Instituto Internacional de Integração (1985), do Convênio Andrés Bello, concluído dois
anos antes por Jorge Agreda e René Recacochea. Porém, sem dúvida, quem melhor explorou
os impactos territoriais da virtualização na economia globalizada foi o economista mexicano
Pablo Wong (1999), ao examinar, precisamente, a conformação das regiões associativas fron-
teiriças na América do Norte.
Na análise de Boisier, identificam-se 71 “posições de fronteira”, entre os 22 países conside-
rados aqui. Essas verdadeiras dobradiças de integração se estendem ao longo de 70 mil km, em
que se destacam os casos do Brasil, com 12.303 km de fronteira, Argentina, com 9.389, Peru,
com 6.367, Bolívia, com 6.340 e Chile, com 6.328 km. A fronteira argentino-chilena, por si só,
cobre a extensão de 5.318 km, sendo a terceira ou a quarta fronteira binacional mais extensa
do mundo.
Considerando o primeiro nível da divisão político-administrativa de cada país como unidade
de referência, constata-se que as áreas de fronteira assim definidas perfazem uma superfície
total igual a 21.819.670 km² (excluída a fronteira entre EUA e México) e que, em 1980, abri-
gavam uma população de 121.221.841 de pessoas. Por certo, alguns problemas de enumeração
múltipla são inevitáveis, porém, de todo modo, essa cifra revela a magnitude da questão.
O termo área de fronteira ou área fronteiriça refere-se, única e exclusivamente, a uma situa-
ção locacional, dada por sua condição de limítrofe em relação às áreas de países vizinhos. O termo
não comporta outra conotação, nem conteúdo valorativo do ponto de vista econômico.10
Em termos econômicos e sociais, faz-se mister dar lugar ao conceito de região fronteiriça,
isto é, as regiões que devem ser entendidas como espaços subnacionais limítrofes a países vizi-
nhos, em que se manifestam formas particulares de relação e superposição de dois (ou mais)
sistemas (ou estilos) econômicos e dois (ou mais) diferentes modelos de política econômica
(BOISIER, 1987, p. 161). É necessário acrescentar que uma situação fronteiriça passa a con-
verter-se em problema específico de política pública quando a mencionada interação se dá
assimetricamente, com participação desigual entre as regiões vizinhas de custos e benefícios
advindos da própria interação e do efeito das políticas econômicas.11
10 Com relação a termos semelhante, veja-se o trabalho de E. Valenciano (1985), citado nas referências bibliográficas.11 Sem dúvida, trata-se de “problemas” econômicos; não de segurança nacional ou de questões bélicas.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Vários autores recomendam considerar-se o tema do desenvolvimento conjunto de áreas
fronteiriças como um caso especial do modelo geral de desenvolvimento regional, como se
pode depreender das seguintes citações:
(...) as áreas de fronteira e seus problemas se apresentam como componentes e resul-
tantes dos processos globais de desenvolvimento regional (INSTITUTO INTERNACIONAL
DE INTEGRACIÓN, CONVENIO ANDRÉS BELLO, 1985);
(...) o contexto do presente artigo, que trata dos problemas do desenvolvimento e
da formulação de políticas em regiões vizinhas, separadas por limites internacionais
(HANSEN, 1983); e
(...) o desenvolvimento das regiões outra coisa não é senão um caso especial do “caso
geral” do desenvolvimento regional (ILPES, 1985).
Na pesquisa feita por este autor (BOISIER, op. cit.), as situações fronteiriças da Colômbia, do
Chile, da Bolívia/Peru, dos EUA/México, da Argentina/Paraguai e do Brasil/Paraguai são exami-
nadas detalhadamente.
Se a questão é o desenvolvimento regional ou territorial, é necessário, agora, adotar as
mais modernas teorias a respeito, as que começam por distinguir, nitidamente, os processos
de crescimento econômico territorial e de desenvolvimento territorial societário, por conta da
fundamental diferença entre os fatores causais que lhes são próprios.
Qual o propósito final de uma associação de regiões fronteiriças, de países diferentes, ao
constituir uma região plurifronteiriça única? Não se trata apenas de beneficiar, cada uma
delas, com as possíveis complementaridades, mas, principalmente, de posicionar-se melhor no
presente cenário global, potenciando as economias de escala, as economias complementares
e diversificadas, além da maior complexidade que possa advir da união entre elas.12 Melhor
posicionamento no cenário globalizado, para crescer mais e mais rápido e para dar lugar ao
desenvolvimento.
O crescimento econômico de um território subnacional, plurifronteiriço ou não, depende
sempre, segundo o pensamento mais moderno, de uma matriz de seis elementos, qual seja: i)
acumulação de capital econômico; ii) acumulação de conhecimento e de progresso técnico; iii)
acumulação de capital humano (até aqui, trata-se da teoria do crescimento endógeno); iv) o
projeto político nacional e o papel, a desempenhar nele, do território em questão; v) a estrutura
da política econômica e seus efeitos territorialmente diferenciados; e vi) a demanda externa.
12 É preciso salientar que o aumento de tamanho pode gerar efeitos opostos em termos de complexidade e de diversidade, aumen-tando-se esta última e reduzindo-se a primeira.
1�1
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
Em quase todo território nacional, essa matriz de fatores causais mostra, do ponto de vista
dos agentes de decisão, um grau elevado de exogeneidade, uma vez que a maioria desses
agentes não são ali residentes. Nessa perspectiva, conclui-se que seja correto qualificar o cres-
cimento territorial como um processo exógeno. Esse processo implica, por um lado, criar uma
“cultura de gestão” adequada para a situação, própria para aumentar a capacidade regional de
“influir” nas decisões, ante a impossibilidade de controlá-las. Por outro lado, é necessário criar
ações de modo a “endogeneizar”, tanto quanto possível, tais fatores, colocando-os sob controle
regional.13
Parece razoável admitir, em princípio, que a associação transfronteiriça venha a melhorar
as condições do espaço ampliado, tornando-o capaz de alcançar crescimento mais elevado e
rápido com certa dose de endogeneidade, ainda que essa hipótese deva ser testada empirica-
mente, caso a caso. Em princípio, a nova região se mostra mais atraente ao capital, à inserção
de tecnologias e à demanda externa por seus produtos e, eventualmente, poderá se mostrar
mais atraente para o turismo (gastos de não-residentes). Não obstante, e ao mesmo tempo,
uma região plurifronteiriça deve compatibilizar diferentes projetos de país e talvez diferentes
modelos e instrumentos de política econômica. Essa mescla de fatores torna claro que uma
institucionalidade ad hoc se impõe como requisito indispensável à coordenação. Portanto, a
conformação de uma região plurifronteiriça revela uma indisfarçável dimensão política, de
construção de institucionalidade e, sem dúvida, de coordenação de instituções políticas. Ade-
mais, a nova região terá, presumivelmente, maior poder político, o que auxiliará o processo de
endogeneização de seu crescimento. Como se verá mais adiante, a dimensão sociológica do
processo não é menos importante.
A questão do desenvolvimento de uma região dessa natureza nos remete a um universo
de extraordinária complexidade, não apenas pela estrutura que o novo espaço assume, mas
também em razão da radical mudança de enfoque que se tenha produzido em matéria de
desenvolvimento. Sobre essa questão, parece ser digno de nota citar uma importante reflexão
de Tomassini (2000, p. 63), a propósito do que chama de o “giro cultural” de nossa época:
Vivemos uma “mudança de época” que rechaça, no que é essencial, os modelos racionais,
uniformes e fechados propostos pela modernidade madura, em nome da diversidade, da
capacidade de optar e de criar nossa identidade em sociedades mais complexas, torna-
das possíveis pelo avanço do conhecimento, da tecnologia, da informação, da liberdade,
13 O aprofundamento dessa argumentação se encontra em quase todos os últimos trabalhos do autor, particularmente em So-ciedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial, Documento de Trabajo n. 5, Instituto de Desarrollo Regional (F.U.), Sevilha, Espanha, 2002.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
do consumo e das comunicações, assim como pelas mudanças profundas da subjetivi-
dade das pessoas. Nesse cenário cultural, as economias se orientam para a produção de
significados, e as sociedades, a educação e o consumo se movem em mundos virtuais,
povoados de múltiplas alternativas possíveis. Num contexto como esse, a importância
do governo, das maiorias eleitorais e dos equilíbrios macroeconômicos, do produto
interno bruto e das rendas médias nas sociedades torna-se, pelo menos, relativizada
pelo surgimento das preocupações com a qualidade de vida, participação na sociedade,
a possibilidade de escolher estilos de vida próprios, liberdade de expressão, o respeito
aos direitos, educação, igualdade de oportunidades, de dignidade, o papel da juven-
tude e da mulher, segurança da cidadania e a vida nas cidades que se denominam
“temas valorativos”, na falta de conceitos prévios.
Nesse contexto, é necessário colocar a questão do desenvolvimento, cuja transformação
mais significativa se enraiza no abandono do “quantitativismo economicista” que acompanhou
a idéia do desenvolvimento desde sua introdução política em 1941, no famoso documento
firmado por Churchill e Roosevelt, conhecido como Carta do Atlântico, para transformar-se,
agora, num conceito profundamente axiológico, inter-subjetivo, intangível e culturalmente
enraizado, e dependente da trajetória, apoiando-se no pensamento de um vasto elenco de
intelectuais como Lebret, Seers, Hirschman, Sen, Furtado, Stiglitz e outros.
Nessa perspectiva, entende-se o desenvolvimento não como ganhos concretos e materiais
– que não deixam de ser importantes –, mas como um processo conducente (assintoticamente,
parece) ao estabelecimento de um contexto, de um clima, situação, entorno, ou como se queira
chamá-lo, que possibilita a transformação do ser humano em pessoa humana, em sua plena
dignidade como tal e em seu duplo caráter individual e social, em sua multidimensionali-
dade, ligada à dignidade, à sociabilidade, à subjetividade e à trascendência. Como se é pessoa
somente entre pessoas, fica clara a dimensão social do processo e fica claro, também, que esse
processo supõe a eliminação das principais travas que têm impedido, historicamente, a maioria
de exercer esse verdadeiro direito, travas que Seers identificou, como questões básicas, a fome,
o desemprego e a discriminação.
Sob o risco de deixar parte da argumentação pelo caminho, é mister afirmar diretamente
o seguinte: se o desenvolvimento (um resultado, uma variável dependente) é uma dimensão
intangível, a lógica mais elementar indica que os fatores causais (os meios, as variáveis inde-
pendentes) devem estar na mesma dimensão, isto é, intangíveis, a menos que haja um tipo de
pedra filosofal, capaz de transformar matéria em espírito. Nesse sentido, é bastante correta a
reflexão de Alain Peyrefitte (1997, p. 28):
1�3
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
Para nós, é difícil aceitar que nossa maneira de pensar ou de comportar coletivamente
possa causar efeitos materiais. Preferimos explicar a matéria pela matéria, não pela
maneira.14
Assim é que, hoje, se desatou uma busca quase frenética por fatores intangíveis de desen-
volvimento ou, como o presente autor os denominou, “capitais intangíveis” (BOISIER, 2000),
enumerando dez deles: capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital social, capi-
tal cívico, capital institucional, capital psicossocial, capital humano, capital mediático e capital
sinergético15. É fácil reconhecer nomes por trás dessas categorías: Bourdieu, Putnam, Coleman,
Fukuyama, Hirschmann, Montero, Williamson, Becker, North e outros.
É certo que essa mudança de percepção do desenvolvimento, dos ganhos materiais aos
ganhos imateriais, não significa esquecer a importância do crescimento econômico como base
material de sustentação no tempo, porém nunca mais se aceitará trocar meios e fins por afir-
mar-se: “primeiro crescer e depois desenvolver-se”, uma total falácia do neoliberalismo.
Definitivamente, o desenvolvimento depende sim, onde quer que seja, do crescimento eco-
nômico (numa relação quiçá “enraizada” no próprio desenvolvimento) e mais, de um clima
psicossocial positivo, da capacidade de uma específica e localizada comunidade16 para desatar
o potencial endógeno, além do estoque e da articulação dos capitais intangíveis. A confiança
torna-se vital em todo o processo, como virtude pessoal e cidadã.17
Por certo, o enfoque anterior está profundamente alicerçado na cultura e nos valores de
uma comunidade.
Agora cabe perguntar, tal como se fez em relação ao crescimento econômico, se acaso a
conformação de regiões plurifronteiriças trabalha ou não a favor de seu desenvolvimento.
A resposta é complicada. A maior parte dos “capitais intangíveis” se manifesta, com maior
nitidez, em espaços sociais e territoriais de pequeno tamanho, em espaços próximos, nos quais
as relações pessoais face a face, as tradições e os costumes são importantes, mais importantes
que nos espaços em que a interação seja mediada institucionalmente. Desse ponto de vista,
a conformação de um espaço maior não favoreceria, em princípio, essa visão de desenvolvi-
mento, porém não se pode fazer dessa afirmação um dogma. Talvez mais complicado seja o
feito, esquecido em todos os esforços de integração transfronteiriça, de colocar frente a frente
características culturais bastante dessemelhantes, precisamente em termos dos referidos “capi-
14 Grifo nosso.15 Este último atua como aglutinador e direcionador do restante e serve de base para construir um projeto político.16 Comunidade, talvez mais que sociedade, na terminologia de Thonnies.17 Não está nada claro que o neoliberalismo seja capaz de promover o aparecimento de “virtudes” que facilitem o desenvolvi-
mento.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
tais intangíveis”. Que êxito se pode esperar de uma área bifronteiriça, por exemplo, em que
uma das regiões nacionais possui elevado estoque de capital social (confiança interpessoal) e
um nível muito baixo de capital cívico (confiança nas instituições), ao passo em que na outra a
situação se mostra inteiramente inversa?18
A questão é de uma importância prática insuspeitada e chama a atenção para a necessidade
de “trabalhar” pelo desenvolvimento de vários capitais intangíveis, sem se esquecer de que
foram mencionados, precisamente, os dois mais difíceis de “trabalhar” (criar) na prática.
A conformação de uma região plurifronteiriça ou região associativa fronteiriça (RAF) não
pode limitar-se a uma definição geográfica nem à criação de um aparato institucional, ques-
tões por si só importantes. Porém, não se pode esquecer da preparação de um projeto político
para a RAF, que se destina a criar consenso geral, cooperação entre forças políticas, poder
político (de variadas fontes) e, sobretudo, destinado a construir um futuro comum, em um
novo jogo de soma em aberto. Naturalmente, esse projeto supõe alta dose de descentraliza-
ção territorial, política, administrativa e fiscal, descentralização que, necessariamente, implica
cessão de soberania por parte dos Estados nacionais respectivos. Supõe, em muitos casos, abrir
mão de atitudes nacionais xenófobas ou de desconfianças arraigadas no passado. Alemanha e
França serão, para sempre, exemplos de inteligência e generosidade em prol da construção de
um futuro melhor.19
Para finalizar, é necessário mencionar, mais especificamente, a conformação de regiões
associativas e virtuais no mundo real. O sociólogo alemão Ulrich Beck (1998) sustenta que a
globalização derrubou uma das premissas fundamentais da primeira modernidade, isto é, a
idéia de viver e atuar em espaços fechados e reciprocamente delimitados dos Estados nacionais
e de suas respectivas sociedades nacionais. A globalização – argumenta Beck – faz estremecer
a imagem de espaço homogêneo, fechado, estanque e nacional-estatal, segundo a citação que
faz de Wong (op. cit.), que também recorda Kenichi Ohmae, o qual, aprofundando ainda mais
tal raciocínio, sustenta que em um “mundo sem fronteiras”, o Estado-Nação converteu-se em
uma unidade artificial e disfuncional no que se refere à organização da atividade humana e
à administração das atividades econômicas. Ohmae define os “Estados-Regiões” como zonas
econômicas naturais que podem redefinir os limites fronteiriços nacionais, como no caso de
Tijuana–San Diego, na fronteira México–Estados Unidos.
18 A tentativa de conformar uma região associativa bifronteiriça, incluindo as Regiões de Valparaíso (Chile) e de Cuyo (Argentina) exemplifica, por certo, o que se acaba de afirmar.
19 Quiçá não seja necessário ir tão longe, se lembrarmos que em 1999 um dos navios mais importantes da Armada Argentina esteve, por mais de seis meses, submetido a um processo de modernização no principal estaleiro da Armada Chilena! Algo impensável há alguns anos.
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
O mesmo Wong oferece uma interessante tipologia territorial produzida pela virtualidade:
i) regiões virtuais e rede de regiões, com os exemplos “dos quatro motores regionais” da
Europa (Ródano-Alpes, Catalunha, Lombardia, Baden-Württemberg, regiões essas não-con-
tíguas), a Região Ródano-Alpes de novo, e seus acordos com Xangai, Québec, Ontário, Tuní-
sia e Mali; a do chamado “Arco Atlântico”, região virtual formada pelas regiões da Irlanda,
Inglaterra, França, Espanha e Portugal ou o grupo do “Círculo Ártico”; ii) cidade global e rede
de cidades, tema favorito de Manuel Castells, Jordi Borja e Saskia Saassen, exemplificado
por Nova york, Londres e Tóquio; iii) regiões associativas-virtuais transfronteiriças, conceito
central adotado neste documento e que Wong exemplifica, em primeiríssimo lugar, com a
Região Arizona-Sonora,20 agregando outros casos, como The Red River Corridor (o Corredor do
Rio Vermelho), formado por Manitoba, no Canadá, e Dakota do Norte e Minessota, nos EUA, ou
a Pacific Northwestern Economic Region (Região Econômica do Noroeste do Pacífico), formada
por Alberta e Colúmbia Britânica, no Canadá. No âmbito do Mercosul, surgiram fenômenos
parecidos na América Latina, como, por exemplo, a tentativa de formalizar uma RAF entre
a Região de Valparaíso, no Chile, e a região de Cuyo, na Argentina, assim como várias outras
tentativas associativas entre regiões ou províncias chilenas e províncias argentinas (províncias
de Valdívia e Neuquén, respectivamente). Do mesmo modo, a cidade ou região metropolitana
de Rosário, na Argentina, preparou um plano estratégico que, sob a idéia de região virtual, per-
mitiria que se convertesse em centro geopolítico e econômico, assim como porta do Mercosul
e do Corredor Bioceânico; e iv) corredores econômicos, comerciais e de transporte, verdadeiras
superestradas de finalidades múltiplas, surgidas no âmbito de Tratados de Livre Comércio (TLC)
e do Mercosul, que transcendem o tema fronteiriço propriamente dito.
Desse modo, parece que, no século XXI, a geografia política nacional e internacional expe-
rimentará profundas mudanças, derivadas da necessidade de reequacionar a geografia econô-
mica com a política. O mapa-múndi do futuro, além de parecer um telegrama, na feliz expres-
são de Nicolás Guillén, se parecerá com um caleidoscópio, com múltiplos espaços superpostos
e imbricados, num arranjo que, ao observador incauto, parecerá caótico no sentido comum do
termo, embora, para o observador especializado no processo de transformação atual, parecerá
perfeitamente ordenado. A esta nova geografía política e econômica corresponderá uma nova
composição política, em que se combinarão Estados nacionais diferentes dos atuais em suas
competências, em que se encontrarão quase-Estados subnacionais, encarregados de governar
as regiões, e quase-Estados supranacionais, encarregados da regulação da globalização.
20 Talvez o caso de maior interesse nesse momento, já que essa RAF deriva de um tratado subscrito nos anos 1980 pelos respectivos governadores e conta com um Comitê Binacional, Grupos Setoriais de Trabalho, uma estratégia de desenvolvimento comum, incluindo-se uma revista bilíngüe (Arizona-Sonora). O objetivo básico da aliança é posicionar-se melhor no mercado global.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A paulatina consolidação das regiões fronteiriças e das regiões associativas transfronteiriças
responde, em parte, a uma das várias dialéticas que caracterizam a globalização, nesse caso,
às tendências opostas de globalização e de fragmentação da sociedade internacional, a qual
se torna cada vez mais integrada e interdependente. É igualmente certo que, ao desaparecer
a radicalização ideológica e a bipolaridade estratégica, tenderá a fortalecer-se, na sociedade
internacional, a crescente autonomia de suas unidades.
Chamaremos de dispersão internacional, a semelhante tensão entre estes dois blocos
de forças: a) globalização/fragmentação e b) interdependência/autonomia (TORRIJOS,
2000).
Nesse contexto, segundo o autor colombiano citado, surge a diplomacia centrífuga, diplo-
macia esta que se distancia do centro estatal e que se poderia definir como o conjunto de
iniciativas exteriores de tipo político, social, econômico, cultural, etc., planejadas, empreendi-
das, reguladas e sustentadas por coletividades territoriais (as regiões) que anunciam e revelam
capacidade própria de atuação. Segundo Vicente Torrijos, os fundamentos de uma política
exterior das regiões (num modelo extrovertido de política exterior) apontam para uma série de
questões (que, nessa oportunidade, simplesmente se enumeram):
• que a região esteja bem definida em termos históricos, geográficos e culturais;
• que a região assuma os reptos lançados pela encruzilhada em que se encontram as civi-
lizações (referência a Huntington);
• que a região identifique as vantagens da diplomacia preventiva;
• que a região se “aproprie” do regionalismo aberto;
• que a região assimile o desenvolvimento humano sustentável;
• que a região tenda a trabalhar em redes;
• que a região estimule um clima de governabilidade econômica;
• que a região propague a idéia de que estimula a contestabilidade do mercado (a Colôm-
bia poderia tentar colocar um parêntese à globalização, segundo Torrijos);
• que a região esboce um paradigma de gestão produtiva;
• que a região trace seu perfil de desenvolvimento produtivo;
• que a região estabeleça um sistema extenso e flexível de inovação;
• que a região identifique os intereses setoriais;
• que a região expanda seus canais de informação;
• q ue a região supere sua condição de zona fronteiriça ou não-fronteiriça e procure apro-
ximar-se de todo tipo de redes de desenvolvimento internacional;
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
• que a região aborde novos espaços de negociação;
• que a região faça desdobrar intensa atividade de importância internacional;
• que a região proteja e preserve sua identidade;
• que a região sistematize sua agenda internacional, segundo os princípios de flexibilidade
de gestão de assuntos exteriores; e
• que a região construa sua política externa sobre bases consensuais.
A diplomacia centrífuga ou paradiplomacia subnacional se impõe na fragmentação globali-
zadora, mesmo em Estados de regime político unitário. As regiões nas antigas fronteiras podem
agora tomar em suas mãos assuntos que antes lhes eram vedados, sobre os quais possuem
conhecimentos e interesse que jamais poderiam ser possuídos e representados pelo Estado
nacional. Contudo, essa proposta está há anos-luz de qualquer idéia anarco-regionalista; ins-
pira-se melhor na descrição que Umberto Eco faz dos frisos do frontispício da famosa abadia
em sua obra intitulada O nome dea rosa: “únicos na variedade e variados na unidade”.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
BECK, U. ¿Qué es la globalización?. Barcelona, España: PAIDOS, 1998.
BOISIER, S. Notas en torno al desarrollo de regiones fronterizas en América Latina. Estudios Internacio-
nales, n. 78. Revista do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile. Santiago, Chile,
1987.
_______. Post-modernismo territorial y globalización: regiones pivotales y regiones virtuales. Ciudad
y territorio. Estudios Territoriales, n. 102. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Madrid, España, 1994.
_______. La geografía de la globalización: un único espacio y múltiples territorios. I Congreso Interame-
ricano del clad sobre reforma del estado y de la administración pública. Rio de Janeiro,1996. _______.
Crónica de una muerte frustrada. El territorio en la globalización. Revista virtual Política. Revista Digital
de Ciencia Política, n. 1. España, 2006. Disponível em: <http://www.politika.org.es>.
_______. Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial. Documento de Trabajo,
n. 5. Instituto de Desarrollo Regional (Fundación Universitaria), Sevilla, España, 2002. Disponível em:
<http://www.idr.es>.
CAMAGNI, R. Rationale, principles and issues for development policies in an era of globalisation: spatial
perspectives. Seminar on spatial development policies and territorial governance in an era of globalisa-
tion and localization. Paris, France: OECD, 2000.
COSTA-FILHO, A. Globalização e políticas regionais nacionais na América Latina. Debates, n. 12. Brasília:
Konrad Adenauer Stiftung e Ipea, 1996.
CUADRADO-R, J. R. Regional Disparities and Territorial Competition in the EC. In: J. R. CUADRADO-
R.; NIJKAMP, P.; SALVÁ, P. (Eds.). Moving Frontiers: economic restructuring, regional development and
emerging networks. London, England: Avebury, 1994
DATAR. Aménager la France de 2020. Paris, France : La Documentation Française, 2000.
DRUCKER, P. La sociedad post-capitalista. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana, 1993.
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN. La integración fronteriza en la Sub-región Andina. Conve-
nio Andrés Bello. (relatório preparado por AGREDA, J.; RECACOCHEA, R.). Bolivia: La Paz, 1985.
1��
As fronteiras nos processos de integração supranacional:a experiência da União Européia e as lições para a América Latina
FRIEDMANN, T. The lexus and the olive tree. U.S.A.: First anchor books, 1999.
GONZÁLEZ VALLVÉ, J. L. La política regional de la Unión Europea. Integración fronteriza y política re-
gional: marco general en la Unión Europea. , Centro de Formación para la Integración Regional – CEFIR.
Seminario la integración fronteriza y el papel de las regiones en la unión europea y en el cono sur: ex-
periencias, opciones y estrategias. Montevideo, 1995.
HANSEN, N. International cooperation in border regions. An Overview. International Regional Science
Review, v. 8, n. 3, U.S.A, 1983.
HELMSING, B. Externalities, learning and governance. Perspectives on local economic development. The
Hague, Netherlands: Institute of Social Studies, 2000.
ILPES. Colombia: Observaciones en torno a la propuesta de un plan de desarrollo fronterizo. Informe de
una misión de asesoría al DNP.Santiago, Chile: 1985.
LARRAÍN, J. Elementos teóricos para el análisis de la identidad nacional y la globalización. Centro de
Estudios del Desarrollo (CED): ¿Hay Patria que defender?. Santiago, Chile: 2000.
MARTIN, R. The new geographical turn in economics: some critical reflections. Cambridge Journal of
Economics, n. 23, London, England, 1999.
MORGAN, K. The exaggerated death of geography: localized learning, innovation and uneven develop-
ment. Paper presented to the future of innovation studies conference. Eindhoven University of Techno-
logy. Eindhoven, Netherlands, 2001.
MULLER, P. Les politiques publiques. Paris, France: PUF, 1990.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The knowledge-creating company. Oxford, England: OUP, 1995.
OECD. Compétitivité regional et qualifications. Paris, France : OECD, 2001.
PERALTA L. E. El desarrollo de la cooperación transfronteriza en la Unión Europea. Cefir, 1995.
PEyREFITTE, A. Milagros económicos.Andrés Bello, 1997, Santiago, Chile: Andrés Bello, 1997.
SEVERIJNS, J .M. J. La cooperación transfronteriza en la Unión Europea: el caso de limburgo-euroregio.
Cefir, 1995.
STORPER, M. The regional world. New york, U.S.A: The Guilford Press, 1997.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
TOMASSINI, L. El giro cultural de nuestro tiempo. In: KLIKSBERG, B.; TOMASSINI, L. (Comps.). Capital
social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. Washington, U.S.A: BID, 2000.
TORRIJOS, V. La diplomacia centrífuga. Preámbulo a una política exterior de las regiones. Desafíos, n. 2,
Centro de Estudios Políticos e Internacionales - Cepi, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2000.
VALENCIANO, E. La frontera: un nuevo rol frente a la integración. La experiencia en el Mercosur. Cefir,
1995.
VELTZ, P. Firmes globales et territoires: des rapports ambivalents. In: SAVy, M. ; P. VELTZ, M. Economie
globale et reinvention du local. Paris, France: Datar/Editions de l´aube, 1995.
WONG, P. Globalización y virtualización de la economía: impactos territoriales. Conferência apresentada
no V Seminario de la red de investigadores sobre globalización y territorio. Toluca, México, 1999.
1�1
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
Pedro Silveira Bandeira
Território e planejamento:a experiência européia e a
busca de caminhos para o Brasil
Após um longo período que foi caracterizado, como registraram dois destacados estudio-
sos da questão regional no Brasil, por uma “inexpressiva presença de políticas regionais
explícitas (...), associada a uma atomização de esferas de tratamento do regional”,1 a partir
da segunda metade da década de 1990 a administração federal voltou progressivamente a
empreender algumas ações relacionadas com o planejamento territorial e com a promoção do
desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas.
No entanto, apesar dessa retomada, e apesar dos esforços de alguns setores da adminis-
tração federal, no decorrer de duas gestões de composição partidária diferente, os avanços
alcançados ainda estão muito aquém das necessidades, em termos da construção de políticas e
instrumentos capazes de promover uma intervenção mais efetiva e ordenada do poder público
sobre o território.
Este texto, que se apóia em material apresentado no Seminário Internacional “Políticas de
Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz da Experiência da Comunidade Euro-
péia e do Brasil”, realizado em Brasília/DF, nos dias 23 e 24 de março de 2006, tem como objetivo
contribuir para o debate em torno da construção dessas políticas e instrumentos. Inicialmente
será feita uma breve exposição sobre os principais momentos da recente retomada do interesse
pelo tema no Brasil. A seguir, após uma também breve análise da evolução recente das políti-
cas territoriais européias, serão discutidas algumas das características consideradas necessárias
para um modelo de planejamento e gestão do território adequado ao caso brasileiro.
1 Cf. Araújo e Guimarães Neto (1997).
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
1. A retomada da preocupação com a dimensão territorial nas políticas públicas brasileiras
Dois marcos importantes assinalam a retomada da preocupação com a dimensão territorial
no contexto das políticas públicas brasileiras. O primeiro foi a realização do Estudo dos Eixos
Nacionais de Integração e Desenvolvimento, encomendado pela administração federal, utili-
zado como referência para a elaboração do Plano Plurianual 2000-2003. Pode-se caracterizar
as ações propostas nesse documento como uma tentativa de abordar a problemática macro-
territorial do desenvolvimento brasileiro tendo como foco a promoção da competitividade
sistêmica, dando ênfase à eliminação de “gargalos” e “missing links” de infra-estrutura, com
especial destaque para a logística e para os transportes. A gênese e os objetivos do trabalho são
expostos na apresentação incluída no CD-ROM que contém os resultados do Estudo:
O conceito de Eixos Nacionais de Desenvolvimento surgiu pela primeira vez no Plano
Plurianual 1996-1999, como uma tentativa de traçar uma estratégia de desenvolvi-
mento para o Brasil que permitisse a redução dos desequilíbrios regionais e sociais.
A idéia básica era tratar esses desequilíbrios sob uma nova ótica, levando em conta a
geografia econômica do país e os fluxos de bens, serviços e pessoas, sem considerar,
para efeito do planejamento, os limites dos estados e das regiões.
(...)
No processo de formulação do Programa Brasil em Ação, evidenciou-se a necessi-
dade de um estudo mais profundo sobre os Eixos Nacionais de Desenvolvimento para
orientar o planejamento estratégico do governo federal. Era preciso levantar de forma
detalhada as realidades regionais e identificar as potencialidades e os obstáculos ao
crescimento do País.
O objetivo do Estudo, contratado pelo Ministério do Planejamento em parceria com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), era traçar uma
radiografia dos grandes problemas nacionais e das oportunidades que o País oferece.
Tudo isso para viabilizar o desenvolvimento econômico e social, a integração nacional
e internacional, o aumento da competitividade sistêmica da economia e a redução das
disparidades regionais e sociais no Brasil.
O Estudo deveria resultar em dois produtos, definidos no edital de licitação: um
portfolio de investimentos públicos e privados para o período 2000-2007, principal
subsídio para a elaboração do Plano Plurianual 2000-2003, e um banco de dados
georeferenciados do desenvolvimento sócio-econômico brasileiro.”(Sic.)2
2 BRASIL. Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, BNDES (1999), Apresentação do Estudo, Objetivos.
1�3
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
Embora tenha recebido vários tipos de crítica, por suas opções metodológicas e por suas
omissões (em especial quanto à insuficiente consideração da dimensão urbana na análise, à
preocupação excessivamente centrada na logística para exportação, em detrimento de uma
visão integradora do território nacional e à pouca atenção para a o tema da promoção do
desenvolvimento das regiões mais pobres e/ou menos dinâmicas),3 esse estudo representou
uma retomada da preocupação de inserir o território de forma explícita no processo de plane-
jamento da administração federal.
O segundo marco foi a criação do Ministério da Integração Nacional, ocorrida em 1999,
tendo o novo órgão, entre suas competências, as de “formular e conduzir a política de desenvol-
vimento nacional integrada”; “formular os planos e programas regionais de desenvolvimento”,
e “estabelecer estratégias de integração das economias regionais”.4 Desde o seu surgimento, o
Ministério da Integração Nacional tem estado empenhado em promover a renovação das polí-
ticas territoriais e de desenvolvimento regional no Brasil. Até o momento, um dos principais
resultados desse esforço foi a implementação de Programas de Desenvolvimento Integrado e
Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas, uma inovação importante no contexto das políticas
regionais desenvolvidas pelo governo federal. Ao tomarem como referência uma nova escala
territorial, menos abrangente que a das macrorregiões, e ao privilegiarem ações voltadas para a
articulação dos atores locais, esses Programas se distanciaram do paradigma tradicionalmente
seguido pelas políticas regionais brasileiras, apoiadas exclusivamente na escala macrorregional
e centradas na oferta de incentivos e/ou na transferência de recursos públicos para as áreas
menos desenvolvidas.
Já há algum tempo a literatura sobre a temática regional no país vinha destacando a cres-
cente heterogeneidade das macrorregiões brasileiras, que as tornava inadequadas para servirem
como referência exclusiva para ações de desenvolvimento regional. O registro da necessidade
de trabalhar com territórios de menores dimensões podia ser encontrado, por exemplo, em um
documento produzido em 1995 pela Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Ministério do
Planejamento e Orçamento,5 no qual era proposta a adoção de uma nova escala territorial para
as políticas regionais que viessem a ser adotadas no país. Esse documento pode ser considerado
um dos marcos iniciais do processo que resultou na criação dos Programas de Mesorregiões,
que atualmente são implementados pelo Ministério da Integração Nacional.
3 Algumas dessas críticas podem ser encontradas em Galvão e Brandão (2001) e em Diniz (2002).4 Medida Provisória n° 1.911, de 28 de julho de 1999.5 BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento, 1995.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Outra linha de atuação do Ministério da Integração Nacional tem sido o esforço continuado
no sentido de promover um debate sobre a renovação das políticas regionais no país. Já no ano
2000, a sua Secretaria de Políticas Regionais encomendou a realização de estudos cujo objetivo
era proporcionar subsídios para essa renovação, realizando seminários e debates sobre o tema.
Esses estudos serviram de base para a elaboração de duas publicações, intituladas “Reflexões
Sobre as Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional” e “Bases para as Políti-
cas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional”, ambas lançadas no ano 2000.6
Posteriormente, em 2003, já após a posse de um novo governo, a Secretaria lançou o
documento intitulado “Política de Desenvolvimento Regional – Proposta para Discussão”,7 que
delineou uma nova política de desenvolvimento regional e de enfrentamento das desigualdades
regionais para o país. Entre os aspectos mais importantes desse documento estão a adoção de
uma nova escala territorial (a mesorregional) para servir de base às ações da política regional
e a elaboração de uma tipologia das regiões brasileiras, tendo como referência territorial as
microrregiões do IBGE.
Outro ponto importante da proposta original da equipe do Ministério era a criação de um
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para financiar investimentos em infra-estrutura
em regiões pobres ou menos dinâmicas, definidas pela tipologia de regiões apresentada no
texto da proposta. Argumentando sobre a necessidade de um instrumento para financiar esse
tipo de investimentos, o documento afirmava já existirem fontes adequadas de recursos para
financiar a iniciativa privada nas regiões menos desenvolvidas, como os Fundos Regionais pre-
vistos na Constituição Federal e os recursos dos Bancos oficiais. No entanto, destacava ser
necessário conceber instrumentos adequados para que, nessas regiões, fosse possível:
(...) investir em externalidades (infra-estrutura econômica; promoção da inovação;
capacitação de recursos humanos; assistência técnica e desenvolvimento de ativos
relacionais, dentre outros itens assemelhados), necessários à revalorização dos empre-
endimentos e ao processo de transformação das dinâmicas regionais.8
No entanto, à época em que foi lançado o documento, a intenção original já havia sido
abandonada. Em uma passagem anterior, o texto mencionava que o governo federal havia
feito uma tentativa no sentido de criar um instrumento capaz de atender a esse objetivo, que
acabou sendo frustrada:
6 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2000-A e BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2000-B.7 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2003. A versão definitiva desse documento foi lançada em agosto de 2005.8 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2003.
1��
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
Recentemente, foi proposto pelo executivo, no âmbito da Proposta de Emenda Cons-
titucional que trata da Reforma Tributária (PEC 41), um Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Regional (...) que acabou tendo outra destinação.9
A destinação dos recursos do Fundo foi alterada, como resultado de negociações no Con-
gresso Nacional em busca de apoio para outros pontos da proposta de Reforma Tributária em
que estava inserido. O resultado dessas negociações foi que a quase totalidade dos recursos pas-
sou a ser direcionada para estados das macrorregiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cabendo
sua gestão às administrações estaduais. Conforme a proposta original, essa aplicação não estaria
vinculada a macrorregiões específicas, e seria gerida diretamente pelo governo federal, segundo
os critérios adotados na tipologia de regiões incluída na proposta da nova política.10
As mudanças na destinação e na forma de gestão do Fundo têm conseqüências importan-
tes. Sendo feita pelos governos estaduais, a aplicação deixará de estar vinculada aos critérios
da política regional federal. Os recursos poderão vir a ser utilizados, por exemplo, em regiões
de cada estado que não seriam consideradas prioritárias pelos critérios da política. Além disso,
a vinculação constitucional a macrorregiões específicas reduz a flexibilidade na utilização dos
recursos, tornando difícil o ajustamento a eventuais mudanças futuras na configuração das
desigualdades regionais no país. Qualquer alteração que se venha a mostrar necessária na distri-
buição dos recursos entre as regiões irá interferir com interesses que, a essa altura dos aconte-
cimentos, já estarão consolidados, tornando muito difícil que se alcance a maioria qualificada
exigida para alterar novamente o texto da Constituição. Esse “engessamento” contrasta com os
procedimentos utilizados no caso do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que serviu
de inspiração o Fundo brasileiro. No caso europeu, os critérios de elegibilidade das regiões e os
valores têm sido periodicamente revistos. As regiões européias passam a ter acesso aos recursos
ou deixam de tê-lo de acordo com a evolução dos seus indicadores econômicos e sociais, que
servem de base para a definição das condições de elegibilidade.
A proposta original, de um Fundo administrado pelo governo federal, foi vitimada pelas
características do “presidencialismo de coalizão”11 vigente no país nas últimas décadas, em que
os governos geralmente não têm conseguido contar com maiorias sólidas no Congresso, sufi-
9 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2003.10 Na data em que foi escrito este texto, nos primeiros dias de maio de 2006, existe a expectativa de que possa ser acelerada a tra-
mitação da Proposta de Emenda Constitucional onde está incluída a criação do Fundo, estando em andamento novas negocia-ções. No entanto, nada indica que venha a ser aprovado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional cujas características se aproximem da proposta inicial do Ministério da Integração Nacional.
11 Não cabe aprofundar aqui a discussão sobre este tema, objeto de um volumoso corpo de literatura na ciência política brasileira recente.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
cientes para aprovar com facilidade suas propostas. Nesse contexto, o apoio para as medidas
encaminhadas pelo Executivo tem de ser penosamente negociado, não só com os partidos polí-
ticos, cujas bancadas em muitos casos são pouco coesas, mas também com segmentos da repre-
sentação congressual que expressam interesses, regionais, estaduais ou locais. Com freqüência,
o resultado dessas negociações é o abandono ou a descaracterização de algumas das iniciativas
não consideradas as mais prioritárias, como ocorreu no caso do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Regional, sacrificado com o objetivo de aumentar as possibilidades de aprovação de
outros pontos da PEC da Reforma Tributária tidos como mais importantes pelo governo.
Além de elaborar essa proposta de uma nova Política de Desenvolvimento Regional, a Secre-
taria de Políticas Regionais do Ministério da Integração Nacional tem estimulado o debate sobre
a concepção de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial para o país. Em novembro de
2003 promoveu uma Oficina sobre o tema, origem de uma publicação intitulada “Para Pensar
uma Política Nacional de Ordenamento Territorial”, lançada em 2005.12 Atualmente, a Secretaria
de Políticas Regionais coordena um esforço de elaboração de uma proposta de Política Nacional
de Ordenamento Territorial, que conta com a colaboração acadêmica de vários especialistas da
área, com apoio do Centro de Desenvolvimento Sustentável, da Universidade de Brasília.
Deve ser registrada também, entre as iniciativas do Ministério, durante a atual gestão, a
elaboração de propostas para a recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco), da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ainda em tramitação no Congresso.
Essas superintendências foram extintas na administração anterior e sucedidas por agências
– a Agência do Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e a Agência de Desenvolvimento do Nor-
deste (Adene) – para as regiões Norte e Nordeste. As atividades da Sudeco passaram à alçada
da Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste, integrada à estrutura do Ministério. No
entanto, caso essas entidades venham a ser recriadas, a sua influência sobre o desenvolvimento
das regiões em que atuam será negativamente afetada pelas alterações ocorridas na proposta
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, cujos recursos deverão ser repassados às
administrações estaduais. Segundo a proposta original do Ministério da Integração Nacional, a
aplicação dos recursos do Fundo seria administrada por essas novas Superintendências.
Outro fato a ser registrado na evolução recente do tratamento da temática regional pela
administração federal é a criação da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-
volvimento Regional, do Conselho de Governo, por meio do Decreto no 4.793 de 23/07/2003.
A finalidade dessa Câmara é “formular políticas públicas e diretrizes de integração nacional
12 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2005-B.
1��
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
e desenvolvimento regional, bem assim como coordenar e articular as políticas setoriais com
impacto regional, com vistas a reduzir as desigualdades inter e intra-regionais” (art. 1o).
Embora se deva registrar esses esforços no sentido de retomar, em novas bases, o trata-
mento da temática territorial no Brasil, é necessário registrar também que os seus resultados
concretos são ainda pouco expressivos. Na verdade, a administração pública brasileira ainda
está distante de contar com um sistema de planejamento e gestão capaz de integrar de forma
efetiva a dimensão territorial à sua atuação. Apesar da inegável melhora em relação ao início
dos anos 1990, o tema ainda não conseguiu adquirir atenção suficiente para tornar-se uma
prioridade efetiva na agenda das políticas governamentais.
2. A influência do modelo europeu
A experiência européia tem sido uma referência importante para os esforços empreendidos na
última década no sentido de renovar a abordagem da dimensão territorial no Brasil. Em pri-
meiro lugar, o próprio fato de o tema ocupar papel de destaque na atuação da União Européia
tem servido de elemento legitimador para a preocupação em desenvolver políticas regionais,
em um momento ainda pouco propício para propostas que, de uma ou de outra forma, defen-
dam algum tipo de intervenção do estado no ordenamento das atividades econômicas.
Em segundo lugar, as características e os instrumentos da política regional européia têm
servido de inspiração para algumas propostas surgidas no contexto brasileiro. É o caso do pró-
prio Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional originalmente proposto pela administração
federal, cuja concepção se apóia no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. É também o
caso da tipologia incluída na proposta da Nova Política Regional, que classifica as regiões bra-
sileiras utilizando indicadores análogos aos adotados na definição dos critérios de elegibilidade
na política regional européia.
A preocupação em reduzir as desigualdades regionais, estimulando o desenvolvimento das
regiões mais atrasadas, tem sido um tema constante ao longo do processo que levou ao surgi-
mento da União Européia. A preocupação com a eqüidade territorial foi destacada já no preâm-
bulo do Tratado de Roma, de 1957, marco inicial desse processo, no qual era afirmada a necessi-
dade de promover a coesão econômica e o desenvolvimento harmonioso dos países-membros.
Tendo em vista o objetivo de estimular o crescimento das regiões mais pobres e/ou menos
dinâmicas do continente, progressivamente foram sendo criados e fortalecidos os principais ins-
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
trumentos da política regional européia: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional surgiu
em 1975, e em 1993 foi criado o Fundo de Coesão, voltado de forma específica para o desen-
volvimento dos quatro países mais pobres da União (Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia). Desde
sua criação, esses instrumentos passaram por várias reformas e ajustamentos operacionais, tema
que não cabe discutir com maior profundidade neste texto.
No entanto, no período mais recente, as preocupações da União Européia com a temática
territorial passaram a adotar uma perspectiva mais abrangente. Essa mudança de enfoque ficou
evidenciada com a elaboração da European Spatial Development Perspective (ESDP), documento
lançado em 1999, resultado de um longo processo de debates ocorrido ao longo dos anos 1990.
A ESDP tem como finalidade proporcionar um marco referencial para as políticas da União
Européia e dos estados-membros – não apenas para as políticas territoriais explícitas, mas para
todos os tipos de ações que têm efeitos sobre o território. O objetivo central desse marco é
promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do território europeu. Como define a
apresentação do documento:
The aim of spatial development policies is to work towards a balanced and sustainable
development of the territory of the European Union. In the Ministers’ view, what
is important is to ensure that the three fundamental goals of European policy are
achieved equally in all the regions of the EU:
- economic and social cohesion;
- conservation and management of natural resources and the cultural heritage;
- more balanced competitiveness of the European territory.13
Um dos aspectos mais importantes da ESDP é o fato de que a sua elaboração marca a
convergência entre dois tipos de políticas que, no contexto europeu, eram articuladas e imple-
mentadas por dois diferentes aparatos institucionais. O primeiro tipo é constituído pela política
regional da União Européia, voltada para a redução das desigualdades regionais, em nome do
objetivo da coesão, tema que, como foi visto, ocupa posição central nas preocupações da enti-
dade. O segundo é constituído pelas políticas de ordenamento territorial dos países-membros,
que são um tema não incluído no contexto dos tratados constitutivos da União Européia.
A articulação entre essas políticas nacionais de ordenamento territorial tem sido feita,
desde 1970, por meio da European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning
(CEMAT, segundo a sigla em francês), entidade ligada ao Council of Europe e não integrante do
aparato institucional da União Européia. Na verdade, o Council of Europe é uma organização
13 European Commission (1999-A), Introdução.
1��
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
mais antiga e mais abrangente do que a União Européia, embora seus objetivos sejam mais
limitados, que foi fundada em 1949 e agrupa, na atualidade, 46 países. Sua composição é,
portanto, bem mais ampla do que a da União Européia.
Desde o início dos anos 1970, a European Conference of Ministers Responsible for Regional
Planning já realizou treze encontros para articular os esforços nacionais na área do ordena-
mento territorial, nos quais têm sido elaborados documentos que expressam o consenso des-
sas autoridades sobre o tema. Alguns desses documentos merecem destaque especial, como a
“European Regional/Spatial Planning Charter”,14 aprovada em 1983 no encontro realizado em
Torremolinos, na Espanha; a “European Regional Planning Strategy”, apresentada em 1988 em
Lausanne; e os “Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Con-
tinent”,15 apresentados no encontro de Hannover, no ano 2000.
A “European Spatial Development Perspective” resultou de uma aproximação entre os res-
ponsáveis pela política regional da União Européia e os ministros encarregados do planejamento
territorial nos países-membros. Como registra um relatório publicado pelo Nordic Centre for
Spatial Development (NORDREGIO), o processo que levou à elaboração da ESDP teve início no
fim dos anos 1980:
In 1989 the French EU Presidency invited ministers responsible for spatial planning in
the EC Member States to an informal meeting in Nantes. Jacques Delors, then Presi-
dent of the European Commission, was also present and in his speech invited delega-
ted to formulate a vision of European space.
Two years later, in 1991, the Committee on Spatial Development (CSD) was founded.
It is not formally a part of the Maastricht Treaty, having been agreed upon at a mee-
ting of Ministers responsible for spatial planning in 1991, but had rather an inter-
governmental character. Its task was to co-ordinate activities concerning European
spatial policy and implement decisions of the Informal Council of Ministers of Spatial
Planning. It was, however, a committee that united top planners from European Union
Member States, chaired not, as might be expected, by the Commission but in turns by
the Member States. The country holding the EU Presidency also served as the chair in
the CSD while the Commission, namely DG Regio, acted as a secretariat.
In 1993 the debate among the Member Sates and the Commission took an important
step forward with the decision, taken at the informal meeting of ministers in Liège, to
elaborate a common document, the Schéma de dévelopment de l’espace communau-
taire, a European Spatial Development Perspective (ESDP).16
14 European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (1983).15 European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (2002).16 Böhme (2002). As principais etapas da elaboração da ESDP estão descritas nas páginas 11-12 do próprio documento (EUROPEAN
COMMISSION,1999-A).
200
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A elaboração da “European Spatial Development Perspective” marca o início de um processo
de convergência entre a política de enfrentamento das desigualdades regionais da União Euro-
péia e as políticas de ordenamento territorial dos países-membros, que poderá fazer que, no
futuro, a competência da União seja ampliada para incorporar também ações relacionadas com
o ordenamento territorial. Tal evolução seria compatível com o padrão até aqui seguido pelas
ampliações de competência da União Européia. As ampliações têm geralmente iniciado por
propostas de aumento da cooperação intergovernamental, seguidas, num segundo momento,
por demandas de envolvimento mais direto da União, caracterizando o que alguns autores
denominam de “creeping competence”17. O status da ESDP no contexto da governança das
políticas da União Européia, como documento não-vinculante e voltado para a promoção de
uma maior cooperação entre os países-membros, é definido nos seguintes termos:
The ESDP, as a legally non-binding document, is a policy framework for better coo-
peration between Community sectoral policies with significant spatial impacts and
between Member States, their regions and cities. It is, therefore, consistent with the
political principles, agreed in 1994, as follows:
• spatial development can contribute in a decisive way to the achievement of the
goal of economic and social cohesion,
• the existing competencies of the institutions responsible for Community policies
remain unchanged. The ESDP may contribute to the implementation of Commu-
nity policies which have a territorial impact, but without constraining the respon-
sible institutions in exercising their responsibilities,
• the central aim will be to achieve sustainable and balanced development,
• it will be prepared respecting existing institutions and will be non-binding on
Member States,
• it will respect the principle of subsidiarity,
• each country will take it forward according to the extent it wishes to take account
of European spatial development aspects in its national policies.18
Tendo em vista esse padrão de ampliação das competências da União Européia (“creeping
competence”), a elaboração da ESDP parece apontar na direção do surgimento, no futuro, de
um modelo mais abrangente de planejamento e gestão do território, não restrito apenas aos
instrumentos atualmente utilizados, e melhor equipado para articular os impactos de diferen-
tes tipos de políticas sobre a configuração do espaço europeu. Nesse modelo, a redução das
17 Böhme (2002).18 European Commission (1999-A).
201
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
desigualdades regionais provavelmente continuará a ser, em nome do objetivo da coesão, o
mais central dos objetivos das políticas territoriais européias.
A tendência da experiência européia pode estar indicando um novo rumo para os esforços
daqueles que se ocupam do tema no Brasil: talvez já não seja suficiente apenas conceber e
implantar instrumentos para a promoção do desenvolvimento das regiões mais pobres e/ou
deprimidas. Talvez já seja hora de começar a discutir a implantação de um modelo de planeja-
mento e gestão territorial que englobe a questão do enfrentamento das desigualdades regio-
nais em um marco institucional e conceitual mais abrangente.
3. As características do novo modelo
Nas seções a seguir são expostas algumas características que podem ser consideradas neces-
sárias para o modelo de planejamento e gestão territorial adequado ao contexto brasileiro.
Simultaneamente, são indicadas algumas iniciativas – novas ou que atualmente já estão sendo
implementadas – cuja implementação, fortalecimento, ampliação ou aperfeiçoamento podem
contribuir para a implantação do modelo.
A questão central abordada nestas considerações diz respeito a como construir um aparato
institucional capaz de integrar, em um mesmo sistema de planejamento e gestão, os tipos de
ações usualmente compreendidos por uma “política de desenvolvimento regional” (entendida
como uma política de enfrentamento de desigualdades regionais), e os compreendidos em uma
“política de ordenamento territorial”. É importante destacar que a discussão apresentada a
seguir refere-se fundamentalmente à concepção e implantação de um conjunto de métodos,
instrumentos e procedimentos, operado por um conjunto de organizações, governamentais ou
não. Apenas secundariamente refere-se ao conteúdo específico das políticas que possam vir a
ser operadas por meio desse conjunto de métodos, instrumentos, procedimentos e organiza-
ções. Trata-se mais de discutir a governança das políticas territoriais do que o seu conteúdo. 19
19 É importante destacar que as políticas da União Européia têm se constituído em um laboratório de novas experiências de governança. Informações e documentos sobre o sistema de governanças da União Européia podem ser obtidas no endereço http://europa.eu.int/comm/governance/governance_eu/index_en.htm. Para análises sobre as tendências de mudança nesse sis-tema, em especial sobre o “open method of coordination”, ver Kaiser e Prange (2003) e Radaelli (2003). Especificamente sobre o debate em torno do papel do nível regional e local no contexto da “multi-level governance” européia, ver European Comission (2001-B).
202
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
3.1 O modelo deve apoiar-se em objetivos claramente explicitados, que desfrutem de um elevado grau de consenso na sociedade brasileira, e deve apoiar-se em um diagnóstico das tendências que influenciam a dinâmica territorial no Brasil
Uma das características mais importantes da política regional européia é o fato de apoiar-se
em objetivos claramente explicitados, cuja prioridade constitui consenso entre os estados-
membros da União, assegurando a manutenção do seu foco e a sua continuidade. A “European
Spatial Development Perspective”, que contém um dos mais recentes “statements” dos princí-
pios em que se baseia essa política, como já foi apontado, define esses objetivos em termos de
“economic and social cohesion”, “conservation and management of natural resources and the
cultural heritage” e “more balanced competitiveness of the European territory”. Como já foi
destacado, a coesão econômica e social foi sempre uma das preocupações centrais do processo
que levou à criação da União Européia, e em seu nome tem sido desenvolvida, desde o início, a
política européia de desenvolvimento regional. Partindo desses objetivos gerais, em uma seção
intitulada “Policy Aims and Options for the Territory of the European Union”, a ESDP move-se
para um nível mais concreto, apresentando e discutindo diretrizes a ser utilizadas no processo
de ordenamento do território, bem como opções específicas de política.20
No Brasil, o próprio Ministério da Integração Nacional já elaborou uma proposta de obje-
tivos amplos para a gestão do território. O documento intitulado “Bases para as Políticas de
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional”, publicado no ano 2000, propôs os seguintes
objetivos:21
• Promover a competitividade sistêmica;
• Mobilizar o potencial endógeno de desenvolvimento das regiões;
• Fortalecer a coesão econômica e social;
• Promover o desenvolvimento sustentável; e
• Fortalecer a integração continental.
Por sua vez, a “Política Nacional de Desenvolvimento Regional”, adotada pela atual adminis-
tração federal, tem objetivos mais específicos, centrados no enfrentamento das desigualdades
regionais:
20 European Commission (1999-A).21 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2000-B.
203
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
O sentido maior de uma PNDR é, portanto, duplo: de um lado, sustentar uma trajetória
de reversão das desigualdades regionais que, à exceção de curtos períodos históricos,
não pararam de se ampliar no Brasil; de outro, explorar, com afinco, os potenciais
endógenos da magnificamente diversa base regional de desenvolvimento, em con-
formidade com os fundamentos sociais atuais de uma produção mais diversificada e
sofisticada, mas portadora de valores sociais regionalmente constituídos.22
Apesar desses dois esforços, no Brasil a discussão sobre os objetivos que devem presidir a
atuação do poder público sobre o território ainda não chegou a um grau de amadurecimento
capaz de gerar um nível de consenso como o consubstanciado na “European Spatial Develop-
ment Perspective”. Sem esse nível de consenso, torna-se difícil mobilizar apoio suficiente para
alcançar a prioridade necessária para viabilizar políticas ou ações mais efetivas relacionadas
com o ordenamento do território. Da mesma forma, o diagnóstico das tendências que afetam
a configuração do território brasileiro ainda precisa ser aprofundado, embora já se conte com
estudos sobre o tema. A discussão de tendências ocupa papel de destaque no texto da ESDP,
sendo objeto de uma seção intitulada “The Territory of the EU: Trends, Opportunities and Chal-
lenges”.23
Talvez uma das ações prioritárias para que se possa chegar a um modelo adequado de pla-
nejamento e gestão do território, no Brasil, seja estimular o aprofundamento do debate em
torno desses temas, buscando gerar os consensos necessários para produzir um documento
equivalente à ESDP, capaz de proporcionar um quadro de referência para um avanço susten-
tado na área das políticas territoriais. Sem a produção desses consensos, o tema provavelmente
continuará a ter pouca prioridade nas agendas governamentais, tendendo a ser negativamente
afetado por descontinuidades e mudanças de foco em diferentes administrações.
Um tipo de iniciativa que pode contribuir para animar o debate em torno dessas questões
é a criação de mecanismos de estímulo à maior produção e divulgação de estudos sobre
temas relacionados com o território. Uma das propostas da ESDP foi a criação de uma rede
para promover pesquisas sobre essas questões, o “European Spatial Planning Observatory
Network” (ESPON). Essa rede já foi implantada, contando com uma página na internet onde
são divulgados numerosos documentos relacionados com a temática territorial no contexto
europeu.24
22 BRASIL. Ministério da Integração Nacional, 2005-B.23 European Commission (1999-A).24 Disponível em: <http://www.espon.lu>.
204
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Outro tipo de iniciativa que também pode contribuir para animar esse debate é a criação de
um Fórum para promover eventos periódicos para intercâmbio e a articulação de experiências
estaduais relacionadas com diferentes aspectos da gestão do território.25 A implantação dessas
duas iniciativas pode ser conduzida pelo Ministério da Integração Nacional.
3.2 O modelo deve ser capaz de promover a articulação “vertical” de ações, entre a União, os estados e os municípios
Tendo em vista o fato de que o Brasil é uma república federativa, compreendendo três instân-
cias cujas ações e políticas influenciam a configuração do território, o modelo de planejamento
e gestão exigirá uma forma de governança baseada na colaboração entre múltiplos níveis de
governo. Isso implica a necessidade de mecanismos que possibilitem a articulação entre as
ações de diferentes instâncias administrativas que afetem a uma mesma área geográfica. A
articulação “vertical” pode ser promovida por meio do uso de instrumentos de concertação e
pactuação entre os entes federados.
Alguns exemplos desse tipo de instrumento podem ser encontrados no contexto europeu,
como os “Contrats de Plan État-Région”26 adotados na França. Outros instrumentos similares,
como os “Territorial Employment Pacts”,27 utilizados em programas da União Européia, envol-
vem não apenas instâncias governamentais, mas também entidades da sociedade civil.
O Ministério do Planejamento buscou, recentemente, implementar mecanismos desse gênero
no Brasil, sob a denominação de “Pactos de Concertação”, no contexto da elaboração do Plano
Plurianual 2004-2007. Como afirma um documento do Ministério:
(...) o plano de gestão prevê tratamento diferenciado para as questões de caráter regio-
nal traduzidas em instrumentos e arranjos específicos, visando assegurar a adequada
incorporação dessa dimensão na gestão do PPA. Os Pactos de Concertação entre a
União e os demais entes federativos representam um primeiro passo de compatibili-
zação e expansão da clássica gestão setorial com a gestão que tem como referência o
25 A idéia da European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning, que promove encontros a cada dois anos para intercâmbio e articulação de políticas entre países, pode ser adaptada para o caso brasileiro, agrupando secretários estaduais que tenham sob sua responsabilidade temas relacionados com a gestão do território.
26 Os “Contratos de Plano” são instrumentos de gestão por meio dos quais a administração central e as administrações regionais francesas definem papéis e responsabilidades no financiamento e na execução de projetos importantes para o desenvolvimento regional. A Secretaria de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul tem buscado adaptar esse tipo de instrumento ao con-texto do estado, contando com a parceria dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento existentes nessa Unidade da Federação.
27 Sobre esse instrumento, ver o “Guide to Territorial Employment Pacts 2000-2006” – European Commission (1999-B).
20�
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
território. Os arranjos gerenciais propostos permitem também uma gestão coordenada
de grupo de programas, que aglutinem os setores e respectivos programas, selecio-
nados, de acordo com as diretrizes das políticas (sic) Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional; de desenvolvimento rural; de ordenamento do território; de meio
ambiente e de desenvolvimento urbano e rede de cidades, entre outras.28
Mais adiante, o mesmo documento define com maior detalhe os objetivos e os resultados
esperados desses pactos, afirmando que:
O objetivo geral dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios é imple-
mentar os programas selecionados em comum acordo com os três entes da federação,
considerando a demanda da sociedade e visando a um projeto de desenvolvimento em
nível sub-regional articulado à estratégia de desenvolvimento nacional que orientou a
formulação do PPA 2004-2007 do Governo Federal.
Como resultados, espera-se aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação
pública, por meio da definição e convergência de prioridades dos governos Federal,
estaduais e municipais, de modo a promover a redução das desigualdades regionais,
o equilíbrio no acesso aos serviços essenciais e a reversão da situação de exclusão e
precariedade de populações residentes em territórios em risco social e estagnação
econômica.29
É preciso registrar que a implementação desses pactos avançou pouco, ficando restrita
a algumas experiências piloto. No entanto, trata-se de um exemplo do tipo de instrumento
necessário para promover a articulação de ações entre instâncias federativas (podendo even-
tualmente incluir organizações não governamentais) no contexto do novo modelo de planeja-
mento e gestão territorial.
A modelagem dos mecanismos de pactuação deve incorporar dispositivos que assegurem
a efetiva implementação das iniciativas acordadas entre as partes, penalizando, de alguma
forma, o descumprimento de compromissos A existência de formas de penalização para o des-
cumprimento injustificado é essencial para assegurar a eficácia e a seriedade dos “contratos”
ou “pactos”.
28 BRASIL. Ministério do Planejamento – Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, 2004.29 BRASIL. Ministério do Planejamento – Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, 2004.
20�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
3.3 O modelo deve ser capaz de promover a articulação “horizontal” das ações de diferentes órgãos vinculados a uma mesma instância federativa
O modelo de planejamento e gestão do território deve também dispor de mecanismos que
promovam a articulação de ações dentro de um mesmo nível de governo. Ou seja, que asse-
gurem uma coordenação “horizontal” entre as ações de diferentes órgãos de uma mesma ins-
tância federativa que incidam sobre uma determinada porção do território. Essa articulação
é dificultada pela própria estrutura “setorializada” da administração pública brasileira e pelas
diferentes regionalizações operacionais utilizadas pelos vários órgãos setoriais. As dificuldades
são aumentadas pelas características do nosso “presidencialismo de coalizão”, que favorecem
a formação de verdadeiros “feudos” partidários na administração pública. Nesse contexto, a
articulação entre as ações de diferentes Ministérios ou Secretarias (no caso das administrações
estaduais) se torna um processo muito sensível, que com facilidade pode desencadear crises nas
bases de sustentação dos governos.
A atual administração começou a implantar um mecanismo de articulação “horizontal” das
ações federais, que é a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regio-
nal, criada pelo Decreto no 4.793, de 23 de julho de 2003, e instalada em 2004. Embora sua
atuação ainda seja bastante incipiente, trata-se de outro tipo de instrumento necessário para
um modelo de planejamento e gestão territorial adequado ao caso brasileiro. Não se pode, no
entanto, subestimar a dificuldade de institucionalizar, consolidar e dar eficácia à atuação desse
tipo de instrumento de articulação no contexto do nosso presidencialismo de coalizão.
Ao promover a coordenação da atuação de diferentes órgãos setoriais, um modelo ade-
quado de planejamento e gestão territorial deve possibilitar uma efetiva articulação dos efeitos
da ação pública sobre o território. A preocupação em avaliar o impacto territorial das políticas
públicas deve permear a atuação governamental, em todos os níveis. Embora privilegiando as
ações estruturantes, o modelo deve ser também capaz de influenciar e articular ações “rotinei-
ras” do poder público que incidam sobre uma mesma região.
Uma das principais preocupações da “European Spatial Development Perspective”, bem
como dos documentos que tratam do ordenamento territorial no contexto europeu, diz res-
peito ao impacto territorial das políticas públicas em geral. Um dos capítulos da ESDP leva o
título de “Influence of Community Policies on the Territory of the European Union”, abordando
o impacto espacial de vários tipos de atividades da União Européia, como a política de regula-
ção da concorrência, as redes trans-européias de transportes e energia, os fundos estruturais,
20�
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
a política agrícola, a política ambiental, a política tecnológica e os financiamentos do Banco
Europeu de Investimentos. Como registra o texto da ESDP, justificando a necessidade de dar
maior atenção aos impactos territoriais dessas políticas:
Successive Treaties (Single European Act, Maastricht and Amsterdam Treaties), have
led to the territorially significant sectoral policies of the EU having a stronger influ-
ence on the elaboration and implementation of national and regional spatial develop-
ment policies and thus on spatial development in the EU. “Spatial impact“ or “region-
ally significant“ means in this context that Community measures modify the spatial
structure and potentials in the economy and society thereby altering land use patterns
and landscapes. In addition, these measures may influence the competitive position
or spatial significance of a city or region within the European economic system and
settlement pattern.30
Uma das formas de inserir a preocupação com a dimensão territorial na gestão das políticas
setoriais consiste em incorporar categorias espaciais de forma explícita a essas políticas, dando
tratamento mais favorecido para regiões com maiores níveis de carência. Essa é mais uma das
propostas da ESDP para o caso europeu que pode ser adaptada para o caso brasileiro. 31
3.4 O modelo deve ser capaz de possibilitar uma interação efetiva entre as instâncias governamentais e a sociedade das regiões
Vários tipos de argumento têm sido apresentados, na literatura sobre desenvolvimento e sobre
políticas públicas, para ressaltar a necessidade de uma participação ampla e efetiva da socie-
dade civil na formulação e implementação das ações de governo, não apenas para produzir
melhores programas e projetos, mas também como instrumento para a construção de uma
sociedade mais dinâmica, mais justa e mais democrática.32
Um desses argumentos tem a ver com a eficácia das políticas e programas. Como tem sido
amplamente ressaltado, em documentos produzidos pelas principais agências internacionais de
fomento ao desenvolvimento, a falta de uma interação suficiente com os segmentos relevantes
da sociedade (“stakeholders”) tende a fazer que muitas ações públicas sejam mal concebidas
ou mal implementadas, tornando-se incapazes de alcançar os objetivos propostos. Além disso,
30 European Commission (1999-A).31 European Commission (1999-A).32 Este tema foi tratado, com maior amplitude, em Bandeira (1999) e Bandeira (2000).
20�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
quando tratada apenas como objeto e não como sujeito do processo de concepção e imple-
mentação dessas iniciativas, a população tende a não se identificar com elas, reduzindo sua
sustentação política e aumentando o risco de que se tornem efêmeras.
A preocupação em contribuir para uma ampla participação do conjunto da sociedade no
debate sobre as questões relacionadas com a gestão do território está presente no texto da
“European Spatial Development Perspective”:
The ESDP conveys a vision of the future territory of the EU. In its aims and guidelines
it provides a general source of reference for actions with a spatial impact, taken by
public and private decision-makers. Beyond that, it should act as a positive signal for
broad public participation in the political debate on decisions at European level and
their impact on cities and regions in the EU.33
Um modelo de planejamento e gestão territorial adequado para o caso brasileiro deve ser
capaz de possibilitar uma interação efetiva entre as instâncias governamentais e a sociedade
civil, na formulação implementação e avaliação das políticas, planos, programas e ações rele-
vantes para o desenvolvimento de cada região. Isso implica em uma abordagem que se distan-
cie do modelo tradicional de planejamento – de corte tecno-burocrático – em que a participa-
ção da sociedade civil, quando ocorre, tende a resumir-se à realização de audiências públicas
ou à presença fortemente minoritária de representantes de organizações da sociedade civil na
composição de alguns Conselhos, amplamente dominados por representantes de órgãos gover-
namentais. Nesse contexto, a participação mais serve para referendar opções já definidas pelas
instâncias técnicas ou políticas dos governos, sem exercer uma influência efetiva sobre o processo
decisório. A participação da sociedade civil, nesse modelo, acaba por ficar reduzida a rituais can-
sativos e de pouca eficácia, propensos a gerar frustração, desencanto e desinteresse.34
Uma forma mais efetiva de interação entre governo e sociedade civil pode ser alcançada por
meio da institucionalização de instâncias regionais permanentes de articulação e representa-
ção de atores regionais, cuja regra de operação baseie-se em regras desenvolvidas nos debates
em torno do conceito de “democracia deliberativa”.35 Associada à institucionalização de novas
escalas territoriais, a implantação dessas instâncias possibilitaria uma interlocução permanente
entre os planejadores e os gestores públicos e a sociedade das regiões.36
33 European Commission (1999-A).34 Uma crítica das formas assumidas pela participação da sociedade civil nesse modelo de planejamento pode ser encontrada em
Innes e Booher (2000).35 Para uma síntese da literatura sobre democracia deliberativa, ver Bohman (1998).36 Esta questão foi abordada em Bandeira (2006).
20�
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
Innes e Booher (2000) dão o nome de “planejamento colaborativo” ao modelo baseado
nesse tipo de interlocução, destacando que:
In the collaborative model, the essential idea is that planning should be done through
face-to-face dialogue among those who have interests in the outcomes, or stakehol-
ders. For this dialogue to work most effectively and produce feasible and well infor-
med choices, innovations, and joint action, various conditions must hold: 1) the full
range of interests must be involved; 2) the dialogue must be authentic in the sense
that people must be able to speak sincerely and comprehensibly to each other; that
what they say must be accurate and that they must speak as legitimate representatives
of a stakeholder interest; 3) there must be both diversity and interdependence among
the collaborators; 4) all issues must be on the table for discussion with nothing off
limits – the status quo cannot be sacred; 5) everyone in the discussion must be equally
informed, equally listened to and thus empowered as members of the collaborative
discussion; and 6) agreements are only reached when consensus is achieved among the
vast majority of participants and only after substantial serious effort has been made
to satisfy the interests of all players.37
A tradição burocrático-administrativa e o contexto político brasileiro certamente consti-
tuem um ambiente pouco propício para uma inovação institucional desse gênero. No entanto,
os Fóruns de representação e articulação de atores regionais já implantados no contexto dos
Programas de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas podem
ser considerados uma experiência piloto nessa direção. A ampliação dessa experiência, com a
adoção de procedimentos administrativos que favoreçam e facilitem uma interação efetiva
entre planejadores e gestores públicos, de um lado, e representantes da sociedade civil das
regiões, de outro, além de contribuir para uma maior eficácia e transparência dos processos
decisórios, pode fortalecer a base política de sustentação para o próprio processo de implanta-
ção do novo modelo de planejamento e gestão territorial. 38
3.5 O modelo deve considerar diferentes escalas territoriais
Um dos problemas a ser enfrentados na implantação de um modelo de planejamento e gestão
territorial adequado ao caso brasileiro é o da institucionalização de regiões em escalas meso e
microrregional.
37 Innes e Booher (2000).38 Estas questões foram discutidas em Bandeira (2006).
210
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Atualmente, existem no Brasil duas escalas territoriais relevantes para o planejamento que
apresentam institucionalização “forte” – a dos estados e a dos municípios – e outra com uma
institucionalização mais fraca e incompleta – a das macrorregiões. A institucionalização forte
dos dois primeiros níveis deve-se ao fato de constituírem instâncias da federação. A institu-
cionalização mais “fraca” de algumas das macrorregiões decorre de seu papel como base de
operação para órgãos da administração pública, como as antigas Sudene, Sudam e Sudeco,39
recentemente substituídas por agências, ou instituições de fomento, como o Banco do Nor-
deste, Banco da Amazônia ou o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).
No entanto, essas escalas são insuficientes, ou até mesmo inadequadas, para servir de base
a um modelo de planejamento e gestão territorial. As macrorregiões, como tem sido reitera-
damente registrado pela literatura, são excessivamente abrangentes e heterogêneas, o mesmo
podendo ser afirmado com referência ao território de muitos dos estados. Os municípios, por
sua vez, são demasiado pequenos e numerosos para servirem de base para o planejamento e
gestão territorial. Por esse motivo, é necessário avançar na institucionalização de regiões nas
escalas micro e meso territorial.
A institucionalização de regiões em escala “meso” tem sido objeto da atuação do Minis-
tério da Integração Nacional, por meio dos Programas de Mesorregiões. Da mesma forma, em
alguns estados têm sido institucionalizadas regiões na escala “micro”, como no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina. Por institucionalização entende-se aqui não apenas a definição
da existência das regiões por meio de instrumentos legais, mas principalmente a implantação
de instâncias de articulação e representação de atores, que transformem esses territórios em
entes coletivos e integrem a existência da “região” às práticas dos atores locais. Não se pre-
tende, no entanto, evidentemente, que as meso e microrregiões cheguem ao mesmo nível de
institucionalização dos estados e municípios, que segundo a nossa Constituição constituem
instâncias da Federação.
Cabe lembrar mais uma vez, neste contexto, o exemplo da União Européia, que utiliza, como
base para suas políticas regionais, as regiões NUTS (sigla que significa, em francês, Nomencla-
tura de Unidades Territoriais Estatísticas), em que é subdividido o território dos países europeus
para apresentação de dados estatísticos. Essa divisão tem caráter hierárquico e favorece crité-
rios institucionais, tendo como referência básica as divisões administrativas do território dos
países-membros,40 contemplando três níveis de Unidades Territoriais:
39 Cabe lembrar aqui a extinta Sudesul.40 European Commission (2004), seção I.1.
211
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
• Unidades Territoriais de Nível I – constituídas, por exemplo, pelos Länder alemães ou
pelas regiões da Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Gales e Escócia, entre 78 outras grandes
regiões européias;
• Unidades Territoriais de Nível II – subdividem o território europeu em 210 regiões
menores, correspondendo, por exemplo, às regiões autônomas da Espanha, às regiões e
departamentos ultramarinos da França, às regiões italianas, aos Länder austríacos, ou aos
“Regierungsbezierke”, que constituem as maiores subdivisões dos Länder da Alemanha,
entre outras;
• Unidades Territoriais de Nível III – aumentam o detalhamento, levando em conside-
ração 1.093 unidades menores, como os Nomoi da Grécia, os Maakunat da Finlândia,
os Län da Suécia, os Kreise na Alemanha, os Departamentos da França ou as Províncias
Espanholas e Italianas.
Os limites demográficos adotados para os três níveis de Unidades Territoriais são apresen-
tados na tabela 1, a seguir.
Tabela 1 – Limites de população para as regiões NUTS, da União Européia
Nível Mínimo Máximo
Regiões NUTS 1 3.000.000 7.000.000
Regiões NUTS 2 800.000 3.000.000
Regiões NUTS 3 150.000 800.000
Fonte: Regulation (EC) n. 1.059/2003 – of the European Parliament and of the Concil, of 26 May 2003, on the Establishment of a
Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS).
A institucionalização de novas escalas territoriais no Brasil, acompanhada da criação de ins-
tâncias de articulação e representação dos atores sociais, econômicos e políticos cuja atuação é
relevante nessas escalas, contribuirá para incorporar novos interesses ao debate sobre a gestão
territorial. Com isso, pode aumentar a sustentação política para uma maior priorização da
temática territorial na agenda das políticas públicas, tornando-se mais fácil contornar os pro-
blemas que têm dificultado o avanço no tratamento da questão regional e a criação de novos
instrumentos de atuação sobre o território, evitando-se revezes como a descaracterização da
proposta original do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
212
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Nesse sentido, não é demais ressaltar que a implantação de um modelo de planejamento
e gestão territorial no Brasil envolve mais do que apenas um esforço no sentido de conceber
soluções que possam ser consideradas tecnicamente adequadas. Envolve também – e princi-
palmente – uma difícil tarefa de engenharia política, que é a criação das bases de apoio para o
novo modelo, a fim de tornar possível sua progressiva implantação e consolidação. A mudança
no contexto institucional representada pela criação de instâncias de representação e articula-
ção de atores, em novos níveis territoriais, pode contribuir de forma decisiva para o fortaleci-
mento dessas bases de apoio.
A incorporação de novos atores ao debate público em torno das questões regionais, referen-
ciados a escalas menos abrangentes e mais próximos do nível “local”, ao trazer novos interesses
para o jogo cotidiano da formulação, da implementação e da gestão das ações, pode tornar
mais difícil a “captura” de agências e de instrumentos. A incorporação de novos atores aumen-
tará a exigência de transparência dos processos decisórios, pois aumentará também o número
daqueles dispostos a denunciar a ocorrência de procedimentos irregulares caso considerem que
seus interesses específicos foram indevidamente preteridos.
3.6 O modelo deve contar com instrumentos específicos para a promoção do desenvolvimento das regiões pobres e/ou menos dinâmicas
Nesse sentido, cabe reiterar a inexistência, na atualidade, de instrumentos adequados para
financiar a melhoria das condições de infra-estrutura nessas áreas, onde não se pode esperar
que essa melhoria ocorra por meio de mecanismos que obedecem a uma lógica de mercado,
movida pela lucratividade, como é o caso das concessões de serviços públicos ou das parcerias
público-privadas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, em sua concepção original,
atenderia a esse objetivo.
É imperativo, pois, que se desenvolvam novos instrumentos capazes de proporcionar um
tratamento diferenciado para as regiões mais pobres e/ou menos dinâmicas, possibilitando
financiamento adequado para programas de redução das deficiências de infra-estrutura, capa-
citação e elevação dos níveis educacionais. Para utilizar termos análogos aos apresentados nos
documentos da União Européia, isso implicaria buscar “promover uma competitividade mais
equilibrada do território brasileiro”.
213
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
No entanto, a criação de novos instrumentos de financiamento não constitui tarefa fácil,
tanto pela escassez de recursos quanto pelas dificuldades de viabilização política, como mostra
a tentativa frustrada de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
4. Conclusão
Talvez a especulação sobre as características de um modelo de planejamento e gestão territo-
rial adequado para o Brasil possa parecer prematura e irrealista, tendo em vista as dificuldades
enfrentadas recentemente no sentido de desenvolver novos instrumentos de política regional
em nosso país, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Tais dificuldades indi-
cam, em última análise, que a temática territorial ainda não conseguiu alcançar um nível de
prioridade suficiente, na agenda pública, que permita contar com avanços rápidos no futuro
próximo.
No entanto, como foi registrado nas seções anteriores, algumas das características aqui
consideradas necessárias para o novo modelo já se encontram presentes em iniciativas atual-
mente implementadas, mesmo que de forma incipiente. Assim, a implantação do novo modelo
não precisará acontecer ex nihilo, podendo ocorrer de forma progressiva, pela consolidação e
ampliação da escala dessas iniciativas já existentes. Dessa forma, a discussão aqui apresentada
não está totalmente fora de tempo e fora de lugar: é possível proceder por etapas, iniciando
por definir estratégias de fortalecimento dessas iniciativas, como passos intermediários na
implantação do modelo.
Entre as iniciativas que avançam na direção correta estão os Programas de Mesorregiões,
com suas instâncias de articulação e representação de atores regionais. O mesmo pode ser
afirmado dos esforços no sentido da institucionalização da escala microrregional, atualmente
existentes em alguns estados. O governo federal pode estimular a disseminação de iniciativas
semelhantes para outras Unidades da Federação.
Outra medida positiva foi a criação da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-
volvimento Regional, que, por ser ainda muito recente, pode ser suscetível de desativação em
eventuais transições de governo. Da mesma forma, os “Pactos de Concertação”, previstos pela
metodologia do Plano Plurianual, que não passaram até o momento de experiências piloto,
constituem um exemplo de instrumento adequado ao novo modelo.
214
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A maior dificuldade consiste na criação de instrumentos específicos e suficientemente
potentes para apoio às regiões pobres e/ou pouco dinâmicas, cuja gestão seja vinculada ao
novo modelo, a qual envolve mudanças substanciais na alocação de recursos e precisa esperar
pela abertura de janelas de oportunidade política. A institucionalização de novas escalas ter-
ritoriais e a incorporação de novos atores ao debate público sobre o tema pode aumentar a
pressão no sentido de que sejam criadas essas janelas de oportunidade.
A adoção de uma estratégia baseada no fortalecimento progressivo das iniciativas já exis-
tentes que se orientam na direção correta, e no aproveitamento de janelas de oportunidade
política, para que viabilizar avanços mais expressivos, parece ser a melhor opção para que se
possa chegar à implantação de um modelo adequado de planejamento e gestão territorial
no Brasil. Aliás, essa tem sido a lição da experiência européia, cuja abordagem das questões
territoriais tem evoluído ao longo do tempo, por meio da criação, do aperfeiçoamento e da
consolidação de instrumentos e da incorporação de novas dimensões, como mostra o caso da
elaboração da “European Spatial Development Perspective”, ao aproximar a política regional
européia da temática do ordenamento territorial.
A construção do modelo brasileiro também terá de ser necessariamente progressiva, devendo
levar em conta as restrições políticas inerentes ao “presidencialismo de coalizão”. Isso implica
começar por medidas que dependam exclusivamente de decisões da alçada do Poder Executivo,
aguardando oportunidades adequadas, em que a administração federal conte com maiorias
sólidas em apoio às suas iniciativas, para a proposição de medidas que dependam de aprovação
do Congresso.
21�
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
Referências
ARAÚJO, Tânia B.; GUIMARÃES NETO, L.Por uma nova política nacional de desenvolvimento regional.
Brasília: CNI, 1997 (mimeo - Texto para Discussão Interna).
BANDEIRA, P. S. Participação, articulação de atores sociais e desenvolvimento regional. Brasília: Ipea,
1999 (Texto para Discussão, n. 630).
_______. (2000). Construção das políticas de integração nacional e desenvolvimento regional. In: BRA-
SIL. Ministério da Integração Nacional, .“Reflexões sobre as políticas de integração nacional e desenvol-
vimento regional. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2000-A.
_______. “Mesorregiões como escala para políticas regionais: articulação de atores e gestão territorial.
In: DINIZ, C. C.; CROCCO, M. Economia regional e urbana – contribuições teóricas recentes. Belo Hori-
zonte: UFMG, 2006.
BOHMAN, J. “The coming of age of deliberative democracy. The Journal of Political Philosophy, v. 6, n.
4, p. 400-425, 1998.
BÖHME, K.Nordic echoes of European spatial planning: discursive integration in practice. Nijmegen Uni-
versity, 2002 (Nordregio Report 2002:8),. Disponível em: <http://www.nordregio.se/r0208.htm>. Acesso
em 4\2006.
BOISIER, S.Centralización y descentralización territorial en el proceso decisorio del sector publico. San-
tiago do Chile: ILPES/Cepal, 1995 (Documento CPRD-95).
BRASIL. Ministério da Integração Nacional, - . Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2000-A.
_______. Bases para as políticas de integração nacional e desenvolvimento regional. Brasília: Ministério
da Integração Nacional, 2000-B.
_______. Política de desenvolvimento regional – proposta para discussão. 2003. Disponível em: <http://
www.integracao.gov.br/>. Acesso em: 1/2004.
_______. Política de desenvolvimento regional Brasília, 2005-A. Disponível em: <http://www.integracao.
gov.br/>. Acesso em: 4/2006.
_______. Para pensar uma política nacional de ordenamento territorial. Brasília, 2005-B. Disponível
em: <http://www.integracao.gov.br/>. Acesso em: 4/2006.
21�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Desenvolvimento, BNDES. Estu-
do dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento. (CD). Brasília, 1999.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos.) – “Plano de Gestão do PPA 2004-2007”, Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.plane-
jamento.gov.br/arquivos_down/spi/Modelo_Gestao.pdf>. Acesso em: 4/2006.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento, e Gestão, Secretaria Especial de Políticas Regionais.
Indicações para uma nova estratégia de desenvolvimento regional. Brasília, 1995. (mimeo).
BURSENS, P.; HELSEN, S.The open method of coordination, a legitimate mode of governance? Artigo
apresentado na nona Conferência Bienal da European Union Studies AssociationAustin, Texas, entre 31
de março e 2 de abril de 2005. Disponível em: <http://aei.pitt.edu/3008/>. Acesso em: 4/2006.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. European governance: a white paper. Brussels, 2001.
Disponível em: <http://ec.europa.eu/comm/governance/white_paper/index_en.htm>. Acesso em: 4/2006.
DINIZ, C. C. Repensando a questão regional brasileira: tendências, desafios e caminhos. In: CASTRO, A. C.
Desenvolvimento em debate: painéis do desenvolvimento brasileiro, v. II. Rio de Janeiro: BNDES, 2002.
p. 239-274.
EUROPEAN COMMISSION. European spatial development perspective – towards balanced and sustaina-
ble development in the territory of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 1999-A. Disponível em: <http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/sour-
ces/docoffic/official/reports/som_en.htm>. Acesso em: 4/2006.
_______. Guide to territorial employment pacts 2000 - 2006. Commission Staff Working Document,
1999-B. Disponível em: <http://europa.eu.int/comm/regional_policy/innovation/innovating/pacts/en/
biblio.html>. Acesso em: 4/2006.
_______. White paper on European governance. Brussels: European Commission, (2001-A. Disponível
em: <http://ec.europa.eu/comm/governance/white_paper/index_en.htm>. Acesso em: 4/2006.
_______. Report by the working group on multi-level governance: linking and networking the various
regional and local Levels – (Group 4c), 2001-B. Disponível em: <http://europe.eu.int/comm/governance/
areas/group10/report_en.pdf>. Acesso em: 4/2006.
_______. European regional statistics: reference guide. Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2004. Disponível em: <http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITy_OFFPUB/KS-
BD-04-001/EN/KS-BD-04-001-EN.PDF>. Acesso em: 4/2006.
21�
Território e planejamento:a experiência européia e a busca de caminhos para o Brasil
EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR REGIONAL PLANNING. The European regional
planning charter Resolution n. 2 adopted in the 6th Session, Torremolinos (Spain), 19-20 May 1983,
Council of Europe, Strasbourg, CEMAT (83) 7. Disponível em: <http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-ope-
ration/Environment/CEMAT/List_of_Conferences/071_resol1983.asp#TopOfPage>. Acesso em: 4/2006.
_______. Guiding principles for sustainable spatial development of the European continent. Recom-
mendation adopted by the committee of ministers on 30 jan. 2002, at the 781st meeting of the minis-
ters deputies. Disponível em: <http://www.coe.int/t/e/cultural_co–operation/environment/cemat/GPSS-
DEC/>. Acesso em: 4/2006.
GALVÃO, A. C.; BRANDÃO, C. A. Fundamentos, motivações e limitações da proposta dos eixos nacionais
de integração e desenvolvimento (Seminário Regional Sul) Porto Alegre: RS, DIEESE/CESIT/CNPq/STCAS,
29-30 out. 2001.
INNES, J. E.; BOOHER, D. E. Public participation in planning: new strategies for the 21st century. Univer-
sity of California at Berkeley, Institute of Urban and Regional Development, 2000 (Working Paper 2000-
2007). Disponível em: <http://www-iurd.ced.berkeley.edu/pub/WP-2000-07.pdf>. Acesso em: 4/2006.
KAISER, R.; PRANGE, H.Open policy coordination in a multi-level governance system: the open method
of coordination and and the European research and innovation area. Second ECPR General Conferen-
ce. Marburg, 18 a 21 set.2003. Disponível em: <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/
marburg/papers/23/4/Prange.pdf>. Acesso em: 4/2006.
RADAELLI, C. M. The open method of coordination: a new governance architecture for the European
Union? Estocolmo: Swedish Institute for European Policy Studies, 2003. Disponível em: <http://www.
sieps.se/publ/rapporter/2003/2003_1_en.html>. Acesso em: 4/2006.
�3
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporâneaTânia Bacelar de Araújo
Brasil: desafios de uma Política Nacional de
Desenvolvimento Regional contemporânea
1. Introdução
Inicialmente, torna-se importante deixar clara a concepção aqui adotada sobre a globaliza-
ção, uma vez que essa noção tem comportado muitas visões, muitas leituras, principalmente
a leitura dos que comandam e ganham com esse processo. A presente abordagem se identifica
com aqueles que entendem que a globalização é um estágio avançado de um velho movimento
que começa muito atrás. Um movimento do qual Marx falava no Manifesto quando tratava do
que chamou de “vocação cosmopolita da burguesia”, concretizada na tendência que apresenta
de se alastrar mundo afora e difundir seus padrões de consumo, de produção e, principalmente,
as relações sociais típicas do capitalismo.
Claro que no momento atual esse movimento agrega outros processos, se firma num outro
patamar, ganha natureza especial; mas o que importa destacar é que ele não pode ser enten-
dido – como querem alguns – como uma ruptura que sinaliza o “fim da história”. Para o pre-
sente trabalho, se a globalização é portadora de coisas novas, ela é, igualmente, portadora de
tendências e marcas estruturais do velho capitalismo.
Considera-se aqui importante assumir com clareza essa concepção para poder entender o
Brasil e discutir política regional consistente com os desafios de sua realidade. Isso porque este
país não engatou agora no velho movimento de internacionalização do capital, metamorfose-
ado atualmente na globalização. O Brasil – como muitos outros países – fez seu engate no século
XVI, quando “descoberto”, se transformou em colônia de Portugal. Portanto, muitas de nossas
estruturas socioeconômicas e culturais guardam as marcas desse engate, até hoje. O que se
construiu no passado tem muita relação com o tema que se pretende discutir neste trabalho.
�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Ademais, vale lembrarque a globalização é um movimento hierarquizado, tem comando, e
não são todos os agentes que conseguem atuar de forma global. Ele cria e recria hierarquias.
E, do ponto de vista do território, a globalização privilegia, não por acaso, determinadas escalas
territoriais (a mundial e a local). E define essas prioridades a partir da sua lógica de funcio-
namento, ou melhor, da lógica dos interesses dominantes – os interesses do grande capital,
sediado nos países mais ricos do mundo.
Vale ainda salientar que essas duas escalas (a global e a local) não eram as escalas predo-
minantes no momento em que a internacionalização se firma, ou seja, no momento em que o
que se mundializava era a circulação da mercadoria, sob o comando dos interesses do capital
comercial; e depois, o que se mundializava era o capital produtivo industrial. Até então, a escala
mais importante era a nacional. Não é à toa que, na ciência geográfica, o conceito de região
nasce como um conceito subnacional. Basta ler qualquer representante da Geografia Clássica,
por exemplo, para descobrir que a região é entendida como um espaço subnacional, porque o
espaço de referência principal era o espaço nacional.
Ocorre que o momento atual é outro, e o que está acontecendo é que a escala nacional não
interessa mais aos que comandam a globalização. São agentes que têm, agora, capacidade de
operar no espaço supranacional, ou seja, capacidade de operar no espaço mundial. Daí passa-
rem a contestar as escalas intermediárias, especialmente a nacional, até por que foi nela que o
esforço de regulação que a sociedade passou séculos construindo, se concentrou. Leis, meca-
nismos diversos de regulação do mercado, instituições que articulam o interesse mais geral
das sociedades se construíram nas escalas intermediárias entre a global e a local. Mas agora o
grande capital quer – e pode – circular livremente à escala mundial.
Daí, a nação, o espaço nacional, hoje, ser duplamente questionado: por cima, pelos agentes
globais – que querem quebrar as antigas regulações –, como o capital comercial ajudou a que-
brar o feudo para implantar o Estado Nacional que privilegiou regulações nessa escala. Hoje,
vive-se momento semelhante, mas a tensão se dá numa outra escala.
No entanto, a escala nacional é também pressionada por baixo, pela apologia dos “loca-
listas”. Daí serem muito importante para o debate as reflexões propostas pelo Professor Ash
Amin (capítulo 1). Por que pressionada por baixo? Porque na era da globalização as regiões
para os agentes de porte mundial são meros “palcos de operação”, são meros locus de atuação.
Mas que as regiões não são apenas isso. Elas são, também, construções sociais. As regiões têm
história, muitas delas foram formadas ao longo de muito tempo... As regiões têm vida, têm
agentes sociais próprios, têm sua cultura, seus valores... São, assim, distintas umas das outras,
embora suportem, crescentemente, impactos provenientes do aumento das inter-relações que
��
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
se estabelecem entre diversos espaços no mundo contemporâneo. E, em países desiguais e
heterogêneos como o Brasil, há interesses regionais e locais distintos e muitas vezes antagô-
nicos entre as regiões. E o que se apresenta como “nacional” tende a reproduzir interesses das
regiões mais ricas e poderosas. A escala nacional tende a ser, assim, objeto de questionamento
por interesses locais.
Como se vê, as duas escalas privilegiadas na era da globalização pelos que a comandam – o
espaço global e o espaço local – tendem a questionar a escala nacional. Questionada por cima
pelos que têm capacidade e querem operar livremente à escala mundial; e por baixo, porque na
realidade concreta as regiões têm vida e querem mais autonomia, ou querem se firmar diante
das tendências homogeneizantes que vêm embutidas na globalização. E as populações regio-
nais tendem a reagir à uniformização, daí o questionamento que vem “de baixo”.
Por isso que é difícil trabalhar com o conceito de globalização, porque não é só um conceito
econômico, ele também embute componente sociais, culturais, ideológicos. Por tal razão essa
discussão inicial é importante, embora não seja possível fazê-la aqui na profundidade desejada.
2. O Brasil e sua dinâmica regional
O Brasil engatou no século XVI no velho movimento de internacionalização do capital comer-
cial como colônia de exploração. Isso o diferencia, por exemplo, dos Estados Unidos, que enga-
taram como colônia de povoamento da potência hegemônica da época. Daí histórias muito
diferentes entre esse país e os demais da América Latina, todos ex-colônias de exploração. Daí
nossas semelhanças com esses países latinos.
Esse engate marca o Brasil até hoje. Pedaços do nosso território, por exemplo, foram sendo
articulados naquele movimento, montando bases produtivas e estruturas socioculturais diferen-
ciadas. Esse tempo marca até hoje nossas distintas regiões. Porém, mudanças relevantes tam-
bém ocorreram, alterando a configuração regional do país. Assim, vêm sendo trabalhadas duas
grandes fases, ao analisar a dinâmica regional brasileira. Uma que marcou o Brasil primário-
exportador e outra que marca o Brasil do século XX e início do XXI, com o Brasil industrial e
urbano que se firma. Com seus momentos distintos em cada uma delas, mas com marcas centrais
importantes.
Como já se destacou aqui, ao longo de quatro séculos, desde seu descobrimento pelo capital
mercantil em busca de internacionalização, o Brasil se constituiu como um país rural, escra-
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
vocrata e primário-exportador. Só no século XX é que emerge o Brasil urbano-industrial e de
relações de trabalho tipicamente capitalistas. As antigas bases primário-exportadoras, embora
montadas no amplo litoral do país, eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a elas
as indústrias tradicionais. A imagem proposta por Francisco de Oliveira é a de um “arquipélago”
de regiões que quase não se ligavam umas com as outras por se articularem predominante-
mente com o mercado externo.
A moderna e ampla base industrial, montada no atual século, ao contrário, tendeu a con-
centrar-se, fortemente, em uma região, o Sudeste. Com 11% do território brasileiro, o Sudeste
respondia, em 1970, por 81% da atividade industrial do país, sendo que São Paulo, sozinho,
gerava 58% da produção da indústria existente.
No entanto, nas décadas recentes, começava a se verificar, no Brasil, um modesto movi-
mento de desconcentração espacial da produção nacional. Esse movimento se inicia (anos
1940 e 1950) via ocupação da fronteira agropecuária, primeiro no sentido do Sul e depois na
direção do Centro-Oeste, do Norte e parte Oeste do Nordeste. A partir dos anos 1970 ele se
estende à indústria. Na medida em que o mercado nacional se integrava, a indústria buscava
novas localizações, desenvolvendo-se em vários locais das regiões menos desenvolvidas do
país, especialmente nas suas áreas metropolitanas. Em 1990, o Sudeste caíra para 69% seu
peso na indústria do Brasil, São Paulo recuara sua importância relativa para 49%, enquanto o
Nordeste passava de 5,7% para 8,4% seu peso na produção industrial brasileira, entre 1970 e
1990. O mesmo movimento de ganho de posição relativa acontecia com o Sul, Norte e Centro-
Oeste. Os efeitos da desconcentração das atividades agrícolas, pecuárias e industriais afetaram
o terciário, que também tendeu à desconcentração.
O resultado é que, embora a produção do país ainda apresente um padrão de localização
fortemente concentrado, em 1990 a concentração era menor que nos anos 1970. Entre 1970
e 1990, o Sudeste cai de 65% para 60% seu peso no PIB brasileiro, enquanto o Sul permanece
estável, respondendo por cerca de 17% da produção nacional, mas o Nordeste, Norte e Centro-
Oeste ganham importância relativa (essas três regiões, juntas, passam de 18 % para 23 % sua
participação no PIB do Brasil).
Ao mesmo tempo em que constatavam a tendência a desconcentrar a dinâmica econômica
no espaço territorial do país nas últimas décadas, diversos estudos enfatizam a crescente dife-
renciação interna das macroregiões brasileiras. Carlos Américo Pacheco, por exemplo, chama
atenção para o aumento da heterogeneidade intra-regional que acompanhou o processo recente
de desconcentração e que legou uma configuração ao país bastante distinta da que possuía em
1970. Constata ele que o desenvolvimento da agricultura e da indústria “periférica” não apenas
��
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
modificou a dimensão dos fluxos de comércio, mas transformou as estruturas produtivas de
diversas regiões, resultando em maior diferenciação do espaço nacional, com aumento da hete-
rogeneidade interna e reforço de certas “especializações”, gerando o surgimento de “ilhas” de
prosperidade, mesmo em contextos de estagnação (PACHECO, 1998). No Nordeste e no Norte,
por exemplo, essa diferenciação interna se amplia muito nas últimas décadas, como fica claro
no artigo em que foi analisada a crescente complexidade e heterogeneidade da realidade nor-
destina (ARAÚJO, 1995) e no trabalho onde Sérgio Buarque identifica profundas diferenciações
na organização do espaço econômico da região Norte (BUARQUE, 1995).
Essa crescente diferenciação regional em diversas macroregiões brasileiras teria sido a con-
trapartida do processo de integração do mercado nacional, comandado a partir de São Paulo,
segundo Wilson Cano. Para esse autor, bloqueando as possibilidades de “industrializações autô-
nomas”, como sonhara Celso Furtado para o Nordeste, no fim dos anos 1950, o movimento de
integração do mercado nacional forçava o surgimento de “complementaridades” inter-regio-
nais e fazia desenvolverem-se “especializações” regionais importantes (CANO, 1985). Servem
como exemplos o desenvolvimento de pólos como os de eletro-eletrônicos na Zona Franca
de Manaus, mineração no Pará, bens intermediários químicos no Nordeste oriental, têxteis no
Ceará e Rio Grande do Norte, entre outros.
Embora a lógica da acumulação fosse a mesma no imenso território do país, como bem des-
taca Francisco de Oliveira, e se estivesse construindo uma “economia nacional, regionalmente
localizada” em substituição às “ilhas regionais” da fase primário – exportadora (OLIVEIRA, 1990),
as heterogeneidades internas às macrorregiões não diminuíram. Muito ao contrário, tenderam
a se ampliar, nos anos recentes. A prioridade principal era a da integração do mercado interno
nacional e a da consolidação da integração físico-territorial do país – objetivo importante dos
governos militares. E nesse contexto, da mera articulação comercial entre as regiões passa-se à
integração produtiva comandada pelo grande capital industrial e pelo Estado Nacional, como
mostra Leonardo Guimarães Neto (GUIMARÃES NETO, 1989). Com ela, as regiões se integram à
mesma lógica da acumulação, enquanto ficam mais complexas e diferenciadas internamente.
Nos anos 1990, num contexto mundial marcado por transformações importantes, o
ambiente econômico brasileiro sofre grandes mudanças que terminam impactando na dinâ-
mica regional. Dentre as principais, destacam-se uma política de abertura comercial intensa e
rápida, a priorização à integração competitiva, reformas profundas na ação do Estado e, final-
mente, a implementação de um programa de estabilização que já dura vários anos (de 1994 até
o presente). Paralelamente, o setor privado promoveu uma reestruturação produtiva também
intensa e muito rápida.
��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Nesse novo contexto, novas forças atuam, umas concentradoras, outras não. Dentre as que
atuam no sentido de induzir à desconcentração espacial destacam-se: a abertura comercial
podendo favorecer “focos exportadores”, mudanças tecnológicas que reduzem custos de inves-
timento, crescente papel da logística nas decisões de localização dos estabelecimentos, impor-
tância da proximidade do cliente final para diversas atividades e ação ativa de governos locais
oferecendo incentivos, entre outras. Enquanto isso, outras forças atuam no sentido da concen-
tração de investimentos na áreas já mais dinâmicas e competitivas do país. Atuam nesse sen-
tido, em especial, os novos requisitos locacionais da acumulação flexível, como: melhor oferta
de recursos humanos qualificados, maior proximidade com centros de produção de conheci-
mento e tecnologia, maior e mais eficiente dotação de infra-estrutura econômica, proximidade
com os mercados consumidores de mais alta renda.
Autores com Pacheco chamam a atenção também para os condicionantes da reestrutura-
ção produtiva e em especial para a forma como vem se dando a inserção internacional do Bra-
sil, especialmente no que diz respeito às estratégias das grandes empresas frente ao cenário da
globalização da economia mundial. E constatam que, ao contrário do que se poderia esperar, a
globalização reforça as estratégias de especialização regional (OMAN, 1994). A nova organiza-
ção dos espaços nacionais tende a resultar de uma lado, da dinâmica da produção regionalizada
das grandes empresas (atores globais) e da resposta dos Estados Nacionais para enfrentar os
impactos regionais seletivos da globalização.
Tende-se, nesse contexto, a romper o padrão dominante no Brasil das últimas décadas, em
que a prioridade era dada à montagem de uma base econômica que operava essencialmente
no espaço nacional – embora fortemente penetrada por agentes econômicos transnacionais – e
que ia lentamente desconcentrando atividades em espaços periféricos do país. O Estado Nacio-
nal jogava um papel ativo nesse processo, tanto por suas políticas explicitamente regionais,
como por suas políticas ditas de corte setorial/nacionale pela ação de suas estatais.
Nos anos 1990, as decisões dominantes tenderam a ser as do mercado, dada a crise do
Estado e as novas orientações governamentais, ao lado das evidentes indefinição e atomização
que marcaram a política de desenvolvimento regional no Brasil, se é que assim se pode dizer.
Estudos recentes têm convergido para sinalizarem, no mínimo, para a interrupção do movi-
mento de desconcentração do desenvolvimento na direção das regiões menos desenvolvidas.
Alguns estudiosos chegam a falar em reconcentração, como é o caso de Clélio Campolina
Diniz, da UFMG. No caso da indústria, estudos recentes permitem falar de tendência a concen-
tração do dinamismo em determinados espaços do território brasileiro. Também identificando
uma forte tendência à concentração espacial do dinamismo industrial recente, trabalho elabo-
��
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
rado pelo mesmo Campolina, localizou os atuais centros urbanos dinâmicos do país, em termos
de crescimento industrial. Constatou que a grande maioria deles se encontra num polígono
que começa em Belo-Horizonte, vai a Uberlândia (MG), desce na direção de Maringá (PR) até
Porto-Alegre (RS) e retorna a Belo-Horizonte via Florianópolis (SC), Curitiba (PR), e São José dos
Campos (SP). Das 68 aglomerações urbanas com intenso dinamismo industrial recente, 79 %
estão situadas nas regiões Sul /Sudeste, 15% no Nordeste e apenas 6% no Norte e Centro-Oeste
(CAMPOLINA DINIZ, 1996). Na sua maioria, são capitais ou cidades de porte médio, muitas delas
bases dinâmicas recentes, como Sete Lagoas, Divinópolis, Pouso Alegre e Ubá, em Minas Gerais;
Araçatuba Pirassununga, Jaú e Tatuí, em São Paulo; ou Pato Branco e Ponta Grossa, no Paraná;
entre outras.
As deseconomias de aglomeração tiram as maiores Regiões Metropolitanas, Rio e São Paulo,
desse foco dinâmico industrial, mas esta última concentra cada vez mais o comando financeiro
da economia nacional.
É certo que as conseqüências espaciais de políticas importantes como a de abertura comer-
cial e a de integração competitiva comandada pelo mercado, aliadas a aspectos importan-
tes da política de estabilização (como câmbio valorizado, juros elevados e prazos curtos de
financiamento) têm impactado negativamente em vários segmentos da indústria instalada no
Brasil, e afetaram especialmente São Paulo.
É certo também que algumas empresas de gêneros industriais mais intensivos em mão-de-
obra (calçados e confecções, por exemplo) têm buscado se relocalizar no interior do Nordeste,
para competir com concorrentes externos (principalmente com os países asiáticos), atraídos
pela super-oferta de mão-de-obra e baixos salários, e pela possibilidade de flexibilizar as rela-
ções de trabalho (adotando subcontratação, por exemplo), ao se mudarem .
Contudo, esses fatos não alteram significativamente as tendências e as preferências locacio-
nais identificadas pelos estudos de Campolina Diniz – tendências e preferências que beneficiam
as regiões mais ricas e industrializadas do país (o Sudeste e o Sul). Por sua vez, o Prof. Paulo
Haddad tem chamado atenção para o reforço dado pelo Mercosul a essa tendência de arrastar
o crescimento industrial para o espaço que fica abaixo de Belo-Horizonte (HADDAD, 1996).
No que se refere às atividades do setor primário, constatava-se que, em décadas anteriores,
a fronteira agrícola avançara na direção do Norte e, sobretudo, do Centro-Oeste. Esta última
região passara de 11%, em 1968/1970, para 23% em 1989/1091; seu peso na produção nacio-
nal, face ao dinamismo intenso da produção de grãos (especialmente soja). No período mais
recente (1991/1994), a agricultura ganha presença na região Sul, que passa a responder por
52% da produção brasileira de grãos, contra 48% observados no triênio 1989/1991. Vale desta-
100
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
car que, sozinho, o Rio Grande do Sul produz ¼ do total nacional, quantidade que representa
quatro vezes a produção de grãos de todo o Nordeste e 10% a mais do que toda a produção da
região Centro-Oeste (CAMPOLINA DINIZ, 1994).
Por sua vez, a fronteira mineral, no seu dinamismo recente, buscou áreas como o Pará,
que disputa com Minas Gerais a liderança nacional na produção de minérios, Goiás (rico em
amianto, estanho, fosfato e nióbio) e Bahia (com ocorrências diversificadas). No Nordeste,
investimentos na construção de gasodutos revelam a importância de reservas importantes de
gás natural em estados como Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. A tendência espacial da
atividade mineradora tem sido, portanto, descentralizadora. Porém, as explorações recentes
não foram industrializantes, como ocorreu no passado em Minas Gerais, onde se desenvolveu
um complexo siderúrgico-metalúrgico-mecânico e de produção de material de transportes.
Isso porque as novas áreas de exploração mineral (como o sudeste do Pará, no entorno de
Carajás) tenderam a especializar-se na produção para exportação, constituindo-se em modelo
mais próximo do enclave.
No que se refere à agroindústria, a atividade açucareira tem ampliado presença no Centro-
Oeste e no Sul . A agroindústria de processamento de produtos da agricultura irrigada avança
também no Nordeste, mas a de suco de laranja continua mais dinâmica no Sudeste (São Paulo)
e a de processamento de produtos da avicultura e suinocultura permanece mais forte no Sul.
Percebe-se, assim, a dinamização de diversos focos dinâmicos de atividades agroindustriais
e mineradoras em diferentes sub-espaços das macrorregiões, contrabalançando a tendência à
concentração do dinamismo industrial. Vale lembrar, no entanto, que a agricultura, a extração
mineral e a agroindústria não têm peso dominante na composição do PIB brasileiro.
Ao mesmo tempo, pode-se observar em estudos que trabalham em escalas mais locais, a
existência de um verdadeiro mosaico regional. Aglomerações produtivas que se dinamizaram
nos anos recentes podem ser encontradas no país inteiro, revelando a grande diversidade regio-
nal brasileira, um potencial ainda pouco aproveitado.
Cabe, assim, o debate sobre os limites e as possibilidades de experiências de desenvolvi-
mento endógeno num país como este, que crescentemente foi se articulando no movimento
de mundialização do capital, modernizando pedaços de seu imenso território, mas que guarda,
ainda, diferenciações locais importantes. O debate do desenvolvimento endógeno dialoga,
assim, com uma das facetas importantes da nossa realidade regional: em um país continental
– diferenciado pela natureza com a presença de diversos ecossistemas – e que estruturou, ao
longo dos séculos, realidades regionais que guardam especificidades importantes.
101
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
Quando se trabalha o planejamento estadual, por exemplo – e no Brasil atual há vários esta-
dos fazendo essa experiência –, a diferenciação regional aparece com clareza. Em experiência
recente no Estado do Rio Grande do Norte, uma das menores Unidades da Federação brasileira,
tentou-se elaborar um plano para a chamada região agreste. A diferenciação interna obrigou
a que na sua versão final o Plano do Agreste se transformasse no “Plano da região do Trairí, do
Agreste e do Apodi”, porque as pessoas de vários municípios que a Secretaria de Planejamento
estadual havia agregado sob a denominação de “agreste” não se sentiam do agreste, e foi
necessário no processo de elaboração do plano mudar o nome do produto final, que terminou
marcado pelas reais diferenças existentes e pelas identidades sub-regionais explícitas e assumi-
das pelas pessoas que vivem ali.
Contudo, em meio a essa diversidade é bom não esquecer que na era da industrialização
intensiva, o Brasil, ao engatar no movimento de internacionalização do capital produtivo mun-
dializado, fez isso articulando uma porção muito pequena de seu território: especialmente
parte da região Sudeste. Tal fato, principalmente da metade dos anos 1950, gerou uma outra
discussão muito importante, que é a da desigualdade regional, que se introduziu com muita
força no debate sobre essa questão regional no país.
Esse é um dos problemas para se lidar com o desenvolvimento endógeno no Brasil: há locais
muito ricos e modernos e outros muito pouco dotados de patrimônio produtivo, de infra-estru-
tura econômica, de bases produtoras de conhecimento etc. Embora a desigualdade social se
reproduza em todas as escalas de análise – da nacional à mais local –, posto que a desigualdade
social tornou-se a marca mais importante da sociedade brasileira, os contextos regionais são
muito diferentes em termos da presença de fatores que favorecem o desenvolvimento num
mundo marcado pelo avanço técnico e pela conectividade. Daí a realidade brasileira desacon-
selhar a apologia do localismo. Nesse sentido é que as observações feitas pelo Prof. Ash Amin
interessam.
Finalmente, é bom não esquecer que nos anos mais recentes, no momento da globalização
comandado pela financeirização da riqueza, pela hegemonia da acumulação financeira, o Brasil
fez outro engate muito doloroso para a nossa sociedade: além de se render à onda neoliberal
(reduzindo a presença do Estado inclusive nas políticas regionais ) o Estado brasileiro falido,
endividado, se rendeu ao rentismo. De certa forma, vive-se ainda nesse contexto. Só muito
recentemente se recomeçam a discutir alternativas de políticas públicas mais ativas, como a
industrial, a de inovação, a de desenvolvimento regional.
102
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
3. Bases para o debate de uma Política de Desenvolvimento Regional
Em um ambiente nacional e mundial como o aqui tratado, o debate sobre novas bases de uma
Política Nacional de Desenvolvimento Regional torna-se muito importante. De saída, política
regional no Brasil precisa lidar com duas faces de uma mesma realidade: lidar com a grande
desigualdade regional, o que é um problema, e com a magnífica diversidade regional, o que é
um enorme potencial. Por isso que ela precisa ser delineada de forma mais complexa que em
outros países. A sociedade brasileira precisa lidar, ao mesmo tempo, com uma enorme desigual-
dade de oportunidades, desigualdade de infra-estrutura, desigualdade de poder, entre tantas
outras e, ao mesmo tempo, está desafiada a lidar com a maravilhosa diversidade do país. Daí a
riqueza do debate de política regional no caso brasileiro.
A discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil tem que ser feita,
neste momento, considerando aportes do debate mundial mas, sobretudo, levando em conta a
realidade objetiva do país. O contexto brasileiro, por exemplo, ainda é o de um Estado Nacio-
nal que se debate com intensa crise financeira. Assim, se não é possível fazer muito, pode-se
avançar conceitualmente.
Por sua vez, como já se destacou anteriormente, a desigualdade social é encontrada em
todas as regiões brasileiras, em todas as escalas do seu imenso território. Ela não tem a cli-
vagem do corte espacial. A desigualdade social brasileira, infelizmente, é universal: onde se
chega existe o hiato social. A análise pode ser feita na escala nacional, na macronacional,
na sub-regional, na intra-urbana. Qualquer que seja a escala, ela está presente e marca com
nitidez a vida social. Portanto, ela não vai ser resolvida pelas políticas regionais.Entretanto, há
a desigualdade de oportunidades, a desigualdade de oferta de infra-estrutura, de patrimônio,
de bases de conhecimento. Essa tem leitura regional e pode ser enfrentada com os instrumen-
tos da política regional. Política a ser delineada em várias escalas, envolver diversos agentes
– públicos em especial – e manipular diversos tipos de instrumentos.
Daí a preocupação com propostas localistas, que buscam privilegiar uma única escala. No
Brasil, definir e adotar uma política de desenvolvimento local é importante, mas muito insu-
ficiente. No caso do Brasil precisa-se de muito mais. Precisa-se de uma Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR) . E fala-se aqui de “Política Nacional”, não se trata de propor
apenas uma política federal, embora o governo federal seja um agente muito relevante nesse
tipo de política pública, até porque no Brasil a receita pública (quase 40% do PIB) ainda se
103
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
concentra muito nas mãos da União. O poder local é muito frágil financeiramente, para não
falar de outras fragilidades.
Se a PNDR não é federal, o governo federal é, no entanto, seu principal formulador e
agente, porque ele ainda é quem tem mais condições de intervir nesse campo, dada a atual
institucionalidade do país e o desequilíbrio de nossa Federação. As unidades estaduais são frá-
geis, as nossas unidades municipais, na grande maioria, são frágeis e, assim, não dão conta da
dimensão do problema que se tem. Há que se cobrar mesmo do governo federal um papel de
liderança na formulação dessa Política.
No Brasil, nas regiões mais ricas, as elites dominantes – que são cosmopolitas, que já se
articularam, desde há muito tempo, para fora – não têm como prioridade lutar contra a desi-
gualdade regional. Sua prioridade é inserir cada vez mais no mundo globalizado as partes mais
ricas e modernas do país. Essa é uma das grandes dificuldades do Brasil: ser uma nação de
construção interrompida, como bem definiu Celso Furtado (FURTADO, 1992). O problema é o
seguinte: podemos chamar de nação um país desigual como este?
Ademais, os agentes mais importantes da vida econômica e política nacional não têm isso
na sua pauta de prioridade. Basta ler, por exemplo, a abordagem regional dos dois Planos Plu-
rianuais do Governo Federal que antecederam o que está em vigor. Trata-se da abordagem dos
“eixos de desenvolvimento”, co-patrocinada pelo Ministério do Planejamento e pelo BNDES.
O que está por trás da abordagem dos eixos de desenvolvimento, verdadeiros “corredores de
exportação”? O macro-objetivo estratégico do Brasil, ali definido, é o de integrar os “pedaços
competitivos” do Brasil – e eles existem – na economia mundial. Nada contra tal objetivo, mas
ele não pode ser o único, o mais importante. Sua hegemonia pode levar a desagregar ainda
mais a Nação brasileira em formação, fragmentá-la ainda mais. Privilegiar com investimentos
estratégicos – como os de infra-estrutura econômica e infra-estrutura de produção de conhe-
cimento – as regiões mais competitivas e dinâmicas do país é praticar a antipolítica regional.
Esta se preocupa principalmente com as regiões menos dotadas desses investimentos dinamiza-
dores, regiões onde as pessoas que ali nascem têm menores oportunidades de inserção na com-
plexa vida econômica do país. E há muitas dessas regiões no Brasil atual, em várias escalas.
Esse é um avanço que uma nova Política Regional precisa fazer no Brasil: definir desafios e
propostas para várias escalas. Não basta reproduzir, portanto, a política regional adotada nos
anos 1950, quando se achava que problema regional do Brasil era Norte e Nordeste. Essas con-
tinuam, na escala macro-regional, sendo os desafios principais, mas é preciso tratar a questão
em outras escalas. Um zoom mais aprofundado no mapa do Brasil permitirá descobrir desafios
regionais em todas as regiões do país. Alguns mais conjunturais, outros mais estruturais.
104
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Essa é uma discussão importante. A União Européia já tem Políticas Regionais na escala
supra-nacional, mas não desconsidera políticas nacionais e desafios sub-regionais. Há o que
aprender com essa experiência. Melhor que deixar o país entregue à própria sorte ou nas mãos
da nossa elite cosmopolita, cuja preocupação central é sua própria inserção no mundo. Por isso
é que se precisa cobrar políticas regionais do governo federal. Um dos objetivos de uma Política
Nacional de Desenvolvimento Regional num país como o Brasil é o de concluir a construção
da Nação, num ambiente mundial que agora contesta a importância dos Estados Nacionais. E é
muito mais difícil construir uma nação hoje do que foi para os europeus, por exemplo. Quando
eles construíram suas grandes nações, o movimento da internacionalização do capitalismo
ainda favorecia políticas naquela escala. Agora, o país é empurrados para o localismo enquanto
se montam grandes blocos econômicos, e os mais poderosos agentes mundiais querem atuar
livremente à escala global e questionam regulações nacionais. Trata-se, agora, portanto, de
lutar contra a tendência hegemônica, para construir políticas do tipo aqui proposto. E trata-se
também de fugir de soluções aparentemente simples, pois o desafio brasileiro é complexo.
Apesar da importância de se ter uma Política de Desenvolvimento Local para tirar proveito
da magnífica diversidade regional do país, não se pode botar todas as nossas fichas na ilusão
de que construindo centenas de conselhos sub-regionais, dezenas de milhares de agências sub-
regionais Brasil afora, seja algo que enfrentar o problema da desigualdade regional, na dimen-
são que ele assumiu no país. Uma Política de Desenvolvimento Local no caso do Brasil tem
que estar articulada nacionalmente com outras iniciativas que patrocinem o desenvolvimento
regional em outras escalas de abordagem – inclusive uma política macroeconômica mais favo-
rável ao desenvolvimento das potencialidades do país. E é inegável que elas existem em muitas
regiões e não apenas em algumas poucas. Uma grande riqueza no Brasil, que é exatamente a
diversidade real que existe do território nacional. Para dar conta dela, as políticas de desen-
volvimento endógeno são perfeitamente adequadas. Essas potencialidades locais ficam nítidas
quando se praticam experiências de desenvolvimento local endógeno. Convive-se, então, com
uma energia que está ali, aprisionada, e que floresce. Contudo, esse tipo de política precisa ser
visto nas suas articulações com outras.
Ao lado delas, é fundamental delinear e aplicar decisões estratégicas que são típicas de
Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Os centros de pesquisa continuarão sendo ins-
talados no Sudeste, quando quase todos os centros nacionais de pesquisa estão localizados de
Belo Horizonte para baixo? A professora Bertha Becker sempre ensina que o grande desafio da
Amazônia é um “choque de conhecimento” para usar bem o grande potencial que ali existe.
Como é que se vai fazer isso, sem investir com seriedade, nessa direção, naquela região? Vale
10�
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
lembrar que quando o Brasil resolveu produzir avião, investiu firmemente em São Paulo, desde
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica até a criação da Embraer – hoje privatizada. Foi com
investimentos semelhantes que os Estados Unidos fizeram política regional, deslocando patri-
mônio para o Sul e Sudoeste de um país que havia concentrado seus investimentos industriais
no Leste e no Nordeste. Por que não se faz isso no Nordeste e não se realiza o “choque de
conhecimento” para aproveitar bem a biodiversidade da Amazônia? E isso não se faz com
política local, pois exige investimentos de vulto, tomada de opções estratégicas de peso. E isso
é Política Nacional de Desenvolvimento Regional, sendo em grande parte decisão do governo
federal. O “mercado” não vai fazer investimento de longo retorno, embora de enorme poder
transformador. A maioria dos governos estaduais e municipais não tem cacife para bancar
escolhas estratégicas dessa dimensão, num país desigual como o Brasil. Mesmo somados, os da
Amazônia não o farão. São Carlos não foi patrocinada por iniciativas locais, mas hoje é uma das
regiões mais ricas e dinâmicas do país. Se mudanças relevantes foram lá patrocinadas, pode-se
fazê-lo também na Amazônia ou no Nordeste.
Como se vê, há iniciativas a tomar em múltiplas escalas. Esse é o desafio maior. Políticas
nacionais, de corte setorial, tidas às vezes como a-espaciais, não o são. Têm enormes impactos
na dinâmica espacial de um país como o Brasil. É preciso dar a elas a clivagem do desenvolvi-
mento regional. A elas e às de desenvolvimento científico e tecnológico e as de promoção da
inovação. Junto com as políticas educacionais, elas são, contemporaneamente, muito impor-
tantes para promover o desenvolvimento das regiões.
No contexto atual, dada a complexidade que ganham as políticas regionais, o ponto de
partida deverá constituir-se na definição urgente de um locus de discussão da questão regional
brasileira. O que se propõe, de saída, é a criação de um Conselho Nacional de Políticas Regio-
nais, ligado diretamente ao (e presidido pelo) Presidente da República. Esse “local de decisão”
seria integrado por representantes do governo, do parlamento nacional, e teria, também, a
participação de representantes não-governamentais (talvez convocados do CDES). Nesse fórum
seriam tomadas as decisões mais relevantes que digam respeito ao tratamento da questão
regional brasileira contemporânea, considerando-se tanto propostas voltadas para a descon-
centração da atividade produtiva no território nacional quanto uma melhor distribuição das
oportunidades de empregos produtivos e o desencadeamento de um processo de redução dos
níveis de vida entre os habitantes das diferentes regiões do país.
Paralelamente, precisa ser criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR)
que, a exemplo do que ocorre na União Européia, tenderia a se constituir em um instrumento
poderoso pelo qual seriam implementados os objetivos e metas que deverão induzir a uma
10�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
menor desigualdades regional e a uma forma adequada, inspirada nos interesses nacionais, de
inserção do país no processo de globalização em curso. Não se trata de um Fundo Federal, mas
Nacional. Por isso, se envolveriam recursos federais e estaduais (podendo em projetos específi-
cos exigir aporte de municípios) e recursos privados ou de empréstimos. A tentativa de criá-los
no início do governo atual foi frustrada pelos governadores de vários estados que preferiram
transformá-los num instrumento de transferência para os cofres estaduais. É preciso insistir.
Retomar essa iniciativa.
O Prof. Ash Amin faz colocações da maior propriedade para o momento em que se dis-
cute o que seria uma nova Política de Desenvolvimento Regional para um país como o Brasil
– momento no qual a globalização se firmou e, portanto, é preciso considerá-la. Mas deve-se
considerar também o potencial do país. A força de seu povo, capaz de muitas ousadias. Esse é
o eixo do debate que queria deixar para ser aprofundado nesses dias.
10�
Brasil: desafios de uma Política Nacionalde Desenvolvimento Regional contemporânea
Referências
ARAÚJO , T. B. Nordeste, nordestes, que nordeste? In: AFFONSO, R. B.; SILVA , P. L. B. (Org.). Desigualdades
regionais e desenvolvimento. (Federalismo no Brasil). São Paulo: Fundap/Unesp, 1995. p. 125 - 156
BUARQUE, S. et al. Integração Fragmentada e Crescimento da Fronteira Norte. In: Desigualdades regio-
nais e desenvolvimento. São Paulo: Fundap/Unesp, 1995.
CONGRESSO NACIONAL. Comissão especial mista sobre desigualdades regionais. Desequilíbrio Econômi-
co Interregional Brasileiro – Relatório Final. Brasília, 1993.
CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1830-1970. São Paulo: Global/
Unicamp,1985.
DINIZ, C. C. A dinâmica regional recente da economia brasileira e suas perspectivas Brasília: Ipea,
1994.
DINIZ, C. C.; CROCCO, M. A. Restruturação econômica e impacto regional: o novo mapa da indústria
brasileira Revista Nova Economia/UFMG, v. 6, n. 1, jul.1996 Belo Horizonte, 1966.
FURTADO, C. A construção interrompida . São Paulo: Paz e Terra, 1992. Tradução em espanhol (México,
Fondo de Cultura Económica, 1992), e em francês (Paris, Publisud, 1995).
GUIMARÃES NETO, L. Introdução à formação econômica do Nordeste. Recife: Massangana, 1989.
_______. Desigualdades regionais e federalismo. In: AFFONSO. R. B.; SILVA, P. L. B. (Orgs.). Desigualdades
regionais e desenvolvimento. São Paulo: Fundap/Unesp, 1995. p. 13-59.
_______. Dinâmica regional brasileira. Brasília: Ipea, 1996 (relatório de pesquisa).
HADDAD, P. R. A questão regional no brasil do século XXI: a longa e recalcitrante persistência dos dese-
quilíbrios de desenvolvimento no espaço econômico. Campinas, Seminário Brasil Século XXI. (mimeo).
HADDAD, P. R. “Para onde vão os Investimentos. Gazeta Mercantil, São Paulo, 16-18. fev.1996.
OLIVEIRA, F. A metamorfose da arribaçã: fundo público e regulação autoritária na expansão econômica
do Nordeste. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 27, p. 67-92, 1990.
10�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
OMAN, C. Globalização/regionalização: o desafio para os países em desenvolvimento. Revista Brasileira
de Comércio Exterior, n. 39, abr./jun. 1994.
PACHECO. C. A. Fragmentação da nação. Campinas, São Paulo: UNICAMP/IE, 1998.
STORPER, M. Industrialization, economic development and the regional question in the third world:
from Import substitution to flexible production. Pion, 1991.
10�
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
Carlos A. Azzoni
O desafio de planejarcom instrumentos limitados:
aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
1. Há interesse manifesto da sociedade por planejamento regional?
O discurso oficial consigna a necessidade de contrabalançar os efeitos concentradores do
funcionamento do mercado por meio da política governamental. O Plano Plurianual
2004-2007 apresenta três megaobjetivos, listando trinta itens no total. Aspectos regionais
aparecem em duas oportunidades: no megaobjetivo “Crescimento com geração de trabalho,
emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais, tem-se
“Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas
espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diver-
sidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local”. Sob o
megaobjetivo “Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia” aparece o
item “Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais”.
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional proposta para discussão pela atual admi-
nistração registra a necessidade e o espaço de possibilidade de ação. Registra uma mudança,
na medida em que
Não precisam mais lidar apenas e exclusivamente com a atração de empresas de
grande porte, dos empreendimentos motores do crescimento. Mas, agora, estão aber-
tas à exploração das relações sociais de cooperação e de compartilhamento de visões
de futuro e projetos de desenvolvimento dos membros da sociedade regional. Estabe-
lece como objeto principal da política “as profundas desigualdades de níveis de vida e
de oportunidades de desenvolvimento entre unidades territoriais ou regionais do país”.
110
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Os diferentes potenciais de desenvolvimento das diversas subregiões, que refletem a
diversidade social, econômica, ambiental e cultural presente no País, são a matéria-
prima das políticas regionais. É para atuar nessas duas direções, de forma clara e direta,
que se justifica a existência da PNDR. Atuar nos territórios que interessam menos aos
agentes do mercado, valorizando suas diversidades, configura-se como uma estratégia
para a redução das desigualdades. Ou seja, a desigualdade de renda, na sua expressão
territorial, decorrente da ausência e/ou estagnação da atividade econômica é o que
interessa a essa política. Reduzi-la, ajuda a construir um país de todas as regiões e não
apenas de algumas.
Esses textos são exemplares em aceitar, em primeiro lugar, que o funcionamento da economia
e da sociedade gera desigualdades. Em segundo, apontam como é necessário alterar o quadro.
Finalmente, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional faz uma opção por trabalhar na
franja do sistema, buscando nichos de oportunidades onde o mercado não viceja. Por outro
lado, o documento que consagra a prática do governo é o Plano Plurianual, onde apenas dois
dos trinta itens dão atenção aos problemas regionais, em igualdade de importância com desi-
gualdades de gênero e raça. Em outras palavras, mesmo nos documentos em que o discurso não
poderia deixar de registrar a importância do problema, ainda que não fosse para materializar o
interesse em políticas efetivas, a importância do tema é posta em lugar de pouco destaque.
Esforço importante anterior foi feito no Programa Brasil em Ação, a partir do estudo Eixos
do Desenvolvimento. Fundamentalmente, não constava explicitamente como objetivo desta-
cado a promoção do desenvolvimento regional ou a redução das desigualdades regionais no
país. O Programa estava voltado fundamentalmente para os investimentos em infra-estrutura.
Porém, em documento operacional voltado à questão do gerenciamento dos projetos, observa-
se a seguinte citação, um tanto quanto deslocada do foco do documento:
Em resumo, os resultados esperados com a intensificação do gerenciamento dos pro-
jetos selecionados são: 1. criar ambiente favorável ao investimento privado nacional e
estrangeiro; 2. promover o crescimento sustentável; 3. gerar empregos em quantidade
compatível com a expansão da força de trabalho; 4. reduzir as disparidades sociais e
regionais.1
Esse enfoque contrasta com os primeiros esforços de planejamento regional da década de
1950, em que, em primeiro lugar, o diagnóstico do efeito das forças ligadas ao processo de
acumulação de capital sentenciava regiões pobres à exclusão. Em segundo, que o Estado tinha
1 Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/publi_04/colecao/brain3.htm>.
111
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
o dever e, presumia-se, o poder, de alterar o quadro. Grandes investimentos públicos, atração
de investimentos privados, massivos incentivos fiscais, provisão de crédito em condições extre-
mamente favoráveis, realização de estudos de base para o desenvolvimento, montagem de rede
institucional complexa e de grande porte (BNB, Basa, Sudene, Sudam, Codevasf etc.), enfim, a
lista de intervenções é grande. Infelizmente, apesar do reconhecimento político do problema,
da priorização da questão, materializada na montagem institucional, e de todos os esforços,
a situação das regiões pobres ainda é parecida nos dias de hoje com o que se observava antes
desse grande esforço.
Os dados são profusos. O gráfico 1 exibe a participação de algumas regiões brasileiras no
PIB nacional a partir de 1939, que é o primeiro ano para o qual estão disponíveis informações
estatísticas consistentes. Ainda em 2003, ano mais recente disponível, a região Sudeste res-
pondia por 55% do PIB nacional, próximo ainda dos 63% que dispunha em 1939. Ao longo
to tempo, é verdade, essa participação chegou a 66% e 67%, o que apresenta os 55% de
2003 em patamar inferior. Ainda na região rica, o Estado de São Paulo respondia por 32%
do PIB nacional em 2003, embora essa participação já tivesse atingido um pico de 43% no
auge do Milagre Brasileiro. Os anos mais recentes têm indicado uma tendência declinante
nessa participação. Olhando o outro lado da moeda, quais regiões estariam ganhando?
O candidato preferencial, região Nordeste, infelizmente não está contemplado. Em 1939 a
região representava 17% do PIB nacional, estando em 2003 com apenas 14%, em que pese a
tendência de alta dos últimos anos. Olhando-se para as regiões Centro-Oeste e Norte é que se
enxergam os ganhadores, uma vez que essas quadruplicaram sua parcela ao longo dos 64 anos
considerados. Note-se que a tendência dos anos recentes também é de alta. Assim, a região
mais pobre do país não tem sido capaz de aumentar significativamente sua parcela, como seria
desejável. Ao contrário, outras regiões ocuparam seu espaço econômico.
112
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Gráfico 1 - Participações no PIB nacional, 1939-2003
A participação na produção é apenas um indicador entre os possíveis. Olhando-se os dados
de renda per capita dispostos no gráfico 2, verifica-se um quadro não menos otimista. O Estado
de São Paulo, que já chegou a ter o dobro da renda per capita média do Brasil (média essa que
inclui o Estado, significando que a distância entre este e as demais regiões é ainda maior...),
ainda em 2003 posicionava-se 45% acima da média. A região Sudeste como um todo nunca
esteve tão distante da média, mas atingiu 54% acima, caindo em 2003 para 29% acima da
média nacional. Nos dois casos apontados, a tendência recente é de queda em direção à
média, o que indica que outras regiões apresentam melhor performance do que estas. O des-
taque positivo fica com a região Centro Oeste, que parte de 30% abaixo da média para atingir
patamar 7% superior a essa em 2003, com evidente tendência de crescimento nos anos mais
recentes. Já a pobre região Nordeste nunca chega a atingir a metade da renda per capita nacio-
nal, posição essa que atinge apenas no ano de 2003. Nesse caso, não se pode dizer da existência
de uma tendência evidente de alta, infelizmente.
113
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
Gráfico – PIB per capita em relação à média nacional – 1939-2003
Assim, olhando-se tanto por indicadores de concentração regional (gráfico 1) como para
dados de desigualdade de acesso a renda (gráfico 2), pode-se concluir que o quadro de dispa-
ridades é relativamente estável, com níveis atuais tão sérios quanto os que se observavam nos
anos 1940. As mudanças observadas têm a ver com o sucesso econômico da região Centro-
Oeste, ficando a região mais pobre, o Nordeste, em situação muito parecida ao longo do tempo.
Mais do que isso, a evolução recente da economia mundial, na qual se insere a brasileira, tem
contribuído para reduzir a competitividade dessa região ainda mais. Conforme apresentado em
Azzoni et al. (2001), a economia do Nordeste era deficitária no comércio com outros estados
brasileiros e superavitária com outros países. Ao longo to tempo, principalmente na década
de 1990, passou a ser mais intensamente deficitária com outros estados e praticamente zerou
o superávit com outros países. O enfraquecimento da base econômica aparece também no
aumento da importância das transferências governamentais para pessoas da região, conforme
tratado em Gomes (2001), que denomina a situação de “economia sem produção”.
Representariam essas informações um interesse da sociedade pelo tema? Não parece ser o caso.2
As manifestações são marginais, advindas de ministérios e órgãos com pouco poder efetivo de ação.
Os estados aumentaram seu papel e buscaram soluções particulares, gerando um quadro de
guerra fiscal que apresenta efeitos deletérios evidentes. Não há energia coletiva sobre o tema,
2 Em Azzoni (2002) e Diniz (2004) argumenta-se em favor da definição e implementação de política regional.
114
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
buscando-se soluções individuais e desintegradas, promovendo-se eventuais sucessos locali-
zados, que todavia não são capazes de contrapor-se às forças concentradoras mais fortes que
operam no âmbito da acumulação privada de capital.
2. União Européia: opção explícita pela coesão
A situação nacional apresentada contrasta com a União Européia.3 O documento “Política Regio-
nal da União Européia” explicita as razões e dá as diretrizes da política regional na área. Destaca-
se o aspecto da solidariedade, buscando-se criar condições para que os territórios com maiores
dificuldades superem com maior grau de sucesso suas limitações e deficiências. Na prática, um
terço do orçamento, não desprezível, de 213 milhões de Euros deveria ser alocado à Política
e redistribuído a regiões mais necessitadas. A implementação da Política deve contar tam-
bém com a participação dos governos dos Estados-Membros, buscando-se reconverter zonas
industriais em dificuldade, diversificar o meio rural e revalorizar os bairros em crise. Há uma
preocupação manifesta com a concretude, da qual a alocação de significativos montantes finan-
ceiros é um indicativo apenas. A construção e a renovação de estradas e aeroportos, a criação
de pequenas e médias empresas na periferia econômica da região, novos serviços de educação,
saúde e lazer etc. são exemplos dessa atuação concreta.
Para se obter resultados requisitam-se instrumentos poderosos. Anteriormente já foram
apontados alguns aspectos, mas cabe apontar os quatro Fundos Estruturais que são origem de
recursos para as regiões: O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que financia
infra-estruturas, investimentos produtivos para criar empregos, projetos de desenvolvimento
local e ajudas às PME; o Fundo Social Europeu (FSE), que favorece a adaptação da população
ativa às mutações do mercado do emprego, bem como a inserção profissional dos desemprega-
dos e os grupos desfavorecidos, financiando ações de formação e sistemas de ajuda ao recru-
tamento; o Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA Seção Orientação), que
financia ações de desenvolvimento rural e de ajuda aos agricultores, principalmente nas regiões
com atrasos de desenvolvimento, mas também no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC),
no resto da União; e o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), que financia a
reforma estrutural do setor da pesca. Além disso, um fundo especial de solidariedade, o Fundo
3 Galvão (2003) apresenta um tratamento extensivo da experiência européia. Pezzini (2003) analisa a experiência dos países da OCDE.
11�
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
de Coesão, tem por objetivo financiar projetos ligados ao ambiente e à melhora das redes de
transporte nos Estados-Membros da União cujo PIB seja inferior a 90% da média européia.
A verificação da existência de uma posição mais firme com respeito às disparidades regionais de
renda e condições econômicas e sociais, assim como da disponibilidade de instrumentos poderosos
de intervenção, chama atenção para a decisão anterior em direção ao estabelecimento dessas
medidas. Ou seja, é interessante verificar a opção política para a concentração de esforços no
sentido de reduzir as disparidades regionais. Já em 1957 esse tema figurava no Tratado de Roma,
que previa a criação de um Fundo Social Europeu, com fins de promover o emprego e favorecer a
mobilidade de trabalhadores, assim como do Banco Europeu de Investimento. Em 1986 aparece
pela primeira vez com destaque a questão da coesão econômica e social, criando-se as bases
para o desenvolvimento da Política Regional Solidária. Significativamente, discute-se aumen-
tar os fundos para despesas estruturais, que deveriam chegar a 31% das despesas comunitárias,
participação esta que foi aumentada para 40% em 1992. A importância estratégica da coesão
foi ratificada no Tratado de Amsterdã, de 1997. Em 2002 foi criado o Fundo de Solidariedade
da União Européia (FSUE), para atender os novos Estados-Membros em casos de catástrofes.
Ou seja, a opção pela solidariedade e coesão é explícita e ocupa lugar de destaque nos objetivos
políticos da União Européia. Daí o estabelecimento de políticas concretas e de alocação efetiva
de recursos.
Um exemplo extremamente significativo da importância da opção política pela questão
da coesão encontra-se na reintegração da Alemanha Oriental à Alemanha em 1990. Após
vários anos de separação, as disparidades entre as duas Alemanhas eram evidentes e gritantes.
Decidida a reintegração, cuja importância política transcende qualquer tipo de análise de
desigualdade econômica e social que se possa desenvolver, havia que enfrentar da questão
das disparidades. Enormes montantes de recursos foram alocados para tanto, comprometendo
certamente outros programas anteriormente definidos. Todavia, pouco se questionou a neces-
sidade e o vigor da intervenção. Ou seja, o tema da desigualdade entre os alemães dos dois
territórios tinha prioridade política, o que levou ao desenho e implementação de políticas
vigorosas, mesmo sacrificando-se outros tipos de programas.
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
3. Organização para a intervenção: dificuldades práticas
Havendo a opção política forte pela implementação de políticas regionais, aparece a questão
do desenvolvimento de instituições, instrumentos e programas voltados para a parte concreta
da política. Nesse caso, a debilidade das instituições brasileiras é evidente, reflexo mesmo da
inexistência de uma opção forte pela coesão no nível do núcleo de poder dos vários governos
federais nas últimas décadas.
Está claro que as instituições desenhadas e criadas no passado, tais como Sudam, Sudene,
e os próprios bancos de desenvolvimento, apresentaram problemas sérios de ineficácia, assim
como outros tipos de problemas mais voltados à área policial do que econômica e social. Para-
lelamente, o clima de questionamento da eficácia mesma do planejamento e da sua neces-
sidade e, mesmo, possibilidade de sucesso, enfraqueceu qualquer tentativa de alteração nas
formas de intervenção. Em síntese, havia instituições claramente ineficientes, que não conse-
guiam produzir os efeitos para os quais haviam sido criadas, além de apresentarem problemas
de disfunções e má gestão de recursos públicos, simultaneamente com um clima de questiona-
mento da necessidade real de intervenção. Como conseqüência, ficou muito fácil desmontar o
aparato existente, deixando um vazio significativo, sem se oferecerem alternativas, posto que
entendidas como desnecessárias.
O tema, todavia, continuou a despertar certo interesse, embora não generalizado. A criação
dos Fundos Constitucionais em 1988 representa um passo concreto na direção da incorporação
das preocupações com as disparidades regionais à agenda política concretamente relevante.
A inexistência de uma estrutura institucional de suporte à operação dos fundos, assim como
a ausência da opção política forte em favor da redução das disparidades, fez que sua atuação
fosse diluída, dispersa, com resultados limitados, conforme se pode observar pelos dados de
concentração e desigualdade regionais mostrados na seção 1 deste texto. As tentativas de reer-
guimento das agências de desenvolvimento regional não chegaram a empolgar politicamente,
circulando na periferia dos círculos relevantes de poder, entrando apenas marginalmente na
agenda política de interesse do governo federal.
Não é de estranhar, portanto, dado o não reconhecimento político da necessidade de cuidar
de forma específica das disparidades regionais, que não se tenha desenvolvido aparato institu-
cional e de pessoal que se pudesse ocupar da questão. Na área de recursos humanos as limita-
11�
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
ções são evidentes. De um lado, a formação de “planejadores” de há muito foi enfraquecendo,
resultando na inexistência de oferta de profissionais especificamente preparados para a tarefa.
De outro, o enfraquecimento do quadro de pessoal no nível federal nas décadas de 1980 e
1990 foi evidente, motivado política e ideologicamente, por um lado, e por razões finan-
ceiras, de outro. Acrescente-se a finalização de carreira de quadros formados na década de
1970, remanescentes das gerações de funcionários públicos bem preparados gerados naquele
tempo. Os esforços louváveis e recuperação do fim da década de 1990 e início deste século já
produzem algum resultado, mas estão longe de formar um quadro substantivamente grande
para produzir os efeitos necessários. Isso vale tanto para a área regional quanto em todas as
outras.
O desenvolvimento do quadro de pessoal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
por exemplo, deve ser comemorado, sendo esse órgão provavelmente o principal gerador indi-
vidual de pesquisas relevantes no Brasil atualmente. Todavia, a própria existência desse quadro
amplo e qualificado se coloca como uma fonte de técnicos para outras áreas do governo, em
caráter transitório. Esse processo, em que pese o ganho de qualidade que apresenta para as
áreas operacionais do governo federal, acaba esvaziando a capacidade de geração de pesquisas
de fundo que orientem as políticas federais. Na área social, a participação dos estudos reali-
zados no Instituto tem sido fundamental no desenho e na avaliação de programas e políticas.
Na área regional ainda não se pode dizer o mesmo, embora reconhecendo-se a qualidade dos
estudos ali realizados sobre o tema.
Outro ponto de debilidade refere-se à transitoriedade de atores-chave em posições de
comando e decisão. Claro tem ficado que os ministérios e órgãos ligados à ação regional têm
uma conotação política e têm sido utilizados para composição partidária e formação de gover-
nos de coalizão. Pela importância secundária atribuída à área regional, pelo pouco poder incor-
porado a esses órgãos, acaba-se tratando-os como moeda política de troca. Em si, esse não é
um problema de fundo. Maior problema é o fato de que rearranjos políticos naturais ao longo
das administrações levam à necessidade de novas composições políticas, podendo gerar uma
instabilidade no comando das agências voltadas para a questão regional. Com as mudanças
nos cargos de interesse político mudam os altos escalões técnicos, em geral responsáveis pelo
desenho dos programas. Esse fato, associado à debilidade e escassez do quadro técnico perma-
nente, leva a uma inconstância de programas e políticas, com conseqüentes limitações para os
resultados da intervenção.
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
4. Considerações finais
Este texto representa uma reflexão sobre as limitações de se desenhar, implementar e acom-
panhar políticas de desenvolvimento regional no Brasil. Argumenta-se que a ausência do tema
na agenda política concreta diminui seu interesse, limitando conseqüentemente a geração
de políticas e programas. Contrasta essa situação com a União Européia, em que a opção
pela coesão e o valor da solidariedades são primordiais e reconhecidos em todos os níveis de
decisão. A União existe, na verdade, em razão desses valores. Daí a existência de instituições,
programas e instrumentos de ação efetiva. No caso brasileiro o tema não faz parte da agenda
política relevante no núcleo político principal, embora se reconheça uma evolução positiva
nos últimos anos. Trabalha-se assim na franja do sistema político e com recursos (financeiros,
institucionais e humanos) limitados. A debilidade das instituições, de outra parte, e a limitação
e instabilidade na alocação de recursos humanos com formação adequada, representam limi-
tações adicionais.
Não se pode dizer que a política regional no Brasil não tenha sucesso. Talvez seja mais
adequado dizer que o Brasil não teve sucesso em trazer a questão da política regional para o
primeiro nível de preocupações.
11�
O desafio de planejar com instrumentos limitados:aparato institucional débil, recursos financeiros escassos, recursos humanos instáveis
Referências
AZZONI, C. R. Sobre a necessidade da política regional. In: KON, A. (Org.). Unidade e fragmentação: a
questão regional no Brasil. Perspectiva, 2002.
AZZONI, C. R. et al. Macroeconomia do nordeste: 1970-1998. Banco do Nordeste, 2001.
DINIZ, C. C. O imperativo de uma nova política de desenvolvimento regional para o Brasil. Revista Bahia
Invest, Salvador, 2004.
GALVÃO, A. C. F. Política de desenvolvimento regional e inovação. Lições para o Brasil da experiência
européia. (Tese de Doutorado), Unicamp: Instituto de Economia, 2003.
GOMES, G. M. Velhas secas em novos sertões. Ipea, 2001.
PEZZINI, M. Cultivating regional development: main trends and policy challenges in OECD regions. OCDE,
2003.
UNIÃO EUROPÉIA. Política regional da União Européia. 2005. Disponível em: <http://europa.eu/scadplus/
leg/pt/s24000.htm#POLITIQUE>.
121
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
Wilson Cano
Questão regional e urbana no Brasil:
alguns impasses atuais
Antes de entrar diretamente no tema central deste texto, é necessário colocar duas refle-
xões sobre dois fatos internacionais que têm sido objeto de muitas citações na literatura
e na discussão corrente e dado azo a interpretações talvez muito otimistas. A primeira diz
respeito ao crescimento acelerado da China a partir de 1978. Infelizmente, parte da literatura
recente se refere a esse fato, parecendo ignorar (ou escamotear) que esse país apresenta taxas
altas e persistentes (em torno de 5%) desde a década de 1950, claro que não tão altas como
as recentes.
Escamoteiam também as razões do recente e elevado crescimento, imputando-lhe como
causa uma suposta adesão plena aos mercados, ou seja, admissão das reformas preconizadas
pelo chamado Consenso de Washington.
Novidades há no caso dos chineses, mas não se pode esquecer que a maior delas se deu a
partir da revolução de Mao (1949), quando a China criou a peça absolutamente indispensável
a qualquer nação que tenha alguma pretensão de desenvolvimento econômico: um Estado
Nacional Soberano, que possibilitou àquela Nação readquirir sua soberania nacional, perdida
já há séculos. E isso se mantém até hoje – em que pese o receituário neoliberal, que propõe, ao
contrário, o Estado Mínimo.
A segunda questão diz respeito aos úteis ensinamentos que se podem tirar da experiên-
cia européia, no tocante a suas Políticas Regionais de Desenvolvimento, para a formulação e
manejo de nossas próprias políticas regionais. As discussões que têm ocorrido são profícuas,
mas é preciso ter plena consciência de que o problema regional europeu é radicalmente dis-
tinto do brasileiro: em primeiro lugar, lá não existe o subdesenvolvimento econômico, notório
estigma de várias nações asiáticas e de todas africanas e latino-americanas.
122
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Lá não existe uma dicotomia tão perversa como do tipo Piauí/Distrito Federal em termos de
renda per capita. Os desníveis de renda per capita regional na Europa têm sido de 1 para 2,5,
assim como no Canadá ou nos Estados Unidos, em que pese a grande desigualdade (pessoal)
existente neste último. Desnecessário é comentar o abismo entre os extremos de nossa distri-
buição de renda pessoal.
Essa é a primeira grande diferença. A segunda é que ali há um objetivo político de longo
prazo, o da plena construção da União Européia, que, além das unificações formais propostas,
vem também praticando uma responsável política de coesão social e regional. Aqui, não há
como convencer os concidadãos regionais, dado que este país surgiu já como um grande país,
já constituindo uma União Brasileira, em termos institucionais, políticos, econômicos, étnicos,
lingüísticos e culturais. Poder-se-ia acrescer outros pontos, como por exemplo o de que, desde
1980, se vive um longo período de baixo crescimento, no qual nossas instituições públicas
foram violentadas, fragilizando grandemente o papel do Estado, seja como planejador, executor
ou indutor do desenvolvimento. Quanto à coesão, há um crescente hiato entre o contínuo
aumento da renda do segmento dos ricos e a dos pobres.
Deve-se insistir que a experiência européia, sem dúvida, é sumamente importante, e dela
ter-se-ia que retirar o que pode ser útil, mas existem outros e enormes desafios a examinar.
E hoje há consciência – infelizmente não muito ampla – de quais sejam eles, ou pelo menos
dos principais.
Há uma terceira questão a colocar, que não se pode esquecer, e que se refere à existência ou
não de Perspectiva Nacional. Nas notas preparatórias a esta matéria, foi colocado um adendo
sobre essa questão, a qual, assim se espera, possa se dissipar um pouco e diminuir a perplexi-
dade que ela tem causado. De forma simples, e talvez pouco científica, pode-se dizer que não
há grande convicção nem grande comunhão sobre quais sejam as principais perspectivas deste
país, e, portanto, de como equacionar e enfrentar nossa problemática regional, urbana e social.
Mais adiante, essas dúvidas serão mais bem esclarecidas.
O presente trabalho estará dividido em três tópicos: i) a questão do crescimento no passado
e da estagnação e dos impasses atuais, dado que esse processo não só explica parte da confor-
mação regional e urbana, mas mostra também quais os limites para uma ação política sobre
essas duas questões; ii) a questão regional, ou de como se deu sua interação ao longo desse
processo de crescimento; e iii) por último, a interação da questão urbana e social.
123
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
1. O que foi e o que tem sido o crescimento brasileiro?1
A Crise de 1929, no Brasil, encontraria uma economia e uma sociedade que já estavam em
transição durante a década de 1920. Com efeito, a economia urbana já se destacava na geração
da renda e do emprego, graças à implantação industrial que (12,5% do PIB em 1928) vinha se
dando desde fins do século XIX, e ao florescimento de serviços, tanto os de apoio ao setor agrá-
rio exportador quanto os necessários àquela nascente urbanização. O Brasil era predominante-
mente rural, com apenas 20% da população vivendo no mundo urbano. Contudo, essa pouca
vida urbana já almejava transformações nos vários planos da vida social, apresentando não só
um operariado já numeroso como uma nascente classe média.
A profundidade econômica da crise e a teimosia conservadora da política oligárquica esti-
mularam a ruptura proporcionada pela Revolução de 1930. O Novo Estado, dirigido por Vargas,
soube administrar as dificuldades geradas pela crise e convertê-las em meios para alterar radi-
calmente o padrão de acumulação do país, com a intensificação da industrialização.
Para isso, o país deu as costas ao liberalismo e construiu um Estado capaz de intervir, esta-
belecendo direitos trabalhistas e sociais, produzindo ou induzindo o investimento e transfor-
mando estruturalmente a economia, que de agro-exportadora foi se transformando, rapida-
mente, em industrial. Com efeito, entre 1928 e 1955, em que se deu o primeiro grande passo
dessa trajetória, a taxa média anual do PIB foi de 4,1% e a da indústria de transformação, de
6,3%, perfazendo 20% do PIB em 1955.
Ultrapassada essa primeira etapa, esta sociedade continuou sua luta, enfrentando as vicis-
situdes internas e externas e fez, entre 1955 e 1962, implantando boa parte de nossa indústria
pesada, que o PIB crescesse anualmente 7,1% e a indústria de transformação 10%, subindo sua
participação no PIB para 26%. A taxa de urbanização, em 1960, chegava a 44,7%. Entre 1962 e
1967, o país sofreu uma crise e ruptura política, mas, ainda assim, o crescimento anual do PIB
foi de 3,4% e o da indústria de transformação foi menor (2,4%), recuando sua participação no
PIB para 24,4%.
Entre 1967 e 1980, o avanço foi enorme, com o PIB crescendo anualmente à média de
8,8% e a indústria de transformação a 9,8%, quando passa a perfazer 31% do PIB.2 É fato
que o estado autoritário, no absurdo projeto do Brasil Potência, extravasou os limites do bom
1 O curto espaço deste artigo obriga a uma síntese, e também a não tratar de outros fatos, que, embora relevantes, extravasam seu âmbito, como por exemplo as principais crises políticas e de autoritarismo.
2 Entre 1967 e 1974 – o período do Milagre Brasileiro –, essas taxas foram, respectivamente, de 10,7% e 12,5%.
124
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
senso em termos de aceleração dos investimentos e do endividamento externo, problemas que
causariam muitos danos daí em diante. Contudo, o intenso crescimento do período se mani-
festou em todos os setores produtivos, atingindo também a maior parte do território nacional,
consolidando a integração do mercado nacional. No período 1970-1980, a taxa de urbanização
passou de 55,9% para 67,6%, enquanto a população total aumentava 28%, a urbana 54% e o
emprego não agrícola 82%.
Entre 1980 e 1989, o país mergulhou na chamada Década Perdida, com baixo crescimento,
alta inflação, exacerbação da dívida externa e deterioração das finanças públicas. Iniciava-se
aí a deterioração da capacidade financeira e decisória do Estado Nacional. No período, o PIB
cresceu à pífia média anual de 2,2%, e a indústria de transformação a 0,9%, regredindo à par-
ticipação de 25,6% no PIB.
De tal período até os dias atuais, veio o pior, com a adoção das políticas de corte neoli-
beral, que embora tenham imprimido cruciais diferenças na dinâmica da economia brasileira,
trouxeram-lhe resultados ainda piores: o PIB cresceu, entre 1989 e 2003, a medíocre 1,8%, e a
indústria de transformação, a 0,7%, caindo ainda mais aquela participação macro, para 24,3%.
Entretanto, a velocidade da expansão da ocupação urbana diminuía entre 1980 e 1991, quando
a população urbana cresceu 38% e o emprego não agrícola 55%; e piorava ainda mais entre
1991 e 2000, quando as respectivas cifras foram de 24% e 19%.
Como se verá mais adiante, essas duas décadas foram perversas para as questões regional,
urbana e social. Em meados de 2006 – às vésperas de um novo mandato presidencial – a socie-
dade pergunta-se se pode vislumbrar alterações de monta na política econômica, que permi-
tam novamente atuar positiva e responsavelmente sobre aquelas questões.
Mantida a política econômica atual, o que se pode dizer, resumidamente, do atual e do
futuro do crescimento econômico brasileiro? A pergunta é fundamental para que se possa
indagar quais os destinos que se pode desejar, e quiçá planejar, para aquelas questões.
A Nação tem pela frente uma primeira e difícil tarefa: a de detectar quais são os proble-
mas fundamentais para que possa eventualmente retomar uma nova senda de crescimento e
desenvolvimento acelerado. Tem, inicialmente, que definir quais são os seus objetivos de médio
e longo prazos, sejam os nacionais, os regionais, os urbanos ou os sociais. Assim, somente
após esse agendamento a sociedade encontraria a possibilidade concreta de identificá-los e
equacioná-los para poder então planejar a melhor forma possível de atingi-los. Poder-se-ia
simplificar a lista desses objetivos em dois grandes vetores: o alto e persistente crescimento da
produção e do emprego e obviamente um expressivo resgate da nossa imensa dívida social.
12�
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
Esses objetivos não são hierarquizados, pois se assim fosse, o país correria o risco de repetir
parte do passado, em que, a despeito de acelerado crescimento, pouco se fez no âmbito regio-
nal-urbano-social. Ou seja, privilegiou-se o crescimento do PIB e relegou-se a segundo plano
as questões anteriormente referidas.
Contudo, há que ter consciência de que a política econômica atual fez a Nação vestir a
camisa-de-força do modelo neoliberal, e esta apenas possibilita, a curtos intervalos de tempo,
o chamado vôo de galinha, o baixo crescimento, além do fato de que a eqüidade foi substituída
pelo lema da suposta eficiência. Um alto e persistente crescimento, nesse modelo, é impossível.3
Para tanto, seria necessário obter, permanentemente, financiamento internacional alto, cres-
cente e persistente, o que a história mostra ser impossível.
Haveria também que reconstruir o Estado Nacional e retomar o nível do investimento público.
O investimento teria que ser substancialmente maior do que tem sido, mas isso, há que convir,
com esses juros, câmbio e a incerteza reinante, é uma quimera. Por outro lado, sabe-se que
entre o desejo e a realização daquelas metas se interpõem problemas políticos e econômicos
que decorrem de movimentos políticos, sociais e econômicos de ontem e de hoje:
a) Aqueles decorrentes da história e do subdesenvolvimento nacionais, estruturais por-
tanto, e dos quais não há como livrar-se, quais sejam: as dificuldades com a balança de
pagamento, com os problemas de financiamento de longo prazo, com a situação fiscal e
com as latentes pressões inflacionárias e, não se deve esquecer, da perversa distribuição
de renda. Dependendo das circunstâncias e da dinâmica da economia, ora são virulentos,
ora controláveis, e não há como eliminar tais problemas, pois são estruturais ao sub-
desenvolvimento, como ensinou Furtado. Entre 1930 e 1980, a Nação contou com um
forte Estado Nacional, que de alguma maneira soube administrá-los, mas hoje, estão sem
controle.
b) Permanecem também os corrosivos efeitos decorrentes da herança da década perdida,
dos anos 1980, que estagnaram o crescimento e retardaram o avanço das estruturas
produtivas industriais modernas e iniciaram tanto a precarização do emprego quanto a
derrocada fiscal do Estado. Tais efeitos se acumulariam perversamente aos dos períodos
seguintes. Aqui se inicia, na verdade, a destruição do Estado planejador e condutor do
crescimento.
c) Os problemas intrínsecos ao modelo neoliberal que anularam o manejo soberano da polí-
tica econômica, engessando o câmbio, os juros, a política de crédito e a fiscal. Acresçam-
se as privatizações, que retiraram mais poder do Estado e a falsa promessa da moderni-
3 Sobre essa impossibilidade, ver do autor, Soberania e Política Econômica na América Latina, São Paulo, Unesp, 1999.
12�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
zação produtiva e da competitividade. Nesse quadro, o investimento público federal, até
então o principal motor do crescimento, feneceu. Deve-se lembrar que o investimento
público comandava diretamente 50% da formação bruta de capital fixo do país e induzia
outros 25%, do setor privado, por ação indireta do investimento público nacional.
Resulta, pois, que o investimento não só encolheu como proporção do PIB, mas também
mudou o seu destino setorial, diminuindo fortemente sua participação industrial. Também sua
composição estrutural entre gastos com construção e gastos com incorporação de máquinas,
equipamentos e instalações mudou, privilegiando a parcela da construção em detrimento dos
outros itens.
O resultado foi a continuidade do pífio crescimento, que depende do aumento das expor-
tações e da expansão do crédito ao consumidor, com o óbvio agravamento do quadro social.
O endividamento público exacerbou, contaminando também as hierarquias estaduais e muni-
cipais. Estas, foram obrigadas a negociar suas dívidas com o governo federal a partir de 1995,
comprometendo assim as finanças públicas subnacionais por trinta anos, e deprimindo também
os investimentos estaduais e municipais.
Assim, é necessário compreender que o modelo atual não admite remendos isolados, os tais
ajustes, seja uma baixa expressiva dos juros, o manejo supostamente inteligente do câmbio ou
o direcionamento objetivado da política de crédito. São impossíveis ou pouco úteis essas ações
isoladas: ou porque as regras dos que efetivamente controlam o sistema –leia-se o sistema
financeiro nacional e externo – não permitem, seja porque, tomadas isoladamente, podem criar
fortes desequilíbrios de curto prazo que podem desencadear crises mais severas.
Outro exemplo seria o do redirecionamento sensato do gasto público, mas que também é
quase impossível dada a voracidade da dimensão dos juros no orçamento público, que repre-
senta hoje cerca de 8% a 9% do PIB e que já superou largamente os tão xingados gastos sociais
ou gastos com a folha de pagamento de ativos e inativos da República. É de pasmar mesmo!
Recentemente, pronunciamentos de autoridades do Tesouro Nacional cantaram vitória por
conseguirem emitir e vender Notas do Tesouro Nacional (NTNB), reajustáveis pelo IPCA, com
vencimento para 2045, oferecendo a “modestíssima” taxa de juros real de 7,5%! Mas o que se
deve dizer é que, com isso, estão, na verdade, declarando que o país vai manter o “campeonato
mundial” da mais alta taxa de juros até pelo menos 2045. Portanto, afastam a possibilidade de,
a curto ou médio prazo, promoverem uma forte e adequada rebaixa da taxa de juros.
Há, assim, que romper com essa sinistra combinação antinacional e anti-social. E, sem per-
der de vista as chances que se possa ter no mercado internacional, há que voltar os olhos e as
ações prioritariamente para o mercado interno.
12�
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
Os problemas do país no mercado internacional são muitos: falta de competitividade, baixo
valor agregado das exportações e outros. É útil também recordar a primeira grande lição de
Prebisch, tão bem assimilada e desenvolvida por Furtado: a instabilidade e queda secular dos
preços das commodities, a iniludível necessidade do avanço da industrialização e o problema
da redistribuição da renda das famílias.
A propósito do setor externo e da forte elevação de exportações é bom insistir em alguns
pontos:
a) Nos anos 1990, pesquisas oficiais mostravam que do total das exportações do agrobu-
siness, em bruto ou processadas, 63,7% ostentavam a categoria de vulneráveis; 15,3%
estavam em franco retrocesso; 9,6% constituíam oportunidades perdidas no comércio
internacional e apenas 11,4% delas, efetivamente, se encontravam numa categoria cha-
mada de ótima situação no mercado internacional.4 É verdade que nos anos recentes a
exacerbação da demanda chinesa e adjacências atenuou esse quadro, mas não o elimi-
nou e nem pode eliminá-lo. É ilusão pensar que neste atual estado do comércio interna-
cional vá persistir essa situação momentânea
b) Tomando-se os preços médios em dólares, de 2005, das principais commodities e defla-
cionando-os pelo IPC norte-americano, constata-se o óbvio ululante: os preços em mea-
dos de 2005 se encontravam consideravelmente abaixo dos de 1990 e numa situação
simplesmente abismal em relação a 1980. A tão cantada soja se encontrava 61% abaixo
dos preços de 1980 e 27% abaixo dos preços de 1990; o açúcar, 85% e 46%; o alumínio,
50% e 26%; o ferro, 49% e 15%. Entre os raros que tiveram melhor sorte, os do petróleo
eram 5% menores do que os de 1980 e 107% acima dos de 1990.
c) Há que lembrar também que desde meados da década de 1980, a participação dos manu-
faturados nas exportações nacionais totais permanece oscilando em torno de 55%. Há
vinte anos, portanto, a evolução estrutural da pauta exportadora estancou.
d) Porém, a própria elevação das exportações dos produtos industriais deve também ser
mais bem qualificada. Tome-se mais uma vez, como paradigma de bom desempenho
para o Brasil, um país que foi citado no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, que era
o México – como também o foram o Chile e a Argentina – colocado para o Brasil como
os paradigmas da estabilização, da abertura e da modernização. A própria história tratou
de mostrar o engodo que constituíam esses falsos paradigmas. Agora, o que se mostra
como paradigma é o fortemente acrescido volume das exportações e das importações
mexicanas, graças à abertura daquele país. Ignoram, entretanto, que a parte maior do
4 Ver CARVALHO, Maria A., Comércio Agrícola e Vulnerabilidade Externa Brasileira. Agricultura em São Paulo, SP, 49 (2), 2002.
12�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
sucesso do México tem a ver com sua indústria maquiladora. E quando se descontam das
exportações o valor das peças e partes importadas, além de resultar em meros 15% de
valor adicionado nacional, o coeficiente de abertura do México, que é de cerca de 33%,
cai para 20%. Fato semelhante, não na mesma intensidade, ocorre também com a China,
mas parece que poucos se dão conta disso.
Com o Brasil também está acontecendo algumas coisas semelhantes, não idênticas: por
exemplo, em 2004 (cifras em US$ bilhões), as exportações do setor automotivo somaram 13,0,
mas suas importações totalizaram 6,8; as da química geraram 3,6 mas gastaram 9,6; as res-
pectivas do material elétrico foram 3,3 e 8,7; as das indústrias Diversas, 2,8 e 2,1. Somadas,
alcançaram 23,5 e 27,2, saldo negativo de 3,7 portanto. Ou seja, no bojo da expansão das
exportações de manufaturados, o país também tem tido alguns problemas sérios.
2. A questão regional
Sob o ponto de vista regional, a despeito da crescente integração do mercado nacional, a alta
concentração industrial, em São Paulo, fez crescer os ânimos reivindicatórios regionalistas, que
em grande parte explicitavam os problemas da miséria da periferia nacional, mormente a do
Nordeste, julgando-os em grande medida decorrentes daquela concentração.
Não foi assim felizmente que Celso Furtado entendeu a questão. Conhecia muito bem as
razões internas do sofrimento nordestino e de seu atraso. Sua formulação dos termos em que
veio a se constituir a primeira Política de Desenvolvimento Regional do país e do Nordeste
compreendia não apenas as questões materiais do atraso, mas principalmente as questões
ambientais e as sociais, como a concentração da propriedade fundiária, a necessidade de uma
reforma agrária e de uma política de colonização, além de uma política que ampliasse e diver-
sificasse o parque industrial regional.5
Contudo, logo veio o Golpe de 1964, que pôs por terra aqueles inteligentes e pertinen-
tes ideais. Pouco sobrou da idéia de Furtado.6 Decorridos pouco mais de quarenta anos, até
hoje não se formulou nada que pudesse comportar um conjunto tão bem integrado de medi-
das como foi a política do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)
- Decreto No 40.554.
5 Ver, de sua autoria, Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste, Recife, Sudene, 967, 2a ed. 6 Essa derrota está relatada em seu livro A Fantasia Desfeita, São Paulo-Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989, 3a ed.
12�
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
Embora a acusação maior – não por parte de Furtado ou da velha Sudene – fosse contra a
concentração industrial paulista, o país levou muito tempo para perceber que a desconcentra-
ção, de uma forma ou outra, espúria ou não, vinha se manifestando principalmente a partir das
políticas implantadas pela Sudene.
Tome-se como exemplo os anos 1970: a política nacional de acelerado crescimento industrial
do regime autoritário, ao aprofundar a industrialização, exigia da periferia nacional um uso
mais intenso de sua base de recursos naturais. Isso, por sua vez, implicava ampliar e melhorar a
infra-estrutura dessa mesma periferia e ali implantar algumas bases industriais, produtoras de
insumos básicos e de infra-estrutura.
Por outro lado, desde aquele momento, a fronteira agrícola continuou a sua expansão com
sua conhecida marca da modernização conservadora, que estimulava também o surgimento de
novos adensamentos urbanos e de alguma industrialização complementar.
Tomado o período 1970-1980, em que as taxas médias anuais de crescimento da indústria
de transformação foram de 9% para o Brasil e 8,1% para SP, a participação do agregado Brasil-
SP no total nacional passa de 41,8% a 46,4%, ocultando o fato importantíssimo de que, dando-
se o índice 100 para o valor real da produção da indústria de transformação em 1970, o resto do
Brasil apresenta em 1980 o índice 262 (e SP, 216), revelando, assim, ter acrescido sua produção
industrial em montante equivalente a 116% do valor da produção paulista de 1970!
O que ocorre, portanto, é que as indústrias sediadas em SP e as sediadas no resto do país mais
do que duplicaram sua produção, ou seja, a periferia nacional passou a ter um acréscimo indus-
trial pouco maior que o parque industrial paulista existente em 1970. Contudo, o excepcional
crescimento não foi capaz por si só de enfrentar com firmeza os problemas sociais, fossem os de
São Paulo, do Norte, do Nordeste ou de qualquer outro espaço brasileiro.
O pior é que passada a euforia do milagre, a economia nacional enveredou por um tene-
broso período de crise que a assola desde 1980. O debilitamento fiscal e financeiro do Estado, e
a partir dos anos 1990, a implantação das políticas de corte neoliberal, não só liquidaram com a
possibilidade do crescimento alto e persistente, mas agravaram sobremodo a crise social, e ainda
eliminaram, na prática, as políticas de desenvolvimento regional. Culminaram, inclusive, com o
encerramento de suas maiores instituições: a Sudene e a Sudam. Contudo, mesmo convivendo
com esses 25 anos de crise, a desconcentração industrial não parou, só que ela se tornou muito
mais difícil de ser analisada, de ser interpretada, de ser entendida ou mais bem compreendida,
dado que novos fenômenos se juntaram nesse perverso amálgama que encobriu a economia e
a política econômica nesses 25 anos.
130
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A tabela a seguir mostra como, ao longo de nosso processo de industrialização, notadamente
após 1970, o PIB nacional sofreu considerável desconcentração regional. Nesse processo, des-
tacam-se os dois maiores “perdedores”, SP e RJ, e os grandes “ganhadores” (regiões NO e CO).
Mesmo o NE, que vinha de acentuada trajetória de importantes perdas na participação nacio-
nal, recupera, a partir de 1970, parte expressiva do terreno perdido.
Tabela 1 – Participação regional no PIB total (Brasil = 100%)
1939 1949 1959 1970 1980 1985 1990 2003
NO* 2,6 1,7 2 2,2 3,2 4,1 4,9 4,9
NE 16,7 13,9 14,4 12 12,2 13,7 12,9 13
MG 10 10,4 7,9 8,3 9,4 9,7 9,3 9,2
ES 1,2 1,3 0,8 1,2 1,5 1,7 1,7 1,7
RJ 20,9 19,5 18,5 16,1 13,6 11,6 10,8 12,4
SP 31,2 36,4 37,9 39,5 37,7 35,8 37 32,1
PR 2,9 4 5,4 5,5 5,9 6,2 6,3 6,4
SC 2,2 2,5 2,4 2,8 3,3 3,3 3,7 4
RS 10,2 8,6 8,4 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2
CO* 2,1 1,7 2,3 2,7 3,6 3,7 3,8 4,9
DF - - - 1 1,5 2,3 2,3 2,6
Fonte: FGV/FIBGE (1939-1985); FIBGE (1985-2003) – (dados brutos; elaboração do autor).
*NO: inclui TO a partir de 1985-2003.
*CO: exclui DF; inclui TO em 1939-1980.
Porém, no abominável transcurso pós-1980, a economia regional conviveu com a descon-
centração espúria, aquela que decorre tanto de um efeito decorrente da Guerra Fiscal, quanto
aquela que decorre meramente de um efeito estatístico. Explique-se melhor: a desconcentra-
ção industrial continuou avançando, sendo em parte virtuosa – a que decorre do processo de
crescimento; a espúria, que decorre de efeito estatístico (e também da Guerra Fiscal), se dá
porque, em alguns ramos industriais, a queda do crescimento de São Paulo foi maior do que a
queda verificada no restante do país. Um mero efeito estatístico.
131
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
O efeito também pode se dar quando o crescimento é positivo, mas baixo, como tem ocor-
rido: quando a taxa de crescimento em B-SP, embora positiva, é baixa, porém maior do que a
(positiva) verificada em SP.7
A propósito, a recente euforia nacional e regional com a notável expansão das nossas expor-
tações primárias parece ter ignorado que, tomado o período intercensitário 1991/2000, em que
a área plantada teve crescimento nulo, o emprego agrícola reduziu em 30% para o conjunto do
país. Até mesmo no Centro-Oeste, onde a área plantada cresceu 53%, o desemprego agrícola
foi reduzido em 20%.
Contudo, se o mundo do trabalho rural foi mal, o da indústria não foi melhor: os Censos
Demográficos de 1991 e 2000 mostram que a criação de 575 mil empregos na construção civil
não pode compensar 1.109 mil desempregados nos outros setores industriais. Dessa forma, a
criação de empregos urbanos restringiu-se, praticamente, ao setor serviços. Mas onde se deu o
crescimento? O grupo dos trabalhadores urbanos “Sem Remuneração” foi o campeão, aumen-
tando 166%. Isso é fantástico. O capitalismo brasileiro acabou por criar a mais-valia absolutís-
sima. Na vice-liderança ficou o da categoria dos “Empregados Domésticos Remunerados”, com
36%; e em terceiro, os “Autônomos” (onde predomina o trabalho precarizado e informal), que
aumentaram 19%. Se “tudo ou mais ficasse constante”, a situação dos trabalhadores de baixa
renda teria piorado, em conseqüência do forte aumento da informalidade e precarização no
trabalho urbano.
Com isso, os dados sobre migrações inter-regionais nos últimos vinte anos mostram justa-
mente esse quadro, em que as migrações hoje se constituem mais numa marcha pela sobrevi-
vência e não mais numa marcha pela esperança, como era no passado. Comparados os períodos
censitários 1980/1991 e 1991/2000 os dados mostram que a região Norte teve um fluxo líquido
(entradas menos saídas) de 770 mil pessoas entre 1980 e 1991, que cai violentamente para
apenas 95 mil pessoas entre 1991 e 2000. No Centro-Oeste, excluído o Distrito Federal, também
elas diminuíram, passando de 400 mil para 300 mil pessoas, no mesmo período.
O grave é que a despeito da enorme expansão da área plantada e da produção, caiu a capaci-
dade receptora dessas regiões. Agrava ainda mais esse quadro o fato de que os Estados do Acre,
Pará e Mato Grosso do Sul também passaram, no período, a expulsadores líquidos de pessoas.
Nos mesmos períodos, São Paulo aumentou-as, de 760 mil imigrantes para quase o dobro
(1.360 mil), agudizando ainda mais seus problemas urbanos. Ou seja, não é com a via da expan-
são do agrobusiness que o país pode melhorar suas condições sociais, as quais, a perdurar tal
quadro, só tenderão a piorar.
7 Tentando desvendar melhor esses fenômenos, o autor desenvolve, atualmente, projeto de pesquisa para esse fim.
132
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A tabela a seguir dá uma idéia do crescimento desses fluxos acumulados, ao longo do perí-
odo 1940 a 2000.
Tabela 2 – Fluxos migratórios inter-regionais acumulados (a)
1.000 habitantes (%)
Total acumulado (A)
Acréscimo no período (B)
A/ Pop. Total
B/acréscimo pop.no período (b)
1940 2.772 ... 6,7 ...
1950 4.259 1.487 8,2 13,9
1960 7.872 3.613 11,2 19,9
1970 12.014 4.142 12,9 18,0
1980 16.524 4.510 13,9 17,4
1991 19.454 2.930 13,2 10,5
2000 23.437 3.983 13,8 17,3
1991* 19.039 --- 13,0 ---
2000* 23.019 3.980 13,6 17,3
Fonte: FIBGE. Censos Demográficos (Dados brutos; elaboração do autor).
(a): Fluxo resultante das seguintes agregações: de 1940 a 2000, sem asterisco: NO, CO (inclui TO e exclui DF), DF, MA, NE (-MA),
ES, MG, RJ, SP, PR, SC, RS. Para 1991* e 2000*: NO inclui TO; CO exclui DF e TO; NE inclui MA. (b) acréscimos entre o ano censitário
assinalado e o anterior.
3. A questão urbana
O Brasil, entre 1930 e 1980, apresentou algumas características de expansão e transformação
que o distinguem no rol dos demais países subdesenvolvidos: primeiro, passou por notável
crescimento econômico com uma das mais altas taxas médias anuais de crescimento cujo vetor
central foi sua acelerada industrialização; segundo, esse processo foi acompanhado, concomi-
tantemente, por processo de urbanização, em termos médios nacionais, igualmente veloz.
Graças ao fato de que tais processos se deram tendo como uma de suas principais diretri-
zes a integração do mercado nacional, tanto um como outro fenômeno, embora tivessem se
concentrado mais em alguns pontos do território nacional, notadamente em São Paulo, pude-
133
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
ram articular uma expansão regionalizada, não homogênea nem obviamente espacialmente
contínua.
Por outro lado, tais processos geraram nesse período elevadas taxas de expansão do emprego
urbano, é claro, embora não suficientes para zerar ou para diminuir expressivamente o subde-
senvolvido desemprego oculto. Para acomodar socialmente esse problema, a sociedade pode
contar com notável expansão da fronteira agrícola, que, contudo, ao mesmo tempo em que
colaborava na expansão da produção agrícola também reproduzia a miséria social nas novas
regiões, ou seja, aquilo que Furtado chamou de agricultura itinerante.8
Dessa forma, pode-se citar uma terceira grande característica desse processo, que é a inten-
sificação dos fluxos migratórios inter-regionais, que se bifurcam desde então em dois grandes
canais: o da fronteira agrícola e o do mundo urbano, notadamente o de São Paulo. Esses fluxos,
na verdade, constituíram e constituem o grande amortecedor social brasileiro, que tão ao gosto
das elites nacionais colaboraram ostensivamente no retardamento de uma política de reforma
agrária. Mas o que tem sido a tal urbanização?
Até o início da década de 1960, ela pode ser chamada de urbanização não caótica, haja
vista que a dimensão de nossas atuais grandes cidades ainda era relativamente modesta, que a
especulação imobiliária não era tão voraz e que tanto a família como o nascente capitalismo
ainda se permitiam oferecer meios de acomodação urbana menos onerosos, tanto em razão
da restringida capacidade do setor público local quanto do bolso do trabalhador recém-
urbanizado.
Essas eram as formas pré-capitalistas que existiam para a obtenção da casa própria e em
razão do fato de que os problemas urbanos de então – transporte coletivo, saúde, educação etc.
–, embora sérios, ainda eram contornáveis. Contudo, a aceleração da urbanização na década
de 1970, aliada a um estado autoritário que não media esforços para tentar crescer, mas que
pouco fazia pelo atendimento das demandas sociais e do trabalhador, tornou aquele processo
uma verdadeira urbanização explosiva, em que a dureza do capitalismo e a dimensão agora
ciclópica dos problemas urbanos superou as antigas formas de acomodação social e fez a misé-
ria urbana se multiplicar.
Muito se fez, inclusive, de institucionalização: criaram-se, por exemplo, as chamadas Regiões
Metropolitanas, mas esqueceu-se de um “pequeno” detalhe: nenhuma delas tem até hoje
fiscalidade própria. Criou-se, portanto, um ente planejador de um espaço, que não tem uma
verba adrede preparada.
8 Sobre o tema da agricultura itinerante, ver FURTADO, C., Análise do Modelo Brasileiro, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972, 3a ed., cap. II. Para uma análise atualizada do tema, ver CANO, W., Ensaios sobre a Formação Econômica Regional do Brasil, Campinas, Unicamp, 2002, cap. 5.
134
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Daí que conhecidos problemas urbanos só tenderam a se agravar: moradia ruim, cara e
longínqua; transporte coletivo ruim e caro; débil saneamento básico e mais recentemente uma
violência social de que, até então, não se tinha notícia no país.
Essa urbanização ultra veloz chama a atenção, porém, para um ponto recente: se examinada
a trajetória das taxas de crescimento e do aumento do grau de urbanização neste país, deve-se
ter presente que ambos, pelo que indicam os dados oficiais, infletiram na última década, ou
seja, o Brasil, mesmo na suas regiões mais atrasadas, mais longínquas, já atinge hoje níveis de
urbanização muito altos; os menores são justamente os da Amazônia e do Nordeste, com 69%
da sua população já residindo no mundo urbano.
Há que alertar para isso, porque o avanço desse grau de urbanização será agora bem mais
lento. Isso pode ser visto também pelas taxas de crescimento da população urbana, que desa-
celeraram sobremodo na década do último período intercensitário. Por exemplo, as regiões NO,
NE e CO, tiveram taxas médias anuais de crescimento urbano, entre 1970 e 1980, de, respecti-
vamente, 6,4%, 4,1% e 7,4%, as quais, entre 1991 e 2000, caíram para 4,8%, 2,8% e 3,2%.
Isso traz à baila uma questão que pode vir a ser complicada, dado que a urbanização tem
sido um vetor complementar muito importante no crescimento econômico nacional. E se essas
taxas de crescimento infletirem como estão infletindo e se os graus de urbanização não pude-
rem mais crescer como cresciam, e não podem, dado que até mesmo a região Centro-Oeste
ostenta hoje uma taxa de urbanização expressiva superior a 80%, esse vetor de crescimento
econômico já terá diminuído seu potencial.
Continuando então, pode-se dizer que, embora o país tenha tido um dos três mais rápidos
crescimentos do mundo capitalista e tenha com grande sucesso se industrializado, ele conviveu
com uma elevada injustiça social: os capitalistas nacionais beneficiaram-se das enormes sobras
do trabalho urbano e rural. É verdade que a urbanização e a industrialização permitiram impor-
tante dose de ascensão social e de constituição de uma classe média, que o país não tinha.
Contudo, isso se fez com uma piora acumulada, nos segmentos mais pobres, na distribuição de
renda.
Assim, advirta-se que a urbanização brasileira tem que ser repensada – por que repensada?
Porque, em termos de crescimento econômico, o país afastou-se de sua trajetória histórica.
Cresceu até 1980. Depois disso, teve forte expansão das fronteiras agrícola e extrativa mineral,
que resultaram em quê? Em expulsão de trabalhadores – que expulsou mais gente.
É claro que se criaram alguns nucleamentos urbanos expressivos nos vários estados por
onde a fronteira se expandiu. Observe-se, porém, que essa centralidade é uma centralidade que
13�
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
deve ser mais bem qualificada, que não é a centralidade urbana tal qual deve ser entendida,
como integrada com setores produtivos e hierarquizados. Ela é diferente.
Por exemplo, parte da expansão urbana nordestina que se manifesta nos últimos dez anos,
notadamente no Semi-Árido, não é fruto nem de expansão da agricultura, nem da indústria e
nem de investimento público. É fruto, sim, de uma política social: a aposentadoria rural: o país
tem, nessa condição, mais de quinze milhões de pessoas que passaram a receber um salário
mínimo.
Tal fato, numa região tão pobre quanto aquela, tem um efeito de acomodação social
e urbana excepcional. Com isso, recriou-se uma vida urbana com o salário mínimo desses
pobres, que lá não são pobres como antes, dada a renda que agora recebem. Então, passou a
existir uma outra urbanização, que é a urbanização movida por políticas sociais; é um caso
sui generis de urbanização. Os urbanistas e demais cientistas sociais deveriam pensar melhor
nisso.
Então, com baixo crescimento econômico e industrial medíocre como os que têm ocorrido,
o anterior processo de urbanização foi severamente prejudicado, certamente tendo seus efei-
tos positivos desacelerados. Com isso, pode-se prever um acentuado aumento da subocupação
urbana e, conseqüentemente, um amontoado de gente pobre nas cidades, com forte aumento
das demandas sociais, pressionando as prefeituras para obter água, luz, educação, saúde pública,
transporte etc. Os efeitos daí advindos são os mesmos, mas as razões, as causas daquele processo
talvez passem a se tornar mais claras e preocupantes. Então, isso tem que ser repensado, tem
que ser mais bem entendido.
4. Conclusões – ou a questão social
Entre 1930 e 1980, como já foi mostrado, o Brasil teve elevado crescimento econômico e do
emprego urbano, além da expansão da fronteira agrícola, ambos promovendo uma grande
acomodação social. Mas, com a crise da década de 1980 e o advento do neoliberalismo a partir
de 1990, o quadro social se agravou.
O país vive, nestes anos recentes, uma situação francamente de descenso social, dado que
grande parte dos empregos gerados nesse período está na verdade substituindo outros tipos
de trabalho (menos precário) anteriormente exercidos por essas pessoas, nos quais seus rendi-
13�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
mentos eram maiores. Assim, há um efeito estatístico de “melhora”: incha o número de pessoas
que, embora com qualificação superior à exigida pelo seu atual emprego, sujeitam-se a receber
menos do que ganhavam. Baltar, em trabalho recente, já havia mostrado isso, analisando as
Pnads de 1989 e 1999, que apontam para cifras semelhantes às censitárias.
Nele também se vê que os aumentos mais expressivos no mercado de trabalho urbano foram
os mais precarizados e informais, notadamente de emprego domiciliar, limpeza, segurança e
serviços auxiliares. O emprego urbano, naquele período, cresceu apenas 16,8%, ao passo que o
dos autônomos aumentou 42,3% e dos domésticos, 37,7%.9
No entanto, é preciso entender, acima de tudo, que os problemas sociais, embora tenham
um colorido mais forte e duro na periferia nacional, estão fortemente presentes também em
São Paulo. Recente trabalho de Sônia Rocha mostra que, embora a proporção de pobres nas
Regiões Metropolitanas do Nordeste seja altíssima: 60% no Recife; 52% em Salvador; 49%
em Fortaleza, ela não é baixa na Região Metropolitana paulista, onde ostenta a nefanda cifra
de 42% e onde vivem 7,5 milhões de pobres.10
Há muito no plano econômico e no social que se pode fazer, e para tal não se precisa gastar
nenhum centavo de dólar. Por exemplo, com apenas a metade do valor pago aos juros anuais
da dívida pública interna, poder-se-ia resolver, em três ou quatro anos, o déficit habitacional
brasileiro. Praticamente não se gasta um centavo de dólar para fazer casa para pobre. Tem-se
tudo aqui no país. Não se promove nenhum abalo na balança de pagamento, tampouco nas
contas públicas.
Não bastaria, contudo, para isso, apenas baixar a taxa de juros. E, para tanto, não se requer
sábios economistas, pois é questão de bom senso. É questão de um bom senso, e, acima de tudo,
que se tenha clara consciência de que o problema não é apenas o de fazer crescer a taxa do
PIB, mas de fazer um resgate social; de que o país tem uma coleção formidável de problemas
imensos, enormes, que tem que olhar para eles, que tem que tratá-los, que tem também que
alocar algum investimento neles, mas que esses problemas precisam ser priorizados de forma
bastante diversa da que têm ocorrido até hoje.
É claro que a sugestão de forte rebaixa da taxa de juros não trata de questão trivial. Ela
requer, na verdade, um conjunto de medidas de política econômica muito mais amplo, requer,
acima de tudo, a recuperação do uso da soberania nacional no manejo da política econômica.
9 Ver BALTAR, P.E.A., Estrutura econômica e emprego urbano na década de 1990, em Trabalho, Mercado e Sociedade, Unesp/Uni-camp, 2003, de PRONI, M.W. e HENRIQUE, W. (Org.).
10 Ver o artigo de Sônia Rocha “Alguns aspectos relativos à evolução 2003-2004 da pobreza e da indigência no Brasil”, disponível em: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/desenvolvimentosocial/File/documentos/soniaalguns.pdf>.
13�
Questão regional e urbana no Brasil:alguns impasses atuais
Finalizando, portanto, faz-se necessário insistir que é preciso, com urgência, romper com
o atual modelo macroeconômico, incapaz de prover o crescimento persistente e alto, e inca-
paz de dar conta da questão social brasileira. Deve a Nação, portanto, tentar reconstruir uma
política nacional de desenvolvimento econômico, que deve ser regionalizada, mas que esteja
fortemente comprometida com a construção de uma política de resgate social.
13�
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Bertha K. Becker
Logística e nova configuraçãodo território brasileiro:que geopolítica será possível?
O debate sobre políticas de desenvolvimento regional tem resgatado a questão do plane-
jamento territorial, há algum tempo submerso nas temáticas regional, ou da gestão ou,
mais recentemente, do ordenamento do território.
Sob a ênfase nas estratégias de planejamento espacial sempre houve o risco de acentuação
das desigualdades regionais, tendo em vista a desigual incidência do crescimento econômico
no espaço. Essa tensão entre planejamento espacial para o desenvolvimento e políticas regio-
nais para reduzir desigualdades é patente hoje no processo de construção da União Européia,
em que o termo planejamento é freqüentemente substituído por ordenamento.
Também no Brasil a expressão Ordenação do Território foi fixada legalmente na Consti-
tuição Federal de 1988 (artigo 21 IX) e, em 2003, quinze anos depois, a lei no 10.683 incumbiu
o Ministério de Integração Nacional junto e o Ministério da Defesa de coordenar o processo
de formulação da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), visando promover a
coesão social e econômica do território. Consolidou-se, então, a vinculação legal entre as polí-
ticas regionais e de ordenamento territorial atribuídas à mesma Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR) do MI.
Percebe-se claramente a tendência a tratar conjuntamente o planejamento territorial com
o problema regional, mas não é tão clara a substituição de planejamento por ordenamento, e
tampouco a substituição de integração por coesão social e econômica. Assume-se que tais subs-
tituições e diversidade de termos constituem um desafio conceitual e uma questão política asso-
ciadas à ruptura da histórica unidade indissolúvel entre Estado e território e à mudança de sua
natureza, demandando revisão de conceitos, de atores e de ações vigentes até recentemente.
Tais processos estão presentes no Brasil. A democratização fortalece os poderes dos estados
federativos e dos municípios, e abre espaço para as demandas de cidadania. A globalização e a
140
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
abertura dos mercados impõem novos padrões de competitividade baseada na exportação e na
privatização do capital social, numa reestruturação da economia que resulta em maior poder
para as corporações. A logística permite às corporações gerar em tempo rápido e em ampla
escala grandes territórios corporativados que tendem a incorporar, submeter ou excluir os ter-
ritórios de grupos sociais menos poderosos, e a revigorar a expansão da fronteira agropecuária.
Por sua vez, crescem e se internacionalizam os movimentos sociais, como bem expresso no
fórum de Porto Alegre, tendendo a constituir uma outra face da globalização.
O novo contexto apresenta o risco imediato da perda de controle do território nacional pela
União e explica a meta de “coesão social e econômica do território” a ser alcançada nas políti-
cas públicas. Uma oportunidade de retomar o papel do Estado no controle do território e nas
relações internacionais do Brasil se delineia com o esgotamento do Consenso de Washington,
mas o contexto de grande complexidade e de grandes desafios impõe redefinições no papel do
Estado e em suas prioridades de atuação que, atualmente, não são nem equacionadas nem
respondidas por um projeto nacional claro capaz de servir de referência para a ação.
Na ausência de tais referências, toma-se como premissa para as políticas territoriais no
Brasil a necessidade de estabelecer compatibilizações e termos de diálogo entre, de um lado,
as demandas sociais e o imperativo de justiça de superação da exclusão social e, de outro, o
crescimento econômico e os imperativos da competitividade no mundo globalizado. Trata-se,
portanto, de uma questão geopolítica – de distribuição do poder no território –, cuja decisão
antecede o planejamento, a gestão e o ordenamento. Questão que não é trivial, considerando
as possibilidades efetivas de ação do Estado diante das forças hoje dominantes.
O objetivo deste trabalho é contribuir para avançar nas compatibilizações e diálogos, explo-
rando algumas condições que indicam as possibilidades de o Estado exercer seu poder no ter-
ritório. Têm-se como hipóteses quanto à reestruturação do território:
• a logística, hoje inerente à geopolítica e visando à inserção competitiva na globalização
– é um vetor fundamental na reestruturação, constituindo a ossatura do território;
• as grandes corporações são os mais poderosos agentes de reestruturação, comandando
a logística, que agiliza suas ações complementando, apenas, estruturas implantadas pelo
Estado; e
• num contexto em que prevaleça uma dinâmica logística sem regulação efetiva do Estado
é de se esperar um grave e indesejável agravamento das desigualdades regionais.
A primeira seção do trabalho é conceitual, discute as mudanças ocorridas na geopolítica
contemporânea com ênfase no papel dos novos atores e da logística na reestruturação dos
territórios e suas tendências no Brasil. Na segunda seção analisam-se tendências atuais da
141
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
logística no território brasileiro mediante estudo de redes técnicas e estudos de caso de corpo-
rações. Finalmente, na terceira secção apontam-se efeitos sobre a nova configuração do terri-
tório, desafios para a geopolítica do Estado brasileiro e estratégias possíveis para enfrentá-los,
considerando seus espaços de manobra no contexto da nova realidade analisada.
1. Geopolítica pós-moderna
A geopolítica é o campo de conhecimento que trata das relações entre poder e espaço geográ-
fico. Se a prática estratégica do poder é antiga, vem se alterando com as mudanças do contexto
histórico e seu impacto na natureza do Estado e do território.
1.1 Poder unidimensional: O Estado e o Território Nacional
A Geopolítica consolidou-se como disciplina no fim do século XIX e, para tanto, a contribuição
teórica de Frederich Ratzel (1879) foi essencial.
Historicamente, o sujeito exclusivo da geopolítica era o Estado, entendido como única fonte
de poder, única representação do político e única escala de ação. Conflitos e disputas só eram
reconhecidos entre Estados, por meio de pressões e intervenções de toda a ordem, desde as
mais brandas até guerras e conquistas de territórios.
Território – em sua extensão, posição e recursos naturais – povo e instituições, constituem o funda-
mento do poder do Estado moderno. Território bem definido e demarcado pelas fronteiras nacionais.
A geopolítica do Estado se fundamentava na estratégia espacial – entendida estratégia como
concentração de esforços em pontos selecionados.
A consolidação do Estado moderno está associada à revolução industrial. Trata-se da ins-
trumentalização do espaço como meio de controle social quando o Estado muda de feição,
passando a um Estado de governo, processo que, germinado em fins do século XIX, culmina no
pós-guerra, com o Estado intervencionista. A nova forma de poder é a governabilidade apoiada
num tripé: o crescimento demográfico, a economia política e, associada a essa mudança, a dis-
ciplina; disciplina que é, sobretudo, uma análise do espaço, de como dispor as coisas de modo
conveniente a fim de controlá-las para alcançar os objetivos desejados (FOUCAULT, 1979).
Para assegurar as condições de reprodução das relações de dominação em sociedades cada
vez mais complexas, o Estado passa a produzir o seu próprio espaço implementando uma nova
142
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
tecnologia espacial baseada no conjunto de ligações, conexões, comunicações, redes e circui-
tos. Ele tende a controlar fluxos e estoques produzindo uma malha de duplo controle, técnico
e político, que impõe uma ordem espacial vinculada a uma prática e a uma concepção de
espaço logístico, de interesses gerais, estratégicos, contraditórios à prática e à concepção de
espaço local, de interesses privados e objetivos particulares dos agentes de produção do espaço
(LEFEBVRE, 1978). Caso exemplar da imposição da malha estatal é o que ocorreu na Amazônia
brasileira entre 1965-1985 (BECKER, 1990).
Lefebvre prenuncia, assim, as novas e profundas mudanças que germinavam no campo da
geopolítica e da logística em decorrência da revolução científico-tecnológica.
Como bem explicitado por Castells (1985, 2000), a revolução tecnológica na microeletrônica
e na comunicação não se resume a uma nova técnica, mas sim a uma nova forma de produção
baseada na informação e no conhecimento, que envolve a organização social e política, civil e
militar e, ainda, as relações de poder.
A nova racionalidade embutida na inovação tecnológica é a velocidade. Segundo Virilio
(1984) a velocidade é a essência da tecnologia e a logística é a nova fase da inteligência mili-
tar inerente à velocidade; logística entendida como preparação contínua dos meios para a
guerra – ou para a competição – que se expressa num fluxograma de um sistema de vetores de
produção, transporte e execução. A partir da revolução da C&T, o que conta é a seleção de veí-
culos e vetores para garantir o movimento perene – envolvendo o controle do tempo presente
e futuro – a estratégia espacial, a ela se subordinando (VIRILIO, 1984; BECKER, 1988, 1993).
Ciência e tecnologia passam, sem dúvida, a ser o fulcro do poder exercido, sobretudo por
meio de redes e fluxos, sustentáculos da riqueza circulante: informação, sistemas financeiro e
mercantil. Porém, a virtualidade de redes e fluxos não elimina o valor estratégico da riqueza
in situ, localizada no espaço geográfico, e tampouco reduz o valor estratégico da sociedade
localizada igualmente no espaço geográfico (BECKER, 2001).
O controle da informação e do conhecimento por meio de redes e fluxos transforma o
espaço geográfico, pois permite a um só tempo avançar no processo de globalização e de
diferenciação espacial, pela valorização seletiva de territórios, com potencialidade que inte-
ressam à economia e à política global, e que passam a ter tempos diferentes. Nesse sentido, a
geopolítica mantém o seu significado, lidando sempre com o espaço geográfico a que se incor-
porou definitivamente o tempo, ou seja, com espaços-tempo. E a estratégia, entendida como
concentração de esforços em pontos selecionados, será tanto mais poderosa quanto capaz de
associar as estratégias espacial e temporal. É possível deduzir dessa nova pulsação situações de
forte instabilidade.
143
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
À medida que a nova racionalidade avança, expandindo a globalização, ela passa a afetar os
Estados e os pressupostos fundamentais de sua geopolítica.
Em âmbito da disputa entre Estados, não se trata mais hoje de uma geopolítica de conquista
de territórios para colonizá-los, processo muito caro e desnecessário; trata-se, sim, de uma
geopolítica de pressões para influir na tomada de decisão sobre o uso dos territórios nacio-
nais (BECKER, 1993).
Em âmbito doméstico, relativiza-se o poder do Estado e do território nacional, na medida
em que a lógica das redes conflita com a lógica territorial. Redes e fluxos trans-estados e trans-
fronteiras enfraquecem a definição dos territórios e das fronteiras nacionais, que se tornam
cada vez mais móveis e dinâmicas. E a seletividade de territórios no processo de globalização
gera espaços-tempo diferenciados no planeta e relações locais–globais dentro de territórios
nacionais, de tal modo que hoje há incapacidade do Estado Nacional em manter o controle
sobre a totalidade de seu território e sobre as forças antagônicas que nele se movimentam.
Nesse contexto, o território deixa de ser exclusivamente o território do Estado. Território,
hoje, é o espaço da prática. Por um lado é o produto da prática espacial; inclui a apropriação
efetiva ou simbólica de um espaço, implica a noção de limite – componente de qualquer prá-
tica –, manifestando a intenção de poder sobre uma porção precisa de espaço. Por outro lado,
é também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio para sua prática. E a
territorialidade humana é uma relação com o espaço que tenta afetar, influenciar ou controlar
ações através do controle do território; é a face vívida do poder (RAFFESTIN, 1980; SACK, 1986;
BECKER, 1988).
A nova racionalidade tende a se difundir pela sociedade e pelo espaço, mas em nível ope-
racional, concreto, é seletiva, gerando uma geopolítica de acentuação da inclusão. Avança
rapidamente no setor produtivo privado por meio da formação de sistemas logísticos espaço-
temporais viabilizados por redes técnicas e políticas e alimentados pela informação. O setor
público, dada a sua estrutura pesada e rígida, e a sociedade desprovida de meios econômicos e
de informação, têm muito mais dificuldade em operar a logística (BECKER, 1993).
Os Estados procuram reagir mediante reformulações jurídico-institucionais do marco legal,
sobretudo no reordenamento da esfera público-privada, impondo um novo marco regulatório na
dinâmica territorial.
O tema do papel da ação pública frente às forças globalizadoras é, no entanto, controverso.
Para uns, cresce a intervenção estatal na economia e no território, não necessariamente em sua
modalidade de gestão direta pelo Estado, que se encontra em refluxo, mas por meio de varias
modalidades de novas articulações construídas entre a esfera pública e a privada; o pluralismo
144
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
da sociedade e o tecnicismo e a complexidade das atividades econômicas articuladas em escala
mundial, vem provocando um crescente movimento de especialização setorial da regulação
estatal e dos órgãos incumbidos de desenvolvê-la em vários setores da atividade econômica,
sobretudo aqueles afetos aos serviços de transporte, de estocagem, de geração e distribuição de
energia, comunicação, de especialização de áreas produtivas e conseqüente aumento da fluidez
do território (BARROSO, 2005; FIGUEIREDO, 2006).
Para outros, tal como assumido neste texto, o movimento de especialização setorial da regu-
lação estatal não significa crescimento da intervenção do Estado numa modalidade indireta,
mas sim complementaridade estratégica às empresas – tal como ensina a Geoeconomia – e/ou
possibilidades setoriais que lhe cabem de atuação, nem sempre implementadas. Regular a dinâ-
mica territorial decorrente das ações de múltiplos atores mediante articulação institucional e
negociação torna-se o essencial da ação do Estado a fim de alcançar os objetivos do projeto
nacional que deveria estabelecer as diretrizes das ações.
Porém, ao que tudo indica, o poder da regulação estatal varia segundo os contextos histó-
rico-geográficos de Estados Nacionais e blocos supranacionais. É o que ensina o Brasil.
1.2 Novo marco regulatório da dinâmica territorial brasileira
A geopolítica tem papel central na formação social e territorial brasileira desde os tempos colo-
niais, respondendo pelo apossamento e manutenção do extenso território do país. A formação
do Estado e consolidação da sua intervenção foi um caso exemplar da concepção de Lefebvre:
o Estado produziu seu próprio espaço impondo no território uma malha de duplo controle
– técnico e político – constituída de redes e pólos visando à consolidação do mercado interno e
o controle do território, processo que culminou com a Política de Integração Nacional (BECKER,
1993a).
No início dos anos 1980 a crise do Estado decorrente dos choques do petróleo e da escalada
da dívida com a súbita alta de juros, foi também uma crise no território. Em nível local, mani-
festou-se em movimentos de luta por acesso a redes e lugares, gerando uma frente de conflitos
de extensão nacional; o nível regional foi marcado pelo fortalecimento dos estados federativos
e sua disputa pelos poucos recursos da União; em nível nacional assiste-se à expansão da inser-
ção competitiva, com investimentos externos e início do processo de privatização.
Nesse contexto alterou-se significativamente a natureza do Estado brasileiro, bem como
a configuração do território. Registra-se no Brasil o movimento de especialização setorial da
regulação estatal anteriormente referido, e dos órgãos incumbidos de desenvolvê-las. A gestão
14�
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
da sociedade, economia e do território na complexidade de seus diversos setores e interesses
impõe a administração contínua de conflitos que surgem entre as normas de diversos orde-
namentos jurídicos setoriais – por intermédio, entre outras, das Agências Reguladoras – ou de
alguns destes com o ordenamento central do Estado.
Nesse contexto, a idéia da descentralização e da flexibilização parece ser particularmente
relevante no caso brasileiro, em que a marcada diversidade socioambiental está a exigir uma
gestão cada vez mais regionalizada de seu vasto território nacional no sentido de promover a
aderência das políticas públicas aos condicionantes de sua diversidade cultural e ambiental, o
que exige enorme capacidade de inovação e flexibilização dos órgãos e poderes responsáveis
pela regulação de sua economia e de seu território, aí incluídas a normatização dos serviços
públicos de infra-estrutura (FIGUEIREDO, 2006).
O entendimento da dinâmica de expansão dos serviços de infra-estrutura do país deve,
também, levar em consideração o fato de as atividades aí inseridas serem consideradas “servi-
ços públicos de interesse coletivo” estando, portanto, sua execução delegada, na atualidade,
dentro do possível, ao maior número de concessionários privados submetidos ao novo marco
regulatório desenhado, entre outros, para os serviços de infra-estrutura, dentro de um contexto
histórico que já vinha se desenrolando desde os anos 80.
Figueiredo (2006) apud Barroso (2005) cita três importantes transformações estruturais do
Estado no âmbito das reformas econômicas brasileiras: a primeira foi a extinção de determina-
das restrições ao capital estrangeiro; a segunda linha de reformas foi a chamada flexibilização
dos monopólios estatais e, finalmente, ocorre a privatização, propriamente dita, conforme
resumido no quadro 1.
14�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Quadro 1 – Transformações estruturais e as mudanças na legislação1
Emenda Constitucional
Legislação modificada
e/ou suprimida
Mudanças na legislação
Extinção de
restrições
ao capital
estrangeiro1
EC no 06/95 e
07/95
Arts. 171 ,
176, caput, e
178 CRFB/88
Permitidas a autorização/concessão a empresas constituídas
sob as leis brasileiras para pesquisa e lavra de recursos mi-
nerais e aproveitamento dos potenciais de energia elétrica,
dispensada a exigência do controle do capital nacional
(art.176).
Não mais se exige que a navegação de cabotagem e interior
sejam privativas de embarcações nacionais e a nacionalidade
brasileira dos armadores, proprietários e comandantes e,
pelo menos, de dois terços dos tripulantes (art. 178).
Flexibilização
dos
monopólios
estatais
EC no 05/95,
08/95 e 09/95
Arts. 21, incs.
XI e XII e
art. 25, § 2o,
CRFB/88
Possibilidade de os Estados-membros concederem às
empresas privadas a exploração dos serviços públicos locais
de distribuição de gás canalizado; serviços de telecomuni-
cações e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Foi
rompido o monopólio estatal do petróleo, facultando à
União Federal a contratação de empresas privadas de ativi-
dades relativas à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás
naturas e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação do
petróleo nacional ou estrangeiro, a importação, exportação
e transporte dos produtos e derivados básicos do petróleo.
PrivatizaçãoNão houve
alteração da
Constituição
Federal de 1988
—
Edição da Lei no 8.031/90, instituindo o Programa Nacional
de Privatização, substituída pela Lei no 9.491/97. Em linhas
gerais, o Programa Nacional de Privatização objetiva a
revisão e reordenação do papel do Estado na economia.
Nesse contexto, segundo tais autores, houve um verdadeiro deslocamento de poderes, uma
vez que, se a influência do Executivo na economia diminuiu, o domínio jurídico, no entanto,
aumentou na forma de regulação e fiscalização dos serviços públicos e atividades econômicas,
por meio, entre outros, das Agências Reguladoras.
São funções e competências das Agências Reguladoras a regulação de atividades econô-
micas e serviços públicos, contemplando uma série de atribuições, como a de fiscalização, de
aplicação de sanções e de composição de conflitos de diversos setores de atividade, conforme
observado no quadro 2.
1 Mais recentemente, em 2002, foi promulgada a EC nº 36 que permitiu a participação de estrangeiros em até trinta por cento do capital das empresas jornalísticas e de radiodifusão.
14�
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Quadro 2 – Agências reguladoras
Agência Lei Instituidora Setor da Atividade
ANTT Lei no 10.233/01
Transporte de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação; ex-
ploração da infra-estrutura ferroviária e o arrendamento dos ativos operacionais
correspondentes; transporte rodoviário de cargas; exploração da infra-estrutura
rodoviária federal; transporte multimodal; transportes de cargas especiais e
perigosas em rodovias federais.
ANTAQ Lei no 10.233/01
Navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário,
de cabotagem e de longo curso; portos organizados; terminais portuários pri-
vativos e transporte aquaviário de cargas especiais e perigosas.
ANNEL Lei no 9.427/96 Serviços públicos de energia elétrica e seus usos potenciais.
ANP Lei no 9.478/97 Regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes
da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.
É neste contexto que se analisam, a seguir, efeitos de dez anos de descentralização, privati-
zação e inserção competitiva sobre o território, questionando a tese do aumento do poder do
Estado por meio do domínio jurídico.
2. Construindo um sistema logístico físico do território brasileiro
O esforço metodológico para identificar as características do sistema logístico físico do terri-
tório brasileiro tem como objetivo:
a) identificação da densidade, do padrão de distribuição e do nível de equidade das mais
importantes redes técnicas – de circulação, de armazenagem, de energia, urbana.
O critério utilizado para tal caracterização é a distinção entre redes pioneiras isoladas,
conjunto de redes e malhas, estas últimas constituídas de múltiplas redes entrelaçadas
criando uma nova tecitura espacial;
b) identificação de conexões domésticas e nas escalas continental (sul-americana) e global.
Indicadores das conexões utilizados são: em nível nacional, o acesso a serviços públicos;
em nível nacional e continental, infra-estrutura viária, de armazenagem e energética;
em nível global, portos e inserção na rede de cidades mundiais; e
14�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
c) estudos de caso da logística de quatro importantes corporações de setores econômicos
chave – Petróleo Brasileiro S.A., Companhia Vale do Rio Doce, Bunge e Cargill, visando
entender o seu papel no sistema logístico físico geral.
Trata-se de um estudo inicial exploratório, cujas conclusões, contudo, são extremamente
significativas.
2.1 Distribuição das redes e equipamentos no território2
A análise dessa distribuição pode ser acompanhada pelos respectivos mapas.
2.1.1 Acesso a redes de serviço no território nacional
Estudos de fluxos de acesso a serviços de saúde (OLIVEIRA, 2005) e educação (BECKER, 2005)
são reveladores.
As figuras 1a e b das redes de atenção hospitalar básica e redes neurológicas mostram que,
mesmo com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988, significando
um marco na política de saúde pública brasileira, o acesso aos serviços permanece distante
da universalização almejada. No que se refere à difusão de pontos de atendimento e interco-
nexões, há uma distribuição menos desigual do conjunto de serviços de uso mais freqüente,
configurando-se uma malha facilitadora do acesso. Contudo, no caso dos serviços relativos a
doenças de maior complexidade (e tratamento mais caro) prevalece o baixo grau de cobertura
e padrão hierárquico dos fluxos. Em síntese: o acesso aos serviços continua discriminatório e
seletivo, violando o princípio da eqüidade.
2 Esta seção foi elaborada com a participação de Adma H. de Figueiredo, Cláudio Stenner e Mariana Miranda como parte de um estudo para o Ministério da Integração Nacional, coordenado pela autora, para subsidiar a elaboração de uma Política Nacional de Ordenamento do Território.
14�
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Figura 1a
Fonte: Oliveira, 2005.
Figura 1b
Fonte: Oliveira, 2005.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A análise do sistema de educação, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, evidencia
que nesta região, caracterizada por grande déficit com respeito aos números nacionais (ainda
que com significativo crescimento no passado recente), o acesso é fortemente discriminatório
e seletivo. Ainda que a expansão recente tenha se apoiado fortemente em instituições privadas
de ensino superior, são as instituições públicas aquelas que respondem pela interiorização do
ensino universitário (figura 2). A pós-graduação e a pesquisa estão altamente concentradas
em Belém e Manaus (e também Cuiabá), seguidas de longe pelas demais capitais estaduais
(BECKER, 2005).
Figura 2a
Fonte: Becker, 2005.
1�1
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
2.1.2 Conexões domésticas e continentais: redes urbana, de circulação, de energia e de armazenagem
Rede urbana. Cidades são os nós logísticos que articulam todas as demais redes. Não estão aqui
representadas em mapa, porque a análise de fluxos existente é ainda a realizada pelo Regic/
IBGE em 1993. O estudo recente da rede urbana efetuado por Ipea/IBGE/Campinas (2002) não
revela grande diferenciação na hierarquia urbana, mas sim uma certa compartimentação das
áreas de influência de grandes cidades, decorrente do crescimento de algumas cidades médias,
da multiplicação de municípios e da expansão da rede privada de armazenagem. Em contrapar-
tida, ampliou-se sobremaneira o espaço da metropolização produzido por uma gama variada
de atores.
Os fluxos representados nas figuras 1a, 1b e 2a, podem ser considerados como Proxy das
áreas de influência urbanas na atualidade.
Redes de circulação. Há claro predomínio do transporte rodoviário na matriz de transportes
brasileira. A reduzida velocidade caracteriza ainda o modal ferroviário (em comparação com o
rodoviário) e sua participação é pequena na matriz de transportes brasileira (em 2004 corres-
pondiam apenas a 23,9% da carga total transportada no país). Por mais precárias que ainda
sejam as condições de manutenção das rodovias, elas ainda representam uma alternativa mais
econômica, pois ferrovias demandam muito vultosos investimentos em modernização e sua
economicidade depende de grandes e regulares volumes de tráfego (economias de escala).
Essa é uma questão indiscutivelmente estratégica para a expansão da agroindústria no Brasil.
E numa perspectiva não imediatista é bastante razoável supor um crescimento da participação
do modal ferroviário na matriz de transportes brasileira, apoiado pelo dinamismo da atividade
exportadora.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 3
No caso brasileiro, as redes de transporte fluviais e aéreas apresentam uma expressão relati-
vamente baixa. No primeiro caso, a relevância é marcadamente para o transporte de carga geral
da produção regional e da população de baixa renda (particularmente na Amazônia), enquanto
as redes aéreas se concentram no transporte de passageiros para negócios e turismo. Em ambos
os casos as articulações viárias com a América do Sul ainda podem ser caracterizadas como
embrionárias, embora apresentando significativo potencial de expansão e crescimento.
As principais conexões fluviais com o continente sul-americano são feitas através da hidro-
via do Paraguai, com destaque para as trocas efetivadas entre os terminais de Corumbá, expor-
tando ferro e manganês granulado (e em menor proporção gado) e importando trigo da Argen-
tina. O fato novo mais recente nessas trocas é a exportação de soja por meio de terminais de
Cáceres e Ladario para a Bolívia, o Paraguai e a Argentina.
No território nacional, é o Amazonas o principal eixo de circulação fluvial. São poucas as
cargas fluviais especializadas, com destaque para a soja. A bacia do Tietê-Paraná tem como
1�3
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
característica marcante uma especialização que a diferencia na logística do Centro-Sul brasi-
leiro: os terminais paulistas são todos privados e a circulação fluvial é dominada pela soja em
grãos, seguida do farelo ou óleo de soja. A origem dessa soja são os terminais de Goiás (dois
privados e um público) e do Paraguai (dois privados e um público).
O avanço territorial da soja é flagrante no transporte fluvial em regiões mais ao norte
do Brasil, onde ela se torna presente juntamente com a carga geral das produções regionais.
Somente na Amazônia Ocidental o transporte fluvial é marcado por uma outra inovação: a
produção de petróleo e derivados. Na hidrovia do Solimões o fluxo predominante é de petró-
leo e GLP de Coari para Manaus (com essa diversificação registrada até Santarém, na bacia do
Amazonas). Em todas as demais bacias prepondera o transporte não especializado de carga em
geral (característico do transporte fluvial em áreas menos desenvolvidas).
Nas redes aéreas é notável o padrão altamente concentrado nas capitais estaduais, há inclu-
são do transporte internacional em todos os aeroportos das capitais estaduais, ainda com ape-
nas duas exceções (Vitória e Goiânia). No que diz respeito ao transporte de passageiros, os
dados relativos ao ano de 2004 apresentam claramente três patamares. No primeiro patamar
está São Paulo (com um movimento da ordem de 26 milhões de pessoas). No patamar Rio de
Janeiro e Brasília (com movimentos da ordem de 11 e 10 milhões de pessoas respectivamente).
No terceiro, a cidade de Salvador (com um movimento da ordem de 4 milhões de pessoas)
ocupa a posição mais elevada numa faixa de capitais estaduais que apresentam números em
torno de 3 milhões: superior a 3, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, e inferior Curitiba e
Fortaleza.
No que diz respeito ao transporte aéreo de cargas, a hierarquia de movimentação apresenta
significativa mudança. Guarulhos se mantém em primeiro lugar, como expressão da força eco-
nômica de São Paulo. Porém, em segundo lugar desponta Manaus, como expressão da força de
seu pólo industrial, seguindo-se então Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Se o turismo interna-
cional é um importante fator a ser considerado na intensificação do fluxo aéreo para capitais
nordestinas, o caso de Salvador merece consideração especial, como importante nó dos fluxos
de circulação aérea (tanto de passageiros como de carga).
As conexões da matriz de transportes brasileira com a América do Sul continuam sendo
bastante fracas. Fluxos existem na parte central da América do Sul (com destaque para os
fluxos aéreos). É somente no caso da conexão entre Buenos Aires e Santiago que é possível se
falar de uma tendência à formação de malha. No restante, o que se apresenta são muito mais
corredores isolados. No entanto, nas conexões aéreas, o Brasil, que já apresenta fluxos intensos
com Buenos Aires, vem intensificando de modo significativo os fluxos com Santiago.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Redes de Energia (figura 4). O Brasil apresenta um quadro bastante favorável em relação
às fontes energéticas disponíveis. É relativamente auto-suficiente em petróleo, é importante
produtor de biomassa – com grande potencial de expansão –, é rico em energia hidráulica e
ainda tem expandido a sua produção de gás natural. Apresentou significativas mudanças em
sua matriz energética de 1970 para 2004 (ver tabela a seguir): queda na participação percen-
tual de lenha/carvão vegetal e de gasolina e óleo combustível, e crescimento na participação
de energia hidráulica e elétrica e de gás natural. Não existe hoje uma predominância exagerada
de nenhuma fonte energética: em 2004, petróleo e derivados representavam apenas 39,1%
da oferta de energia, seguido pela hidráulica (14,4%), derivados da cana-de-açúcar (13,5%),
lenha e carvão vegetal (13,2%), gás natural (8,9%) e carvão mineral (6,7%). Esta composição
faz que a matriz energética brasileira tenha baixos níveis de emissão de CO2 e seja uma das
mais renováveis do mundo: na média mundial, apenas 13,1% da energia consumida é reno-
vável, enquanto no Brasil este valor sobe para 44%. Ressalte-se que há demanda crescente
pelos derivados de cana-de-açúcar graças à introdução de motores tipo flex e às restrições do
Protocolo de Kyoto.
A distribuição da energia no território é um fator determinante na organização espacial do
país. No Brasil ela tem um padrão altamente concentrado no Centro-Sul, onde uma complexa
malha energética se constituiu. É nesta região, especialmente nos Estado de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Paraná, que se encontra o coração energético do país. Ali são produzi-
dos 85% do petróleo e gás, processados 76% do petróleo, mais de 70% da produção de cana
de açúcar e 75% da produção de álcool, 65% da hidroeletricidade, 81% do carvão de florestas
plantadas e 40% da lenha de florestas plantadas, além das mais densas redes de distribuição
de energia elétrica, gás natural, derivados de petróleo e álcool, formando uma efetiva malha.
A região litorânea do Nordeste, entre Salvador e Fortaleza, apresenta certa densidade de áreas
produtoras de energia e redes de distribuição, mas sem constituir uma malha. A maior parte do
imenso território amazônico é desconectada do Sistema Interligado Nacional, e vastas porções
do interior do Nordeste apresentam apenas redes pioneiras.
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Figura 4
Redes de armazenagem. É evidente na escala macrorregional a forte concentração na região
Sul-Sudeste, com um significativo processo de expansão em direção às áreas de crescimento da
fronteira agrícola no Centro-Oeste, impulsionada pela produção de grãos (notadamente soja e
milho – ver figura 5, Rede de Armazenagem – bolas verdes). A distribuição de silos e graneleiros
serve para revelar a logística das grandes empresas dos complexos agroindustriais inseridos na
economia globalizada. A tendência de deslocamento das áreas tradicionais de plantio e proces-
samento de grãos e, principalmente, da lavoura da soja, desde o Rio Grande do Sul até Bahia,
Maranhão e Piauí, responde, em grande parte, pela configuração do mapa de distribuição das
unidades de armazenagem no território nacional.
Um conjunto de fatores responde não só pela concentração maior da rede de armazenagem
no Sul-Sudeste, como também pela atual expansão da capacidade de estocagem no Centro-
Oeste. São eles a presença de i) extensas áreas de produção; ii) grandes cooperativas que con-
centram a produção pulverizada de pequenos e médios produtores; e iii) indústrias de esma-
gamento. Contudo, deve ser destacado que o padrão brasileiro do agronegócio se diferencia
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
significativamente do norte-americano porque aqui, ao contrário do que se observa nos EUA,
não é muito comum que os silos e armazéns de grãos estejam instalados dentro das fazendas
produtoras. Isto se explica em razão de seu alto custo e difíceis condições de financiamento, o
que seria uma quase intransponível barreira, considerando a baixa renda da grande maioria dos
agricultores, e as vantagens oferecidas aos grandes produtores.
No caso brasileiro, a distribuição das unidades de armazenamento em escala local revela
uma estratégia de localização que privilegia tanto a proximidade com a área de produção como
a economia no transporte da matéria-prima para a unidade de processamento do agronegócio.
As áreas produtoras servidas por vias de circulação não são meros pontos de origem do esco-
amento da produção. A elas se vinculam fornecedores de insumos, armazéns e indústrias de
processamento como componentes de um sistema logístico estruturado em função da expan-
são da commodity, apoiada na segurança de uma grande penetração no mercado asiático.
Essa presença de grandes grupos esmagadores de grãos de soja começa com a instalação de
entrepostos de comercialização dos grãos para posterior translado rumo às fábricas do Sul e/ou
negociação no mercado internacional de commodities.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, criado após a Cons-
tituição de 1988, serviu de suporte para o desenvolvimento de projetos de armaze-
nagem, energia e transportes em áreas de fronteira agrícola, notadamente por inter-
médio de produtores reunidos em cooperativas ou associações, ou, ainda, em nível de
propriedade em projetos agropecuários integrados. Desde então os investimentos privados
passaram a ter primazia no apoio às redes de armazenagem de commodities como a soja.
A partir do início dos anos 1990 os recursos federais do BNDES foram responsáveis por aporte
significativo do montante destinado pela União ao suporte de investimentos privados do Cen-
tro-Oeste. Grande parte da trajetória de crescimento dos agronegócios da soja mato-grossense
graças ao apoio do Estado foi acionada pelo capital privado (diferentemente do observado nos
casos paranaense e goiano, onde houve presença importante de subsídios estatais por meio de
crédito rural e preços mínimos). Esse componente se fortalece ainda mais na segunda metade
da década de 1990, com a União passando a estimular diretamente a estocagem e o financia-
mento privados.
A ênfase dada ao quesito armazenagem na logística dos agronegócios da soja se explica
pelo valor estratégico da estocagem num mercado globalizado altamente competitivo, cuja
commodity passa por importante deslocamento espacial englobando número amplo e diver-
sificado de agentes (agricultores, cooperativas corretores e indústrias), e onde a manutenção
das características da homogeneidade dos produtos diante da sazonalidade da produção é
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
um traço distintivo fundamental. É por isso que a estruturação dos transportes multimodais é
outro componente fundamental, e a proximidade em relação aos portos das áreas de produção
e armazenagem é elemento territorial decisivo para a competitividade. “Last but no least”,
vale registrar que o sistema logístico é também, potencialmente, elemento central no combate
ao desperdício e na inclusão da população rural do entorno aos grandes eixos de escoamento
da produção, num complexo pautado pela intermodalidade do sistema de transportes e pelo
fortalecimento da infra-estrutura municipal.
Figura 5
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
2.1.3 Conexões globais
São dois os principais componentes logísticos físicos das conexões globais: a circulação marí-
tima/portos e as cidades.
Portos. Nas exportações brasileiras a primazia cabe à circulação marítima. Assim, os portos têm
papel estratégico como concentradores de apreciáveis volumes de carga e como pontos nodais
de todo o processo de exportação – 95% das exportações brasileiras são realizadas por portos
marítimos. A maioria, aliás, se não todos, identifica-se com as grandes metrópoles litorâneas do
país, usufruindo suas redes e equipamentos, e para elas gerando outras. Deste modo, os portos
são importantes centros de informação e plataformas logísticas, agregando agentes dos seto-
res público e privado. Um dos marcos nesta dinâmica é a utilização de cargas conteinerizadas,
que facilita enormemente a multimodalidade e amplia as opções de operações alfandegárias
(GOEBEL, 2003).
Os terminais portuários no Brasil foram concedidos à iniciativa privada, sendo patente a
drástica redução da gestão estatal nos portos. Entretanto, apesar de ter ocorrido uma melhora
na eficiência, os portos brasileiros ainda apresentam um custo de operação bastante superior
aos portos mais eficientes. Problemas persistem na gestão de mão-de-obra, na fraca informa-
tização do setor, em gargalos nos acessos e infra-estrutura de apoio, além de questões jurídi-
cas/regulatórias.
Para atender à crescente escala das operações, têm sido desenvolvidos os “hub ports”, isto
é, portos concentradores de carga para onde os contêineres de longo curso são transferidos e
reembarcados em embarcações menores que os transportam através do “feeder service” para
portos secundários, menos equipados e com menor profundidade. Os portos de Suape e Sepe-
tiba são os que possuem melhores condições naturais para assumir este papel, mas deficiências
na navegação de cabotagem e concorrência com os portos tradicionais cerceiam o desenvolvi-
mento dessa função concentradora.
Em relação ao transporte multimodal, fundamental para a eficiência logística no país, a
figura jurídica do Operador de Transporte Multimodal (OTM) só foi criada em 1998, e sua regu-
lamentação só foi concluída em 2004.3 Tudo indica que os OTMs devam se expandir rapidamente
nos próximos anos: em 2004 havia apenas 30 habilitados e, no início de 2006, já eram 177.
3 O OTM é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o desti-no, sendo responsável pelo transporte, serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas.
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Vale ainda destacar uma inovação: as Estações Aduaneiras do Interior (EAI) ou portos secos.
São recintos alfandegários alternativos, localizados fora das áreas portuárias, onde todos os
trâmites burocráticos para exportação ou importação são realizados para facilitar o processo.
A grande maioria dos portos secos se concentra em cidades interioranas do Sudeste e Sul.
Inserção na rede de cidades mundiais. Hoje, as firmas se interessam por todas as cidades,
porque as encaram como redes; os processos hierárquicos operam dentro das firmas e por meio
das conexões entre cidades e são, sobretudo, os serviços de alto valor agregado e os fluxos
financeiros multilocacionais que as encadeiam, revelando a mudança na estrutura produtora
de valor da manufatura para serviços de alto valor agregado (SASSEN, 1991; TAyLOR, 2004).
No contexto globalizado contemporâneo, analisando a rede bancária e outros serviços de
alto valor agregado em cidades brasileiras, destacam-se pelas suas conexões globais, em pri-
meiro lugar ,São Paulo, secundada pelo Rio de Janeiro; Porto Alegre e Curitiba aparecem como
portais alternativos (ROSSI, 2005). Cabe aprofundar a pesquisa neste campo.
Vasta literatura científica investiga a formação de cidades de âmbito global. As cidades
podem ser entendidas como nós logísticos, fundamentais para a viabilização de aspectos intan-
gíveis da logística, como seguros e serviços legais. Cabe observar que as grandes corporações
se apóiam tanto nas cidades mundializadas como nos serviços de alto valor agregado para
estruturar suas próprias redes logísticas.
2.2 Sistemas logísticos de corporações
Foram quatro os estudos de caso de sistemas logísticos de importantes empresas brasileiras:
a) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras): empresa estatal, com atividades integradas no setor de
energia no país e liderança absoluta (segundo dados da Revista Valor – ano 4, n. 4, 2005)
na receita bruta (R$ 150.403,2 milhões), em patrimônio líquido (R$ 64.533,8 milhões) e
em lucro líquido (17.860,8 milhões).
b) Companhia Vale do Rio Doce: empresa privada nacional, com sede no Rio de Janeiro, cuja
atividade principal é mineração. Segundo a mesma fonte, subiu em 2004 do nono para
o quarto lugar no ranking das empresas brasileiras, apresentando receita bruta de R$
29.020,0 milhões, patrimônio líquido de 20.200,6 milhões e lucro líquido de R$ 4.069,4
milhões.
c) Bunge Brasil S.A.: corporação privada internacional de origem holandesa com atividades
na agroindústria, alimentos e fertilizantes. Segundo a mesma fonte, caiu em 2004 do
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
11º para o 12º lugar no ranking das empresas brasileiras, apresentando receita bruta de
R$ 23.242,6 milhões, patrimônio líquido de 3504,4 milhões e lucro líquido de R$ 841,8
milhões.
d) Cargill Brasil: corporação privada com capital de origem nos EUA, voltada para a agroin-
dústria, alimentos e fertilizantes. Segundo a mesma fonte, subiu em 2004 para a 24ª
posição no ranking das empresas brasileiras, apresentando receita bruta de R$ 12.884,0
milhões, patrimônio líquido de 429,6 milhões e lucro líquido de R$ 1.644,8 milhões.
A leitura territorial da logística de quatro corporações comparada com a logística geral
informa que: i) a disposição dos meios logísticos no território revela o seu objetivo básico de
agilizar a exportação; ii) embora seguindo uma meta comum, as corporações são muito dife-
renciadas em termos do papel da logística no conjunto das suas atividades e do peso atribuído
aos diferentes componentes logísticos; e iii) a Petrobras, corporação estatal, é a que mais se
afasta da ênfase na exportação, apresentando produção diversificada e ampla cobertura do
território. São as tendências logísticas implantadas pelas corporações que se impõem hoje na
reconfiguração do território brasileiro.
2.2.1 Logísticas corporativas diferenciadas
A Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), ainda estatal, tem uma cadeia logística completa, que
incorpora todas as etapas de uma produção energética específica, da produção à distribuição
para consumo. O impacto territorial é grande, em razão da ampla cobertura de suas redes,
destacando-se:
a) territórios submarinos de exploração do petróleo, que consolida a soberania brasileira na
Zona Econômica Exclusiva. Integração continental resulta dos investimentos da empresa
na exploração do gás e petróleo na Argentina e na Bolívia;
b) densificação da faixa costeira, onde está localizado o maior número de poços, bem como
dos terminais e refinarias;
c) a capilaridade no território associada aos postos de distribuição de seus produtos, e à
distribuição de gás canalizado em parceria com firmas distribuidoras;
d) ainda assim, há grandes desigualdades no que se refere à distribuição e densidade das
redes:
• na metade norte do território, existe apenas a rede pioneira de Urucu/Coari no AM,
e vale registrar que nos Estados do AC, RO, PR e TO não há suprimento de gás cana-
1�1
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
lizado; no NE um conjunto de redes com terminais e gasodutos conecta apenas as
capitais litorâneas formando um colar, de Fortaleza a Salvador.
• na metade que se estende desde Vitória (ES) para o Sul, pelo contrário, as refinarias
e terminais avançam para o interior até Brasília/Goiânia, as redes de oleodutos e
gasodutos se estendem e se articulam, formando uma efetiva malha. O adensamento
desta malha é ainda ampliado pela produção de energias renováveis, particularmente
o álcool, de cujo escoamento a Petrobras participa ativamente; e
• o planejamento da empresa, aliás, está bastante pautado no gás e nas energias
renováveis. Pretende-se preencher o hiato costeiro entre Salvador e Vitória com
gasodutos e, por meio do projeto Gasene, ligar Fortaleza a Porto Alegre, formando
um eixo dutoviário oriental, costeiro; o adensamento da malha no Centro-Sul está
previsto de Brasília até Porto Alegre, passando por várias cidades de Mato Grosso, e
contando não só com gás como também com o álcool, compondo um eixo energé-
tico no centro do país. Finalmente, a corporação também participa do eixo ocidental
– com outras companhias – que se estende da Bolívia à Terra do Fogo, Argentina.
Como se vê, a Amazônia e o interior o Nordeste continuam à margem do planejamento.
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), importante estatal recentemente privatizada, é
a maior exploradora e exportadora mundial de minério de ferro e pelotas, detém importante
acervo ferroviário – E.F. Vitória–Minas – e é a maior frota de navegação de cabotagem no
país. Com a privatização diversificou suas atividades, sendo hoje a maior operadora de serviços
logísticos do país; a prestação de serviços logísticos tendo sido o segmento de maior cresci-
mento da CVRD, representando, em 2005, 11% de seu faturamento. Atua em três corredores: o
Centro–Leste, constituído pela Ferrovia Centro–Atlantica (FCA) e seu acervo, representado pela
Vitória–Minas, compõe o mais importante corredor; o corredor Norte, constituído pela Ferrovia
Carajás e pelo terminal da Ponta da Madeira , sendo que, pela operação do trecho inicial da
Ferrovia Norte–Sul, que vai de Carajás a Porto Franco (MA) pretende estender-se até Anápolis;
e o corredor Centro-Oeste, formado pela FCA até Brasília–Goiania–Anápolis e por um ramo da
Ferroban que opera nos limites de Minas e São Paulo.
Características identificadas quanto à ação da CVRD são:
a) a busca de intermodalidade, mediante a implantação de terminais intermodais, especia-
lizados e alfandegados;
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
b) dinamização de portos marítimos, com destaque para Vila Velha e o complexo Portuário
de Tubarão (Vitória, ES) e Ponta da Madeira;
c) controle de posição-chave na circulação representada pelo Porto Seco de Uberlândia,
entroncamento ferro/rodoviário e sua conexão com o Terminal Multimodal de contêine-
res de Camaçari (BA);
d) implantação do Trem Expresso Personalizado, de São Paulo para Salvador, exportando
peças de automóveis para a Ford e fortalecendo as relações com o Centro-Oeste e com
os portos marítimos ao passar pelo Porto Seco do Cerrado (Uberlândia); e
e) a logística da CVRD conforma um conjunto de redes, terminais e corredores de exporta-
ção, não interiorizando agregação de valor à produção, à exceção da área servida pela
Vitória–Minas. Contudo, vale registrar a importância do Complexo Portuário de Tubarão e
da formação dos pólos energético de Salvador e minero-metalúrgico de Belém/São Luiz.
As agroindústrias – Bunge e Cargill – atuam em grande extensão do território por meio
de redes de armazenagem, unidade de esmagamento e terminais de transbordo e portuários.
Não compõem malhas, e não investem em ativos imóveis: não compram terra, terceirizando a
produção pelo financiamento de sementes e insumos ao produtor; e tampouco investem em
vias de circulação, utilizando para transporte os serviços de concessionárias de ferrovias e de
empresas logísticas. A Cargill é, também, uma poderosa trading.
3. Tendências de nova configuração do território – estratégias possíveis para uma outra logística
Varias tendências podem ser identificadas a partir da análise efetuada.
3.1 Litoralização e retorno aos dois Brasis
A logística do território brasileiro, hoje fortemente implementada pelas corporações e orien-
tada para a exportação, está gerando uma reconfiguração territorial e tende a suprimir a dife-
renciação que ainda permanece no imaginário da sociedade e do governo. Hoje, o território
nacional se alargou e é clara a diferenciação entre litoral e interior e entre as porções Sul e
Norte do país.
1�3
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
Em que pese a diferenciação da logística das corporações, destacando-se a importância da
Petrobras na cobertura do território e conexões externas, enquanto a CVRD se caracteriza pela
presença de corredores, e as agroindústrias pela ocupação extensiva do território, as tendências
resultantes são claras:
a) Revigoramento da faixa costeira. Vários processos influem na concentração das ati-
vidades no litoral. A maior parte da produção da Petrobras vem de poços marítimos,
mas as refinaria e os terminais se localizam predominantemente na faixa costeira.
As concessionárias de ferrovias geram corredores de transporte e amplas hinterlandias
que deságuam nos portos cujo aparelhamento se intensifica, ampliando as metrópoles
costeiras. No SE esboça-se um cluster de portos com interiorização significativa, e no NE
um colar metropolitano entre o Ceará e a Bahia; um grande hiato costeiro separa os dois
adensamentos, pretendendo-se preenchê-lo com gasodutos.
b) Alargamento do território nacional. Decorre das atividades off shore desenvolvidas no
país pela Petrobras em parceria com a pesquisa universitária. Os blocos de explorações
hoje compartilhados com corporações internacionais constituem verdadeiros “territórios
submarinos”, assegurando a soberania brasileira sobre a Zona Contígua. Representa a
incorporação de milhares de quilômetros quadrados, razão pela qual muitos apelidam
essa incorporação de “Amazônia Azul”.
c) Desigual Integração do território. A expansão da circulação e dos serviços para o inte-
rior é reduzida e se refere aos mais elementares. Vale registrar que interiorização maior
de redes só ocorre com os serviços públicos governamentais de saúde e educação graças
à política de descentralização. Mas são os serviços mais freqüentes, simples e baratos; os
mais raros, complexos e caros permanecem nas capitais estaduais, em sua maioria litorâ-
neas. Um componente importante de integração é a grande capilaridade das redes de pos-
tos de distribuição próprios e franqueados da Petrobras, de óleo e derivados, bem como de
gás natural canalizado em parceria com diversas companhias distribuidoras. Redes de tele-
comunicações têm alcance significativo, mas seletivo, e não foram objeto deste estudo.
Destaca-se o papel das cidades na interiorização e organização do território.
Diferencia-se, assim, a porção Centro-Sul do país, onde efetiva malha logística altera a
textura do território, e novas fronteiras demográficas e econômicas despontam em torno
de cidades-chave da exploração submarina (como Macaé no norte fluminense). A des-
tinação dos royalties captados por municípios litorâneos torna-se uma questão-chave
para os cenários futuros do ordenamento territorial. Esta “core area” que tem como
núcleo São Paulo, envolvendo também Campinas, estende-se até Florianópolis, no Sul;
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Campos a Leste; e Uberlândia ao Norte. Deste núcleo estendem-se conexões com Porto
Alegre, Vitória, Belo Horizonte, e com Goiânia–Brasília, últimos baluartes da logística em
direção ao norte do país, onde apenas redes pioneiras alcançam Manaus, Belém, São Luiz
e, hoje, também, Santarém. Dele partem, ainda, as conexões com a América do Sul.
O mapa das redes de energia ressalta a marginalização da Amazônia, que conta apenas
com redes pioneiras, e do Nordeste, que conta só com um conjunto de redes antigas
servindo apenas as capitais litorâneas.
Três importantes conexões por gasoduto estão em fase de implantação, fortalecendo
a rede litorânea das capitais nordestinas, a rede pioneira da Amazônia e a malha do
Sudeste, são elas: no Nordeste, Maceió–Fortaleza–Mossoró; no Leste, Salvador–Vitória;
no Norte, Coari–Manaus e Urucu–Porto Velho; e no Sudeste, Campinas–Vale do Para-
íba–Uberlândia. Esses projetos, contudo, não alteram no fundamental as tendências
apontadas.
d) Interrupção da embrionária integração sul-americana? O padrão concentrado das
redes na porção Centro-Sul do Brasil se reproduz no processo de integração continental,
onde as atividades de exploração, refino e transporte da Petrobras situadas na Bolívia e
na Argentina configuram o embrião de uma nova malha, a qual concretiza esforços de
integração continental bem mais efetivamente do que a retórica das declarações políti-
cas, e cuja construção, contudo, foi interrompida pela nacionalização do petróleo e do
gás pela Bolívia (maio de 2006).
A integração energética do Brasil e da América do Sul é fundamental para o seu desen-
volvimento. Estudos estão em andamento na Petrobras para construção de uma rede
brasileira de transporte de gás natural que promova a integração territorial pelo projeto
Gasene. Caso esses gasodutos venham a ser construídos, poderia ser vislumbrado um
cenário com três grandes eixos dutoviários paralelos na América do Sul: i) o oriental
costeiro, de Porto Alegre a São Luis/Teresina; ii) o central, de Brasília a Porto Alegre/Uru-
guaiana; e iii) o ocidental – em parte já existente – da Bolívia à Terra do Fogo, onde a
Petrobras coexiste com outras companhias.
Os acontecimentos políticos na Bolívia sustam o avanço dessa integração e constituem
um forte abalo para a Petrobras e, portanto, para o Brasil, na medida em que esta
empresa estatal por seu elevado desempenho, é um dos esteios básicos do desenvolvi-
mento brasileiro.
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
3.2 Desafios das desigualdades territoriais: estratégias possíveis
Conclusões da análise permitem identificar desafios significativos a ser enfrentados e explorar
algumas estratégias visando compatibilizar a inserção competitiva com a inclusão social, ques-
tão maior colocada no início do trabalho.
Entre as conclusões conceituais, é possível não só afirmar a hipótese de que a logística é
um dos principais vetores de reestruturação do território, como ir além em duas proposições.
Primeiro, ao reduzir custos e tempos de circulação a logística agrega valor aos produtos, ela
mesma se transformando num serviço de alto valor agregado, que são os que diferenciam
o espaço geográfico no mundo contemporâneo. Segundo, ela não se resume à ossatura do
território. Os territórios cobertos por malhas logísticas têm espessura socioeconômica, densi-
dade, com natureza muito diferente daqueles apenas servidos por conjunto de redes ou redes
pioneiras, onde as condições naturais têm peso mais significativo. Essa diferenciação tem
necessariamente que ser levada em conta no tratamento das desigualdades regionais.
Na prática, inovações importantes da iniciativa privada no campo da logística estão em
curso, tais como:
• direcionamento para a intermodalidade;
• modernização de equipamentos – veículos; terminais de contêineres em portos maríti-
mos – onde a gestão governamental foi radicalmente reduzida – dinamizando, sobre-
tudo, portos novos como Suape, Pecem e Sepetiba; criação de portos secos alfandega-
dos no interior do Centro-Sul (e nas fronteiras políticas) que reduzem as distâncias das
áreas produtoras aos portos marítimos, simplificando a burocracia e interiorizando as
conexões globais. Destaque merece Uberlândia, o Porto Seco do Cerrado da CVRD, com
posição estratégica;
• implementação de poderosa rede de armazenagem empresarial; e
• serviços de alto valor agregado – bancários, jurídicos, de marketing etc. – conectam
cidades brasileiras com a rede de cidades mundiais, tornando-as nós operacionais de
inserção do Brasil na globalização. Merece destaque o trem personalizado de CVRD.
No entanto, tais inovações não desenvolveram sistemas eficazes, sendo poucas as malhas
existentes. A rede rodoviária continua deficiente em 74%; a concessão das ferrovias não as
expandiu em extensão – mantêm-se em 30.000 km desde 1970; os rios não são aproveitados; e
a aviação registra crise em empresas tradicionais e retrocesso na circulação.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Em outras palavras, os investimentos privados se fazem sobre a ossatura já existente implan-
tada pelo Estado, nelas promovendo melhoria operacional e não a sua ampliação. Significativo
é o fato de o Estado estar retomando investimentos na ampliação da malha rodoviária, para
então concedê-las à iniciativa privada.
Nesse contexto, vários desafios se colocam, e são a seguir assinalados.
1o) Qual o espaço de manobra disponível ao Estado para planejar diante do poder das
corporações e do processo de globalização?
É o Estado que realiza investimentos vultosos e de longa maturação, tais como grandes pro-
jetos estruturantes, que a sociedade não pode pagar de forma direta e o setor privado não tem
interesse em assumir. Realiza também investimentos de interesse social, ambiental e regional,
igualmente desinteressantes ao setor privado.
O papel do Estado é, pois, fundamental para a integração e a coesão nacional, pelo menos
em dois campos extremos:
Campo estratégico econômico: energia. Avanços significativos ocorreram nas redes de
energia – com destaque para o gás e energias renováveis – que conformam uma efetiva malha
no SE do país, sustentada sobretudo por investimentos de empresas estatais: a Petrobras, que
responde por 80 % do investimento em petróleo e gás, e a Eletrobrás que em grande parte res-
ponde, com suas subsidiárias, à necessidade de implantação de usinas. A manutenção e fortale-
cimento desse campo estratégico pelo Estado são cruciais para o desenvolvimento da Nação.
Campo estratégico social: “energia humana”. A expansão de serviços básicos para a popula-
ção é função precípua do Estado, que já a vem efetuando, mas de modo incompleto e a duras
penas. Trata-se da saúde, educação, segurança e informação, enfim, componentes cruciais para
o avanço da sociedade brasileira em termos físicos, culturais e científicos; e também de desen-
volvimento e consolidação do mercado interno. Cabe destacar que C/T&I é um dos espaços
próprios do Estado, reforçando a importância que a ela cabe na compatibilização da inclusão
social com a inserção competitiva.
2o) Como coordenar o processo de descentralização?
Problemas enfrentados pela extensão desses serviços são o que apresenta o Serviço Único
de Saúde (SUS). Em sua estratégia de descentralização, utilizaram-se dois critérios: os serviços
básicos nos municípios, que são muito onerosos em razão da distância e do custo do transporte;
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
e os serviços mais raros e caros em nível das macro-regiões muito extensas e cujas capitais
situam-se na faixa costeira, o que inviabiliza o seu uso pela maioria da população.
O próprio SUS reconhece a necessidade de algum nível de coordenação nos processos des-
centralizadores.
Uma estratégia possível, considerando que o processo de descentralização foi excessivo,
seria localizar os serviços, inclusive os mais raros, também em sub-regiões (meso), evitando a
pulverização e o custo excessivo da acessibilidade.
3o) É de interesse redimensionar a matriz do transporte em favor da ferrovia?
As ferrovias, completamente sucateadas, foram redescoberta no Brasil com as concessões
em 1997. Sabe-se que esta circulação é mais econômica e menos poluente do que a circulação
automóvel. Ademais, como foi mencionado anteriormente, as concessionárias agilizam as car-
gas das áreas produtoras para os portos.
No entanto, a questão não é tão simples, pois que a orientação praticamente exclusiva
para a exportação mantém o padrão histórico da “bacia urbana” – uma área ligada a um porto
– embora em extensões muito maiores e com um aparato mais numeroso de terminais e arma-
zenagem. Na disputa pelo transporte de cargas as concessionárias estendem redes pelo interior
criando extensos hinterlands que constituem verdadeiros territórios logísticos corporativados
de escoamento. Em alguns lugares há claros predomínios caso da ALL (América Logística do
Brasil S.A.), com 7.200 km de extensão servindo ao sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul; da Estrada de Ferro Carajás com 892 km de extensão servindo a Carajás/São
Luís no Pará e Maranhão; e da Companhia Ferroviária do Nordeste, com 4.238 km de extensão
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas). Mas nas porções
leste, sudeste e centro-oeste há disputa entre concessionárias. A CVRD domina grandes corre-
dores no leste do país, mas não consegue ser hegemônica no hinterland dos portos do Rio de
Janeiro e Santos.
Ademais, as concessionárias são beneficiadas por vultosos empréstimos do BNDES e de Fun-
dos específicos a juros baixíssimos (1 % a 3 % + TJLP).
Apesar de esdrúxula, a parceria parece necessária. Porém, é necessário que o Estado faça
uma regulação mais firme e equânime, em termos de exigir um pouco mais das concessionárias
em recursos, extensão das linhas, e, sobretudo, que atentem também para o transporte de pas-
sageiros e para a intermodalidade com vicinais, rios, enfim, meios que permitem a circulação
do povo.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
4o) Onde fica a segurança alimentar na poderosa rede de armazenagem empresarial
implantada para a exportação?
À expansão da rede empresarial de armazenagem, incentivada por um fundo específico,
corresponde o declínio da rede armazéns e entrepostos governamentais. Há, portanto, um forte
desequilíbrio no setor, em razão da ausência de medidas para estoques de alimentos que são
produzidos e nutrem as populações de baixa renda. Aliás, vale lembrar que a questão não se
resume à área rural – deve-se mencionar a massa de população pobre que vive nas cidades
brasileiras.
Articulando a questão da armazenagem com a anterior da locomoção, é lícito chamar a
atenção para a necessidade de se implantar uma “logística do pequeno”. Se produtores fami-
liares não podem competir nos mercados globais, que possam exercer a função crucial de sua
sustentação e a da sociedade.
5o) Ampliar o mercado interno: condição para o desenvolvimento
Se as exportações são essenciais ao país, a negligência quanto ao mercado interno e à inclu-
são social cria um círculo vicioso: não há interesse em estender redes onde não há consumo, e
o consumo não cresce em grande parte pela inacessibilidade às redes.
Aí reside o nó da regulação do Estado: compatibilizar crescimento econômico e inclusão
social com malhas que atendam à população. Há mais ordem no território do que se supõe, mas
uma ordem unilateral e, afinal, a inclusão social é a energia que sustenta o desenvolvimento.
6o) Que geopolítica será possível?
1. Assegurar que o Estado permaneça com o controle das empresas de energia e com o
poder sobre a C/T&I a fim de impulsioná-la vigorosamente de acordo com uma agenda
estabelecida segundo interesses nacionais.
2. Transformar as parcerias público-privadas e as concessões em efetivas parcerias mediante
uma regulação mais atuante que supere o laissez-faire logístico, estabelecendo priori-
zação de outra natureza. A diversidade de interesses numa economia fragmentada em
segmentos especializados, suscitando a criação de novas agências no futuro próximo,
coloca o grande desafio quanto à capacidade do Estado Central em promover o controle
possível sobre suas diversas agências, visando a uma ação mais equânime sobre a socie-
dade e seu território.
1��
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
3. Implementar o papel fundamental do território, ressaltando pelo menos três aspectos:
a) escala/densidade mínimas para sustentar as atividades da população, superando a
descentralização excessiva, a pulverização de recursos e a má qualidade dos serviços
e atividades;
b) “logística do pequeno”, associada às escalas/densidades mínimas e à acessibilidade;
e
c) implementação de novos recortes sub-regionais devidamente comandados por cida-
des que são o lugar de convergência das redes, relays das relações regionais e alter-
nativas de trabalho para os migrantes de um campo que se moderniza.
4. Repensar o problema das desigualdades regionais em termos de tecitura do espaço, con-
texto em que ressalta a questão Amazônica. A tecitura, densidade socioeconômica, é
fabricada em grande parte pelas malhas de redes entremeadas. No caso da Amazônia,
coloca-se o desafio da construção de redes e malhas necessárias ao seu desenvolvimento
– tanto à inclusão social quanto à inserção competitiva – utilizando sem destruir o seu
imenso potencial natural.
Tem-se chamado continuamente a atenção para a importância da C/T&I no enfrentamento
desse desafio. Um tipo diverso de malha é exigido para a região. Ao que tudo indica, alta
tecnologia é necessária para malhas constituídas de redes de energia, de informação, fluviais,
aéreas. Talvez pequenos trechos de ferrovias possam ser pensados na medida em que, como se
sabe, o crescimento econômico induzido pela ferrovia se concentra na origem e no destino, sem
grandes impactos ao longo do seu percurso, ao contrário da rodovia, que provoca migração e
desmatamento em seu entorno. O que tem sido considerado na economia espacial como des-
vantagem para o desenvolvimento regional, na Amazônia pode se uma vantagem.
O mais importante, contudo, é pensar a intermodalidade da circulação, conectando rios
principais e afluentes como vicinais, rotas aéreas (talvez ferrovias), redes de energia e informa-
ção em articulação com os núcleos urbanos, construindo tecituras em locais estratégicos, uma
vez que a Amazônia não pode ser povoada extensivamente e, com já se disse, é uma floresta
urbanizada, tendo 70% de sua população vivendo em núcleos urbanos, condição que deve ser
maximizada.
Essas são algumas das questões que se colocam para um planejamento ou ordenamento a
ser realizado pela geopolítica de um Projeto Nacional de um Estado Democrático de Direito.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Referências
BARROSO, L. R. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito
Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, fev./mar./-abr. 2005. Dispo-
nível em:<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 18 dez. 2005.
BECKER, B. K. A geografia e o resgate da geopolítica. Revista Brasileira de Geografia, Ano 50, v. 2, Rio
de Janeiro, IBGE, 1988.
_______. Geografia política e gestão do território no limiar do século XXI: uma representação a partir do
Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 53, n. 3, Rio de Janeiro, IBGE, 1993a.
_______. Logística: uma nova racionalidade no ordenamento do território? In: Anais do 3o Simpósio
Nacional de Geografia Urbana. Rio de Janeiro: AGB/Departamento de Geografia da UFRJ, 1993b.
_______. Reflexões sobre políticas de integração nacional e desenvolvimento regional. Brasília: Ministé-
rio da Integração Nacional, 2000
_______. Amazônia no início do século XXI, a geopolítica do poder. Revista da UnB, Ano I, n. 2, Brasília,
2001.
_______. Reflexões sobre geopolítica e logística da soja na Amazônia. Seminário sobre a geopolítica da
soja. Belém: Embrapa/Museu Goeldi/Amigos da Terra, 2002 (no prelo).
_______. Ciência, tecnologia e informação para conhecimento e uso do patrimônio natural da Amazô-
nia. Parcerias Estratégicas n. 20, Parte 2, 2005.
BECKER. B. K. et al. Subsídios para a elaboração de uma política nacional de ordenamento do território.
Brasília: MI/Relatório CDS, 2006.
CASTELLS, M. Techonogical change, economic restructuring and the spatial division of labour. In: VIENA,
S. W. (Org.). International division of labour and regional development. IGU/UNIDO/IIR, 1985.
_______. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
FIGUEIREDO, A. H. Contexto histórico e novo marco regulatório da dinâmica territorial brasileira. 2006.
(mimeo).
1�1
Logística e nova configuração do território brasileiro:que geopolítica será possível?
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
GOEBEL, D. A competitividade externa e a logística doméstica. Curso de Especialização em Comércio
Exterior da UFRJ. Rio de Janeiro, 2003.
IPEA/IBGE/UNICAMP. Configuração atual e tendências da rede urbana, v. 1, Ipea/IBGE/Unicamp, 2002.
LEFEBVRE, H. De l’ état. Paris: Union Génerale, 1978.
ROSSI, E. C. Mundialização das cidades brasileiras. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) Rio de
Janeiro: COPPE/ UFRJ, 2005.
SASSEN, S. The Global City. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991.
TAyLOR, P. J. World city network – a global urban analysis. London: Routledge, 2004.
VIRILIO, P. Guerra pura. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1984.
1�3
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no BrasilPaulo R. Haddad
Ciclos de expansão edesequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
1. Desequilíbrios regionais na economia brasileira
A distribuição espacial das atividades econômicas, nos dois ciclos de expansão da eco-
nomia brasileira no pós-Guerra, permite definir uma periodização que mostra três
diferentes momentos. O período de concentração econômica espacial, que ocorre de 1950 a
1975. O período de desconcentração econômica espacial, que vai da segunda metade dos anos
1970 até a primeira metade dos anos 1980 (1976-1986). E, finalmente, o período que vai de
1986 até o início do século XXI, de relativo equilíbrio na participação das economias regionais
no Produto Interno Bruto, indicando o esgotamento ou a desaceleração do processo de des-
concentração. Portanto, o Brasil está, atualmente, num ponto da Curva de Williamson em que
o processo de desconcentração espacial do crescimento econômico nacional, iniciado nos anos
1970, tende a se estabilizar (ver figura 1).1
1 O padrão locacional das atividades econômicas poderá ser dominado por forças dispersivas (distribuição espacial de insumos transferíveis, competição por insumos locais escassos etc.) ou por forças de coesão aglomerativas (distribuição espacial de mer-cados, economias e urbanização, economias internas de escala etc.); ver FUJITA, M. e THISSE, J. F. Economics of Agglomerations – Cities, Industrial Location and Regional Growth. Cambridge, 2002.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Figura 1– Curva de Williamson
A Curva de Williamson identifica o grau de disparidades regionais de desenvolvimento pelo
índice de Vw, um coeficiente estatístico de variação que mede as diferenças do PIB per capita
de cada estado em relação ao PIB per capita do país, ponderadas pelas respectivas participações
relativas no total da população brasileira. O seu valor varia de 0,0 (perfeita igualdade regional)
a 1,0 (perfeita desigualdade inter-regional). A dimensão histórica de cada fase da curva varia
de país para país e de região para região. No caso brasileiro, a reflexão mais importante em
torno da configuração desta curva (que se assemelha à curva de Kuznets para medir a evolução
as desigualdades sociais na distribuição de renda) está na análise prospectiva sobre a sua ten-
dência nos novos ciclos de expansão.2
Os principais fatores determinantes da reversão da polarização no Brasil foram:
• aumento progressivo dos custos de concentração, associados às deseconomias de aglo-
meração, especialmente na área metropolitana de São Paulo; houve elevação dos preços
relativos das terras, dos aluguéis e dos salários; crescimento dos custos de congestiona-
mento e de infra-estrutura, além da crescente pressão sindical e da legislação ambiental
mais rigorosa;
• avanço da infra-estrutura econômica e social em direção a outros estados e regiões,
principalmente por causa dos maciços investimentos em infra-estrutura de transporte
inter-regional;
2 Adaptado a partir do artigo de J. Williamson, Economic Development and Cultural Change, v. 13, - , 3-84.
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
• políticas públicas e incentivos fiscais regionais; nesse caso, destaca-se a grande impor-
tância do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) para a desconcentração das ati-
vidades produtivas, na medida em que as demais regiões, com exceção do Sudeste, pas-
saram a ser o principal destino da maior parte dos novos investimentos, inclusive dos
investimentos diretos realizados pelas empresas estatais federais;
• ampliação das fronteiras agrícola e mineral, beneficiada pelas condições de acessibili-
dade às áreas de grandes potencialidades de recursos naturais das macrorregiões Centro-
Oeste e Norte;3 e
• unificação do mercado, que veio ampliar o movimento da concorrência interempresarial
para a ocupação do mercado nacional; entre outros.
Os novos ciclos de expansão da economia brasileira levarão o país, ao longo do século XXI,
para um definitivo processo de reversão da polarização (segmento C da Curva de Williamson)
ou tendem a reforçar a reconcentração dos frutos do crescimento (segmento B)?
É de se esperar que os novos ciclos de expansão da economia brasileira, durante o século
XXI, sejam intensivos em Ciência e Tecnologia na geração de diferentes produtos, processos e
técnicas de gestão que irão compor a formação do Produto Nacional de uma economia cada
vez mais exposta à competição externa. Estudos comparativos internacionais sobre os novos
padrões de localização dos projetos de investimentos, semelhantes aos que irão dar sustenta-
ção a estes ciclos de expansão, identificam que as vantagens relativas das regiões para atraí-los
dependerão, relativamente, cada vez menos da disponibilidade de recursos naturais ou de mão-
de-obra não qualificada em abundância (fatores locacionais tradicionais) e cada vez mais da
existência, na região, de trabalhadores qualificados em permanente processo de renovação de
conhecimentos, centros de pesquisa, recursos humanos especializados, ambiente cultural etc.
(fatores locacionais não-tradicionais ou especializados). Dada a atual geografia de distribuição
espacial desses fatores não-tradicionais entre as regiões brasileiras, há fortes sinalizações de
que, nos novos ciclos de expansão, poderá ocorrer uma reconcentração espacial dos seus bene-
fícios no Sul e no Sudeste do país.
3 Há muitas ações que uma região pode implementar para tornar-se mais competitiva na atração de atividades econômicas. Mas existem diversas características da natureza e da sua posição dentro da nação que são inalteráveis, de tal forma que uma avalia-ção realista das vantagens e desvantagens relativas de uma região, em termos de potencial de crescimento, pode se iniciar com a indicação do seu grau de “acesso” a insumos e mercados. Quando se utiliza o termo “acesso” no sentido de representar a soma das vantagens e desvantagens relativas para a produção de determinada mercadoria em algum local, tem-se em mente não apenas os obstáculos (custos) impostos à região pela distância, para reunir insumos e distribuir a produção; a questão dos custos relativos é crítica; uma oportunidade favorável em algum local pode não ser explorada em razão da existência de uma melhor oportunidade em outro local. Portanto, a incorporação das noções de custos de oportunidade e de concorrência é importante para a melhor compreensão do conceito de “acesso”. Ver DODDS, V. e PERLOFF, H. How a Region Grows, CED). HOOVER, E. M. e GIARRATANI – An Introduction to Regional Economics, RRI/WVU, 1999. ISARD, W. Methods of Interregional and Regional Analysis, Ashgate, 1998.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Como os fatores locacionais não-tradicionais são do tipo man-made, podendo ser reprodu-
zidos em quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento do
desenvolvimento, amplia-se o grau de liberdade de que se dispõe para realizar políticas inter-
regionais de natureza compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos
nas áreas menos desenvolvidas do país, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica. Uma
possibilidade concreta, para evitar um eventual processo de reconcentração espacial dos frutos
dos novos ciclos de expansão da economia brasileira no século XXI, será a implementação dos
programas e projetos estruturantes dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (em sua versão atualizada), articulados com os arranjos produ-
tivos locais nas suas áreas de influência. Para cada um desses Eixos está definido um portfólio
de investimentos de infra-estrutura econômica e social, onde indubitavelmente se destacam
aqueles vinculados com a sua logística de transporte.
É importante, para atrair as empresas para as áreas menos desenvolvidas do país, que
nelas se encontrem: uma massa crítica de fornecedores locais de componentes e de serviços
terciários e quaternários que contribuam significativamente para a melhoria dos produtos e
da eficiência dos processos de produção. É fundamental que as empresas localizadas nessas
áreas possam receber fluxos atualizados de informações especializadas sobre tecnologia e
características dos clientes, bem como se inter-relacionarem com outros participantes do
desenvolvimento local.
Finalmente, vale a pena destacar as conclusões gerais de Michael Porter sobre a competi-
tividade sistêmica de um país ou de uma região: i) a competitividade não pode ser vista como
um fenômeno macroeconômico, impulsionado por variáveis como taxas de câmbio, taxas de
juros e déficits governamentais; ii) a competitividade não é função de mão-de-obra barata ou
de recursos naturais abundantes; iii) as empresas de uma região ou de um país não terão êxito
se não basearem suas estratégias no progresso e na inovação, numa disposição de competir, no
conhecimento realista de seu ambiente nacional/regional/local e de como melhorá-lo; iv) as
empresas bem-sucedidas concentram-se, com freqüência, em determinadas cidades, aglomera-
dos urbanos ou estados dentro do país; e v) o processo de globalização das economias nacionais
não exclui a importância de localidades que proporcionam um ambiente fértil para as empresas
de indústrias específicas.
É preciso considerar, também, como podem se distribuir os impactos benéficos das
atividades de alta tecnologia e indagar se a difusão espacial destas atividades nos subsistemas
regionais do país irá contribuir de maneira positiva ou negativa para o processo de reversão
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
da polarização.4 Em primeiro lugar, pode-se classificar as inovações tecnológicas nos sistemas
produtivos regionais em duas categorias:
a) inovações incrementais — consistem nas melhorias sucessivas e graduais a que são sub-
metidos os produtos e processos; sustentam o incremento geral da produtividade dos
sistemas produtivos instalados e determinam a modificação gradual dos coeficientes
técnicos da matriz de insumo-produto, mas não transformam a sua estrutura;
b) inovações radicais ou reestruturantes — consistem na introdução de um produto ou de
um processo verdadeiramente novo; tendem a transformar as estruturas dos sistemas
produtivos instalados, por meio de alterações nos coeficientes técnicos e na própria
matriz de insumo-produto, pela agregação de novas linhas e colunas.
Por outro lado, é preciso caracterizar os estágios de desenvolvimento e de inter-relação das
regiões de um país:
a) relações de comércio inter-regional verticalmente integradas — áreas periféricas ou
menos desenvolvidas se especializam na produção de alimentos, matérias-primas e
manufaturados de primeiro processamento, enquanto dependem das áreas centrais ou
mais desenvolvidas para o abastecimento de bens finais de consumo ou de investimento;
e
b) relações de comércio inter-regional horizontalmente integradas – tanto as áreas cen-
trais como as periféricas se especializam na produção de certos grupos diferenciados de
produtos (alimentos, matérias-primas, semi-acabados e bens finais), de tal forma que
cada uma das regiões tem uma base econômica diversificada, mantendo elevado grau de
interdependência econômica (e não de dependência, como na situação anterior).
Considerando apenas o conjunto dessas duas categorias para fins de análise do problema, já
há condições de perceber a complexidade de situações passíveis de encontrar em casos especí-
ficos. Alguns comentários podem ser feitos sobre os resultados apresentados no quadro 1:
a) todas as situações relevantes das inovações incrementais ou reestruturantes dentro do
modelo de dependência inter-regional (I, IV, VII e X) podem reforçar o fenômeno da pola-
rização, até mesmo quando os aumentos de produtividade ocorrem em setores das áreas
periféricas, se prevalecerem as relações de intercâmbio desigual típicos dessas situações;
4 HADDAD, P. R. “Padrões Locacionais das Atividades de Alta Tecnologia: A Questão dos Desequilíbrios Regionais de Desenvolvimento Reexaminada”. Revista Econômica do Nordeste, v. 21, n. 2. PÉREZ, C. “Las Nuevas Tecnologias: Una Visión de Conjunto” In Ominami, C. La Tercera Revolución Industrial, Grupo Editorial Latino – Americano, 1986. HILHORST, J. G. M. Regional Planning: A Systems Approach, Rotterdam University Press. FREEMAN, C. e SOETE, L. The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, 1999.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
b) nas quatro situações de inovações incrementais, dentro do modelo de interdependência
inter-regional (II, III, V e VI), o resultado pende a favor de qualquer das áreas nas quais
a intensidade relativa da difusão espacial tenha sido maior, podendo ou não ocorrer
reversão da polarização; e
c) nas situações de inovações reestruturantes dentro do modelo de interdependência (VIII,
IX, XI, XII), pode-se pensar, em princípio, que as áreas beneficiadas serão aquelas nas
quais a difusão espacial ocorre com maior intensidade relativa; entretanto, como inova-
ções deste tipo são, por definição, uma ruptura dentro dos processos e dos produtos dos
sistemas produtivos prevalecentes (capazes de iniciar um novo rumo tecnológico e, até
mesmo, de dar nascimento a toda uma indústria ou a ramos de outra indústria existente
com novas relações de comércio inter-regional), a conclusão tem que ser relativizada
para se levarem em consideração aspectos relevantes e específicos das organizações dos
subsistemas produtivos e das estruturas dos mercados, nos quais se processam as rela-
ções inter-regionais de intercâmbio e de concorrência.
QUADRO 1Efeitos regionalizados da difusão espacial das atividades de alta tecnologia
Tipos de
inovações
tecnológicas das
atividades
Onde ocorre
a difusão das
inovações com
maior intensidade
relativa
Relações de comércio interregional
Verticalmente integradas
(dependência)
Horizontalmente integradas
(interdependência)
Alimentos,
matérias-primas,
semi-acabados
Bens finais de
consumo e de
investimento
Alimentos,
matérias-
primas, semi-
acabados
Bens finais
de consumo
e de investi-
mento
IncrementaisÁreas centrais Não relevante I II III
Áreas periféricas IV Não relevante V VI
ReestruturantesÁreas centrais Não relevante VII VIII IX
Áreas periféricas X Não relevante XI XII
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
2. Perspectivas da reversão da polarização
A preocupação com a posição relativa das áreas menos desenvolvidas ou economicamente
deprimidas, no cenário macrorregional do país, deve-se aos padrões locacionais concentradores
nos novos ciclos de expansão da economia brasileira:5
• dada a recalcitrante crise de endividamento externo do Brasil, a promoção de exporta-
ções de manufaturados torna-se um instrumento de política econômica de alta priori-
dade; para garantir a competitividade dessas exportações, será necessário reforçar seus
processos produtivos em termos de atividades intensivas de Ciência e Tecnologia (micro-
eletrônica, computação eletrônica etc.), as quais serão atraídas por economias de regio-
nalização junto aos seus clientes potenciais nas áreas mais industrializadas do país, onde
é gerada a parcela maior das exportações de industrializados; o papel das áreas menos
desenvolvidas tende a se restringir às exportações de produtos com menor densidade
econômica ou menor valor agregado, uma vez que as economias dessas áreas se baseiam
em vantagens comparativas e não em vantagens competitivas;
• tendo em vista a grave crise fiscal e financeira do poder público brasileiro, dificilmente
poderá ocorrer um indispensável e significativo apoio de políticas governamentais às
áreas periféricas, em termos de investimentos de infra-estrutura econômica e social e
de incentivos adicionais, visando inverter tendências espacialmente concentracionistas
dos padrões locacionais, como ocorreu nos anos 1970 e início dos anos 1980, com maior
crescimento das áreas menos desenvolvidas do país;
• muitas das novas atividades de alta tecnologia (química fina e novos materiais, por
exemplo), por terem características de produção conjunta (com a indústria farmacêutica
e a metalurgia), são atraídas para onde o grosso do parque industrial já se concentra
espacialmente;
• embora tenham características históricas e estruturais diferentes, as regiões de países
emergentes como o Brasil não podem deixar de observar que ali a geografia das indús-
trias e setores de alta tecnologia tem demonstrado uma concentração persistente em
algumas poucas áreas, com pequena intensidade de dispersão;
5 DINIZ, C. C. Competitividade Industrial e Desenvolvimento Regional no Brasil. MCT/FINEP/PADCT, Campinas 1993. HADDAD, P. R. “Os Novos Pólos Regionais de Desenvolvimento no Brasil”. Estabilidade e Crescimento: Os Desafios do Real. Fórum Nacional, José Olympio Editora, 1994. Os artigos de AZZONI, C. R.; BAER, W., HADDAD, E. e HEWINGS, G.; e DINIZ, C. C. no livro organizado por Anita Kon: Unidade e Fragmentação – A Questão Regional no Brasil, Ed. Perspectiva, 2002. DINIZ, C. C. e CROCCO, M. Economia Regional e Urbana – Contribuições Teóricas Recentes Ed. UFMG, 2006. M. E. A Vantagem Competitiva das Nações, Ed. Campus, 1993.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• até mesmo em atividades de alta tecnologia, nas quais predominam empresas de
pequeno e médio portes, estas procuram localizar-se no campo aglomerativo das áreas
mais desenvolvidas, uma vez que os diferenciais de custos de produção que aí podem ser
obtidos são cruciais para a sua sobrevivência organizacional; e
• entretanto, como os fatores locacionais não-tradicionais podem ser reproduzidos em
quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento,
amplia-se o grau de que se dispõe para realizar políticas inter-regionais de natureza
compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos nas áreas mais
pobres do país, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica.
Não se pode, contudo, subestimar as possibilidades de que áreas importantes do Centro-
Oeste, do Norte e o próprio Nordeste (Oeste da Bahia, Sul do Maranhão, Sudoeste do Piauí)
possam crescer economicamente em ritmo acelerado para atender à demanda mundial em
expansão de produtos intensivos de recursos naturais (grãos, metais etc.) com menor ou maior
grau de beneficiamento. Desde que o Brasil abriu de forma expressiva a sua economia, há uma
grande chance (dependendo dos fundamentos econômicos domésticos) de que possa se benefi-
ciar dos ciclos longos de expansão da economia mundial, como ocorre atualmente, alavancados
pelas economias dos EE.UU. e da China. É evidente que a mobilização dessas potencialidades de
crescimento regional dependerá, decisivamente, da eliminação de pontos de estrangulamento
na sua infra-estrutura de transporte e de pesquisas tecnológicas.
Além do mais, a complexidade da demanda global por certas especificações de qualidade
dos produtos de origem primária (zoossanidade, fitossanidade, manejo sustentável, logística,
certificação etc.) leva a que estes produtos tenham maior intensidade de capitais intangíveis
(humano, conhecimento tecnológico, institucional etc.) do que um grande número de produtos
industrializados tradicionais, reproduzidos em regime de economia informal. Ou seja, os produ-
tos primários, que chegam à ponta da demanda final, tendem a carregar um elevado conteúdo
de fatores especializados do tipo man-made.
Finalmente, é preciso destacar como os cada vez mais elevados preços de energia poderão
afetar os padrões de localização das atividades econômicas. Em geral, pode-se afirmar que as
conseqüências espaciais dos preços mais elevados da energia dependerão da natureza de res-
postas na produção e no tipo de mudanças na estrutura de custos de transporte que vierem a
ocorrer. A orientação da indústria em direção a insumos específicos ou ao mercado, por exem-
plo, poderá ser influenciada por esses determinantes locacionais. Certamente, um dos canais,
por meio dos quais os preços de energia poderão afetar as decisões locacionais, será por meio
da estrutura intermodal dos custos de transferência.
1�1
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
Em resumo: como decorrência de políticas públicas de desenvolvimento regio-
nal (investimentos de infra-estrutura econômica e social, incentivos fiscais,
financiamentos facilitados, investimentos das empresas estatais etc.), houve um
processo de recuperação das economias periféricas a partir de 1975, quando
passaram a crescer em ritmo mais acelerado do que o conjunto do país. Entre-
tanto, apesar dos avanços registrados, é inequívoca a persistência ainda de dese-
quilíbrios regionais de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Particu-
larmente, a estagnação do PIB per capita a preços constantes do Nordeste nos
últimos anos pode ser constatada: no período de 1970 a 1992 a sua taxa anual
de crescimento foi 3,25%, enquanto no período de 1986 a 1998 foi de apenas
0,33%; em 2003, o PIB per capita do Nordeste ainda era apenas igual à metade
da média do Brasil.
Existem argumentos legais, políticos e econômicos que reforçam a necessidade de haver
órgãos federais capacitados para conceber e coordenar a execução de políticas de desenvolvi-
mento nas regiões menos desenvolvidas do país. Do ponto de vista legal, a questão dos desequi-
líbrios regionais de desenvolvimento está contemplada na Constituição de 1988, por meio de
regulamentações, mecanismos operacionais e instrumentos de natureza compensatória inter-
regional. Do ponto de vista político, essas ações compensatórias do Poder Público, visando ate-
nuar as desigualdades de renda e de riqueza entre grupos sociais de diferentes regiões do país,
tornam-se indispensáveis para se evitar a vertente desintegradora de movimentos regionalistas
que se descolam da perspectiva mais ampla dos interesses nacionais no processo de desenvol-
vimento econômico e social. E, do ponto de vista econômico, o crescimento sustentável do país
depende de mecanismos e instrumentos de políticas públicas que sejam capazes de mobilizar
as gigantescas oportunidades de investimentos que se encontram latentes nas suas áreas peri-
féricas, dinâmicas e tradicionais.
Da mesma forma que é fundamental reinventar os mecanismos institucionais de promo-
ção do desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, é indispensável repensar
os instrumentos econômicos que poderão mobilizar novos ciclos de expansão dessas regiões.
Constata-se um processo de declínio dos incentivos fiscais e financeiros em seu benefício. Além
do mais, os programas de incentivos fiscais instituídos para apoiar o desenvolvimento daquelas
macrorregiões foram seguidos pelos demais estados da Federação, de modo que não mais cons-
tituem diferencial algum a seu favor e resultaram na instauração da chamada guerra fiscal.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Atualmente, os incentivos fiscais do ICMS e as participações acionárias dos governos esta-
duais do Sul e Sudeste são instrumentos tão poderosos para a promoção industrial, que trans-
formaram os incentivos fiscais e financeiros de desenvolvimento regional em instrumentos de
menor relevância relativa no cenário nacional. Por outro lado, o Orçamento Geral da União
(OGU) não vem alocando recursos nas áreas menos desenvolvidas em montante compatível
com suas necessidades de financiamento para retomar a trajetória de crescimento do seu
PIB às taxas anuais de 6 a 7%, visando reduzir o seu hiato de desenvolvimento (ver figura 2).
É fundamental que se analisem alternativas de reinvenção dos instrumentos econômicos para a
promoção do desenvolvimento regional, tais como: a criação de um Fundo de Desenvolvimento
Regional (semelhante ao que foi criado quando da incorporação de países menos desenvolvidos
na União Européia), que prevê inclusive o financiamento da equivalência das taxas de juros,
a participação acionária em projetos estratégicos e o fundo de aval para micro e pequenas
empresas; uma nova concepção dos incentivos fiscais; programas de empréstimos coordenados
pelas instituições públicas financeiras federais etc.
Concluindo, pode-se afirmar que uma adequada distribuição espacial dos frutos
do novo ciclo de expansão da economia brasileira, no período de 2005 a 2015,
dependerá de políticas ativas de desenvolvimento regional, as quais, para se tor-
narem eficazes, pressupõem a reinvenção dos instrumentos econômicos e dos
mecanismos institucionais que beneficiem as áreas menos desenvolvidas do país.
Essas políticas devem priorizar as áreas da periferia tradicional (Nordeste), uma
vez que as áreas de periferia dinâmica (Centro-Oeste, Norte) tendem a crescer
acima da média brasileira alavancadas por suas inquestionáveis vantagens com-
parativas, desde que se equacionem os seus problemas de logística de transporte
e de pesquisas tecnológicas e se ampliem suas cadeias de valor.
1�3
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
Figura 2 – Participação das regiões em relação à renúncia fiscal (%)
Fonte: Ministério da Fazenda.
3. Desequilíbrios regionais e desenvolvimento local
Para focalizar, adequadamente, as perspectivas de se atenuarem os desequilíbrios regionais de
desenvolvimento no Brasil, é preciso mapear as suas áreas (municípios e regiões) com maior
ou menor potencial de desenvolvimento. Trata-se de uma questão analítica de grande com-
plexidade conceitual e operacional. É possível, contudo, dispor de uma visão macroscópica do
potencial de desenvolvimento dos municípios brasileiros (e de sua agregação espacial) a partir
de um Relatório Especial elaborado para delimitar as áreas deprimidas do Brasil.6 O Relatório
se divide em dois momentos: no primeiro, procura-se identificar os municípios que podem
ser considerados como economicamente deprimidos; no segundo, busca-se selecionar, entre
esses municípios, aqueles que têm maior capacidade endógena de superação de seu estado de
depressão econômica.
Usualmente, áreas economicamente deprimidas se caracterizam por apresentar:
• infra-estrutura básica em precárias condições de uso;
6 “Relatório Especial sobre as Áreas Deprimidas”, Projeto de Atualização dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, Miniplan, Brasília. 2003.
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• baixas taxas de crescimento econômico;
• insuficiência de absorção de mão-de-obra (elevadas taxas de desemprego aberto, de
subemprego ou de desemprego disfarçado);
• elevados índices de pobreza e de carências de serviços sociais; e
• fortes desequilíbrios socioeconômicos e intra-regionais (entre zonas urbanas e zonas
rurais) etc.7
Por outro lado, o processo de desenvolvimento de uma região ou de um município, que
lhe permite superar os seus problemas sociais e mobilizar suas potencialidades econômicas,
depende de sua capacidade endógena de organização social e política para modelar o seu
próprio futuro, que se associa ao aumento da autonomia regional ou local para a tomada de
decisões, ao aumento da capacidade para reter e reinvestir o excedente econômico gerado
pelo seu processo de crescimento, a um crescente processo de inclusão social e a um processo
permanente de conservação e preservação do ecossistema regional ou local.
Muitos analistas dos problemas de regiões que acumularam um grande atraso econômico,
ou que perderam seu dinamismo, estão convencidos de que o desenvolvimento não se limita
à expansão da capacidade produtiva (mais investimentos em projetos de infra-estrutura
econômica ou em projetos diretamente produtivos). Celso Furtado afirma que “o verdadeiro
desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização de forças sociais,
de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. Portanto,
trata-se de um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico. O desenvol-
vimento ocorre quando, na sociedade, se manifesta uma energia capaz de canalizar, de forma
convergente, forças que estavam latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de desenvol-
vimento terá que ser a expressão das preocupações e das aspirações dos grupos sociais que
tomam consciência de seus problemas e se empenham em resolvê-los.”8
Percebe-se, com maior clareza, o conceito de desenvolvimento endógeno em situações de
assimetria no retrocesso econômico. Por exemplo: se uma economia desenvolvida se atrofia
ou involui por causa de um evento exógeno (por exemplo, países da Europa após a II Grande
Guerra) e assume os indicadores de renda per capita, de comércio e de produtividade típicos
7 KON, A. (org.) Unidade e Fragmentação, Ed. Perspectiva, 2002. SCHWARTZMAN, S. Pobreza, Exclusão Social e Modernidade: Uma Introdução ao Mundo Contemporâneo, Augurium Editora, 2004. ROCHA, S. Pobreza no Brasil – Afinal de que se trata?, FGV Editora, 2003.
8 FURTADO, C. A Nova Dependência. Paz e Terra, 1982. Ver também suas reflexões sobre o tema do desenvolvimento no livro da coleção “Os Economistas” publicado pela Abril Cultural: Teoria e Política de Desenvolvimento Econômico. Sobre o pensamento de diversos autores relativos à importância do capital social no processo de desenvolvimento (Tocqueville, Jacobs, Putnam, Fukuyama, Maturama, Castells e Levy), ver FRANCO, A. Capital Social, Instituto de Política Millenium, Brasília, 2001. BOSIER, S. El Difícil Arte de Hacer Región, Centro de Estúdios Regionales Andinos, Cusco, Peru, 1992.
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
de uma economia subdesenvolvida, quando recebe novos estímulos e incentivos (por exemplo,
financiamentos e apoio técnico do Plano Marshall) a sua reação é rápida e acelerada, por causa
de sua capacidade endógena de mobilizar capitais tangíveis e intangíveis para promover a
retomada do desenvolvimento econômico e social.
Toda tentativa de mensurar o grau de endogenia de determinado município, visando
avaliar sua capacidade de mobilização social e política para conceber e implementar uma
agenda de mudanças, esbarra em três grandes obstáculos: i) dada a importância dos capitais
intangíveis no processo de desenvolvimento endógeno, ainda é muito difícil obter indicado-
res quantitativos que possam caracterizá-los nível local; ii) mesmo para aqueles indicadores
passíveis de quantificação, há problemas de disponibilidade de informações atualizadas para
todos os municípios brasileiros; e iii) não há experiência internacional consolidada que possa
nortear a mensuração de indicadores do grau de endogenia local. Mesmo considerando essas
restrições conceituais e práticas, apresenta-se a seguir uma experiência de classificar os
municípios brasileiros segundo o seu grau de depressão econômica e de endogenia.
O primeiro passo consistiu na seleção das variáveis mais significativas para ilustrar as dimen-
sões escolhidas e na elaboração de indicadores-síntese. Os indicadores procuram destacar a
posição relativa de cada um dos 5.507 municípios em relação à média brasileira, em todas as
dimensões. A relação e a análise das possíveis combinações entre indicadores permitiram iden-
tificar algumas tipologias de municípios e, sucessivamente, a construção de arquétipos, além
da elaboração de um indicador-síntese do grau de depressão que permita uma hierarquização
dos municípios. Os resultados devem ser considerados tão-somente como uma aproximação
de um problema extremamente complexo e ser utilizados em políticas públicas apenas como
uma referência preliminar para se mensurar o grau de depressão e a capacidade endógena dos
municípios. Muitos dos indicadores ficaram disponíveis em nível dos municípios brasileiros a
partir do Atlas de Desenvolvimento Humano (Pund/Ipea/FJP) e do Atlas de Exclusão Social no
Brasil (Fundação SEADE), assim como a partir do Projeto de Atualização dos Eixos Nacionais de
Integração e Desenvolvimento (Miniplan), e das estatísticas municipais da FIBGE.
Um exame cuidadoso do conjunto de indicadores, elaborados para caracterizar os municípios
brasileiros, permite identificar sua heterogeneidade quanto às dimensões econômicas, sociais e
político-institucionais, assim como processar a busca de arquétipos que possam dar uma visão
de conjunto do que se poderia denominar de “municípios economicamente deprimidos”. É evi-
dente que essa taxonomia irá se referir apenas à realidade estatística observada nos anos 1990;
mas como esses indicadores são de natureza estrutural, é bem provável que essa realidade detec-
tada no estudo seja razoavelmente representativa ainda neste início do século XXI.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Em primeiro lugar, os 5.507 municípios brasileiros (situação de 2000) foram classificados
em quatro quadrantes (ver figura 3), onde, no eixo das abscissas, está uma medida do ritmo
de crescimento econômico do município, dado pelo nível relativo da expansão da sua renda
per capita de 1991 a 2000, e, no eixo das ordenadas, o seu grau de desenvolvimento, medido
simplificadamente pelo nível relativo da sua renda per capita em 2000. A origem dos eixos (o
ponto 100) equivale às médias nacionais das variáveis em questão: 30,2% para o ritmo de cres-
cimento e R$ 297,85 para a renda per capita. Pela análise do cruzamento dessas duas variáveis,
verifica-se que:
• Municípios desenvolvidos em expansão (quadrante 1): são aqueles que se encontram
com o nível de desenvolvimento e o ritmo de crescimento local simultaneamente acima
da média nacional, por exemplo: municípios das regiões mais desenvolvidas onde tem
ocorrido (sempre na década de 1990) um relativo progresso científico e tecnológico em
diferentes setores da sua base produtiva.
• Municípios desenvolvidos em declínio (quadrante 2): são aqueles que se encontram com
o nível de desenvolvimento acima da média nacional, porém seu ritmo de crescimento
está em declínio, abaixo, portanto, da média do país; por exemplo: municípios das regi-
ões mais desenvolvidas em processo de decadência econômica, tais como algumas áreas
de plantio tradicional do café ou áreas que não reestruturaram suas indústrias no perí-
odo pós-abertura na economia brasileira.
• Municípios em desenvolvimento (quadrante 3): são aqueles com ritmo de crescimento
em expansão, porém com nível de desenvolvimento abaixo da média nacional; por exem-
plo: novas áreas da fronteira agrícola de grãos no Mato Grosso.
• Municípios economicamente deprimidos (quadrante 4): são aqueles com nível de desen-
volvimento e ritmo de crescimento abaixo da média nacional, por exemplo: áreas onde
o subdesenvolvimento é crônico e não apresentam reações positivas de crescimento no
decorrer dos diferentes ciclos curtos e longos de expansão da economia brasileira.
Uma concentração maior dos municípios no quadrante 3 poderia expressar um fato muito
relevante para o país, ou seja, os municípios com renda per capita abaixo da média nacional
conseguiram um ritmo de crescimento superior à média nacional ao longo dos anos 1990.
Entretanto, nestes anos, houve uma forte expansão das transferências de renda da Previdência
Social como decorrência das decisões redistributivas tomadas na Constituição de 1988. Assim,
o crescimento da renda per capita pode ter ocorrido, muitas vezes, como decorrência de polí-
ticas sociais compensatórias e não de expansão econômica sustentada.
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
Figura 3 – Municípios classificados segundo o nível de desenvolvimento e o ritmo de crescimento
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
É possível vislumbrar mais de perto o quadrante 4, onde se podem constatar as curvas que
medem as distâncias geométricas dos valores municipais em relação à média nacional (25%
menores e 50% menores), e se há muitos valores extremamente afastados dos valores médios
nacionais. É possível também calcular, se a renda per capita brasileira ficar estacionada, quan-
tos anos seriam necessários para cada município do quadrante 4 atingir esta média, se ele con-
tinuasse a crescer no mesmo ritmo observado nos anos 1990 (exceto quando este valor fosse
negativo): há muitos casos em que não se conseguirá atingir a média brasileira nem mesmo
durante um século.
Os municípios do quadrante 4 foram classificados segundo o Índice de Potencial de Desen-
volvimento do Município (IPDM), calculado originalmente para o Projeto de Atualização dos
Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Esse índice foi construído para avaliar o
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
potencial de desenvolvimento dos municípios brasileiros como um dos componentes que per-
mitem delimitar as áreas economicamente deprimidas do país. A metodologia utilizada foi
formada por três passos: aplicação da análise fatorial, construção de um fator ponderado e
aplicação de análise espacial. Em torno do potencial normalizado, construiu-se um índice em
que os municípios são hierarquizados desde os que estão abaixo da média = 100 (um número
expressivo no Nordeste) e os que estão acima da média (o número mais expressivo no Sul e
Sudeste). Para detectar o potencial de desenvolvimento dos municípios foram utilizados dados
de 21 variáveis, observadas para cada um dos 5.507 municípios brasileiros. As variáveis foram
agrupadas em conjuntos menores como, por exemplo, variáveis inerentes aos setores industrial,
comercial e a condicionantes urbanos; variáveis relacionadas às condições de vida; e variáveis
relacionadas com o setor agrícola, com o intuito de melhor caracterizar os fatores.
Para se avaliar o grau de capacidade endógena dos municípios foram utilizadas três
variáveis:
1. IDHM – Longevidade – Um dos componentes do IDHM com peso de 1/3 em sua formação.
A longevidade da população de um município é medida pela esperança de vida ao nascer,
ou seja, o número de anos que as crianças recém-nascidas viveriam desde que submeti-
das aos riscos da mortalidade prevalecentes na população na época de seu nascimento;
reflete as condições gerais de saneamento, saúde pública, nutrição etc. de determinado
grupo social.
2. IDHM – Educação – Um dos componentes do IDHM com peso de 1/3 em sua formação.
Mede o grau de educação (informação e conhecimento) da população do município por
meio da média de duas variáveis: a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada
de matrículas nos três níveis de ensino. Segundo estudo da FJP:
A migração temporária, motivada pela busca de serviços educacionais eventualmente
concentrados em alguns poucos municípios (principalmente no caso da educação
superior), faz com que a matrícula em um dado município possa ser muito pouco
indicativa das possibilidades da população local em obter atendimento educacional
e, portanto, do grau presente e futuro da escolaridade da população. Assim, no IDHM
é utilizada a freqüência à escola em vez da matrícula.
3. IQIM – Índice de Qualidade Institucional dos Municípios – No Projeto de Atualização
dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, foi concebido e calculado o Índice
de Qualidade Institucional dos Municípios Brasileiros (IQIM), a partir de três conjuntos de
subindicadores, com peso igual, identificados como: grau de participação (existência de
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
conselhos, conselhos instalados, conselhos paritários, conselhos deliberativos, conse-
lhos que administram Fundos), capacidade financeira (existência de consórcios, receita
corrente versus dívida, poupança real per capita) e capacidade gerencial (IPTU ano
da planta, IPTU adimplência, instrumentos de gestão, instrumentos de planejamento).
Os 5.507 municípios foram classificados em oito classes de acordo com o valor do IQIM;
este valor varia de 1,00 a 6,00, e quanto maior o IQIM, melhor a situação da qualidade
político-institucional do município. Ou seja, quanto maior o grau de participação comu-
nitária na gestão do município, quanto maior a capacidade financeira do município e
quanto maior a capacidade gerencial do município, maior será o valor do IQIM.
A tabela 1 relaciona as oito combinações possíveis entre os indicadores econômicos, con-
forme a posição do município entre acima (A) ou abaixo (B) da média brasileira. Na última
coluna está o número de municípios que se enquadram em cada uma dessas combinações.
Tabela 1 – Possíveis combinações entre os indicadores econômicos
TipoNível de
desenvolvimentoRitmo de
desenvolvimentoPotencial de
desenvolvimentoNúmero de municípios
BBB Baixo Baixo Baixo 944
BBA Baixo Baixo Alto 690
ABB Alto Baixo Baixo 1
BAB Baixo Alto Baixo 1.681
BAA Baixo Alto Alto 1.652
ABA Alto Baixo Alto 156
AAB Alto Alto Baixo -
AAA Alto Alto Alto 383
Total – – – 5.507
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
Analisando cada uma dessas combinações, foi possível caracterizar os conjuntos de muni-
cípios tipificados:
• BBB – municípios claramente deprimidos do ponto de vista econômico;
• BBA e BAA – municípios com potencial próprio para alcançar níveis de desenvolvimento
mais elevados, sendo que o que os diferencia é o fato de terem ou não crescido acima da
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
média na última década; distribuem-se por todo o Território Nacional, incluem áreas de
expansão econômica, quatro capitais e 231 municípios de regiões metropolitanas;
• ABB e AAB – situações anômalas (renda alta com potencial baixo), onde não se encon-
tram municípios; a única incidência refere-se a um pequeno município ao Norte do Mato
Grosso (Feliz Natal, 6.769 habitantes em 2000) que apresenta potencial equivalente a
97% da média brasileira;
• BAB – municípios que, apesar de terem crescido acima da média brasileira na última
década, ainda não alcançaram um patamar favorável e, apresentando baixo potencial,
não há indicação de que eles sejam capazes de alcançar essa condição;9
• ABA – municípios economicamente consolidados, mas que apresentaram um ritmo de
crescimento abaixo da média na última década, seja por enfrentarem alguma situação
conjuntural, seja por já terem atingido patamares muito elevados de renda; a maior
incidência é de municípios do Sul/Sudeste, além de sete capitais; e
• AA – municípios claramente não deprimidos do ponto de vista econômico.
Assim, a partir dessa análise, concluiu-se por considerar municípios economicamente depri-
midos o conjunto composto por 2.625 municípios, que foram classificados como BBB ou BAB e
serão mais bem caracterizados nas dimensões social e político-institucional, as quais permitirão
a construção de arquétipos.
A mesma lógica foi utilizada para a construção da tabela 2, que relaciona as oito combina-
ções possíveis entre os indicadores socioinstitucionais, conforme a posição do município entre
acima (A) ou abaixo (B) da média brasileira. Na última coluna, está o número de municípios
que se enquadram em cada uma dessas combinações mas, agora, apenas entre os municípios já
considerados deprimidos (tipos BBB e BAB, na tipologia econômica).
9 Para corroborar essa afirmação, é importante ressaltar que o crescimento da renda per capita brasileira no período 1991-2000 foi da ordem de 30% (menos de 3% a.a.), considerado bastante baixo. Também é importante lembrar que, no mesmo período, foi incorporada expressiva parcela da população à aposentadoria rural que, em muitos casos, passou a constituir uma parte subs-tancial da renda de alguns municípios, sem que isso seja resultado de crescimento econômico, mas puramente de transferência de renda.
1�1
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
Tabela 2 – Possíveis combinações entre os indicadores socioinstitucionais
Tipo Longevidade EducaçãoQualidade
institucionalNúmero de municípios
BBB Baixo Baixo Baixo 1.785
BBA Baixo Baixo Alto 542
ABB Alto Baixo Baixo 147
BAB Baixo Alto Baixo 17
BAA Baixo Alto Alto 18
ABA Alto Baixo Alto 110
AAB Alto Alto Baixo 3
AAA Alto Alto Alto 3
Total – – – 2.625
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
Conforme poderia se esperar, a maior concentração de municípios (68%) encontra-se na
combinação onde os três indicadores agora analisados ocupam posição inferior à média brasi-
leira (BBB), enquanto a situação oposta, de três indicadores positivos (AAA), pode ser conside-
rada uma anomalia, categoria em que se enquadram apenas três municípios.
Esses indicadores socioinstitucionais permitirão, agregados aos indicadores econômicos e
organizados de acordo com o número de indicadores positivos ou negativos, construir uma
proposta de arquétipos de municípios deprimidos, conforme o seu potencial de endogenia.
Para efeito da formulação dos arquétipos para os municípios classificados como economi-
camente deprimidos (ver tabela 3), não se efetuou distinção entre os tipos BBB ou BAB, o que
pode representar uma grave distorção para casos específicos.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Tabela 3 – Organização das combinações para construção dos arquétipos
TipoNúmero de municípios
(tipo)
Número de municípios (arquétipo)
Arquétipos
BBBBBB 6901.785
Municípios economicamente deprimidos
com baixo potencial endógenoBABBBB 1.095
BBBBBA 159
706Municípios economicamente deprimidos
com médio potencial endógeno
BBBBAB 9
BBBABB 53
BABBBA 383
BABBAB 8
BABABB 94
BBBAAB 2
134Municípios economicamente deprimidos
com alto potencial endógeno
BBBABA 25
BBBBAA 6
BABAAB 1
BABABA 85
BABBAA 12
BBBAAA -
BABAAA 3
Total 2.625 2.625
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
Assim, são considerados municípios economicamente deprimidos com baixo potencial
endógeno aqueles que também não apresentam nenhum indicador socioinstitucional acima da
média brasileira, com médio potencial endógeno os que apresentam ao menos um indicador
(longevidade, educação ou qualidade institucional) que lhes permita uma vantagem compara-
tiva na construção do desenvolvimento, e com alto potencial endógeno os que apresentam dois
ou três desses indicadores em condições favoráveis. A principal limitação desta classificação
dos municípios brasileiros está, efetivamente, em mensurar o grau de endogenia, levando em
consideração apenas indicadores de longevidade e de aspectos da educação e da qualidade
institucional dos municípios.
1�3
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
O passo subseqüente constituiu-se na elaboração de um indicador-síntese para avaliação do
grau de depressão dos municípios, no sentido mais abrangente dado a essa expressão.
Cabe ressaltar que a elaboração do indicador-síntese do grau de depressão deve ser encarado
como uma informação complementar à apresentação de arquétipos de municípios deprimidos.
De maneira geral, o indicador-síntese do grau de depressão oferece a possibilidade de hierarquizar
os municípios, enquanto os arquétipos permitem a elaboração de políticas de desenvolvimento
regionais focadas no tipo de problema relacionado. Para tanto, inicialmente construiu-se um
indicador para a dimensão econômica e outro para a dimensão socioinstitucional. O indicador
foi concebido como a distância geométrica entre a posição do município (nível e potencial de
desenvolvimento) e o vértice, que representa a média do Brasil.10 O indicador socioinstitucional
foi calculado a partir de pesos de 1 a 10 para cada um dos três indicadores que o compõem;
procedeu-se em seguida ao cálculo da média simples entre as três notas obtidas para, então,
voltar a adotar a base 100, desta vez elegendo-se o município que obteve a melhor nota média
como base. A construção do Indicador-síntese se deu pela reutilização da fórmula que deter-
mina a distância geométrica entre a posição do município (par de indicadores econômico e
socioinstitucional) e o vértice, que representa a média do Brasil, no primeiro caso, e o município
mais bem classificado, no segundo.
A tabela 4 sintetiza os resultados, em termos de número de municípios em cada arquétipo,
segundo três faixas do indicador-síntese; na seqüência, apresenta-se o mapa 1 onde podem ser
visualizados a espacialização dos arquétipos de municípios deprimidos e o seu grau de depres-
são. O banco de dados com todos os indicadores, assim como os aspectos técnicos envolvidos
nos cálculos dos indicadores, estão disponíveis na publicação “Relatório Especial – as áreas
deprimidas nos eixos de integração e desenvolvimento” (Brasília: Miniplan, 2003).
10 Optou-se por desconsiderar, na construção desse indicador, o Ritmo de Desenvolvimento, uma vez que ele também foi superdi-mensionado na determinação dos municípios economicamente deprimidos, por causa do vertiginoso crescimento das transfe-rências governamentais na expansão da renda per capita de 1991 a 2000.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Tabela 4 – Indicador-síntese – por arquétipo e faixas de valores
Indicador-síntese
Municípios economicamente
deprimidos com baixo potencial endógeno
Municípios economicamente
deprimidos com médio potencial endógeno
Municípios economicamente
deprimidos com alto potencial endógeno
Menor que 30 1555 363 19
De 30 a 70 229 339 112
De 70 a 100 1 4 3
Mínimo (32,71) (14,11) 4,78
Máximo 72,17 83,28 81,51
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
Como sobrevivem as populações desses municípios? Por que os seus indicadores sociais e
econômicos não se assemelham aos dos países mais pobres da África? Uma hipótese plausível
para explicar esta situação talvez seja que tais municípios estão sobrevivendo à custa de trans-
ferências que são extraídas a partir do excedente econômico gerado nos municípios mais prós-
peros do país. Estas transferências se manifestam, no nível da renda das famílias, pela aposen-
tadoria rural, pela bolsa-família, pelo sistema assistencial da Loas etc.; e, no nível das finanças
públicas municipais, pelas regras adotadas pelo FPM, pela cota-parte livre do ICMS etc.
Se por alguma motivação politicamente perversa fossem fechadas as comportas destes
mecanismos de transmissão de benefícios compensatórios, provavelmente o Brasil teria suas
“Somálias” e as suas “Ganas”. Basta lembrar que, de 1991 a 2000, enquanto o PIB per capita do
Brasil cresceu a uma taxa anual de 1,39% e a renda per capita cresceu 2,88% ao ano, o cresci-
mento das transferências per capita foi de 6,90% ao ano. Ou seja, a renda per capita local pode
crescer (como continua a crescer no século XXI), sem que tenha necessariamente ocorrido um
processo de crescimento econômico no município.
Operacionalmente, um processo de desenvolvimento endógeno é concebido e implemen-
tado a partir da capacidade que dispõe determinada comunidade para a mobilização social
e política de recursos humanos, materiais e institucionais, em uma determinada localidade
ou região. Um processo de desenvolvimento endógeno percorre, normalmente, algumas etapas
(ver figura 4):
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
• Não é um processo que brota no terreno do conformismo, da apatia, da inércia ou da
passividade dos habitantes de uma região onde uma dinâmica de organização social e
política ainda não se faz presente. Não há desenvolvimento onde não há inconformismo
com relação ao mau desempenho dos indicadores econômicos, sociais e de sustentabi-
lidade ambiental. Assim, numa primeira etapa, é importante organizar a estruturação
desse inconformismo.
• A etapa seguinte tem sido procurar diagnosticar, técnica e politicamente, as razões e as
causas do mau desempenho desses indicadores. Não se trata apenas de preparar docu-
mentos elaborados por especialistas, mas, principalmente, de conscientizar as lideranças
políticas e comunitárias sobre o que deve ser feito para transformar as condições atuais,
visando obter melhores índices de desenvolvimento humano, de competitividade econô-
mica etc.
• A terceira etapa envolve a transformação de uma agenda de mudanças em um plano de
trabalho de mudanças (Plano de Ação). Um plano de trabalho que seja não somente tec-
nicamente consistente, mas essencialmente gerado a partir de uma intensa mobilização
dos segmentos da sociedade civil, em regime de pacto e parceria com as autoridades e
instituições locais e supralocais (modelo de gestão participativa).
Figura 4 – Etapas de um processo de desenvolvimento endógeno
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Mapa 1 – Municípios economicamente deprimidos com baixo potencial endógeno
Copyright © 2002-2003 Consórcio Monitor Group/Boucinhas & Campos.
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
Mapa 2 – Aquétipos de municípios deprimidos
Copyright © 2002-2003 Consórcio Monitor Group/Boucinhas & Campos.
Elaboração: Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos.
1��
Ciclos de expansão e desequilíbrios regionais de desenvolvimento no Brasil
4. Conclusão
A observação dos resultados finais permite destacar: i) a questão regional brasileira, entendida
como desequilíbrios e assimetrias espaciais e sociais e estimada com dados do início do século
XXI, se concentra no Nordeste (principalmente, nas áreas do Sertão e do Agreste) e em áreas dos
Estados do Pará, do Tocantins e de Minas Gerais; ii) os indicadores desfavoráveis para muitas
áreas da Amazônia se devem à forma de cálculo do Índice de Potencial de Desenvolvimento
(potencial manifesto e não potencial latente); iii) é preciso destacar os problemas regionais
de interesse nacional dos problemas regionais de interesse estadual (Vale do Ribeira para SP,
Zona da Mata para MG, Metade Sul para RS etc.) na formulação das políticas nacionais de
desenvolvimento regional; iv) as políticas sociais compensatórias, mesmo quando focadas nos
municípios deprimidos, não têm capacidade de reverter minimamente as distâncias abissais que
os separam dos municípios desenvolvidos em expansão do Sul e do Sudeste; e v) não se pode
esperar que a promoção do desenvolvimento econômico e social das regiões e dos municípios
menos desenvolvidos do país venha a ser realizada tão-somente pelas instituições e agências
do governo federal ou do governo estadual, as quais, na verdade, devem ser consideradas como
parceiras potenciais na elaboração e na implementação de políticas, de programas e de projetos
de mudanças, concebidos a partir da atuação das sociedades locais.
111
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorialAntonio Carlos Filgueira Galvão
A Política Brasileira deDesenvolvimento Regional e o
ordenamento territorial
1. Introdução
A ausência de políticas públicas ativas de desenvolvimento é um indicador da maior aderên-
cia de um país a posturas liberais. Teorias de orientação liberal ou neoliberal, por defini-
ção, pressupõem a existência prévia de níveis aceitáveis de eqüidade entre indivíduos e frações
territoriais. Elas desconhecem, no essencial, o efeito produzido por diferenças socioprodutivas
alarmantes, que deturpam o funcionamento do sistema econômico e provocam uma série de
distúrbios sociais relevantes. O resultado tende a ser uma trajetória de desenvolvimento que
exclui parcela significativa da população dos benefícios gerados e que, no longo prazo, impede
a melhoria conjunta das condições de vida do país.
No Brasil, com suas dimensões continentais, os efeitos da onda liberal se fizeram sentir por
todas as regiões. Nos anos 1990, ao quadro de permanência das iniqüidades e exclusão social
associou-se outro, de estagnação e perda de dinamismo, que comprometeu nossa capacidade
histórica de crescimento. Da vigorosa trajetória anterior de crescimento, mas concentradora de
renda em quase todo o século XX, passou-se a uma outra que conjuga uma baixa capacidade
de acumulação com melhorias tênues na situação social, que resultam mais do aprimoramento
das políticas sociais e do movimento migratório usual dos excluídos do que de uma inserção
produtiva ativa e duradoura das camadas menos favorecidas da população.1
1 Os sinais positivos recentes de superação dessa postura decorrem tanto de um quadro econômico favorável de conquistas na inserção competitiva externa, com a evolução sensível das exportações, como de intensificação dos esforços de política social, por meio da ampliação da cobertura da fração de excluídos do sistema econômico em programas de transferência de renda, como o “Bolsa-Família”, em programas de universalização de serviços públicos, como o “Luz para Todos”, ou em programas de crédito, como o Pronaf e outros, que produzem lastro para futuras iniciativas de desenvolvimento.
112
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Dentre os espaços ocupados recentemente no terreno das políticas ativas de desenvolvi-
mento, a proposição e o início de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), organizada pelo Ministério da Integração Nacional, se destaca. A PNDR obje-
tiva reduzir as desigualdades regionais no país e apoiar a exploração dos potenciais de desen-
volvimento das diversas regiões com a organização de programas de ação fundados na coope-
ração social ampla e na articulação entre os entes federados.
O papel de políticas ativas de desenvolvimento organizadas sob a liderança do Estado e
compromissadas pelos vários segmentos sociais parece um componente importante para a
redefinição de novos rumos para o país no contexto de uma sociedade que se democratiza.
Os sinais de mudança são positivos nesse cenário. E isso anima a retomada de um debate mais
estrutural e plural no Brasil sobre as perspectivas de um desenvolvimento socialmente inclusivo,
economicamente competitivo, ambientalmente responsável e territorialmente integrador.
No contraste entre os objetivos maiores das políticas reside outro ponto a favor das políticas
de desenvolvimento regional. É que elas envolvem uma mediação efetiva entre princípios de
eqüidade e de eficiência na condução das iniciativas, conciliando redução das desigualdades
com promoção da dinâmica econômica nas localidades. Políticas de desenvolvimento regional
caracterizam-se, assim, por operarem a favor da maior homogeneidade territorial por meio da
regulação das ações de desenvolvimento que ocorrem nas regiões. A seletividade dos territórios
condiciona o apoio aos programas de desenvolvimento regional.
Mais que uma questão menor ou acessória, o problema regional espelha e responde por boa
parte dos obstáculos que se antepõem à superação do subdesenvolvimento brasileiro. O eco-
nomista Celso Furtado2 foi incansável na denúncia da vinculação estreita entre os problemas
nacionais e as mazelas regionais do nosso desenvolvimento, apontando o caminho do planeja-
mento como via possível de estímulo à transformação social.
2. Desigualdades sociais e regionais no Brasil
As desigualdades constituem o problema principal de política pública do Brasil na opinião de
3/4 dos membros do egrégio Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No
2 Toda a obra de Celso Furtado está eivada de considerações a respeito. Sugere-se consultar, em especial, Operação Nor-deste (1959); A Pré-Revolução Brasileira (1962); O Mito do Desenvolvimento Econômico (1974); O Brasil Pós-Milagre (1981); A Fantasia Desfeita (1989); Capitalismo Global (1998); e o artigo “A Federação por Fazer” no livro Rumos. Os caminhos do Brasil em debate (1999).
113
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
entanto, para se organizar uma atuação conseqüente e eficaz sobre o problema é preciso com-
preender em maior profundidade suas determinações e avaliar a melhor maneira de enfrentá-lo.
Em princípio, torna-se necessário caracterizá-lo em confronto com a situação dos outros países
e explorar o que distingue sua dimensão social, no plano das condições de vida dos indivíduos,
de sua expressão regional, no confronto das situações das diversas unidades territoriais.
3. Os números da desigualdade no Brasil
A longa trajetória de esforços no campo regional alcançou seu ápice quando do único período
de desconcentração produtiva real de que se tem notícia na etapa da industrialização brasileira,
entre o chamado “milagre econômico” dos anos de ditadura militar e o início da adoção dos
programas radicais de estabilização monetária, com o Plano Cruzado. Dali por diante, a derro-
cada das políticas de desenvolvimento regional determinou um recuo, só minorado pela falta
de dinâmica econômica das últimas décadas, cujo efeito territorial foi “distributivo” em termos
de renda e população. Pode-se afirmar que se promoveu, na fase recente, uma socialização das
mazelas sociais do modelo de desenvolvimento brasileiro.
Como resultado, o problema das desigualdades regionais no Brasil, no que respeita aos valo-
res extremos da série de PIB por habitante, mantém-se praticamente inalterado com referência
ao momento histórico que presidiu toda a instituição furtadiana de política pública na área
do desenvolvimento regional. Por volta de 1959, 1960 e 1961, quando da criação da Sudene,
a diferença entre o PIB por habitante do Estado de São Paulo, o mais “rico”, e do Piauí, o mais
“pobre”, era de 8,3 vezes; entre 2000, 2001 e 2002, segundo o IBGE, a distância entre o Distrito
Federal e o Estado do Maranhão alcançava 8,1 vezes. 3
O índice de entropia de Theil,4 uma medida mais apurada, utilizada nas análises das desi-
gualdades de produto ou renda do conjunto das Unidades da federação, apresenta uma traje-
tória declinante nos planos macro-regional e Estadual no mesmo período. Isso significa que a
configuração da distribuição melhorou, ainda que os extremos tenham sido mantidos. O índice
3 Essas relações apresentam certa flutuação a cada ano, por isso, sempre que possível, adotam-se médias trienais para comparar esses dois momentos no tempo. Assim, operou-se uma estimativa da média dos anos de 1959, 1960 e 1961 do PIB por habitante, a partir das informações para os PIB estaduais, então calculados ao custo de fatores – a preços de 2000 – e a População residente, IBGE, disponíveis no Ipeadata (acesso em 04/01/2006). Para os anos de 2000, 2001 e 2002, utilizou-se a série hoje publicada pelo IBGE.
4 O Índice de entropia de Theil é definido por: L = Σpi . ln (pi / yi) , onde pi e yi correspondem às participações do estado i no total da população (Pi/Pn) e no total da PIB (yi/yn). Os valores são sempre maiores que zero e quanto mais próximo deste menor a desigualdade do conjunto considerado.
114
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
evoluiu de 0,22 para 0,12, entre 1959 e 2002, passando por fases de elevação entre 1965/1970
e 1986/1989 – períodos com a presença de instabilidades monetárias – e de declínio acentuado
entre 1959/1964 e 1971/1985 e lento de 1990 até hoje (2002).5 Conclui-se, dessa forma, que
apesar de pouco ter se alterado a distância que separa os estados mais abastados dos menos
contemplados, o declínio das desigualdades pode ser observado no conjunto das Unidades da
Federação estaduais.
Como expresso na tabela 1, as desigualdades regionais no Brasil são expressivas quando
comparadas com as de outros contextos socioeconômicos assemelhados, com forma de governo
federativa, como os dos Estados Unidos e da União Européia.
Tabela 1– 0 Brasil, União Européia e Estados Unidos – Razão entre o maior e o menor PIB de unidades territoriais selecionadas
Unidades territoriais
USA (a) (2004) UE 15 (c) 2002 UE 25 (c) 2002 Brasil (b) 2003
com DC sem DCcom Lux.
sem Lux
com Lux
sem Lux
com DFsem DF
Macrorregiões 1,3 ... ... ... ... ... 2,6 ...
Estados/países 5,2 2,5 2,7 1,7 5.4 3,4 7,2 5,3
Sub-regiões (Nut
2 / mesos)...
...5,4
...9,9
...28.9
...
Fonte: a) USA: US Department of Commerce / Bureau of Economic Analisys – BEA: Produto Estadual Bruto / População (http://
www.bea.gov – acesso em 09/02/2006 e ); b) União Européia dos 15 e 25: Eurostat – PNB per capita PPP in http://europa.eu.int
– acesso em 09/02/2006; c) Brasil: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), PIB estaduais e municipais (http://www.
ibge.gov.br – acesso em 09/02/2006).
Obs: DC: District of Columbia; Lux: Luxemburgo; DF: Distrito Federal. “Nut” significa “Nomenclatura de Unidades Territoriais”, a
divisão territorial oficial da Eurostat, Órgão de estatísticas da União. No caso, o dado refere-se aos níveis 1 e 2, equivalentes às
macro e mesorregiões do IBGE. As macro-regiões norte-americanas referem-se às definidas pelo BEA. A Europa dos 25 não inclui
a Romênia e a Bulgária.
Nos Estados Unidos, a relação entre o estado mais aquinhoado, o District of Columbia, e
o menos, o Mississipi, alcança a 5,2 vezes, em 2004. Consideradas as macrorregiões norte-
americanas definidas pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), essa mesma relação entre New
England e Southeast é de apenas 1,3 vezes no mesmo ano (US$ 46.521,04 contra US$ 35.586,30,
5 Ver Monteiro Filho, Galvão e Pereira (2006). O trabalho corrobora a tese de que tal como demonstrado no plano individual, as desigualdades de renda ou produto no plano regional também são influenciadas diretamente pelas instabilidades monetárias e financeiras.
11�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
respectivamente). Desconsiderando-se o District of Columbia, que possui pouco mais de 500
mil habitantes (cerca de um quinto menor que o DF brasileiro), a relação entre a Unidade da
Federação mais (Delaware) e a menos aquinhoada, em 2004, é de 2,5 vezes; um cenário de rela-
tiva homogeneidade, produzido num contexto de riqueza elevada, que atesta os fortes laços
de solidariedade federativa e integração territorial alcançados naquele país. A coesão nacional
foi arduamente defendida em vários momentos da história norte-americana de construção de
uma sociedade de massas, uma grande novidade política e sociológica do século XX e maior
legado do país à humanidade. As desigualdades foram ali enfrentadas diretamente, com todo
o peso dos vultosos recursos públicos mobilizados naquele país.6
Na União Européia, as desigualdades entre países situam-se próximas aos padrões norte-
americanos para os quinze membros da virada do milênio, mas ampliam-se consideravelmente
quando incluídos os dez novos membros oriundos do Leste europeu.
Na União Européia dos 15, as informações disponíveis para o ano de 2002 dão conta de uma
diferença de níveis de PIB por habitante de 2,7 vezes entre os países (Luxemburgo no extremo
superior e Grécia no inferior) e de 5,4 vezes entre as regiões Nut 2 (Inner London, a região
central de Londres, e Guyane, a Guiana francesa na América do Sul). Se considerarmos o alarga-
mento recente com a inclusão de dez novos países, a chamada Europa dos 25, esses números se
transformam, respectivamente, entre países e regiões Nut 2, para 5,4 vezes (entre Luxemburgo
e a Letônia) e 9,9 vezes (entre Inner London e Lubelski, região da Polônia).7 Esses números são
amenizados no âmbito nacional ao se desconsiderar Luxemburgo, um pequeno país abastado
de 444 mil habitantes em 2002. Sem Luxemburgo, a mesma relação para a Europa dos 25 situa-
se em 3,4 vezes entre a Irlanda e a Letônia.8
As desigualdades regionais na União Européia, considerados os atuais 25 países acrescidos
dos dois novos candidatos a membros, Romênia e Bulgária – cujo ingresso efetivo está previsto
para 2007 –, tornam-se próximas às observadas para o Brasil.
No Brasil, tanto quanto no caso europeu, os níveis elevados de desigualdade regional cons-
tituem um obstáculo cada vez maior ao desenvolvimento do país. Aqui, a distância que separa
as Unidades da Federação com maiores e menores patamares de PIB por habitante é, de acordo
6 Ver Werner Baer (1999).7 Essa mesma relação alcançaria a 7,4 vezes entre países (Romênia) e elevados 15,8 vezes entre regiões Nut 2 (Nord-Est romeno),
se considerada a Europa dos 27, com Romênia e Bulgária.8 O caso da Irlanda é emblemático. Outrora um país de menor nível de desenvolvimento, a Irlanda foi, por um conjunto de razões,
das quais a mais importante foi a localização de plantas de corporações multinacionais motivadas por menores níveis relativos de tributação efetiva, guindada à condição de segundo maior PIB por habitante da União Européia. Os elevados níveis de PIB por habitante do país refletem, no entanto, a prática de preços de transferência no interior da contabilidade dessas empresas que distorcem os valores assinalados.
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
com o IBGE, de 7,2 vezes, em 2003.9 O Distrito Federal contava com cerca de R$ 16,9 mil por
habitante contra R$ 2,4 mil por habitante do Maranhão naquele ano.
Estimativas dos PIB municipais realizadas pelo IBGE para o ano de 2002 mostram, para
mesorregiões, uma distância de 28,9 vezes entre o PIB per capita mais baixo, o da meso-região
Gurupi maranhense, e o mais elevado, a do Nordeste Fluminense, naquele ano.
Num contexto de acelerado crescimento, as possibilidades de transformação do quadro de
desigualdades sociais e regionais são, em princípio, mais amplas. A redução das desigualdades
num quadro de estagnação tende a gerar tensões sociais e políticas que, normalmente, difi-
cultam o processo de mudança social. Nessa direção, um problema que, desde outro ângulo
de visão, singulariza o período contemporâneo do desenvolvimento brasileiro é o da falta de
dinamismo da economia, reflexo de uma condução de política econômica que sempre impõe
freios à aceleração do crescimento em nome do controle da inflação e da manutenção de um
ambiente macroeconômico de estabilidade e segurança para os detentores de ativos.
Os dados são eloqüentes a respeito. A taxa de crescimento média do Brasil nos últimos anos
tem sido suficiente apenas para permitir uma incorporação mínima dos novos contingentes
populacionais agregados no mesmo período. Entre 1990 e 2003, ou seja, entre 14 anos, a varia-
ção real acumulada do PIB por habitante foi de tão somente 10,0% no conjunto do país. Já em
1997, porém, mais que isso havia sido alcançado (taxa acumulada de 10,2%), demonstrando o
quanto se “patinou” no Brasil, nos últimos anos, em termos de crescimento econômico.
Esse quadro de estagnação ganha realce quanto se olha sob perspectivas territoriais mais
finas. Surgem regiões de grande dinamismo dentre as de menor expressão relativa no conjunto
do país e regiões em processo declínio econômico, que apresentam taxas negativas de cresci-
mento nesse período. Em particular, as regiões de maior densidade econômica, como as capitais
de estado, têm apresentado baixas taxas de crescimento, acompanhando o desempenho mais
moderado da indústria. Tal mosaico de situações tem duas implicações principais: i) de um lado,
reitera a necessidade de um planejamento mais detalhado das ações potenciais de desenvol-
vimento, conforme a condição específica de cada fração territorial considerada; e ii) de outro,
aponta para o desafio de atuar antecipadamente na construção de uma melhor ordenação no
território, contribuindo para isso a análise e o escrutínio dos projetos de infra-estrutura eco-
nômica e a preparação e disseminação de um conjunto de ações de base, principalmente na
dimensão das políticas sociais, em especial no campo da educação.
Não sem motivo, a Política Regional européia, a mais desenvolvida do planeta, vê-se agora
diante de novo e maior desafio. Na União Européia, a configuração da Política Regional vem
9 A relação teria declinado de 8,8 vezes em 2000 (entre o DF e o Maranhão), para 8,7 vezes em 2001 e 8,4 vezes em 2002, tudo levando a crer que 2003 constitua um ponto ligeiramente fora da curva normal. Cf. IBGE (2005).
11�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
sendo objeto de intenso debate neste momento justamente pelo eterno contraponto entre
objetivos relacionados à eqüidade e à eficiência.10 Uma firme política de redução das desigual-
dades reclama uma trajetória mínima de crescimento, sob pena de não conseguir sobreviver em
meio às pressões sociais derivadas dos conflitos distributivos.
4. O problema das desigualdades sociais versus as desigualdades regionais
As desigualdades regionais no Brasil constituem um desafio inequívoco para as políticas públi-
cas. Elas espelham, sob outro ângulo, a presença de agudas diferenças sociais entre indivíduos,
grupos e classes sociais; uma herança histórica que impõe a adoção de estratégias de desenvol-
vimento peculiares, específicas para o caso do país.
O Brasil possui uma característica singular, que intriga qualquer analista social. Não há no
mundo outro país de nível de renda e qualidade de vida assemelhada que apresente tamanhas
desigualdades. Na estatística dos Relatórios Anuais do Banco Mundial ou em publicações aná-
logas de outros organismos internacionais, apenas alguns poucos países africanos de baixos
níveis de renda per capita têm cifras equiparáveis.
O índice de Gini, em 2004, alcançava no Brasil a marca de 0,59, o que evidencia má distri-
buição da renda (BIRD, 2005). Os 10% mais ricos detinham um nível médio de renda que era
16,25 vezes superior à dos 10%mais pobres. Apenas países como o Haiti, Botswana, Leshoto ou
República Centro-Africana apresentavam índices e valores ligeiramente superiores aos do Brasil,
respectivamente 0,68, 0,63, 0,63 e 0,61.
O fato novo é que parece estar ficando cada vez mais demonstrado pela literatura contem-
porânea que a desigualdade não é mero sinônimo de pobreza, mas resulta de uma dialética
específica entre a evolução da condição de ricos e de pobres, pois ambos têm uma dinâmica
profundamente entrelaçada.11
10 Ver Sapir et al. (2003), An Agenda for a growing Europe. O “Relatório Sapir” sobre as políticas da UE foi feito a pedido do Presi-dente Romano Prodi. (http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf ). Um contraponto crítico ao Relatório, feito pelos especialistas da Política Regional, está em Eurada (2006) (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/document/futur/organ/eurada_sapir_en.pdf ).
11 Ver, por exemplo, Relatório social recente publicado pela ONU (2005), intitulado “Inequality Predicament”. Já em seu prefácio o Documento realça a importância de se levar em conta, de maneira explícita, a questão das desigualdades, em contraposição com as usuais políticas voltadas exclusivamente para a pobreza: “Ignorar a desigualdade na busca do desenvolvimento é perigoso. Focar exclusivamente o crescimento econômico e a geração de renda como estratégia de desenvolvimento não é efetivo, uma vez que leva à acumulação de riqueza por uns poucos e aprofunda a pobreza de muitos; uma tal abordagem não habilita à
11�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A situação brasileira de país de média renda e elevada desigualdade constitui um quase
mistério socioeconômico diante da invejável trajetória de crescimento que ao longo de quase
todo o século passado foi empurrando frações cada vez maiores da população para fora dos
níveis críticos de pobreza, beneficiando afortunados e mantendo outros excluídos dos frutos do
desenvolvimento capitalista. Na raiz dos dilemas de desenvolvimento do país estão, assim, gra-
ves desproporções que impedem que os benefícios do crescimento se alastrem por uma camada
mais ampla da população. O crescimento circunscrito a uma fração diminuta da população no
Brasil tem sido causa de uma sucessão de surtos localizados de evolução econômica e de uma
incapacidade de sustentar uma trajetória robusta de desenvolvimento.
As desigualdades regionais estão à vista de todos. Constituem a expressão de uma anomalia
do sistema, cuja dinâmica tende recorrentemente a alimentar. E tendem a frustrar, sistemati-
camente, boas oportunidades de desenvolvimento que se observam na diversa e rica realidade
regional brasileira.
Como bem assinalou Fajnzylber,12 crescimento com eqüidade foi uma combinação ausente
do desenvolvimento da América Latina no século XX. No Brasil essa evolução não foi diferente.
Os gastos e investimentos no continente frustraram-se a cada ciclo econômico no que respeita
ao seu poder de alterar as estruturas de produção e consumo do capitalismo mitigado daqui.
O impacto vigoroso inicial parecia ter menor poder de sustentação no tempo, perdendo-se o
essencial das possibilidades de mudança social. Se o crescimento não foi uma impossibilidade
– como inclusive não o é hoje – seu poder de transformar a realidade socioeconômica de nossos
países era – e ainda é – minorado pelos estrangulamentos que as desigualdades produzem e
reproduzem a todo instante.
Então, o que justifica esses níveis de desigualdades? Algumas hipóteses iniciais para explicar
o fenômeno brasileiro são conhecidas: a escravidão abolida tardiamente; a má divisão con-
gênita da terra; a pequena tradição cooperativa e comunitária; os padrões insatisfatórios de
educação e saúde da população; a pouca criatividade autóctone produtiva – fato contrastado,
porém, por inegável capacidade assimilativa –; entre outras. Várias dessas questões reclamam
esforços nada triviais de política pública e estão sendo enfrentadas com maior decisão no
contexto democrático do momento atual da sociedade brasileira. As políticas, em parte, vêm
sendo aperfeiçoadas pela pressão popular e a dinâmica associada das eleições. Mas também
superação da transmissão intergeracional da pobreza. (...) É crucial que as políticas e programas voltados à redução da pobreza incluam estratégias socioeconômicas de redução das desigualdades”. ONU (2005). Na mesma direção, estudos recentes realizados sob a liderança do Prof. Marcelo Medeiros no Ipea priorizam a análise das características socioeconômicas dos estratos mais ricos da população e apontam para as mesmas conclusões.
12 Ver FAJNZyLBER, F. La Industrialización Trunca de América Latina. Buenos Aires, Siap/Planteos, 1985.
11�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
têm evoluído tecnicamente, pela incorporação de inovações institucionais e organizacionais
que vão reduzindo custos operacionais e ampliando a eficácia do uso dos recursos públicos. No
campo das políticas sociais, essa evolução tem sido mais visível. Noutros, como o das políticas
ativas de desenvolvimento, as melhorias têm caminhado de forma mais lenta.
A dimensão social básica da desigualdade ganha relevo noutra que se tornou quase tão
importante: a regional. As desigualdades no Brasil continental possuem uma expressão ter-
ritorial nítida, característica que diz respeito às trajetórias históricas de desenvolvimento das
diversas regiões e corrobora tendências e leis imanentes que regem a sociedade.
A dimensão regional da desigualdade, esse outro olhar sobre o fenômeno das desigualdades
sociais que recorta frações territoriais do todo nacional para então contrastar as diferenças
existentes, sugere outra forma de intervenção. As desigualdades sociais apropriadas territo-
rialmente refletem, no geral, dotações de recursos – infra-estrutura, equipamentos públicos,
instituições, capacitações etc. – distintas entre as regiões, para além dos problemas específicos
que emanam das desigualdades sociais em si mesmas. A dimensão regional das desigualda-
des se afasta da esfera propriamente social, cujo foco primordial e objeto são os indivíduos,
reclamando, ao contrário, esforços que se projetam sobre o objetivo de transformação das
estruturas socioprodutivas correspondentes. O problema do desenvolvimento regional, tradi-
cionalmente, passa a ser, assim, o de como instilar dinâmica de desenvolvimento às diversas
regiões e o de regular essa evolução em favor de um equilíbrio sensato entre as diversas fra-
ções territoriais do país.
Certas regiões concentram o mais decisivo dos impulsos econômicos enquanto outras per-
manecem afastadas deles. Áreas muito preservadas e pouco ocupadas ou em longo processo
de estagnação ou declínio econômico tendem a conviver com menores patamares de renda e,
no geral, possuem menor densidade econômica, caracterizando-se como receptoras líquidas
de recursos, especialmente de origem pública. Áreas com estruturas produtivas complexas,
com maior urbanização e maiores níveis de riqueza e renda apresentam-se como potenciais
fornecedoras de recursos para as demais, contando com melhores dotações de infra-estrutura
e maior acesso aos bens e serviços.
A própria riqueza de certas regiões e a pobreza de outras não constituem necessariamente
fenômenos independentes, mas são resultado de múltiplos vetores que intervêm e se reforçam
mutuamente. As áreas pobres tendem a ser pobres porque têm menos recursos e vice-versa,
numa cadeia que limita o espraiamento de padrões econômicos e níveis de qualidade de vida.
Esse “círculo virtuoso da pobreza”, como denominado pela brilhante análise de Myrdal há meio
século atrás, está na raiz dos problemas regionais de desenvolvimento das sociedades capitalistas,
120
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
a exigir uma mediação do Estado na ordenação dos interesses e lógicas privadas que se referem à
alocação de recursos e, sobretudo, aos investimentos. Políticas de desenvolvimento regional têm
essa finalidade primária, a de contribuir para manter a coesão territorial dos países e para reduzir
desníveis acentuados e indesejados de renda e qualidade de vida entre seus cidadãos.
5. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e seus avanços
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional apresentada nesse governo teve, desde o início,
preocupação explícita com os objetivos de redução das desigualdades regionais. Mas antes de
apresentar um balanço sintético do que foi possível evoluir na implantação da Política Nacional
de Desenvolvimento Regional no país, cabe relembrar aqui alguns dos seus aspectos centrais.
5.1 Características principais da proposta da PNDR
A PNDR13 tem por objetivo principal a redução das desigualdades regionais e o apoio ao
desenvolvimento das regiões brasileiras, na busca de melhor exploração dos potenciais que
emergem da exuberante diversidade cultural, social e econômica do nosso país. A PNDR
nasce como uma Política Nacional, que cobre todo o território, e como uma política
abrangente de governo, que não é apenas de um único ministério.14 Contempla múl-
13 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva foi apresentada pela primeira vez pelo Ministro Ciro Gomes, em dezembro de 2003. Suas linhas principais foram esboçadas durante o segundo semestre daquele ano, na seqüência do modelo de desenvolvimento adotado no Plano Plurianual, o PPA 2004-2007, liderado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A PNDR já nasceu, assim, em meio aos intensos debates fundadores do Governo, desde suas opções na economia – que alguns supunham meramente iniciais – até os esforços devotados à construção de uma forte ação no campo das políticas sociais, prenunciado pelo lançamento do Programa Fome Zero. Antecederam-na, na mesma direção, o Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial que tratou da recriação da Sudene – refletindo uma decisão do Pre-sidente Lula de antes da posse – e o Plano Amazônia Sustentável – outra decisão presidencial dos primeiros meses de Governo, tomada junto com os governadores da região Norte, numa viagem ao Estado do Acre. Em junho de 2004, a PNDR foi avalizada pelos 21 ministros que integram a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, no ato solene de instalação. Em setembro do mesmo ano, obteve seu mais elevado aval: foi chancelada pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-mento Econômico e Social (CDES), em reunião presidida pelo Presidente da República. A PNDR foi bem acolhida pelo Presidente e Conselheiros, como atestam as manifestações de apoio recebidas, tanto nos debates que sucederam à apresentação, como nas mensagens posteriormente enviadas ao Ministério da Integração Nacional. O Conselho chegou a aprovar uma moção formal de apoio à instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional previsto no Projeto de Emenda Constitucional da Reforma Tributária, com vistas a defender o adequado financiamento da PNDR. A proposta de instituição do Fundo foi desfigurada nos entendimentos havidos na tramitação da matéria no Congresso Nacional e sua discussão não evoluiu até o momento.
14 Essa orientação da PNDR está consolidada nas opiniões dos especialistas da questão regional. Ver, por exemplo, Diniz e Crocco (2006).
121
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
tiplas escalas geográficas, para melhor acomodar sua agenda de ações voltadas essen-
cialmente à dinamização econômica e ao apoio à organização socioprodutiva das regiões.
E prevê, ainda, a articulação das ações federais com as dos demais entes da Federação, criando
um espaço promissor para que possa prosperar a cooperação federativa.
O mapa das desigualdades regionais no território nacional, contemplando a expressão sin-
gela dos principais fenômenos associados à questão regional, regula a abordagem de enfren-
tamento do problema. A PNDR parte de uma tipologia de micro-regiões que mede, objetiva-
mente, a dimensão relativa do problema afeto a cada unidade territorial. Sugere um início de
diálogo com a questão regional, seja no que respeita à desigualdade entre as regiões mais e
menos aquinhoadas – por meio do indicador renda domiciliar por habitante – seja entre os que
estão mais ou menos dinâmicos na trilha da transformação socioeconômica – a partir da taxa
geométrica de crescimento do PIB da unidade na última década.
Porém, as estratégias de desenvolvimento para as regiões em que o problema é mais agudo,
como no Norte ou no Nordeste do país, ainda se definem, verão que parece, à escala macro-
regional. Num país de dimensões continentais e desigualdades físico-territoriais e socioeco-
nômicas gigantescas, que dificultam a convergência entre os projetos de desenvolvimento, é
importante organizar as estratégias abrangentes nesta dimensão. A distância real que separa
Brasília dos vários compartimentos territoriais do país torna necessária a colaboração de equi-
pes designadas para construir a ponte entre os grupos sociais locais, governos subnacionais e
as decisões mais centralizadas de política pública.
A PNDR defende a criação de agências regionais de desenvolvimento, como a Sudene, a
Sudam e a Sudeco, para mediarem essa relação entre o governo federal e as regiões-alvo prin-
cipais da Política. As agências devem operar na formulação de estratégias e na articulação das
respectivas agendas operacionais de ação a escalas maiores, meso ou micro-regionais, na pro-
moção da capacitação técnica e mobilização dos agentes, bem como na preparação dos meios
adequados para que essas iniciativas tenham conseqüência real.
As iniciativas operacionais, no entanto, devem preferencialmente materializar-se à escala
mesorregional, a que melhor se adequa aos objetivos da Política e à agenda de ações. Há dois
ganhos importantes e inovadores: de um lado, o envolvimento decisivo dos atores na base do
território; de outro, melhores condições de conveniamento entre os entes federados, com a
solidarização do apoio a essas iniciativas. A expectativa é a de que a organização das ações
em torno a programas mesorregionais altere sensivelmente a qualidade das respostas que se
podem obter com as ações de desenvolvimento regional.
122
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Na PNDR, prevalece uma divisão de tarefas e missões institucionais que permitem dialogar
com os olhares que as várias políticas dedicam ao território. A agenda ideal de iniciativas vol-
tadas ao apoio ao desenvolvimento regional, por exemplo, é complementada, “acima”, pelas
ações voltadas à infra-estrutura de grande envergadura, que tem poder de ordenar o desen-
volvimento no território, ou “abaixo”, pelas ações que se atrelam aos objetivos sociais de um
amplo espectro de políticas que se orientam diretamente para os indivíduos. No campo da
infra-estrutura, a PNDR defende investimentos que propiciem a melhor dotação das regiões
hoje praticamente excluídas de seus benefícios. Nas áreas de política social, a mesma PNDR
dedica maior atenção às regiões nas quais os problemas sociais possuem maior expressão rela-
tiva na população.
Quanto aos instrumentos financeiros da PNDR, o principal problema não é a falta de recursos para
o apoio ao setor privado, mas a ausência de mecanismos de suporte às iniciativas de caráter público.
O crédito ao setor privado até mesmo se ressente de investimentos públicos complementares
capazes de revalorizá-los.
Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste – FNO, FNE e
FCO – constituem a mais barata fonte de crédito do país para uma ampla gama de empreende-
dores privados. Podem ainda ser coadjuvados pelos Fundos de Desenvolvimento do Nordeste e o
da Amazônia – FDNE e FDA –, instituídos quando da criação das atuais Agências – Adene e ADA
–, em 2001; fundos que até hoje não operaram. Podem contar também com algum apoio indire-
tos dos clássicos mecanismos de redução de tributos ou mesmo recursos “em final de vida”, como
os incentivos fiscais associados a empreendimentos ainda ativos do Finor, Finam ou Funres.
Porém, nenhum desses mecanismos é capaz de, isoladamente, tornar viáveis empreendi-
mentos de grande significado para o desenvolvimento regional, como obras de infra-estrutura
do porte de projetos como a Integração da Bacia do São Francisco às Bacias do Nordeste Seten-
trional, a Ferrovia Transnordestina ou a Pavimentação da Rodovia BR-163 (Cuiabá–Santarém).
O reconhecido impacto positivo dessas obras para o desenvolvimento regional brasileiro tem
estimulado a busca de alternativas de financiamento que vão desde a alocação de recursos
orçamentários ordinários até a construção de engenharias financeiras que possam tornar viá-
veis a indispensável contribuição da iniciativa privada.
Em suma, faltam recursos para investimentos públicos, ainda que haja certa disponibilidade
para o apoio aos investimentos privados. Daí a importância da instituição de um Fundo Nacional
de Desenvolvimento Regional capaz de dar sustentação a um ciclo de investimentos prioritários
para o desenvolvimento regional do país. O FNDR nasceu de um debate que, incrustado na Pro-
posta de Emenda Constitucional da Reforma Tributária, permitia antever uma possível trajetória
123
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
de revalorização do espaço das políticas regionais no país, ao lado da proposta de criação das
Agências de Desenvolvimento Regional.
5.2 Breve balanço da implementação da PNDR
Que avanços podem ser assinalados desde a proposição inicial da PNDR? Sem desconsiderar o
fato de que a PNDR é relativamente recente, propõe-se concentrar a presente exposição em três
principais, fazendo contraponto com a apresentação anterior dos aspectos centrais da PNDR.
Em primeiro lugar, do mapa original da tipologia construído no início dos debates evoluiu-
se para uma versão que incorpora avanços metodológicos importantes (ver mapa 1).
Mapa 1 – Política Nacional de Desenvolvimento Regional PNDR – Mapa da TipologiaTipologias sub-regionais níveis de renda versus níveis de variação do PIB 1991/2001
Fontes: Rendimento Domiciliar Médio/Hab (R$ constante de 2000) (IBGE); PIB Municipal Médio Trienal 1990/1992 (IPEA-R$ cons-tante de 2002; PIB Municipal Médio Trienal 2000/2002 (IBGE-R$ constante de 2002); Cesta Básica Média 2000 (DIEESE).
Elaboração: Gerência de Informação e Monitoramento/DPR/SDR/MI.
124
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
O mapa novo apresenta as mesmas variáveis originais, agora com a adoção do critério de
paridade do poder de compra tanto para a renda domiciliar por habitante (foram utilizadas
as Cestas Básicas do Dieese, calculadas para 16 capitais e estendidas para outros estados
por proximidade – média anual dos meses do ano de 2000), como para os valores dos PIB
das unidades micro-regionais utilizados no cálculo de sua taxa geométrica de crescimento
(consideraram-se, no caso, os deflatores implícitos dos produtos por estado e grandes setores
como oficialmente disponibilizados pelo IBGE). Além disso, a dinâmica dos PIB micro-regionais
agora incorpora médias móveis trienais nas pontas da série considerada, que cobre um período
de dez anos compreendido entre 1990, 1991 e 1992 (estimativas realizadas pelo Ipea) e 2000,
2001 e 2002 (conforme dados do IBGE). Daqui por diante, o IBGE assegura a existência de
estatísticas permanentes compatíveis com o sistema de contas nacionais e regionais, que serão
produzidas anualmente.
Por fim, nos cinco estados que apresentam os maiores tamanhos médios municipais do
país, todos na região Norte, essa unidade territorial foi adotada como referência da tipologia,
mantida a coerência microrregional da distribuição das variáveis. As distribuições consideradas
constituem mero resultado da aplicação de um critério automático de divisão dos valores em
sextis, a partir do uso de uma ferramenta clássica de análise e estatística espacial.
A comparação entre as posições relativas das micro-regiões tornou-se mais robusta e signi-
ficativa e, assim, a consideração objetiva dos problemas regionais brasileiros, cristalizados nas
estimativas mais recentes disponíveis em cada momento.
Como resultado do esforço, obtiveram-se alguns ganhos efetivos no uso da tipologia como
referência para ações de desenvolvimento regional. Os limites de financiamento estabeleci-
dos na programação dos Fundos Constitucionais devem agora respeitar a lógica associada à
tipologia microrregional da PNDR. Porém, de forma ainda mais significativa, o BNDES modifi-
cou sua visão regional, que destacava as macro-regiões Norte (Amazônia Integrada), Nordeste
(Nordeste Competitivo) e Centro-Oeste e a metade sul do Rio Grande do Sul como de maior
prioridade, e adotou um critério que se referencia ao novo mapa da Política apresentado ante-
riormente. O BNDES concede agora, com algumas variações, desconto nas taxas cobradas de
empreendimentos conforme a localização em unidades territoriais classificadas nos tipos prio-
rizados pela PNDR.
O segundo registro refere-se aos Programas Regionais. O papel exercido pelo Grupo de Tra-
balho Interministerial de Programas Regionais da Câmara de Políticas de Integração Nacional
e Desenvolvimento Regional propiciou a construção de uma agenda de ações de fomento a
19 territórios selecionados que geraram compromissos do governo federal da ordem de R$ 2,5
12�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
bilhões em 2005. O GT Interministerial é composto por 23 ministérios e secretarias especiais
que participam de esforço inovador de coordenação de ações transversais em sub-regiões con-
sideradas prioritárias, inaugurando um novo processo de intervenção territorial até então iné-
dito na esfera federal.
Foram priorizados, em 2005, cinco Mesorregiões Diferenciadas (Alto Solimões, Chapada do
Araripe, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Grande Fronteira do Mercosul e Metade Sul do Rio
Grande do Sul), nove sub-regiões do Semi-Árido nordestino (Brumado-Bom Jesus da Lapa-Gua-
nambi – BA; Médio e Baixo Jaguaribe – CE; Santana do Ipanema – AL; São Raimundo Nonato
– PI; Sergipana do Sertão do São Francisco – SE; Serra Geral (Janaúba) – MG; Sertão do Moxotó
– PE; Sousa-Piancó – PB e Vale do Açu – RN) e cinco cidades-gêmeas, no âmbito do Programa
Faixa de Fronteira (Dionísio Cerqueira e Barracão/Bernardo de Irigoyen; Ponta Porã/Pedro Juan
Caballero; Santana do Livramento/Rivera; Uruguaiana/Paso de los Libres; Tabatinga/Letícia,
como pode ser visto no mapa 2, a seguir.
Mapa 2 – Programas mesorregionais e áreas prioritárias da PNDR
Fonte: SPR/MI.
12�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
As iniciativas foram agrupadas em quatro blocos de ações e atividades distintos:
1. dinamização econômica, com destaque para a estruturação de arranjos produtivos
locais;
2. infra-estrutura econômica, com ênfase na realização de pequenas obras de transporte de
inegável impacto local;
3. infra-estrutura social, onde se sobressaem obras de infra-estrutura hídrica (abasteci-
mento de água, construção de açudes, cisternas etc.); e
4. organização social e institucional, destacando ações de fortalecimento das estruturas
de coordenação e organização social dos territórios selecionados.
A iniciativa do GTI de Programas Regionais da Câmara não só propiciou um processo ino-
vador de articulação de ações governamentais no território, mas também estabeleceu as bases
financeiras e políticas para a integração dos atores regionais em torno da agenda programática
comum atinente às unidades territoriais consideradas prioritárias na PNDR.
Em 2006, além da atualização de tais compromissos e da prestação de contas dessas ini-
ciativas, prevê-se nova rodada de definição de prioridades, cuja evolução natural aponta para
um maior planejamento das ações, ampliando a coerência dos programas, e a ampliação das
sub-regiões consideradas estratégicas para os objetivos de redução das desigualdades regionais
e ativação de potenciais de desenvolvimento das regiões.
Em terceiro e último lugar, cabe registrar o avanço decidido das operações de crédito dos
Fundos Constitucionais de Financiamento, especialmente no caso da região Nordeste.
Gráfico 1 – Fundos Constitucionais FNO, FNE e FCO – Contratações totais por período/ano
Fonte: DFD/SDR/MI.
Obs.: (*) Valores estimados.
12�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
Os recursos para a realização de empreendimentos produtivos de diversos tamanhos fluíram
com desenvoltura ao longo dos dois primeiros anos do Governo Lula, superando interdições
inaceitáveis nas aplicações herdadas de anos anteriores e priorizando públicos antes mal aten-
didos nos programas dos bancos regionais administradores. Os recursos totais desembolsados
pelos Fundos Constitucionais de Financiamento saltaram de R$ 2,5 bilhões, em 2002 (menos
que os fluxos seguros anuais determinados pela Constituição Federal), para R$ 5,7 bilhões em
2004, cifra esta que, como indicam as estimativas preliminares, deve ser superada em 2005.
Estima-se que, em 2005, tenham sido aplicados cerca de R$ 6,9 bilhões, que equivalem, em
termos nominais, a cerca de 30% do total desembolsado ao longo dos treze anos anteriores de
existência do instrumento. Considerados os três anos do Governo Lula, foram desembolsados
mais de 75% do registro histórico dos Fundos. Em 2004, foram aplicados mais que o dobro dos
recursos efetivamente concedidos em 2002, último ano do governo anterior.
Essa evolução foi particularmente expressiva no Nordeste. As aplicações do FNE decuplica-
ram, passando de cerca de R$ 250,0 milhões, em 2002, para mais de R$ 3.200,0 milhões, em
2004, e, estima-se, R$ 4,2 bilhões, em 2005. Essa evolução decorreu de grande e reconhecido
esforço do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que ampliou o espectro de beneficiários e pre-
ocupou-se, desde o ano de 2003, em alcançar segmentos antes desassistidos, particularmente
no setor rural.
Na região Norte, as aplicações mais que dobraram, saindo de pouco mais de R$ 600,0
milhões para R$ 1.321,0 milhões, em 2004, alcançando valor equivalente em 2005. O Basa teve
excelente desempenho nas aplicações nos primeiros anos do atual governo Lula.
Tabela 1 – Fundos Constitucionais de Financiamento – FNO, FNE e FCO(Contratações totais por fundo – 2002 a 2005)
(R$ milhões)
FundoAno
FCO FNE FNO Total Incremento %
2002 1.439 254 605 2.298 2003/2002 = 31,2
2003 920 1.019 1.075 3.014 2004/2003 = 89,2
2004 1.172 3.209 1.321 5.702 2005/2004 = 21,0
2005 (*) 1.400 4.200 1.300 6.900 2005/2002 = 200,3
Valores nominais.
(*) Estimativa 2005.
12�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Apenas na região Centro-Oeste os volumes de aplicação de recursos não tiveram evolução
tão marcada, refletindo, entre outros fatores, a trajetória de redução dos preços internacionais
dos grãos. Porém, cabe considerar que o ano de 2002, com seus R$ 1.439,3 milhões aplicados,
foi excepcional para a região, assim destoando da série histórica observada. Tanto assim, que o
Ministério da Integração Nacional, estimulado pelo resultado expressivo de 2002, buscou com-
plementar o FCO com aportes adicionais do FAT, arcando com a diferença de custo de captação
desses recursos.
O refluxo recente das aplicações não decorreu de falta de recursos, mas, provavelmente, da
quebra de expectativas, pelo lado da demanda. No entanto, esse quadro evolutivo deve estar
sendo revertido em 2005, conforme assinalam as estimativas finais para o desempenho do
FCO.
5.3 Algumas questões para uma análise inicial dos desafios da PNDR
O quadro de evolução da PNDR foi, em linhas gerais, positivo. Alguns dos principais marcos da
Política conseguiram institucionalizar-se, estruturando-se como referência importante para
a ação governamental. Os Programas Mesorregionais lograram ampliar seu apelo junto aos
demais ministérios e aos governos estaduais, apesar das dificuldades orçamentárias. O mapa de
referência da PNDR foi sendo adotado como um bom critério de orientação das políticas que
se vêem às voltas com questões regionais. O crédito ao setor privado nas macrorregiões prio-
ritárias deu mostras de que há demanda nessas áreas e, quando organizados os referenciais de
política, os projetos aparecem nos balcões das instituições de fomento e financiamento.
Pode-se afirmar que a PNDR conquistou reconhecimento no âmbito das políticas públicas
federais como um conjunto potencial de critérios, estratégias e ações consistentes no que
respeita à superação das desigualdades no país, embora não tenha sido dotada de recursos e
instrumentos compatíveis com a dimensão efetiva de sua tarefa.
Alguns desafios propostos não foram sequer tangenciados. A boa recepção dos princípios
gerais da PNDR não logrou ultrapassar os limites que se antepõem a sua adoção prática como
uma política de governo, como originalmente proposto. Alguns diálogos essenciais para isso
não puderam acontecer diante da fragilidade dos instrumentos de ação mobilizados pela PNDR.
Faltaram componentes essenciais da Política.
Tais lacunas derivaram de três frentes principais de obstáculos ao avanço da Política: i) os
originados da falta de articulação com o planejamento e, por meio deste, com as demais polí-
12�
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
ticas de governo, inclusive considerando-se as relações com outras instâncias da federação;
ii) os associados à institucionalização das novas agências de desenvolvimento regional, cujos
Projetos de Lei não foram aprovados no Congresso Nacional após quase três anos de tramita-
ção; e iii) os oriundos do relativo fracasso na criação e reformulação dos instrumentos, uma vez
que, em especial, a discussão do FNDR não evoluiu, frustrando o que deveria vir a ser a principal
fonte de financiamento ao desenvolvimento regional no país. Esses três elementos essenciais da
proposta reduziram muito o alcance e efetividade da PNDR.
Um cotejamento entre os princípios e orientações gerais da PNDR e os objetivos e diretri-
zes estratégicos da Agenda Nacional de Desenvolvimento, tais como propostos pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), realça pontos de convergência da
Política com os anseios daquele expressivo corpo de representantes da Nação. Para citar um
dentre outros possíveis exemplos de afinidade, a primeira diretriz da Agenda sugere a decisão
de “adotar a eqüidade como o critério a presidir toda e qualquer decisão dos poderes públicos
(...)”. Ou seja, sugere que a ação pública considere, antes de tudo, o enfrentamento das desi-
gualdades em todas as decisões.
O reconhecimento do papel integrador e distributivo que cabe à infra-estrutura também
parece idêntico ao defendido pela Política Regional. No caso dos transportes, a diretriz “definir
uma política nacional integrada de transportes assente na multimodalidade, na integração
regional/nacional/sul-americana, na exploração de vantagens/dotações regionais, objetivando
a melhoria das condições de vida da população, a redução das desigualdades sociais e regionais
e o aumento da competitividade sistêmica da economia brasileira” possui aderência total aos
propósitos da PNDR.
Outra diretriz, a de “conceber as estruturas organizacionais pertinentes, destacando um
núcleo de coordenação geral em cada nível de governo e os instrumentos de ação política
adequados ao funcionamento do Estado como ente protagônico do desenvolvimento”, insinua
conexão direta ao esforço de institucionalização dos Programas das Mesorregiões Diferen-
ciadas do Ministério da Integração Nacional, nos quais a sociedade local e os três níveis de
governo cooperam na condução de agendas previamente consensadas entre eles. As progra-
mações resultantes do GT Interministerial de Programas Regionais da Câmara de Políticas de
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional parecem dirigir-se à mesma finalidade, refor-
çando o alcance dessa mudança comportamental decisiva no papel do Estado.
Esses e outros pontos de aderência entre a Agenda Nacional de Desenvolvimento e a PNDR
realçam como as orientações desta última influenciaram o debate político recente, ecoando
percepções que são cada vez mais incorporadas às prioridades nacionais.
Há, deve-se reconhecer, controvérsia sobre a melhor forma de organizar as ações no território.15
A opção inicial da PNDR por uma agenda de ações mais focada na dinamização econômica e
com melhor aderência às finalidades da redução das desigualdades está sendo confrontada
com a opção de uma agenda holística, voltada para todos os campos da política pública, cujas
implicações em termos de legitimidade política, objetividade de propósitos e condições de
gestão são muito diversas. Uma agenda plural afasta-se dos pressupostos da política de desen-
volvimento regional quanto ao estabelecimento de um referencial comum objetivo para a
Política e deixa antever, ao contrário, um eventual retorno a objetivos difusos, difíceis de ser
satisfatoriamente acompanhados.
Por fim, cabe lembrar que, ao defenderem publicamente uma moção para a criação, nos
termos adequados, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, estavam os Senhores
Conselheiros do CDES afinados com o espírito da PNDR e de sua própria Agenda Nacional
de Desenvolvimento. Isso reflete uma evolução cada vez mais favorável das forças políticas
organizadas do país em prol de uma reorientação da política pública que tenda a favorecer um
enfrentamento direto das desigualdades. Por essa via, deve-se estar otimistas quanto ao futuro
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
15 Ver, por exemplo, Brandão, Costa e Alves (2006).
131
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
Referências
AFFONSO, R. A federação na encruzilhada em rumos. Os caminhos do Brasil em Debate, Ano 1, n. 2. Co-
missão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil. São Paulo: Brazil
Now Ltda., mar./abr.1999.
ARAÚJO, T. B. de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro. Heranças e urgências. Recife: Revan
(2000).
_______. O Brasil precisa de governo. Neoliberalismo aqui não resolve. (entrevista concedida à Agência
Brasil). 21 out. 2003.
BAER W. The role of State in United States regional development. Revista Econômica do Nordeste, v. 30,
n. 2, Fortaleza, BNB, abr./jun. 1999.
BANDEIRA P. S. Mesorregiões como escalas para políticas regionais. Articulação de atores e gestão ter-
ritorial Economia regional e urbana. Contribuições teóricas recentes. Belo Horizonte: Editora da UFMG,
2006.
BOISIER S. El difícil arte de hacer región. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Bartolomé de Las Casas,
1992.
BRANDÃO, C. A.; COSTA, E. J. M.; A. M. A. Construir o espaço supra-local de articulação sócio-produtiva
e das estratégias de desenvolvimento. Economia regional e urbana. Contribuições teóricas recentes. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
CANO, W. Reflexões sobre o Brasil e a nova (des)ordem internacional. Campinas, São Paulo: Fapesp/Uni-
camp, 1995.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 1. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1999.
DINIZ, C. C.; CROCCO, M. “Introdução – bases teóricas e instrumentais da economia regional e urbana
e sua aplicabilidade ao Brasil: uma breve reflexão. Economia regional e urbana. Contribuições teóricas
recentes. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
DUNFORD, M. Theorising regional economic performance and the changing territorial division of la-
bour. Brighton, abr. 2002. (mimeo).
132
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
FAZJNZyLBER, F. La industrialización trunca de América Latina. Buenos Aires: Siap/Planteos, 1985.
FERREIRA, H. V. da C; MOREIRA, M. Programas de mesorregiões diferenciadas: subsídios à discussão sobre
a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR. Brasília: MI, 2006. (mimeo).
FIORI, J. L. De volta à questão da riqueza de algumas nações. In: FIORI, J. L. (Org.). Estados e moedas no
desenvolvimento das nações. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
FURTADO, C. Operação nordeste. Rio de Janeiro. ISEB, 1959.
_______. A pré-revolução brasileira. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura Econômica, 1962.
_______. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
_______. O Brasil pós-milagre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
_______. A fantasia desfeita. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
_______. O capitalismo global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999a.
_______. A federação por fazer, em rumos. Os caminhos do Brasil em Debate, Ano 1, n. 2. Comissão
Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil. São Paulo: Brazil Now
Ltda, mar./abr. 1999b.
GALVÃO A. C. F. Alguns comentários sobre a experiência brasileira de política regional. In: FERRAZ,
B.PACHECO, R. (Org.). A política regional na era da globalização. São Paulo: Fundação Korad Adenauer
Stiftung e Ipea, 1996.
_______. Política de desenvolvimento regional e inovação. A experiência européia. Rio de Janeiro: Ga-
ramond, 2004.
GALVÃO, A. C. F.; BRANDÃO, C. A. e Fundamentos, motivações e limitações da proposta dos Eixos Na-
cionais de Desenvolvimento e Integração. Regiões e cidades e cidades nas regiões. O desafio urbano-
regional. São Paulo: Edunesp, 2003.
GALVÃO, A. C. F.; VASCONCELLOS, R. R. Política regional à escala sub-regional: uma tipologia territorial
como base para um fundo de apoio ao desenvolvimento regional. Brasília: Ipea, ago. 1999 (Texto para
Discussão, n. 665)..
133
A Política Brasileira de Desenvolvimento Regional e o ordenamento territorial
GONÇALVES, M. F.; BRANDÃO, C. A.; GALVÃO, A. C. F. Regiões e cidades e cidades nas regiões. O desafio
urbano-regional. São Paulo: Edunesp, 2003.
LEMOS, M. B. Desenvolvimento econômico e regionalização do território. Economia regional e urbana.
Contribuições teóricas recentes. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Política nacional de desenvolvimento regional. Brasília: MI,
2003.
_______. Plano Amazônia sustentável. Brasília, 2003. (mimeo).
_______. Plano estratégico de desenvolvimento sustentável do semi-árido. Versão para discussão. Bra-
sília: Documentos de Base da PNDR n. 1, 2005.
MONTEIRO FILHO, A. GALVÃO, A. C. F.; PEREIRA, T. Desigualdades regionais do Brasil. Brasília, 2006.
(mimeo).
OLIVEIRA, F. de. A federação desfigurada, em rumos. Os caminhos do Brasil em debate, Ano 1, n. 2. Co-
missão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil. São Paulo: Brazil
Now Ltda, mar./abr. 1999.
VELTZ, P. Mundialización, ciudades y territorios. La economia de archipiélago. Barcelona: Ariel S.A.
1999.
13�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDRHenrique Villa da Costa Ferreira
Marcelo Moreira
Programas demesorregiões diferenciadas:
subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
1. Introdução
O presente texto pretende oferecer subsídios para a discussão que envolve os chamados
“programas de mesorregiões diferenciadas1” e seu processo de institucionalização, uma
vez que os programas são considerados como instrumentos primordiais à implementação da
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).
Com a retomada do planejamento regional no país, representado pela proposição da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) em 2003, a estratégia de redução das desigual-
dades regionais e a ativação do potencial econômico em territórios selecionados ganharam
legitimidade e expressão de política de Estado.
Nesse contexto, a proposta de ação por meio das mesorregiões diferenciadas rompe com
um modelo de atuação regional baseado em padrões de intervenção macrorregionais, com
foco nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste principalmente, e com práticas de gestão que
nem sempre priorizavam aspectos como participação, organização social e empoderamento2
de atores regionais.
1 O termo “mesorregião diferenciada” surgiu como forma de diferenciar os territórios construídos na proposta dos programas regionais que surgiram no PPA 2000-2003 das mesorregiões apropriadas pela classificação regional instituída pelo IBGE.
2 Do termo em inglês “empowerment”, a expressão “empoderamento” diz respeito ao processo pelo qual as pessoas, as organi-zações, as comunidades assumem o controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu próprio destino, e tomam consciência de sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir seus interesses legítimos. Trata-se da conscientização sobre direitos e sobre como se pode exercê-los para operar melhoras nas condições de vida de uma pessoa ou comunidade, jogando luz sobre as relações de poder que as colocam em situação de pobreza ou exclusão (conforme definição da ActionAid Brasil, no livro Empoderamento e Direitos no Combate à Pobreza, informação obtida no site www.funcamp.unicamp.br).
13�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Ao estabelecer como uma das suas principais premissas a abordagem em múltiplas escalas
geográficas, a PNDR sugere que a escala preferencial de ação no território deva ser a sub-
regional, organizando e articulando iniciativas mesorregionais.
As mesorregiões diferenciadas são espaços territoriais menores que as macrorregiões, com
identidades definidas e com objetivos específicos voltados para a melhor identificação de poten-
cialidades e vulnerabilidades socioeconômicas, culturais, político-institucionais e ambientais
que propiciem a ação mais efetiva das políticas públicas.
É nesse contexto que a discussão ganha foco e gera expectativas concretas: de que os pro-
gramas com escala de ação sub-regional possam efetivamente contribuir para a redução das
inaceitáveis desigualdades regionais brasileiras. Por enquanto, tanto a forma quanto a estru-
tura atual dos programas limitam sua capacidade de responder às expectativas imputadas ao
que se considera um novo modelo de gestão regional, fundamentado na valorização das diver-
sidades regionais e na opção por ações integradas de políticas públicas com foco sub-regional
estabelecido a partir de critérios legítimos de escolha de territórios prioritários.
Os programas mesorregionais foram, inicialmente, incluídos no PPA 2000-2003 a partir
de treze espaços geográficos propostos pela então Secretaria Especial de Políticas Regionais
(Sepre), anteriormente ligada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO), uni-
dade que deu origem ao Ministério da Integração Nacional (MI), criado em 1999.
O presente texto lança olhar sobre o processo de implementação das chamadas mesorregiões
diferenciadas e para o modelo de gestão desses programas, que é considerado elemento dife-
rencial da proposta de desenvolvimento regional inserida na ação sub-regional. Trata-se de algo
como uma quebra de paradigma, ou como negação das práticas históricas do desenvolvimento
regional brasileiro, autoritário, imposto de cima para baixo (do governo central para as unida-
des federadas), sem participação dos atores regionais (amplamente dominado por interesses de
grupos majoritários detentores do poder local), e a partir de estratégias territoriais guiadas por
critérios de escolha nem sempre adequados ao contexto idealizado de intervenção.
13�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
2. Antecedentes
Em 1998, o documento denominado “Critérios Básicos para Caracterização de Mesorregiões
Diferenciadas”, produzido pela Secretaria Especial de Políticas Regionais (Sepre),3 apresentou o
Programa de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas, com
expectativa de contribuir para o “resgate de parte da dívida social que ainda constata-se em
certas áreas do Brasil”. O documento se referia ao objetivo geral do programa:
(...) elevação da qualidade de vida da população residente em 11 mesorregiões selecio-
nadas no território nacional por meio de instrumentos e recursos que assegurem ações
de desenvolvimento sustentável, especialmente, projetos de produção com geração
de emprego e renda, provisão de infra-estrutura produtiva e elevação das condições
sociais básicas.
Em 1999, o recém-criado Ministério da Integração Nacional (MI) já discutia com o MPO a
inclusão de treze e não onze programas de mesorregiões diferenciadas no PPA 2000-2003.
As circunstâncias da definição dos treze programas, bem como os critérios que estabeleceram
as prioridades territoriais na gênese, não são bem conhecidos. Há controvérsia sobre a origem
dos estudos que definiram as treze áreas prioritárias que se transformaram em treze programas
vinculados ao PPA 2000-2003, isto é, um programa para cada território selecionado. É fato
que a experiência in loco sinalizou ao Ministério que quanto maior a identidade (política, eco-
nômica, social, institucional, cultural, ambiental e geográfica) e o capital social nos territórios
selecionados, maior a possibilidade de êxito da iniciativa.
O que pode se afirmar, com convicção, é que apenas no segundo semestre do ano 2000 esses
programas tiveram algum tipo de desdobramento, e que as primeiras liberações de recursos
financeiros datam de meados de 2001.
Até 2002, os recursos destinados aos programas foram parcos, voltados, sobretudo, para a
estruturação do modelo de gestão que encerra a proposta de atuação sub-regional.
Em 2003, com a mudança de comando do governo federal, os 13 programas inclusos no
PPA do período 2000-2003 foram reduzidos a dois grandes programas, por ocasião da discus-
são que estabeleceu a proposta do novo PPA, referente ao período 2004-2007. Com isso foram
3 A Secretaria Especial de Políticas Regionais (Sepre) foi célula mater do atual Ministério da Integração Nacional (MI), criado em meados de 1999.
13�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
instituídos o Programa de Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (Promeso) e o Programa
de Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões (Promover).
Em última análise, as mudanças implementadas no PPA 2004-2007 não paralisaram a expe-
riência de implementação da proposta de ação mesorregional que rompeu com a tradicional
escala preferencial de intervenção regional no Brasil. Pelo contrário, as mudanças propostas
valorizaram os espaços mesorregionais, conferindo aos programas status de instrumentos prio-
ritários de ação do MI. O expressivo crescimento da alocação de recursos financeiros para
as mesorregiões no período 2003-2004 evidencia a prioridade concedida aos programas, não
bastasse a referência, explícita, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), da
escala mesorregional como preferencial da atuação regional.
3. A opção pela escala mesorregional na implementação de programas regionais
A PNDR inovou ao conceber como uma de suas premissas básicas a abordagem em múltiplas
escalas, estabelecendo a necessidade de diálogo entre territórios que compõem as diferentes
regiões brasileiras e valorizando a diversidade que caracteriza o território nacional.
Se no âmbito macrorregional prevalece um olhar estratégico do desenvolvimento regional,
onde se sinaliza para grandes apostas territoriais, para linhas de ação prioritárias e para novos
recortes territoriais de planejamento a escala mesorregional é predominantemente operacional.
A discussão sobre a viabilidade da “escala sub-regional” como orientadora de ações de base
territorial/regional não é fato recente. Em 1988, Becker já expressava sua convicção de que o
território estava de tal forma diferenciado que as macrorregiões objeto de políticas regionais
nas décadas de 1960 e 1970 não eram mais as unidades regionais representativas nem opera-
cionais do país. A autora afirmava ainda que os dados agregados nessas unidades não expres-
savam a nova realidade e que o país “continuava a pensar sobre um espaço que não existia
mais4”.
Dentre as primeiras referências sobre o assunto no âmbito do poder público ressalta-se um
documento de 1995, da Sepre, que já ensaiava uma nova forma de abordagem da questão regio-
nal no país. O texto defendia que
4 BECKER, B. Questões sobre tecnologia e gestão do território nacional. In: BECKER, B.; MIRANDA, M.; BARTHOLO Jr., R.; EGLER, C. (Orgs.). Tecnologia e gestão do território. Rio de Janeiro: UFRJ, 1988.
13�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
(...) as novas políticas regionais que viessem a ser adotadas no país deveriam consi-
derar a incorporação ao processo de planejamento de uma pesquisa aprofundada de
esquemas de regionalização, em função da qual as atuais macrorregiões do país – cuja
grande extensão geográfica e conseqüente heterogeneidade de características físicas e
econômicas não permite uma intervenção mais apropriada do Governo – seriam divi-
didas em sub-regiões, áreas-programa e áreas de desenvolvimento local, para as quais
pudessem ser definidos programas governamentais mais adequados às especificidades
de cada segmento do espaço regional.5
Em 1997, Guimarães Neto afirmava que a adoção de uma escala territorial mais adequada
como referência para políticas regionais permitiria que uma espécie de sintonia fina instituída
por interferência do poder público pudesse, em conjunto com a mobilização local, consolidar
ou despertar as potencialidades de cada sub-região.6
Ainda na mesma linha de pensamento, e com novos elementos de análise, Galvão e Vas-
concelos, em 1999, propunham um olhar para uma política regional que fosse estabelecida em
escala diferente daquela que tradicionalmente se condicionava às iniciativas de desenvolvi-
mento regional no país, por meio de uma nova tipologia regional de referência.7
No âmbito governamental, deve-se registrar o documento elaborado pela equipe da Sepre/
MPO, em 1998, que propunha critérios básicos para a caracterização de mesorregiões diferen-
ciadas, e em especial o capítulo 5 do referido texto, que aborda o “desenvolvimento sub-regional
e as perspectivas para o Brasil”. Os técnicos apontavam para alguns dos requisitos que hoje
estão presentes nas premissas dos programas de mesorregiões diferenciadas: descentralização,
participação social e organização dos atores na base do território, e argumentavam sobre a
importância de estabelecimento de “critérios socioeconômicos, demográficos e ambientais para
a identificação de espaços diferenciados” que deveriam “consistir no primeiro e principal passo
norteador para o estabelecimento de políticas regionais locais.”8 Inauguravam-se, desta forma,
os primeiros passos para a implementação de ação regional, com foco em sub-regiões prioritá-
rias, a partir de Programas de Promoção do Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Mesor-
regiões Diferenciadas, que foram incluídos, posteriormente, no PPA 2000-2003, num total de
treze (sob a forma de um programa para cada um dos treze espaços territoriais selecionados).
5 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. Indicações para uma nova estratégia de desenvolvimento regional. Brasília: MPO, 1995.
6 GUIMARÃES NETO, L. Desigualdades e políticas regionais no Brasil: caminhos e descaminhos. Revista de Planejamento e Políticas na União Européia, n. 15. Brasília: Ipea, jul. 1997.
7 GALVÃO, A C.; VASCONCELOS, R. Política regional à escala sub-regional: uma tipologia territorial como base para um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional. Brasília: Ipea, 1999 (Texto para Discussão n. 665).
8 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS REGIONAIS. Critérios básicos para a ca-racterização de mesorregiões diferenciadas. Brasília: MPO/SEPRE, 1998. (mimeo).
140
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Ainda no que se refere a definição de novas escalas de ação territorial, segundo Bandeira,
(...) a valorização de escalas menos abrangentes que as tradicionalmente adotadas
deve ser entendida como parte de um processo de ajuste das políticas regionais brasi-
leiras ao novo paradigma dominante na área – que passou a enfatizar a importância
da dinâmica interna das regiões – inclusive em termos políticos e sociais – como um
elemento determinante do seu potencial de desenvolvimento. A escala macrorregio-
nal, tradicionalmente utilizada como referência exclusiva do território para as ações
governamentais de desenvolvimento regional, ao implicar em territórios excessiva-
mente heterogêneos, dificulta uma adequada mobilização do potencial endógeno dos
territórios.
O autor afirma que contribuíram para o surgimento desse novo paradigma, “por um lado, o
interesse despertado pelo sucesso de algumas regiões, como os distritos industriais da Terceira
Itália e, por outro lado, a insatisfação com os resultados das políticas tradicionais de desenvol-
vimento regional, que vinham sendo adotadas desde o final da Segunda Guerra Mundial.”9
Por outro lado, Amin se refere a tais práticas como ações padronizadas com intuito de influir
na localização de empresas, baseadas em benesses fiscais e incentivos financeiros e com fortes
intervenções do Estado.10
De fato, a experiência mundial, de maneira geral, e a européia, em particular, serviram como
referência de base na opção pela escala mesorregional como prioritária à intervenção da ação
regional de governo. A União Européia utiliza como escala preferencial de atuação, de âmbito
sub-regional, as regiões denominadas de “NUTS”, utilizando-se das divisões administrativas dos
países-membros, e conformando recortes territoriais apropriados para intervenção da política
de desenvolvimento regional.
Com esse pano de fundo, o Ministério da Integração Nacional optou por institucionalizar as
mesorregiões diferenciadas como escala preferencial de atuação dos programas regionais sob
sua governança, a partir da decisão de refinar sua ação no território e estabelecer melhores
condições de intervenção regional. A escala mesorregional é a mais recomendada para a trans-
formação das práticas de desenvolvimento regional no país, propiciando melhores condições
de internalização das novas tendências de desenvolvimento regional, conforme ensinamen-
tos das experiências mundiais bem-sucedidas. Atributos como participação, controle social,
9 BANDEIRA, P. As mesorregiões no contexto da nova política federal de desenvolvimento regional: considerações sobre aspectos institucionais e organizacionais. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2004. (mimeo).
10 AMIN, A. An Institucionalist perspective on regional economic development. Seminário do Grupo de Pesquisa de Geografia Econômica da University College London. Londres, 1998. Disponível em: <http//:www.econgeog.org.uk/pdfs/amin.pdf>.
141
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
“empoderamento” e coordenação de iniciativas na base dos territórios selecionados a partir
da organização de atores regionais são magnificados em espaços onde prevalecem identidades
econômicas, sociais, culturais, ambientais, político-institucionais e históricas.
Nesse contexto de “pertencimento” e de identidade regional é que se estabelecem as mesor-
regiões diferenciadas. A experiência adotada diferencia-se das demais práticas de intervenções
governamentais não apenas pela redução da escala de intervenção regional, mas pelo con-
ceito de organização que as acompanha e pela opção territorial que se estabelece a partir da
tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. É neste contexto que a referida
tipologia sintetiza as diferenças e as desigualdades territoriais que indicam prioridades e dão
novo significado às ações de desenvolvimento regional.
4. A proposta de atuação à escala sub-regional: a organização como fator primordial dos programas de mesorregiões diferenciadas
A opção por uma nova escala preferencial de ação no território, conforme proposta estabe-
lecida no âmbito dos programas mesorregionais, deve, necessariamente, ser acompanhada de
aparatos socioinstitucionais que estabeleçam os chamados “sistemas de gestão mesorregio-
nais”.
Segundo Lustosa,11 é fundamental que se proponham novos desenhos e novos arranjos
institucionais para o federalismo brasileiro, a fim de melhorar a cooperação e a integração
entre os três níveis de governo na promoção do desenvolvimento regional. Prossegue o autor,
em sua digressão sobre a importância do papel da governança para a redução das desigual-
dades regionais, afirmando que “o desenvolvimento regional embora deva ser promovido em
bases autônomas, não pode prescindir de parcerias e alianças estratégicas com as comunidades
contíguas, com outras instâncias de governo que se sobreponham em nível hierárquico e com
regiões inseridas no mesmo espaço econômico”. Complementa seu raciocínio afirmando que
“essa racionalidade é constantemente negligenciada no sistema federativo brasileiro” e que o
“exemplo mais evidente é a busca de desenvolvimento regional através da oferta de subsídios
aos investidores potenciais mediante renúncias fiscais” (na direção do que afirma Amin, sobre
11 LUSTOSA da COSTA, F. Governança e desigualdades regionais. Curso de atualização em desenvolvimento regional sustentável para gerentes e subgerentes de mesorregiões. Brasília: CIDS/FGV & SPRI/MI, 2002. (mimeo).
142
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
as “políticas tradicionais de desenvolvimento regional, que vinham sendo adotadas desde o
final da Segunda Guerra Mundial”, isto é, ações padronizadas com intuito de influir na localiza-
ção de empresas, baseadas em benesses fiscais e incentivos financeiros, e com forte intervenção
do Estado).
Sobre a mesma temática, mas com visão ideológica diferenciada, em texto sobre os princí-
pios teóricos de metodologia de capacitação coletiva de pequenas comunidades, Morais afirma
que a inexistência de estruturas organizativas obstaculiza a marcha de programas de desenvol-
vimento e que sem organização não se consegue estruturar “módulos” de participação social
de maneira adequada12.
Parece consensual que a falta de organização social, de participação coletiva e de respon-
sabilidade social de atores sociais legítimos no território é obstáculo a qualquer iniciativa de
desenvolvimento, inclusive regional. Por essa razão, a base conceitual da proposta de atuação
por meio de mesorregiões diferenciadas se ancora no pré-requisito de estabelecimento do
chamado “sistema de gestão mesorregional”. Sem essa estrutura institucional, as iniciativas de
ação das mesorregiões são meras ações de intervenção regional em territórios mais restritos,
priorizados de alguma forma por algum critério, e com escala menor (ou maior, como ensinam
os geógrafos). Isso significa dizer que os programas de mesorregiões não se diferenciam da ação
tradicional de desenvolvimento regional apenas pela escala própria de atuação, mas, sobre-
tudo, pela proposta de participação de atores sociais, de integração e coordenação de ações no
território e de empoderamento da base sub-regional.
O sistema de gestão mesorregional é composto, em geral, por instâncias de coordenação e
execução, utilizando-se, para tal, de instrumentos que conformam um novo modelo de desen-
volvimento regional no Brasil.
Na instância de coordenação destaca-se a figura institucional do fórum de desenvolvimento
mesorregional, unidade de representação e articulação de atores regionais. Os fóruns assumem
papel de construção de relações institucionais para fins pré-estabelecidos a partir da interação
de diferentes entidades com objetivos diversos, mas unidas pela identidade territorial constitu-
ída.
Ainda no âmbito do processo de coordenação, na categoria de instrumento, deve-se regis-
trar o papel que exercem os planos de ação mesorregional, os sistemas de informação mesor-
regional e os portais de difusão da informação que articulam e interligam os atores regionais
numa plataforma comum de troca de informações e de dados que aproximam e integram as
12 MORAIS, C. S. de. Princípios teóricos da capacitação massiva para a participação social: considerações teóricas. In: CARMEN, R.; SOBRADO, M. (Ed.). Um futuro para os excluídos: criação de empregos e geração de renda pelos pobres. Porto Velho: IATTERMUND, 2002.
143
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
entidades associadas. Os planos são os instrumentos que conferem direção e prioridade ao
conjunto de demandas que sobressaem da agenda de interesses da mesorregião, cabendo a eles
a mediação do conjunto de interesses individuais dos atores e instâncias que se organizam no
território selecionado.
A instância de execução dos programas de mesorregiões diferenciadas é conduzida pelas
agências mesorregionais de desenvolvimento, que se constituem como entidades operadoras
das estratégias e diretrizes que emanam dos fóruns mesorregionais.
As agências são instâncias executivas dos fóruns e devem coordenar, acompanhar e avaliar
os projetos e ações de desenvolvimento regional, em especial os indicados pelos planos mesor-
regionais e referendados pelos fóruns. Quando não capacitadas para a execução direta de
projetos de interesse das mesorregiões, seguindo orientação dos fóruns regionais, as agências
devem ter capacidade de acompanhar e avaliar o conjunto das ações e atividades implementa-
das no território, em especial aquelas de governança direta do programa mesorregional.
A composição da agência deve estar desvinculada de qualquer das estruturas organiza-
cionais ou entidades participantes do fórum mesorregional – é importante que a missão da
agência seja determinada pelo conjunto dos atores sociais que compõem o Fórum e que seja
patrocinada pelo interesse conjunto dessas instituições, mas nunca confundida ou diretamente
relacionada com nenhuma delas. As experiências atuais apontam para a solução denominada
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) como solução plausível de razão
social das agências de desenvolvimento mesorregional, mas pela inovação que tais arranjos
representam não se deve descartar outras opções de natureza diferenciada.
É importante ressalvar que os novos territórios mesorregionais que estão em processo de
seleção se consolidem a partir de critérios mais sólidos de localização espacial, ancorados na
tipologia proposta pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), por meio de
referências territoriais que até então não se tinham disponíveis. Se, por um lado, é fato que
intervenções territoriais são escolhas políticas, por outro, é mister considerar que tais escolhas
podem se tornar menos frágeis e menos questionáveis se alicerçadas em parâmetros e critérios
universais que melhor tipifiquem diferenças territoriais e especifiquem opções mais coerentes
com o objeto da política que se quer implementar.
144
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
5. Critérios de escolha das mesorregiões: a gênese do processo e os novos critérios emanados da PNDR
No processo de identificação de mesorregiões diferenciadas, iniciado no fim da década de
1990 pela extinta Sepre/MPO, a literatura disponível indica que procurou-se, num primeiro
momento, identificar espaços subnacionais contínuos que extrapolassem territórios de um ou
mais estados da Federação ou que estivessem localizados em áreas de fronteira com países
vizinhos que fossem caracterizadas por problemas referentes à gestão da faixa de fronteira
brasileira. Nestas duas conformações de subespaços político-institucionais, o principal objetivo
vinculado às opções territoriais efetuadas foi a busca de ação territorial mais efetiva e coor-
denada do poder público, no sentido de garantir a promoção de atividades que objetivassem a
consolidação do desenvolvimento regional sustentável.
Os critérios adotados para a escolha das mesorregiões priorizaram, também, a reestrutu-
ração e a ordenação do processo de expansão da base econômica local, a fim de permitir a
melhoria da competitividade num ambiente caracterizado por forte influência da globalização.
Em alguns casos, a questão da soberania nacional também foi utilizada como critério, visto
que se faz necessária a presença do Estado brasileiro em territórios considerados estratégicos,
a exemplo daqueles localizados nas áreas de fronteira.
5.1 A escolha territorial na gênese
Foram identificadas, inicialmente, 13 sub-espaços denominados de mesorregiões diferenciadas
(Anexo, Mapa 1). Cada uma dessas mesorregiões possuía um conjunto de características comuns:
ambientais, históricas, econômicas, sociais, culturais e político-institucionais, que proporciona-
ram sua constituição. Estão relacionadas a seguir cada uma das 13 mesorregiões criadas à época,
bem como a indicação dos principais parâmetros formadores da identidade mesorregional:
• Mesorregião Alto Solimões: sub-região pertencente apenas ao Estado do Amazonas e
composta por nove municípios. Possui como principais características definidoras de
identidade os aspectos ambiental e econômico, este último relacionado à agricultura
e ao extrativismo vegetal e pesqueiro. É fortemente influenciada pelo rio Solimões, seu
principal elemento de conexão e acessibilidade.
14�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
• Mesorregião Vale do Rio Acre: espaço territorial que compreende os Estados do Amazo-
nas e Acre, totalizando treze municípios. Possui como principal característica definidora
de identidade o aspecto econômico, com a produção agrícola voltada para produção de
produtos alimentares básicos e o extrativismo vegetal, concentrado na produção de bor-
racha e coleta de castanha do Pará. Cabe ressaltar que a porção amazonense foi inserida
na mesorregião em decorrência do grau de articulação econômica que esta possui com
a capital do Acre, superior à interação com a sua própria capital, Manaus.
• Mesorregião do Bico do Papagaio: sub-região que compreende parte dos Estados do
Pará, Tocantins e Maranhão, composta por 76 municípios. A existência de assentamentos
de reforma agrária é um dos principais elementos da mesorregião. Economicamente é
caracterizada pela presença de produção agropecuária e extração vegetal e mineral, com
baixos níveis de agregação tecnológica.
• Mesorregião Chapada das Mangabeiras: espaço territorial que compreende os Estados da
Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, totalizando 63 municípios. Em termos econômicos,
caracteriza-se pela existência de atividades ligadas ao setor agropecuário, com destaque
para produção de milho, mandioca, arroz e soja. Esta última vem sendo objeto de rápida
expansão em grandes áreas da mesorregião.
• Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul: sub-região que compreende parte dos
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, composta por 415 municípios.
A mesorregião possui uma identidade histórica forjada pela chegada dos imigrantes à
região Sul e também por sua inserção na bacia hidrográfica do rio Uruguai. Não obs-
tante, são as semelhanças físicas e socioeconômicas os principais elementos utilizados
para criação da mesorregião;
• Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul: sub-região pertencente apenas ao Estado
do Rio Grande do Sul e composta por 103 municípios. Apresenta elementos socioeconô-
micos materializados no uso dos campos, da atividade pecuária extensiva e na produção
de arroz em áreas irrigadas nas várzeas como principais elementos definidores de iden-
tidades no território.
• Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba: situada na confluência das regiões Sul
e Sudeste, principais pólos de desenvolvimento do país, entre os Estados de São Paulo e
Paraná, a mesorregião está encravada numa das áreas mais ricas e ameaçadas do país:
o território remanescente da Mata Atlântica no sul. Seu principal elemento estrutura-
dor é a bacia hidrográfica do Ribeira do Iguape. Sua principal característica é a riqueza
ambiental, com a presença de diversos parques e estações ecológicas.
14�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• Mesorregião de Águas Emendadas: espaço territorial que compreende os Estados de
Goiás e Minas Gerais, totalizando 99 municípios. Sua constituição deveu-se à preocupa-
ção básica de promoção da sustentabilidade do desenvolvimento numa região de con-
fluência de três grandes bacias hidrográficas: Amazonas, Paraná e São Francisco.
• Mesorregião Bacia do Itabapoana: constituída por 18 municípios pertencentes aos Esta-
dos do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Economicamente é caracterizada
pelas culturas do café e pela agroindústria açucareira, ambas, ultimamente, em forte
declínio.
• Mesorregião Vale do Jequitinhonha/Mucuri: sub-região que compreende parte dos Esta-
dos do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia e composta por 101 municípios. A mesorre-
gião é caracterizada por sérias restrições socioeconômicas da população e por problemas
relacionados às questões ambientais e climáticas.
• Mesorregião do Xingó: constituída por 79 municípios, abrange os Estados da Bahia, Ser-
gipe, Pernambuco e Alagoas. Em toda sua extensão predomina o clima característico do
semi-árido, com vegetação de caatinga e superfícies aplainadas. A mesorregião é carac-
terizada pela existência de diversas usinas hidrelétricas (Itaparica, Paulo Afonso, Xingó e
Piranhas). No entanto, apesar deste potencial, as UHEs não contribuíram para a melhoria
das condições de vida da população local, sobretudo a de baixa renda.
• Mesorregião Chapada do Araripe: espaço territorial que compreende os Estados do Ceará,
Pernambuco e Piauí, totalizando 88 municípios. É um território caracterizado pela exis-
tência de uma estrutura fundiária marcada pela presença de pequenas e grandes unida-
des de produção e pelo consórcio pecuária extensiva – algodão – policultura de produtos
alimentares.
• Mesorregião Zona da Mata Canavieira Nordestina: constituída pela faixa subcosteira
compreendida entre o litoral oriental e a zona do agreste, abrangendo os Estados do
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, totalizando 220 municí-
pios. Território com alta densidade demográfica e que reúne boa parte do PIB da região
Nordeste, mas que reproduz internamente as severas desigualdades intra-regionais que
tornam o Brasil um dos países mais desiguais do mundo (o PIB de Recife representa cerca
de ¼ do PIB de toda a mesorregião, segundo dados do Censo 2000).
14�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
5.2 Os “espaços herdados” em face dos novos critérios de escolha territorial
A tipologia regional da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que propõe recorte
territorial a partir de microrregiões geográficas, utilizando-se de cruzamento das variáveis de
rendimento domiciliar médio por habitante e variação média anual do PIB per capita, estabe-
lece quatro tipos de classificações do território brasileiro (ver Mapa 2): espaços enquadrados
como de alta renda, espaços dinâmicos de menor renda, estagnados de média renda e, por fim,
espaços classificados como de baixa renda (com pouco ou nenhum dinamismo).
Via de regra, as microrregiões de alta renda, concentradas no Sudeste e no Sul do país e
observadas em alguns pontos específicos nas demais macrorregiões brasileiras (capitais esta-
duais, por exemplo), não se constituem como prioridade maior da PNDR, pois contam com alto
nível de infra-estrutura e elevado grau de organização da base produtiva, além de outros pré-
requisitos que lhes conferem vantagens competitivas inigualáveis no território nacional.
Na outra extremidade, as regiões de baixa renda se concentram no Semi-Árido Nordestino
e na região Norte do país, principalmente na Amazônia Ocidental, constituindo espaços com
desafios complexos para a organização de iniciativas que possam romper com o status quo
de pobreza e exclusão social e econômica que predomina nesses territórios. Ações de desen-
volvimento regional nesses casos devem prever iniciativas de inclusão social e de geração ou
resgate da cidadania, pré-requisitos básicos a qualquer intervenção que privilegie a ativação
de potencial de desenvolvimento em escala sub-regional. As áreas classificadas como de baixa
renda são prioritárias para os programas regionais, mas devem ser entendidas no âmbito da
complexidade que as caracterizam, uma vez que deve-se contextualizar a questão da pobreza
como fenômeno restritivo à ação, clássica, de intervenção regional.
Por sua vez, os territórios classificados como dinâmicos de menor renda são próprios do
Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. São áreas apropriadas para a ação induzida de desen-
volvimento regional, uma vez que, se o Brasil apresentou um baixo crescimento econômico no
período sob análise, essas regiões registraram taxas anuais médias de crescimento do PIB da
ordem de 4%.
Da mesma forma, as regiões relacionadas à tipologia da PNDR como estagnadas de média
renda se caracterizam como territórios propícios à intervenção da política regional, uma vez
que se apresentam como áreas que experimentaram períodos de relativo crescimento no pas-
sado e, atualmente, sofrem com a decadência de sua estrutura produtiva. Tais espaços estão
14�
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
dispersos em todo o território nacional e necessitam de estímulos diferenciados, visto que as
causas e os efeitos do processo de estagnação não são os mesmos no tempo e no espaço.
A tipologia da PNDR direciona as novas escolhas territoriais que estão sendo arbitradas e
ajusta a intervenção sub-regional que ora se implementa nos programas mesorregionais herda-
dos. Significa dizer que os territórios foco da ação dos programas regionais são regulados pela
referida tipologia. A título de exemplo, nas mesorregiões em que espaços de alta renda são pre-
ponderantes predomina a orientação de se evitar alocação de recursos nas microrregiões já privi-
legiadas com vantagens competitivas adquiridas. Desigualdades intrarregionais são tão maléficas
ao processo de desenvolvimento regional equilibrado que se deseja quanto as interregionais.
É importante recordar, por fim, que a opção do Ministério da Integração Nacional pelo
desenvolvimento integrado e sustentável de mesorregiões diferenciadas se estabeleceu em vir-
tude da necessidade de se optar por uma base territorial mais adequada para o tratamento da
questão regional no país. Com essa abordagem pretendeu-se realizar intervenções em áreas
menores a partir de critérios mais coerentes de escolhas territoriais. O estabelecimento desses
critérios é a maior contribuição da PNDR aos programas regionais em andamento
6. Os programas regionais em foco: as ações priorizadas e os desafios à frente
À época de sua criação, os programas mesorregionais estabeleciam como prioridades:
a) criação de fóruns mesorregionais, responsáveis pela articulação institucional entre as
diversas esferas de governo e da sociedade civil, bem como pela identificação de propos-
tas de ação para o desenvolvimento territorial;
b) elaboração de planos estratégicos mesorregionais de desenvolvimento, com caráter par-
ticipativo, envolvendo instituições públicas e privadas, bem como sociedade civil organi-
zada;
c) capacitação de recursos humanos para a gestão do desenvolvimento mesorregional;
d) promoção e articulação de ações de infra-estrutura básica, bem como aquelas voltadas
ao suporte de atividades econômicas no território; e
e) implementação de ações de apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas relevantes
para cada mesorregião.
14�
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
6.1 O caminho percorrido pelos programas de mesorregiões diferenciadas
As mesorregiões diferenciadas percorreram caminhos próprios desde quando instituídas. Ape-
sar do marco comum que possuíam, lastreadas nas cinco grandes ações, alguns territórios se
desenvolveram de forma mais contundente que outros.
Nesse sentido, destaca-se:
a) elaboração de planos de desenvolvimento mesorregional, sobretudo nas mesorregiões
do centro-sul do país (metade sul do Rio Grande do Sul, Grande Fronteira do Mercosul e
Vale do Jequitinhonha/Mucuri) – estes se configuram como peças fundamentais para a
orientação de políticas públicas nos diferentes níveis de governo;
b) a implantação de Fóruns de Desenvolvimento Mesorregional (Metade Sul do Rio Grande
do Sul, Grande Fronteira do Mercosul, Bacia do Itabapoana, Chapada do Araripe, Vale
do Jequitinhonha/Mucuri, Alto Solimões e Xingó) com a participação de atores do setor
público (governos federal, estadual e municipal), da iniciativa privada, da sociedade civil
organizada, das universidades e de parlamentares;
c) a capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada para a gestão do
desenvolvimento regional sustentável;
d) a organização e capacitação de associações e cooperativas de pequenos e médios empre-
endedores; e
e) o apoio, com recursos governamentais de custeio e capital, de projetos visando ao
desenvolvimento socioeconômico das mesorregiões, utilizando-se como instrumento
de intervenção os Arranjos Produtivos Locais eleitos pelos atores mesorregionais orga-
nizados.
A programação de governo no período 2004-2007 (PPA) transformou os treze programas
mesorregionais vigentes em dois grandes programas de âmbito nacional: o Promeso e o
Promover.
6.2 O Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais (Promeso)
O Programa foi proposto com intuito de que:
• a atuação do governo federal se implementasse de forma integrada, em novas escalas
espaciais, preferencialmente em sub-regiões;
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
• as demandas e soluções à chamada problemática regional fossem identificadas com a
participação efetiva da sociedade civil que, para tanto, deveria estar organizada e legiti-
mamente representada; e
• as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional formulada pelo Ministé-
rio da Integração Nacional fossem plenamente observadas na implementação da ação
regional, buscando-se um processo consistente e permanente de redução das desigual-
dades inter e intra-regionais no país, temática recorrente e considerada prioritária para
o governo.
A importância da intervenção em espaços sub-regionais para a economia nacional e, prin-
cipalmente, regional é relevante pela necessidade de interiorizar o processo de crescimento da
economia nacional, no intuito de inserir as populações locais no esforço de desenvolvimento
brasileiro.
O Promeso constituiu-se como prioridade no âmbito da Política Nacional de Desenvolvi-
mento Regional do Governo Federal pela sua complementaridade com outros programas/ações
de governo desenvolvidos no âmbito regional.
Em 2004, primeiro ano de efetiva atuação do programa, foram desenvolvidas atividades
nas seguintes mesorregiões diferenciadas: Alto Solimões, Vale do Rio Acre, Bico do Papagaio,
Chapada das Mangabeiras, Xingó, Chapada do Araripe, Águas Emendadas, Vales do Jequitinho-
nha e do Mucuri, Bacia do Rio Itabapoana, Vale do Ribeira/Guaraqueçaba, Grande Fronteira do
Mercosul e metade sul do Rio Grande do Sul.
Nessas mesorregiões, o Ministério da Integração Nacional desenvolveu um processo de
dinamização da base econômica por meio do apoio a 33 arranjos produtivos locais, que com-
preendem projetos nos seguintes setores econômicos: artesanato indígena e pescado no Alto
Solimões (AM); avicultura no Vale do Rio Acre (AM/AC); reflorestamento, fruticultura e apicul-
tura no Bico do Papagaio (PA/MA/TO); ovinocaprinocultura, apicultura e gesso na Chapada do
Araripe (PI/CE/PB/PE); piscicultura, fruticultura e ovinocaprinocultura em Xingó (PE/AL/SE/BA);
piscicultura, artesanato, turismo e mandioca em Águas Emendadas (MG/GO); gemas e jóias,
cachaça, apicultura, pesca e aqüicultura, madeiras e móveis e fruticultura no Vale do Jequiti-
nhonha e do Mucuri (MG/BA/ES); fruticultura na Bacia do Itabapoana (MG/RJ/ES); silvicultura,
maricultura e agroindústria no Vale do Ribeira/Guaraqueçaba (SP/PR), embutidos de suínos,
derivados de leite e móveis na Grande Fronteira do Mercosul (PR/SC/RS); e florestamento e
fruticultura na metade sul do Rio Grande do Sul (RS).
O processo de identificação e priorização desses setores econômicos ocorreu a partir de
sinalizações dos Fóruns de Desenvolvimento das Mesorregiões e com base no potencial regional
1�1
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
vigente, com foco no fortalecimento e reestruturação da base econômica local e de geração de
trabalho, emprego e renda.
Para sua implementação, além do esforço de integração das ações das várias unidades do
Ministério da Integração Nacional e de seus órgãos vinculados, foram estabelecidas parcerias
com os governos dos estados, municípios, instituições privadas ou paraestatais de renomada
competência técnica, além de organizações da sociedade civil.
A implementação do Promeso em 2004 envolveu a aplicação de recursos de custeio e capi-
tal voltados para ações de organização social, capacitação, fortalecimento do associativismo
e cooperativismo e apoio à dinamização econômica de Atividades Produtivas (APLs). Cerca de
R$ 10,5 milhões foram efetivamente alocados para desenvolvimento dos 33 APLs supracitados,
possibilitando ainda a capacitação de 3.195 agentes de desenvolvimento regional e o apoio a
37 associações ou cooperativas. Em todo o programa, incluindo gastos realizados pelos órgãos
vinculados, bem como emendas parlamentares, ocorreu uma execução orçamentária de cerca
de R$ 75,0 milhões em 2004 (inclusos os R$ 10,5 milhões anteriormente citados).
Em 2005, estavam em andamento projetos no valor total de cerca de R$ 16 milhões, visando
à capacitação de 4.440 agentes, a viabilização de 31 arranjos produtivos locais e o apoio a 75
instituições e associações e cooperativas, por meio dos seguintes projetos:
• Mesorregião do Alto Solimões: madeira e pescado;
• Mesorregião do Vale do Rio Acre: látex;
• Mesorregião do Bico do Papagaio: gemas e jóias; apicultura e babaçu;
• Mesorregião da Chapada do Araripe: ovinocaprinocultura, apicultura, pedra cariri e arte-
sanato;
• Mesorregião do Xingó: aqüicultura e fruticultura;
• Mesorregião da Chapada das Mangabeiras: cachaça, turismo, mandiocultura e hortifru-
ticultura;
• Mesorregião de Águas Emendadas: leite e derivados;
• Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e Mucuri: mandiocultura, fruticultura e pisci-
cultura;
• Mesorregião da Bacia do Itabapoana: apicultura, floricultura e fruticultura;
• Mesorregião do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba: móveis e turismo;
• Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul: vitivinicultura e piscicultura; e
• Mesorregião da metade sul do Rio Grande do Sul: gemas e jóias.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
6.3 O Programa de Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões (Promover)
A precariedade e fragilidade do processo de redução das desigualdades regionais no Brasil são
percebidas claramente quando se analisam indicadores de desenvolvimento e de disponibili-
dade de recursos humanos e/ou capital físico. Essa situação agrava-se em regiões pouco dinâ-
micas na medida em que foram reduzidas as barreiras comerciais, tanto no âmbito nacional
como internacional, para produtos oriundos de mercados externos.
No entanto, existem casos onde estão presentes, mesmo nas regiões menos dinâmicas, opor-
tunidades produtivas existentes ou potenciais que se identificadas e incentivadas podem se
constituir em elementos de desenvolvimento regional.
Nesse sentido, a função de mobilização de ações, de iniciativas e de recursos, com o apro-
veitamento das disponibilidades locais existentes, poderia revelar os seus condicionantes de
competitividade, os seus principais pontos de estrangulamento e, principalmente, as soluções
para os problemas identificados.
Dessa forma, evitando-se a sobreposição de iniciativas e ampliando-se as possibilidades de
parcerias existentes nas diversas experiências implementadas pela sociedade civil, voltadas para
a identificação e promoção de arranjos produtivos locais, foi criado o Promover.
Com característica comum aos novos programas regionais, o Promover está comprometido
com a orientação inalienável do novo paradigma do desenvolvimento regional. Nesse sentido,
o programa estabelece a necessidade de ações transversais nos territórios selecionados e a
inversão da equação de intervenção oficial em espaços pré-determinados, com orientação do
governo central e sem participação e compromisso regional/local.
O Promover está estruturado a partir de duas ações básicas: i) Capacitação de recursos
humanos em sub-regiões selecionadas, visando suprir demandas especializadas do mercado
de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial implantado sob a ótica da com-
petitividade; e ii) Apoio a Arranjos Produtivos Locais visando incrementar a competitividade
de empresas, de pequenos e médios empreendimentos, de associações produtivas e de outras
instituições correlatas, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de
novas oportunidades de mercado e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.
Com efetivo início em 2004, o programa foi orientado com vistas a implementação sob a
ótica de atuação em sub-regiões, privilegiando a vertente de estruturação e dinamização eco-
nômica e social desses espaços, com o devido fortalecimento da base social e institucional, e
seguindo critérios tais como desigualdade e dinamismo.
1�3
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
Sob esse aspecto, o Ministério da Integração Nacional atuou nesse período em mesorregi-
ões e em outros espaços territoriais no apoio a arranjos, sistemas, setores e cadeias produti-
vas, nas seguintes áreas: ovinocaprinocultura, piscicultura, artesanato indígena, gemas e jóias,
cachaça, apicultura, madeira-móveis, agrossilvicultura, agricultura familiar e florestamento,
entre outras.
No que diz respeito ao orçamento do programa em 2004, cerca de R$ 34 milhões foram
efetivamente utilizados no desenvolvimento de 60 projetos no APLs supracitados.
Foi prevista para 2005 a implementação de projetos no valor total de R$ 14,2 milhões,
visando à capacitação de 3 mil pessoas para suprir demandas especializadas do mercado de
trabalho e a viabilização de cerca 30 arranjos produtivos locais.
6.4 A “emancipação” dos territórios apoiados pelo MI (critérios de “entrada e saída” do Promeso e Promover)
Um dos desafios que se colocam à efetividade dos programas regionais é a contribuição que
eles podem oferecer à efetiva redução das desigualdades regionais brasileiras.
Se a escala preferencial de ação da PNDR é a mesorregional e se os programas regionais do
MI privilegiam arranjos territoriais denominados de Mesorregiões Diferenciadas, a avaliação de
desempenho da ação no território deve partir de um acompanhamento qualitativo e, sobre-
tudo, quantitativo das transformações ocorridas nos territórios selecionados.
A experiência de implementação dos programas de mesorregiões diferenciadas até aqui veri-
ficada, após cerca de quatro anos de efetiva ação governamental, aponta para bons resultados
em algumas iniciativas. Em outras, por razões diversas, os êxitos são parciais. Em um ou outro
caso as ilações são empíricas, fruto de observação no território, não se tendo registro, ainda, de
proposições sistemáticas de avaliação dos resultados da intervenção governamental até aqui.
Quanto ao engajamento de atores regionais ao novo paradigma de desenvolvimento regional
implementado, é importante ressaltar que o processo de sensibilização não se realiza de forma
homogênea e linear no território. A experiência dos primeiros anos dos programas aponta para
um fato significativo: o avanço na estruturação dos núcleos iniciais de organização dos atores,
denominados de “fóruns” mesorregionais, processo que envolve prazo e dinâmica próprios.
A experiência no campo indica que quanto mais organizados forem os atores locais, quanto
maior for o estoque de capital social no território, menos complexo é o processo de formatação
da “célula mater” do sistema mesorregional. Nos territórios com déficit de organização e de
capital social, a tarefa ganha complexidade e estabelece passos e dinâmica diferenciados.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
A experiência pretérita demonstra que esse período inicial de identificação, aproxi-
mação com os stakeholders regionais e montagem da estrutura de partida leva de três
a seis meses. Esse período pode ser reduzido se, paralelamente à atividade de sensibili-
zação do órgão governamental responsável pela coordenação da ação, houver a asses-
soria de instituição regional com conhecimento prévio e amplo do território, de seus
principais interlocutores, bem como do programa regional e de suas oportunidades.
A interlocução com os principais atores regionais, a credibilidade local e a “folha corrida”
de experiências com elementos voltados a iniciativas de organização local são pré-requisitos
importantes no processo inicial de consolidação de novos espaços territoriais de intervenção.
Vencida a etapa de estabelecimento da estrutura inicial da organização mesorregional –
identificação dos principais atores regionais e estabelecimento de estrutura inicial de organi-
zação destes atores (o fórum), o que se discute em seguida é o início da montagem do “sistema
mesorregional” ou do “modelo de gestão mesorregional” e a estratégia de ação no território.
Se o objetivo dos programas de mesorregiões diferenciadas é o de redução de desigualda-
des regionais, é certo que os instrumentos atuais disponíveis (organização de atores e apoio a
arranjos produtivos locais), por si só, são insuficientes para prover resultados efetivos de redu-
ção de padrões socioeconômicos que diferenciam cidadãos no território brasileiro.
Nesse sentido, algumas ações em andamento que vão além do disponível no cardápio dos
programas regionais podem oferecer opções interessantes. Deve-se ressaltar, por exemplo, a
contribuição do Grupo de Trabalho Interministerial de Programas (GTI) da Câmara de Políticas
de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Na lógica de que o desafio da redução
das insustentáveis desigualdades regionais brasileiras não compete apenas a um escaninho
de governo, mas ao conjunto da estrutura governamental, a prática do GTI de Programas da
Câmara aponta para uma ação coordenada de instituições governamentais em territórios sele-
cionados que amplia a inversão de recursos públicos aos territórios selecionados. Por ser ação
inovadora e sem precedentes no processo recente do desenvolvimento regional brasileiro, essa
iniciativa carece de leitura mais criteriosa, uma vez que os primeiros resultados ainda não
foram suficientemente avaliados.
Ainda assim, a estratégia de ação calcada na experiência atual dos programas mesorregio-
nais, que foca, sobretudo, ações de organização social e de dinamização econômica por meio
de apoio aos sistemas e arranjos produtivos locais, é parcial para a transformação que se deseja.
Falta, por exemplo, a incorporação de ações que possam privilegiar demandas mesorregionais
por obras de infra-estrutura de pequeno e médio porte, que geralmente se caracterizam como
1��
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
estruturantes à nova realidade econômica e social que se deseja construir, e que se encontram,
via de regra, listadas nos planos mesorregionais produzidos.
A realidade atual dos programas não prevê um período mínimo e máximo de acolhida da
ação programática no território selecionado, mas a experiência de campo já aponta para algu-
mas alternativas que podem ser levadas em consideração.
Inicialmente, considera-se que quatro anos, o período de uma gestão de governo, são sufi-
cientes para a criação, o amadurecimento e a consolidação do arranjo institucional que estrutura
a ação mesorregional no território. Com o apoio do governo federal e com garantia de dotações
orçamentárias para tal, é possível não só a consolidação do fórum e das entidades de suporte
ao arranjo institucional estabelecido, mas a elaboração do plano mesorregional e a montagem
do sistema de informação que vai estabelecer por meio de instrumento próprio a integração de
atores em torno da organização territorial. Paralelamente, ações de estímulo ao setor produtivo
regional por meio do apoio aos arranjos produtivos locais priorizados pela organização mesorre-
gional também podem gerar seus primeiros resultados nesse período.
A expectativa é que após cerca de oito anos, resultados mais consistentes da intervenção
dos atores organizados possam se verificar nos territórios selecionados, no que tange à trans-
formação da dinâmica econômica e social da região. Mais do que resultados obtidos exclusiva-
mente pelos aportes dos programas de desenvolvimento regional, a expectativa é de que apor-
tes significativos de outras fontes, oriundos de outras oportunidades de captação de recursos,
possam contribuir para a redução das desigualdades regionais que caracterizam os territórios
selecionados .
Após os primeiros oito anos de apoio sistemático do governo federal por meio dos progra-
mas, a expectativa é de que o poder público deixe de ser o animador da iniciativa e passe a
ser, apenas, mais um dos integrantes do fórum. Neste momento é fundamental que a estrutura
mesorregional esteja consolidada, pois cessam as garantias de fluxo de recursos para a inicia-
tiva por meio dos programas regionais. A compreensão, portanto, é que o arranjo não deve ser
mantido, indefinidamente, pelos programas, o que impediria a opção de atuação em novos
territórios selecionados, uma vez que os recursos disponíveis são finitos e não se multiplicam a
cada período de planejamento da programação governamental (a cada quadriênio).
O maior desafio a ser vencido nesse cenário é a continuidade programática numa reali-
dade político-institucional não acostumada a planejamento de médio e longo prazo. Mudanças
radicais de programação a cada quatro ou oito anos são, neste caso, ameaças ao alcance de
resultados esperados da intervenção regional. O pacto construído no âmbito dos territórios
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
selecionados deve estar suficientemente estável para evitar tentativas de descontinuidade do
processo que atenda a interesses ilegítimos ou de grupos sem compromissos com as mudanças
desejadas. O papel dos fóruns mesorregionais neste contexto é de fundamental importância,
tendo em vista seu caráter de instância suprema do acordo regional construído.
6.5 A instância máxima do arranjo institucional: o papel e o perfil dos fóruns mesorregionais
A figura institucional do fórum de desenvolvimento mesorregional, no contexto do que se
convencionou chamar de “sistema de gestão mesorregional”, é a instância máxima do arranjo
institucional que se estabelece no âmbito dos programas de mesorregiões diferenciadas.
Dentre as atribuições que cabem aos fóruns deve-se destacar o papel de instância de
articulação do conjunto de atores representativos do território, buscando orientar interesses
individuais para objetivos comuns. Bandeira, citando Brown, caracteriza tal processo como a
construção de pontes entre entidades com interesses distintos, “atuando como instrumen-
tos de integração entre essas organizações.”13 Os fóruns mesorregionais são, na definição de
Brown, bridging organizations14 ou “organizações-ponte”, na medida em que constroem rela-
ções institucionais com fins pré-estabelecidos a partir da interação de diferentes entidades
com os mais diversos objetivos, mas unidas pela identidade territorial constituída. O papel dos
fóruns é de “possibilitar que atores com perfis e interesses diversos cooperem no sentido de
formular e implementar soluções conjuntas para problemas complexos”.
Entre as mais significativas contribuições dos fóruns mesorregionais de desenvolvimento
está o papel de advocacy destas entidades, que Kinzo e Ferreira identificaram por ocasião das
primeiras avaliações ou das “lições aprendidas” na “primeira hora” de implementação dos pro-
gramas. Trata-se de ação intransigente de grupo de atores legítimos, representantes do conjunto
das forças sociais, econômicas e políticas do território, de defesa de uma proposta de desenvol-
vimento regional, objeto de consenso regido por interesses coletivos, compartilhados pelos entes
reunidos em nome de uma causa comum.15
13 BANDEIRA, P. As mesorregiões no contexto da nova política federal: considerações sobre aspectos institucionais e organizacio-nais. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2004. (mimeo).
14 Segundo Brown (1992), as “bridging organizations” são entidades cuja principal função é possibilitar que atores com perfis e interesses diversos cooperem no sentido de formular e implementar soluções conjuntas para problemas complexos. BROWN, L. D. Developing bridging organizations and strategic management for social change. Boston: Institute for Development Research -IDR. Reports, v. 10, n.° 03, 1992. In: BANDEIRA, P. As mesorregiões no contexto da nova política federal de desenvolvimento regional: considerações sobre aspectos institucionais e organizacionais. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2004. (mimeo).
15 KINZO, M.; FERREIRA, H. Mesorregiões diferenciadas: nacionalização das políticas regionais. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2002. (mimeo).
1��
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
Os fóruns são, ainda, “instâncias de representação e deliberação”, no sentido do que argu-
menta Bandeira, permitindo a formulação de propostas e demandas que representem consenso
de atores das regiões, para serem discutidas e encaminhadas a instâncias de fomento ao desen-
volvimento regional e de tomada de decisão.16
Quando se imputa legitimidade aos fóruns mesorregionais, imediatamente se recorre à com-
posição dos fóruns que é sine qua non à conquista do status de representatividade do conjunto
dos atores mesorregionais que se deseja. Por definição, os estados e os municípios que fazem
parte do território priorizado devem ter representação nos fóruns, bem como as bancadas par-
lamentares devem se fazer representar nas entidades de deliberação. As instituições de ensino
e pesquisa devem, da mesma forma, se fazer representar nos fóruns, assim como entidades de
classe, de trabalhadores, organizações da sociedade civil organizada e da iniciativa privada.
Não se tem uma “fórmula de bolo” que estabeleça os ingredientes para a melhor constitui-
ção dessas entidades, mas a experiência em andamento nos fóruns dos programas aponta para
o fato de que quanto mais equilibradas e paritárias forem as instâncias deliberativas, maiores
as chances de se tornarem entidades legítimas e representativas.
Se existe a preocupação de que os fóruns não se constituam em instâncias de predominân-
cia governamental ou não-governamental, por outro lado não se pode deixar de argumentar,
ainda, sobre outras características intrínsecas a estes arranjos institucionais, como a dimensão
político-institucional que deve presidir a instância deliberativa e o tamanho (em termos de
quantidade de atores com assento nos fóruns) apropriado para esses entes mesorregionais.
Deve-se estabelecer com muita clareza o papel dos fóruns mesorregionais. Não se trata de
transferência de poder do Estado para uma outra instância representativa, mas a construção
de processo participativo e legítimo de “empoderamento” de atores a partir de base territorial
definida, visando à instituição de mecanismo de gestão compartilhada do desenvolvimento
regional.
Os fóruns não devem ter papel executivo, sob pena de perder a condição de entidade deli-
berativa máxima e a intransigente defesa de princípios e de ideais mesorregionais que lhes
cabem. Não é por outra razão que se apóia, fortemente, a criação de entidades com atribuições
executivas, as chamadas agências mesorregionais de desenvolvimento, consideradas como bra-
ços executivos dos fóruns regionais. Essas entidades têm sido constituídas juridicamente como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sem nenhum tipo de vínculo for-
mal com os fóruns (em algumas mesorregiões foram criadas mais de uma instância executiva,
com prerrogativas de agências de desenvolvimento).
16 BANDEIRA, P. op. cit.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
O ritual de funcionamento do fórum precisa estar formalizado em instrumento próprio
(regimento interno ou peça equivalente), uma vez que este é considerado como o principal
articulador do novo modelo de gestão regional instituído. Por ser processo inovador e de
história recente, não existe fórmula pré-estabelecida ou formato previamente constituído
para tal. O que se busca é uma ação de cooperação federativa envolvendo todos os entes repre-
sentativos do espaço territorial em questão, visando reduzir um dos problemas recorrentes do
desenvolvimento brasileiro relacionado com a “inexistência de instâncias de ação coordenada
entre os diversos entes, com evidente desarticulação que redunda em ações superpostas por
um lado e vazios institucionais por outro, dispersando-se recursos em políticas públicas que
não se comunicam.”17
Por fim, há de se reconhecer que é no fórum mesorregional, na qualidade de instância
deliberativa, que devem estar representadas todas as manifestações de poder legitimamente
constituídas na mesorregião, com a ressalva de que os programas mesorregionais ainda care-
cem de base normativa mais sólida que possa conferir sustentabilidade e equilíbrio à iniciativa
de redução das desigualdades regionais brasileiras.
7. Considerações finais
Após um longo período de hibernação e falta de foco, a questão regional volta a ser objeto de
prioridade na agenda de debates da sociedade brasileira e do governo federal.
A institucionalização da Política Nacional de Desenvolvimento Regional sintetiza o esforço
de retomada deste objeto que ganha corpo com a implementação de ações coordenadas de
fomento em territórios selecionados.
Não obstante os compromissos de investimentos focados em espaços sub-regionais, prio-
rizados por meio do Grupo de Trabalho de Programas da Câmara de Políticas de Integração
Nacional e Desenvolvimento Regional, da ordem de R$ 2,5 bilhões em 2005, os programas de
desenvolvimento regional têm articulado a inversão de somas crescentes para a redução das
desigualdades regionais brasileiras e procurado avançar no refinamento de práticas de gestão
participativa.
17 BARREIRA, M. As mesorregiões e sua base institucional. Curso de atualização em desenvolvimento regional sustentável para gerentes e subgerentes de mesorregiões. Brasília: CIDS/FGV & SPRI/MI, 2002. (mimeo).
1��
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
Ainda assim, diversos ajustes têm sido promovidos para o adequado funcionamento des-
ses programas, que estão em permanente processo de avaliação, como parte fundamental do
modelo de gestão do PPA do governo federal.
Em 2005, algumas recomendações foram encaminhadas tanto pela gerência dos programas
regionais quanto pelo próprio Ministério do Planejamento. Essas recomendações foram reali-
zadas visando ampliar a obtenção dos resultados previstos nos programas.
Em função dessas recomendações, o Promeso e Promover necessitam, por exemplo, aperfei-
çoar sua metodologia de implementação, buscando maior articulação interna entre a adminis-
tração direta e as entidades vinculadas ao Ministério, fortalecer a articulação interministerial
promovida pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e
ampliar a interlocução entre o Ministério da Integração Nacional e o Congresso Nacional,
visando uma inclusão de emendas parlamentares mais alinhadas com os objetivos do Pro-
grama.
No caso específico do Promeso, é necessário aperfeiçoar o controle social realizado pelos
fóruns mesorregionais em torno dos projetos e dos recursos financeiros aplicados nas mesorre-
giões diferenciadas.
Com relação ao Promover, parece ser inevitável a ampliação do escopo das atividades eco-
nômicas fomentadas pelo programa, com ênfase naquelas destinadas a aproveitar oportunida-
des emergentes e ainda pouco exploradas, com maior potencial de inserção competitiva.
Ainda assim, o desafio da redução das desigualdades brasileiras é tarefa que extrapola, em
muito, a capacidade atual do aparato estatal (instituições e programas) em engendrar soluções
imediatas de combate ao perverso legado histórico, construído em mais de quinhentos anos de
trajetória política, que resultou na construção de uma nação com agudas disparidades sociais,
econômicas e regionais.
A preocupação da vez é com a sustentabilidade do processo de retomada da questão regio-
nal em bases sólidas e com estratégia delineada de médio e longo prazos. Em um país que se
permite não estabelecer metas e objetivos de longo prazo, as desigualdades regionais con-
tinuam a soar como ameaça à estabilidade democracia brasileira, e qualquer sinalização de
descontinuidade na retomada do desenvolvimento regional será um desserviço à Nação.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
8. Anexo
MAPA 1 – Mesorregiões Diferenciadas 1999/2003
Fonte: Ministério da Integração Nacional - Secretaria de Programas Regionais.
1�1
Programas de mesorregiões diferenciadas:subsídios à discussão sobre a institucionalização dos programas regionais no contexto da PNDR
MAPA 2 – Tipologia Microrregional da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), 2005
Fonte: SDR/MI
1�3
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regionalSâmia Frota
A ação do Banco doNordeste no contexto do
desenvolvimento regional
1. Introdução
O mapa econômico da região Nordeste revela uma realidade que se diferencia da média do
panorama nacional e que, por isso, justifica a necessidade de um olhar mais aprofundado
por parte dos formuladores de políticas.
Dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão do Banco
do Nordeste responsável por estudos econômicos e sociais sobre a região, registram que o PIB
nordestino equivale a 13% do nacional, mas é responsável por apenas 8% do volume de expor-
tações do país. Em contraste, a população nordestina corresponde a 28% dos brasileiros, fato
que resulta em uma renda per capita que não atinge a metade da nacional.
Tabela 1 – Indicadores econômicos Nordeste/Brasil
Indicador Nordeste/Brasil
PIB 13,4%
Exportações 8,3%
Área 18,4%
População 28,4%
Renda per capita 47,2%
Fonte: BNB/Etene.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Localizado em um espaço geográfico equivalente a 18% das dimensões do país, o Nordeste
enfrenta muitos desafios, mas vem se integrando à economia nacional, inclusive quanto às
tendências. Quando o Brasil cresce, o Nordeste também cresce e, em alguns períodos, acima do
crescimento do PIB nacional.
Gráfico 1– Brasil e região Nordeste – Taxas de crescimento real do PIB
Fonte: Dados originais, IBGE – Elaboração própria com base nos valores originais corrigidos pelo deflator implícito do PIB apreços
de 2004.
A ainda modesta participação das exportações nordestinas no volume exportado pelo país,
mantendo-se em torno de 8%, vem apresentando aspectos positivos: seu desempenho vem
acompanhando o expressivo incremento das exportações nacionais, apresentando também
diversificação em termos de produtos e destinos, incluindo produtos de alto conteúdo tecnoló-
gico, como softwares e automóveis.
1��
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regional
Gráfico 1 – Evolução da pauta nordestina de exportações
Fonte: Sistema Alice – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Ao lado de desigualdades entre o Nordeste e a média nacional, com indicadores desfa-
voráveis em relação às regiões brasileiras mais desenvolvidas, verifica-se também em termos
intra-regionais expressiva heterogeneidade, com subespaços de melhor perfil socioeconômico,
no litoral e interior, ao lado de áreas de condições econômicas ruins e social ruim ou precário,
manifestando-se contrastes também dentro da área do Semi-Árido nordestino, ou seja, áreas
de baixo dinamismo econômico com ilhas de prosperidade, inclusive exportadoras de bens
agropecuários e produtos manufaturados.
2. A ação do Banco do Nordeste do Brasil
Instituição financeira federal de promoção do desenvolvimento regional, o Banco do Nordeste
do Brasil foi criado em 1952 e tem como área de atuação os nove estados do Nordeste (Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande de Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e,
ainda, o Norte do Estado de Minas Gerais e o Norte do Estado do Espírito Santo, contando com
180 agências para atender um total de 1.985 municípios.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Não se configura, por conseguinte, um banco que tenha uma numerosa rede de sucursais,
mas, por meio dessa estrutura e com instrumentos e programas específicos, logrou atender, em
2005, 99% dos municípios de sua área de atuação, com um total de R$ 4,2 bilhões de financia-
mentos de longo prazo e uma participação de 73% no total de financiamentos na região.
Figura 1 – Área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
A diversidade de cenários econômicos e sociais que compõem a área de jurisdição do Banco
do Nordeste demanda programas com condições diferenciadas segundo as especificidades e
prioridades para o desenvolvimento regional. Como instituição financeira, entretanto, o Banco
submete-se aos rigores do Acordo de Basiléia, seus requisitos de indicadores e resultados finan-
ceiros que constituem o velho dilema dos bancos de desenvolvimento, quando contrapostos ao
seu papel de intervenção na dinâmica econômica apoiando políticas públicas, bem como áreas
e agentes produtivos mais carentes, com menor retorno e maior risco.
A solução desse dilema, objeto de discussão em diferentes países, envolve a participação e
o apoio de governos e legisladores, no sentido de viabilizar recursos adequados e instrumen-
tos que permitam aos bancos de desenvolvimento atuar conforme sua missão institucional,
gerando retornos econômicos, sociais e, também, financeiros.
Como banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste enfrenta também diferentes desa-
fios, elegendo e implantando estratégias orientadoras de sua rede operacional.
1��
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regional
A diretriz-síntese do Banco para intervenção no processo de desenvolvimento regional
refere-se à busca da redução de desigualdades em três dimensões:
• Desigualdades inter-regionais – As disparidades entre os indicadores socioeconômicos
nordestinos e os que representam as regiões mais desenvolvidas só poderão ser reduzi-
das com ações que impulsionem o crescimento da região a taxas mais elevadas do que a
média nacional.
• Desigualdades intra-regionais – A busca pela diminuição das disparidades entre áreas
em diferentes estágios de desenvolvimento é efetuada pela estruturação de eficientes
instrumentos de política que adotam um foco territorial, objetivando captar as diferen-
tes realidades intra-regionais e oferecer diferentes formas de intervenção do Banco, em
ação cooperada com outras entidades públicas, privadas e não-governamentais.
• Desigualdades Interpessoais – A ação do Banco do Nordeste também foca esse aspecto,
especificamente no tocante a ações que promovam a inclusão social e a geração de
emprego e renda, criando oportunidades pessoais de melhoria de qualidade de vida e
cidadania.
2.1 A diretriz de elevação das taxas de crescimento: ampliação do acesso ao crédito
Essa diretriz estabelece a participação do Banco do Nordeste na promoção de maiores taxas de
crescimento por meio da ampliação do acesso ao crédito, viabilizando novos investimentos em
empreendimentos produtivos e de infra-estrutura regional.
O acesso ao crédito é apontado como um desafio para a sustentabilidade econômica da
base empresarial de economias em desenvolvimento, sobretudo de micro, pequenas e médias
empresas. Além disso, o caráter heterogêneo do universo de pequenas e médias empresas loca-
lizadas nesses países dificulta a implementação de instrumentos de apoio que contemplem
todas as empresas envolvidas.
Na dimensão macroeconômica, a ampliação do volume de crédito na economia viabiliza os
investimentos empresariais necessários para a sustentabilidade do crescimento, constituindo
ação prioritária do Ministério da Fazenda brasileiro o desenvolvimento do sistema de crédito.
Em consonância com a estratégia do governo federal, a política de financiamento imple-
mentada no Banco do Nordeste a partir de 2003 tem concentrado seus esforços na ampliação
do acesso ao crédito, contemplando empresas de qualquer porte e mesmo empreendedores
informais, a abertura de financiamento a novos segmentos econômicos, a revisão de zonea-
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
mentos, de critérios de atendimento e do processo de crédito como um todo, buscando reduzir
a burocracia e agilizar o atendimento.
Como resultado dessa diretriz, o montante de financiamentos concedidos elevou-se de R$
250 milhões em 2003, para R$ 4,2 bilhões em 2005, a maior parte proveniente de sua principal
fonte de recursos – o Fundo Constitucional de Financiamento para o Nordeste (FNE).
Em 2006, seguindo a dinâmica nacional, a demanda por financiamentos para investimentos
rurais e urbanos e de infra-estrutura no primeiro semestre já supera a dotação anual do FNE, o
que tem motivado a busca do Banco por outras fontes de recursos.
Esses aspectos refletem uma mudança da dinâmica econômica da região, que tem atraído
também empresas de outras regiões ou mesmo de outros países, com destaque para a produção
de grãos nos cerrados, fruticultura irrigada, segmento hoteleiro e indústria de transformação.
A mudança pode ser percebida especialmente nas capitais e médias cidades nordestinas, assim
como em incursões nas áreas do cerrado nordestino e áreas de agricultura irrigada, colocando-
se o Nordeste como nova fronteira de investimentos.
2.2 O foco territorial: atuar em todos os tipos de territórios, com estratégias diferentes
O processo de globalização alcança intensidade e amplitude inéditas na história humana e vem
ressaltar na polaridade local-global a importância do território, pela valorização de produtos
diferenciados, com identidade própria, em reação à massificação global esterelizante.
Trabalhos realizados por estudiosos e formuladores de políticas, principalmente a partir da
década de 1970, fundamentados nas experiências de países como Alemanha, Espanha e, prin-
cipalmente, Itália, começaram a enfatizar a importância da proximidade geográfica na geração
de vantagens econômicas para o conjunto de empresas, as “economias de aglomeração”.
Estudos mais recentes atribuem às aglomerações territoriais produtivas benefícios sistê-
micos além daqueles simplesmente decorrentes das economias de aglomeração, incluindo
também efeitos de transbordamento de determinados benefícios auferidos por um ou mais
atores.
A gestão territorial, ferramenta de planejamento e monitoramento de atividades produti-
vas, valoriza o impulso dado à atividade econômica por fatores endógenos, em uma dinâmica
que associa fatores edafo-climáticos, sociais, econômicos, culturais etc., articulados com as
escalas nacional e mundial, em uma interação de natureza cooperativa ou competitiva.
1��
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regional
Adotando o enfoque de desenvolvimento territorial, o Banco do Nordeste tem como diretriz
atuar em todos os tipos de áreas, reconhecendo suas especificidades para diferentes formas de
intervenção:
• Áreas dinâmicas: apoiando-se atividades competitivas e integrando cadeias produtivas.
• Áreas deprimidas: realizando articulações sociais e institucionais e integrações econômi-
cas que disseminem processos sustentáveis compatíveis com a base real frágil e com a
realidade do mercado.
Para operacionalizar sua Política de Desenvolvimento Territorial, o Banco do Nordeste uti-
liza seus Agentes de Desenvolvimento, articulados com a rede de agências.
O trabalho dos Agentes de Desenvolvimento refere-se ao mapeamento dos territórios e
grupos produtivos para sua participação na estruturação econômica: superação de gargalos
e dinamização de potencialidades. Trata-se de ação que só se concretiza a partir da partici-
pação efetiva dos produtores e empresários e da parceria com rede de instituições, supridoras
de diferentes serviços de empresariais.
Os Agentes de Desenvolvimento não operam junto aos agentes produtivos como gerentes
de agências, mas estruturam demanda e aproximam as agências do Banco da base empresa-
rial local, fomentando a ampliação de crédito sustentável nos territórios e superando receios
e dificuldades de interação entre os agentes produtivos – especialmente de pequeno porte
– e as agências bancárias.
2.3 Apoio à inclusão social
Em termos de inclusão social, o Banco do Nordeste conta com um programa de promoção
apropriado para essa finalidade via produção. O Crediamigo é um programa de microfinanças,
destinado a grupos solidários que recebem toda a orientação necessária à obtenção do crédito.
Maior programa de microfinanças da América do Sul, o Crediamigo realizou em 2005 596 mil
operações de crédito, totalizando R$ 548 milhões.
No âmbito rural, os projetos de financiamento de até mil reais são amparados pelo Agro-
amigo, um programa de microfinanças que, como o Crediamigo no cenário urbano, também
apóia e assessora grupos solidários de agricultura familiar na obtenção de financiamentos.
Ainda em termos de agricultura familiar, em seus diferentes segmentos de porte contemplados
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em 2005 foram
financiadas 519 mil famílias, com o aporte R$ 1,05 bilhão para dinamização da produção fami-
liar agrícola e pecuária do Nordeste.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Outros projetos voltados à inclusão social fazem parte do portfolio de produtos do BNB,
como os projetos piloto de economia solidária, conduzidos pela equipe Etene.
Saliente-se também seu apoio às manifestações culturais regionais, realizadas em termos de
patrocínio de diferentes iniciativas e ações de responsabilidade social, além da ação difusora da
cultura regional desempenhada pelos centros culturais mantidos pelo Banco na Região.
3. A gestão do desenvolvimento
Para formulação, acompanhamento e avaliação de suas ações para promoção do desenvolvi-
mento regional de desenvolvimento, o Banco conta com duas unidades específicas.
A Área de Políticas de Desenvolvimento tem por responsabilidade a formulação das estraté-
gias do Banco no tocante à política de financiamento de longo prazo e à política de desenvol-
vimento territorial. Criada em 2003, é responsável pela formulação e atualização de programas
de financiamento sensíveis às singularidades de cada atividade econômica, observando sua
distribuição espacial e o enfoque de cadeias produtivas. Além disso, a área formula a política
de ação territorial, define e acompanha metodologias e cronogramas, e coordena em âmbito
regional as ações territoriais realizadas em cada estado pelo Banco.
Em sua ação é fundamental para a Área de Políticas de Desenvolvimento a interação com
as demais unidades do Banco, notadamente o Etene, as áreas financeiras e negociais e as supe-
rintendências estaduais, agregando a visão de longo prazo e de impactos qualitativos às metas
mensais e anuais de negócios, inerentes a qualquer banco, mas não suficientes para o papel a
ser desempenhado por um banco de desenvolvimento.
A outra unidade do Banco que trabalha mais fortemente o desenvolvimento da região,
o Etene (Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste), é responsável pelo desen-
volvimento de estudos não apenas para o Banco, mas também para a comunidade, para o
Brasil e para o mundo. Além da administração de fundos de apoio ao desenvolvimento de
pesquisas de cunho científico e tecnológico, que totalizaram R$ 12 milhões de dotação anual
em 2005, o Etene tem na sua página Internet (www.bnb.gov.br) e na publicação dos trabalhos
desenvolvidos por seus técnicos e parceiros um forte elemento difusor de conhecimentos
para a região.
Exemplos dessa ação do Etene são percebidos, por exemplo, nas pesquisas voltadas ao cultivo
da soja em baixa latitude, o que impulsionou a difusão da cultura no cerrado nordestino,
1�1
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regional
perpassando os Estados do Maranhão, Piauí e Bahia, na cultura de uvas apirênicas no Vale do
São Francisco resultados do apoio financeiro não-reembolsável do Fundo de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Fundeci), um dos fundos operacionalizados pelo Etene.
Entre os instrumentos de difusão de informações econômicas, destacam-se a Revista Eco-
nômica do Nordeste, uma publicação trimestral com artigos de interesse do desenvolvimento
da região, e o Boletim BNB Conjuntura Econômica.
A Área de Políticas de Desenvolvimento e o Etene têm também um papel importante em
termos de cultura organizacional, na medida em que fortalece o conhecimento e a sensibili-
dade do corpo de funcionários do Banco quanto às questões do desenvolvimento regional e o
papel da empresa, uma vez que esse é o elemento diferenciador do Banco do Nordeste, insepa-
rável de sua ação bancária.
4. O Banco do Nordeste e o FNE
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) foi instituído pela Constituição de
1988 e representa fonte estável de recursos para financiamento a empreendimentos privados
dos segmentos agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de infra-estrutura, turístico,
comercial e de serviços.
Tal fundo é administrado pelo Banco do Nordeste, e são beneficiários dos financiamentos
produtores rurais, empresas, associações e cooperativas de produção, seguindo os financia-
mentos as regras vigentes para o sistema financeiro, ou seja, são recursos reembolsáveis com
aplicação dos procedimentos relativos à boa prática bancária – cadastro, garantias, análise de
projetos e seus riscos, administração do crédito.
A dotação do FNE para 2006 é projetada para cerca de R$ 4 bilhões, mostrando-se insufi-
ciente para o atendimento à forte demanda dos empreendedores, empresários e produtores.
Anualmente é elaborado pelo Banco a Programação do FNE, em articulação com o Ministé-
rio da Integração, planejamento necessário tendo em vista que o FNE apóia todos os segmen-
tos de atividades econômicas. A sua política privilegia principalmente investimentos, visando
fomentar a Formação Bruta de Capital Fixo e, de forma complementar, capital de giro.
Os critérios direcionadores da política do FNE baseiam-se na concessão de juros diferencia-
dos em relação ao porte dos empreendimentos, com menores encargos para os empreendimen-
tos rurais e urbanos e de pequeno porte.
1�2
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Para pequenos empreendimentos localizados na região do Semi-Árido, reduzem-se também
os encargos sobre os financiamentos, atribuindo-se maior bônus de adimplência.
O aporte de recursos do FNE obedece também a critérios de distribuição pelos onze estados
da área de atuação do Banco, situando-se entre o mínimo de 4,5% e o máximo de 30% por
estado. Em geral, o limite máximo de financiamento é atingido pelo Estado do Bahia, que apre-
senta maior dinamismo entre os estados inseridos na área de atuação do Banco.
Para alguns estados, que não atinjam o limite mínimo de participação no total de financia-
mentos, é realizada mais forte ação de articulação e integração de programas do Banco a pro-
gramas governamentais federais e estaduais e de organizações de representação empresarial,
para fomento a áreas e atividades econômicas, vez que a ação de financiamento depende da
dinâmica econômica e não unicamente das ações do Banco.
Outro critério de distribuição observado disciplina a concessão máxima por setores econô-
micos, estabelecendo o máximo de 10% para infra-estrutura e 10% para comércio e serviços.
Este é, aliás, um dos fatores limitantes da ação do Banco no atual estágio de crescimento eco-
nômico, em que o suprimento de infra-estrutura é elemento crucial. Demandas no sentido de
modificar esse dispositivo legal, eliminando o limite rígido de financiamento à infra-estrutura,
foram encaminhadas a Ministérios e ao Congresso Nacional.
Proposições adicionais são apresentadas pelo Banco do Nordeste para aperfeiçoamento do
FNE como instrumento de política de financiamento para o desenvolvimento, considerando a
evolução natural do contexto econômico nacional e prioridades regionais não captadas quando
da atual formulação legal do FNE:
• flexibilização da definição de encargos, possibilitando a atribuição de juros diferenciados
para prioridades que não de porte e localização ou não no Semi-Árido;
• diferenciação do risco assumido pelo FNE, propondo-se que seja maior para financia-
mentos em áreas deprimidas e menor para áreas dinâmicas;
• redução de juros, hoje determinados de forma fixa em lei, com mecanismo de definição
ajustado pela TJLP;
• instituição de bônus de adimplência para projetos ambientais estratégicos, a exemplo de
projetos que envolvam seqüestro de carbono. Hoje a diferenciação de bônus aplica-se
apenas a projetos localizados no Semi-Árido;
• ações regionais dos ministérios mais integradas aos financiamentos dos fundos cons-
titucionais (além do Nordeste, há fundos para as regiões Norte e Centro-Oeste), com-
plementando a ação de financiamento com o suprimento de infra-estrutura, educação,
tecnologia etc.; e
1�3
A ação do Banco do Nordeste no contexto do desenvolvimento regional
• realização de fóruns locais e regionais que sejam baseados no protagonismo do setor
produtivo, fomentando projetos práticos com base conceitual. Há várias iniciativas ainda
muito marcadas pela participação ativa de técnicos e pouco espaço utilizado por empre-
sários e produtores.
5. PNDR: visão nacional para o desenvolvimento regional
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), lançada pelo Ministério da Integra-
ção Nacional e já adotada por várias entidades, representa um passo importante em termos de
reconhecimento da realidade nacional, considerando as especificidades regionais e a dinâmica
de seus indicadores de desenvolvimento.
É um retorno muito necessário à atividade de planejamento com enfoque de integração
também institucional; a concertação de vários interlocutores, chamados a opinar segundo suas
competências e campos de atuação, propiciou à PNDR maior embasamento de diagnóstico e
proposições.
O Banco do Nordeste participa também da formulação e da implantação da PNDR, inte-
grando já a Programação do FNE para 2006 limites de financiamento considerando as tipolo-
gias de cada município segundo aquela Política. Assim, projetos localizados em municípios clas-
sificados como de “baixa renda”, “estagnada de média renda” ou “dinâmica de menor renda”
têm maior limite de financiamento com recursos do FNE.
Além da Programação do FNE, a PNDR reflete-se também nas parcerias do Banco do Nor-
deste com o Ministério da Integração Nacional quanto a Programas Mesorregionais desenvol-
vimentos no Nordeste, apontando prioridades de intervenção e ação conjunta.
Certamente cabe destacar também a relevância da postura aberta do Ministério quanto a
aperfeiçoamentos constantes na Política, colocando-a como proposta para discussão. Quando
uma proposição envolve numerosos e distintos atores, é uma postura construtiva e também prag-
mática facilitar o acesso às contribuições, permitindo que mais participantes “tenham parte” e,
portanto, sintam-se também responsáveis em alguma medida pela sua implantação e sucesso.
As equipes do Banco e do Ministério têm interagido ao longo da elaboração da PNDR, e o
propósito é de continuidade da parceria para aplicações de impacto relevante da Política no
processo de desenvolvimento regional.
1�4
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
6. Banco do Nordeste e desenvolvimento regional: comentários finais
A partir da experiência do Banco do Nordeste como participante do processo de desenvolvi-
mento regional, são relevantes alguns comentários finais neste artigo.
6.1 Questão regional: banco de desenvolvimento tem ação financiadora e política
É preciso ter clareza e atitude quanto ao papel como um banco de desenvolvimento regio-
nal, com atuação que extrapola a ação financiadora para uma ação política de promoção dos
recursos e potencialidades regionais, da atração de investimentos, de recursos e programas de
desenvolvimento, especialmente como representante nordestino junto ao governo federal, a
entidades nacionais e internacionais e a organizações empresariais.
6.2 Rede institucional de políticas de desenvolvimento
Nenhuma instituição, pública ou privada, é tão forte e completa que possa assumir sozinha
o desafio de alavancar o desenvolvimento. A ação complementar, articulada, é pré-requisito
para o sucesso de iniciativas transformadoras que trabalhem adequadamente as diferentes
dimensões da realidade regional. Nesse sentido, é fundamental a manutenção de uma rede
institucional que permita, de forma ágil, flexível e eficiente concatenar recursos, propostas
e resultados. Certamente são muitos os desafios para manutenção de uma ação institucional
ideal, uma vez que há diferentes esferas e interesses públicos e privados envolvidos. A percep-
ção da necessidade, entretanto, tem de forma prática aberto boas possibilidades de parcerias,
cabendo a cada instituição uma participação ativa na formulação da ação, no cumprimento de
sua parte e no gerenciamento e avaliação da implementação global, a fim de fortalecer os elos
e aperfeiçoar a ação cooperada – que embute muitas vezes aspectos de competição que podem
ser trabalhados como motrizes da ação.
1��
Sobre os autores
Sobre os autores
Políticas de desenvolvimento regional:perspectivas e desafios à luz da experiência
da União Européia e do Brasil
Alfredo Henrique CostA-filHo
Economista pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Sociologia do Desenvolvi-
mento e em Planejamento. Foi professor de desenvolvimento Econômico na Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Rio Claro e diretor de Projetos na iniciativa privada. Após trabalhar
pelas Nações Unidas no Chile e no México, regressou ao Brasil e incorporou-se ao Ipea. Entre
1982 e 1992 foi diretor-geral do Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Eco-
nômico e Social, então um organismo regional das Nações Unidas, com 39 governos-membros.
É autor de 56 trabalhos sobre prospectiva e desenvolvimento de longo prazo, publicados em
vários países da América Latina e na Espanha.
Antonio CArlos filgueirA gAlvão
Bacharel em Economia pela Universidade de Brasília; mestre em teoria econômica pelo IPE/USP
e doutor em Economia Aplicada pelo IE/Unicamp, tendo realizado parte do trabalho de tese
no Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Dentre outros
cargos, foi coordenador de planejamento do CNPq, coordenador-geral de política regional do
Ipea e secretário de políticas de desenvolvimento regional do Ministério da Integração Nacio-
nal. Publicou os livros Política de desenvolvimento regional e inovação. A experiência européia
(Rio de Janeiro, Garamond, 2005) e Regiões e cidades. Cidades nas regiões: o desafio urbano-
regional, em colaboração com Maria Flora Gonçalves e Carlos Antonio Brandão (São Paulo,
Anpur e Edunesp, 2005).
É diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e analista em ciência e tecnologia do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
AsH Amin
Professor da Faculdade de Geografia da Universidade de Durham na Inglaterra, Reino Unido,
na qual exerceu o posto de Chefe de Departamento (2003-2005). Doutorado em Geografia,
em 1986, pela Universidade de Reading, Inglaterra. Lecionou nas Universidades de Bolonha
(Itália), Copenhagem (Dinamarca), Rotterdã (Holanda) e Uppsala (Suécia). É membro fundador
da Revista de Economia Política Internacional e tem assento em comitês editoriais de diver-
sos periódicos em ciências sociais internacionais. Foi membro, de 1997 a 2001, do Conselho
Britânico de Pesquisas Econômicas e Sociais. Suas pesquisas tiveram inicialmente como foco
os desafios ao desenvolvimento econômico e social interpostos por um contexto de mudança
estrutural e integração econômica internacional. Em anos recentes, seus trabalhos têm se vol-
tado para distintas áreas da teoria social e espacial contemporânea e abordam as políticas
espaciais, o multiculturalismo e o desenvolvimento econômico na perspectiva do envolvimento
e da participação dos atores sociais e dos governos com diferentes níveis de atuação – local,
nacional, países da União Européia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico. É autor de 5 livros e editor de outros 7. Tem artigos publicados em 39 livros e cola-
borou como articulista em 50 periódicos britânicos e de outros países.
BertHA K. BeCKer
Doutora em Ciências, livre-docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1970) e pro-
fessora emérita da mesma Universidade (2002). Doutora Honoris Causa pela Universidade de
Lyon III (2005). Membro da Academia Brasileira de Ciências (2006). Agraciada pela American
Geographical Society com a David Livingstone Centenary Medal e pela Faperj, com a medalha
Carlos Chagas Filho, de mérito científico. Participa de vários comitês científicos nacionais e
internacionais, tendo sido vice-presidente da União Geográfica Internacional (1996–2000) e
do Grupo Internacional Consultivo do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais
Brasileiras. Tem várias publicações na área e realizou diversas consultorias.
É professora, pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Gestão do Território do Depar-
tamento de Geografia da UFRJ. Sua principal área de pesquisa é a Geopolítica do Brasil, parti-
cularmente da Amazônia.
1��
Sobre os autores
CArlos AlBerto Azzoni
Mestre, doutor e livre-docente em Economia pela Universidade de São Paulo; pós-graduação pela
Cornell University; e pós-doutorado pela Ohio State University e University of Illinois. Exerceu
as funções de vice-diretor da mesma Faculdade, a partir de julho de 2002, e de chefe do Depar-
tamento de Economia; coordenador do curso de Relações Internacionais da USP entre 2001 e
2004; diretor da Fundação Universitária para o Vestibular da USP e diretor da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas da FEA/USP. Tem participação em mais de 120 congressos no exterior,
com apresentação de trabalhos. Nos últimos doze anos, acumulou 16 artigos em revistas interna-
cionais (além de 7 em processo de análise); 17 artigos em revistas nacionais (além de 3 também
em processo de análise); 2 livros nacionais; e 13 capítulos em livros, sendo 9 internacionais.
É professor titular do Departamento de Economia da FEA/USP, desde 1973.
CArlos BernArdo vAiner
Doutor em Desenvolvimento Econômico e Social pela Universidade de Paris I – Panthéon/Sor-
bonne. Professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, onde ingressou em 1980. Pesquisador I do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; foi presidente da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Coordenou o Grupo de Trabalho
sobre Migrações Internas da Associação Brasileira de Estudos Populacionais.
É consultor do CNPq, Capes, Finep, Faperj e Facepe. Integra os comitês editoriais de várias
revistas e é consultor-leitor de revistas científicas. Tem vários trabalhos, artigos e capítulos de
livros publicados na área de planejamento regional e urbano, regionalismo, políticas migrató-
rias, impactos sociais e ambientais de grandes barragens e conflitos ambientais. É diretor, pela
terceira vez, do IPPUR/UFRJ.
Clélio CAmpolinA diniz
Doutor em Economia pela Unicamp e pós-doutoramento pela Rutgers University. Ex-membro
do Conselho Técnico Científico da Capes, é autor de mais de 100 títulos sobre desenvolvimento
regional, industrialização e economia do conhecimento.
Atualmente é professor titular do Departamento de Economia e Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
1��
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
Henrique villA dA CostA ferreirA
Bacharel em Administração pela UDF – Brasília, mestre em Administração pela Universidade de
Brasília em Planejamento do Setor Público e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília
em Ciência, Tecnologia e Sociedade.
É diretor do Departamento de Planejamento de Desenvolvimento Regional da Secretaria de
Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.
José pAlmA Andrés
Estudou em Lisboa e na London School of Economics. Especialista em financiamento regional,
tendo sido responsável pelas unidades encarregadas da política regional com a França e com
a Itália. Ocupou o posto de diretor-geral no Ministério do Planejamento e Desenvolvimento
Regional do Governo de Portugal. Foi membro do Conselho de Diretores de empresa privada
portuguesa na área de alimentos, tendo assumido a sua carreira no funcionalismo público na
autoridade regional de Lisboa e também na vice-presidência.
É economista. Diretor da Direção Geral de Política Regional da Comissão Européia, com res-
ponsabilidade para a Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Latvia, Lituânia, Eslováquia
e Áustria.
mArCel Bursztyn
Graduado em Economia e mestre em Planejamento Urbano e Regional, pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Na University of Edinburgh, Escócia, obteve o Diploma in Planning
Studies (1977). Doutor em Desenvolvimento Econômico e Social pela Universitè de Paris I
(Sorbonne) em 1982, e em Ciências Econômicas pela Universitè de Picardie, na França, em
1988. Foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e da Capes. Autor de 12 livros e
mais de cinqüenta artigos científicos.
É professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e
atualmente coordena a elaboração de subsídios para a criação de uma Política Nacional de
Ordenamento do Território (PNOT) para o Ministério da Integração.
1��
Sobre os autores
mArCelo moreirA
É atualmente diretor de Programas das Regiões Sul e Sudeste da Secretaria de Programas
Regionais do Ministério da Integração Nacional (MI).
Formou-se bacharel em Geologia pela UnB, especialista em Gestão Ambiental e Ordena-
mento Territorial formado pela Universidade de Brasília (UnB) e em Desenvolvimento Rural
formado pelo Centro Nacional de Capacitação do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimen-
tação da Espanha. Entre outros cargos, foi coordenador-geral de Integração Programática do
Ministério da Integração Nacional e gerente da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.
miCHAel dunford
Graduado em Geografia pela Universidade de Bristol, Inglaterra. Leciona, desde 1973, na Uni-
versidade de Sussex (Inglaterra). É membro honorário da Società Geografica Italiana e integra
o Conselho Editorial das revistas Espaço e Sociedades, Ciências da Sociedade e Geografia Eco-
nômica. Tem lecionado, como professor-visitante, nas Universidades de Toulouse e de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), na França, e na Universidade de Pavia, na Itália. Desde 1998, tem minis-
trado cursos e proferido conferências em diversos países da Europa e no Brasil. Suas pesquisas
têm se concentrado nos seguintes temas: i) geografia urbana e regional; ii) determinantes do
desenvolvimento regional e urbano; iii) desigualdades e coesão social na Europa e em países
do Mediterrâneo; iv) papel das estratégias corporativas, das forças de mercado e dos marcos
regulatórios na redefinição do mapa do crescimento econômico. É autor ou co-autor de 6
livros. Publicou 32 artigos em revistas especializadas.
pAulo roBerto HAddAd
Economista com especialização em Planejamento Econômico pelo Instituto de Estudos Sociais
de Haia (Holanda). Professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais; ex-ministro da
Fazenda e do Planejamento da República Federativa do Brasil (1992-1993); ex-secretário da
Fazenda e do Planejamento do Estado de Minas Gerais; consultor do Banco Mundial, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, do PNUD, da Ecla e de outras organizações públicas e pri-
vadas, nacionais e internacionais. Presidente da Phorum Consultoria e Pesquisas em Economia
Ltda. e diretor da Análise Econômica Regional e Internacional Ltda. Publicou diversos livros e
artigos em jornais especializados no Brasil e no exterior.
1�0
Políticas de desenvolvimento regional:desafios e perspectivas à luz das experiências da União Européia e do Brasil
pedro silveirA BAndeirA
Bacharel em Direito, mestre em Economia pelas instituições: UFRGS e pela New School for
Social Research – Ny/USA, doutor em Ciência Política.
É professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFRGS.
sâmiA ArAúJo frotA
Economista com especialização em Finanças e mestre em Administração. Funcionária do Banco
do Nordeste do Brasil S/A, onde atuou nas áreas de desenvolvimento industrial e fomento
às exportações regionais. Superintendente da Área de Políticas de Desenvolvimento, unidade
responsável pela formulação da estratégia do Banco para o desenvolvimento sustentável, no
tocante ao desenvolvimento territorial e ao financiamento de longo prazo à atividade produ-
tiva e infra-estrutura.
sergio Boisier
Chileno, nascido em 1930, é engenheiro comercial (economista) pela Universidade do Chile,
mestre em Ciência Regional pela Universidade da Pensilvânia, EUA, e Ph.D. em Economia Apli-
cada pela Universidade Alcala de Henares, Espanha.
Atualmente, é consultor independente e presidente do Centro de Análise e Ação Território
e Sociedade (CATS), professor titular associado da Pontifícia Universidade Católica do Chile e
professor visitante em diversas universidades da América do Sul.
Na década de 1960, chefiou a Divisão de Análises Quantitativas e o Departamento de Plane-
jamento Regional no Escritório de Planejamento Nacional do Chile. Nos anos 1970, foi diretor
a.i. do Escritório da CEPAL no Brasil. Foi diretor adjunto do Programa de Assessoria do ILPES
(década de 1980) e, nos anos 1990, exerceu a direção de Políticas e Planejamentos Regionais
do ILPES. Atuou como diretor e professor em cursos nacionais e internacionais do ILPES sobre
desenvolvimento regional. É autor de diversos livros sobre política econômica e desenvolvi-
mento e colaborador de dezenas de livros e jornais nacionais e internacionais. É membro de
importantes comitês editoriais em países como o Chile, o Brasil e o Japão.
1�1
Sobre os autores
sergio Conti
Decano e professor pleno de Geografia Econômica na Faculdade de Economia da Universidade
de Turim, Itália. Preside desde 1997 o Comitê Italiano da União Geográfica Internacional, tendo
presidido nesta Organização, de 1997 a 2000, seu Comitê de Organização de Espaços Indus-
triais. Obteve seu título de doutorado, em 1979, na London School of Economics and Political
Science. Graduado em Economia em 1971. Dirigiu pesquisas, na Itália e em países da Europa e
América, nos campos do desenvolvimento regional e urbano. Tem produção intelectual extensa.
É autor e editor de vários livros e de mais de 50 artigos publicados em diversas revistas científi-
cas especializadas. Participa de comitês editoriais e científicos de diversos periódicos com foco
em geografia social e organização do espaço.
tâniA BACelAr de ArAúJo
Bacharel em Ciências Econômicas pela Unicap/PE e em Ciências Sociais/PE; especializou-se em
Planejamento Global pela Cepal/Ilpes; possui diploma de Estudos Aprofundados pela Univer-
sidade de Paris I. Doutora em Economia Pública por esta mesma Universidade. Dentre outros
cargos, foi economista e diretora de planejamento global da Sudene/PE; secretária de Pla-
nejamento e secretária da Fazenda do Estado de Pernambuco; secretária de Planejamento,
Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Recife; diretora do Departamento de Economia
da Fundaj; consultora de organismos internacionais. Membro da Comissão de Transição criada
pelo Governo Federal, como coordenadora da equipe de desenvolvimento econômico, em
2002; secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacio-
nal, entre 2003 e 2004. Conferencista, palestrante, painelista e debatedora em cerca de 300