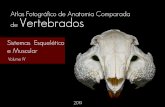A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada...
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada...
81
A COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO
COM ANGOLA E MOÇAMBIQUE: UMA VISÃO COMPARADA1
Adriana Erthal Abdenur*João Marcos Rampini**
Introdução
Desde a virada do milênio, as relações entre o Brasil e os países africanos vêm se intensificando. Tais laços abarcam diversos seto-res, desde o comércio e os investimentos até a cooperação técnica para o desenvolvimento. Este capítulo analisa o aprofundamento da interação entre o Brasil e dois países africanos de língua oficial portuguesa – Angola e Moçambique. Mais especificamente, nos
1 Os autores agradecem o apoio do programa “Jovem Cientista do NossoEstado”, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj),e do projeto “South-South Cooperation”, do Department for InternationalDevelopment(DFID),paraarealizaçãodessapesquisa.
* Adriana Erthal Abdenur (PhD Princeton, BA Harvard) é professora doInstituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisadora sênior do BRICS Policy Center. Sua pesquisa se concentra na cooperação Sul-Sule no papel das ditas potências emergentes, inclusive os países BRICS, nagovernança global.
** JoãoMarcosRampiniéMestreemRelações InternacionaiseEspecialistaemGestãoGovernamental eAvaliação dePoliticasSociais, ambos os grauspelaPontifíciaUniversidadeCatólicadoRiodeJaneiro.
82 83
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
concentramos sobre o papel da cooperação para o desenvolvimento nas relações bilaterais, assim como na interação por meio de meca-nismos multilaterais tais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas).
Por que comparar a cooperação com Angola à cooperação com Moçambique? Além de serem países lusófonos, ambos pas-sam por períodos de crescimento econômico elevado (crescimen-to anual do PIB de 13,3% e 7,4%, respectivamente). A abundân-cia de recursos naturais nos dois países – sobretudo o petróleo e gás em Angola e o carvão em Moçambique – tem atraído atores do setor público e privado. As relações abarcam não apenas ini-ciativas diplomáticas e de cooperação técnica coordenadas pelo governo brasileiro, mas também uma gama ampla de atores de ambos os lados: empresas transnacionais, organizações não gover-namentais, igrejas e associações profissionais, para mencionar apenas quatro categorias de interlocutores.
Por outro lado, são dois países bastante distintos. Moçambique possui cerca de 22,4 milhões de habitantes, ao passo que Angola tem “apenas” 17,4 milhões. Em 2010, o PIB nominal per capita de Angola – cerca de 4.700 dólares – ofuscava o de Moçambique, de apenas 4262. Passados vinte anos do final da guerra civil moçam-bicana, o país permanece fortemente dependente da assistência ao desenvolvimento oferecida pelos países doadores, organizações multilaterais e provedores de cooperação Sul-Sul, ao passo que Angola goza de maior autonomia e recursos, com um fundo sobe-rano (estabelecido em outubro de 2012 com recursos do petróleo e gás) que investe dentro e fora do país. Além disso, Angola está loca-lizada no Atlântico Sul, cujo panorama geopolítico difere bastante do contexto regional de Moçambique, situado no Oceano Índico.
Tais divergências oferecem uma oportunidade para se analisar até que ponto a política externa brasileira para a África subsaaria-
2 CPLP(2013)“ComunidadedePaísesdeLínguaPortuguesa:breveretratoestatístico”12de julhode2013.Disponívelem:http://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/12CPLP_2012_201307.pdf
na – se é que ela existe no sentido regional – se adapta (ou é adap-tada) às condições, oportunidades e percepções locais. Levando em conta as divergências entre Angola e Moçambique, o argumento central do texto é que a cooperação brasileira com esses países, lon-ge de ser homogênea, reflete fatores históricos, políticos e socioeco-nômicos específicos a cada país. Debruçar-se sobre tais divergências exige repensar as relações Brasil-África de acordo com as experiên-cias de cada país parceiro e como essas especificidades, por sua vez, influenciam a interação com atores brasileiros.
O capítulo está estruturado da seguinte forma. A primeira sessão oferece um pano de fundo histórico das interações entre o Brasil e a África, sobretudo com os países que contam com o portu-guês dentre suas línguas oficiais. Em seguida, analisamos as iniciati-vas de cooperação para o desenvolvimento no contexto mais amplo das relações entre o Brasil e Moçambique e Angola, tratando não apenas das divergências entre os dois casos, mas também de certas transformações ocorridas ao longo do tempo. A conclusão lida com o papel da cooperação técnica em um contexto de crescimento eco-nômico reduzido e aponta direções para futuras pesquisas.
A cooperação Sul-Sul e as relações Brasil-África
O conceito de cooperação Sul-SulO conceito de cooperação Sul-Sul tem suas origens na Guerra
Fria, e mais especificamente nas tentativas lançadas por países do então chamado Terceiro Mundo com o duplo objetivo de se dis-tanciarem do embate ideológico travado pelas superpotências, e de encontrarem novos caminhos para o desenvolvimento socio-econômico. Coalizões flexíveis, tais como o Movimento dos Não Alinhados (MNA) e o Grupo dos 77 (G-77) permitiam que paí-ses em desenvolvimento juntassem forças para reivindicar uma ordem internacional mais justa e legítima. No âmbito da ONU, a proposta da Nova Ordem Econômica Internacional (Neio) não surtiu o impacto esperado, e foi criticada por alguns analistas pelo conservadorismo excessivo (Rist, 1996). No entanto, a criação
84 85
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
da Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) resultou dos esforços feitos pelos países em desen-volvimento para alterar a arquitetura da governança global e lan-çou os primeiros esforços de institucionalização da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento no âmbito das grandes organiza-ções multilaterais. Portanto, desde o início, o conceito de coope-ração Sul-Sul tem natureza dupla: trata-se, ao mesmo tempo, de projeto político e empreitada econômica.
A essas dimensões foram-se somando outras, conforme refle-te o discurso oficial da ONU. De acordo com a organização, a cooperação Sul-Sul abarca também aspectos sociais, culturais e ambientais3. A Conferência sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, de 1978, que produziu o Plano de Ação para Promover e Implementar a CTPD (também conhecido como Plano de Ação de Buenos Aires), representou um marco não apenas no processo de institucionalização da cooperação Sul-Sul dentro do âmbito da ONU, mas também na ampliação da definição dessa cooperação.
A cooperação Sul-Sul se expandia não apenas via plataformas multilaterais, mas também por meio das relações bilaterais. Já nas décadas de 50 e 60, países tais como a China, a Índia e o Brasil passaram a oferecer cooperação técnica e econômica, desde investimentos em infraestrutura até capacitação e compartilha-mento de tecnologias em áreas como agricultura, saúde e edu-cação. A África, palco de movimentos de libertação e indepen-dência, tornou-se um foco importante nessa primeira onda de cooperação Sul-Sul, com interesses econômicos respaldados pelo discurso de solidariedade que foi popularizado por intermédio do Movimento Não Alinhado e o G-77.
Contudo, tanto no plano bilateral quanto no multilateral, a escassez de recursos e a inflexibilidade da configuração bipolar da Guerra Fria limitavam o escopo da cooperação Sul-Sul. Além disso, a partir de meados da década de 70, houve uma forte retração da
3 UNDP, 2014. Disponível em: <http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html>Acessoem:19jun.2014.
cooperação Sul-Sul, tanto em termos de fluxos quanto em termos de saliência do tema em discussões globais sobre o desenvolvimento internacional. Com o alastramento dos efeitos da crise do petróleo de 1973, muitos países em desenvolvimento se endividaram, recor-rendo às instituições de Bretton Woods. Como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial condicionavam os emprés-timos aos ajustes estruturais, que incluíam cortes orçamentários, muitos provedores reduziram seus programas de cooperação Sul-Sul. Embora o Plano de Ação de Buenos Aires tivesse mantido a cooperação entre países em desenvolvimento na pauta da ONU, na prática o discurso da cooperação Sul-Sul não se traduziu em inicia-tivas transformadoras durante as décadas de 80 e 90.
Tal quadro começou a se reverter apenas a partir dos anos 2000, quando a cooperação Sul-Sul bilateral ganhou novo fôlego e se expandiu consideravelmente, com a China assumindo a vanguarda. A abertura gradual da economia chinesa e a política de investimen-tos do governo chinês começavam a render vastas reservas interna-cionais, e a liderança chinesa optou por usar parte desse excedente de forma a fomentar a internacionalização de suas empresas estatais e privadas, incentivando-as a investir sobretudo na África. Outras grandes economias em desenvolvimento, dentre as quais o Brasil, a Índia, e a Turquia, também passaram por períodos de crescimento relativamente elevado, retomando ou intensificando suas iniciativas de cooperação para o desenvolvimento. Com essa “segunda onda” de cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, tais países passaram por uma mudança de status no campo do desenvolvimento inter-nacional: de recipiendários de assistência, tornaram-se provedores de cooperação, mesmo que ainda recebam alguma assistência por parte de doadores e organizações multilaterais.
Além da mudança de status desses países, o período foi marca-do por uma série de tendências. Em primeiro lugar, houve certa diversificação dos atores engajados na cooperação Sul-Sul – não apenas em termos de Estados oferecendo cooperação, mas tam-bém no que diz respeito à gama de atores da sociedade civil e do setor privado envolvida em tais iniciativas (independentemente, ou em parceria com atores estatais). Tal padrão se deve em parte à maior disponibilidade de recursos financeiros, em comparação
86 87
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
com o período da Guerra Fria. Tendo atingido certa estabilidade macroeconômica e alcançado um nível de crescimento econômi-co razoavelmente elevado, as ditas potências emergentes podiam alocar recursos extras para a expansão da sua cooperação Sul-Sul. Em segundo lugar, o discurso de solidariedade, horizontalida-de e não intervenção se intensificou também por meio de novas coalizões informais de potências emergentes, tais como o Fórum de Diálogo Índia – Brasil – África do Sul (Ibas) e o agrupamen-to Brics, (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), assim como organizações regionais tais como a Unasul, a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento (SADC) e a Organização de Cooperação de Shanghai (OCS).
Em terceiro lugar, alguns provedores de cooperação Sul-Sul, entre os quais os Brics, passaram a defender que o Estado deve desempenhar um papel de protagonista no desenvolvimento. Embora a atuação do Estado varie bastante entre tais países, seus governos rejeitam abertamente as políticas de mercado dissemi-nadas por meio do Consenso de Washington. Em certas regiões, sobretudo a América Latina, governos de esquerda reforçaram o papel do Estado no desenvolvimento, tanto no âmbito doméstico quanto na cooperação internacional. Como muitas dessas econo-mias se recuperaram de forma relativamente rápida após o choque inicial da crise financeira global que eclodiu em 2008, os discursos que ressaltam divergências entre a cooperação Sul-Sul e a assistên-cia do Norte se intensificaram.
Ao mesmo tempo, a assistência do Norte passava por um momento de crise. Por um lado, desde os ataques de 11 de setem-bro e o início da Guerra ao Terror, os EUA e seus aliados passaram a enfatizar questões de segurança internacional. Com isso, a assis-tência ao desenvolvimento ficou em segundo plano e, em muitos casos, sendo redirecionada de forma a alcançar objetivos de segu-rança. A securitização do desenvolvimento internacional ocorreu tanto dentro quanto fora da ONU. Além disso, após o início da crise financeira, em 2008, a assistência oficial ao desenvolvimento (official development assistance – ODA) sofreu uma retração tempo-rária, justamente quando o volume e o alcance da cooperação Sul-Sul continuava crescendo (Mawdsley, 2012).
Nesse contexto, ao mesmo tempo em que a cooperação Sul-Sul ganhava peso, o Comitê para a Assistência ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE tratava de avançar a Agenda para a Eficácia. Marcos como a assinatura da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento, em 2005, e o lançamento da Agenda de Ação de Acra, em 2009, foram iniciativas importantes no esforço, por parte da OCDE, de “harmonizar” as normas e prá-ticas do campo do desenvolvimento internacional. A iniciativa – lançada pelos países desenvolvidos – tentou incorporar provedores de cooperação Sul-Sul, mas vem encontrando resistência por parte dos Brics. O distanciamento desses países da agenda da eficácia tor-nou-se ainda mais evidente em 2011, na ocasião da IV Reunião de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda, realizada em Busan, e em 2014, quando a Parceria Global foi lançada na Cidade do México.
O Brasil e a cooperação técnica Sul-SulO Brasil passou a oferecer cooperação técnica a outros países
em desenvolvimento ainda durante a década de 60, quando certos ministérios lançaram iniciativas voltadas para parceiros da América Latina e da África. Tais esforços se concentravam na capacitação de funcionários públicos de países parceiros. Por exemplo, a Escola de Administração Fazendária (Esaf ) do Ministério da Fazenda ins-crevia funcionários de Angola e Moçambique em cursos oferecidos no campus da instituição em Brasília. No entanto, tais iniciativas eram bastante limitadas, tanto em termos do número de ações lan-çadas, quanto no que diz respeito aos gastos. A cooperação técnica que o Brasil oferecia a países parceiros era muito pequena quando comparada à assistência que o país recebia dos doadores e das orga-nizações multilaterais. Além disso, a coordenação da cooperação Sul-Sul era limitada. Embora o Ministério das Relações Exteriores (MRE) assessorasse os demais ministérios na assinatura de certos acordos internacionais, ainda não possuía divisão ou agência dedi-cada exclusivamente à coordenação dessas iniciativas. Com isso, a vinculação entre a política externa brasileira e a cooperação técnica oferecida por órgãos do governo senão o MRE era tênue.
88 89
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Mesmo assim, com o discurso da cooperação Sul-Sul se fortale-cendo no âmbito da ONU, sobretudo a partir do Plano de Ação de Buenos Aires, o Brasil tomou certas medidas para fortalecer a sua cooperação Sul-Sul. Em 1987, foi fundada a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), divisão do Ministério das Relações Exteriores (MRE) encarregada de coordenar a cooperação internacional do Brasil, tanto a recebida quanto a oferecida. Embora boa parte das iniciativas de cooperação Sul-Sul oferecidas por ministérios e outras divisões do governo ficassem fora da pasta da ABC (Cervo, 1994), a criação da ABC foi um passo importante na instituciona-lização da cooperação técnica brasileira, permitindo também um maior alinhamento entre tais iniciativas e a política externa. Com o fim da Guerra Fria, o Brasil encontrou novas formas de inserção internacional, inclusive por meio da cooperação Sul-Sul. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), foram pri-vilegiados na cooperação Sul-Sul brasileira os países do Mercosul e outras grandes economias em desenvolvimento, especialmente a China, a Índia e – após o colapso do regime Apartheid, em 1994 – a África do Sul (Saraiva, 2007).
A partir de 2003, o governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) tornou a cooperação Sul-Sul uma das prioridades da política externa. Como o governo visava projetar o Brasil como potência emergente – não apenas dentro da sua própria região, mas também no plano global – a cooperação técnica passou a ser utilizada para facilitar ou cimentar as relações com outros países em desenvolvimento.
Para tal, o governo lançou mão de estratégias institucionais e discursivas. No plano institucional, como parte de um esforço de ampliação do corpo diplomático, a ABC passou por reformas que visaram a expansão da capacidade de coordenação de proje-tos pelo MRE. As mudanças foram realizadas com o objetivo de estreitar o alinhamento entre a cooperação técnica e, por outro lado, as prioridades da política externa tais como estabelecidas pelo governo – ponto ressaltado pela própria ABC, de acordo com a qual, a missão da cooperação Sul-Sul brasileira é a de:
contribuir para o adensamento das relações do Brasil com os países em desenvolvimento para a ampliação dos seus inter-câmbios, para a geração, disseminação e utilização de conheci-mentos técnicos, para a capacitação de seus recursos humanos e para o fortalecimento de suas instituições, por meio do com-partilhamento de políticas públicas bem sucedidas4.
Mesmo com sua pasta de projetos ampliada, certas limitações institucionais perduraram. Por exemplo, o quadro reduzido de fun-cionários restringe a profissionalização da cooperação oficial, e a ausência de um marco legal para a cooperação internacional difi-culta a alocação de recursos e pessoal para projetos de cooperação técnica no exterior.
No que diz respeito ao discurso oficial da cooperação Sul-Sul, o governo brasileiro continuou sublinhando o caráter horizontal da sua cooperação, argumentando que a sua cooperação técnica atende a demandas identificadas pelos governos parceiros e res-saltando que o Brasil não impõe condicionalidades políticas à sua cooperação Sul-Sul. Tais afirmações servem não apenas para diferenciar a cooperação brasileira da assistência do Norte, mas também para enfatizar os laços de solidariedade para com outros países em desenvolvimento. De maneira geral, o discurso oficial também trata de apresentar o Brasil como uma fonte alternativa e positiva de políticas públicas inovadoras, retratando a coopera-ção brasileira como mais eficaz e complementar que a assistência provida pelo Norte, por causa do fato de o país já ter passado por experiências que seriam mais semelhantes aos desafios enfrenta-dos por outros países em desenvolvimento (em comparação com os países avançados). Por isso, o governo considera a cooperação Sul-Sul distinta da “ajuda ao desenvolvimento”, buscando distan-ciar o Brasil da categoria de “doadores”.
Apesar do discurso de solidariedade e horizontalidade, a coo-peração Sul-Sul não é isenta de assimetrias, nem se trata de ação desinteressada. As iniciativas de cooperação Sul-Sul – inclusive a cooperação técnica – são impulsionadas por um leque variado de interesses políticos, econômicos e sociais.
4 ABC,2014.Disponívelem:http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/Historico>Acessoem:19jun.2014.
90 91
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
As relações Brasil-ÁfricaAs relações entre o Brasil e os países africanos têm variado ao lon-
go do tempo. Os laços entre o Brasil e a África remontam ao comér-cio do império português, e particularmente o tráfego de escravos que eram levados da África para o Brasil. De Angola, por exemplo, escravos atravessavam o Atlântico Sul em direção ao Brasil.
Houve também alguma movimentação na direção oposta, de administradores, mercenários, missionários e aventureiros. No século XVII, Angola teve três governadores “brasílicos”—Salvador de Sá (1648-1652), João Fernandes Vieira (1658-1661) e André Vidal de Negreiros (1661-1666) que possuíam proprie-dades no Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba (Alencastro, 2007). Com o término legal e, mais adiante, de facto do comércio de escravos, o contato entre o Brasil independente e colônias afri-canas se reduziu a um mínimo.
Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil redirecionou sua política externa de forma a alimentar o projeto de desenvolvimento econômico e industrial do país. No contexto bipolar do pós-Guer-ra, o alinhamento com o bloco ocidental, sobretudo os Estados Unidos, era percebido pelas elites brasileiras como o curso de ação mais favorável ao projeto de desenvolvimento nacional. Foi apenas na década de 60 que o governo optou por diversificar suas rela-ções exteriores em busca de novas oportunidades econômicas. O primeiro passo nessa direção foi dado no governo Jânio Quadros, por meio de sua Política Externa Independente (PEI). A adoção de uma postura mais autônoma frente à bipolaridade da Guerra Fria tinha o objetivo de alcançar novos mercados que pudessem absor-ver produtos da indústria brasileira em expansão, trazendo bene-fícios econômicos para o país. As relações do Brasil com a África foram enfatizadas, por exemplo, por intermédio da criação do departamento de África no Itamaraty, da abertura de embaixadas no continente e da criação do Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos5. Quadros aprofundou a PEI, sobretudo as relações com
5 OInstituto,criadoem1961,foiextintoem1964pelogovernomilitar,sendoretomado apenas em 1973 como o “Centro de Estudos Afro-Asiáticos” e
o continente africano, sob a “Política dos 3Ds” (Desarmamento, Desenvolvimento e Descolonização), que tentava se colocar acima dos constrangimentos ideológicos da Guerra Fria6.
No entanto, o regime militar que se instalou no Brasil após o golpe de Estado de 1964 reverteu o rumo da política externa, alinhando-a de novo com os EUA. Tal orientação mudaria mais uma vez apenas a partir de 1974, quando – em busca de novas parcerias econômicas – o governo enfatizou novamente a coope-ração Sul-Sul, inclusive com países da África e do Oriente Médio. No período da ditadura, as relações com a África foram retomadas gradualmente pelos governos Costa e Silva (67-69), Médici (69-74) e Geisel (74-79), sempre com foco na diversificação de parce-rias (Médici firmou 30 tratados comerciais com países africanos e Geisel, 22). Vale destacar que no governo Geisel, o “pragmatismo responsável e ecumênico” da política externa brasileira priorizou as relações com a África, os países árabes e o campo socialista.
No entanto, a descolonização permaneceu tema bastante sen-sível para o Brasil, em função da postura de passividade adota-da pelo governo brasileiro ao colonialismo português na África. Apesar de defender os princípios da soberania e da autodeter-minação, o Brasil chegou a defender o colonialismo europeu, e principalmente o português, na África. O compromisso político advindo do Tratado de Amizade e Consulta, que o Brasil assinou com Portugal em 1953, restringia a liberdade de ação do Brasil quanto ao tema colonial (Cau, 2011 p.55). Como parte de sua estratégia, o Brasil tratava de dar um caráter distinto ao colonia-lismo português, frente aos demais colonialismos7. Isso permitia uma postura mais flexível, porém bastante ambígua. Tal ambi-guidade ficava muito clara nas posturas que o Brasil adotava nas
sediado pela Universidade Cândido Mendes.6 APEIpodesermaisbemcompreendidapormeiododiscursododiplomatabrasileiroAraújo Castro na XVIII Sessão daAssembleia Geral da ONU, emNova Iorque. 7 Inclusive, Portugal defendia que os territórios ultramarinos não eramdependências,mas sim províncias de umEstado unitário. E, por sua vez, oBrasilreafirmavaessaposição.
92 93
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Nações Unidas. Por exemplo, ao mesmo tempo em que o país votava contra a resolução que recomendava a Portugal apresen-tar à ONU informações sobre as suas colônias na África, o Brasil também votava a favor do projeto de “Declaração sobre a conces-são de independência aos povos e países das colônias”.
Além de prejudicar seu relacionamento com as colônias por-tuguesas, esse posicionamento também dificultou as relações com outros países africanos, tendo em vista o engajamento destes na luta pelo fim do colonialismo e em favor da autodeterminação dos povos. O Brasil só abandonou sua postura de ambiguidade com o colapso do colonialismo português, esgotado definitivamente após a Revolução dos Cravos e o fim do regime Salazarista em 1974.
Os efeitos da crise do petróleo de 1973, somados ao esgotamen-to do modelo de desenvolvimento praticado no Brasil até então (o da substituição de importações), levaram ao endividamento externo, induziram taxas elevadas de inflação e provocaram baixo crescimento econômico. A crise também foi fator na mudança de postura do Brasil quanto ao colonialismo português. Afinal, uma aproximação com a África portuguesa serviria não apenas para melhorar a imagem do Brasil com outros países em desenvolvi-mento (inclusive os produtores de petróleo), mas também para prospectar novas fontes de petróleo para o Brasil.
A partir dessa virada, o Brasil passou a estabelecer políticas de longo prazo e perseguir objetivos mais estratégicos em relação à África. Porém, vale ressaltar que o reconhecimento das indepen-dências foi um reconhecimento de facto; o Brasil não condenou publicamente a política colonialista de Portugal. Assim sendo, no período pós-independências, o Brasil enfrentou certo ressen-timento africano por causa de sua postura de passividade durante o período colonial.
A partir da instalação de representações diplomáticas nos paí-ses recém-independentes, as relações com os países africanos de língua portuguesa começaram a se aprofundar. Foi concedida prioridade estratégica aos países ricos em petróleo, assim como aqueles cujo mercado consumidor parecia promissor para os pro-dutos industrializados brasileiros. Atenção especial foi dada a Angola em função de seus recursos minerais abundantes.
Em um contexto internacional marcado por adversidades, a política externa do governo Figueiredo (79-85) adotou o univer-salismo como orientação política, com o objetivo de consolidar uma maior autonomia para o país. O Brasil buscou então reforçar uma identidade terceiro-mundista, aprofundando as relações com outros países em desenvolvimento e mantendo sua aproximação com o Movimento dos Não Alinhados (mesmo sem ingressar for-malmente na organização). Nesse período, a África continuou sen-do uma prioridade da diplomacia brasileira, apesar da cooperação ter sido limitada em função das fortes instabilidades políticas e eco-nômicas presentes em ambos os continentes. Figueiredo foi o pri-meiro presidente brasileiro a visitar a África, passando pela Nigéria, Senegal, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Argélia em 1983.
Com a redemocratização brasileira e o fim da Guerra Fria, o gover-no Sarney (85-90) buscou diversificar ainda mais as relações externas. No entanto, os ajustes estruturais do consenso de Washington, que pregava a austeridade fiscal e os princípios do mercado, estreitaram as opções tanto no âmbito doméstico quanto no plano internacional. Com isso, a cooperação Sul-Sul brasileira se enfraqueceu, o que se refletia também na sua cooperação técnica; o país ainda recebia mais assistência do que oferecia cooperação Sul-Sul.
Mesmo assim as relações entre o Brasil e a África na década de 90 recebem interpretações distintas; certos autores enxergam um incremento dos laços, ao passo que outros interpretam a década como marcada pelo enfraquecimento dessas relações. Rizzi (2005) aponta um declínio nas relações Brasil-África, citando diversos fatores, entre os quais: a diminuição do número de diplomatas brasileiros servindo na África; o abatimento do comércio Brasil-África no período pós-Guerra Fria; a vulnerabilidade política e econômica dos países africanos; e a escassez de novas oportunida-des de comércio. Já nas interpretações de Hirst e Pinheiro (1995) e Pimentel (2000), houve retomada gradual da política africana na década de 1990. Pode-se considerar que o Brasil fez, como coloca Saraiva (1996), “opções seletivas” no continente africano no perí-odo pós-Guerra Fria, concentrando-se em quatro linhas de ação. No plano bilateral, o Brasil buscou estreitar laços com a África do Sul uma vez que o regime Apartheid terminou, em 1994, e com
94 95
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Angola, para onde enviou tropas como parte da missão de paz da ONU. Na dimensão multilateral, o Brasil investiu na revitaliza-ção da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas)8 e na criação da Comunidade de Países Lusófonos (CPLP), lançada em julho de 19969. Contudo, no âmbito geral, o Brasil buscou mais contato com os EUA e com a Europa, enfatizando também o recém-formado Mercosul e, em segundo plano, procurando certa aproximação com a Ásia. Como parte da sua política de aproxima-ção com outras potências regionais, o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) também aprofundou os laços com a África do Sul, englobando aspectos políticos e econômicos.
As parcerias do Brasil na África se intensificaram e se diversi-ficaram após a virada do milênio, quando o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) optou por priorizar a cooperação Sul-Sul, inclusive como forma de aumentar a autonomia da política externa brasileira em relação aos países do Norte. O novo grau de importância dado à África como um todo, se reflete na abertura ou reabertura de embaixadas e outras representações diplomáticas brasileiras no continente. O Brasil tem hoje representações em 37 dos 54 países africanos, das quais 19 foram inauguradas desde o início do governo Lula. Muitos países africanos reciprocaram o ges-to abrindo também missões em Brasília: 17 embaixadas e escritó-rios de países africanos foram inaugurados em Brasília, somando-
8 AZopacasfoirelançadaem1994,eapropostaparaacriaçãodaCPLPfoilançadaem1989,duranteogovernoItamarFranco,sendoqueaorganizaçãofoi fundada em1996 coma participação—alémdoBrasil – deAngola,CaboVerde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe (TimorLesteingressounacomunidadeem2002,apósobterasuaindependência,eaGuinéEquatorialsejuntouàorganizaçãoem2014).9 De acordo com o artigo 5º do Estatuto da CPLP (1996), são objetivosgerais da organização: 1- a concertação político-diplomática entre os seusmembros emmatéria de relações internacionais; 2- a cooperação em todosos domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa,oceanos e assuntos do mar, agricultura, segurança alimentar, administraçãopública,comunicações,justiça,segurançapública,economia,comércio,cultura,desportoecomunicaçãosocial;3-apromoçãoedifusãodaLínguaPortuguesa.
-se às 16 que já existiam10. A diplomacia presidencial de Lula, que se interessava pessoalmente pela África, também contribuiu para a intensificação das relações: Lula visitou a África mais vezes que qualquer antecessor. Tais esforços facilitaram não apenas a assinatu-ra de acordos oficiais, mas também a atuação de atores não estatais.
Os investimentos brasileiros na África, liderados pela Vale, Petrobras e grandes construtoras tais como a Odebrecht, aumen-taram de forma significativa, muitas vezes com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (BNDES). A própria estrutura do BNDES passou a refletir o maior empenho do governo em fomentar a cooperação Sul-Sul: o financiamento às exportações, lançados em 1990, foram expandidos e concentrados em divisão própria dentro do Banco. Em 2013, o BNDES abriu escritório em Joanesburgo para coordenar suas atividades em todo o continente africano.
O discurso oficial passou a ressaltar os laços históricos e demo-gráficos entre o Brasil e a África, por vezes sublinhando também a condição comum de ex-colônia11. Os países africanos membros da CPLP permaneceram prioridades, pois a organização – vista por parte da liderança como espécie de plataforma para a projeção do Brasil na África – foi adquirindo um caráter mais estratégico na política externa brasileira. Como aponta Coelin:
a inserção do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa dá-se justamente sob o duplo signo da avaliação político-estratégica do interesse nacional e do sentimento de solidariedade que nos aproxima de países e povos com os quais compartilhamos elementos históricos e culturais, bem como projetos comuns de desenvolvimento e paz. Assim, a CPLP constitui-se em marco orientador de prioridades para a atua-ção brasileira na cooperação Sul-Sul12.
10 BBC Brasil, 2011. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/10/111017_diplomacia_africa_br_jf.shtml 11 Tal discursominimiza o apoio dado pelo Brasil ao colonialismo portuguêsdurante boa parte daGuerra Fria, assim como os frequentes votos naONUcontra a independência de colônias africanas.12 Artigo disponível em: http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/CPLP-Port-4.pdf
96 97
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Durante a década de 2000, a agenda da CPLP foi amplia-da de forma a incluir não apenas cooperação cultural e para o desenvolvimento, mas também iniciativas voltadas para a segu-rança, como no caso da instabilidade recorrente em Guiné-Bissau. Do ponto de vista do Brasil, a organização também adquiriu maior peso por conta da nova política de defesa bra-sileira, que alçou o Atlântico Sul ao mesmo patamar de impor-tância historicamente dedicado a zonas de fronteira terrestres, sobretudo a Amazônia (Abdenur; Souza Neto, 2014).
A importância dos países lusófonos para a política externa do período se reflete também na cooperação Sul-Sul para o desen-volvimento. Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) indica que os países de língua portuguesa juntos receberam 27% do volume da Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica (CTC&T) brasileira entre 2005 e 2009 (Ipea, 2010). Segundo os dados na África, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Palop) são os princi-pais beneficiários da cooperação brasileira na África. Entre os Papop, Moçambique e Angola estão em segundo lugar na lista de maiores parceiros de CTC&T do Brasil (cada um deles rece-bendo o equivalente a 4% do total de CTC&T brasileira, sendo superados apenas por Guiné-Bissau que recebe cerca de 6%)13. Além das iniciativas bi e multilaterais, o número de projetos de cooperação triangular dentro da CPLP vem aumentando à medida que os países lusófonos têm buscado, cada vez mais, financiamento externo para suas atividades de cooperação, mes-mo para além dos doadores do Norte.
É, portanto, nesse contexto de aprofundamento das relações com a África que se dá a intensificação da cooperação brasileira com Moçambique e Angola, analisada na próxima parte do texto.
13 Ipea e ABC. (2010), Cooperação Brasileira para o DesenvolvimentoInternacional2005-2009.Brasília:Ipea/ABC.
A cooperação Brasil-Angola
O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência ango-lana, em 11 de novembro de 1975. Enquanto o Brasil se coloca como interlocutor entre Angola e o Ocidente (Rizzi, 2005 p. 37), Angola se posiciona como um mediador no projeto brasileiro de aproximação com países africanos. Sobretudo após a virada do milênio, o crescimento econômico, o fim da guerra civil angolana e a crescente importância do Atlântico Sul para as políticas externa e de defesa do Brasil tornaram Angola um dos principais interlocu-tores do Brasil na África.
As relações bilaterais foram lançadas por meio de iniciativas de cooperação econômica. Em abril de 1976, foi organizada a primei-ra missão comercial brasileira a Angola, levando representantes da Petrobras e do Banco do Brasil. Em julho de 77 foi firmado o con-vênio MRE-Seplan, que deu origem ao Programa de Cooperação Técnica Brasil-África. Dentro desse contexto, o primeiro gesto para incentivar a cooperação técnica entre Brasil e Angola foi a assinatu-ra do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, em junho de 1980, na ocasião da visita do Chanceler brasileiro Saraiva Guerreiro. Por meio desse acordo, surgiram projetos de cooperação nas áreas de saúde, cultura, administração pública, formação profis-sional, educação, meio ambiente, esportes, estatística e agricultura14. O acordo também levou à criação da Comissão Mista Brasil-Angola.
Um dos resultados dessa missão foi oficializado em 1979 com a assinatura do acordo entre a Petrobras e a Sonangol (petrolífera estatal angolana). Os primeiros grandes investimentos da iniciativa privada brasileira em Angola tiveram início na década de 1980. A pioneira nesse processo foi a Construtora Odebrecht, que come-çou a operar em Angola em 1984 na construção da Hidrelétrica de Capanda. Para facilitar a instalação de empresas do Brasil em Angola, o governo brasileiro começou a ampliar as linhas de crédi-
14 ABC, 2014. Disponível em: http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/Angola
98 99
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
to para o país africano. Em junho de 1986 foram oferecidos US$ 150 milhões e em julho de 1988 o valor liberado foi de US$ 235 milhões (Rizzi, 2005).
Com o final da Guerra Fria, a diplomacia bilateral foi se inten-sificando, o que se reflete nas visitas de chefes de Estado. Sarney foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Angola, em janeiro de 1989, e Fernando Henrique Cardoso viajou ao país em 1996. Com o fim da bipolaridade, surgiram novas oportunidades de coopera-ção e apoio mútuo no plano multilateral. Na década de 1990, o Brasil não apenas atuou junto ao CSNU em questões relacionadas à guerra civil angolana (1976-1991) e em apoio à legitimidade das eleições de 1992 no país, como também participou ativamente nas missões de paz da ONU em Angola a partir de 1995 (Rizzi, 2005).
A V sessão da Comissão Mista Brasil-Angola, realizada em Brasília, ampliou e aprofundou a cooperação bilateral. Durante a reunião, foram assinados diversos acordos e protocolos de intenções nas áreas de agricultura, energia, comércio, educação e formação profissional, entre outros, contando com a participação de diver-sos órgãos vinculados ao governo brasileiro, tais como a Embrapa, assim como entidades da sociedade civil, como o Senai e o Senac. A parceria entre a Petrobras e a Sonangol também foi aprofundada.
Em novembro de 1996, Fernando Henrique Cardoso visitou Angola (assim como a África do Sul) com o objetivo de rever-ter o decréscimo das relações econômicas. Como no caso de Moçambique, os laços entre o Brasil e Angola se aprofundaram com as oportunidades de cooperação trazidas pela criação da CPLP em julho de 1996.
Na esfera política, é importante destacar as afinidades de inte-resses entre Brasil e Angola no que diz respeito ao adensamen-to das relações de cooperação Sul-Sul e à revisão das relações de poder do sistema internacional, como, por exemplo, a elimina-ção das distorções no comércio de produtos agrícolas provocadas pelos países desenvolvidos (José, 2011 p. 235). Rizzi (2005) argu-menta que as relações bilaterais entre Brasil e Angola foram esta-belecidas com a independência, intensificadas economicamente na década de 1980 e amadurecidas a partir da década de 1990.
Dessa forma, o Brasil passou a atuar como um parceiro impor-tante na reconstrução do país após o fim da guerra civil angolana por meio de iniciativas públicas e privadas.
A relação comercial entre Brasil e Angola vem se tornado cada vez mais expressiva. Entre 2009 e 2013, as trocas comerciais entre os dois países aumentaram em 35,9%, de US$ 1,47 bilhão para US$ 1,99 bilhão. No entanto, os fluxos estão marcados por uma forte assimetria: o saldo da balança comercial permaneceu favo-rável ao Brasil em todo o período, registrando superávit de US$ 544 milhões em 2013. O Brasil exporta para Angola produtos manufaturados (71,3% do total), sobretudo açúcar refinado, máquinas, aviões e automóveis, e importa predominantemente produtos básicos (71,3% do total em 2013), com destaque para petróleo e gás natural15.
Como no resto da África lusófona, a presença de empresas bra-sileiras em território angolano também tem crescido. Em 2000, apenas 7 empresas brasileiras participaram da Feira Internacional de Luanda (Filda), ao passo que, na edição de 2009, o evento con-tou com 75 expositores brasileiros (José, 2011 p. 222).
Atualmente, entre as principais empresas brasileiras com atua-ção em território angolano, destacam-se as construtoras que par-ticipam em projetos de infraestrutura no país: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Odebrecht. Além disso, também existem proje-tos de grande porte sendo executados por empresas como Furnas, Petrobras, Vale do Rio Doce e Embraer. Em alguns projetos, as empresas possuem financiamento à exportação concedido pelo BNDES. Em outros, formaram joint ventures com empresas locais, como no caso da construção do primeiro shopping mall de Luanda, o Belas Shopping (parceria entre a Odebrecht e a angolana HO Gestão de Investimentos (Hogi)16.
15 Brasil Export, 2014. Disponível em: http://www.brasilexport.gov.br/sites/default/files/publicacoes/indicadoresEconomicos/INDAngola.pdf 16 Em2014,oshoppingcontavacomváriasmarcasbrasileiras,desdeaBob’s(restaurant fast food)atéEllus(roupas),Boticário(perfumaria)eMundoVerde(produtos orgânicos).
100 101
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Visitas presidenciais contribuíram para a intensificação da cooperação econômica. Lula esteve em Angola em duas ocasiões como presidente – em 2003 e novamente em 2007 – aprovei-tando para anunciar o aumento do crédito concedido ao país para um montante de dois bilhões de dólares. Já em junho de 2010, em visita do presidente Santos ao Brasil, foram assinados acordos que elevaram o crédito do Brasil para Angola a uma fai-xa de 10 bilhões de dólares (José, 2011 p. 227). Esses incentivos econômicos serviram não apenas para consolidar os laços bila-terais, mas também para tentar contrapor a influência crescente da China em Angola.
Se no momento inicial o principal impulso das relações Brasil-Angola foi comercial, em um segundo momento a coo-peração técnica ganhou destaque na agenda bilateral. A ABC coordena diversos projetos em Angola. Na área de agricultura, a Embrapa tem um projeto estruturante de fortalecimento de instituições públicas de pesquisa agrícola. O projeto é executa-do por intermédio de parceria com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento de Angola e dois institutos de pesquisa locais e faz parte do programa de cooperação triangular entre o Brasil (coordenado pela ABC) e a FAO17.
Já na área de saúde pública, o Brasil tem um projeto de capa-citação do sistema angolano de saúde, financiado pela ABC e executado por diversas unidades da Fiocruz. O projeto tem dois componentes: apoio ao Instituto Nacional de Saúde de Angola (INS/Angola) e cooperação na formação de pesquisadores e docentes em temas de saúde18. O Brasil também coopera no for-talecimento das escolas de saúde pública de Angola, por exem-plo, por meio de um projeto para a realização de um curso de
17 Embrapa (s.d.) “Projetos estruturantes” https://www.embrapa.br/projetos-estruturantes 18 Centro de Relações Internacionais em Saúde (2012) “Relatório deAtividades” Fiocruz: http://portal.fiocruz.br/sites/default/files/documentos/Relatorio%20CRIS%202012%20b.pdf
mestrado em saúde pública. Em 2014 foi assinado também um acordo para novo projeto, um programa de prevenção e controle de malária com forte componente de capacitação técnica19.
Alguns projetos de cooperação técnica são colocados em prática por entidades da sociedade civil brasileira. O Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai), por exemplo, em parceria com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Angola (Inefop), inaugurou o Centro de Formação Profissional Brasil-Angola (tam-bém conhecido como Centro de Formação Profissional do Cazenga) em novembro de 1999, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O projeto, fruto de longa parceria20 entre os dois países, foi elaborado de forma a contribuir para a oferta de mão de obra qualificada para prestar apoio nos esforços de reconstrução do país. O controle do centro, que visa a formação e reciclagem de mão de obra desmobilizada, foi transferido para o governo angola-no em 2005. Atualmente o Instituto atende cerca de 1.200 alunos anualmente e funciona com cerca de 30 instrutores, a maioria com cursos de formação profissional realizados no Brasil21.
No que diz respeito à cooperação cultural, podemos citar a doação de 1.419 livros brasileiros para bibliotecas angolanas em 2003; a inauguração da Casa de Cultura Brasil-Angola e Centro de Estudos Brasileiros Embaixador Ovídio de Andrade e Melo, instalada em Luanda também em 2003; e a realização do Dia da Amizade Angola-Brasil em Luanda, com apresentação de diver-sos artistas dos dois países (Jos, 2011). Na área de gestão da Cultura, o Ministério da Cultura e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) cooperam com o Ministério da Cultura angola-no na capacitação de técnicos, na recuperação do acervo audio-visual angolano e na área de arquivo histórico. O Instituto do
19 ABC(s.d.)disponívelem:http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarnoticia/152 20 AprimeiravisitadetécnicosdaABCedoSenaiaLuandaocorreuem1997.21 Agência Brasileira de Cooperação (s.d.) “Centro de Formação Brasil-Angola”. Disponível em: http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/CentroFormacaoAngola
102 103
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também atua na execução deste projeto22.
Além da cooperação bilateral, o Brasil também oferece a Angola cooperação por meio da CPLP. Como exemplo, podemos citar o Programa de Formação Técnica em Informação em Saúde para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, que tem a participação da Fiocruz e inclui Angola entre os cinco países onde o projeto está sendo colocado em prática (os demais são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe)23.
A cooperação Brasil-Angola também se estende à dimensão política, com uma parceria estratégica assinada por meio de decla-ração conjunta em 23 de junho de 2010, na ocasião da visita do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Mecanismos insti-tucionais visando a consolidação das relações entre os dois países incluem a formação de uma Comissão Bilateral de Alto Nível e a assinatura do Plano Plurianual de Cooperação Brasil-Angola, que estabelece parâmetros para a ampliação da cooperação. Em 2011, o presidente Santos expressou seu apoio à candidatura brasileira a um assento permanente no CSONU24. Em 2014, o Brasil retri-buiu o gesto apoiando a candidatura de Angola ao cargo de mem-bro não permanente no mesmo Conselho25.
A importância estratégica de Angola para o Brasil aumentou com a reformulação da política brasileira de defesa, que eleva o Atlântico Sul ao mesmo patamar de importância historicamente
22 ABC (s.d.) “Brasil e Angola firmam três novos projetos de cooperaçãotécnica nas áreas cultural e de saúde).Disponível em: http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarnoticia/152 23 Fiocruz (s.d.) “Cooperação Internacional do Instituto de Comunicação eInformaçãoCientíficaeTecnológicaemSaúde”.Disponívelem:http://www.icict.fiocruz.br/content/cooperacao-internacional 24 MRE (2011) “Comunicado Conjunto por ocasião da visita da PresidentaDilmaRousseffaAngola”Luanda,20deoutubrode2011,Notaàimprensano.405.25 PortalBrasil,2014.Disponívelem:http://www.brasil.gov.br/governo/2014/06/dilma-anuncia-apoio-brasileiro-a-candidatura-de-angola-no-conselho-de-seguranca-da-onu
dada à Amazônia e à região do Prata. A nova atenção dada ao Atlântico Sul é, em parte, resultado das descobertas de reservas de petróleo nas camadas do pré-sal e dos esforços por parte da diplo-macia brasileira de ampliar as águas jurisdicionais do país por meio da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – elementos ressaltados pela campanha “Amazônia Azul,” lançada com o objetivo de conscientizar a população brasileira sobre a importância do espaço atlântico para o desenvolvimento e defesa nacionais. Como o Brasil vem desempenhando papel de lideran-ça no processo de revitalização da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas), mecanismo que busca estimular a coo-peração para a manutenção de um ambiente de paz e cooperação na região, Angola tornou-se um parceiro ainda mais importan-te em questões geopolíticas (Abdenur; Souza Neto, 2014). Em 2007, Luanda sediou reunião ministerial da Zopacas, ao final da qual foi lançado o Plano de Ação de Luanda.
Além do âmbito multilateral, Angola vem tornando-se importante parceira em assuntos militares; a parceria estratégica em defesa prevê não apenas o aumento das exportações de mate-riais de defesa do Brasil para Angola, mas também o Programa de Desenvolvimento do Poder Naval de Angola (Pronaval), no que a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), da Marinha brasileira, irá cooperar com o governo angolano na construção de estaleiros, capacitação de recursos humanos, e manutenção e operação de seis navios-patrulha adquiridos tam-bém por meio do Pronaval. Outros aspectos da cooperação bila-teral em defesa abrangem o ensino e treinamento de oficiais e suboficiais, saúde militar, operações especiais, missões de paz e sistemas de vigilância marítima26.
26 PortalBrasil,2014. “Angolabuscacooperaçãobrasileirapara implementarPrograma Naval”. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/08/angola-busca-cooperacao-brasileira-para-implementar-programa-naval
104 105
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
A cooperação Brasil-Moçambique
As relações diplomáticas entre os dois países foram estabele-cidas em 15 de novembro de 1975, poucos meses após a inde-pendência de Moçambique. Em 1976 foi aberta a Embaixada em Maputo (a Embaixada de Moçambique seria estabelecida em Brasília apenas em 1998). Os primeiros anos da relação bilate-ral foram complicados por conta de diversos fatores. Do lado moçambicano, restava um ressentimento por parte das lideranças políticas em relação ao apoio que o Brasil havia dado ao colo-nialismo português, o que provocou certa resistência e falta de confiança mesmo após o lançamento das relações formais. Além disto, durante a Guerra Fria Moçambique optou por manter uma cooperação privilegiada com países socialistas dentro do contexto de bipolaridade da época, justamente quando o Brasil ainda se encontrava sob regime militar. Por fim, a instabilidade regional e a guerra civil moçambicana, que eclodiu em 1977, também pre-judicaram um contato mais próximo com o Brasil.
Já o Brasil passava por sérias dificuldades econômicas, agrava-das pela crise do petróleo. A contenção de despesas dificultou a disponibilidade de crédito para Moçambique, justamente quan-do o período pós-independência demandava investimentos, limi-tando a dimensão da cooperação técnica oferecida pelo Brasil. Em função desse cenário adverso, a primeira visita oficial de um representante do governo moçambicano ao Brasil ocorreu apenas em setembro de 1981, quando Joaquim Chissano, então Ministro de Negócios Estrangeiros, esteve no Brasil. Nessa ocasião foi assi-nado o Acordo Geral de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de Moçambique, estabelecendo um arca-bouço geral para o aprofundamento das relações bilaterais. Em meados da década de 80, com o processo de redemocratização no Brasil, as relações com a África ganharam novo fôlego.
Com o fim da guerra fria, o contexto político-econômico melhorou consideravelmente para as relações bilaterais entre Brasil e Moçambique. O período de redemocratização do Brasil coincidiu com a o fim da guerra civil moçambicana e a transição
do país para uma economia de mercado. A estabilidade políti-ca, a consolidação da democracia e os avanços econômicos em Moçambique criaram condições favoráveis para o aprofunda-mento das relações bilaterais. Do lado brasileiro, o Plano Real, colocado em prática em 1994 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, trouxe a estabilidade macroeconômica e, portan-to, as bases para a retomada do crescimento econômico. Já Moçambique, cuja economia tornou-se altamente dependente da assistência do Norte, buscava diversificar suas parcerias no exte-rior, inclusive com os provedores de cooperação Sul-Sul.
As relações bilaterais se intensificam durante o governo Lula. Durante sua presidência, Lula visitou Moçambique três vezes (em 2003, 2008 e 2010), assinando vários acordos de cooperação bila-teral com o país e perdoando quase toda a dívida de Moçambique (US$ 315 mi de US$ 330 mi). Na cooperação técnica, ampara-da pelo Acordo Geral assinado em 1981, destacam-se projetos na área de desenvolvimento urbano, agricultura e segurança alimen-tar, saúde pública e fortalecimento do Poder Judiciário. De acor-do com a ABC, ao final de 2011, o programa bilateral de coope-ração técnica Brasil-Moçambique era composto por 21 projetos em execução, sendo que outros nove se encontravam em processo de negociação. Dentre os projetos mais visíveis nas mídias e nos debates públicos estão o projeto ProSavana, parceria entre a ABC e a agência japonesa de desenvolvimento internacional (Jica) e o governo moçambicano, que visa transformar a região de savana na província de Matola em um grande corredor de monocultu-ra voltada à exportação de commodities. O projeto, inspirado na experiência da Embrapa de transformação do cerrado do centro--oeste brasileiro, visa a modernização da agricultura de Nacala de forma a aumentar a produtividade e produção, mas também tem sido alvo de críticas por parte da sociedade civil por incluir o des-locamento de populações locais.
Outro projeto de destaque é a instalação, liderada pela Fiocruz, de uma fábrica de medicamentos, sobretudo antirretrovirais usados no tratamento do HIV/Sida, em Matola. A fábrica, originalmente prometida por Lula durante visita a Maputo em 2003, foi cons-
106 107
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
truída com financiamento da Vale no município de Matola, perto da capital, visando a transferência de tecnologias e conhecimento na fabricação, embalagem, armazenamento, controle de qualidade e distribuição de medicamentos. Apesar de ter sido formalmente inaugurada em 2012, o projeto tem sofrido uma série de atrasos e ainda não se encontra plenamente operacional.
Embora esses dois projetos tenham recebido atenção na mídia e nos debates públicos, há outras iniciativas voltadas para o forta-lecimento de capacidades locais, muitas delas visando a criação ou ampliação de instituições governamentais. Por exemplo, a Fiocruz contribui para a criação de um banco de leite materno, para a ampliação de um mestrado em ciências da saúde, e para o fortaleci-mento do Instituto Nacional de Saúde (Almeida et. al., 2010).
A maioria dos projetos de cooperação técnica é coordena-da pela ABC e colocada em prática por ministérios ou insti-tuições vinculadas ao Estado, tais como a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com órgãos do governo moçambicano. No entanto, alguns projetos são executados juntamente com ato-res não estatais, sobretudo do lado brasileiro. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por exemplo, está imple-mentando um centro de formação profissional em Maputo.
Na área de desenvolvimento urbano, também existem projetos de cooperação técnica que foram estabelecidos entre municípios brasileiros e municípios moçambicanos. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, já havia cooperado com Xai-Xai e Inhambane, com-partilhando sua experiência com reassentamentos. Mais recente-mente, em janeiro de 2013, surgiu um projeto com maior dimen-são para o intercâmbio de ferramentas de gestão urbana entre cidades dos dois países. O objetivo é melhorar a capacidade de gestão do desenvolvimento de oito municípios em Moçambique (Dondo, Inhambane, Lichinga, Manhiça, Maputo, Matola, Nampula e Xai-Xai) e seis no Brasil (Porto Alegre, Belo Horizonte, Guarulhos, Vitória, Canoas e Maringá), assim como de duas asso-ciações de autoridades locais (Associação Nacional de Municípios de Moçambique – ANAMM – e Frente Nacional de Prefeitos
do Brasil – FNP), mediante ações de intercâmbio de boas práti-cas e capacitação institucional27. Concretamente, o projeto inclui o desenvolvimento, a adaptação local, a gestão e conhecimento de três ferramentas de gestão pública (Orçamento Participativo; Cadastro Territorial Multifinalitário; Plano Diretor Participativo), por meio da troca de experiências entre as cidades dos dois países28.
A cooperação também se estende à área de defesa. Em julho de 2005, foi estabelecida a adidância das Forças Armadas jun-to à Embaixada em Maputo29- reflexo da importância crescente de Moçambique como parceira na cooperação militar. Oficiais e suboficiais moçambicanos são treinados em academias militares brasileiras, e em 2014 o Brasil ofereceu contribuir para a estrutu-ra naval moçambicana. Também foi prometida a doação de aero-naves de treinamento, e os dois países estudam a possibilidade de incorporar o fornecimento de equipamentos de defesa à coopera-ção militar bilateral30.
Tais laços de cooperação têm se intensificado por meio de visi-tas de chefe de Estado (inclusive a ida do Presidente Armando Guebuza a Brasília em setembro de 2007) e diversas reuniões ministeriais. A Comissão Mista de Cooperação Brasil-Moçambique tornou-se mecanismo importante na manutenção e amplia-ção desses laços. No plano econômico, o comércio entre Brasil e Moçambique, em números absolutos, ainda é pouco expressi-vo: aproximadamente US$ 99,1 milhões em 2014, sendo que os intercâmbios estão caracterizados por uma forte assimetria. Apenas 0,05% das exportações moçambicanas estão destinadas ao Brasil, que ocupa o 53o lugar entre os compradores de Moçambique.
27 Disponívelem:<http://urbaferramentas.wordpress.com/projeto/>Acessoem:05jun.2014.28 Disponível em: <http://urbaferramentas.wordpress.com/ferramentas/>Acessoem:05jun.2014.29 MRE (s.d.) “Relações bilateraisBrasil-Moçambique”.Disponível em: http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/relacoes_brasil-mocambique.xml 30 Notícias Online (2014) “Área da defesa: Moçambique e Brasil reforçamcooperação” 20 março 2014. Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/12594-area-da-defesa-mocambique-e-brasil-reforcam-cooperacao
108 109
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
Da mesma forma, Moçambique foi o 96o parceiro comercial do Brasil em 201331. O Brasil exporta para Moçambique predomi-nantemente produtos manufaturados (77,5% do total em 2013), sobretudo veículos, máquinas e automóveis, ao passo que impor-ta de Moçambique quase exclusivamente (95,9% do total) com-modities (hulha betuminosa)32.
Já os investimentos brasileiros em Moçambique aumentaram de forma significativa na década de 2000, em parte graças aos incen-tivos fiscais, tais como isenções de impostos e reduções de taxas, concedidos pelo governo moçambicano para projetos de grande porte. Dentre os maiores investidores brasileiros no país estão a Odebrecht (infraestrutura), Siemens (telecomunicações), Petrobras (petróleo e gás) e Vale (mineração e transporte)33.
A presença brasileira em Moçambique não é isenta de críticas. Como já mencionado, o projeto ProSavana tem sido alvo de fortes contestações por parte da sociedade civil moçambicana, frequente-mente em articulação com entidades brasileiras. Intelectuais moçam-bicanos tais como Mia Couto e Paulina Chinzane também ques-tionam a influência cultural do Brasil em Moçambique; o primeiro contesta a imagem elitista e branca que o Brasil passa no exterior34, ao passo que Chiziane critica as telenovelas e as igrejas pentecostais com sede no Brasil que abriram filiais em Moçambique35. As reações à cooperação brasileira em Moçambique – tanto os elogios quan-to os questionamentos – tendem a se diversificar a medida que os laços vão se expandindo, tanto por vias bilaterais quanto por meio de mecanismos multilaterais tais como a ONU e a CPLP.
31 Brasil Export, 2014. Disponível em: http://www.brasilexport.gov.br/sites/default/files/publicacoes/indicadoresEconomicos/INDMocambique.pdf 32 Brasil Export, 2014. Disponível em: http://www.brasilexport.gov.br/sites/default/files/publicacoes/indicadoresEconomicos/INDMocambique.pdf 33 ibid. 34 Época, 2014.Disponível em: http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/bmia-coutob-o-brasil-nos-enganou.html (authors’ translation)35 Agência Brasil, 2012. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-04-17/novelas-brasileiras-passam-imagem-de-pais-branco-critica-escritora-mocambicana
Conclusão
A intensificação da cooperação brasileira com Angola e Moçambique faz parte de um fenômeno mais abrangente: a cres-cente importância dada por atores brasileiros – tanto atores estatais quanto empresas do setor privado e entidades da sociedade civil – aos laços com a África, e mais especificamente com a África lusó-fona. O aumento dos fluxos comerciais (ainda que marcados por fortes assimetrias em favor do Brasil), a expansão dos investimentos e a diversificação das iniciativas lançadas por ONGs, associações e entidades religiosas refletem a percepção de novas oportunidades no continente africano. Ao mesmo tempo, a ampliação da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, inclusive na sua dimensão técnica, mostra que a demanda angolana e moçambicana por maior intera-ção com o Brasil abarca áreas tão diversas quanto a agricultura, a educação e a saúde pública. Sobretudo a partir da década de 90 – com o fim da guerra civil angolana e, por outro lado, a estabilização da economia brasileira – novos mecanismos bi- e multilaterais per-mitiram a consolidação das relações não apenas no plano econômi-co, mas também nas suas dimensões política, cultural e militar.
Ao mesmo tempo, tal comparação requer uma série de quali-ficações, pois as divergências históricas, econômicas, políticas e culturais entre Angola e Moçambique – apesar do status comum como ex-colônias portuguesas que se tornaram independentes durante a Guerra Fria – não podem ser ignoradas. Tais diferenças afetam as relações desses países com o Brasil, o que significa que a cooperação brasileira é “filtrada” por meio de instituições, práticas e normas locais, levando a resultados que não podem ser interpre-tados como idênticos. Por exemplo, o fato de Angola estar situado no Atlântico Sul, que se tornou nova região prioritária da política de defesa do Brasil, traz uma série de motivações e preocupações que não existem necessariamente nas relações Brasil-Moçambique.
Da mesma forma, os investimentos brasileiros em carvão moçambicano e a efetivação do projeto ProSavana em Nacala pro-vocam reações locais que não se aplicam ao caso da cooperação Brasil-Angola. É, portanto, essencial repensar a “cooperação Brasil-
110 111
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada
África” à luz dessas especificidades, de forma a evitar generalizações que perpetuem o mito de uma África homogênea.
Finalmente, é essencial analisar tais laços ao longo do tem-po, pois a trajetória histórica das relações entre o Brasil e seus parceiros africanos – tal como demonstram os casos de Angola e Moçambique – é inconstante, variando não apenas de acordo com as motivações e recursos brasileiros e africanos, mas também con-forme o contexto mais amplo. Tanto no caso angolano quanto no moçambicano, por exemplo, o Brasil enfrenta concorrência não apenas dos países do Norte global, mas também – e cada vez mais – de outros provedores de cooperação Sul-Sul. Ao mesmo tempo que o Brasil colabora com os demais Brics, inclusive por meio do pro-jeto do Novo Banco de Desenvolvimento (anunciado em 2014, durante a sexta cúpula dos cinco chefes de Estado em Fortaleza), as potências emergentes competem por nichos e oportunidades em comércio, investimentos, cooperação técnica e (de forma geral) influência na África. Futuras análises da cooperação brasileira com países africanos, inclusive Angola e Moçambique, devem levar em conta essas novas geometrias de cooperação e concorrência, inclusi-ve quando elas se sobrepõem nos mesmos espaços.
Referências bibliográficas
ABDENUR, Adriana Erthal; SOUZA NETO, Danilo Marcondes. O Brasil e a cooperação em defesa: a construção de uma identidade regional no Atlântico Sul. Revista Brasileira de Política Internacional (impresso), Brasília, v. 57, p. 1, 2014.
ALENCASTRO, Luiz Felipe. Brazil in the South Atlantic: 1550-1850. Mediations, Chicago, v.23, n.1, p. 157-174, 2007.
ALMEIDA, Célia; CAMPOS, Rodrigo Pires; BUSS, Paulo; FERREIRA, José Roberto; FONSECA, Luiz Eduardo. A concepção brasileira de ‘cooperação Sul-Sul estruturante em saúde. Revista Eletrônica de Comunicação Informação e Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 25-35, 2010.
CERVO, Amado. Socializando o desenvolvimento: uma história da cooperação técnica internacional do Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 37, n. 1, p. 37-63, 1994.
CAU, Hilário Simões. A construção do Estado em Moçambique e as relações com o Brasil. UFRGS, 2011. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/30619
JOSÉ, Joveta. A política externa de Angola: novos regionalismos e relações bilaterais com o Brasil. UFRGS, 2011. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35078/000794257.pdf
HIRST, Monica. Países de renda média e a cooperação Sul-Sul: entre o conceitual e o político. In: LIMA, Maria Regina Soares de; HIRST, Monica (org.). Brasil, Índia e África do Sul: desafios e oportunidades para novas parcerias. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
HURRELL, Andrew. Brazil: What Kind of Rising State in What Kind of Institutional Order? In: ALEXANDROFF, Alan S.; COOPER, Andrew F. (org.). Rising States, Rising Institutions, challenges for global governance. Baltimore: The Brookings Institution Press, p.128-150, 2010.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (ABC). Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2005-2009. Brasília: Ipea/ABC, 2010. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6874
MENDONÇA JÚNIOR, Wilson. Política Externa e Cooperação Técnica: As relações do Brasil com a África durante os anos FHC e Lula da Silva. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2013.
LEITE, Iara Costa. Cooperação Sul-Sul: Conceito, História e Marcos Interpretativos. Observatório Político Sul-Americano (Iesp/Uerj), Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, 2012.
112 113
Adriana Erthal Abdenur e João Marcos Rampini
LEITE, Patricia Soares. O Brasil e a Cooperação Sul-Sul em três momentos de Política Externa: os governos de Jânio Quadros/João Goulart, Ernesto Geisel e Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília: Funag, 2011.
MAWDSLEY, Emma. From Recipients to Donors: Emerging Powers and the Changing Development Landscape. Londres: Zed Books, 2012.
PIMENTEL, José Vicente de Sá. As relações entre o Brasil e a África Subsaárica. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 43, n. 1, 2000.
RIZZI, Kamilla Raquel. Relações Brasil-Angola no pós-guerra fria: os condicionantes internos e a via multilateral. UFRGS, 2005. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/7721
SARAIVA, José Flávio Sombra. O lugar da África: a dimensão atlântica da política externa brasileira (de 1946 a nossos dias). Brasília: EdUnB, 1997.
SARAIVA, Miriam Gomes. South-South cooperation strategies in Brazilian Foreign Policy from 1993 to 2007. Revista Brasileira de Política Internacional [online], Brasília, v. 50, n. 2, 2007.
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A COALIZÃO IBAS: COMÉRCIO E INSERÇÃO INTERNACIONAL1
Adriana Schor*Janina Onuki**
Introdução
Embora não haja convergência entre os especialistas sobre qual foi o grau de mudança da política externa brasileira, ocorrida com o iní-cio do governo Lula, e depois continuada pelo governo Dilma, ainda assim não há como negar que a cooperação Sul-Sul foi uma marca de destaque e a aproximação com os países em desenvolvimento e emer-gentes ocupou lugar de relevo no discurso da diplomacia desde então.
Um dos exemplos mais bem acabados do foco da política externa brasileira na última década no chamado Sul foi o Fórum Índia-Brasil-África do Sul (Ibas). Inserido no contexto dessa dis-cussão sobre as mudanças no projeto de política externa que pas-sou a vigorar a partir da eleição do governo petista, o acordo de cooperação entre Brasil, Índia e África do Sul assinado em 2003
1 Umaversãopreliminardestecapítulofoipublicadacomoartigo,eminglês,na New Global Studies(2013).
* Professora do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisadora do Caeni-USP.
** Professora do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisadora do Caeni-USP.
![Page 1: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: A cooperação brasileira para o desenvolvimento com Angola e Moçambique: uma visão comparada [Book Chapter, 2015]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042410/6334788ae9e768a27a100f6b/html5/thumbnails/18.jpg)