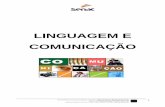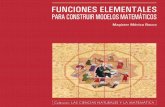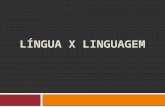A Arte de Construir. Artefactos, Linguagem e Literatura Técnica
Transcript of A Arte de Construir. Artefactos, Linguagem e Literatura Técnica
FICHA TÉCNICA
Título: História da Construção – Arquiteturas e Técnicas Construtivas
Coordenação: Arnaldo Sousa Melo, Maria do Carmo Ribeiro
Imagem da capa: Bibliothèque Royale de Bruxelles, Chroniques de Hainaut, ms 9242, folio 232
Edição: CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» LAMOP – Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (Université de Paris 1 et CNRS)
Apoios: UAUM – Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho ISISE – Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia SAHC – Mestrado Erasmus Mundus em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas
FACC – Fundo de Apoio à Comunidade Científica – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Design gráfico: Helena Lobo www.hldesign.pt
ISBN: 978-989-8612-08-3
Depósito Legal: 366514/13
Composição, impressão e acabamento: Candeias Artes Gráficas – Braga
Braga, Novembro 2013
O CITCEM é financiado por Fundos Nacionais através da FCT-Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto PEst-OE/HIS/UI4059/2011
SUMÁRIO
Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Arnaldo Sousa Melo e Maria do Carmo Ribeiro
Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Arnaldo Sousa Melo e Maria do Carmo Ribeiro
El Foro de Segobriga y la formación de la arquitectura imperial en la Hispania Romana: entre innovación y continuidades . . . . . . . . . . 15 Ricardo Mar e Patrizio Pensabene
A construção do teatro romano de Bracara Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Manuela Martins, Ricardo Mar, Jorge Ribeiro e Fernanda Magalhães
Os processos construtivos da edilícia privada em Bracara Augusta: o caso da domus das Carvalheiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jorge Ribeiro e Manuela Martins
L’emploi de l’opus craticium dans le sud-ouest de la Gaule Antique – le “pan de bois” dans l’Antiquité du sud de la Gaule . . . . . . . . . . . . . . 99
Christian Darles, Magali Cabarrou e Catherine Viers
Il reimpiego nelle cripte del XII secolo in Tuscia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Daniela Esposito e Patrizio Pensabene
Arquitectura y técnicas constructivas en la miniatura castellana del siglo XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Rafael Cómez Ramos
Construire dans les campagnes bourguignonnes au XIVe siècle: approche géo-archéologique des savoirs et savoir-faire des maçons dans la seigneurie de l’abbaye de Saint-Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Patrice Beck, Jean-Pierre Garcia e Marion Foucher
Charpentes médiévales en Provence: traces archéologiques et techniques de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Émilien Bouticourt
Dos abrigos da pré-história aos edifícios de madeira do século XXI . . . . . 199 Paulo B. Lourenço e Jorge M. Branco
O processo construtivo dos paços régios medievais portugueses nos séculos XV-XVI: O Paço Real de Sintra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Arnaldo Sousa Melo e Maria do Carmo Ribeiro
A construção monástica no Portugal medievo: algumas reflexões . . . . . . . . 245 Saúl António Gomes
A casa rural comum no Norte de Portugal nos finais da Idade Média. Subsídios para o seu estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Manuel Sílvio Conde
Droits et techniques constructives. Une mise au point historique . . . . . . . . 287 Robert Carvais
A arte de construir. Artefactos, linguagem e literatura técnica . . . . . . . . . . . 307 João Mascarenhas Mateus
307
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
A ARTE dE CONSTRUIR.ARTEFACTOS, lINGUAGEM E lITERATURA TÉCNICA
JOÃO MASCARENHAS MATEUS�
InTroduçãoA literatura técnica europeia publicada até ao início do século XX, constitui
uma fonte inesgotável de investigação das antigas culturas construtivas baseadas em alvenarias de cal. Com a imposição da hegemonia industrial dos sistemas cons-trutivos do aço e do betão armado, a linguagem da construção tradicional sofreu grandes transformações e partes do seu léxico e da sua gramática ficaram adorme-cidas nos tratados e manuais que até então serviam à formação dos construtores.
Para compreender as intenções e os métodos de construção das antigas alvenarias é útil entender de novo estes termos e vocábulos hoje em desuso. A revisitação da li-teratura técnica oferece algumas chaves para identificar tendências europeias comuns a diversos países relativas às principais fases de realização destas construções.
A presente pesquisa foi estimulada pelo projecto “Glossario dell’Edilizia Ro-mana tra Rinascimento e Barocco”�. Apesar desta análise se focalizar nos séculos XVIII e XIX, constata-se que muita terminologia da ‘arte de construir’ dessa época, procedia de uma tradição secular que conseguiu subsistir e atravessar todo o perío-do de optimização de processos construtivos3.
1 Investigador sénior. CES – Universidade de Coimbra. Email: [email protected] O projecto resulta da colaboração entre a Cátedra de Arquitetura da Faculdade de Engenharia
da Universidade de Roma Tor Vergata e a Biblioteca Hertziana, Instituto Max Planck para a História da Arte, em Roma (Hermann Schlimme). Em 2009 apresentei por convite a comunicação “L’arte delle murature – termini e letteratura tecnica europea fra settecento e ottocento, no III Convegno “Nella Di-mora del Cardinale, del Principe e del Mecenate: Le parole del cantiere” organizado por este projecto.
3 Para a participação nesse projecto, para além de diversos tratados italianos, foi então utilizado
308
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
Para o presente texto, para além dos tratados e manuais de referência portu-gueses foi utilizado o Dicionário Técnico e Histórico de Francisco Assis Rodrigues, publicado em Lisboa em 1876, de forma a realizar um levantamento lexical a partir de uma compilação temática de vocábulos portugueses.
ArTEFACTos, lInguAgEm E lITErATurA TéCnICAPara o estudo da história da linguagem prática das actividades construtivas, os
conceitos de artefacto e de linguagem constituem ferramentas de análise particu-larmente úteis.
Artefactos – no seu significado primário de objectos funcionais resultantes da actividade produtiva do Homem e entidades dependentes do intelecto (Margolis & Laurence, 2006, 10) – podem ser classificados em dependentes ou independen-tes consoante sejam transportáveis ou dependerem de um substrato ou fundação (Simons 1987: 310). Aplicada à actividade construtiva das alvenarias de cal, esta divisão poderia justificar uma primeira distinção entre dois grandes grupos de artefactos: o dos blocos/argamassas/máquinas e ferramentas e outro grupo em que se incluiriam os edifícios ou as construções em sentido lato.
Em contraste com os “naturfactos”, em que as modificações de um elemento natural são feitas sem a adição de novos materiais, a maioria dos artefactos tecno-lógicos são obtidos por acções sucessivas de extracção, remoção, transformação, conformação e ensamblamento seguindo os princípios de “redução” e de “conjun-ção” (Oswalt 1976, 170). Se transpostos a um edifício em alvenaria, estes princípios explicariam as fases posteriores à da concepção e projecto como uma sucessão de acções produtivas baseadas na conjunção de processos de redução, organizadas sequencialmente: – extracção de materiais, – produção de blocos e argamassas, – ensamblamento de blocos e argamassas, – aplicação de revestimentos, – cober-turas e protecções duráveis (Mascarenhas-Mateus 2002: 66-67). Por esta razão, o estudo do léxico, da morfologia e das gramáticas usadas na execução das constru-ções deve ser dividido numa primeira instância, na análise da terminologia usada em cada uma das fases construtivas.
Se ampliarmos o conceito de artefacto, é possível igualmente afirmar que uma determinada linguagem é um artefacto, sempre que as palavras que a conformam tenham sido criadas ou sejam utilizadas para um fim determinado.
A linguagem não deve ser vista como um veículo passivo de transmissão de informação mas como geradora do espaço mental ou da noosfera de um indivíduo,
como caso de estudo o Capitolato Generale che Regola tutti appalti di Opere e Forniture di Materiali di Costruzione Stradali per Conto del Comune di Roma, publicado em 1909 em 3 volumes.
309
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
de uma comunidade ou de uma cultura, nos quais se desenvolvem as interacções entre os indivíduos e a manipulação dos recursos naturais. Existe igualmente uma forte relação entre os modos em que o mundo visual é criado e as maneiras em como a linguagem é usada para criar espaços mentais. A cada forma de vida, a cada cultura e a cada actividade humana corresponde um jogo de linguagem, ou seja uma certa forma de usar a linguagem segundo regras que determinam o significado das palavras (Wittgesntein 1996, 56). A função ou uso de um objecto é determinante para o significado da palavra que o denomina. Não existe uma relação directa entre o significado de uma palavra e o objecto ou a acção a que essa palavra se refere. O significado de uma palavra reside no seu uso semântico (Auroux 2004, 257-259).
A linguagem usada pelos antigos construtores, antes da cientificização e nor-malização de muita da terminologia técnica resulta pois de jogos de linguagem que aparentemente se poderiam designar de metáforas, metonímias ou da combinação de vocábulos associados a outras actividades humanas. As categorias mentais pró-ximas dos sentidos mais básicos como a cor, a forma, a semelhança visual, táctil ou olfactiva, as analogias com o corpo ou com o gesto ajudam, de forma subjecti-va à construção das categorias linguísticas. Dependentes das conjunturas sociais, económicas e culturais, os vocábulos da tecnicidade4 utilizados pelos antigos cons-trutores resultam de processos relacionais de construção linguística, de intenções constitutivas de ideias (Havelange 2005).
lITErATurA TéCnICA E lInguAgEm dAs AlvEnArIAs TrAdICIonAIs
Tendo em consideração a complexidade da formação dos jogos de linguagem próprios de uma cultura, é possível passar à identificação de algumas particulari-dades da linguagem das culturas construtivas das alvenarias de cal.
Os textos de Arquitectura e Construções publicados a partir da invenção da Imprensa implicaram sempre a utilização de uma linguagem técnica que reflectia o conhecimento teórico e prático dos autores, assim como a cultura e o período em que eles viveram.
É vasta a lista de grandes tratados e manuais de difusão europeia publicados em variadas línguas das quais foram analisados exemplares em italiano, francês, espanhol, inglês e português. Esta literatura técnica europeia inclui cursos e lições, livros de estereotomia, obras sobre a mecânica dos arcos e das abóbadas, o fabrico
4 “Tecnicidade” como sistema autónomo no sentido dado por Stiegler e Derrida. Distinto de “técnica” considerada na acepção construtivista de simples “razão instrumental”.
310
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
de blocos e argamassas, acabamentos, livros sobre durabilidade e ainda periódicos, normas e cadernos de encargos.
A leitura destas obras permite constatar que durante os séculos XVIII e XIX a arte de construir em alvenarias, empregou sobretudo uma linguagem própria das práticas ancestrais todavia sem grandes pretensões de cientificidade, a não ser alguns estudos pontuais limitados ao âmbito académico. Mais próxima, portanto, de uma linguagem natural do que de uma linguagem científica destinada a ser compreendida a nível universal ou global, mas que não deixou de constituir um instrumento de discussão entre teóricos, como é possível constatar pela sua profusa utilização em tratados e literatura especializada em construção.
Com o Iluminismo e até ao início do século XX, assiste-se a uma explicação metódica de materiais e processos à luz do conhecimento e das leis das novas ciên-cias. Esta estandardização positivista acabou por relegar as alvenarias a um segundo plano com o advento das estruturas metálicas e do betão armado. Estes novos sistemas construtivos de dimensionamento e produção optimizados não apenas estabeleceram indústrias inovadoras como também terminaram por criar novos processos de distinção entre classes de protagonistas nas actividades da construção. Com o objectivo de eliminar arcaísmos, regionalismos, plebeísmos e anfibologias, a cientificização da linguagem técnica conduziu ao empobrecimento da poética, do simbolismo e da humanidade visceral própria dos antigos construtores.
A influência da industrialização na substituição de vocábulos associados a práti-cas artesanais ou pouco industrializadas foi um processo que ocorreu nesse período extremamente curto e limitado, se comparado com os milénios de construção tradi-cional. Por essa razão, a terminologia da construção de alvenarias, fruto de séculos de aperfeiçoamentos e envolta numa aura de hermetismo próprio das actividades corporativistas resistiu e coexistiu com léxicos que com a optimização tecnológica dos processos de produção foram sendo introduzidos paulatinamente na literatura técnica dos séculos XVIII e XIX.
A linguagem dos antigos construtores usava vocábulos relacionados com outros campos semânticos5 próprios de outras actividades humanas. A manufactura das alvenarias era mentalmente incorporada pelas várias classes de artíficies de forma intuitiva. Eles possuíam a sensibilidade necessária para saber quando e como corri-gir as receitas empíricas, adaptando-as às características dos materiais disponíveis, às condicionantes ambientais ou ao tipo de construções a realizar.
5 Campo semântico é aqui entendido como conjunto de palavras ou elementos significantes com significados relacionados. As relações de ordem entre campos semânticos podem ser ramificantes (por meronímia ou por hiponímia) ou lineares. Uma alteração semântica pode consistir na amplificação do uso de uma palavra a outros conceitos similares.
311
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
o léxICo dAs prInCIpAIs FAsEs ConsTruTIvAs dAs AlvEnArIAs
Como referido anteriormente a análise da construção (produção) dos edifícios (artefactos) em alvenaria requere o estudo das suas diversas acções produtivas de conjunção e redução: 1 – concepção e projecto; 2 – extracção e processamento de materiais; 3 – montagem e execução e 4 – revestimentos e protecção.
Para a primeira fase foram encontrados no Diccionario de Francisco Assis Ro-drigues, vocábulos na sua maioria pertencentes à anatomia humana, como campo semântico dominante. Em número residual foram igualmente identificadas algumas palavras provenientes da botânica, da zoologia, da actividade têxtil e do vestuário. Representam-se na tabela 1:
tabela 1. Vocábulos usados na fase de concepção e projecto.
campos semânticos dominantes
Fig. 1
anatomia medidas: braça, côvado, palmo, pé, passo, polegada, petipédescrição do edifício em planta: membros da planta, corpo central, corpos lateral, braço da nave, cabeceira, pé da nave, corpo saliente, boca da chaminé, garganta da chaminédescrição do edifício em fachada: membro da fachada, frontaria, flanco, dentilhão ou espera, bossagem, nembro ou nembo, ombreira da porta, jamba de porta, parapeito, peitoril, friso, frontão, tímpano, óculo, olho de boi, olho da voluta, carranca, coroamentoestrutura geral: esqueleto de alvenaria, ossada, carcaça, sapata, pegão, esporãoestrutura de arcos e abóbadas e seus suportes: pé-direito, tronco da coluna, nervura, costela, cabeça do arco, cotovelo do arco, extradorso, intradorso, rim da abóbada, sovaco do arco ou da abóbada, orelha do arco, luz do arco, arco cego, avoamento da abóbadacornijas e capitéis: gola, dentículo, friso
312
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
botânica e zoologia arcos e abóbadas: talo da coluna, nascimento do arco, ramo de arco, ramo de ogiva, avoamento da abóbada, abóbada de caracolpartes de abóbadas: alvéolo, gomo, penachoSuportes em consola: cachorros, cahorrada
têxtile costura
paredes e abóbadas: pano ou cortina de alvenaria, costura de alvenarias, abas, laçariaFormas de abóbadas: Abóbadas de barrete de clérigo, em leque, de asa de cesto, de berço
A máxima atribuída a Protágoras do “homem como medida de todas coisas” reflecte a utilização das proporções do corpo humano para unidades de medida. Uma prática que atravessou milénios e que na Europa continental só com o esta-belecimento do metro, foi relegada a um segundo plano.
Um edifício é construído por um “esqueleto” estrutural, preenchido por maci-ços de enchimento (a “carne”) e revestido por uma “pele. A divisão de um edifício em “corpos” e “membros” serve de ponte de comunicação entre o projectista e o executante da construção.
No que se refere ao funcionamento estrutural dos elementos de cobertura de espaços e dos seus suportes, vocábulos relacionados com os membros resistentes do corpo humano ou a constituição de uma planta, servem para explicar visual e intuitivamente a distribuição de cargas ao longo dos maciços murários, desde as zonas mais elevadas dos edifícios até às fundações. Para as cornijas e capitéis, re-servam-se nomes de órgãos relacionados com a cabeça. Para as zonas de suporte, palavras relacionadas com o tronco, os braços e as pernas. Até chegar às fundações, aos pés e às “sapatas”.
Vocábulos emprestados ao campo dos têxteis e do vestuário servem à descrição das zonas de enchimento ou de revestimento.
Na segunda fase, a relativa à extracção das matérias-primas e a preparação dos blocos e das argamassas, os campos semânticos dominantes são distintos.
Os afloramentos de pedra natural são vistos como ‘seres adormecidos’ que aflo-ram à superfície dos solos, cobertos de uma pele ou de uma casca, com veios deter-minados pela orientação do seu leito de jazida. Para a classificação granulométrica dos inertes são comuns expressões como as usadas por Quatremère de Quincy, Delaistre ou Sganzin referentes a cascalhos com tamanho de ovos de pombo ou de ovos de galinha.
313
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
Tabela 2. Vocábulos usados na fase de produção de blocos e argamassas
Campos semânticos dominantes
Fig. 2
Agricultura e Anatomia na pedreira: leito, afloramento, sebe, casca, veios, cegar, orelhas dos blocos
agricultura na barreira: cava de argila
culinária no telheiro e no forno cerâmico: argila gorda, argila magra, pasta, amassar, enformar, cozer, enfornar, desenfornarno amassadouro: cal viva, cal morta, cal gorda, cal magra amassar, massame
Na barreira, o que se extrai é uma terra e por isso o léxico empregado é o que se usa na agricultura. É no entanto uma terra viva que deve ser processada antes de servir à moldagem dos blocos. Por isso, nos textos italianos, é comum encontrar referências à “coltivazione d’una cava d’argilla” e de argila deixada a “stagionare” (a curar como o queijo).
Para o fabrico de tijolos e telhas, vocábulos de culinária associados à amassa-dura e cozedura do pão são os mais frequentes. Rondelet fala mesmo de “pães de argila”. E o mesmo se aplica no amassadouro em que se preparam as argamassas. Refere-se a cal forte (Scamozzi), explica-se como deixar a cal a curar ou a macerar (Rondelet, Napoli) ou a destemperar (Milizia).
Na terceira fase do processo construtivo, o campo semântico das palavras ofe-recidas pelo Diccionario de Francisco Assis Rodrigues, é de novo distinto (tabela 3).
314
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
Tabela 3. Vocábulos usados na fase de montagem das alvenarias
Campo semântico dominante
Fig. 3
zoologia máquinas de elevação e transporte: cábrea, cabrilha, cabrestante, falcão, macaco, zorra, moitão, articulação, joelho, rótula, patas, freios, maxilasobras provisórias de carpintaria: cavalete, burroFerramentas e acessórios: serras de dentes de papagaio, língua-de-gato, lingueta, bico, bico de asno, dente de lobo (brunidor), pé-de-cabra, martelos de unhas e orelhas. peças de ligação: gatos, caudas de andorinha, machos
Às máquinas de elevação e transporte são dados sobretudo nomes de animais de forte compleição ou de “carácter persistente” que têm “articulações, joelhos, rótulas, patas, freios e maxilas”. As obras provisórias são também auxiliadas por construções com nomes de animais. As ferramentas, acessórios e peças de ligação são apelidados com nomes de animais mais pequenos mas com capacidades anatómicas especiais que podem ajudar o homem no seu labor quotidiano.
No que se refere à montagem dos blocos com as argamassas (tabela 4), o Dic-cionario de Assis Rodrigues não oferece nenhuma referência particular. No entanto, outras línguas empregam jogos de linguagem bem definidos para esta operação. Em italiano, as alvenarias são montadas “a sacco” e os tijolos colocados sobre “lei-tos” de argamassa. Os tijolos são colocados “in foglio”, “in coltello” ou “a sorelle” (emparelhados como irmãs). Em inglês, consoante a colocação da face maior ou da face menor de um tijolo sobre o leito de argamassa, assim se denomina um tijolo “sailor” ou um tijolo “soldier”. Em francês as pedras são colocadas “en dame” ou em “corbeau” (Montclos 1972).
Terminada a montagem dos blocos e das argamassas com a execução dos ma-ciços portantes, dos arcos e das abóbadas, a variedade de campos semânticos volta a mudar e diversifica-se consideravelmente.
315
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
Tabela 4. Vocábulos usados na fase dos revestimentos, acabamentos e manutenção
Campos semânticos domi-nantes
Fig. 4
costura e vestuário Formas das coberturas: coruchéu, em agulha, de tesoura, chapéu de trapeira, manto de telhas
zoologia estrutura de telhados: asna, perna da asna, boneca, crista do te-lhado
Anatomia, Zoologia e Bo-tânica
detalhes de protecção: pestana das chapas de chumbo, lacrimal, aba do telhado
realização de rebocos e estuques: encrespar, alcachofrar
tratamento final das superfícies: descascar, arranhar, acerejar, ada-mascar, amaciar, esbarbar, esgrafiar
Costura trabalhos de manutenção: alegrar as fendas, avivar as arestas, coser e descoser as alvenarias
Zoologia ornamentação: bico de mocho, denteado, franjado, frisado, ma-deixa, penacho
Botânica florão, folha, folhagem, grinalda, junquilho, lambrequim, palmas, pérolas oliva, pinha, óvalo, caracol, talos, carambanos (cul.)
Tímia/Psicologia pintura: Temperar a pintura, atormentar as cores, avivar as cores, cores gaias, cores inimigas
A geometria das coberturas têm a ver sobretudo com formas de chapéus e com vocábulos comuns ao campo do vestuário e dos têxteis.
A denominação das estruturas de madeira dos telhados é conseguida com no-mes de animais. A asna em português, a “incavallatura ou a “capriata” em italiano. Os seus membros secundários são “habitados” por bonecas, em português, ou por “monacos” (monges) ou “ometti” (pequenos homens), em italiano.
Os edifícios são coroados e capeados. As chapas ou placas de capeamento cons-tituem as “pestanas” das construções.
316
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
O acabamento dos revestimentos ou da “pele” dos edifícios é realizado de forma a obter superfícies rugosas como os cabelos encrespados ou as alcachofras ou, pelo contrário, superfícies lisas e macias como as cerejas, os damascos, sem o picar da barba.
Em português, os degraus das escadas são revestidos com cobertores e espe-lhos. Em francês, os degraus têm um “nez” (nariz). Em italiano, os degraus têm “bocchette” (bocas) e “cigli (pestanas).
Os ornamentos podem encontrar inspiração em detalhes zoomórficos ou fi-tomórficos e por fim as cores das pinturas servem a melhorar ou a acentuar um determinado estado de ânimo.
ConClusõEsOs resultados apresentados não resultam de uma pesquisa exaustiva e comple-
ta dos vocábulos nos países mencionados e em todas épocas. O levantamento e a identificação sistemática e metódica de todos os léxicos possíveis implicariam um projecto de investigação de grande folego.
Apesar do carácter exploratório da presente pesquisa e do número limitado de fontes utilizadas, é possível detectar, provisoriamente e no caso das línguas latinas, a existência de campos semânticos dominantes para cada momento do processo produtivo, usados pelos antigos construtores de alvenarias.
Assim, na fase de desenho e concepção constata-se a predominância de termos próprios da anatomia humana para descrever as principais partes do edifício que se projetava.
A terminologia das fases que se seguiam (preparação de blocos e argamassas, montagem de blocos e argamassas, revestimentos, protecção e manutenção) era determinada pelas analogias pertencentes a campos semânticos usados predomi-nantemente pelas diversas artes e instrumentos associadas à construção. Assim na extracção dos blocos de pedra e do barro para os tijolos, tratava-se em parte de trabalhar os materiais da terra e por isso usavam-se termos emprestados à agricul-tura. Para a preparação das argilas a cozer e das argamassas, o imaginário lexical tinha muito que ver com a culinária.
Na execução propriamente dita das alvenarias, os construtores imaginavam-se ‘aju-dados’ ou ‘auxiliados’ por grandes animais materializados pelas máquinas de elevação e por outros mais pequenos, materializados pelas ferramentas e utensílios. Nos acaba-mentos, a terminologia encontrava inspiração na anatomia, na zoologia e na botânica. A ornamentação era praticularmente dominada pela botânica e pela zoologia.
Para além das diferenças entre línguas latinas é igualmente possível começar a inferir diferenças ‘psicológicas’ entre os campos semânticos usados por línguas
317
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
latinas e línguas não latinas para uma mesma actividade, como é o caso do assen-tamento dos tijolos.
Estudar a História da Construção consiste em nos colocarmos na posição dos antigos construtores e em tentar reconstruir a sua maneira de pensar. Entender como é que eles se referiam a cada material, a cada operação e qual era o seu imaginário expressivo. Conhecer o léxico, o vocabulário ou a terminologia que os antigos construtores davam a cada ferramenta, a cada material ou a cada operação do processo produtivo significa aproximar-nos daquilo com que se ocupavam quo-tidianamente, com a sua métis, ou seja com a sua estratégia relacional, em relação a outras actividades humanas e à natureza, na sua essência.
bIblIogrAFIAAuroux S., Deschamps J., Kouloughli D., La Philosophie du Langage, Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 2004.Ford A., Peat D. (1988), “The Role of Language in Science”, Foundations of Physics, 18, 12,
1988: 1233-1241.Havelange V., Lenay C. & Stewart J. “Les représentations: mémoire externe et objets tech-
niques”, Intellectica 35, 2003, 115-131.Hilpinen R., “Artifact”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/artifact/>.consultado 02.08.2013
Malt B., Sloman S., “Artifact Categorization: The Good, the Bad, and the Ugly”, in Margolis E., Laurence S. (eds.), Creations of the Mind. Theories of Artifacts and Their Represen-tation, Oxford & New York, Oxford University Press, 2006: 85-123.
Mascarenhas-Mateus J., “A questão da Tradição. História da Construção e Preservação do Patrimônio Arquitetônico”, PARC – Pesquisa em Arquitetura e Construção, Universidade de Campinas, 3, 4, 2013: 28-34.
Mascarenhas-Mateus J., “Culturas construtivas tradicionais, a condição do tempo e as duas memórias de Bergson”, Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 2012: 31, 231-237.
Mascarenhas-Mateus J., Técnicas Tradicionais de Construção de Alvenarias. A literatura téc-nica de 1�50 a 1900 e o seu contributo para a conservação de edifícios históricos. Lisboa, Livros Horizonte, 2002.
Montclos, J.-M. Pérouse de, Principes d’analyse scientifique-Architecture-Vocabulaire, Paris, Imprimerie Nationale, 1972.
Oswalt W. H., Habitat and Technology: The Evolution of Hunting, New York, 1973, Holt, Rinehart and Winston.
Simons P., Parts. A Study in Ontology, Oxford, 1987, Clarendon Press.Simons, P., Dement C. “Aspects of the Mereology of Artifacts”, in Poli R., Simons P. (eds.), For-
mal Ontology, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers:1996, 255-276.
318
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO – ARQUITETURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
Sylvain A., Deschamps J., Kouloughi D., La philosophie du langage, Paris, PUF, 2004.Wittgenstein L., Cahier bleu (1958), Paris, Gallimard, 1996.
FonTEs dA TrATAdísTICAAssis Rodrigues F., Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura, Architectura e
Gravura, Lisboa, Imprensa Nacional, 1876.De Cesare F., La scienza dell’architettura applicata alla costruzione, alla distribuzione, alla
decorazione degli edifici civili (2ª ed. diversamente ordinata e corredata di nuove dot-trine), Napoli, Giovanni Pellizzone e Tip. Agrelli, 1855-1856.
Delaistre J.-R., La Science de l’Ingénieur, Lyon, Imprimerie Brunet, 1825.Milizia F., Principj di architettura civile, Stamperia di Francesco Majocchi, 1781.Quatremère de Quincy A.-C., Encyclopédie méthodique: Architecture, Paris, Panckoucke
– Vve Agasse, 1788-1825.Roma Comune di, Capitolato Generale che regola tutti gli appalti di opere e forniture di
materiali da Costruzione e Stradali per conto del Comune di Roma, Roma, Tipografia Cooperativa Sociale, 1909.
Rondelet J.-B., Traité théorique et pratique de l’art de bâtir, Paris, chez l’auteur, Enclos du panthéon, 1802-1817.
Scamozzi V., L’idea dell’architettura universale, Venezia, presso l’autore, 1615.Sganzin J. M., Programme ou Résumé des Leçons d’un Cours de Constructions, Paris,
Bernard, 1806.Valadier G., L’architettura pratica dettata nella Scuola e Cattedra dell’insigne Accademia di
S. Luca…, Roma, Società Tipografia, 1828-1839.
orIgEm dAs FIgurAsFiguras 1 – prancha da obra L’Architetto Prattico de Giovanni Amico, publicado em Palermo
na Stamperia de Giovanni Battista Aiccardo, em 1726 (libro primo, p. 185)Figuras 2 e 3 – idem (libro primo p. 72)Figura 4 – detalhe de uma prancha de Castelli e ponti di maestro Niccola Zabaglia impresso
em Roma, na Stamperia di Nicollò e Marco Paglianini em 1743.
319
A ARTE DE CONSTRUIR. ARTEFACTOS, LINGUAGEM E LITERATURA TÉCNICA
reSumo: O estudo das antigas culturas construtivas com alvenarias de cal encontra na literatura técnica europeia publicada nos séculos XVIII e XIX, uma fonte inesgotável de informação que permi-te reconstituir o imaginário gestual e linguístico de projectistas e executantes. A terminologia especializada que era usada na obra e no diálogo entre teóricos e práticos inspirava-se em di-versos campos semânticos, em união íntima com a sábia manipulação milenar da natureza. O texto pretende apresentar os resultados preliminares de uma investigação destinada a identificar padrões linguísticos europeus comuns na arte de construir dos séculos XVIII e XIX, a partir da literatura técnica publicada nessa época.
palavras-chave: Linguagem, construção, tecnologia, ciência, história.
abStract: The study of ancient cultures of building based on limestone masonry finds a great source of information in the European technical literature published during the eighteenth and nineteenth centuries. This knowledge makes it possible to reconstruct the physical and linguistic world of designers and builders. The specialized terminology used on site in dialogues between theorists and practicians was inspired in different semantic fields intimately linked to an ancient and sage manipulation of nature. This paper aims to present the preliminary results of a study focusing on the identification of common European linguistic patterns employed in the art of building in the eighteenth and nineteenth centuries, using the technical literature published at that time as reference.
Keywords: Language, construction, technology, science, history.