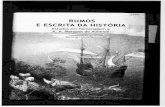Estado de Direito, Difusão e Diferenciação: a Tentativa de uma Teoria Geral
A Antroponímia da oficialidade régia (1367-1481): identidade pessoal e diferenciação social, in...
Transcript of A Antroponímia da oficialidade régia (1367-1481): identidade pessoal e diferenciação social, in...
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
1
A Antroponímia da oficialidade régia (1367-1481): identidade pessoal e diferenciação social*
JUDITE A. GONÇALVES DE FREITAS**
RESUMO: O presente trabalho tem como objecto de estudo o nome enquanto forma de designação
pessoal dos oficiais da burocracia régia entre 1367 e 1481 e as possíveis relações com a evolução das respectivas estruturas familiares. O texto divide-se em duas partes principais. Na primeira procedemos à contextualização histórica da evolução da antroponímia medieval no Ocidente europeu, à explicação dos objectivos, âmbito cronológico e metodologia seguidos na exploração dos dados recolhidos nas fontes, remetendo para os principais momentos da pesquisa efectuada. A segunda parte é dedicada à análise empírica das formas antroponímicas dos indivíduos que ocupam as distintas instâncias da burocracia régia - redactores e escrivães -, com o objectivo de demonstrar as possibilidades de conhecimento que a antroponímia oferece na reconstrução da imagem que temos das estruturas políticas, sociais e familiares das esferas do poder na Idade Média Final.
ABSTRACT: The present work aims to study the name as a form of personal designation of the officers
of the royal bureaucracy between 1367 and 1481, and its possible relationships with their evolving family structures. The text is divided into two parts. At first, we performed a historical overview of the evolution of medieval anthroponymy in the Western Europe, explaining the objectives, scope and methodology followed in the exploration of the historical sources, referring the key moments of the research carried out. The second part is devoted to the empirical analysis of anthroponymy forms of the royal officials - redactors and scribes. The aim is exposing the possibilities of knowledge that offers anthroponymy in rebuilding the image that we have of political structures, social and family spheres of power in the late Middle Ages.
RESUME: Ce travail a pour objet le nom comme une forme de désignation personnelle des agents de
la bureaucratie royale entre 1367 et 1481 et les rapports avec l’évolution des structures familiales. La recherche est divisée en deux parties. Au début, nous avons effectué un aperçu historique de l'évolution d’anthroponymie médiévale en Occident, en expliquant les objectifs, la portée et la méthodologie suivies dans l’exploration chronologique des données recueillies aux sources. La deuxième partie est consacrée à l'analyse empirique des formes anthroponymies de personnes qui occupent les différentes instances de la bureaucratie royale - rédacteurs et scribes - dans le but de démontrer les possibilités de la connaissance qui offre anthroponymie dans la reconstruction de l'image que nous avons des structures politiques et des sphères sociales et familiales du pouvoir au Bas Moyen Âge.
* Texto da lição-síntese apresentada em provas de habilitação ao título de agregado em História e Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FL-UP), nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2007. Os meus agradecimentos aos Professores Doutores Armando Luís de Carvalho Homem (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Doutora Maria Helena da Cruz Coelho (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), Doutor Luís Miguel Duarte (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Doutor Jorge Fernandes Alves (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) e Doutor António Pedro Barbas-Homem (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), pelas observações e sugestões efectuadas aquando da discussão pública das provas. ** Professora Catedrática da FCHS da Universidade Fernando Pessoa. Investigadora sénior do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade/Universidade do Porto/FCT. E-mail: [email protected].
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
2
I PARTE – A ANTROPONÍMIA MEDIEVAL E MODERNA NA EUROPA – SINOPSE DA
EVOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA
«Le prénom présente deux caractéristiques particulièrement intéressantes : c’est un bien gratuit, donc la consommation est obligatoire. Dès lors l’étude de sa diffusion dans le temps est particulièrement apte à mettre en évidence, dans sa pureté, la fonction d’identification et de distinction propre à la consommation des biens de mode»
Philippe BESNARD, 1979.
«And yet in the evidence of personal names, we see how not only kings and aristocrats, but towns-people and peasants, made meaningful choices about their offspring (…) the study of anthroponomy is a vast and daunting discipline, requiring both macro-level statistical studies of name pools of regions and social strata, as well as micro-studies of the onomastic patterns of individual families»
Patrick GEARY, 1997.
Os dois excertos em epígrafe, separados temporalmente por quase vinte anos,
remetem para dois pontos de vista distintos – o do sociólogo e o do historiador -, e
justificam o persistente empenho dos investigadores em transformar a antroponímia
medieval e moderna num importante campo de estudo, retirando-lhe a feição marginal
que de há muito tinha1.
É certo que os primeiros estudos de antroponímia foram desenvolvidos por
estudiosos ligados à história genealógica, à linguística e à filologia, nomeadamente na
segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, procedendo a uma
recolha das origens remotas dos nomes incluindo o sistema de dupla e tripla
denominação do Baixo Império Romano ao sistema de nome simples germânico,
abrangendo a fase de predomínio do modelo duplo já em tempos medievos (séculos X-
XII).
Posto isto, e procurando retomar a ideia subjacente à primeira das passagens,
podemos principiar por concluir que «as modas não são inocentes». Elas invocam
modos de viver e de sentir colectivos ou de grupos humanos num dado momento
histórico. O estudo dos nomes não foge a esta regra elementar, no essencial, ocupa-se da
referência contextualizada dos nomes próprios. O que interessa saber não é tanto o que
referem os nomes, mas antes como referem. Qual o significado da designação? Esta
1 A onomástica foi tratada durante décadas como uma área marginal e secundária por quase todas as disciplinas e saberes. Com a segunda metade do século XIX filólogos, historiadores, genealogistas e etnólogos começam a interessar-se pelo estudo dos nomes por considerarem importante perceber como concebiam as sociedades tradicionais e mais antigas a atribuição do nome aos seus descendentes e quais os factores que pesavam na respectiva escolha, isto para além da determinação da origem linguística do nome. Durante todo este período a tendência, de um modo geral, foi para valorizar na escolha do nome os factores de ordem simbólica e moral.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
3
perspectiva de abordagem, corrente nos nossos dias, entre os historiadores das
sociedades e culturas, é, em parte, tributária do diálogo interdisciplinar dos saberes
histórico, antropológico e sociológico-demográfico que, como sabemos, nem sempre
gozou da melhor das vizinhanças, ainda que tenha tido tradições intelectuais próximas.
Simetricamente, nas palavras de Patrick GEARY, as perspectivas e os métodos de
pesquisa colocados pela transversalidade e internacionalização da antroponímia fazem
desta disciplina uma área com problemas específicos e complexos que exige uma
intervenção multifacetada.
Na segunda metade do século XX, podemos distinguir duas fases quanto às
tendências e evolução dos estudos antroponímicos nos meios universitários ocidentais: a
primeira situa-se entre os anos 60 e 70 e a segunda inicia-se a partir dos anos 80, do
século passado, alongando-se até aos nossos dias.
Efectivamente, a partir dos anos 60 surgem os primeiros ensaios marcantes sobre as
práticas de nomeação na Europa medieva provenientes da Escola alemã representada
nas universidades de Friburgo e Münster. A publicação de estudos sobre necrologia
monástica medieval (sécs. XI-XII), pela última das universidades referidas, nos anos 70
constitui um marco indelével no arranque das pesquisas, classificação e distribuição do
nome no tempo2.
Um pouco mais tarde, nos finais dos anos 70, em França, sobre o significado e a
evolução da estrutura do nome incidiu uma «nova» luz, fruto de uma convergência de
interesses entre historiadores, demógrafos, antropólogos e sociólogos3. Inicialmente,
convém dizê-lo, a apreensão do objecto em análise manteve-se refém dos diferenciados
territórios epistemológicos. As contribuições dadas pelos historiadores iam no sentido
de avançar sobre «o nome» encarando-o sobretudo como um elemento de identificação
individual, associando o estudo das taxas de utilização à procedência familiar próxima
(patronímico) e/ou da linhagem (genealogia), comparando as respectivas condições de
2 BEECH, 2002: X. 3 As primeiras abordagens do nome privilegiam a origem e a influência religiosa ou litúrgica na atribuição da denominação pessoal, ignorando os fenómenos empíricos que identificam o conjunto de factores que influem nas práticas de nomear. Os estudos mais antigos, nomeadamente em França, sobre a origem e o significado do nome e apelidos ascendem ao último quartel do século XVII (1681), mas com incidência quase exclusiva no valor moral e simbólico do nome. Cf. DUPÂQUIER, 1984: 7-8.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
4
transmissão geracional4. Para os historiadores das mentalidades, mais tarde ‘integrados’
no domínio da «antropologia histórica», interessava-lhes a interpretação do(s)
sistema(s) de denominação, designadamente no Antigo Regime.
Mas a renovação de perspectiva de abordagem deve-se, nesta primeira fase, à
influência da Sociologia sobre a História, sustentada no trabalho intitulado «Pour une
étude empirique du phénomène de mode dans la consommation des biens symboliques:
le cas des prénoms»5. Philippe BESNARD avança com um verdadeiro programa de
pesquisa; sugerindo percursos investigativos que incluem a distinção das práticas de
nomear e a transmissão de comportamentos ao longo do tempo, aferindo o peso relativo
da tradição e o grau de inovação, o uso universal do nome duplo, assentes na
quantificação e na estatística. Em verdade, podemos dizer, que se trata de um primeiro
projecto de «sociologia histórica» do nome.
De outro modo, a aproximação ao tema por parte dos antropólogos não se fez
chegar sem alguma rivalidade e distanciamento em relação às anteriores orientações. Os
etnólogos, partem da preposição de que nomear é identificar, classificar, significar,
sustentando a ideia de que é necessária a compreensão concreta do real. Esta é a
perspectiva de Françoise ZONABEND patente em dois artigos produzidos no ano de 1978
sobre o parentesco baptismal e os nomes pessoais na região do Minot6. Para os
antropólogos é imprescindível o levantamento do conjunto de designações atribuídas a
um mesmo indivíduo em diferentes contextos de utilização prática e a desmontagem do
significado social da utilização do nome e da designação individual, procurando
averiguar qual é o sistema de classificação respectivo. As iniciativas conjuntas surgem
na sequência da constituição de equipas de investigadores interessados em avançar com
programas de pesquisa concertados neste domínio.
No ano de 1980, sob os auspícios da Sociedade de Demografia Histórica
parisiense, realizou-se o encontro que promoveu a execução de três ateliers
subordinados aos seguintes temas:
4 Pierre CHAUNU orientou estudos monográficos paroquiais sobre os nomes mais usados. Neste mesmo encalço, Jacques DUPÂQUIER imbuído de maiores ambições intelectuais procedeu ao estudo sistemático, para o Vexin francês, dos nomes próprios e promoveu o “Rencontre des Historiens du Limousin”, propondo o lançamento de um inquérito comum, tendo por base um projecto colectivo, incidindo sobre o estudo da evolução dos nomes no Limousin, do séc. XI ao séc. XX. (DUPAQUIER , 1984: 6). 5 BESNARD, 1979: 343-351. 6 «Jeux de noms. Les noms de personne à Minot», 1979: 51-85.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
5
- o stock de nomes e os processos de difusão e renovação, a cargo de
D. SCHNAPPER e C. KLAPISCH-ZUBER;
- os nomes e o parentesco: as formas de transmissão, da responsabilidade
de A. BURGUIÈRE e, finalmente,
- o nome e identidade: as funções da denominação, da incumbência de
F. ZONABEND, posteriormente reunidas em livro7.
Contudo, mais que estudos síntese e investigação acabada, as análises
produzidas deixam em aberto, de forma intencional, sugestões de linhas de pesquisa,
realçando os vazios e as lacunas, as hipóteses de trabalho e as dúvidas acerca das
possibilidades de conhecimento no presente. De entre as sugestões de pesquisa então
apresentadas cabe-nos destacar: a prioridade dada à análise da noção de nome composto
(duplo e triplo), avaliação por décadas da respectiva frequência entre os diversos
estratos sociais, distinguindo-a nos centros urbanos e nas comunidades rurais. As
questões que se intenta explorar prendem-se com a necessidade de saber se na
propagação dos comportamentos de nomear está mais patente a questão social ou a
territorial (regional ou local); e, por outro lado, quais terão sido os canais de difusão
(vertical ou horizontal). De igual modo, salienta-se a importância do estudo dos índices
de utilização dos nomes revolucionários, no quadro de uma história urbana e rural.
O ano de 1980 é marcado pelo lançamento de um número especial da revista
francesa L’Homme com artigos de Françoise ZONABEND, André BURGUIÈRE, Alain
COLLOMP, Martine SEGALEN, Christiane KLAPISCH-ZUBER e Carlo SEVERI, dedicado
exclusivamente ao nome pessoal e à designação, traduzindo um maior envolvimento da
antropologia histórica e da sociologia histórica com a problemática8.
Por conseguinte, até ao início dos anos 80, a renovação da temática
investigativa beneficiou de uma certa confluência de interesse de estudiosos de
diferentes áreas do saber pelo estudo dos antropónimos. Nesta óptica, a partilha dos
instrumentos metodológicos aplicados nos diversos territórios científicos enriqueceram
as análises aplicadas ao passado no tempo mais longo (séculos XI a XX), v.g. a
perspectiva histórica9, a sociológica10 e a antropológica11, nomeadamente.
7 Le prénom mode et histoire. Entretiens de Malheur 1980, ed. Jacques DUPAQUIER, Alain BIDEAU e Marie-Elisabeth DUCREUX, Paris: EHECS, 1984. 8 L’Homme, oct.-déc. 1980, XX (4), nº spéciale. 9 DUPAQUIER, 1984 : 5-10 ; BURGUIERE, 1984 : 29-35. 10 SHNAPPER, 1984 : 13-21. 11 ZONABEND, 1984 : 23-27 ; KLAPISCH-ZUBER, 1984 : 37-47.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
6
De facto, nesta primeira fase, uma plêiade de estudiosos europeus patentearam,
nalguns dos seus trabalhos, uma intenção de aprofundamento desta temática que, apesar
de tudo, se manteve como actividade subsidiária em relação à história da família12 ou à
antropologia do parentesco13, fornecendo nas suas contribuições dados de inegável
mérito para o conhecimento da evolução dos comportamentos antroponímicos, mas pela
via lateral14.
A partir dos anos 80, as pesquisas desenvolvidas nas universidades e nos centros
de investigação transformaram-se, de algum modo, num fenómeno «moda», marcado
por uma ascensão da antroponímia como campo de interesse na historiografia ocidental,
convergindo para a renovação das problemáticas em causa.
Coube, no essencial, aos medievistas franceses, dispondo de uma concepção
mais aberta da respectiva disciplina, aproveitar e bem as perspectivas de análise
oriundas da antropologia, da sociologia, da demografia e da linguística erigindo a partir
dai relações fecundas. Neste contexto, equipas de investigadores estabeleceram algumas
das mais audaciosas pesquisas no plano da constituição e função social do nome nas
épocas medieval e moderna, convergindo num projecto-modelo liderado por Monique
BOURIN que, do nosso ponto de vista, foi a mais significativa experiência de
conhecimento das formas de identidade pessoal e das práticas de nomear levada a cabo
de meados dos anos 80 até aos nossos dias. A Genèse Médiévale de l’Antroponymie
Moderne15 é uma antologia completa de artigos da especialidade, constituindo o produto
das actividades de pesquisa de dezenas de estudiosos de origem francesa, sobretudo,
peninsular, italiana e anglosaxónica reunidos em sete encontros16. A GMAM conta já
com cinco volumes, dois dos quais subdivididos em dois tomos (volumes II e V
respectivamente). O ponto de partida foi a construção de um inquérito antroponímico,
passível de aplicar métodos de exploração estatísticos, incidindo sobre o levantamento
12 Vejam-se os estudos de Georges DUBY inspirados na historiografia alemã de Karl SCHMIT (cujos primeiros trabalhos sobre estruturas familiares datam de 1957) incidindo sobre a literatura genealógica, ao proceder a uma avaliação dos comportamentos linhagísticos, das estruturas de parentesco e dos sistemas de filiação medievos (1973: 267-85). E mais recentemente pode ver-se Histoire de la famille, vol. II, 1986, cujos pressupostos metodológicos admitem a transversalidade interdisciplinar – História, Sociologia e Antropologia. 13 Na linha do que tem feito Ch. KLAPISCH-ZUBER entre outros, ou a mais controversa posição do antropólogo Jack GOODY, 1983. 14 GUERREAU-JALABERT, LE JAN e MORSEL, 2003 : 433-446. 15 Doravante GMAM. 16 Nomeadamente entre 1986 e 1997 (1986, 87, 89, 90, 91, 93 e 95).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
7
de dados na documentação produzida pelos cartulários, combinando-o com bases
prosopográficas (macro-pesquisas) e inquéritos genealógicos (micro-pesquisas). Um
dos principais objectivos é o de explicar os comportamentos comuns e as práticas
regionais e locais de nomear, assim como os ritmos de transformação e os modos de
difusão dos sistemas de denominação identificados sob o ponto de vista social e
genealógico (história da família, património genealógico e hereditariedade do nome). Os
períodos de distribuição populacional são decenais. A aplicação do inquérito foi feita de
modo transversal (nas principais regiões da Europa Ocidental) procurando determinar as
origens e a evolução dos sistemas de designação modernos.
O primeiro volume da GMAM, para além das questões de método, privilegia a
análise de determinadas áreas regionais que vão da Picardia a Portugal, séculos XI a
XIII, onde, apesar das diferenças regionais e a variação das escolhas sociais, triunfa o
sistema de denominação dupla (nome + patronímico)17. O segundo volume, tomos I e II,
é dedicado à análise da persistência do nome único, em regiões como a Bretanha e em
determinados núcleos populacionais, clérigos e mulheres, para igual período histórico18,
situação que se irá repetir com os dois tomos do quinto volume, dedicado quase
exclusivamente aos sistemas de denominação entre os servos e dependentes, do século
VIII ao XV, extrapolando para as regiões da Itália Central, o noroeste hispânico, a
Flandres, Catalunha, entre outras. Nestes últimos estão patentes estudos sobre o nome
em contexto social específico (servos e dependentes)19. Os terceiro e quarto volumes
são constituídos por ensaios que fazem ressaltar uma linha de evolução acentuada da
antroponímia, quer pelos instrumentos de análise (inquéritos genealógicos e bases
prosopográficas), quer pelas problemáticas abordadas (discursos sobre o nome e o
imaginário medievo - séculos VI / XV-, do domínio da história da cultura, de uma
17 Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – I, Actes des Ie-IIe Rencontres d’Azay, 1986-1987), dir. M. BOURIN, Université de Tours, 1990. 18 Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – II- 1, Persistances du nom unique : le cas de la Bretagne, L’anthroponymie des clercs, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universidade de Tours, 1992 ; Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – II-2, Persistances du nom unique : Désignation et anthroponymie des femmes, Méthodes statistiques pour l’anthroponymie, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universidade de Tours, 1992. 19 Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – V-1. Serfs et dépendants au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles), org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universidade de Tours, 2002 ; Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – V-2. Serfs et dépendants au Moyen Âge (Le «nouveau servage»), org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universidade de Tours, 2002.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
8
antropologia linguística e cultural), dando-nos a conhecer o resultado das pesquisas
mais recentes20.
As repercussões do avanço proporcionado por estes trabalhos fizeram-se mais
recentemente notar nos volumes dedicados às formas antroponímicas no espaço italiano
em resultado dos encontros de Roma (1993, 1994 e 1997) de que a École française de
Rome publicou as respectivas actas21 e, do encontro realizado em 1994, naquela cidade
incidindo sobre a antroponímia como forma de identificação social, debruçando-se
sobre as formas de constituição do nome entre as minorias judaica e árabe, comparando-
as com o sistema cristão22.
Em paralelo, na Alemanha, foi levado a cabo um projecto de investigação, por
uma equipa de vinte historiadores e linguistas que, incidindo num período histórico
menos estudado pelos medievistas, comprovou a sobrevivência dos nomes próprios da
Primeira (Alta) Idade Média23.
Na Espanha, o único projecto recentemente construído procura associar os
comportamentos antroponímicos às formas de representação social de grupos24, na
esteira das principais vertentes exploradas pela escola francesa25.
Entre nós José Leite de Vasconcelos (1858-1941) terá sido um dos primeiros a
explorar os antropónimos medievais e modernos portugueses, numa perspectiva
filológica, buscando essencialmente a origem linguística e as características de
designação26. Vários autores tendo vindo a contribuir para a renovação e reintrodução
dos estudos antroponímicos na historiografia medieval portuguesa, mormente desde os
20 Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – III, Enquêtes géneálogiques et données prosopographiques, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universidade de Tours, 1995 (contém 26 tábuas genealógicas) ; Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – IV, Discours sur le nom : normes, usages, imaginaire (VIe-XVIe siècles), org. Patrice BECK, Universidade de Tours, 1997. 21 Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne : l’espace italien – I, org. Jean-Marie MARTIN e François MENANT, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, temps modernes (MEFRM), 1994,1995 e 1998. 22 L’Anthroponymie. Document de l’histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, ed. Monique BOURIN, Jean-Marie MARTIN e François MENANT, École française de Rome, 1996. 23 Nomen et gens : Zur historischen…, 1997. 24 MARTINEZ SOPEÑA, 1996: 63-85 ; ID., 2002 : 67-76. 25 Antroponimia y Sociedad. Sistemas de identificación..., 1995. 26 Licenciou-se me Medicina em 1886, tendo desde cedo manifestado um maior gosto pelas «letras». Foi Conservador da Biblioteca Nacional até 1911 e Professor da Faculdade de Letras de Lisboa até 1929, onde leccionou disciplinas no âmbito da Filologia, Arqueologia, Epigrafia e Numismática. Fez vários estudos etnográficos sobre o modo de ser português (tratado de Etnografia Portuguesa), associando-os quase sempre à Filologia e à Arqueologia. Produziu inúmeros livros e artigos no âmbito da Filologia Portuguesa no qual se enquadra o estudo dos nomes de pessoas e de lugares e respectivos dialectos sob o título Antroponímia Portuguesa. (GUERREIRO, 1985: 254-255).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
9
anos 80 para cá, tomando como referente novas perspectivas de abordagem que se
inserem no âmbito da História Social. Algumas das mais importantes e actuais
contribuições são da responsabilidade de Iria GONÇALVES e Robert DURAND. A
primeira, desde princípios dos anos 70 tem publicado trabalhos sobre onomástica
medieval portuguesa com base no levantamento de cartulários dos finais da Idade
Média, das regiões da Estremadura27, do Alto Alentejo e do norte de Portugal28; o
segundo, participou em vários colóquios internacionais, tendo começado por explorar os
dados antroponímicos do Livro Preto da Catedral de Coimbra29 e, recentemente,
avançado com um balanço dos modos de utilização do nomen paternum pela
aristocracia portuguesa dos séculos XI-XII, antecipando timidamente algumas pistas
evolutivas para os tempos finais da Idade Média, v.g. o século XV30. Recentemente
Isabel FRANCO estudou a Antroponímia e Sociabilidade através dos “pergaminhos” do
Cabido da Sé do Porto (século XIV)31.
Nos nossos dias as pesquisas antroponímicas são consideradas como uma das
mais complexas e multidisciplinares linhas de investigação historiográfica europeia32.
Uma das mais recentes linhas de pesquisa antroponímica é aquela que incide
sobre as relações entre identidade pessoal e estruturas familiares patentes na colectânea
de estudos intitulada Personal names studies of Medieval Europe editada nos EUA no
ano de 2002. O estudo que se segue desenvolve-se em torno dos pressupostos desta
tendência mais recente, incidindo sobre um grupo sócio-profissional particular nos
finais da Idade Média portuguesa.
27 1988a: 105-142. 28 1988b: 69-104; EAD., 1999: 347-363; EAD., 2003 : 265-299. 29 DURAND, 1989, reed. 1990: 219-232 ; ID., 1995a : 103-120 ; ID., 1995b : 43-54. 30 DURAND, 2002: 77-86. 31 Dissertação de Doutoramento, Universidade do Minho, 2006. 32 GUERREAU-JALABERT, LE JAN e MORSEL, 2003 : 433-446.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
10
II Parte – ESTUDO EMPÍRICO DOS ANTROPÓNIMOS DA OFICIALIDADE RÉGIA (1367-1481)
«L’homme a souvent été désigné par la terre, d’après son lieu d’origine
– et la terre par l’homme, en particulier le domaine d’après son propriétaire :
innombrables sont les noms de famille qui ont d’abord été des surnoms
d’origine, et dans cette catégorie subsiste un langage topographique»
Marianne MULON33
Considerando que o nome pessoal é formado por diferentes componentes
qualitativos, uns obrigatórios, outros opcionais, numa sequência determinada,
intentámos proceder ao estudo global das formas de composição onomástica dos oficiais
da Chancelaria régia entre 1367 e 1481.
2.1. Justificação do trabalho
A escolha do objecto de estudo prende-se com factores muito específicos:
1º) Como tem sido por nós abordada a elite de burocratas régios, redactores e escrivães,
encerra em si um conjunto de características que lhe conferem um papel institucional e
político particular. Procuraremos desvendar, sob um outro ângulo, mais algumas das
especificidades destes dois grupos de servidores régios.
2º) A fonte base para o estudo agora encetado é constituída pelos registos da
Chancelaria de D. Fernando34, D. João I35, D. Duarte36 e D. Afonso V37; a que se junta
documentação avulsa compulsada de forma sistemática e uns quantos estudos inéditos38.
A carta régia constitui o tipo de diploma de onde parte o estudo agora encetado. Esta
espécie documental detém uma estruturação particular e provém de uma única entidade
produtora – a Chancelaria39. A documentação da Chancelaria é frequentemente
apresentada como uma fonte homogénea, devido às particulares condições de produção
33Origines et histoire des noms de famille. Essais d’Anthroponymie, Paris, 2002 : 5. 34 IANTT, Chancelaria de D. Fernando, Ls. I a IV. 35 IANTT, Chancelaria de D. João I, Ls. I a V. 36 IANTT, Chancelaria de D. Duarte, Ls. I, II e III. 37 IANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Ls. I a XXXVIII. 38 Cf., supra, n. 44. 39 Excepção feita aos livros insertos na Chancelaria provenientes da Casa do Contos de Lisboa.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
11
e guarda40, se comparada com outros núcleos documentais, ainda que possa assinalar-se
a pontual heterogeneidade e descontinuidade cronológica dos registos devido a perdas41
e à natureza e proveniência dos mesmos42. Os intervenientes na redacção e escrituração
dos diplomas das Chancelarias régias são o objecto da análise antroponímica. Para o
efeito são tidas em consideração as múltiplas aparições de um servidor régio e a sua
qualidade interveniente de redactor ou de escrivão, a que se juntam elementos
complementares de identificação, tais como a qualidade social43 e, naturalmente, o
ofício44.
3º) Busca-se no universo de indivíduos aí representado a relação entre identidade
nas fontes e a experiência social identitária de um grupo com especiais atribuições de
foro burocrático, político e administrativo.
4º) Trata-se de um estudo que visa definir o perfil do mecanismo antroponímico
masculino que preside a este meio e saber das características distintivas do sistema
onomástico respectivo. Dito por outras palavras, procura-se reconstituir a imagem
que a antroponímia pode conferir às estruturas políticas, familiares e sociais das
esferas do poder na Idade Média Final.
2.2. Descrição das tarefas e objectivos
Começamos por proceder à seriação de cada um dos oficiais em serviço
(redactores e escrivães) ao longo dos anos mencionados, tendo por base o levantamento
feito a partir dos registos da Chancelaria régia e da documentação régia original avulsa.
40 HOMEM, DUARTE e MOTA, 1991: 403-423. Sobre as condições particulares de produção, conservação e guarda dos registos da Chancelaria de D. Afonso V ver por todos FREITAS, 2001, vol. I: 33-37. 41 MARQUES, 1979: 171-173. 42 Referimo-nos particularmente aos registos da Casa dos Contos incorporados nas Chancelarias régias que contém um assinalável número de diplomas de múltiplos anos de reinado, ou mesmo de reinados distintos. A título de exemplificativo veja-se o livro 2 da Chancelaria de D. Duarte que contém uma maioria de fólios com registos-originais do reinado de D. Afonso V, muito embora pertença à chancelaria eduardina. (IANTT, Chancelaria de D. Duarte, L. 2; cfr. FREITAS, 1996: 41-45). 43 Sob este aspecto, devemos adiantar, que não foi especificamente o protocolo final das cartas régias o principal meio de aceder à qualidade social dos oficiais régios. Pesquisas complementares permitiram determinar o estatuto de uns indivíduos ou vieram a clarificar a situação social de outros. Infelizmente para um número significativo de servidores não reunimos informações seguras sobre o respectivo estatuto social - até pela natureza da fonte principal. Estes indivíduos foram inseridos na categoria de indeterminados. 44 HOMEM, 1990; FREITAS, 1996; EAD., 2001. Ver também as dissertações de mestrado apresentadas à FL/UP por: VAZ, 1995; ALMEIDA, 1996; BORLIDO, 1996; MONTEIRO, 1997; CARVALHO, 2001; CAPAS, 2001; DURÃO, 2002; HENRIQUES, 2001; FERREIRA, 2001 e BRITO, 2001. A estes acrescem os relatórios inéditos sobre escrivães e desembargadores das Chancelarias de D. Fernando, D. João I e D. Afonso V (MORUJÃO e RAMOS, 1990, nomeadamente).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
12
Procedemos à criação de uma primeira base de dados com recurso ao programa EXCEL
de que falaremos mais adiante. Prosseguimos com o carregamento da base de dados
que, depois de concluído, permitiu a impressão de uma primeira listagem. Avançamos
para a confirmação e, nalguns casos, correcção dos dados recolhidos na base e
respectivo cruzamento. Este cruzamento de dados foi respeitado na resolução de todos
os casos de homonímia e redundâncias. Algumas situações detectadas, levantaram
problemas de ordem metodológica, obrigando-nos sempre que necessário a efectuar
pesquisa complementar no sentido de dar o melhor encaminhamento possível aos
problemas assinalados conforme a sua natureza. Posteriormente testamos a base de
dados em função das questões previamente colocadas e colocámos novos problemas
e/ou interrogações que de início não tinham estado na origem da recolha da informação.
Esta tarefa, obrigou-nos a ajustar e reconverter toda a base de dados inicial,
actualizando-a. Finalmente procedeu-se à elaboração das listagens definitivas do corpo
de oficiais tratado. A execução dos gráficos e tabelas dependeu inteiramente do modo
como pensamos e alimentamos a base de dados45.
Em paralelo, procedemos à criação de um inquérito-tipo antroponímico com
pontos de acesso normalizados de forma a controlar a qualidade da informação
disponibilizada para posterior e eficaz recuperação da mesma. Este inquérito é
composto por vectores de análise quantitativa, tendo em conta o total de unidades
onomásticas a tratar nos três períodos preestabelecidos, e vectores de análise qualitativa,
através dos quais são analisadas as componentes antroponímicas e a formação de novos
apelativos46.
2.3. A construção da metafonte47
A base de dados principal foi efectuada com recurso ao software EXCEL
contendo diferentes entradas ordenadas por colunas exaustivamente preenchidas numa
disposição sequencial: nº de ordem, período, nome próprio, patronímico, apelido
(família), apelido (localidade), apelido (alcunha ou outro), início de carreira, fim de
45 Gostaríamos agradecer a colaboração à Mestre Sandra Bernardo, da Universidade Fernando Pessoa, o arranjo final dos gráficos e quadros. 46 Cf. Anexo – Inquérito Antroponímico. A construção da matriz do questionário inspirou-se no inquérito apresentado por M. BOURIN e B. CHEVALIER para o estudo do sistema antroponímico masculino (sécs. XI-XIII), mas tivemos que introduzir as adaptações necessárias impostas pela realidade observada nos séculos XIV e XV. (BOURIN e CHEVALIER, 1989 : 11-12). 47 GENET, 1986a: pp. 7-18; ID., 1986b: 99-110.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
13
carreira, ofício 1, especialidade, ofício 2, especialidade e observações de especial
relevância na identificação dos indivíduos pertencentes ao universo masculino tratado.
Deste modo procurámos sistematizar a informação mais válida para o estudo que
intentámos efectuar e à qual presidiam as principais questões a resolver. Assim foi-nos
particularmente facilitada, depois de preenchidos todos os campos, a ordenação de
listagens de nomes próprios, de patronímicos, de apelidos, bem assim como se vieram a
alargar as possibilidades de cruzamento das informações e categorias de dados
seleccionados.
Por outro lado, procedemos à execução de um inquérito antroponímico48
composto por vectores de análise quantitativa e qualitativa, conforme já avançamos,
com o objectivo de estudar a evolução do nome pessoal destes dois núcleos de
servidores régios. Verificando eventuais alterações devidas à hereditariedade, ao gosto,
às influências literárias, geográficas, sócio-profissionais ou outras.
É do nosso particular interesse reflectir sobre a incidência da constituição dos
antropónimos com três termos ou denominações, podendo, eventualmente, relacioná-los
com o nível social e a proveniência familiar, bem assim como com as crescentes
tendências no século XV para uma maior individualização. Evidentemente que a
correlação que possamos estabelecer tem por base o levantamento prosopográfico
familiar estabelecido nos inquéritos lançados aos oficiais redactores e escrivães.
2.4. Questões metodológicas
Importantes dificuldades de ordem metodológica mereceram a nossa ponderação
e análise. Consideramos ser este o momento mais oportuno para partilhá-las convosco.
Quando decidimos compreender o sistema antroponímico tardo-medievo da elite
de burocratas que serviram os reis de Portugal de 1367 a 1481 contávamos com alguns
problemas de ordem metodológica relacionados com a circunstância de o universo
estudado ser constituído por mais de um milhar de indivíduos que, quer do ponto de
vista hierárquico, quer do ponto de vista social, detém qualidades distintas ainda que
pertençam ao mesmo meio sócio-profissional, conforme já adiantamos. Assim, partimos
da identidade oficial dos personagens de um determinado meio político crendo que ela
48 Cf. Anexo – Inquérito Antroponímico.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
14
corresponde a pelo menos uma das formas sociais de identificação dos indivíduos do
grupo. Se por um lado a natureza das fontes nos garante uma maior uniformidade das
formas de indicação do pessoal afecto às diferentes instâncias superiores do
Desembargo, consideramos, no entanto, que ela pode não ser redutível à simples
apresentação (presença) nas fontes. Todavia relembremos que o nosso estudo se limita
aos antropónimos dos oficiais presentes nos protocolos finais dos diplomas régios. No
conjunto de nomes seriado a partir da base documental, viemos a encontrar um sistema
antroponímico que comporta diferenças no que toca os componentes de identificação,
para os oficiais redactores e os oficiais escreventes, para os indivíduos de condição
social superior (nobreza de corte) e uma maioria de servidores régios de condição social
indeterminada49. Não obstante este facto, os nomes utilizáveis do ponto de vista deste
estudo são equivalentes às diferentes formas antroponímicas registadas nas fontes.
Partimos igualmente da constatação de que existiriam desequilíbrios assinaláveis
entre o número de servidores identificado para cada um dos reinados e entre distintos
períodos ao longo do tempo abordado. Estes seriam os primeiros problemas com que
nos defrontámos, a que veio juntar-se de imediato outro, já nosso conhecido: a questão
das homonímias. Para ultrapassar o primeiro recorremos a faixas cronológicas de
amplitude variável ajustando-as ao volume informativo que contém. Sabendo, à partida,
que de inícios do segundo quartel do século XV em diante, o aumento de indivíduos é
significativo devido à progressão geométrica da produção e conservação de registos50.
Assim, entendemos por bem proceder a uma partição tendo em conta a distribuição mais
equilibrada do volume de nomes de oficiais redactores e escrivães entre 1367 a 1481,
em três períodos distintos (1367-1432), (1433-1448) e (1449-1481). Por outro lado,
procurámos conciliar esta primeira opção com outra, que entendemos, da maior
relevância - a alteração das conjunturas político-institucionais propriamente ditas que -,
não raras vezes, conforme já adiantámos noutros trabalhos, regulam a mudança de
49 O tratamento das referências profissionais que se seguem ao nome próprio foi exaustivo, uma vez que em trabalhos anteriores nos dedicamos ao estudo das atribuições de foro burocrático dos homens do Desembargo régio numa perspectiva institucional e política (cfr. infra, os trabalhos citados na n. 11) Por conseguinte, para estes dois grupos de servidores (redactores e escrivães), estavam reunidas as referências de carácter profissional que se seguem ao nome no escatocolo dos actos régios. Estas referências de categoria profissional não constituem parte integrante do nome ao contrário do que se verifica para outros núcleos documentais, outras cronias e outros lugares (BECK, 1989: 61-85 e GONÇALVES, 1988a: 105-142; EAD., 1988b: 69-104; EAD., 1999: 347-363). 50 Cf., infra, os estudos referidos na n. 40.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
15
quadros humanos nas instâncias superiores da burocracia51. Daí que a primeira faixa
reúna sessenta e seis anos (1367-1432), a segunda dezasseis (1433-1448), em virtude
das conjunturas políticas a elas associadas que proporcionaram uma renovação de
recursos humanos52 e, finalmente uma terceira faixa de trinta e dois anos (1449-1481)
que corresponde ao governo efectivo de D. Afonso V.
Faixas cronológicas Total dos anos por faixas
Número de indivíduos %
1367 - 1432 66 389 38,78 %
1433 - 1448 16 272 27,11 %
1449 - 1481 32 342 34,09 %
Totais 114 1003 99,98 %
Quadro I – Dados gerais da documentação (1367-1481)
O período que compreende o maior número de servidores é o primeiro dos
consignados, atinente ao facto de ser a faixa que comporta os oficiais do reinado de
D. Fernando e de D. João I (até finais de 1432), e não obstante detém um valor um
pouco mais elevado – 38,78 % - se comparado com o último dos períodos com uma
dimensão de 34, 09 %, ainda que esta faixa comporte menos de metade dos anos
daquele. Tal como se previa, o segundo período de uns escassos dezasseis (1433-1448),
é um tempo de importante renovação de quadros humanos, e daí que corresponda a
27,11 % do total de indivíduos levantados.
51 FREITAS, 2001: 130-149 e 237-247. 52 FREITAS, 200, vol. I: 130-149 e 237-247.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
16
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1367-1432 1433-1448 1449-1481
Períodos
Registos
Gráfico I – Distribuição do número de ocorrências por período
A distribuição parece-nos consentânea com os períodos chave de alternância nas
instâncias governativas ao longo do século XV, e equilibrada de modo a permitir
elaborar as listas dos nomes que circulam nos três ciclos numa perspectiva comparativa.
Se porventura atendêssemos ao princípio e ao final dos reinados ou à divisão por faixas
com intervalos regulares a dispersão de dados onomásticos proveniente do total de
indivíduos distorcia (ainda mais) as respectivas conclusões estatísticas ao favorecer a
existência de alguns nomes em períodos de maior número de ocorrências em relação a
outros que primam pela escassez de diplomas na Chancelaria régia53. Com esta divisão,
a análise onomástica a que procederemos faz a avaliação estatística segundo critérios
mais equitativos quantitativa e qualitativamente, daí podermos extrair conclusões
consistentes do ponto de vista da evolução do corpo onomástico dos principais núcleos
de agentes do poder régio. Núcleo que a partir de meados do século XV tende a
desenvolver particulares modos de transmissão familiar dos ofícios54. Será que
coincidentemente assistirão à transmissão familiar do nome e, especificadamente, do
terceiro apelativo ou denominação de família?
53 Os estudiosos da problemática em apreço chamam a atenção para os «perigos» da distorção de ocorrências entre períodos cronológicos com intervalos regulares, devido à diversa quantidade das fontes. De um modo geral, o número de ocorrências é muito menor no século XI que nos séculos posteriores (Cf., por exemplo, BARTHÉLEMY, 1989 : 36-38). Por todas as razões apontadas optámos por dividir em faixas cronológicas tomando em consideração os dois dos principais factores: quantidade de documentos expedidos (fontes) e quantidade de oficiais em serviço (factor político). 54 FREITAS, 2001, vol. I: 208-215.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
17
O problema das homonímias é para todos os estudiosos do universo humano
medievo, amiudadas vezes, um obstáculo difícil de superar. Conforme sabemos um
mesmo indivíduo pode surgir em contextos muito diferenciados, na qualidade de
redactor, de clérigo, de marido, de filho,… assumindo, não raras vezes, formas de
identificação diferenciadas. No entanto, um conjunto de informações igualmente válidas
foi por nós considerado no sentido de reduzir ao mínimo os enganos e as sobreposições,
dispondo para tal do manancial de informes recolhido nos catálogos prosopográficos.
Recorremos, por isso, a todos os indicadores que podiam justificar a separação de dois
homónimos, quando tudo indica tratar-se de identidades diferenciadas. Do mesmo
modo, e na ausência de indicadores mais seguros, optámos por individualizar as
entradas. Ao mesmo tempo verificámos casos de identidade que agrupámos, visto que o
uso da identidade pessoal, nos registos compulsados e para uma maioria dos casos,
radica na utilização de uma forma textual particular, o que contribui para a distinção no
seio do grupo. Foi no entanto impossível comparar a identidade de todos os indivíduos
nas fontes escritas maioritariamente compulsadas – os livros da Chancelaria -, com as
assinaturas autografas das cartas régias originais avulsas55.
3. As componentes do nome e modos de identificação
3.1. O sentido social do nome
O nome individualiza, distingue, umas vezes realça qualidades outras defeitos,
destaca origens, é sinal de pertença a um meio ou, simplesmente, antediz a profissão. O
nome salienta a existência de uma relação entre o gosto da época, os meios sociais e as
circunstâncias culturais, políticas e demográficas. O nome é um importante sinal da
mudança dos tempos!
Por tudo isto, o nome pode também ser interpretado como um valor patrimonial
que é legado de origem.
De igual modo consideramos que o valor do nome pode variar consoante a
abordagem ou perspectiva de análise sob que nos colocámos, seja ela
filológica/linguística, religiosa, lendária... ou histórico-social. Desde já alertámos que
55 Pelos poucos casos observados constatámos haver uma coincidência do número e qualidade dos apelativos, podendo no entanto as rubricas surgir, uma maioria das vezes, de forma abreviada.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
18
nos iremos debruçar sobre os possíveis valores do nome. Deste modo, não
enveredaremos pelo critério de análise linguístico. No essencial, a nossa perspectiva de
análise repousa numa abordagem histórico-social ou, se quisermos, antropossociológica.
O uso que um determinado grupo político da sociedade de Corte da Idade Média Final
faz do nome. Não iremos por isso desvendar qual a origem etimológica do nome, tarefa
para a qual não nos sentimos habilitada, uma vez que é matéria para filólogos, mas
sobretudo verificar quais as práticas sociais de identidade comunitária de um grupo
específico e bem delimitado, no âmbito profissional. Interessa-nos sobretudo conhecer o
corpo onomástico deste núcleo de agentes do poder régio. Muito embora existam alguns
clérigos no seio da burocracia régia os antropónimos que trataremos pertencem
maioritariamente a indivíduos do sexo masculino, de condição laica, oriundos de meios
familiares seculares. Ainda assim, conforme destacaremos, são passíveis de se constatar
nomes por detrás dos quais se evoca a virtude, a pureza ou mesmo a ‘encomenda’ da
santidade56. Não esqueçamos que no Ocidente medieval o baptismo é o sacramento
principal. «O costume consiste em baptizar a criança o mais depressa possível após o
nascimento porque se reforça, (...) em particular no século XV, um temor muito forte: o
de que os bebés morram sem terem sido baptizados»57. Comportamento distanciado do
constatado por Pierre-Henri BILLY quando se refere à dação do nome nas épocas mais
recuadas, em que o temor da peste e doença não estão presentes: «Jusqu’aux XIe-XIIe
s., les enfants n’etaint guère baptisés que parvenus à l’âge adulte: en général, leur nom
de baptême était alors le nom que leurs parents leur avaient conféré dès leur plus jeune
âge. Ce n’est que vers le XIIe s. (…) qui se généralisa le baptême des nouveau-nés»58.
Efectivamente, o estudo dos antropónimos ajuda a desvendar as modificações de
comportamento de grupos em sociedade e proporciona um conjunto rico de
ensinamentos sobre os modos de vida em família, bem assim como sobre os usos e
costumes onomásticos antepassados.
Em Portugal, na Idade Média Final, constatámos a presença de nomes de
influência religiosa conjuntamente com nomes isentos de conexões com essa mesma
proveniência que, por comodidade de linguagem, designámos de profanos.
56 «O nome atribuído à criança, no baptismo, costumava ser, na Idade Média, uma denominação que pertencera a algum Santo» (GONÇALVES, 1988a: 78). 57 LE GOFF e TRUONG, 2005: 88. 58 BILLY, 1995: 171.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
19
De outro modo procuramos apresentar a listagem dos nomes próprios, e
justificar a inexistência de casos de nomes simples59, uma maioria de nomes compostos
por dois apelativos, nome próprio mais patronímico, e de um número crescente de
antropónimos constituídos pelo nome próprio, pelo patronímico, constituído a partir do
nome individual60, e por um terceiro apelativo, designadamente de família. A junção da
terceira designação e, nalguns casos pouco frequentes de um quarto apelativo,
demonstra particulares cuidados de individualização e distinção por parte dos
progenitores dos dois núcleos de oficiais estudados. De outro modo, é também de
realçar a presença de um certo tipo de adjunções nominais61 e a exclusão de outras nos
protocolos finais dos diplomas compulsados. A relação entre o núcleo populacional
tratado e o recurso a adjunções nominais assenta num conjunto de factores específicos
que justificam um determinado uso das segundas. O grupo de servidores régios é por
definição um núcleo tendencialmente urbano62, central, ‘conhecedor’, de elite; se
atendermos à função que desempenha e ao lugar que ocupa no seio da Corte63, até pela
itinerância desta64. Mas por outro lado, é composto por um alargado número de
servidores cotados diferenciadamente do ponto de vista social. No topo está a nobreza
de Corte, um dos sustentáculos do poder régio neste período, a que se junta um grupo de
indivíduos de condição social menos elevada e que, nalguns casos, buscam ascender
socialmente pelo provimento a ofícios régios e respectiva retribuição dos serviços
59 Com ressalva para um clérigo, de seu nome Afonso, que, entre 1439-1441, escreve apenas 3 cartas de diferentes tipos diplomáticos. Não sabemos se o nome se encontra registado de forma incompleta, por isso não o consideramos na listagem agora efectuada. Ver por todos FREITAS, 2001: 535. Segundo BOURIN e CHEVALIER «(...) l’ désignation des clercs, elle est différente (...) de celle des laïques et semble rester longtemps fidèle au système du nom unique» (1990: 7). 60 José Leite de VASCONCELOS considera apenas patronímico as designações que descendem do nome pessoal do pai, por exemplo Álvares, Geraldes, Pais, Rodrigues, etc. Deste distingue o sobrenome que pode aparecer logo a seguir ao nome próprio, como exemplo: André, Gil, Vicente, etc. Procurando evitar uma compartimentação excessiva considerar-se-á todos os segundos apelativos, nestas condições, como patronímicos uma vez que na Idade Média tardia eles ainda desempenhavam igual função (VASCONCELOS, 1928: 113 e 199). 61 Por adjunção nominal consideramos toda e qualquer indicação que se acrescente ao registo completo do nome e que ajude a identificar o indivíduo (GONÇALVES, 1988: 71-72). 62 São já alguns os estudos que distinguem a antroponímia urbana da rural, v.g. MENANT, 1996: 349-363. Consideramos, no entanto, da maior dificuldade estabelecer uma separação nítida entre a antroponímia de um meio e de outro, designadamente em Portugal. 63 GOMES, 1995. 64 A Corte é lugar de representação e um dos mais influentes centros do poder em torno do qual gravitam os oficiais que ocupam as diferentes instâncias do poder e uma plêiade de servidores masculinos e femininos com as mais diversas funções. A itinerância é também uma forma de se mostrar, um meio privilegiado de chegar a lugares longe do seu epicentro, onde se fazem valer outras dimensões do poder, senhorial, municipal, eclesiástico e outros.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
20
prestados65. Deste modo, as atribuições de foro burocrático e político (especificação dos
ofícios) constituem as principais adjunções que seguem ao nome individual dos
elementos da população seriada, acompanhadas da menção a dignidades (arcebispo,
deão ou outra) e posições sociais ocupadas (vassalo, cavaleiro, rico-homem). Com
alguma parcimónia são usados epítetos ou alcunhas, e praticamente inexistentes os
indicativos de filiação. Evidentemente que a procedência, o modo de recrutamento e a
designação do ofício nas cartas que redigem ou escrevem já de si implicam uma
assinalável individualização.
Tendo em conta estas considerações iniciais avancemos no sentido de descrever
os mecanismos de escolha do nome, das características e dos componentes de todos os
nomes do grupo em estudo.
3.2. O nome próprio: escolhas, reposições e... renovação?
O conjunto de nomes próprios agrupado é suficientemente ilustrativo das
tendências desde finais de Trezentos até finais da era Quatrocentista. Os casos que nos
chegaram são, a uma primeira abordagem, nomes de grande aceitação social. Há, no
entanto, grandes diferenças ao nível das taxas e índices de utilização.
Chegados a este ponto concretizemos com índices e níveis de frequência
extraindo daí as respectivas ilações66.
O núcleo de redactores e de escrivães pertencente ao staff da administração régia
entre 1367-1481 faz uso de um total de sessenta e um (61) nomes próprios diferentes67,
sendo trinta e nove (39) nomes de uso corrente e vinte e dois (22) nomes raros, com
apenas uma ocorrência68.
65 FREITAS, 200, vol. I: 228-234. 66 Depois de efectuada uma sondagem, verificámos que não havia cesuras nítidas e dignas de realce no que toca a escolha do nome próprio e do patronímico entre redactores e escrivães, daí a principal razão que nos levou a proceder nos pontos 3.2. e 3.3. a uma apreciação conjunta dos dois núcleos de servidores. 67 Ambrósio, Armon, Eanes, Estácio, Farto, Francisco Gabriel, Gregório, Hucheia, James, Jerónimo, Judas, Lázaro, Manuel, Mendes, Paio, Ricardo, Rolão, Salvato, Turíbio, Urbano, Vítor. 68 Seguimos o critério adoptado nos estudos sobre antroponímia medieval e moderna que, para efeitos de classificação, considera nome raro todo aquele que não ultrapassa uma única ocorrência (Genèse Médiévale de l’Anthroponymie Moderne – I, 1990).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
21
Nº de ordem Nome próprio Totais % Patronímico Totais % 1 João 172 17,14 Anes/Eanes 83 11,36 2 Fernão/Fernando 84 8,37 Afonso 77 10,54 3 Pero/Pedro 83 8,27 Gonçalves 70 9,58 4 Álvaro 71 7,07 Martins 56 7,67 5 Diogo 66 6,58 Peres/Pires 50 6,84 6 Afonso 64 6,38 Fernandes 46 6,3 7 Gonçalo 59 5,88 Vaz/Vasques 46 6,3 8 Vasco 45 4,48 Esteves 41 5,61 9 Martim/Martinho 37 3,68 Rodrigues 41 5,61 10 Rui 35 3,48 Álvares 31 4,24 11 Luís 29 2,89 Lourenço 27 3,69 12 Estêvão/Esteves 25 2,49 Gil 25 3,42 13 Rodrigo 22 2,19 Lopes 21 2,87 14 Lopo 20 1,99 Dias 21 2,87 15 Lourenço 20 1,99 Domingues 16 1,16 16 Gil 19 1,89 Gomes 14 1,91 17 Vicente 19 1,89 Vicente 14 1,91 18 Nuno 18 1,79 Garcia/Garcês 10 1,36 19 Gomes 17 1,69 Mendes 8 1,09 20 Antão/António 8 0,79 Jorge 4 0,54 21 Nicolau 8 0,79 Dinis 3 0,41 22 Bartolomeu 6 0,59 Pais 3 0,41 23 Brás 6 0,59 Aires 2 0,27 24 Aires 5 0,49 André 2 0,27 25 André 5 0,49 Geraldes 2 0,27 26 Henrique 5 0,49 Mateus 2 0,27 27 Domingues 4 0,39 Nunes 2 0,27 28 Filipe 4 0,39 Romeu 2 0,27 29 Duarte 3 0,29 30 Garcia 3 0,29 31 Soeiro 3 0,29 32 Bernardo 2 0,19 33 Cristóvão 2 0,19 34 Dinis 2 0,19 35 Geraldo 2 0,19 36 Jorge 2 0,19 37 Lançarote 2 0,19 38 Listarte/Lisoarte 2 0,19 39 Tomé 2 0,19
Quadro II - Nomes Próprios e patronímicos dos oficiais da burocracia régia (1367-1481)
A população estudada foi fundamentalmente apadrinhada com os nomes de
João, Fernando, Pedro, Álvaro, Diogo, Afonso, Gonçalo, Vasco, Rui e Martim, isto para
citar apenas aqueles em que se verifica um número de ocorrências acima de trinta e
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
22
cinco. Do total de nomes considerado, os valores mais elevados são, ou continuam a ser,
ocupados pelo nome JOÃO, com cerca de 17 % do total, preenchendo os lugares
seguintes os apelativos: Fernando (8.37%), Pedro (8.27%), Álvaro (7.07%), Diogo
(6.58%), Afonso (6.38%) e Gonçalo (5.88%). Estes com valores muito próximos e que,
individualmente considerados, correspondem a uma taxa de frequência de menos de
metade do nome João que, conforme referimos, ocupa o primeiro lugar. Todos os
restantes detém valores percentuais abaixo dos 5%, muito embora haja um pequeno
grupo que se situe entre os 4,5% e 1% que mereça o nosso realce: Vasco, Rui, Martim,
Luís, Estêvão, Rodrigo, Lopo, Gil, Lourenço, Nuno, Vicente e Gomes, a que se seguem
mais trinta denominações de valor inestimável ou raras. Ou seja, João continua a ser
nome dominante no Portugal medievo69 tal como em toda a Europa Ocidental70,
assumindo valores muito expressivos no quadro político agora observado.
Nos nomes constantes da lista onomástica elaborada as designações de
proveniência germânica são dominantes, não obstante a primazia de João, garantindo
uma atitude convencional perante a escolha do nome, atestada no recurso aos nomes de
baptismo: Fernando, Álvaro, Afonso, Gonçalo, Rodrigo/Rui e Luís; seguida da cristã e
judaico-cristã, com sustentação no já reiterado caso de João, ao qual se somam Pedro,
Martim ou Vicente. Nomes de origem greco-romana só iremos encontrá-los abaixo do
décimo segundo lugar de posição, e isto apesar de, o corpo antroponímico observado,
constar de pelo menos 1671 nomes de origem greco-romana (Gil, Nicolau, André entre
outros). Na população seriada, todos os nomes greco-romanos identificados assumem
uma posição aquém dos 5%.
Há por outro lado que assinalar a ausência de pistas fidedignas quanto à origem
de nomes com forte utilização, casos de Diogo72, Lopo73, em crescendo de aplicação no
século XV, e António74.
69 Para Portugal vejam-se os trabalhos GONÇALVES, 1988a: 69-104; 1988b: 105-142, e particularmente sobre o nome JOÃO e a sua utilização na região sintrense HOMEM, 1994: 171-185. Para o Norte do país v. por todos o trabalho FRANCO, 1995: 16-17. 70 BECK, 1984 : 165 e KLAPISCH-ZUBER, 1984 : 40. 71 Um de provável origem grega: «Diogo». Cf. MACHADO, 2003, t. I: 508. 72 MACHADO, 2003, t. II: 508. 73 MACHADO, 2003, 2003, t. II: 894. 74 MACHADO, 2003, t. I: 144.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
23
Por fim é de salientar a dispersão verificada no número e qualidade dos nomes
muito raros, usados por um único oficial régio, num total de 22; nomes sobre os quais
entendemos avançar com algumas notas explicativas:
1º) A origem dos nomes raros é múltipla. Existem nomes de origem greco-
romana, judaico-cristã, germânicos, tal como nos de uso corrente.
2º) Só o cruzar de dados biográficos recolhidos nos catálogos prosopográficos
nos permite inferir que as diferenças onomásticas se devem nalguns casos à
proveniência estrangeira (Armon, Hucheia, James75), outros muito plausivelmente à
invocação de figuras da Igreja, santos, papas (Gabriel, Gregório, Lázaro, Urbano, por
exemplo), outros à persistência de patronímico (Eanes, Mendes, por exemplo), outros
marcam a continuidade da presença (Jerónimo, Manuel), outros manifestam alguma
irrupção (Ricardo ou Vítor), e finalmente, outros de que podemos inferir uma descensão
no uso em relação ao período antecedente (Paio, Geraldo).
Existe uma concentração onomástica ao nível do nome próprio. O valor médio
de ocorrências por nome é de 16, 4. Em 1003 indivíduos encontramos 61 unidades
antroponímicas, das quais apenas 19 designações detêm uma taxa de frequência que se
situa acima das 10 ocorrências, i.e., 31.14 % do total de nomes, para um total de 905
indivíduos (90,22% do total). Estes são os nomes verdadeiramente frequentes se
comparados com a diversidade de apelativos existente abaixo dessa taxa de frequência,
42 apelativos correspondendo a 68,85 % do total do catálogo onomástico. Se nos
detivermos no número de indivíduos titulares de nomes próprios abaixo dos dez
registos, 98 oficiais régios, detém apelativos pessoais em desuso ou raros (9,77% do
total). Estes dados reiteram à partida a concentração onomástica ao nível do nome
próprio, mas de igual modo assinalam a desigualdade de distribuição onomástica pelo
grupo populacional em análise. Esta disseminação antroponímica pode justificar-se por
factores de ordem aleatória (gosto pelo «excêntrico», influências externas, devoção
religiosa, ou outros), mas apontar uma tendência para a variação do índice de
antropónimos neste meio. Pode igualmente ser um indicador de que estamos perante um
período de transição onomástica mais geral, visível sobretudo da 3ª década do século
XV em diante. Adiante-se que uns designativos têm tendência para a acentuação a partir
daquela data, nomeadamente os apelativos de António, Filipe, Lopo, Nuno ou Pedro.
75 O equivalente a João.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
24
Muitos outros embora arrancando da forma apocopada vêm a assumir uma «moderna»
feição linguística, por exemplo: Pedro em vez de Pero, Fernando por Fernão76. Outros
manifestam uma preferência por determinadas variantes semânticas relativamente a
outras que caiem em desuso, como por exemplo Rui em vez Rodrigo77. Para uma
melhor compreensão do exposto segue-se um quadro síntese dos dados:
Nomes próprios 1367-1432 1433-1448 1449-1481 Totais Progressão de uso António 0 4 4 8
Filipe 1 0 3 4 Lopo 6 9 9 21 Nuno 6 6 8 20
Pedro 21 20 42 83 Rui 8 14 13 35
Desuso
André 3 1 1 5 Bartolomeu 5 0 1 6 Estêvão 14 5 6 25
Gil 9 8 2 19 Lourenço 11 5 4 20 Martim/Martinho 23 8 6 37
Rodrigo 10 8 4 22 Vasco 25 12 8 45 Vicente 9 5 5 19
Quadro III – Nomes próprios em progressão de uso e desuso (1367-1481)
Conforme podemos constatar alguns dos designativos parecem manifestar uma
tendência para a acentuação a partir da 3ª década do séc. XV. Como exemplo de nomes
de baptismo em progressão de uso temos António, Filipe, Lopo, Nuno e Pedro. Por
outro lado, alguns onomatos parecem tender para um número menor de ocorrências:
André, Bartolomeu, Estêvão ou Martim, por exemplo.
Comparativamente o repertório de nomes próprios em uso ao longo dos três
períodos cronológicos não evidencia diferenças marcantes. O valor médio de nome por
fase é de respectivamente: 9,4 ocorrências (1367-1432); 7,3 ocorrências (1433-1448) e
76 Fernão forma apocopada de Fernando. 77 As duas designações, ao que tudo indica têm a mesma origem. Do germânico «hrod», glória e «ric», poderoso. Nos quadros e gráficos optámos por distinguir as duas formas por aparecerem escritas de diferente forma na fonte. Por outro lado, pretendíamos saber quais os períodos de maior utilização de cada uma das variantes etimológicas. Rui é considerado, geralmente, a forma proclítica de Rodrigo (MACHADO, 2003, t. III: 1271 e 1284; NEVES, 2003: 227 e 231, respectivamente).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
25
9 ocorrências (1449-1481). Por conseguinte, apesar das flutuações relativas quanto às
escolhas de nome próprio ao longo do tempo em análise, não se manifesta
estatisticamente um aumento significativo do número de indivíduos por nome. Veja-se
no quadro seguinte o que se passa ao nível dos dez nomes mais usados nos três
períodos:
Nº de ordem Nomes próprios 1367-1432 1433-1448 1449-1481 Totais
1 João 66 34 72 172
2 Fernão / Fernando 28 23 33 84
3 Pero / Pedro 21 20 42 83
4 Álvaro 20 22 29 71
5 Diogo 23 21 22 66
6 Afonso 32 17 15 64
7 Gonçalo 30 12 17 59
8 Vasco 25 12 8 45
9 Martim / Martinho 23 8 6 37
10 Rui 8 14 13 35
Quadro IV – Índices absolutos dos dez nomes mais frequentes (1367-1481)
Antes de mais cabe-nos explicar a quebra do número de ocorrências do nome
João no período de 1433-1448 que pode dever-se à circunstância deste corresponder
apenas a 16 anos. João é efectivamente um nome, conforme já adiantamos, que mantém
uma taxa de utilização alta e constante no Portugal Medievo.
Considerando os dez nomes próprios mais frequentes, os dados estatísticos
fazem salientar por um lado uma tendência para uma ligeira progressão de uso de alguns
dos nomes (Fernão/Fernando e Pero/Pedro, como já referimos) e uma regressão de uso
de outros nomes (casos de Gonçalo, Martim e Vasco). No entanto, a haver modificações
importantes ao nível do nome pessoal, elas decorrem sobretudo dos ritmos de renovação
de nomes no catálogo geral. Não devemos negligenciar a existência de uma
concentração das escolhas ao nível do nome próprio (61 variantes), não obstante termos
verificado que em todos os períodos existem nomes raros e muito raros, num total de 22
nomes de baptismo (designadamente Estácio, Gabriel, Francisco, Jerónimo, Manuel,
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
26
etc), facto que pode ser um indicativo de renovação e de opções conjunturais mais
difíceis de explicar78.
Quanto à origem dos nomes próprios, um breve apontamento a partir da
observação do gráfico seguinte:
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Greco-romana Judaico-cristã Germânica Obscura Outra
Frequência
Gráfico II – Origem dos nomes próprios (1367-1461)
Apesar de no total de apelativos as taxas de variação onomástica serem
superiores nos designativos de origem greco-romana, logo seguidos dos de origem
judaico-cristã; dos nomes constantes da lista onomástica elaborada as designações de
proveniência germânica são dominantes em termos de taxa de utilização, garantindo
uma atitude convencional perante a escolha do nome (Fernando, Álvaro, Afonso,
Gonçalo, Rodrigo/Rui e Luís, são nomes de baptismo predominantes). Nomes de
origem greco-romana só os encontrámos abaixo do décimo segundo lugar de posição, e
isto apesar do corpo antroponímico constar de pelo menos 16 nomes de origem greco-
romana (Gil, Nicolau, André, entre outros)79. Todos os nomes greco-romanos assumem
uma posição aquém dos 5%. Há que assinalar também a ausência de pistas fidedignas
quanto à origem de nomes de baptismo com forte utilização, casos de Diogo e Lopo, por
exemplo, em crescendo de aplicação no século XV. Porém, existe um conjunto de
78 Há ainda nomes próprios com um percurso pouco definido ao longo dos três períodos cronológicos em análise, visto que o grau de flutuação mostrado é de variável aleatória e a alternância de nomes pessoais não proporciona uma dedução segura. 79 Cfr. por todos, infra, o Quadro II – Nomes próprios e patronímicos dos oficiais da burocracia régia (1367-1481).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
27
nomes raros (uma ocorrência), cuja origem é múltipla, alguns de proveniência
estrangeira (Armon, Hucheia, James), outros invocam figuras da igreja, de santos e
papas (Gabriel, Lázaro, Urbano), outros ainda são devidos à persistência de patronímico
(Eanes, Mendes, por exemplo).
Concluindo, atendendo às considerações efectuadas, os nomes de uso corrente
assinalam uma «longa» época medieval, cujas práticas antroponímicas estão marcadas
por consumos culturais de tendência conservadora que se reflectem no repertório de
nomes na globalidade (e não só nos mais escolhidos). O apadrinhador português de
finais da Idade Média mantém a preferência pelos apelativos tradicionais, indo buscar
os nomes de baptismo às origens. Daí manterem-se nos primeiros lugares os nomes
próprios de maior frequência dos séculos precedentes80, aumentando as taxas de
homonímia, ao nível do nome próprio, no conjunto dos homens que serviram nas
diferentes instâncias do poder. Esta constatação não pode ser escamoteada tanto mais
que sabemos tratar-se de um grupo profissional que busca formas complementares de
individualização, patente no protocolo final das cartas quando a seguir ao nome é
adiantada, não raro, a qualidade social do indivíduo - «vassalo d’el rei», «cavaleiro»,
«rico-homem»-, e, naturalmente, o ofício. De igual modo verificámos uma tendência
para reposição de nomes há muito utilizados (históricos) por exercerem maior atracção
ao acentuarem o enraizamento social e familiar, reproduzindo formas ancestrais de
nomeação dentro da parentela e garantindo, à partida, a integração e consequentemente
maior segurança81. Por outro lado, não verificamos uma cristianização do nome uma vez
que, à excepção dos apelativos pessoais de João (1º lugar) e de Pedro (3º lugar), as
restantes designações de uso comum são de origem germânica, muito embora possam
ter sido «cristianizados» em virtude da nomeação de santos e algumas figuras da Igreja
ou por terem sido nome de baptismo de pessoas com elevado fervor religioso, por
exemplo: S. Luís, rei de França. Os nomes de origem germânica detêm uma expressão
quantitativa e qualitativa assinalável entre os servidores régios. Como salienta Iria
GONÇALVES, «(...) a onomástica galego-portuguesa era a mais profundamente
80 Para o caso português cf. por todos os quadros GONÇALVES, 1988a: 73-75; EAD., 1988b: 107, 109 e 112; EAD., 2003: 276-281. 81 Sobre o assunto articularemos os dados do problema mais em detalhe nos pontos 3.3. e 3.4. Propensão para ir buscar o nome às origens seja o nome próprio, o patronímico, evidentemente, e o terceiro apelativo, designativo de família, numa maioria dos casos.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
28
germanizada da Península»82. Por seu turno, os nomes greco-romanos, muito embora
em número de variantes superior no conjunto dos oficiais da burocracia (16 no total),
assumem ao nível da utilização uma parca expressão. Poucos são os burocratas régios
baptizados com nomes greco-romanos. Um grupo considerável de oficiais régios tem
por nome de baptismo designações cuja origem é para os estudiosos consultados
obscura, desconhecida e marcada pela ambiguidade (num total de 16 casos,
correspondendo a 26,22% do total dos apelativos em uso).
Por tudo isto, não observámos ao nível da designação onomástica da pessoa,
criações passíveis de destaque. Os autores referem-se a uma tendente diminuição do
repertório onomástico em uso desde os séculos X/XI, com propensão para a estabilidade
no século XIV, que virá a acentuar-se no século XV. Esta tendência, dizem, aproxima,
no que toca as escolhas do nome de baptismo, todos os meios sociais e núcleos
regionais já estudados. Porém, devemos alertar para a possibilidade de actualização do
repertório de nomes dos homens do Desembargo, assumindo inclusive formas de
expressão linguística mais «modernas», conforme vimos, com reflexos visíveis desde
finais da década de 20/inícios da de trinta do século XV. Todavia não esqueçamos, o
baptismo, para os cristãos medievais, é gesto sócio-cultural e “mais que nunca um gesto
corporal”83.
3.3. O patronímico e parentesco
No Ocidente Medievo era comum os pais designarem o filho pelo nome
ascendente paterno, assim Álvares de Álvaro, Domingues de Domingos, Geraldes de
Geraldo, Martins de Martinho, Vasques de Vasco, etc. O patronímico é antes de mais o
nome derivado do designativo pessoal de um antepassado, geralmente o pai,
distinguindo-se do sobrenome que, regra geral, surge após o nome próprio (por
exemplo: André, Jorge, Dinis, Gil, Vicente). Na Idade Média patronímico e sobrenome
desempenham idêntica função. Verifica-se, portanto, uma tendência geral no Ocidente
Medievo para a utilização de apelativos que trazem o nome do pai – patronúmios.
Prática que se vulgariza entre os mais diversos agrupamentos sociais, não obstante o
82 2003: 281. Ver também os trabalhos de MARTINEZ SOPEÑA, 1996: 78 e de Patrice BECK que assinala para a região da Borgonha o domínio da tradição germânica no repertório de nomes, não obstante detectar uma tendência para a descida (de 87% no século X para 66% no século XII) compensada com a reposição de nomes de tradição antiga (1989: 67-68). 83 LE GOFF e TRUONG, 2005 : 88.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
29
predomínio distinto dos condicionalismos sociais, religiosos, familiares e influências
epocais (modismos)84.
No conjunto populacional em análise, 1003 oficiais do Desembargo, uma
maioria de 730 (72,78%) dos indivíduos do grupo faz uso de patrónimos. A taxa de
variedade onomástica ao nível do segundo apelativo é de 39 patronímicos diferentes.
Por conseguinte, observámos uma mais acentuada variedade antroponímica no nome
próprio (61 variantes) comparativamente ao repertório de patronímicos do qual, como
adiantamos, fazem parte 39 designativos. Destes apenas 28 são de uso frequente, acima
das duas ocorrências, constituindo um grupo bastante restrito o núcleo daqueles que
detém uma taxa de frequência igual ou superior a 10, somente 19 anomatos (48,71% do
total)85, cuja taxa global de utilização é de 94,38%86. Por conseguinte, a concentração
onomástica ao nível da taxa de utilização do patronímico é maior se comparada com os
índices de variação e a taxa de utilização do nome próprio87. O leque de escolhas do
segundo apelativo de identificação é significativamente reduzido. Simetricamente o
total de segundos apelativos raros ou invulgares é de 11 variantes (28,20% do total). Ou
seja, dos 39 patrónimos 28 detém uma taxa de utilização igual ou superior a dois
(71,79% do total).
Em resultado destas premissas, não há importantes variações de posição e uso
dos dois primeiros componentes do nome nos núcleos de oficiais régios tratados
(redactores e escrivães).
O quadro que de seguida se apresenta é ilustrativo do uso comparado de nomes
próprios e de patrónimos.
84 Há fenómenos que marcam as modas onomásticas. Em todas as épocas históricas existem nomes de uso corrente e nomes invulgares ou de rara utilização. São fenómenos de natureza endógena (nomes de heróis nacionais, de santos - o peso do símbolo e o gosto que marcam uma época, controlo social, tradição, etc) e exógena (influência ‘estrangeira’) que interferem na escolha do nome. 85 De registar a coincidência de ao nível do nome próprio e do patronímico. Apenas 19 apelativos são usados por mais de 10 indivíduos do grupo. Cfr. as considerações efectuadas no ponto 3.2. a respeito do nome próprio e, em anexo, o Gráfico II – Patronímicos dos oficiais régios mais frequentes (1367-1481). 86 Quer dizer, em 730 indivíduos que usam o patronímico, 689 recorrem a um repertório de 19 escolhas possíveis. 87 Em 61 nomes próprios, 39 detém uma taxa de utilização igual ou superior a dois, 63,93% do total da população. Em 39 patronímicos, 28 detém uma taxa de utilização igual ou superior a dois, 71,79 % do total da população que utiliza apelativos patronimiados. Cf., infra, ponto 3.2.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
30
Nome próprio
Nº de ordem
Patronímico
João 1 Anes/Eanes
Fernão/Fernando 2 Afonso
Pero/Pedro 3 Gonçalves
Álvaro 4 Martins
Diogo 5 Peres/Pires
Afonso 6 Fernandes
Gonçalo 7 Vaz/Vasques
Vasco 8 Esteves
Rui 9 Rodrigues
Martim 10 Álvares
Luís 11 Lourenço
Estêvão 12 Gil
Quadro V – Número de ordem do nome próprio e do patronímico dos oficiais régios (1367-1481)
O intervalo máximo para os 12 primeiros nomes é de 6 lugares de posição, quer
no sentido directo/descendente (nome próprio-patronímico), quer no sentido
inverso/ascendente (patronímico-nome próprio), como por exemplo os casos de Álvaro-
Alvares e Martim/Martins. Os restantes onomatos andam muito próximo em termos de
posição. As flutuações de realce ocorrem ao nível das taxas de utilização, entre nomes
próprios e apelativos patronimiados88. Por seu lado, existem nomes que surgem como
nome próprio mas não descobrimos informação sobre o seu uso como patronúmio, caso
de Diogo, ou muito raramente surge naquela qualidade, caso de Luís89.
Resumindo, uma maioria dos indivíduos do grupo faz uso do patronímico como
complemento de identificação pessoal, por conseguinte existe uma elevada
probabilidade de diferentes indivíduos possuírem o segundo apelativo semelhante.
O patronímico, enquanto segundo elemento de designação, na sua forma
genitiva é bastante mais frequente do que na forma nominativa. Este fenómeno é
comum na Idade Média Ocidental uma vez que o nome muitas vezes se completa com
88 Cf., infra, Quadro I – Nomes próprios e patronímicos dos oficiais da burocracia régia (1367-1481). 89 Surge uma única vez como patronímico. Situação semelhante foi a encontrada por Iria GONÇALVES no Alentejo e na Estremadura. Cfr. GONÇALVES, 1988a: 69-104 e 1988b: 105-142.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
31
recurso a um segundo apelativo que aponta para a raiz do nome paterno (ascendente) –
o fenómeno é designado como «transmissão agnática do nome», nomen paternum. Este
sistema teve um longo período de vigência, desde o século X até ao século XV90, pelo
menos. Mas os sinais de individualização cabal dos dois núcleos de agentes do poder
régio (redactores e escrivães) não residem, para um número significativo de indivíduos
no recurso ao segundo apelativo, cuja função tradicionalmente, conforme dissemos, é
indicar a filiação (o nome paterno ou de um familiar próximo); eles buscam formas
complementares de denominação, ultrapassando, por conseguinte, a aparente tendência
para a homonímia.
3.4. O uso do apelativo e caracterização social das formas de denominação
No sentido de aprofundar este ponto prosseguimos com a aplicação do Inquérito
Antroponímico tendo em consideração o ponto 3 e o ponto 4 respectivamente91.
O sistema de identificação com dois elementos (nome próprio e patronímico) é
maioritário nos dois grupos de oficiais régios (redactores e escrivães), conforme já
demonstrámos. Este sistema de denominação manteve-se como principal na restante
Europa Ocidental, desde o século X92, tendo surgido inicialmente em indivíduos de
ascendência nobiliárquica e só mais tarde entre os plebeus (por volta do século XII),
sendo considerada inicialmente por muitos estudiosos como uma verdadeira «revolução
antroponímica»93. Hoje em dia, esta ideia de mudança brusca já foi contestada:
«Actually, the consensus regarding the evolution of kingship structures is more
apparent than real (...) Nowadays medievalists speak of gradual modification instead of
abrupt changes»94. Simetricamente verifica-se, em determinadas camadas sociais, uma
tendência para que a designação complementar ao nome pessoal passe a ser de ordem
90 Conforme tivemos oportunidade de referir na I parte deste trabalho estudos múltiplos têm sido levados a cabo procurando verificar as alterações regionais e epocais na estrutura do nome, partindo do nome simples até ao triunfo do sistema de denominação com dois elementos, procurando na homonímia uns, ou na transmissão hereditária por via masculina outros, a explicação para o seu aparecimento (cf. por todos BOURIN, 2002: 3-14). 91 Cf., em anexo, o Inquérito Antroponímico. 92 Em Portugal, o sistema de denominação dupla surgiu na última década do século XI (DURAND, 2002: 78). 93 BECK, 1984: 165 ; BARTHÉLEMY, 1990: 38-41. 94 Os trabalhos recentes desmentem a ideia de ‘revolução’ e preferem a noção de evolução com alterações/transformações regionais e sociais (BOURIN, 2002: 3-14).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
32
profissional, situação confirmada pelos estudiosos da onomástica dos séculos XII e
XIII95.
Na Idade Média Final, os comportamentos sociais de nomear, nos dois grupos
sócio-políticos em estudo, advém da introdução propositada de elementos distintos no
nome, dando lugar a sistemas antroponímicos alternativos aos modelos tradicionais,
confundindo a matriz inicial. De facto, avolumam-se os exemplos híbridos que nos
indicam que os esquemas de denominação estarão a alterar-se. Não obstante este facto,
sabemos que os processos antroponímicos são muito lentos, fundem-se com sistemas
culturais, opções religiosas, estratificações sociais e ritmos demográficos, numa palavra
com o viver evolutivo da sociedade. De uns tempos para outros subsistem arcaísmos, os
vestígios do passado convivem com a inovação.
Daí a necessidade de prosseguirmos com a aplicação do inquérito antroponímico
no sentido de averiguar, de uma forma global, as mudanças assinaláveis no sistema de
denominação individual nos dois grupos políticos em estudo. O questionário lançado
compreende os diferentes modelos antroponímicos dos oficiais régios procurando
apurar a dimensão quantitativa de cada um deles.
O quadro que se segue sintetiza as diferentes formas de designação onomástica
do total de oficiais tratado, considerando que:
Sistemas antroponímicos Nº de ocorrências %96
N 1 0,09 Legenda: N + P 730 72,78 N = Nome Próprio N + P + AF 76 7,57 P = Patronímico N + P + AL 32 3,19 A = Apelido N + P + O 17 1,69 AF = Apelido de Família N + AF 159 15,85 AL = Apelido de Localidade N + AL 59 5,88 O = Prenomes, Alcunhas... N + O 39 3,88
N + P + AF (+ O) 3 0,29
.
Quadro VI – Sistemas Antroponímicos (1367-1481)
95 Cf. o trabalho citado na nota anterior. 96 Os valores percentuais são calculados em relação ao total de indivíduos – 1003.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
33
A elevada flutuação das combinações dos elementos onomásticos (que surgem
em segundo e terceiro lugar), testemunha a presença de uma fase de agitação das formas
antroponímicas, não obstante o domínio da forma costumada, nome próprio e
patronímico.
As designações pessoais com um elemento, no caso pendente, nome próprio, são
muito raras (1 ocorrência), pelo contrário o sistema de denominação dupla está bem
implantado. Neste meio social e profissional, praticamente não existem casos de
apelativos simples, sejam eles constituídos, isoladamente, por nome próprio, apelido,
alcunha ou outro. Poucos são os oficiais designados por apelidos de localidade, em
complemento do nome próprio, 5,88% do total, e ainda menos os que seguem o modelo
de nome próprio, patronímico e apelido de localidade (3,19% do total). É necessário
realçar que a denominação de localidade pode remeter para quatro situações: o lugar de
origem (familiar), o local de residência (designação locativa), o lugar de senhorio ou
muito raramente o local onde exerce funções. Infelizmente não dispomos de dados
biográficos que nos permitam aferir da competente atribuição local na denominação de
todos os indivíduos. Em todo o caso, podemos adiantar que o apelido de localidade
surge maioritariamente na forma nominativa, antecedido da preposição de, condição que
alguns autores corroboram como sendo genérica no século XV97. De igual forma
devemos salientar o facto de 7,57% do total de oficiais recorrer a um sistema de
denominação que compreende o nome próprio, o patronímico e o apelido de família, e
um grupo mais alargado de 15,85% fazer uso de um sistema de identificação duplo,
nome próprio e designativo familiar.
Os dados estatísticos são bastante esclarecedores a respeito do peso relativo que
tem o uso de apelidos de localidade e de família para cada um dos núcleos de oficiais
tratados.
Categorias burocráticas Apelidos de localidade % Apelidos de família %
Redactores 24 8,98 110 41,19
Escrivães 67 9,1 125 16,98
Totais 91 ------- 235 --------
Quadro VII – Distribuição do total de apelidos de localidade e de família por
categorias burocráticas (1367-1481)
97 BILLY, 1995: 180-181.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
34
Em termos proporcionais nos dois núcleos de indivíduos, redactores e escrivães,
encontrámos semelhante número de utilizadores de nomes de lugar ou topónimos. Mas
se apenas tivermos em conta os valores absolutos constatámos que o uso do apelido de
localidade é de uso superior entre o núcleo de oficiais escreventes, 67 casos (= 74% do
total absoluto), enquanto o número de ocorrências entre a população de redactores é de
24 casos, (26,37% total de utilizações). Admitamos como possíveis explicações para o
facto os requisitos de recrutamento e provimento dos dois núcleos de servidores, para
além de factores que se prendem com a itinerância da Corte, que proporciona o recurso
a escrivães de circunstância (supranumerários)98, com origem social e geográfica
diversa, e por ventura outros factores que não é possível descortinar de momento.
Diferentemente são as estruturas antroponímicas constituídas por apelidos de
família que agrupam, para o tempo analisado, um número de ocorrências considerável -
235, i.e., 23,42 % dos indivíduos fazem uso de formas designativas que remetem para
um nome comum de família. Em 267 oficiais redactores identificados 110 faz uso de
apelido de família (41% do total), por contraste com o núcleo de oficiais escreventes
cujo uso de apelido de família é de apenas 125 casos em 736 indivíduos, ca. de 17% do
total de oficiais escreventes.
Estes dados levantam a questão de saber que relação existe entre nome,
sociedade e poder nos séculos finais da Idade Média?
A constituição de linhagens familiares entre a oficialidade régia é um fenómeno
em crescendo na viragem do século XIV para o século XV, acentuando-se na segunda
metade deste último. Entre o grupo de redactores, os laços parentais, ou o uso de
apelativo idêntico, surgem com valores expressivos, na ordem dos 41 %.
Comparativamente o nível inferior de burocratas régios, os oficiais amanuenses, faz um
uso bastante mais contido do apelativo familiar, apenas 17 % da população, menos de
metade do núcleo dos redactores. De uma forma geral, podemos afirmar que o apelido
de família tende a acentuar-se entre o núcleo de oficiais redactores. Por ventura um dos
efeitos da patrimonialização dos ofícios régios (linhagens que asseguram os ofícios
régios) e da cristalização do modelo de família linhagística (agnática). Como refere
Monique BOURIN, «Bruts, ces chiffres manquent de sens. Toutefois l’enquête confirme:
98 FREITAS, 2001: 164-177.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
35
- que l’authentique nomen paternum (nom du père au génitif) est en voie d’extinction !
Il est rare et presque toujours associé à un surnom lignager (…) l’héritage d’un surnom
lignager n’est pas la règle absolue, mas qu’il est normal»99.
Por seu lado, são em número muito reduzido os oficiais denominados pelo nome
próprio e adjunções nominais. Por terem uma representação escassa, e para evitar a
excessiva compartimentação, incluímos no conjunto das adjunções nominais uma
variedade de casos, nomeadamente as designações que servem para distinguir no meio
político cortesão dois homónimos100, o prenome101, os cognomes102 e as indicações que
remetem para a qualificação profissional dos servidores103. Quanto a estas últimas
devemos ressalvar que no período em análise elas constituem cada vez mais um modo
de distinção utilizado por um grupo de profissionais restrito - os físicos e cirurgiões
régios -, sendo raros os oficiais com distintas funções de despacho burocrático, mesmo
que licenciados, mestres ou doutores, em que a qualificação académica seja integrada no
nome, como as excepções de Mestre Gonçalo das Decretais, Desembargador (1366-
1368), ou o mais conhecido Dr. João das Regras104, Chanceler-mor (1384-1389). De
igual forma, Fernão Meirinho (1374), João Escrivão (1385-1386) e Rui Besteiro (1472),
por extensão o segundo apelativo que remete para a actividade profissional, foi
incorporado no nome, sendo uma forma de distinção.
De qualquer modo, a diversidade das formas e esquemas antroponímicos
garante suplementos de individualização no seio deste grupo cortesão de servidores. A
transformação do sistema antroponímico, entre as elites do poder régio, especificamente
dos oficiais que ocupam as instâncias superiores da burocracia, faz-se notar com a
junção ao nome do apelido de família.
99 A Autora refere-se à hereditariedade do apelido na região do Languedoc, nos séculos XI a XIII (BOURIN, 1995: 197). 100 Como é o caso dos escrivães régios: Afonso Trigo, o Moço (1464-1476), Filipe Afonso, o Moço (1449-1455); Diogo Velho (1480-1481); Estêvão Moço (1450); Fernão Velho (1464); Gomes Borges, o Moço (1464-1468); João de Lisboa, o Moço (1443); Joao Mancebo (1450); Lourenço Esteves, o Moço (1384); Martim Afonso, o Moço (1460); Martim Gil, o Moço (1459-1462); Pedro de Alcáçova, o Moço (1464-1472). 101 Dom Afonso de Vasconcelos (1479-1480); Dom Álvaro (1475); Dom Fernando da Guerra (1416-1463); Dom João Rodrigues Galvão (1464-1477); Dom Judas (1374-1383); Frei Nuno Roiz de Andrade (1372); Conde Pedro Vaz de Melo (1450-1478): Dom Rodrigo de Noronha (1468-1476). 102 Álvaro Pires da Mão Inchada (1450-1490); Diogo Afonso Mangancha (1438-1447); Vicente Esteves Barbudo (1434). 103 Os físicos ou cirurgiões: Mestre Afonso Madeira (1459-1475); Mestre Aires (1433-1459; Mestre Fernando (1441-1468); Mestre Gil (1444-1474); Mestre João (1442-1449); Mestre Martinho Vilarinho (1439-59); Mestre Nicolau (1441-1453); Mestre Rodrigo de Lucena (1441-1495). 104 De seu nome João Afonso.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
36
Nos quadros seguintes podemos ver alguns das designações de localidade e de
família mais frequentes.
Total de apelidos de localidade Frequência Designações
1 9 Lisboa
1 8 Guimarães
3 5 Braga, Elvas, Porto
4 4 Beja, Évora, Olivença e Santarém
2 3 Coimbra e Estremoz
8 2 Alcáçova, Aveiro, Azambuja, Barcelos (...)
Quadro VIII – Apelidos de localidade mais frequentes (1367-1481)
Total de apelidos de família Frequência Designações
1 9 Almeida
1 8 Godinho
1 7 Costa
2 6 Castro, Machado
4 5 Castelo Branco, Figueiredo, Silveira, Vieira
3 4 Borges, Carneiro, Galvão
9 3 Camelo, Cardoso, Faleiro, Lobato, Silva (...)
30 2 Abul, Azevedo, Boto, Faria, Freitas, Lucena (...)
80 1 Abreu, Alvarenga, Carvalho, Grã, Sem, Sousa(...)
Quadro IX – Apelidos de família mais frequentes (1367-1481)
3.5. Nome e família
A existência de mais do que uma matriz onomástica suscitou-nos a curiosidade
de saber qual terá sido a evolução das estruturas antroponímicas e os sinais que as
podem identificar do ponto de vista social (nobres e não nobres) e profissional
(redactores e escrivães). A questão inicial que se nos colocou foi a seguinte: Será que as
estruturas do nome são, de algum modo, relacionáveis com o estatuto social do
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
37
indivíduo, nos grupos burocráticos em análise? Que vantagens se pode tirar da relação a
estabelecer entre a onomástica e a genealogia?
As respostas a estas questões não podem ser dadas de forma simples nem
unívoca, nem tão pouco contar com o total de oficiais régios registados (1003). As
condicionantes têm a ver com três factores:
1º) A dificuldade em proceder a uma análise social da antroponímia. O
conhecimento das estruturas familiares implica pesquisas genealógicas que uma maioria
das vezes não excede as duas gerações (pai/filho) para um alargado número dos oficiais
implicados, sendo que em muitos outros esse conhecimento se encontra comprometido
pela ausência de dados nas fontes.
2º) Em antroponímia não é fácil estabelecer classificações etimológicas,
linguísticas ou toponímicas seguras. Os exemplos de influência antroponímica sobre os
lugares estão aí para o demonstrar e dos lugares sobre a antroponímia. Quer isto dizer
que os topónimos podem ter origem em antropónimos e vice-versa.
3º) Em antroponímia uma interpretação ou asserção não é obrigatoriamente a
única explicação. As variantes e flutuações são inúmeras, não apenas no plano de
análise micro, quando estão em causa estudos de onomástica de famílias individuais,
mas também nas análises macro que tendem a verificar os principais marcos evolutivos
nos sistemas sociais de denominação a nível local ou regional, sustentados em dados de
natureza prosopográfica105.
Com efeito, na análise factorial teremos que recorrer ao processo de
amostragem, visto que para um conjunto alargado de indivíduos não dispomos de
informações que facilitem o respectivo traçado dos itinerários pessoais (a ordem de
nascimento e a posição na hierarquia) e a consequente categorização social. Deste
modo, aspectos vários têm de ser avaliados para aferir da respectiva transmissão
geracional do nome individual. Por seu lado, os números com que iremos trabalhar são
escassos comparativamente ao total da população, mas em compensação mais
sólidos106.
105 GEARY, 2002: VII. 106 Os exemplos que apresentaremos propõem-se mais do que dar respostas cabais levantar alguns problemas que entendemos pertinentes, já que haverá necessidade, sob o presente aspecto, de alargar a aplicação do inquérito a outros meios sociais, políticos e culturais.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
38
Nas esferas do poder monárquico, nos séculos finais da Idade Média, são
visíveis os sinais de enobrecimento entre o grupo daqueles que ocupa os vários sectores
da administração central, quer pela elevação estatutária que, de algum modo, os serviços
de «Estado» conferem, quer pelas doações de bens patrimoniais e móveis a título de
gratificação dos serviços prestados, quer ainda pela percepção que temos das linhagens
familiares dos estratos sociais representados nos serviços régios. A classificação
estatutária da evolução da família nos séculos finais da Idade Média resulta do
cruzamento dos aspectos políticos, económicos, sociais e culturais. É o advento de uma
aristocracia assente no serviço régio, denominada de nobreza de Corte107. Para estes
torna-se mais fácil desenhar o rasto biológico dos antepassados e dos descendentes, mas
para a maioria dos oficiais de condição não nobre ou de categoria social indeterminada a
tarefa é de mais difícil concretização. Porém, iremos prosseguir com os elementos
conseguidos.
3.5.1. O apelido de família ou a patrimonialização do nome
O sistema de designação que compreende um apelativo de família surge
inicialmente entre a aristocracia ou entre indivíduos de estatuto social mais elevado. De
acordo com José MATTOSO, o aparecimento de nomes de família data do segundo
quartel do século XII entre a alta nobreza portuguesa (encontrando-se relacionado com a
implantação do modelo linhagístico – agnático – neste grupo social, transmissão pessoal
do nome)108. O nome de família identifica um indivíduo dentro de um grupo mais
estreito, a linhagem -, que conduz, não raro, à exclusividade na denominação. A
designação comum de família produz o efeito da raridade. A sua natureza pertence a um
espaço de singularidade, distribuindo-se com parcimónia ao longo do tempo. Neste
sentido é o oposto do patronímico que remete para uma multiplicidade de utilizações
possíveis. A pluralidade do uso do patronímico conduz inevitavelmente ao
desenvolvimento da homonímia, como vimos. Pelo contrário, o apelido de família é
geralmente hereditário, um signo original de identificação da linhagem. Remete para a
consanguinidade (transmissão biológica de um ou mais componentes do nome), muito
107 Sobre o processo de transformação da nobreza e o aparecimento da nobreza de serviço nas duas últimas centúrias da Idade Média portuguesa e europeia pode ver-se nomeadamente MATTOSO, 1998: 7-37; MARQUES, 1987: 242-268 e, mais recentemente, GOMES, 1995: 107 e ss. Para o país vizinho pode ver-se nomeadamente LEROY, 1988: 233-248. 108 MATTOSO, 2001b: 5-182; ID., 2001a.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
39
embora saibamos que circunstâncias históricas de vária ordem podem conduzir ao uso
de um ou mais apelidos por várias famílias, facto que parece ter surgido com maior
incidência nos tempos subsequentes ao estudado. As pesquisas genealógicas arrastam
consigo a cartografia dos sobrenomes de lugares de origem. Pierre-Henri BILLY a
propósito do estudo que desenvolveu para os séculos XI a XIV refere que os senhores
da região de Toulouse têm como segundo elemento nominal o nome do senhorio109.
Por outro lado, o uso do apelido de família implica uma distribuição regular dos
elementos antroponímicos, de algum modo, induz à topologia110. Uma maior
complexidade das formas de denominar, mas também um apuramento das estruturas
antroponímicas com mais de dois elementos, uma tendência para a repetição dos
enunciados de identificação cabal dos indivíduos. Por conseguinte, o apelido de família
é uma forma «moderna» de identificação que distingue socialmente os indivíduos.
22
14
21
9
65
0
10
20
30
40
50
60
70
Toponímica Estrangeira Alcunha Incerta Outra
Frequências
Gráfico II – Origem dos apelidos de família
O total de ocorrências de apelido de família é de 131, cerca de metade das quais
são de raiz toponímica (49,61%), ainda que a maioria dos casos inseridos na classe
«estrangeiros» tenham origem semelhante o que acrescentaria significativamente o
número daqueles. Por seu lado, algumas alcunhas, com o tempo, foram incorporadas no
nome, passando a ser usadas como designativo familiar de alguns indivíduos.
109
BOURIN, 1995: 182-185. 110 Tratado acerca da colocação de certa categoria de palavras (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, vol. VI, Lisboa, Círculo de Leitores, 1999, p. 3541).
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
40
Do total de variantes do apelido de família - 131, 51 detém mais do que uma
ocorrência.
Comparativamente ao número de variantes patronímicas - segundo elemento de
identificação banalizado ao longo dos séculos XI a XIII -, a multiplicidade de apelidos é
mais significativa. O valor médio de utilização dos patronímicos é de 18,3 % e a taxa de
utilização de apelidos de família é de 1,79%. Números que traduzem reais diferenças na
forma de designação dos indivíduos ao longo do tempo estudado. O alargamento do
repertório de apelidos é um indicativo das crescentes necessidades de individualização,
como de igual modo remete para a estrutura familiar de algumas linhagens entre os
oficiais da Corte. Será que estas tendências acentuar-se-ão nos períodos seguintes?
Tendo em consideração os dados estatísticos, a forte concentração ao nível dos apelidos
de família não é por enquanto um fenómeno palpável, uma vez que uma diversidade de
situações antroponímicas o acompanham ao longo do tempo estudado, por conseguinte
não possuímos de momento informações que nos permitam proceder a uma avaliação
antecipada do fenómeno.
3.5.2. Flutuações: multiplicidade e regularidade(s)
O recurso ao sistema de tripla denominação, designadamente pelo uso do
apelido de família, na opinião avalizada de Monique BOURIN veio complicar a
apreensão das regras antroponímicas. Primeiro porque o segundo elemento pode parecer
um patronímico e efectivamente não ser, é aquilo a que a Autora designa de «les faux
nomina paterna», segundo porque ele é usado geralmente por apenas uma das crianças,
raramente por todos os irmãos, e em terceiro lugar, no sistema de denominação dupla,
por vezes, quando o segundo nome é raro, ele pode desempenhar a função de
sobrenome (apelido de família)111, e por outro lado ainda, dois irmãos podem ter um
segundo elemento nominal diverso. Para Robert DURAND, a alteração da concepção de
família manifesta-se no uso pronunciado de uma mesma designação oriunda de um
topónimo, função ou ofício e transmitida geracionalmente. A mesma opinião é
partilhada por Céline PEROL a respeito da evolução das estruturas onomásticas na Itália
111 BOURIN, 1995: 194-195. É de realçar que a análise produzida pela Autora se reporta a um período anterior ao abordado pelo nosso estudo e, deste modo, pode induzir à tendência para a descontinuidade das formas antroponímicas nos séculos finais da Idade Média.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
41
dos séculos XIII ao XVI112. Pascoal MARTÍNEZ SOPEÑA, salienta a complexidade das
formas de denominação com a introdução do terceiro elemento de denominação quando
procede a uma sinopse da evolução das estruturas antroponímicas da aristocracia na
Espanha medieva113. Finalmente para completar, Patrice BECK considera que as
estratégias familiares de transmissão da denominação interagem com factores sócio-
culturais diversos114.
Estas apreciações apontam para uma alteridade dos papéis clássicos dos
componentes de denominação. Para melhor percebermos a relação entre apelido e
hereditariedade temos de observar alguns dos segmentos linhagísticos (pai/filhos)
conhecidos pelo apelido para averiguar das estratégias de denominação para umas
poucas famílias de oficiais régios onde a reconstituição da linhagem foi possível. De
facto, a verificação dos comportamentos antroponímicos provém da reconstituição dos
fragmentos genealógicos. As linhas sucessórias nos ofícios palatinos destacam-se pelo
aparecimento de famílias dominantes como os ALMEIDA, os CASTELO BRANCO, os
GALVÃO, os SILVA, os SILVEIRA, os SEM, os MALAFAIA, os AZEVEDO, os CASTRO
e os ALVARENGA115, e outras de inferior plano como os BORGES, os COSTA, os
MACHADO e os FIGUEIREDO. Nos casos tratados os últimos componentes da
identificação, vulgo nome de família, remetem para a linhagem dos indivíduos que, na
maioria dos casos, tem uma raiz toponímica.
Feitas estas considerações passemos à análise de alguns dos itinerários
antroponímicos reconstituídos e classificados nos dois grupos de oficiais régios
estudados (1367-1481).
1. Nomes de oficiais que detém um apelido identificador do pai,
transmitindo-o à geração seguinte:
Aires Gomes da Silva, filho de João Gomes da Silva, filho de Gonçalo Gomes
da Silva. Descendência: João da Silva, Francisco da Silva, Fernão Teles de Menezes,
112 PEROL, 1994: 568. 113 MARTÍNEZ SOPEÑA, 2002:. 72. 114 BECK, 2002: 143 ss. 115 Sobre a presença de indivíduos de um mesmo núcleo familiar nas instâncias superiores do Desembargo pode ver-se FREITAS, 2001, vol. I: 208-215 e as genealogias a páginas 313-316.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
42
Isabel Teles de Menezes e Margarida de Menezes (os três últimos foram buscar o
apelido de família da mãe, D. Beatriz de Menezes).
Diogo da Fonseca, irmão de Lopo da Fonseca. Descendência: Fernão da
Fonseca.
Diogo Fernandes de Almeida, filho primogénito de Fernão Álvares de Almeida.
Descendência: Lopo de Almeida, Fernão de Almeida
Fernando de Castro, filho de D. Pedro Fernandes de Castro, Conde de Castro
Xerez. Descendência: D. Álvaro Pires de Castro pai de Fernando de Castro, Pedro de
Castro, Álvaro de Castro, Diogo de Castro e Fradrique de Castro.
Luís de Azevedo, filho terceirogénito de Lopo Dias de Azevedo. Irmão de João
Lopes de Azevedo e Lopo de Azevedo, Martim Lopes de Azevedo entre outros.
Descendência: Catarina [Azevedo].
Nuno Vasques de Castelo Branco, filho primogénito de Lopo Vasques de
Castelo Branco (I). Irmão de Gonçalo Vasques de Castelo Branco e de Inês Vasques e
de Isabel Vasques. Descendência: Lopo Vasques de Castelo Branco (II), Pedro
Vasques, João Vasques.
As irmãs vão apenas buscar o segundo nome identificativo de origem familiar
assim como, na terceira geração, os filhos segundos (Vasques).
Pedro Lourenço de Almeida, filho de Martim Lourenço de Almeida. Não teve
descendência. Irmão de Martim de Almeida.
Rui Galvão filho de João Fernandes (clérigo de missa). Descendência: João
Rodrigues Galvão, Duarte Galvão, Jorge Galvão, Pedro Rodrigues Galvão, Maria
Rodrigues Galvão, Isabel Galvão e Filipa Rodrigues Galvão. Um filho ilegítimo João
Rodrigues da Costa (foi buscar o apelido da mãe?).
Rui Gomes de Alvarenga, filho de Gomes Martins de Alvarenga. Casado com
Mécia de Melo. Descendência: Afonso Rodrigues de Melo, Lopo Soares de Melo,
Fernão de Melo, Gomes Soares de Alvarenga, Lopo Soares de Alvarenga.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
43
2. Os oficiais que não são apelidados inteiramente com o nome do pai:
Nuno Martins da Silveira, filho de Martim Gil Pestana e Maria Gonçalves da
Silveira. Descendência: Gonçalo da Silveira, Vasco da Silveira, Diogo da Silveira,
Fernando da Silveira, várias filhas.
Os dois primeiros faleceram muito jovens, por conseguinte quem assegurou a
linhagem foi Diogo da Silveira que nomeou o primogénito com o nome do pai Nuno
Martins da Silveira, o Moço.
João do Sem, filho de Álvaro Fernandes de Almeida e Catarina do Sem, irmã de
Martim Gil do Sem. Descendência: António do Sem.
Pedro Gonçalves Malafaia, filho de Gonçalo Peres. Irmão de Luís Gonçalves
Malafaia. Casado com Isabel Gomes da Silva. Descendência: Beatriz da Silva e Leonor
da Silva. As filhas vão buscar o apelido da mãe.
3. Apelidos individuais com origem numa alcunha:
Álvaro Pires da Mão Inchada, filho de Pedro Esteves da Mão Inchada.
Descendência: João da Mão Inchada.
Gomes Eanes de Zurara, filho de João Eanes de Zurara. Descendência:
Gonçalo de Zurara.
4. Uso misto e do nomen paternum:
Paio Rodrigues de Araújo, teve por filhos Pedro Pais, Rui Pais, João Rodrigues
Pais, Paio Rodrigues, Lopo Rodrigues de Araújo e Leonor Pais.
A diversidade de dação de nome aos descendentes é grande com tendência para
sobressair o patronímico de Paio – Pais, cujo uso remete para o valor de apelido. A
análise da realidade do uso do apelido pelos oficiais demonstra a existência de um
elevado índice de variação dos itinerários antroponímicos.
As provas de identificação da família pelo nome da linhagem parecem-nos
evidentes, se bem que a transmissão e herança do 2º e do 3º apelativos varie em função
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
44
da situação hierárquica no agregado familiar. Dois irmãos podem ter um segundo ou
terceiro elemento de denominação diverso, um pode ir buscar o nome do lugar de
origem do senhorio outro um nomen paternum. Deste modo, se compreende que a
maioria dos oficiais primogénitos tenham ido buscar o apelido ao pai, garantindo a
transmissão do apelido de origem, em especial os de raiz toponímica, remetendo para o
berço do senhorio (aquele surge na forma nominativa). As irmãs, por seu turno, não
raro, são herdeiras do apelido da mãe.
Destas famílias com origens diversas nos dão conta os livros de linhagens116,
salientando-se as ligações com outras famílias de perfil nobiliárquico ao longo dos
séculos XIV-XVI, porém não são raros os casos em que apenas nos chegaram
fragmentos muito dispersos do itinerário antroponímico respectivo sem que os
possamos aproveitar. Daí que muitos dos nomes que se repetem em segundo e terceiro
lugares, que inserimos na categoria de apelidos de família, se deva, por um lado ao uso
da preposição «de» ou «da» que tende a adquirir uma maior preponderância a partir do
século XV e que é usado por pelo menos duas gerações consecutivas e, por outro lado, à
circunstância de se tratarem de apelativos cuja utilização é por maior força de razão
daquela qualidade, v.g. ABUL, ALVERNAZ, BORGES, CAMELO, CARDOSO, FALEIRO,
FARIA, FOGAÇA, FREITAS, GODINHO, GOMES, LOBATO, LOBO, LUCENA,
NORONHA, TEIXEIRA, TRIGO, VILELA entre muitos outros. Por conseguinte, estes
nomes que se repetem aparecendo em segundo e/ou terceiro lugar com grande
verosimilhança se aproximam de apelidos de família, sejam eles de origem toponímica
ou alcunha transformada em apelido identificativo do agregado familiar.
116 Livro de Linhagens do século XVI, 1956. Esta fonte foi consultada para a execução das linhagens presentes nos Catálogos Prosopográficos do II volume da nossa dissertação de doutoramento - «Teemos por bem e mandamos»..., 2001; para este trabalho também foi vista a obra de A. Braamcamp FREIRE, Brasões da sala de Sintra, 3 vols., reprod. fac-similada da ed. de 1921-1930, Lisboa, INCM, 1996.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
45
Conclusões e perspectivas
A regularidade dos enunciados antroponímicos pressupõe a existência de
singularidades que tendem a ocupar um lugar importante no seio deste meio sócio-
político. Do ponto de vista da descrição arqueológica da estrutura do nome, a Idade
Média Final, apresenta sinais de transformação dos componentes de designação
individual. No espaço, Corte, e tempo considerados (1367-1481), temos exemplos que
exprimem diferentes tipos de nomenclatura, expressando práticas de denominação
variáveis. O único componente pessoal do nome é o nome de baptismo. O patronímico
na sua forma genitiva é bastante mais frequente do que na nominativa, enquanto
segundo elemento de designação. O patronímico subsiste como componente
antroponímico, mas as cifras dizem-nos que, nos séculos finais da idade Média,
coexistem práticas onomásticas diversas, cujos componentes do nome assumem
posições variáveis relacionáveis com os laços de parentesco existentes117. Dois irmãos
podem ter um segundo componente de denominação diferente e o modo como são
transmitidos no seio familiar os nomes e os apelidos permanece para nós, num número,
o uso do apelido com carácter hereditário, i.e. o nome de linhagem, justapondo um
nome, o patronímico (nomen paternum) e a designação de família (Monique BOURIN),
acentua-se, tendo um lado bastante visível entre o núcleo de redactores. Por seu turno,
conforme salientamos, a forma denominativa que associa o nome ao designativo de
família toca inicialmente indivíduos de ascendência nobiliárquica ou de famílias
aristocráticas enraizadas na corte régia. Dentro deste grupo existe uma preferência pelas
referências nominativas de origem geográfica ou toponímica. No núcleo dos oficiais
redactores, 41% do total de indivíduos pertencente a este núcleo burocrático faz uso de
uma designação de família. A passagem dessas referências para apelidos de família fez-
se pela invocação da designação de origem, daí que uma maioria dos apelidos de família
tenha raízes toponímicas. Com o tempo, as designações complementares de ordem
familiar vão-se sobrepondo às designações de localidade (locativas). Ou seja os nomes
117 Não há uma única prática de denominação, para uns casos deparámos com o sistema de dupla denominação (nome + nomen paternum), noutros com o de tripla denominação e noutros ainda o segundo elemento do nome provém de uma herança designativa paterna, mas não se trata simplesmente do uso do patronímico.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
46
de lugar de origem são assumidos como designativo complementar de identificação
familiar.
Contudo não devemos negligenciar a forte mobilidade dos componentes de
denominação seguintes ao nome de baptismo ao longo dos três períodos analisados,
produzindo modelos designativos distintos, nalguns dos casos difíceis de classificar. Em
jeito de fecho, podemos dizer que as posições ocupadas pelo nome próprio, patronímico
e apelido ou designativo complementar adquirem superior espessura e regularidade,
encontrando-nos, de meados do século XV em diante, mais próximo das formas
modernas de denominação pessoal.
Terminemos, com uma frase proferida por Roland BARTHES na Lição Inaugural
da cadeira de Semiologia Literária do Collège de France em 1977:
“Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas surge de seguida uma outra
em que se ensina o que se não sabe: a isto se chama procurar. Chega, agora, talvez a
idade de uma outra experiência: a de desaprender, de deixar germinar a mudança
imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das
crenças que atravessámos”.
À semelhança do nome em tempos tardo-medievos, se tivéssemos que situar
numa escala de idades esta exposição, diríamos que ela se inscreve numa fase de
transição entre a idade do procurar e a idade do desaprender numa tentativa de expor,
sem preconceitos, as possibilidades e os limites de todo o conhecimento histórico.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
47
FONTES E ESTUDOS 1. Fontes manuscritas Arquivo Nacional da Torre do Tombo Chancelarias Régias Chancelaria de D. Fernando, Ls. I a IV. Chancelaria de D. João I, Ls. I a V. Chancelaria de D. Duarte, Ls. I a III. Chancelaria de D. Afonso V, Ls. I a XXXVIII. 2. Fontes impressas Chartularium, 1966-1985 - Chartularium Universitatis Portucalensis (1288-1537), ed. Artur Moreira de SÁ, vols. IV, V, VI, VII e VIII, Lisboa, IAC/INIC. Crónica, 1899 - Gomes Eanes de ZURARA - Crónica de D. João I, [3ª parte], ed. Luciano CORDEIRO, 3 vols., Lisboa. Crónica, 1977 - Rui de PINA, Rui de, "Crónica de D. Duarte", in Tesouros da Literatura e da História, ed. M. Lopes de ALMEIDA, Porto, Lello & Irmão, pp. 479-575. Crónica, 1977 - Rui de PINA, "Crónica de D. Afonso V", in Tesouros da Literatura e da História, Porto, Lello & Irmão, pp. 583-881. Crónica, 1977 - Rui de PINA - "Crónica de D. João II", in Tesouros da Literatura e da História, Porto, Lello & Irmão, pp. 889-1033. Crónica, 1977 – Rui de PINA - "Crónica de D. João II", in Tesouros da Literatura e da História, Porto, Lello & Irmão, pp. 889-1033. Crónica, 1978 - Gomes Eanes de ZURARA - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses, ed. Larry KING, Lisboa: Universidade Nova. Crónica, 1989 - Gomes Eanes de ZURARA - Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, ed. Reis BRASIL, reimpr., Mem Martins: Europa-América. Crónica, 1992 - Gomes Eanes ZURARA - Crónica da tomada de Ceuta, introdução e notas de Reis BRASIL, Mem Martins: Europa América. Crónica, 1997 - Gomes Eanes ZURARA - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, ed. Maria Teresa BROCARDO, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/JNICT. Documentos, 1885, 1887 e 1891 - Documentos Históricos da cidade de Évora, ed. Gabriel PEREIRA, 1ª, 2ª e 3ª partes, Évora: Tipografia da Casa Pia. Documentos, 1915-1934 - Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, dir. Pedro de AZEVEDO, ts. I e II, Lisboa, Academia das Ciências.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
48
Documentos, 1988 - Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua história, vols. I-III e Suplemento ao I vol., ed. João Martins da Silva MARQUES, reed., Lisboa, INIC. Documentos, 1957-1959 - Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa - Livros de Reis, vols. I a IV, Lisboa. Documentos, 1965 – Jorge FARO - Receitas e despesas da Fazenda Real de 1384 a 1481 (Subsídios documentais), Lisboa, Centro de Estudos Económicos. Livro, 1793 - "Livro Vermelho do Senhor Rey D. Afonso V", in Colleção de Livros Inéditos de História Portugueza dos Reinados de D. João I, D. Duarte, D. Afonso V e D. João II, ed. José Correia da SERRA, t. III, Lisboa, Academia Real das Sciencias, pp. 387-541. Livro, 1940 - Livro Antigo das Cartas e Provisões dos Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel do Arquivo Municipal do Porto, ed. A. Magalhães BASTO, Porto, Câmara Municipal do Porto. Livro, 1956 - Livro de Linhagens do século XVI, ed. António Machado de FARIA, Lisboa: Academia Portuguesa da História. Livro, 1958 - Livro 2º da Correia (cartas, provisões e alvarás régios registados na Câmara de Coimbra), 1273-1754, ed. José Branquinho de CARVALHO, Coimbra. Livro, 1971 - Livro das Leis e Posturas, ed. Nuno Espinosa Gomes da SILVA e Maria Teresa Campos RODRIGUES, Lisboa: Faculdade de Direito. Livro, 1974 - Livro (O) de Recebimentos da Chancelaria da Câmara, ed. Damião PERES, Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1974. Livro, 1982 - Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. João José Alves DIAS et al., Lisboa, Estampa. Livro, 1984 - Álvaro Lopes de CHAVES, Livro de Apontamentos (1438-1489), ed. Anastásia Mestrinho SALGADO e Abílio José SALGADO, Lisboa, INIC. Monumenta, 1960-1974 - Monumenta Henricina, ed. Manuel Lopes de ALMEIDA; Idalino Ferreira da Costa BROCHADO; António Joaquim Dias DINIS, vols. IV-XV, Coimbra. Monumenta, 1968-1970 - Monumenta Portugaliae Vaticana, ed. A. D. de Sousa COSTA, vols. I a IV, Roma-Braga-Porto, ed. Franciscana. Ordenações, 1984 - Ordenações Afonsinas, Ls. I-V, reimpr. da ed. de 1792, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. Ordenações, 1988 - Ordenações de el-Rei D. Duarte, ed. Martim de ALBUQUERQUE e Eduardo Borges NUNES, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. Portugaliae, 1993 - Portugaliae Monumenta Africana, dir. de Luís de ALBUQUERQUE, vol. I, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses/INIC, 1993. Regimento, 1982 - "Regimento (O) Quatrocentista da Casa da Suplicação", ed. Martim de ALBUQUERQUE, com leitura paleográfica de Eduardo Borges NUNES, sep. dos Arquivos do Centro Cultural Português, 17. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
49
Vereações, 1980 - "Vereaçoens". Anos de 1401-1449. O segundo Livro de Vereações do Município do Porto existentes no seu Arquivo, ed. J. A. Pinto FERREIRA, Porto, Câmara Municipal. Vereações, 1985 - "Vereaçõens"-1431-1432. Livro I (com quadro cronológico e índices dos livros anteriormente publicados), ed. João Alberto MACHADO e Luís Miguel DUARTE, Porto: Câmara Municipal.
ESTUDOS ALMEIDA, Ana Paula P. Godinho de, 1996 – Chancelaria (A) Régia e os seus oficiais em 1462, policop., Porto: FL/UP. Anthroponymie, 1995 - Antroponimia y Sociedad. Sistemas de identificación hispano-christianos en los siglos IX a XIII, coord. Pascoal MARTINEZ SOPEÑA, Universidades de Santiago de Compostela y Valladolid: Santiago de Compostela y Valladolid. Anthroponymie, 1996 - Anthroponymie (L’). Document de l’histoire sociale des modes méditerranées – Actes du colloque international de Rome, École française de Rome, 6-8 octobre 1994, ed. Monique BOURIN, J.-M. MARTIN e F. MENANT, Bibliothèque de l’École française de Rome. BARTHELEMY, Dominique, 1989 – «Vendômois: le système Anthroponymique (Xe-milieu - XIIIème siècles)», in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne (Actes des tables-rondes d’Azay, 1987 et 1988), dir. Monique BOURIN, Université de Tours, pp. 36-38. BECK, Patrice, 1995 – «De la transmission du nom et du surnom en Bourgogne au Moyen Age (X-Xvème siècles), in Genèse Médiévale de l’anthroponymie moderne. III Enquêtes géneálogiques et données prosopographiques, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Université Tours, pp. 123-141. BECK, Patrice, 1989 – «Evolution des formes anthroponymiques en Bourgogne (900-1280)», Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne (Actes des tables-rondes d’Azay, 1987 et 1988), dir. Monique BOURIN, Université de Tours, pp. 61-85. BECK, Patrice, 1997 – «Discours littéraires sur la dénomination », in Genèse Médiévale de l’anthroponymie moderne. IV Discours sur le nom : noms, usages, imaginaire (VI-XVI siècles), ed. Patrice BECK, Université de Tours, pp. 121-161. BECK, Patrice, 1984 – «Les noms de baptême en Bourgogne à la fin du Moyen Âge. Choix roturier, choix aristocratique», in Le prénom. Mode et histoire. Entretiens de malheurs, org. Jacques DUPAQUIER, Paris, pp. 161-167. BECK, Patrice, 1986 – « Onomastique», in Dictionnaire des Sciences Historiques, dir. A. BURGUIÈRE, Paris. BEECH, George T., 2002 – «Preface», in Personal Names Studies of Medieval Europe. Social Identity and Familial Structures, ed. George T. BEECH, Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Kalamazoo: Michigan, pp. IX-XVI.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
50
BESNARD, Philippe, 1979 - «Pour une étude empirique du phénomène de mode dans la consommation des biens symboliques: le cas des prénoms», in Archives européennes de Sociologie, XX, pp. 343-351. BILLY, Pierre-Henri, 1997 – «Glossaire des formules de dénomination dans les sources médiévales», in Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – IV, Discours sur le nom : normes, usages, imaginaire (VIe-XVIe siècles), org. Patrice BECK, Tours : Université de Tours, pp. 223-237. BILLY, Pierre-Henri, 1995– «Nommer à Toulouse aux XIe-XIVe siècles», in Genèse Médiévale de l’Anthroponymie Moderne - III. Enquêtes généalogiques et donnés prosopographiques, (ed.) Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours, pp. 171-190. BORLIDO, Armando Paulo Carvalho, 1996 – Chancelaria (A) Régia e os seus oficiais em 1463, policop., Porto: FL/UP. BOURIN, Monique, 2002 – «How changes in naming reflect the evolution of familial structures in Southern Europe (950-1250)», in Personal names studies of Medieval Europe..., pp. 3-14. BOURIN, Monique, 1995 – «Tel père, tel fils ? L’héritage du nom dans la noblesse languedocienne (XI-XIII siècles)», in Genèse Médiévale de l’anthroponymie moderne - III, Enquêtes généalogiques et données prosopographiques, Université de Tours, pp. 191-208. BOURIN, Monique e CHEVALIER, Bernard, 1990 – «L’enquête : buts et méthodes», in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne (Actes des Ie-IIe Rencontres d’Azay, 1986-1987), dir. M. BOURIN, Université de Tours, pp. 7-12. BRITO, Isabel Carla Moreira de, 2001 – Burocracia (A) régia tardo-afonsina. A administração central e os seus oficiais em 1476, 2 vols., policop., Porto: FL/UP. BURGUIERE, André, 1996 – «Les fondements historiques des structures familiales», in La question familiale en Europe, ed. J. COMMAILLE e F. de SINGLY Paris : L’Harmatan, pp. 137-155. BURGUIERE, André, 1984 – «Prénoms et parenté», in Le prénom mode et histoire…, pp. 29-35. CAPAS, Hugo Alexandre Ribeiro, 2001 – Chancelaria (A) Régia e os seus oficiais no ano de 1469, policop., Porto: FL/UP. CAROZZI, Claude, 2004 – Médiéviste (Le) devant ses sources. Questions et méthodes, Provence : Université de Provence. CARVALHO, Amadeu Ferraz de, 1927 – Da actual feição da antroponímia portuguesa. Proposta de um inquérito onomástico, Coimbra. CARVALHO, António Eduardo Teixeira de, 2001 – Chancelaria (A) Régia e os seus oficiais em 1468, policop., Porto: FL/UP. CUNHA, Mafalda Soares da, 1990 – Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de Bragança (1384-1483), Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1990. DICTIONNAIRE, 1997 - Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, dir. André VAUCHEZ, Paris: Cerf.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
51
DIÉGUEZ GONZÁLEZ, Júlio, 2000 – Patronímico (O) na Onomástica Pessoal dos Documentos Notariais Galegos e Portugueses da Baixa Idade Média (1250-1500), vol. I, Universidade de Santiago de Compostela: Faculdade de Filologia da Universidade de Santigo de Compostela. DUBY, Georges, 1973 - «Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord aux XIème et XIIème siècles», in Hommes et structures du Moyen Age, Paris, pp. 267-285. DUPAQUIER, Jacques et al. 1984 – Prénom (Le). Mode et histoire. Entretiens de malheurs, Paris : DUPAQUIER, Jacques, 1984 – “Introduction”, in Le prénom mode et histoire. Entretiens de Malheur 1980, ed. Jacques DUPAQUIER, Alian BIDEAU e Marie-Elisabeth DUCREUX, Paris : EHECS, pp. 7-10. DURAND, Robert, 1990 - «Donnés Anthroponymiques du Livro Preto de la Cathédrale de Coimbre », in Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – I, org. Monique BOURIN, Université de Tours, pp. 219-232. DURAND, Robert, 2004 – “Family memory and the durability of nomen paternum”, in Personal Names Studies of Medieval Europe. Social Identity and familial structures, ed. George T. BEECH, Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, kalamazoo, Michigan. DURAND, Robert, 1995 – «Le système Anthroponymique portugais (région du Bas-Douro) du Xe au XIIIe siècles», in Antroponimia y sociedad…, ed. Pascoal MARTINEZ SOPEÑA, pp. 103-120. DURAND, Robert, 1995 – «Trois siècles de dénomination aristocratique portugaise d’après la littérature généalogique », in Genèse Médiévale de l’anthroponymie moderne - III Enquêtes généalogiques et donnés prosopographiques, ed. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Universsité de Tours, pp. 43-54. DURÃO, Maria Manuela da Silva, 2002 – 1471: um ano africano no desembargo de D. Afonso V, 2 vols., policop., Porto: FL/UP. DUARTE, Luís Miguel, 1999 – Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo (1459-1481), Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian/FCT (e a versão policopiada em 3 vols., dissertação de doutoramento, Porto, 1993). ELIAS, Norbert, 1990 – Processo (O) Civilizacional. Investigações sociogenéticas e psicogenéticas, 2 vols., Transformação da Sociedade. Esboço de uma teoria da civilização, trad. port., Lisboa: Editorial Estampa. FERREIRA, Eliana Gonçalves Diogo, 2001 – 1473: um ano no desembargo do africano, 2 vols., policop., Porto: FL/UP. FLANDRIN, Jean Louis, 1995 – Familles. Parentés, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris : Le Seuil, col. Points. FRANCO, Isabel M. Madureira Alves Pedrosa, 2006 – Antroponímia e Sociabilidade através dos “Pergaminhos” do Cabido da Sé do porto (século XIV), dissertação de Doutoramento, policop., Universidade do Minho. FRANCO, Isabel M. Madureira Alves Pedrosa – Couto (O) de Santo Tirso (1432-1516): Antroponímia e Sociabilidade, dissertação de mestrado, policop., Porto: FL/UP, 1995.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
52
FREIRE, Anselmo Braamcamp, 1996 – Brasões da Sala de Sintra, 3 vols., Lisboa: INCM. FREITAS, Judite A. Gonçalves de, 1996 – Burocracia (A) do «Eloquente» (1433-1433). Os textos, as normas, as gentes, Cascais: Patrimonia. FREITAS, Judite A. Gonçalves de Freitas, 2001 - «Teemos por bem e mandamos». A Burocracia régia e os seus oficiais em meados de Quatrocentos (1439-1460), 2 vols., Cascais: Patrimonia. Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne – I, (Actes des Ie-IIe Rencontres d’Azay, 1986-1987), dir. M. BOURIN, Tours : Université de Tours, 1990. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – II- 1, Persistances du nom unique : le cas de la Bretagne, L’anthroponymie des clercs, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours : Université de Tours, 1992. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – II-2, Persistances du nom unique : Désignation et anthroponymie des femmes, Méthodes statistiques pour l’anthroponymie, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours : Université de Tours, 1992. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – III, Enquêtes généalogiques et données prosopographiques, org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours : Université de Tours, 1995 (contém 26 tábuas genealógicas). Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – IV, Discours sur le nom : normes, usages, imaginaire (VIe-XVIe siècles), org. Patrice BECK, Tours : Université de Tours, 1997. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – V-1. Serfs et dépendants au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles), org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours : Université de Tours, 2002. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne – V-2. Serfs et dépendants au Moyen Âge (Le «nouveau servage»), org. Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Tours : Université de Tours, 2002. Genèse médiévale de l’Anthroponymie moderne : l’espace italien – I, org. Jean-Marie MARTIN e François MENANT, Mélanges de l’École de Rome – Moyen Âge (MEFRM), 1995. GENET, Jean-Philippe, 1986a - «Histoire, informatique et mesure», Histoire & Mesure, I-1, Paris, pp. 7-18. GENET, Jean-Philippe, 1986b – «Pour l’informatisation des dictionnaires biographiques, une expérience», Histoire & Mesure, I-2, Paris, pp. 99-110. GOMES, Rita Costa, 1995 – Corte (A) dos Reis de Portugal nos Finais da Idade Média, Lisboa: Difel. GOODY, Jack, 1983 – Development of the Family and Marriage in Europe. (Past and Present Publications), Cambridge: Cambridge University Press. GONÇALVES, Iria, 1988a – «Amostra de Antroponímia Alentejana do século XV», in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa: Livros Horizonte, pp. 69-104.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
53
GONÇALVES, Iria, 1988b - – «Antroponímia das terras Alcobacenses nos fins da Idade Média», in Do Tempo e da História 5 (1972), pp. 159-200; reed. in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa: Livros Horizonte, pp. 105-142. GONÇALVES, Iria, 2005 –«O Corpo e o Nome – o Nome e o Gesto», in Corpo (O) e o Gesto na civilização Medieval, coord. de Ana Isabel BUESCU, João Silva de SOUSA e Maria Adelaide MIRANDA, Lisboa: Edições Colibri / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 39-56. GONÇALVES, Iria, 1999 – «Do uso do patronímico na Baixa Idade Média portuguesa», in Carlos Alberto Ferreira de Almeida, In Memoriam, Porto, pp. 347-363. GONÇALVES, Iria – «Nome (O) próprio masculino no extremo norte de Portugal (séculos XII-XIII)», in Estudos em Homenagem a Salvador Dias Arnaut, Coimbra: editora Ausência, 2003, pp. 265-299. GUERREAU-JALABERT, Anita, Régine LE JAN, Régine e MORSEL, Joseph – «Familles et Parentes. De l’histoire de la famille à l’anthropologie de la parenté», in Tendances (Les) actuelles de l’histoire du Moyen Age en France et en Allemagne, (dir. Jean-Claude SCHMITT e Otto Gerhard OEXLE, Paris: Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 433-446. GUERREIRO, Manuel Viegas - «Vasconcelos, José Leite de (1858-1941)», in Dicionário de História de Portugal, vol. VI, Porto: Livraria Figueirinhas, 1985, pp. 254-255. HENRIQUES, Isabel Bárbara de Castro – Caminhos (Os) do Desembargo: 1472, um ano na burocracia do «Africano», 2 vols., dissertação de mestrado, policop., Porto, 2001. Histoire de la famille, dir. André BURGUIÈRE, Christiane KLAPISCH-ZUBER, M. SEGALEN e Françoise ZONABEND, 4 vols., Paris: Armand Colin, 1986. HOMEM, Armando Luís de Carvalho, 1990 – Desembargo (O) Régio (1320-1433), Porto: INIC/CHUP. HOMEM, Armando Luís de Carvalho; DUARTE, Luís Miguel e MOTA, Eugénia, 1991 – «Percursos da Burocracia Régia (séculos XIII-XV)», in A Memória da Nação, ed. Francisco BETHENCOURT e Diogo Ramada CURTO, Lisboa, pp. 403-423. HOMEM, Maria Isabel N. Miguéns de Carvalho, 1994 – «Arqueologia de um nome: o uso de João na antroponímia sintrense de finais da Idade Média», in Anais. Série História, Universidade Autónoma : Lisboa, vol. V/VI, pp. 171-185. KLAPISCH-ZUBER, Christiane, 1984 – «Constitution et variations temporelles des stocks de prénoms», in Le prénom mode et histoire…, pp. 37-47. KLAPISCH-ZUBER, Christiane, 1996 – «Quel Moyen Age pour le nom ?», in L’Anthroponymie. Document de l’histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, ed. Monique BOURIN, Jean-Marie MARTIN e François MENANT, École française de Rome, pp. 473-480. KRUS, Luís, 1987 – Nobreza (A) Medieval Portuguesa. A família e o poder, Lisboa. KRUS, Luís, 1988/89 - «Património e linhagem. Origens familiares e origens do reino nos finais do século XIII», sep. Estudo (O) da História. Boletim da Associação de Professores de História, nºs 7, 8 e 9 (II série), pp. 36-37.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
54
LE GOFF, Jacques e TRUONG, Nicholas, 2005 – Uma História do Corpo na Idade Média, Lisboa: Teorema. LEROY, Béatrice, 1987 - «En Navarre au XIVème siècle: la noblesse, instrument du pouvoir», in Genèse Médiévale de l’État Moderne : la Castille et la Navarre (1250-1370), lieu de rencontre, milieu de gouvernement», ed. Adeline RUCQUOI, Vallodolid: Ambito, pp. 233-248. MACHADO, José Pedro, 2003 – Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, 3 vols., Lisboa: Livros Horizonte, [1ª ed. é de 1984]. MARQUES, A. H. de Oliveira, 1979 – Guia do Estudante de História Medieval Portuguesa, 2ª ed., Lisboa: Estampa. MARQUES, A. H. de Oliveira, 1987 – Portugal na crise dos séculos XIV e XV (= Nova História de Portugal, dir. de Joel SERRÃO e [...], IV), Lisboa: Presença. MARTINEZ SOPEÑA, Pascoal, 1996 – «L’anthroponymie de l’Espagne chrétienne entre le IXe et le XIIIe siècles», in L’Anthroponymie. Document de l’histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, ed. Monique BOURIN, Jean-Marie MARTIN e François MENANT, École française de Rome, pp. 63-85. MARTINEZ SOPEÑA, Pascoal, 2002 - « Personal naming and Kingship, in the Spanish Aristocracy», in Personal names studies of Medieval Europe..., Kalamazoo: Michigan, pp. 67-76. MATTOSO, José, 1998 - «Perspectivas actuais sobre a nobreza medieval portuguesa», Revista de História das Ideias, 19, pp. 7-37. MATTOSO, José, 2001a – «Nobreza (A) Medieval Portuguesa. A família e o poder», in José Mattoso. Obras Completas, vol. 7, Mem Martins: Círculo de Leitores. MATTOSO, José, 2001b – «Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros», in José Mattoso. Obras Completas, vol. 5, Mem Martins: Círculo de Leitores, pp. 5-182 (a 1ª ed. é de 1982). MENANT, François, 1996 - «L’Anthroponymie du monde rural», in L’Anthroponymie. Documente de l’histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, ed. Monique BOURIN, Jean-Marie MARTIN e François MENANT, École française de Rome, pp. 349-363 MONTEIRO, Helena Maria Matos, 1997 – Chancelaria (A) Régia e os seus oficiais (1464-1465), 2 vols., dissertação de mestrado, policop., Porto: FL/UP. MOREU-REY, Henri, 1972-1973 - «Martin». Problème Phililogique et Histoirique. Anuario de estudios Medievales. Instituto de Historia Medieval de España, 8, Barcelona, pp. 35-68. MOREU-REY, Henri, 1991 – Antroponímia. Història dels nostres Prenoms, Cognoms i Renoms, Barcelona. MORSEL, Joseph, 2002 – “Personal Names Studies of Medieval Europe: Social Identity and Familial Structures”, in Studies in Medieval Culture XLIII Medieval Institute Publications, ed. George T. BEECH, Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Kalamazoo, Michigan USA, pp. 157-180. MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa e RAMOS, Cláudia Novais T. da Silva, 1990 - Breves apontamentos prosopográficos sobre aqueles que foram os homens de pena do rei Formoso,
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
55
sobre a Chancelaria deste e ainda algumas perplexidades metodológicas que tal estudo soube suscitar, relatório dactilografado, Porto: FL/UP. MULON, Marianne, 2002 – Origine et histoire des noms de famille. Essais d’Anthroponymie, Paris: Ed. Errance. NEVES, Orlando, 2003 – Dicionário de nomes próprios, Lisboa: Círculo de Leitores. Nomen et gens: Zur historischen Aussagekraft fruhmittelaterlichen personennamen, 1997 - ed. Dieter GEUERICH, Wolfgang HANBRICHS e Jorg JARNUT, Berlin. OLIVEIRA, Luís Filipe, 1999 – Casa (A) dos Coutinhos: Linhagens, Espaço e Poder (1360-1452), Cascais: Patrimonia. OLIVEIRA, Luís Filipe e RODRIGUES, Miguel Jasmins, 1988 – «Um processo de reestruturação do domínio social da nobreza. A titulação na 2ª dinastia», in Revista de História Económica e Social, nº 22, Jan.-Abril, pp. 77-93. PEROL, Céline, 1994 – “Sortir de l’anonymat apparition et diffusion des noms de famille Cortone, XIII e XVI e siècles», in Genèse Médiévale Anthroponymie Moderne. L’espace italien- 4, Actes de la Table Ronde de Rome de 1993, ed. Monique BOURIN, Jean-Marie MARTIN e François MENANT, École française de Rome, pp. 573 - 594. Personal names studies of Medieval Europe: Social Identity and Familial Structures, 2002 - ed. George T. BEECH, Monique BOURIN e Pascal CHAREILLE, Kalamazoo: Michigan. PIZARRO, José Augusto Sotto Mayor, 1999 – Linhagens medievais portuguesas. Genealogias e estratégias (1279-1325), 3 vols., Porto: Edições da Universidade Modera. PORTELA, Ermelindo e PALLARÉS MÉNDEZ, Maria Carmen, 1995 - «Sistema (El) antroponímico en Galicia. Tumbos del monasterio de Sobrado. Siglos IX a XIII», in Antroponimia y Sociedad..., pp. 91-140. Prénom (Le). Mode et Histoire. Entretiens de malheurs, 1984 - org. Jacques DUPAQUIER, Paris. RAU, Virgínia, 1986 - «Para a História da População Portuguesa dos séculos XV e XVI (Resultados e problemas de método», in Estudos de História Medieval, Lisboa: Presença, pp. 96-127. RIVAS QUINTAS, Eligio, 1991 – Onomástica personal do noroeste hispano, Lugo: Alvarellos. SANTO, Moisés Espírito, 1988 – Origens da Religião Popular Portuguesa. Ensaio sobre toponímia antiga, Lisboa: Assírio & Alvin. SCHMITT, Jean-Claude, 2001 – Corps (Le), les rêves, le temps. Essais d’anthropologie, Paris : Gallimard. SHNAPPER, Dominique, 1984 – «Essai de lecture sociologique», in Le prénom mode et histoire…, pp. 13-21. ZONABEND, Françoise, 1986 – «La famille. Une vision ethnologique du parentesque et la famille », in Histoire de la famille, t. I, dir. A. BURGUIÈRE, Ch. F. ZUBER-KLAPISCH, M. SEGALEN, Françoise ZONABEND, Paris : Armind Colin.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
56
VASCONCELOS, José Leite de, 1923 – Preito filológico prestado a um insigne orador, Coimbra: Imprensa da Universidade. VASCONCELOS, José Leite de, 1928 – Antroponímia Portuguesa. Tratado comparativo da origem, significação, classificação, e vida do conjunto dos nomes próprios, sobrenomes e apelidos usados por nós desde a Idade Média até hoje, Lisboa: Imprensa Nacional. VAZ, Vasco Rodrigo Santos Machado, 1995 – Boa (A) Memória do monarca. Os escrivães da Chancelaria de D. João I (1385-1433), dissertação de mestrado, policop., Porto: FL/UP. VENTURA, Leontina, 1992 – Nobreza (A) de Corte de D. Afonso III, Coimbra, 2 vols., policop., Dissertação de doutoramento, Coimbra. VERNIER, Bernard, 1999 – Le visage et le nom. Contribution à l’étude des systèmes de parenté, Paris : PUF. WERNER, Karl Ferdinand, 1998 – Naissance de la noblesse. L’essor des élites politiques en Europe, Paris : Fayard. ZONABEND, Françoise, 1979 - «Jeux de noms. Les noms de personne à Minot», Etudes Rurales, 74, av.-juin, pp. 51-85. ZONABEND, Françoise, 1984 – «Prénom et identité», in Le prénom mode et histoire…, pp. 23-27.
In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, ed. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 83-135. ISSN: 0870-3116.
57
A N E X O
INQUÉRITO ANTROPONÍMICO
A – Vectores Quantitativos 1. Unidades onomásticas 1.1. 1367-1432 1.2. 1433-1448 1.3. 1449-1481 2. Número de ocorrências 2.1. Por nome próprio 2.2. Por patronímico 2.3. Por apelido 3. Sistemas antroponímicos e número de ocorrências 3.1. Nome próprio + patronímico 3.2. Nome próprio + patronímico + apelido de família 3.3. Nome próprio + patronímico + apelido de localidade 3.4. Nome próprio + patronímico + outro 3.5. Nome próprio + apelido de família 3.6. Nome próprio + apelido de localidade 3.7. Nome próprio + outro 3.8. Nome próprio + patronímico + apelido de família (+ outro) 4. Sistemas antroponímicos por sector burocrático 4.1. Redactores 4.2. Escrivães 5. Número de homonímias por sector burocrático 5.1. Redactores 5.2. Escrivães 6. Número de patronímicos identificados 7. Número de apelidos de localidade identificados
8. Número de apelidos de família identificados
B – Vectores Qualitativos
9. Formas antroponímicas e formação de «novos» apelativos 9.1. O apelido é um nome 9.2. O apelido é hereditário 9.3. O apelido é uma característica profissional 9.4. O apelido é uma alcunha 9.5. O apelido é um lugar 9.6. O apelido é misto